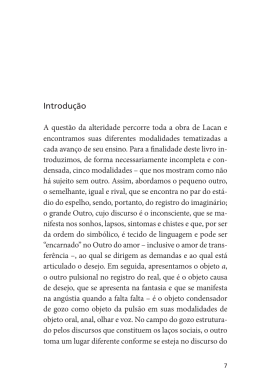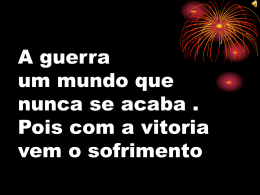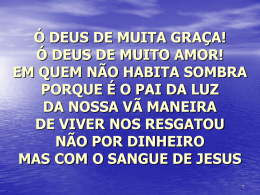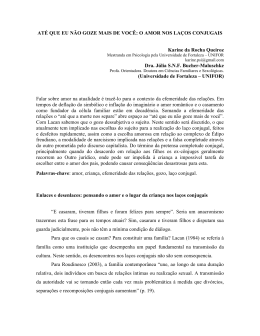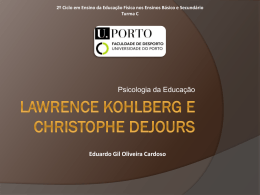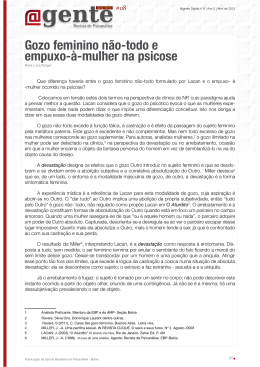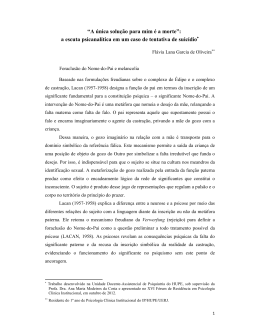O amor é um lapso da imaginação: amor, gozo e desejo na literatura da primeira modernidade. Paulo José Carvalho da Silva No seminário XX, Lacan insiste que há sempre um impasse na relação amorosa porque a essência do objeto do desejo é da ordem do fracasso. Com efeito, o encontro amoroso em seu ideal de completude parece não existir na vida, é motivo para muito sofrimento que ecoa na clínica psicanalítica, restando como matéria para a literatura, que não cessa de criar imagens do amor. Na literatura da chamada primeira modernidade, isto é, dos séculos XVI e XVII, a dor de amar é um lugar-comum absolutamente dominante. O caráter inconstante e faltoso do amor aparece na arte poética, no teatro, nas novelas e até nas cartas e sermões então produzidos. Esta comunicação propõe discutir definições de amor e sua relação com o gozo e o sofrimento em obras literárias dessa época. Conclui-se que as representações letradas do amor revelam, para além da vivência da paixão amorosa, a condição humana da falta-a-ser, sempre vulnerável, portanto, ao pathos, enredada no gozo e, ainda assim, movida pelo desejo. Amor, gozo, desejo, literatura, Lacan. Apoio: Fapesp. Conforme o ensino de Lacan, o encontro amoroso em seu ideal de completude não passa de uma ilusão, o que, inclusive, desencadeia muito sofrimento. Embora embasada em uma ontologia e uma ética radicalmente distintas, a mesma ideia pode ser identificada na literatura da chamada primeira modernidade, isto é, dos séculos XVI e XVII, na qual a dor de amor é um lugar-comum absolutamente dominante. O caráter inconstante e faltoso do amor aparece na arte poética, no teatro, nas novelas e até nas cartas e sermões então produzidos. Esta comunicação propõe discutir definições de amor e sua relação com o gozo e o sofrimento em obras literárias dessa época. A natureza do amor era colocada em questão, sobretudo, quando este tinha um fim, ou melhor, quando os sonhos de perpetuidade e constância, reciprocidade e harmonia, por um motivo ou outro, eram mais ou menos violentamente contrariados. Com efeito, era comum representar o gozo pleno, sereno e satisfeito do encontro amoroso nos limites do continente onírico, além dos quais resta acordar para a desilusão e a dor, como no soneto do poeta e magistrado lisboeta Antônio Barbosa Bacelar (16101663), intitulado “A um sonho”: Adormeci ao som do meu tormento,/E logo vacilando a fantasia,/Gozava mil portentos de alegria,/Que todos se tornaram sombra, e vento:/Sonhava, que tocava o pensamento/Com liberdade o bem que mais queria,/Fortuna venturosa, claro dia:/Mas ai! Que foi um vão contentamento!/ Estava ó Clori minha possuindo/Desse formoso gesto a vista pura,/Alegres glórias mil imaginando:/Mas acordei, e tudo resumindo,/Achei dura prisão, pena segura,/Ah quem estivera assim sempre sonhando! (Bacelar, in: Pécora, 2002, p. 136). Numa época em que se afirmava a vida ser sonho (verdadeiro lugar-comum, não apenas título da famosa peça do madrileno Pedro Calderón de la Barca (1600-1681), o amor era constantemente descrito como o mais doce dos prazeres, mas também como uma experiência que perturba, ao fazer o que era prazer transformar-se em dor, dor da dúvida, da perda, etc. Tudo isso é muito conhecido, comentado. Do gozo do sofrimento na tentativa imaginária de manter um objeto de amor perdido fala-se muito menos, embora também seja um lugar-comum poético expressivo na literatura do período. Isto é, a perpetuação do descontentamento é um mote recorrente em toda sorte de discurso da Idade Moderna sobre a dor do amor, como, por exemplo, na lírica camoniana: Erros meus, má fortuna, amor ardente/Em minha perdição se conjuraram;/Os erros e a fortuna sobejaram,/ Que para mi[m] bastava amor somente./Tudo passei; mas tenho tão presente/A grande dor das cousas que passaram,/Que as magoadas iras me ensinaram/A não querer já nunca ser contente (Soneto 140 (1616), 2005, p. 536). A respeito da representação das paixões na poesia seiscentista ibérica, João Adolfo Hansen, na introdução à coletânea organizada por Alcir Pécora (2002), adverte que o desengano do amor, a melancolia do ideal inatingível, a angústia da perda da esperança, a dor do tempo, entre outras paixões da alma não são expressões da subjetividade do poeta, mas tópicas aplicadas conforme os verossímeis e os decoros específicos do gênero.1 A análise de Hansen ilumina o contexto poético do paradoxo apresentado na figura do melancólico, como o “Que hei de viver eterno de ser triste,/E só posso morrer de ser contente”, também de Bacelar. Ele explica que fórmulas paradoxais, conhecidas como impossibilia, eram rotineiras quando se tratava de figurar o irrepresentável da intensidade dos afetos melancólicos de amor e dor. Talvez a obra portuguesa seiscentista mais significativa sobre a dor da separação sejam as célebres Cartas de amor, ou mais popularmente conhecidas Cartas portuguesas, publicadas pela primeira vez na França, em 1669, e atribuídas à irmã Mariana Alcoforado (1640-1723). No caso deste estudo, importa pouco se a autoria é mesmo da freira de Beja e, menos ainda, se a história de sua sedução e abandono é real ou fictícia. O mais interessante é que as cartas remetidas ao conde francês Noel de Chamilly, que estivera a serviço militar em Portugal, entre 1664 e 1667, e logo publicadas em francês por Claude Barbin e reeditadas em Colônia, Lyon, Haia e Bruxelas, ainda no final do século XVII e início do século XVIII, descrevem a paixão amorosa malograda em seu aspecto mais dolorido. A primeira carta descreve a crueza e a complexidade da dor da ausência, difícil de nomear. Aos olhos que antes gozavam da visão do amor, resta senão as lágrimas. A presença é substituída pelo choro ininterrupto. Ao mesmo tempo em que afirma saber que se consome em vão, afirma ter um apego pela infelicidade atribuída ao abandono do outro. Escreve que lhe dedicou a vida quando o viu e, agora que não pode mais vê-lo, Não se pode afirmar, portanto, nenhum tipo de sinceridade psicológica e, sim, estilística. A autoria reside, sobretudo, na combinação e recombinação inesperada dos lugares-comuns e imagens pré-definidas pelas autoridades em vigor, como a lírica de Petrarca, Tasso, Marino, Góngora, Quevedo, entre outros. 1 apega-se desesperadamente a suas lembranças, que a precipitam ainda mais no sofrimento: “Como é possível que lembranças de momentos tão agradáveis tenham se tornado tão cruéis? E – como que contra a natureza – não sirvam senão para tiranizar meu coração?” (Alcoforado, 1669/1992, p. 19). Na dor da mulher enclausurada e abandonada, à impossibilidade concreta de uma reconciliação, soma-se a disposição anímica que oscila entre alegrias ilusórias de esperança e o desespero, inconstância que culmina na consolação no próprio sofrimento, marca inconteste de algo que chamaríamos de masoquismo, no feminino: “porque só quero mesmo sentir a minha dor. (...) Adeus. Que você me ame sempre. E me faça sofrer ainda mais” (Alcoforado, 1669/1992, pp. 20-21). A segunda carta retoma a tópica do preço do prazer, sempre breve e caro demais. Fala de movimentos extremos: emoções surpreendentes no amor, mas que custam dores estranhas no seu afastamento. A grande excitação do encontro precipita-se em também intensa dor, manifesta por lágrimas, suspiros e no pensamento de uma morte irremediável. Adoecer, recusar consolos, anular a si mesmo e, sobretudo, tomar gosto pela tortura eram características normalmente atribuídas à melancolia amorosa que aparecem na descrição de si ao longo das Cartas portuguesas. Por exemplo, apesar de queixar-se de sua partida e maldizer a escolha do amado, na segunda carta, escreve que ainda prefere o amor marcado por tanto sofrimento. Sabe-se enlouquecida de amor, mas não pode viver sem o prazer de amar entre tanta dor. Isso se repete nas cartas até que dá sinais, na quinta e última delas, que o apego à dor, colocada no lugar deixado vazio pelo amante, é solucionado, pouco a pouco, pela decisão de viver na solidão. Sobre a história do amor, Mary Del Priore (2005) sumariza a sucessão de ideias dominantes e seu impacto na cultura brasileira, ordenando diferentes modelos. No período entre os séculos XVI e XVIII, haveria uma passagem da mentalidade medieval, que concebia o amor como algo ideal e inatingível para a renascentista, em que se buscava, mesmo que timidamente, associar espírito e matéria. Mais tarde, na Idade Moderna, a Igreja e a Medicina não teriam medido esforços para separar paixão e amizade, alocando uma fora, outra dentro do casamento. De qualquer forma, retomar tanto a história dos modelos quanto a produção literária sobre o tema do amor serve a nos lembrar que seu caráter mitológico é o que define sua essência, longe de ser do campo do natural. Por exemplo, o célebre pregador jesuíta Antônio Vieira (1644), presença obrigatória em qualquer compêndio de literatura portuguesa que se preze, desconstrói a suposta natureza do amor mundano. Para Vieira, o que, no mundo, chama-se amor, na realidade, não existe. Não passa de ilusão, quimera, mentira, engano, doença da imaginação. Por tudo isso, o amor é tormento. O amor humano é fonte de dores da alma porque é da ordem da dúvida e, sobretudo, da incerteza de ser correspondido: Póde haver maior tormento que amar, quando menos, em perpetua duvida, amar em perpetua suspeita de ser, ou não ser amado? Pois este é o inferno sem rendempção, a que se condemnam todos os que amam humanamente, e tanto mais, quanto mais amarem (Vieira, 1644/1951, vol. II, p. 307). No Décimo Nono Sermão do Rosário, Vieira critica a característica do amor de tudo prometer e somente cumprir parcialmente. O amor humano é sempre parcial, por isso, triste. Não importa se o sujeito do amor é rico ou pobre, humilde ou poderoso, no ato de dar-se há inevitavelmente divisão e na divisão, parcialidade: A maior inclinação do amor é dar ou dar-se todo; e a maior mortificação do mesmo amor é dar sómente parte. (...) Assim se entristece e mortifica o amor, quando dá parte a quem quizera dar tudo. Mas d'esta mortificação nenhum amor póde se livrar, ainda quando o maior amor se ajunta com o maior poder (Vieira, s.d./1951, vol. XII, pp. 51-52). É claro que, sustentado na concepção católica de amor, cujo fundamento central era a teologia filosofante de Agostinho e a doutrina das paixões da alma de Tomás de Aquino, a desconstrução da realidade do amor mundano realizada por Vieira serve para enfatizar a verdade e perfeição de outro amor, esse sim suposto real e permanente, o amor divino. De qualquer forma, recai numa noção complexa de amor, na qual há a esperança da possibilidade de sua concretização – numa experiência de completude e harmonia absoluta ao retornar à casa Paterna após a morte -, mas que não é dada ao ser enquanto estiver vagando pelo desterro deste mundo. Neste contexto, empreendia-se essa cruzada contra o gozo do amor mundano, algo que poderíamos formular como “ou deseje (o outro Amor) ou se entregue ao amor não-amor, melancólico”. Essa melancolia, chamada de melancolia amorosa, era uma questão importante para a medicina da alma. Inclusive, muitos médicos da época tratavam o amor justamente como uma doença da imaginação. Por exemplo, o médico francês Jacques Ferrand (1575-1623) declara: “Nós diríamos, portanto, sob esses fundamentos, que o amor ou a paixão erótica é uma espécie de devaneio, procedente de um desejo desregrado de gozar da coisa amada, acompanhado de medo e de tristeza” (Ferrand, 1623, p. 26, trad. nossa). Esse devaneio pode, porém, causar febre, alterações dos batimentos cardíacos e no rosto, apetites depravados, tristeza, suspiros, lágrimas sem motivo, fome insaciável, sede enraivecida, opressões, sufocações, insônia, melancolia, raiva, furor uterino, entre outros sintomas somáticos. Todavia, dentre muitas terapêuticas propostas em tratados da época, sobressai justamente aquela consagrada por um poeta. O poeta latino Ovídio (43 a.C.-17) em seu Os remédios do amor, propõe, para esquecer a pessoa amada: uma vida ativa, mudar de cidade, refletir sobre os defeitos da tal pessoa ou compará-la a alguém mais bela, ter várias amantes, pretender-se frio e indiferente, meditar sobre os tormentos do amor, fugir da solidão, evitar o convívio com casais enamorados, evitar encontrar-se com a pessoa amada, não reclamar, não cultivar o ódio ou as doces lembranças, ficar longe dos concertos, danças, peças de teatro e, sobretudo, dos banquetes e do vinho que estimulam a paixão erótica. Das lições de Ovídio, além daquelas mais comportamentais, pode-se destacar as que pressupõem uma modificação na representação do objeto amoroso. Hoje, nós diríamos que nenhuma modificação seria efetiva se não ocorresse na fantasia inconsciente que sustenta a paixão. Caso contrário, haverá apenas um deslocamento externo, quase que meramente cosmético, e a escolha objetal estará fadada a se repetir. Em A Transitoriedade (Vergänglichkeit), de 1916, Freud fala de uma revolta psíquica contra o luto, mesmo antes da perda. Ele explica que o desprendimento da libido de seu objeto só pode ser um processo muito doloroso: “(...) Só percebemos que a libido se apega a seus objetos e, mesmo quando dispõe de substitutos, não renuncia àqueles perdidos. Isso, portanto, é o luto.” (Freud, 1916/2010, p. 250). Luto esse que o Eu lírico das Cartas portuguesas custou a realizar. Assim, mesmo sabendo que a exigência de perpetuidade é claramente um produto de nossos desejos que não pode reivindicar valor de realidade, não é nada fácil renunciar a essa ilusão. O estudo da literatura seiscentista mostra que as representações letradas do amor revelam, para além da vivência da paixão amorosa, a condição humana da falta-aser, sempre vulnerável, portanto, ao pathos, enredada no gozo e, ainda assim, movida pelo desejo. Como acabamos de mencionar, para representar o amor, usava-se amplamente de figurações da impossibilidade. Ora, há algo de mais freudiano do que afirmar que o amor é vivido na impossibilidade? Em O mal estar na cultura (1930/1976, p. 441), Freud sentencia: “nunca nos achamos tão indefesos contra o sofrimento como quando amamos, nunca tão desamparadamente infelizes como quando perdemos o nosso objeto amado ou o seu amor.” Portanto, os impossibilia da literatura não estão desatualizados, pelo contrário. Aliás, é com uma aporia, retirada da lógica, que Lacan tenta representar o que está em jogo no amor entre seres sexuados. Logo no primeiro capítulo do seminário XX, ele afirma justamente que o gozo do corpo do Outro promete-se apenas no infinito, retomando, como metáfora, o célebre paradoxo de Zenon de Eleia (c. 495 a.C. - 430 a.C.): Aquiles nunca poderá alcançar, reencontrar a tartaruga, que sai na frente, por ser não-toda. Ele pode ultrapassá-la, mas só poderá alcançá-la no infinito, mesmo porque, arremata Lacan, o passo da tartaruga será cada vez menor e não chegará jamais ao limite. Referências bibliográficas ALCOFORADO, M. Cartas de amor. Trad. e apresentação de Marilene Felinto. Rio de Janeiro: Imago, 1992. CAMÕES, L. Obra Completa. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar: 2005. DEL PRIORE, M. História do Amor no Brasil. São Paulo: Editora Contexto, 2005. FERRAND, J. De la maladie d'amour ou mélancholie érotique. Discours curieux qui enseigne à cognoitre l'essence, les causes, les signes et les remedes de ce mal fantastique. Paris: Denis Moreau, 1623. FREUD, S. Vergänglichkeit. Gesammelte Werke. V. X (p. 358-361). Frankfurt am Main: Fischer Verlag, 1981. (Originalmente publicado em 1916). FREUD, S. Das Unbehagen in der Kultur. Gesammelte Werke. V. XIV (p. 421-513). Frankfurt am Main: Fischer Verlag, 1981. (Originalmente publicado em 1930). LACAN, J. Le Séminaire – Livre XX. Encore. Paris: Éditions du Seuil, 1975. OVÍDIO. L’Art d’aimer. Les Remèdes à l’amour. Les produits de beauté pour le visage de la femme. Trad. francesa de H. Bornecque. Paris: Gallimard, 2007. PÉCORA, A. (org.). Poesia Seiscentista. São Paulo: Hedra, 2002. VIEIRA, A. Sermões. Porto: Lello e Irmão, vols. II e XII, 1951.
Baixar