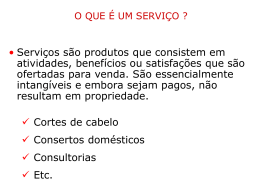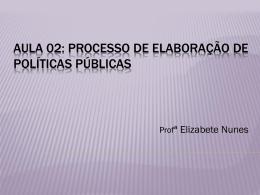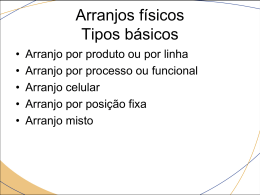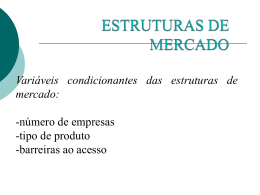REDES DE FIRMAS, INOVAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO REGIONAL Marcelo Pinho1 Mauro Rocha Côrtes2 Ana Cristina Fernandes3 1. INTRODUÇÃO O propósito deste artigo é refletir sobre o escopo das políticas regionais de desenvolvimento no atual estágio de desenvolvimento capitalista, marcado, de um lado, por tendências de crescente internacionalização em vários âmbitos das atividades da grande empresa e, de outro, pelas evidências de reforço dos benefícios conferidos pela aglomeração setorial e espacial a muitas atividades produtivas. Com este objetivo em mente, a primeira seção resenha brevemente a evolução recente do debate regional, identificando não apenas as causas para a renovação do interesse na temática do desenvolvimento regional mas também os limites e contradições das políticas de atração de investimentos adotadas por muitas esferas subnacionais de governo mundo afora. Em seguida, examina-se como a organização dos sistemas contemporâneos de produção afeta os relacionamentos entre as empresas, enfatizando o caráter interativo dos sistemas de inovação mas também a diversidade de arranjos que, de uma forma ou de outra, promovem a cooperação inter-firmas. A seção conclusiva apoia-se na exposição precedente para abordar de forma mais direta a questão central do artigo. 2. A (RE)EMERGÊNCIA DAS ECONOMIAS REGIONAIS A atenção renovada por estudos regionais tem sido uma constante nos encontros acadêmicos e publicações científicas de diferentes campos disciplinares a partir de meados dos anos 80. Em um período em que predominam correntes de pensamento que advogam a redução do Estado e o mercado como mecanismo ordenador básico da organização da economia e, portanto, uma postura contrária à intervenção pública através de políticas que introduzam constrangimentos à livre ação do mercado, tal atenção não deixa de ser surpreendente. Afinal, a corrente teórica que deu origem às análises regionais, em meados do século 20, funda-se na observação das desigualdades espaciais resultantes do processo de acumulação capitalista. As transformações observadas a partir da década de 70 no mapa global da produção capitalista incluem mudanças importantes nos padrões de desenvolvimento, desafiando firmemente algumas das regiões industriais consolidadas nos países avançados. Não apenas regiões de países historicamente atrasados estavam dando sinais de superação de entraves ao seu desenvolvimento – entre as quais se destacam os Newly Industrializing Countries (NICs) do Leste Asiático –, como regiões de países historicamente avançados, locações originais do processo de industrialização na Europa e EUA, davam sinais de perda de dinamismo e decadência. 1 2 3 Professor do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal de São Carlos – UFSCar. Professor do Departamento de Engenharia de Produção – UFSCar. Professora do Departamento de Engenharia Civil – UFSCar. 2 As características do “problema regional” passam a atrair analistas que se voltam à revisão de modelos assentados na tradição neoclássica do equilíbrio geral, especialmente aqueles associados à hipótese dos estágios de desenvolvimento, os quais se revelaram incapazes de prever os movimentos observados nos padrões de desenvolvimento. Segundo Massey (1984), estudos orientados para superar esta limitação ressaltaram a complexidade das estruturas geográficas industriais e resultaram num novo entendimento das disparidades territoriais e de renda enquanto elementos integrantes do processo de reprodução em sociedades capitalistas. Entre estudiosos associados a este enfoque materialista (entre os quais destacam-se os europeus David Harvey, Alain Lipietz, Ash Amin, Dereck Gregory, além de Doreen Massey, e os sul-americanos José Luiz Coraggio e Wilson Cano), o capitalismo é entendido como um processo de desenvolvimento econômico e social que é essencialmente desigual no tocante a espaço e tempo. Desta forma, disparidades espaciais são elementos intrínsecos ao modo de produção capitalista, sua característica geográfica básica. Processos de desenvolvimento e subdesenvolvimento são aspectos conectados, embora antagônicos, do crescimento capitalista. Ao invés de resultarem de abandono ou de dificuldades para realocar fatores à produção de bens de menor custo relativo, a partir dos quais produção, produtividade e rendas cresceriam, regiões subdesenvolvidas são vistas como ativamente produzidas pelas lógicas econômicas e geográficas que o capitalismo constitui. Neste sentido, a constituição de regiões é entendida como uma resposta particular e local ao processo global de acumulação capitalista, negando-se, portanto, a tendência “natural” de expansão do núcleo capitalista proposta pela hipótese dos estágios de crescimento. Tendo estas evidências em mente, pesquisadores estabeleceram uma articulação intrínseca entre desenvolvimento desigual e acumulação de capital, que desafiou correntes da ciência espacial enquanto perspectiva líder na Geografia Humana durante a década de 70. Na década seguinte, entretanto, esta perspectiva de recorte materialista começou a perder influência com a derrocada do mundo socialista soviético, que expôs o marxismo a severas críticas. Contudo, diante das evidências de crescente exclusão de indivíduos e regiões da vida sócio-econômica, a investigação dos efeitos das transformações no regime de acumulação sobre a organização espacial das sociedades tem sido objeto de renovado interesse entre estudiosos de diferentes disciplinas. Agora, porém, o interesse decorre das profundas transformações ensejadas pela intensificação da mundialização da economia sobre a organização dos marcos regulatórios e a própria dinâmica econômica das nações. Como sintetiza Soja (1989), entre outras explanações, o renovado interesse sobre a questão regional no debate teórico contemporâneo reside no fato de que as diversas interpretações formuladas (...) compartilham todas um modelo semelhante de crise e transformação histórica; uma ênfase na análise de classes e no processo de trabalho; o apreço pela relevância da tecnologia e da estrutura corporativa na diferenciação da estrutura da produtividade e dos lucros; a atenção explícita na inter-relação entre espacialidade, política e o papel do Estado; uma preocupação de analisar internacionalização do capital e a aceleração associada da mobilidade do capital e da migração do trabalho; e uma visão que reconhece, em graus variados, a natureza geral e as particularidades que distinguem a “espacialização capitalista”. (SOJA, 1989, p. 170). À medida que cresce a importância de corporações multinacionais sobre as decisões macroeconômicas nacionais, menor parece ser a atuação de estados nacionais no planejamento econômico e na política de distribuição regional de investimentos e de 3 renda. Em contrapartida, cresce o envolvimento de governos estaduais e municipais, na tentativa (muitas vezes vã) de compensar a retirada da esfera nacional da formulação e implementação de políticas públicas, especialmente aquelas voltadas para o desenvolvimento econômico. A idéia, bastante debatida, de uma “Europa de Regiões” simboliza bem esta nova perspectiva que vem se difundindo recentemente. No Brasil, o resultado mais freqüente destas idéias, até o momento, foi a intensificação da manipulação por parte dos governos estaduais das alíquotas do ICMS e de outros mecanismos de incentivo para a redução de custos operacionais para capitais a serem atraídos para uma dada localidade, ao que se convencionou chamar de “guerra fiscal”. A esta prática, associam-se os municípios, que acrescem aos benefícios estaduais, outros estímulos, tais como isenção de IPTU, ISS, doação de terrenos e infraestruturas, além da divulgação da docilidade e baixo custo de sua mão-de-obra. Justificados na crise econômica e no crescimento do desemprego, regiões e localidades passam a introduzir a política econômica no leque de suas atribuições. No entanto, a política adotada se concentra em concessões vultosas ao capital, alimentando uma guerra fiscal, que vai muito além dos limites do território brasileiro4. A dimensão regional do desenvolvimento tem, entretanto, evoluído em outra direção, com base em experiências bem diversas que ressaltam a importância de aspectos de caráter mais endógeno e sistêmico, em contrapartida à sujeição de municípios e regiões às estratégias de empresas multinacionais. Nesta direção, conceitos desenvolvidos no campo da pesquisa sobre inovação e progresso técnico (FREEMAN, 1987; LUNDVALL, 1992) vêm sendo associados àqueles desenvolvidos na economia das organizações (WILLIAMSON, 1985; NORTH, 1994), para constituir uma nova agenda na pesquisa regional (SAYER; WALKER, 1992; MORGAN, 1994; COOKE; URANGA; ETXEBARRIA, 1998). Um dos pontos centrais desta nova agenda é a idéia de que a aglomeração facilita interações e interdependências não estritamente mediadas pelo mercado. Entretanto, antes de se prosseguir na reflexão sobre esta nova agenda, cabe reconhecer de partida que as políticas de desenvolvimento endógeno estão sujeitas a grande controvérsia. Antes de mais nada, têm sido bastante questionados dois pressupostos assumidos por muitos dos defensores dessas políticas: de um lado, o determinismo econômico implícito na alegada tendência à reaglomeração proposta pela idéia de uma era pós-fordista; e de outro lado, o colapso dos mercados de massa sobre o qual foi construído o conceito de especialização flexível. Como nota Swyngedouw (1989), se a localidade está se tornando central na regulação da vida econômica e social, isto se deve não só às possibilidades de um desenvolvimento endógeno de uma extensa rede de distritos industriais flexíveis, mas também à fragmentação territorial que a globalização tem impelido (FERNANDES, 2001). Além disso, municípios e regiões desfrutam de raio de manobra bastante limitado para a formulação de políticas econômicas locais perante os determinantes de política macroeconômica, definida pela instância nacional de governo. Regiões e municípios – 4 Embora se considerados os efeitos para o conjunto das localidades seja inequívoco o vazamento das receitas públicas, observase uma apatia generalizada na estimação dos efeitos de tal política sobre as finanças estaduais e municipais, assim como sobre a geração do emprego objetivado. Vários elementos põem em dúvida os benefícios alardeados. Destacam-se entre eles a grande capacidade de relocalização dos investimentos multinacionais e a pequena internalização destes investimentos nas regiões onde estão se localizando, em termos de capacidade de desencadear multiplicadores para frente e para trás nas respectivas cadeias produtivas. Note-se também que a desigualdade da correlação de forças entre agentes tão assimétricos (governos estaduais e locais, de um lado, e corporações multinacionais, de outro) concorre para a ineficácia de tal “política” de desenvolvimento local. 4 especialmente os últimos – dispõem, por exemplo, de escassos mecanismos creditícios para implementar estratégias de desenvolvimento econômico. Por outro lado, não se pode esquecer que a grande empresa ainda constitui fonte por excelência de estímulo à geração de inovações em pequenas e médias empresas, o que certamente torna a região bastante sensível a suas estratégias corporativas, seja na forma da concessão de incentivos ou não. Scott (1992) observou que a presença de grandes empresas representa elemento dinamizador de inovação e estímulo a vasto conjunto de empresas médias e pequenas a elas articuladas em redes para desenvolvimento simultâneo de programas e projetos conjuntos. Mais genericamente, Malecki (1997) adverte que a ampla diversidade de características e exigências operacionais dos vários setores de atividade produz requisitos locacionais muito distintos, o que torna temerária a proposição de um único modelo de desenvolvimento regional, como aquele baseado na interdependência de pequenas empresas. Finalmente, e não menos importante, cabe ressaltar que as experiências de políticas regionais de inovação presentes na literatura indicam que as condições para o sucesso de estratégias desse gênero não são nada triviais. Em regra, são exigidos esforços significativos e de longo prazo para a constituição de redes de cooperação entre firmas e a formação de um sistema regional de inovação. Em que pese a importância de iniciativas locais para estimular o desenvolvimento regional, a amplitude desses esforços e as limitações próprias da ação isolada de esferas subnacionais de governo concorrem fortemente para limitar a capacidade de reprodução de dinâmicas virtuosas (AMIN; ROBINS, 1992). 3. INTERAÇÃO E COOPERAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO CONTEMPORÂNEA DO TECIDO PRODUTIVO Uma ampla gama de pesquisadores tem se debruçado sobre as experiências de regiões reconhecidas como de grande dinâmica inovativa, tais como a Terceira Itália, Baden-Würtenberg, na Alemanha, o Vale do Silício, Orange County e a Rota 128, nos EUA, e os tecnopólos franceses (GAROFOLI, 1991; PIORE; SABEL, 1984; AYDALOT, 1986; BECATTINI, 1987; SCOTT, 1988; SCOTT; STORPER, 1988). Esses estudos têm em comum o objetivo de identificar os fatores fundamentais para a dinamização do processo de inovação enquanto fator de desenvolvimento regional. A aquisição e o uso do conhecimento mediante mecanismos de inovação sistemática passaram a ser reconhecidos como fontes fundamentais para a constituição de riqueza e crescimento econômico5. Mais do que isso, com o entendimento de que tais mecanismos são extremamente sensíveis a fatores de aglomeração, ao exigirem interações entre agentes diversos que são facilitadas pela proximidade geográfica, a análise regional ganhou novo vigor. Afinal, propõem os defensores das idéias da “região que aprende” (MORGAN, 1996) e do milieu innovateur (AYDALOT, 1986), maiores são as chances de desenvolvimento das regiões onde estes fatores encontram condições para se desenvolver. O novo contexto em que se inscrevem as políticas de inovação regional apresenta alguns princípios característicos, que, segundo Boyer (1989), estariam forjando um novo modelo de organização da produção e de acumulação industrial. Entre estes 5 Um dos fundamentos das novas políticas regionais é a idéia de que inovação é responsável por uma grande parcela – entre 80% e 90%, segundo Cooke; Uranga; Etxebarria (1998) – dos ganhos de produtividade em economias avançadas. Sabendo-se também que ganhos de produtividade respondem por mais de 80% do crescimento econômico, os autores estimam que a inovação é a maior fonte de dinamismo da economia. 5 princípios, cabe ressaltar alguns de maior relevância para a análise espacial: (a) otimização global dos fluxos produtivos; (b) tentativas de integração entre pesquisa, desenvolvimento e produção na firma; (c) descentralização, na medida do possível, de decisões de produção para unidades inferiores em estruturas menos hierarquizadas; (d) constituição de redes de firmas e iniciativas conjuntas como forma de adquirir ganhos simultâneos de especialização e coordenação; e (e) subcontratação de longo prazo e cooperativa no sentido de se promover inovações tecnológicas conjuntas. Em contraste com esse conjunto de tendências de caráter mais geral, cabe, por outro lado, reafirmar a diversidade das organizações produtivas nos vários setores de atividade e, por conseguinte, dos efeitos espaciais que produzem. Scott e Storper (1988) propõem um ponto de partida para a análise destes efeitos. Para os autores, quanto maior a complexidade, irregularidade, incerteza e “inconfiabilidade” das transações, mais sensível à distância geográfica a empresa será. Os custos com deslocamento crescerão dramaticamente, e em alguns casos, tornarão a transação inviável. Em contraste, quanto maior a confiabilidade, regularidade da transação, menor será a limitação da distância geográfica. As transações em rede seriam, de todo modo, um aspecto marcante da nova ordem industrial. Nesta linha de raciocínio, formas de organização de atividades e agentes sócio-econômicos em rede propiciariam resultados tão melhores para o desenvolvimento regional quanto mais complexas, incertas e interativas forem as transações envolvidas, entre as quais destacam-se as transações relacionadas com o desenvolvimento e transferência de tecnologia. Afinal, como lembra Morgan (1994), os mercados são condutores ineficientes para a difusão de informação e conhecimento, especialmente conhecimento tácito, assim como também o é freqüentemente o sistema hierárquico das grandes firmas. Acordos entre firmas, especialmente no caso de pequenas e médias (PMEs), são apresentados como uma estratégia oportuna à superação das imperfeições do mercado, da rigidez das grandes empresas e do isolacionismo que constitui uma característica deletéria de muitas pequenas empresas, responsável em muitos casos pelo seu pequeno dinamismo inovativo e alto grau de mortalidade (COOKE; MORGAN, 1994). Um conceito fundamental para apreender as complexas e variadas relações que se estabelecem não só entre as firmas mas também com outras instituições – centros de pesquisa, universidades, instituições financeiras etc. – nos ambientes mais bem sucedidos em termos de inovação e desenvolvimento econômico é o de sistema de inovação. A característica principal do enfoque sistêmico do processo de inovação é justamente a importância que nele é atribuída “às relações e à cooperação entre os elementos de um subsistema e subsistemas distintos” (MOTA; LUCCHESI, 1998, p.143). Cassiolato et al (1998) argumentam que Lundvall (1992), Nelson (1993) e Freeman (1995) ao desenvolverem o conceito de sistema nacional de inovação procuraram enfatizar e explicitar a natureza interativa do processo de inovação6. Para Freeman (1995), sistemas de inovação são estruturas organizacionais e institucionais de suporte às mudanças tecnológicas, que tendem a ser predominantemente de caráter nacional. Desta forma, nações diferem entre si segundo 6 Ainda que haja diferenças importantes nas abordagens desses autores – enquanto Nelson refere-se ao sistema nacional de inovação de uma forma mais restrita, como sinônimo de sistema de ciência e tecnologia, Freeman e Lundvall adotam uma definição mais ampla, entendendo-o como o arranjo institucional responsável pelo progresso tecnológico de um país –, a ênfase nas relações e interações é intrínseca ao tratamento sistêmico. 6 seus sistemas específicos de inovação. Estes sistemas não se restringiriam aos sistemas nacionais de pesquisa, referindo-se a um conjunto bem mais amplo de atributos, que envolve arranjos sociais formais e informais, estruturas e instituições públicas e privadas, regras e convenções que repercutem decisivamente na competitividade da economia nacional. Resultam, portanto, de uma capacidade de produção e acumulação de conhecimento que se desenvolve no longo prazo e sem a qual não se alcança a competitividade internacional. Freeman e outros autores da chamada corrente evolucionista, ao discutirem os sistemas nacionais de inovação, ressaltam ainda as características históricas, culturais e econômicas de cada país, que se refletem na organização interna das firmas e dos mercados produtor e consumidor, no papel do setor público e do setor financeiro etc. Sistemas nacionais de inovação, sugerem, devem ser entendidos como produtos da história, resultantes da trajetória percorrida por cada país, o que explica a diversidade dos sistemas de inovação. A esse respeito, baseando-se em Smith (1997), Cassiolato et al. (1998, p. 20) desenvolvem uma argumentação bastante elucidativa: os diferentes enfoques utilizados se estruturam em três pilares conceituais básicos, os quais permitem distingui-los e diferenciá-los de acordo com a ênfase colocada em tais diferentes pilares. Tais pilares baseiam-se no entendimento que: (i) as vantagens competitivas resultam da variedade e da especialização, e que tal fato realmente apresenta efeitos indutores path-dependent. Isto é, especializações que apresentam sucesso econômico ocorrem particularmente ao redor de estruturas industriais específicas; (ii) o conhecimento tecnológico é gerado através de um aprendizado fundamentalmente interativo, geralmente tomando a forma de capacitações distribuídas entre os diferentes tipos de agentes econômicos que devem interagir, de alguma maneira, para que o mesmo possa ser utilizado; e (iii) o comportamento econômico repousa em instituições e ‘regras do jogo’ estabelecidas legalmente ou através de costumes que evoluem tendo em vista as vantagens que elas oferecem na redução da incerteza. Assim, diferentes modos de organização institucional levam a diferentes comportamentos e resultados econômicos. Entretanto, como aponta Edquist (1997), o conceito de sistema de inovação pode ser utilizado em outras dimensões que não a nacional: a dimensão supranacional, como por exemplo a União Européia; a dimensão regional/local, como o Vale do Silício nos Estados Unidos, os milieux innovateurs europeus (com destaque para os distritos industriais italianos); ou ainda uma dimensão setorial. Com efeito, a proposta conceitual de sistema regional/local de inovação parece oferecer vantagens, em certas circunstâncias, para a compreensão do processo de inovação, dadas as diferenças encontradas entre os países e entre as próprias regiões7. De todo modo, independentemente da abordagem sistêmica do processo de inovação a ser utilizada assumir uma dimensão nacional, regional ou local, existe na literatura uma variedade de modelos de sistemas de inovação tecnológica, ou seja, existem várias maneiras de visualizar a malha de interações e relacionamentos entre os diversos agentes que compõem o sistema e que, desta forma, determinam os aspectos incluídos e excluídos do campo de análise. 7 Cassiolato et al. (1998, p. 21) sugerem que essa vantagem é maior quando se analisa os casos dos países menos desenvolvidos, “cujas especificidades geralmente não se alinham e na maior parte das vezes divergem radicalmente daquelas dos mais desenvolvidos, que costumam basear os modelos e as contribuições conceituais a respeito do tema”. Sutz (1998), analisando os sistemas de inovação do setor industrial no México, Colômbia, Venezuela, Argentina, Uruguai e Chile, registra a forte componente local/regional destes sistemas de inovação. 7 Entretanto, para que produzam resultados que permitam a absorção de economias externas, tanto no nível individual quanto no sistêmico, é necessário que as ações ocorram de forma coordenada, permitindo amplas possibilidades de cooperação entre os agentes, que por sua vez devem compartilhar a percepção de que a cooperação é mais vantajosa, sem que isso implique eliminar a competição. Desta forma, torna-se central a questão de como constituir estruturas, mecanismos e práticas (e quais são elas) que favoreçam tais comportamentos e resultem numa efetiva coordenação entre as decisões organizacionais autônomas. Num sistema desta natureza devem estar presentes agentes pertencentes aos subsistemas científico, tecnológico e de serviços especializados, produtivo e financeiro e deve existir um ambiente cultural que favoreça a interação de tais agentes bem como estruturas de coordenação representativas e respeitadas pelos agentes. Do ponto de vista deste artigo, é particularmente relevante abordar as características organizacionais dos subsistemas produtivos, já que, por meio de arranjos produtivos, externalidades sistêmicas podem ser apropriadas pelo conjunto das empresas envolvidas. Perrow (1992) é uma referência central nesta temática. Este autor identifica um conjunto de arranjos industriais possíveis, assim distribuídos: firma integrada, firma multi-divisional integrada, conglomerados, terceirização dependente, holding, jointventures, subcontratações independentes e redes de pequenas firmas. Embora Perrow enfoque fundamentalmente as relações inter-firmas, está claro que sua abordagem pode contribuir para o tratamento das questões regionais. Entende-se por firma integrada aquela que, devido ao seu tamanho e poder de mercado, tem condições de alterar substantivamente a configuração do ambiente em que está inserida, em função de decisões de verticalização orientadas para a melhoria da coordenação entre as diversas etapas do processo produtivo e, portanto, redução dos custos de transação. Sua autonomia para expandir seletivamente a fronteira de eficiência, na forma como concebida por Williamson (1985, p. 96-98) a montante (fornecedores de matéria-prima e componentes) ou a jusante (distribuidores), é que lhe confere a classificação de firma integrada. Uma das conseqüências de sua atuação é a redução do número de organizações independentes no ambiente. Firma multi-divisional integrada, conglomerados e holdings, costumam ser arranjos organizacionais distintos de firmas integradas embora respeitem à mesma lógica de ação. As firmas integradas, em qualquer das configurações organizacionais citadas, estabelecem relações assimétricas com seus fornecedores – quase sempre muito menores –, configurando-se como “empresa-guia” (ou “empresa-mãe”). O grau de assimetria existente pode produzir dois tipos distintos de arranjos: terceirizações dependentes ou subcontratações independentes. A diferença entre eles está na motivação original do arranjo e nas possibilidades futuras que cada um oferece. A terceirização dependente geralmente nasce da decisão da firma integrada de transformar custos fixos em variáveis, transferindo parte do processo produtivo – por vezes com o próprio maquinário e a força de trabalho – para um terceiro. Neste processo, a firma terceirizada fica completamente dependente da empresa-mãe e de suas decisões, tendo em vista que uma parte significativa de sua produção é a ela destinada. É claro que tais empresas podem atender a outros mercados, mas como geralmente a especificidade dos ativos envolvidos é alta, seja em termos de maquinário, seja em termos de processos de aprendizagem, isto não costuma ocorrer sem um elevado grau de mortalidade. Como decorrência, tais firmas têm pouca condição de constituir redes propriamente ditas, já este arranjo pressupõe certo grau de autonomia. 8 Já as subcontratações independentes são arranjos que permitem às empresas fornecedoras envolverem-se em relações qualitativamente distintas. Geralmente possuem uma competência já instalada, que se traduz em produtos e mercados próprios, além de razoável autonomia decisória. Tais empresas estão em condições de constituir redes de subcontratação na medida em que podem, a partir das relações verticais estabelecidas com a empresa-mãe, desenvolver relações horizontais com as demais subcontratadas, compartilhando com elas “informações, conhecimentos, experiências, aprendizado, práticas e rotinas organizacionais que podem atenuar os efeitos de estrangulamentos na estrutura interna das empresas envolvidas” (SOUZA; GARCIA, 1998, p. 21). É importante destacar que a base regional é freqüentemente muito útil, pois facilita o desenvolvimento de relações tácitas, quase sempre viáveis apenas a partir de contatos pessoais. A análise organizacional destaca que o compartilhamento de economias de escala através de redes de subcontratação exige certo grau de isomorfismo entre as empresas (DIMAGGIO; POWELL, 1991, p. 67). O isomorfismo alcançado em uma rede de subcontratação constituída a partir de uma empresa-mãe é tipicamente coercitivo, resultando “de pressões formais e informais exercidas sobre as organizações por outras organizações em relação às quais elas são dependentes”. A difusão do processo de certificação ISO 9000 entre fornecedores de grandes empresas ilustra bem esta situação. Para Perrow (1992), redes de pequenas empresas e subcontratações independentes são arranjos distintos entre si devido ao caráter essencialmente vertical das subcontratações. Ele entende que as redes se formam a partir de iniciativas de coordenação desenvolvidas por governos locais ou sindicatos patronais, com base em interesses comerciais compartilhados e em situações onde seja possível o desenvolvimento de economias de escala ao longo da rede. Nas redes, a confiança e a cooperação coexistem com a competição e os ganhos da indústria regional resultam em um ‘estado de bem-estar’ compartilhado. Rede pressupõe cooperação e entre as principais razões para o surgimento deste comportamento – ao menos em economias capitalistas – está a percepção individual de que parte do ganho sistêmico resultante da cooperação pode ser apropriado individualmente. Num contexto de aceleração do ritmo de introdução de inovações e mudança tecnológica, ganham importância as redes de pequenas empresas de base tecnológica (EBTs)8. Há razões para acreditar que, principalmente no caso brasileiro, esse tipo de empresa tende a se concentrar em espaços geograficamente delimitados, caracterizados como Pólos Tecnológicos. Uma EBT pode integrar-se a um arranjo do tipo rede de subcontratação sem perder suas características apenas se a relação com a empresa-mãe se desenvolver em torno de projetos ativos de desenvolvimento/engenharia reversa de produtos ou processos. EBTs que atuassem como subcontratadas em uma rede cujo principal atrativo fosse o compartilhamento de uma estrutura de produção muito provavelmente perderiam as características que as 8 Para os fins deste artigo, não é estritamente necessário propor uma definição rigorosa de EBT. De todo modo, uma definição proveitosa deve possuir a capacidade de distinguir as empresas em que a capacitação tecnológica cumpre um papel estratégico de primeira ordem daquelas em que, por mais importante que seja, essa função tem menor importância. Numa perspectiva que, adicionalmente, procura diferenciar as EBTs de empresas que meramente operam processos produtivos modernos e/ou tecnologicamente densos mas não necessariamente dinâmicos, as EBTs seriam definidas como sendo aquelas empresas que (1) realizam esforços tecnológicos significativos e (2) concentram suas operações na fabricação de novos produtos. Reconhecendo as especificidades do processo de inovação em economias periféricas (BELL; PAVITT, 1993), a definição proposta explicitamente contempla entre os esforços de capacitação tecnológica a imitação, a adaptação e a engenharia reversa e, entre os produtos ‘novos’, inovações incrementais, novas variedades e adaptações. Maiores detalhes em Fernandes; Côrtes e Pinho (2000). 9 distinguem como EBTs. Portanto, para que uma firma integrada favoreça o surgimento de redes de EBTs são necessárias tanto estratégias competitivas pautadas pela intensidade dos recursos dedicados à P&D quanto a montagem de arranjos organizacionais que reservem um espaço ativo para as empresas subcontratadas. No caso da grande empresa localizada no Brasil, seja ela multinacional ou de capital nacional, isso tem sido, ainda que por razões distintas em cada caso, igualmente pouco freqüente. Nesta situação, redes de EBTs, ao menos em países como o Brasil, têm maior probabilidade de se configurar a partir de uma arquitetura de redes de pequenas empresas. O surgimento de instituições com a finalidade de promover a interação entre os diversos agentes envolvidos no processo de inovação tecnológica é um fenômeno organizacional que acompanha a criação das aglomerações de EBTs. Com formatos bastante variados e objetivos nem sempre idênticos, os parques tecnológicos têm se difundido internacionalmente (TORKOMIAN, 1996; VILLASCHI FILHO, 2001). Neste processo, um dos pontos críticos é certamente a transferência de tecnologia da universidade para o setor produtivo. Torkomian e Plonsky (1998) identificam duas formas de se promover esta transferência: a interação com empresas já existentes ou a criação de empresas. Em ambos os casos a existência de organismos facilitadores, tais como fundações de apoio, núcleos de interação universidade-empresa e escritórios de transferência de tecnologia, é importante para potencializar este contato9. Mais genericamente, os órgãos gestores dos parques tecnológicos tendem a assumir a função de coordenação do arranjo. Por coordenação estamos nos referindo a um conjunto de ações conduzidas independentemente por agentes autônomos, mas articuladas entre si, que trazem como resultado um ganho sistêmico que pode ser apropriado por cada um (ou muitos). De acordo com Margalit (1977), para que uma situação dessas ocorra é necessário, em primeiro lugar, que os agentes independentes reconheçam que há um ganho sistêmico. Em seguida, entre as várias situações percebidas como vantajosas, nenhuma delas deverá ser a priori preferível em relação às outras, o que significa uma disposição prévia para a negociação. O problema, então, está em encontrar algum mecanismo que permita que as decisões sejam coordenadas pelos agentes, a fim de que estes escolham algumas das “boas” possibilidades existentes. Preços relativos constituem mecanismos de coordenação eficientes apenas em ambientes onde a governança predominante seja do tipo ‘mercado’ ou seja, onde a especificidade dos ativos envolvidos nas transações seja muito baixa e os produtos, identificados como commodities. Em ambientes que envolvem ativos mais específicos e transações mais freqüentes e, portanto, a incerteza tende a fazer com que as decisões sejam mais cautelosas, os preços relativos não são suficientes para produzir arranjos coordenados e a governança do tipo ‘contrato’ mostra-se superior, reduzindo os custos de transação. As EBTs são empresas onde tipicamente tende a prevalecer a governança do tipo ‘contrato’. Em suas operações, os custos de transação não são pequenos pois, como 9 Gomes (1995) sintetiza os elementos relevantes na constituição de parques tecnológicos: “(i) proximidade geográfica com universidades ou institutos de pesquisa, de forma a facilitar e estimular a manutenção de inter-relações com as empresas; (ii) elevado grau de transferência de tecnologia da universidade para o conjunto dos produtores; (iii) presença de produtores especializados atuando em setores de alta tecnologia; (iv) surgimento de organismos voltados à prestação de serviços às empresas, especialmente nas chamadas áreas pré-competitivas”. 10 argumentam Scott e Storper (1988 apud CARVALHO, 2000), estas empresas envolvem-se em: transações não padronizadas, que exigem que a função ‘suprimentos’ na empresa seja exercida de forma pormenorizada, com intensas negociações; • transações de pequena escala, portanto com custos relativamente altos de transporte, o que favorece os parceiros comerciais mais próximos geograficamente; • transações tecnicamente complexas, que exigem negociações face a face e controles técnicos rigorosos e não padronizados. • Por outro lado, deve-se enfatizar que a constituição de redes de EBTs pressupõe certo isomorfismo organizacional entre elas, dado que o desenvolvimento da cooperação exige o compartilhamento de identidades e similaridades. Todavia, na ausência de fortes relações hierárquicas, a pressão isomórfica resulta menos da coerção e mais do mimetismo. Como afirmam DiMaggio e Powell (1991, p. 69), a incerteza é também uma força poderosa que encoraja a imitação. Quando as tecnologias organizacionais são pouco compreendidas (...), quando os objetivos são ambíguos ou quando o ambiente cria incertezas simbólicas, as organizações podem espelhar-se em outras organizações (tradução própria). 4. IMPLICAÇÕES PARA AS POLÍTICAS REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO O tema das políticas locais de desenvolvimento ressurge no vácuo gerado pela recusa, explícita ou implícita, de esferas mais elevadas de governo de articular políticas de desenvolvimento. Isso não implica, em absoluto, que a discussão das políticas locais só faça sentido no contexto político-ideológico de “retirada” dos governos nacionais. Em qualquer circunstância, no entanto, importa conceber adequadamente o escopo da atuação dos poderes subnacionais na promoção do desenvolvimento. Isso é ainda mais verdadeiro, considerando-se as restrições de natureza fiscal e institucional ao uso de instrumentos tradicionais por esferas de governo que têm inúmeros compromissos na condução das políticas sociais. Neste artigo, apresentamos argumentos que fundamentam a noção de que o escopo por excelência das políticas locais de desenvolvimento é o da articulação e coordenação dos agentes sociais. A experiência recente de regiões bem-sucedidas indica com toda clareza que sistemas produtivos locais se beneficiam de uma ampla gama de arranjos cooperativos. No entanto, os requisitos que devem ser cumpridos para que a cooperação possa avançar não são nem remotamente elementares, envolvendo desde a superação de entraves gerados pela rivalidade intercapitalística até a formação de laços de confiança recíproca, passando pela arregimentação dos recursos necessários à constituição de um conjunto de ativos de uso compartilhado que reforçam o capital social de cada região. Em muitos casos, as políticas locais de desenvolvimento têm a ganhar com uma articulação extra-municipal. Isso ocorre, antes de mais nada, porque a estruturação do tecido produtivo freqüentemente não se restringe às fronteiras de um único município e, portanto, as interações relevantes que cumpre articular transcendem a esfera estritamente local. Além disso, a definição de uma área mais ampla de atuação confere fôlego a instituições supralocais promotoras do desenvolvimento, gerando 11 possibilidades de ganhos de escala, diluição de custos e melhor aproveitamento de competências escassas. No Brasil, instituições regionais desse tipo teriam um papel muito relevante a cumprir na questão do financiamento. Há uma compreensão cada vez mais difundida de que, ao menos no caso daquelas linhas oferecidas por instituições públicas como o BNDES e a Finep, a falta de capilaridade dos instrumentos de crédito é um problema mais sério do que a escassez de recursos ou o peso dos encargos atribuídos pelos devedores. Embora fora do alcance da imensa maioria dos municípios brasileiros tomados isoladamente, é possível conceber instituições de caráter regional que funcionariam basicamente como repassadoras de recursos dos bancos federais. Além de operar como tentáculos locais daqueles órgãos federais, essas agências teriam condições de conceber e operacionalizar estratégias direcionadas à potencialização das sinergias no desenvolvimento de arranjos produtivos, levando em conta as especificidades presentes em cada região, inclusive os fatores path dependent observados por Cassiolato et al. (1998)10. Apesar da grande relevância que creditamos à estratégia da organização econômica em rede para o desenvolvimento local, não é demais ressalvar que a alternativa endógena aqui defendida está limitada pelo papel desempenhado pela grande empresa. Esta última, no atual estágio de desenvolvimento capitalista, é responsável pela maior parcela do desenvolvimento de conhecimento e de tecnologia, assim como parte dela uma proporção não menos significativa das interações entre firmas existentes na economia de qualquer país. Entretanto, a organização em rede pode e deve desempenhar um papel relevante na economia local ou regional. No contexto de articulações entre pequenas e médias empresas, efeitos multiplicadores sobre o desenvolvimento das regiões de influência da rede teriam maior probabilidade de ocorrer. Afinal, a idéia de rede implica a constituição de estratégias desenhadas para assegurar novas formas de integração e sinergias entre firmas. Mais do que isso, a cooperação a que remetem as experiências de políticas regionais de inovação presentes na literatura inclui instituições, organizações e agentes sociais os mais diferenciados e não apenas as firmas. A arregimentação de tão variados interesses em torno de um processo interativo de inovação constitui um desafio de grandes proporções que a nova ordem industrial impõe às nações, regiões e localidades, especialmente num país em desenvolvimento e de grandes desigualdades sociais como o Brasil. Não se pode, contudo, afirmar a priori que seja este um desafio impossível. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. AMIN, A.; ROBINS, K. El retorno de las economías regionales: geografía mítica de la acumulación flexible. In: BENKO, G.; LIPIETZ, A. (Orgs.). Las regiones que ganan. Valencia: Edicions Alfons el Magnanim, 1992. p.123-158. 10 Evidentemente, o enfrentamento da questão do financiamento ao crescimento no Brasil envolve um conjunto muito maior de questões, não sendo possível abordá-las no âmbito deste artigo. Vale assinalar, de todo modo, que é indispensável equacionar o problema do crédito para capital de giro a custos aceitáveis, aspecto crucial do problema do financiamento em setores nãointensivos em capital e geradores de empregos. Não parece possível, por outro lado, avançar em atividades de maior dinamismo tecnológico sem que os órgãos públicos de financiamento adotem uma postura mais agressiva na tomada de riscos do que foi habitual nos últimos anos. 12 2. AYDALLOT, P. (Org.). Milieux innovateurs en Europe. Paris: Gremi,1986. 3. BECATTINI, G. Il Distretto Industriale Marshalliano: cronaca di un ritrovamento. In: BECATTINI, A. (Ed.). Mercato e forze locali: il distretto industriale. Bolonia: Il Mulino, 1987. p. 7-34. 4. BELL, M.; PAVITT, K. Technological accumulation and industrial growth: contrasts between developed and developing countries. Industrial and Corporate Change, v. 2, n. 2, p. 157-210, 1993. 5. BOYER, R. New directions in management practices and work organisation: general principles and national trajectories. Paris: OECD, 1989. 6. CARVALHO, M. M. et al. Empresa de base tecnológica brasileira: características distintivas. In: SIMPÓSIO DE GESTÃO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, 20., 1998, São Paulo. Anais... São Paulo: NPGCT-IA/USP, 1998. 7. CARVALHO, M. M. et al. Fatores críticos de sucesso de empresas de base tecnológica. Produto & Produção, v. 4, abr. 2000. Edição especial. 8. CASSIOLATO, J. et al. Globalização e inovação localizada. In: GLOBALIZAÇÃO e inovação localizada: experiências de sistemas locais no âmbito do Mercosul e proposições de políticas de C&T; projeto de pesquisa. Rio de Janeiro: IE-UFRJ, 1998. Mimeografado. 9. COOKE, P.; MORGAN, K. Growth regions under duress: renewal strategies in Baden-Würtenberg and Emilia-Romagna. In: AMIN, A.; THRIFT, N. (Orgs.). Globalization, institutions and regional development in Europe. Oxford: Oxford University Press, 1994. 10. COOKE, P.; URANGA, M. G.; ETXEBARRIA, G. Regional systems of innovation: an evolutionary perspective. Environment and Planning A, v. 30, p. 1563-1584, 1998. 11. COURLET, C.; PECQUEUR, B. Sistemas industriales locales en Francia: un nuevo modelo de desarrollo. In: BENKO, G.; LIPIETZ, A. (Orgs.). Las regiones que ganan. Valencia: Edicions Alfons el Magnanim, p.81-102, 1994. 12. DiMAGGIO, P. J.; POWELL, W. W. The iron cage revisited: institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. In: POWELL, W. W.; DiMAGGIO, P. J. (Orgs.). The new institutionalism in organizational analysis. Chicago: The University of Chicago Press, 1991. p. 63-82. 13 13. EDQUIST, C. Systems of innovation approaches: their emergence and characteristics. In: EDQUIST, C. (Org.). Systems of innovation: technologies, institutions and organizations. London: Pinter, 1997. 14. FERNANDES, A. C. Da reestruturação corporativa à competição entre cidades: lições urbanas sobre os ajustes de interesses globais e locais no capitalismo contemporâneo. Espaço e Debates, n. 41, p. 26-45, 2001. 15. FERNANDES, A. C.; CÔRTES, M. R. Caracterização do perfil da pequena empresa de base tecnológica no Estado de São Paulo; relatório de pesquisa. São Carlos: SEBRAE-SP; UFSCar, 1998. 16. FERNANDES, A. C.; CÔRTES, M. R.; OISHI, J. Innovation characteristics of small and medium sized technology-based firms in São Paulo, Brazil: a preliminary analysis. São Carlos: UFSCar, 2000. 17. FERNANDES, A. C.; CÔRTES, M. R.; PINHO, M. Potencialidades e limites para o desenvolvimento de empresas de base tecnológica no Brasil: contribuições para uma política industrial; relatório de pesquisa. São Carlos: UFSCar; Fapesp, 2000. Mimeografado. 18. FREEMAN, C. Technology policy and economic performance: lessons from Japan. Londres: Pinter, 1987. 19. FREEMAN, C. The national system of innovation in historical perspective. Cambridge Journal of Economics, v. 19, n. 1, 1995. 20. GAROFOLI, G. The italian model of spatial development in the 1970s and 1980s. In: BENKO, G.; DUNFORD, M. (Orgs.). Industrial change and regional development: the transformation of new industrial spaces. Londres: Belhaven, 1991. p. 85-101. 21. GOMES, E. J. A experiência brasileira de pólos tecnológicos: uma abordagem político-institucional. 1995. Dissertação (Mestrado) - Departamento de Política Científica e Tecnológica, Universidade Estadual de Campinas, Campinas. 22. LUNDVALL, B-A. User-producer relationships and national systems of innovation. In: LUNDVALL, B-A. (Org.). National system of innovation: towards a theory of innovation and interactive learning. London: Pinter, 1992. 23. MALECKI, E. Technology and economic development. Harlow: Longman, 1997. 14 24. MARGALIT, E. U. The emergence of norms. Oxford: Clarendo Press, 1977. 25. MASSEY, D. Spatial divisions of labour. Londres: Macmillan, 1984. 26. MORGAN, K. Innovating by networking: new models of corporate and development. In: DUNFORD, M.; KAFKALAS, G. (Orgs.). Cities and regions in the new Europe. London: Belhaven, 1994. p. 150-169. 27. MORGAN, K. Innovation by networking: new models of corporate and regional development; research paper. Falmer, Brighton: University of Sussex, 1993. Mimeografado. 28. MORGAN, K. Learning by interacting: inter-firm networks and enterprise support. In: OECD (Org.). Networks of enterprises and local development: competing and co-operating in local productive systems. Paris: OECD, 1996. p. 53-66. 29. MOTA, T. L. N. G.; LUCCHESI, R. Arranjos interinstitucionais como indutores de inovação. In: SIMPÓSIO GESTÃO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, 20., 1998, São Paulo. Anais… São Paulo: PGT-USP, 1998. 30. NELSON, R. (Org.). National innovation systems: a comparative analysis. New York: Oxford University Press, 1993. 31. NORTH, D. C. Economic performance through time. American Economic Review, v. 84, n. 3, 1994. 32. PERROW, C. (Org.). Explorations in economic sociology. New York: Russel Sage, 1992. 33. PIORE, M.; SABEL, C. The second industrial divide: possibilities for prosperity. New York: Basic Books, 1984. 34. SAYER, A.; WALKER, R. The new social economy: reworking the division of labour. Oxford: Blackwell, 1992. 35. SCOTT, A. Metropolis: from the division of labour to urban form. Los Angeles: University of California Press, 1988. 36. SCOTT, A. The role of large producers in industrial districts: a case study of high technology systems houses in Southern California. Regional Studies, v. 26, n. 3, p. 15 265-275, 1992. 37. SCOTT, A. J.; STORPER, M. Indústria de alta tecnologia e desenvolvimento regional: uma crítica e reconstrução teórica. Espaços e Debates, v. 8, n. 25, p. 3044, 1988. 38. SMITH, K. Systems approaches to innovation: some policy issues; working paper of the research project on Innovation Systems and European Integration – ISE. Oslo: STEP, 1997. 39. SOJA, E. Postmodern geographies: the reassertion of space in critical social theory. Londres: Verso, 1989. 40. SOUZA, M. C. A. F.; GARCIA, R. Arranjo produtivo de indústrias de alta tecnologia da região de Campinas; globalização e inovação localizada: experiências de sistemas locais no âmbito do Mercosul e proposições de políticas de C&T; relatório de pesquisa. Rio de Janeiro: IE-UFRJ, 1998. Mimeografado. 41. STORPER, M. The regional world: territorial development in a global economy. New York: The Guilford Press, 1997. 42. SUTZ, J. La innovación realmente existente en América Latina: medidas y lecturas; globalização e inovação localizada: experiências de sistemas locais no âmbito do Mercosul e proposições de políticas de C&T; relatório de pesquisa. Rio de Janeiro: IE-UFRJ, 1998. Mimeografado. 43. SWYNGEDOUW, E. The heart of the place: the resurrection of locality in an age of hyperspace. Geografiska Annaler, v. 71-B, n. 1, p. 31-42, 1989. 44. TORKOMIAN, A. L. Estrutura de pólos tecnológicos. São Carlos: EdUFSCar, 1996. 45. TORKOMIAN, A. L.; PLONSKY, G. A. Aproveitamento da pesquisa acadêmica na “capital da tecnologia”. In: SIMPÓSIO GESTÃO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, 20., 1998, São Paulo. Anais… São Paulo: PGT-USP, 1998. 46. VILLASCHI FILHO, A. Incubação em arranjos e sistemas de MPME; projeto proposição de políticas para micro, pequenas e médias empresas; nota técnica. Rio de Janeiro: UFRJ, 2001. 47. WILLIAMSON, O. E. The economic institutions of capitalism: firms, markets, relational contracting. New York: The Free Press, 1985.
Baixar