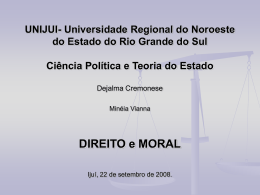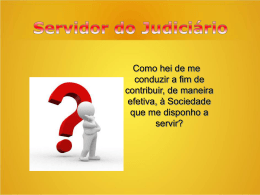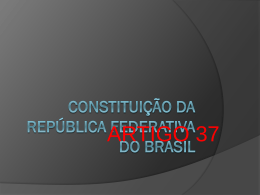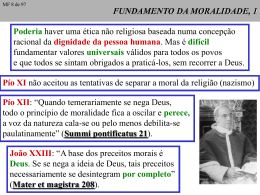Moralismo instrumental e autonomia da política Sergio Andrade1 “- Acho que ninguém por aqui joga limpo – começou a reclamar Alice. – E todo mundo discute tão horrivelmente que ninguém consegue ouvir sequer a própria voz. Além do mais, parece não haver nenhum tipo de regras ou, se há, ninguém respeita nada”. Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas Em 2001, às vésperas da disputa que marcou a ascensão do Partido dos Trabalhadores ao poder, a página de opinião da Folha de São Paulo 2 trazia um debate de feições absolutamente contemporâneas para o debate político nacional. Os interlocutores, José Artur Giannotti3 e Marilena Chauí 4, procuravam situar nos pontos e contrapontos de seus artigos, publicados como tese e, posteriormente, no caso de Chauí, como resposta, a natureza da moralidade na política. Como avaliar sob esse ponto de vista a emenda constitucional da reeleição de Fernando Henrique Cardoso e a submissão às imposições do Fundo Monetário Internacional para solução do "déficit público"? Os exemplos dos autores, retirados do contexto à época, indicam mais do que querem parecer, argumentações bem fundamentadas de dois expoentes da filosofia política brasileira. São em si posições políticas do embate entre a hegemonia tucana e o ascendente polo de poder representado pelos petistas. Remontam, contudo, as mais vívidas discussões do pensamento político clássico. Afinal, a política opera a partir de uma moralidade peculiar, distinta portanto, dos imperativos morais da tradição kantiana? Os fins esperados justificariam os meios exigidos para sua consecução? Do ponto de vista da construção democrática, as profundas tensões entre a moralidade privada e a moralidade pública são constantemente repostas e, não raro, se transformam em artifício importado de domínio estrangeiro aquele presente na ética pública, tornandose recurso da disputa política. Essa provocante contradição é o desafio desse ensaio, escrito às vésperas do segundo turno de uma eleição presidencial marcada por essa mesma 1 Sergio Andrade é cientista político e diretor executivo da Agenda Pública, Agência de Análise e Cooperação em Políticas Públicas. 2 Textos publicados em maio de 2001, no jornal Folha de S. Paulo. Disponíveis em http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI18523,41046Jose+Arthur+Giannotti+x+Marilena+Chaui+confira+o+debate. Acessado em 12/10/14. 3 Professor emérito da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e ex-presidente do Cebrap (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento). 4 Professora de filosofia política e história da filosofia moderna da USP. contradição, onde se criticam as alianças do polo de poder dominante, formado pelo PT e PMDB, ladeados por partidos de centro-direita, em um governo de projeto progressista, de base social ligada ao trabalho e aos movimentos sociais. A escrita requer cuidado e honestidade intelectual que permitam repor os termos do debate entre Giannotti e Chauí, a despeito das paixões que a estimulante discussão provoca ao ser confrontada com as múltiplas situações em que o moralismo seletivo aparece ressignificado ao sabor da casuística política. Irei buscar nesses argumentos apresentados as chaves para reconstituir um debate que encontramos em autores muito díspares que vão desde Maquiavel, passando por Hannah Arendt, a Habermas. Sobre as teses das “zonas de amoralidade” Segundo Giannotti, o consenso na política organizada sob mecanismos conhecidos dispensaria os artifícios para a superação do adversário. Logo, na impossibilidade do consenso, há necessidade de mecanismos que permitam a tomada a decisão. Se esta não é imposta ao adversário pela força, uma vez que estamos pensando no modelo de democracia liberal, o arbítrio se dá pelo voto. “Isso implica obedecer a determinadas regras que asseguram a legitimidade do procedimento, tais como eleger representantes, garantir que a minoria possa vir a ser maioria, determinar prazos, ordem na apresentação das propostas, indicação de comissões e assim por diante”5, conclui Giannotti. Estes regulamentos representariam um arranjo formal que admite manipulação quando o que está em jogo é vencer o adversário político na disputa pelo poder do Estado. Nesse caso, tendo em vista um projeto, um ideal na administração de uma solução para o Estado que atenda aos interesses do grupo com poder e legitimidade suficientes para julgar disputar o domínio deste, o grupo então poderá fazer uso da manipulação para ver realizados seus objetivos. A mesma lógica está posta quando o governante, diante de um impasse na aplicação de recursos escassos, é obrigado a se definir quanto à prioridade desta alocação, alegando publicamente razões diferentes daquelas que realmente o motivaram. Ao fazer isso, tenta impedir ou neutralizar a instrumentalização (da reação do grupo social prejudicado) pelos adversários políticos em disputa pelo poder do Estado. Se assim o é, seria possível dizer que 5 Farei referências a todo momento aos textos publicados por Giannotti e Chauí. Tomarei a liberdade de usar aspas entendendo que a fonte de referência inicial já está posta, cuidando para indicar o autor do argumento. a lógica republicana não faz sentido se o objetivo é superar o inimigo. Assim, vai afirmar “Como não está administrando uma loja, mas exercendo o poder de contemplar alguns antes de outros (condição para que o benefício seja de fato distribuído), é insensato exercêlo beneficiando o inimigo”. O argumento torna-se aceitável, segundo Giannotti, por algumas dessas razões: #1 Não há política entre santos (ela é típica dos sábios); “Não há política entre santos, mas já existe entre sábios, pois, embora devam discutir até o convencimento de todos, até chegar ao consenso e pronunciar uma verdade relativa, para isso precisam disputar recursos escassos, de sorte que alguns ficam privilegiados no processo de provar suas teses”. #2 As leis da polis, para seu funcionamento, requerem uma certa zona de amoralidade (zona de indefinição ou imprecisão moral); “As leis guardiãs das leis que regem a “polis”, para serem praticadas, requerem uma zona de amoralidade sem a qual não poderiam funcionar. Isso já no seu princípio, pois seus executores só podem existir a partir de uma particularidade. O deputado ou senador, prefeito ou governador, enfim o representante político encarregado de tomar decisões gerais, ele é um ser social particular cujas necessidades devem ser satisfeitas”. #3 As zonas cinzentas são necessárias para o funcionamento das instituições “(...) na política, não se possa regulamentar um órgão qualquer do Executivo, do Legislativo e do Judiciário sem que se arme um sistema de regras cujas zonas indefinidas não sejam usadas na luta pelo poder. São conhecidas as manobras de pedido de vistas, a disputa pela ordenação da pauta, as pressões para nomear um relator e assim por diante”. #4 A manipulação é parte das regras entre as forças em disputa “(...) se um indivíduo só vem a ser político mediante uma votação, não existiria política se os políticos não tratassem de vencer eleições, usando recursos disponíveis, inclusive manipulando as indecisões e falhas do regulamento. A efetivação de qualquer jogo competitivo sempre requer um espaço de tolerância para certas faltas”. #5 A moral é seletiva e instrumental e, por isso, constitui também recurso político; “Mais do que moral, acusar de imoral publicamente uma pessoa pública é ato político. Na medida em que a política, entre muitas coisas, consiste numa luta entre amigos e inimigos, ela pressupõe a manipulação do outro, desde logo suporta, portanto, certa dose de amoralidade”. #6 O senso de moralidade depende do que é percebido socialmente como “amoral” “(...) acusar o inimigo de imoral é arma política, instrumento para anular o ser político do adversário. Mas a moeda política se gasta caso usada indiscriminadamente; também ela deixa de ser crível”. Vejamos agora, as argumentações de Giannotti admitem um núcleo comum: reclama um estatuto distinto para diferenciar o juízo moral na esfera pública do juízo moral na intimidade. Ao fazê-lo procura combater o moralismo, o qual manifesta-se ante a confusão entre moral privada e moral pública, dificultando o juízo acerca da essência da política. Essa posição é compartilhada no debate com Chauí. “De fato, ao confundir os dois espaços, o moralismo suscita dois equívocos igualmente graves: o de tomar o espaço político segundo os critérios da vida familiar (regida pelo princípio da autoridade pessoal e da afeição) e das relações de mercado (regidas pelo princípio da propriedade privada dos meios de produção), quando, na verdade, a política nasce para responder aos problemas, conflitos e contradições dessas duas esferas privadas, não podendo ser regida pelas mesmas normas que as regem”. (Chauí, 2001) Nas palavras da autora, publicadas no artigo de resposta à Giannotti, encontramos que o moralismo abstrato nasce da atenção dada à esfera da vida privada, governada por uma lógica intimista. Nesse sentido, aprisiona a política, sujeitando-a à moral do indivíduo. Sob o véu da moralidade doméstica, o indivíduo julga o governante por suas virtudes e por seus vícios. Agindo desse modo, o faz reduzindo aquilo que seria um problema coletivo a um problema individual. A natureza do pensamento é no fim otimista, pois equivale a acreditar na índole dos indivíduos, em detrimento do controle das instituições. Porém, as expectativas da moral subjetiva se frustram constantemente, terminando por levar à renúncia do moralista à própria ação política. Logo, a fonte da moralidade pública não pode operar de modo semelhante àquela cara à família ou ao mercado. Segundo Chauí, “a moralidade política se define pelas ações e pelo curso das ações numa lógica nova que não é a da autoridade (como na família) nem a da força (como no mercado), mas a do poder”. Se o consenso entre os autores é expresso até aqui, assume a divergência explícita em relação ao realismo da argumentação em torno da autonomia moral do jogo político reclamada por Giannotti, nascida do seu interesse por “estratégias capazes de obter ganhos diferenciais”, ou melhor, explicitar as regras que traduzam vantagens competitivas. Afirma Chauí que “não se pode falar em ‘zonas de amoralidade’ na política, uma vez que isso significa que estamos supondo uma moralidade externa e heterogênea à política, moralidade puramente íntima (neste caso, a moral estrita do governante – grifos meus), que fica em suspenso para que a ação política se realize com eficácia. Distinguir o público e o privado, afastar o moralismo, admitir a dimensão fundante da ação política e a indeterminação de seu curso não pode significar ‘vale-tudo’, e sim que nos cabe saber como é construída a moralidade propriamente política no curso de ações das quais não temos controle pleno”. Da emancipação da política Vejamos até onde é possível chegar observando a advertência de Chauí. Esta moralidade seletiva requer que o agente adote condutas que promovam os melhores resultados, a despeito dos meios escolhidos. No pragmatismo dos fins a relativização de princípios é admissível? Sim e não, diriam nossos autores. Mas, vejamos algumas evidências do impasse que se estabelece. A morte de centenas de milhares de civis no Iraque não impediu que a Doutrina Bush sobrevivesse e seu reconhecimento público com o discurso de “garantia da segurança interna dos norte-americanos” fosse louvado. Churchill não relatou aos ingleses que sabia sobre o bombardeio alemão sobre Birmingham, em alguma noite durante a Segunda Grande Guerra. Estava em jogo revelar ao inimigo o conhecimento sobre os códigos empregados na comunicação. Milhares morreram no ataque, mas Churchill continua a ser reconhecido pelo seu gênio, um dos homens mais importantes do século XX. Em Maquiavel, vemos a dinâmica da conquista, manutenção e expansão do poder político submetida àquilo que modernamente chamaríamos de “realpolitik” ou “raison d’état”, interesses nacionais do Estado calculados e perseguidos de forma racional visando fortalecer o poder nacional. Por essa razão, só lhe cabe o juízo de critérios exclusivamente políticos. Se como nos lembra Maquiavel, há vícios que são virtudes, na coerência da ética pública o governante pode "incorrer no opróbrio dos defeitos mencionados, se tal for indispensável para salvar o Estado" (O príncipe, cap. XV). A sujeição à moralidade privada pode significar sua ruína. A sabedoria do governante, neste caso, pressupõe - "aprender os meios de não ser bom e a fazer uso ou não deles, conforme as necessidades". A qualidade da liderança está na subordinação da ação e do juízo às qualidades e condutas caras aos governados. “O jogo entre a aparência e a essência sobrepõe-se à distinção tradicional entre virtudes e vícios. A virtú política exige também os vícios, assim como exige o reenquadramento da força. O agir virtuoso é um agir como homem e como animal. Resulta de uma astuciosa combinação da virilidade e da natureza animal. Quer como homem, quer como leão (para amedrontar os lobos), quer como raposa (para conhecer os lobos), o que conta é "o triunfo das dificuldades e a manutenção do Estado. Os meios para isso nunca deixarão de ser julgados honrosos, e todos os aplaudirão" (O príncipe, cap. XVIII)”. (Sadek, 2006) A política pensada em vista de seus resultados não é moralmente boa ou virtuosa, tem uma ética e uma lógica próprias, características às doutrinas do realismo político. Contudo, o êxito político não transforma atos condenáveis em glória. A moralidade pública não é infensa às regras sociais e aos costumes, tampouco, faculta os homens públicos, enquanto cidadãos, de seguirem leis morais que sujeitam a todos os indivíduos. Contudo, na condução dos negócios do Estado demandas morais subjetivas e idealistas não devem tomadas como medida. Se o contexto da guerra pode turvar a visão, distorcer as percepções ao também relativizar as atitudes possíveis, o que dizer de fatos corriqueiros a que estão sujeitos agentes públicos? O que diríamos nos casos em que somos obrigados a ponderar qual é a atitude razoável para enquadrar situações em que se decide sobre vida e morte. O caso dos medicamentos de alto custo é emblemático. Como julgar episódios em que um único medicamento avaliado em R$ 120 mil, destinado a atender um único paciente 6, retira do orçamento público recurso previamente destinado a outras prioridades, por exemplo, atenção básica à saúde? Segundo Chauí, não há amoralidade quando a lógica do poder é o bem estar dos cidadãos, com regras definidas por este corpo político. Assim, “do ponto de vista da construção 6 “Justiça obriga estado a fornecer medicamento de alto custo a paciente com câncer”. O caso é real e representa um dos debates mais contundentes na gestão municipal, a judicialização da saúde. http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2014/10/07/interna_gerais,576995/justica-obriga-estado-afornecer-medicamento-de-alto-custo-a-paciente-com-cancer.shtml democrática, as profundas tensões entre a moralidade privada e a moralidade pública não se resolvem pela sobreposição de uma à outra, mas pela eleição de valores de sociabilidade que funcionem como crivo para a escolha e avaliação de condutas. Tais valores retiram sua legitimidade do próprio projeto democrático”. Nesse sentido, lhe faz coro o próprio Giannotti, em seu artigo de tréplica. “Se as normas morais são imperativas, isso não acontece com aquelas que regulam o jogo da política, cuja regulamentação se tece ao longo do processo (...) esse controle é feito pelo próprio jogo democrático que, a despeito de seguir regras delineadas, se desenvolve numa prática cuja zona de indefinição, sempre existindo entre a regra e seu seguimento, possui a propriedade característica de se fechar na medida em que se abre um novo espaço de luta”. (Giannotti, 2001) Não há dubiedade possível, nesse caso, para Chauí. É enfática ao dizer que os valores de sociabilidade balizadores da moralidade pública precisam considerar os próprios “antagonismos sociais”, o “jogo de forças em competição”, cuja lógica de poder pode instrumentalizar ou deslegitimar a ação política fundada em direitos para favorecer interesses de elites organizadas em torno do Estado. Em Maquiavel, encontraremos uma advertência em relação a essa contradição fundante da política, cuja visão da sociedade a apresenta como produto da cisão de grupos com interesses opostos. “quando um cidadão privado (...) torna-se príncipe de sua pátria, o que se pode chamar principado civil (...), digo que se ascende a esse principado ou com o favor do povo ou com aquele dos grandes. Porque em toda cidade se encontram estas duas tendências diversas e isso resulta do fato de que o povo não quer ser mandado nem oprimido pelos poderosos e estes desejam governar e oprimir o povo (...) O principado é constituído ou pelo povo ou pelos grandes, conforme uma ou outra destas partes tenha oportunidade: vendo os grandes não lhes ser possível resistir ao povo, começam a emprestar prestígio a um dentre eles e o fazem príncipe para poderem, sob sua sombra, dar expansão ao seu apetite; o povo, também, vendo não poder resistir aos poderosos, volta a estima a um cidadão e o faz príncipe para estar defendido com a autoridade do mesmo. O que chega ao principado com a ajuda dos grandes se mantém com mais dificuldade daquele que ascende ao posto com o apoio do povo, pois se encontra príncipe com muitos ao redor a lhe parecerem seus iguais e, por isso, não pode nem governar nem manobrar como entender”. (O Príncipe, Capítulo IX) Mesmo assim, a ideia central que resulta das argumentações de Chauí e Giannotti é que as instituições e os agentes públicos não estão confinados ao controle de um sistema de moralidade subjetiva em que “o moralmente justo deve necessariamente prevalecer sobre o politicamente útil” (Panebianco, 1996). A construção do discurso moralista Contudo, retomando os argumentos de Giannotti sobre a ética pública, este nos lembra que as “zonas de indefinição” são típicas da própria disputa política e que, em sendo a política um jogo, “(...) o juízo moral se torna inevitavelmente arma política para acuar o adversário e enaltecer o aliado, de tal modo que a investigação da verdade fica determinada por essa luta visando a vitória de um sobre o outro”. Neste caso, quando o impasse entre ética e política se apresenta de forma irreconciliável, “o moralismo resolve a tensão (...) aniquilando a política através da ética, negando à política qualquer especificidade e autonomia com relação à ética que, além disso, é suposta como única e de fácil e segura identificação” (Panebianco, 1996). Conforme nos lembra esse autor, o moralismo pressupõe a existência uma única ética a qual se subordinaria e da qual dependeria a política. (...) o moralismo acredita ser possível, numa era dominada pelo politeísmo dos valores, abençoar como válido um, e apenas um, dentre os muitos sistemas éticos, que concorrem entre si e se apresentam todos aos diversos júris da modernidade. O moralismo fala de ética no singular, mas não sabe, não pode, et pour cause, dar algum conteúdo preciso à palavra: porque se tentasse fazê-lo, encontrar-se-ia subitamente com dilemas delicados e insolúveis” (Idem) Se o emprego do discurso da ética pública é seletivo, se a política não pode ser vista em termos políticos, importa como é percebido determinado ato político pela opinião pública. Aqui estamos no bosque dos contrassensos. As percepções do que seria moralmente aceitável são múltiplas e o que parece realmente distinto é a maneira como as diferentes elites políticas o apresentam. A política de alianças é um exemplo emblemático. A montagem de coalizões no presidencialismo brasileiro é apresentada ora como fator de governabilidade, ora como fisiologismo ao estilo patrimonialista. Da mesma maneira, as denúncias de corrupção podem aparecer como casuísmo ou dilapidação do Estado. O jogo político forjou padrões de aceitação ou repúdio para esses episódios, criando expressões folclóricas como “rouba, mas faz” e, na contramão, “a quadrilha no poder”. No discurso moralista a mobilização da opinião pública é crucial para a determinação da linha de tolerância entre o que o político deve e não deve fazer. Escreve Giannotti: “Para que os cidadãos possam deliberar, decidir e formar uma opinião consistente sobre as ações políticas precisam demarcar fato e versão, verdade e mentira. Daí a importância de formar um juízo público que impeça o cidadão de deliberar politicamente de maneira informada”. Conforme lembra, a mídia tem responsabilidade central nesse processo, pois deve construir os fatos no seu nível de realidade. O faz, contudo, do lugar contraditório que ocupa enquanto “empresa capitalista” e tentativa de uma “universalidade”. Na medida que essas posições se confundem e, prevalece interesses particulares, a mídia tende a agir como partido político7. Continua Giannotti, “um órgão da mídia que se pensa como único instrumento da moralidade pública tende a virar partido. (...). Em contrapartida, se tender a enunciar juízos morais fora da realidade de risco onde se move o objeto julgado, torna -se igreja, pois atos políticos lhe aparecem marcados pelo pecado original. No dever de zelar pela moralidade pública, à mídia cabe o papel de informar sem negar a natureza política dos atos praticados por agentes públicos: se o viés político explícito não está presente, a posição é antidemocrática. “Quando um jornalista o expõe do ponto de 7 Sobre isso, é interessante ler o artigo de Bernardo Kucinski: O Governo Lula e a Batalha da Comunicação. http://www.teoriaedebate.org.br/materias/sociedade/o-governo-lula-e-batalha-dacomunicacao#footnote4_5bwepu2. Acessado em 13/10/14. vista de sua total transparência, destrói o caráter político desse fato e transforma sua informação em arma política a serviço de interesses totalitários.” Assim o é, pois “ao ser pronunciado publicamente, esse juízo se torna político antes de ser moral”, completa Giannotti. Repolitizar a política? A negação da política pelo moralismo instrumental pode se revelar uma armadilha. Ainda que o moralismo se apresente e dele resulte alteração no processo democrático baseado no juízo mais esclarecido e consciente, a política fará dele seu instrumento 8. "Este êxito paradoxal, esta heterogênese dos fins, é a consequência necessária dos erros intelectuais sobre os quais o moralismo se apoia. Este acredita ser possível, em primeiro lugar, eludir a dureza da política; acredita ser possível que a ação política possa desembaraçar-se do critério do útil todas as vezes que o mesmo entre em conflito como critério do moralmente justo” (Panebianco, 1996). A moral, sob a qual se apoiam os moralistas, bebe da tradição cristã que reconhece na política o prolongamento da moral9. Há razão para temê-los? Creio que sim. A bandeira da moralidade 10 vem para desidratar a esfera da política. Combinada a outros recursos dos quais a política se serve, como o dinheiro, os meios de comunicação, as armas, a coerção, a capacidade organizativa, a influência e a técnica, o discurso moralista no Brasil tem contribuído para deteriorar a confiança nas possibilidades da política. Segundo Panebianco, ao moralista resta o inevitável destino de “tornar-se o instrumento útil, esteja ou não consciente disso, de algum grupo na competição pelo poder com outros grupos”. A imagem da banalização da corrupção e a desacreditação nos políticos e nas instituições têm levado a 8 Não vamos esquecer que o discurso do Partido dos Trabalhadores apresentava os indivíduos do partido de forma moralmente superior. Os episódios de corrupção envolvendo membros do partido demonstram que a virtude repousa mesmo nas instituições. Também não podemos esquecer do “paladino da ética”, senador Demóstenes Torres (DEM) e sua performance nas páginas amarelas de Veja e depois nas páginas policiais. Ambos os casos, custaram caro aos dois partidos. 9 Em Santo Agostinho e sua distinção entre a cidade celeste e a cidade terrestre, o poder político serve a fins religiosos, metafísicos. O poder terreno, o governante é representante de deus e, como tal, deve governar pela salvação moral dos governados. Esta concepção é negada por Maquiavel na defesa da emancipação e lógica da política. “(...) o lugar da categoria do político e do governo político é tomado (...) pela categoria do eclesiástico e do governo eclesiástico. Aqui o pensamento não se fundamentava sobre categorias mundanas, históricas e políticas, mas sobre categorias eclesiásticas. O rei ou imperador era um membro da igreja e foi esta consideração basilar que inspirou todo o pensamento ocidental e, em particular, o do papado (...)” (Ullmann apud Panebianco, 1993). 10 Não podemos nos esquecer do apelo constante ao moralismo religioso como medida da ação pública e do proselitismo político. Ao manipular crenças e valores, o moralista recorre aos apelos de virtude e de piedade para a construção de seu discurso de sedução. uma crescente aversão à política e aos partidos, expressa nas manifestações de junho de 2013 e nos raivosos comentários vistos nas redes sociais. No entanto, o sintoma mais sério tem sido a alienação da política. Esses sentimentos instrumentalizados fragilizam o Estado mas, principalmente, a democracia, a qual esvazia-se de sentido aos olhos do cidadão comum, servindo à lógica da violência, dos fascismos e da dominação. “A transformação da ação em governar e ser governado — quer dizer na divisão entre os que comandam e os que executam as ordens — (…), torna-se um resultado inevitável quando o modelo da compreensão da ação é retirado do domínio privado da vida doméstica e transposto para domínio público e político em que tem lugar a ação, propriamente dita, enquanto atividade que só pode funcionar entre pessoas” (Arendt, 2007) É fundamental resgatar a autonomia da política repondo suas dimensões características. A ampliação do espaço público como espaço simbólico e democrático da diversidade dos discursos e dos contraditórios para a formação de uma opinião pública sob referenciais democráticos é um requisito para que possamos libertar a política das tiranias da intimidade. Bibliografia ARENDT, Hannah. A Promessa Política. Lisboa, Relógio D’Água. 2007 BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Classes sociais e o capitalismo tecnoburocrático. EAESP/FGV, julho de 2014. CHAUÍ, Marilena. Acerca da moralidade pública. Folha de São Paulo, Opinião. 24 de Maio de 2001. http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz2405200109.htm. Acessado em 13/10/14 GIANNOTTI, José Arthur. O dedo em riste do jornalismo moral. Folha de São Paulo, Opinião. 17 de Maio de 2001. Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz1705200109.htm. Acessado em 13/10/14 ___________________ Para a virtuosa Marilena. Folha de São Paulo, Opinião. 30 de Maio de 2001. http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz3005200109.htm. Acessado em 13/10/14 HABERMAS, Jürgen. Mudança Estrutural da Esfera Pública. São Paulo, Unesp, 2011, pp. 327384. PANEBIANCO, Ângelo. "Evitar a política?". Novos Estudos. São Paulo: Cebrap, # 45, julho de 1996, pp. 51-57. SADEK, Maria Tereza. Nicolau Maquiavel: o cidadão sem fortuna, o intelectual de virtú IN WEFFORT, Francisco (Org.). Os Clássicos da Política. 14º ed. São Paulo, Ática, 2006. WEBER, Max. Ciência e política: duas vocações. São Paulo, Cultrix, 2010, pp. 55-124
Download