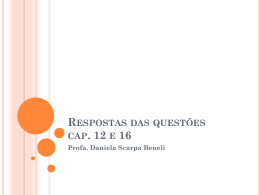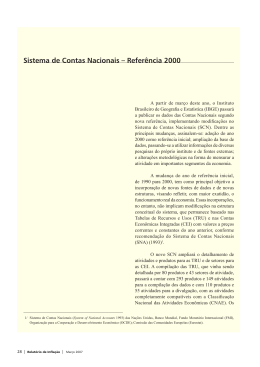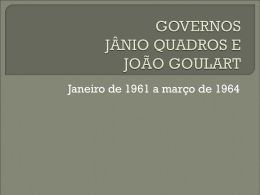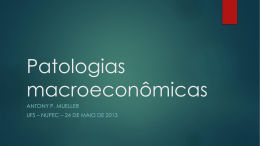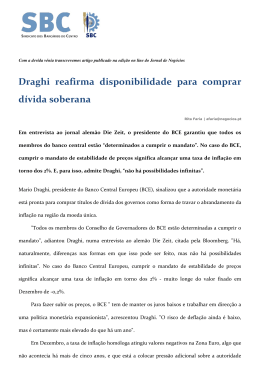O paradoxo dos preços Em 1923, John Maynard Keynes abordou uma questão econômica fundamental que permanece válida até hoje. "A inflação é injusta e a deflação é inadequada", ele escreveu. "Das duas, talvez, a deflação é... a pior. Porque é pior... provoca desemprego ao invés de decepcionar os rentistas. Mas não é necessário que se pondere um mal frente ao outro." A lógica do argumento parece irrefutável. Por causa da rigidez monetária de muitos contratos (não são facilmente revistos), inflação e deflação poderiam infligir danos na economia. O aumento de preços reduziria o valor real das poupanças e pensões, enquanto que a queda de preços reduziria a expectativa de lucros, encorajaria o entesouramento e aumentaria o ônus real das dívidas. A máxima de Keynes tornou-se a sabedoria reinante da política monetária (uma das poucas a sobreviver). Os governos, segundo a sabedoria convencional, devem buscar a estabilidade dos preços, com um leve viés inflacionário para estimular o "espírito animal" dos empresários e homens de negócios. A fim de proporcionar a âncora da estabilidade de preços, nos dez anos anteriores à crise financeira de 2008 os bancos centrais independentes estabeleceram uma meta de inflação de cerca de 2%. Não deveria haver nenhuma expectativa de que o comportamento dos preços pudesse desviar-se da meta, exceto em situações temporárias. A incerteza relativa à evolução futura dos preços seria eliminada nos cálculos das atividades de negócios. Em todos os anos, a partir de 2008, tanto o Federal Reserve como o Banco Central Europeu não conseguiram cumprir a meta de inflação de 2%. Em apenas um dos sete anos, o Banco da Inglaterra atingiu sua meta. Além disso, em 2015, os preços nos Estados Unidos, na zona do euro e no Reino Unido devem cair. Então, o que restaria da âncora para a inflação? E o que a queda dos preços significaria para a recuperação econômica? A primeira coisa a se ter em mente é que a "âncora" foi sempre tão frágil quanto a teoria monetária em que foi baseada. O nível de preços é sempre o resultado de muitos fatores, dos quais a política monetária é, talvez, o menos importante. Hoje, a queda do preço do petróleo bruto é provavelmente o fator mais significativo para que a inflação se mantenha abaixo da meta – assim como em 2011 foi o aumento dos preços do petróleo que a levou para acima da meta. Como o economista britânico Roger Bootle apontou em seu livro A Morte da Inflação, de 1996, os efeitos da redução dos preços com a globalização têm sido a influência mais importante no nível de preços do que as políticas anti-inflacionárias dos bancos centrais. De fato, a experiência pós-crise com a flexibilização quantitativa sublinhou a relativa impotência da política monetária para compensar a tendência deflacionária global. Com o intuito de convergir a inflação para a meta, entre 2009 a 2011, o BoE injetou £ 375 bilhões (US$ 578 bilhões) na economia britânica. Em um período um pouco mais longo, o Federal Reserve injetou US$ 3 trilhões. O máximo que se pode dizer desta enorme expansão monetária é que ela produziu um "pico" temporário na inflação. O velho adágio se aplica: "você pode levar um cavalo à água, mas você não pode fazêlo beber." As pessoas não podem ser forçadas a gastar dinheiro se elas têm boas razões para não fazê-lo. Se as perspectivas de negócios são ruins, é improvável que as empresas invistam. Se as famílias estão altamente endividadas, é pouco provável que incorram a uma forte elevação de gastos. No esforço para estimular a estagnação da zona do euro com seu programa de expansão monetária de € 1 trilhão, o BCE está prestes a constatar essa verdade. Então, o que aconteceria com a recuperação se cairmos no que eufemisticamente chamamos de "inflação negativa"? Até agora, a visão de consenso é que isso seria ruim para a produção e ao emprego. A explicação foi dada em 1923 por Keynes: "o fato da queda dos preços”, escreveu ele, “fere os empresários; consequentemente, o medo da queda dos preços faz com que eles se protejam, reduzindo suas operações." Mas muitos comentaristas foram animados pela perspectiva de queda dos preços. Eles distinguem entre "desinflação benigna" e "mal da deflação". “Desinflação benigna” significaria o aumento da renda real para os credores, pensionistas e trabalhadores, e a queda dos preços da energia para a indústria. Todos os setores da economia vão gastar mais, empurrando para cima a produção e o emprego (e manter o nível de preços, também). Por outro lado, o “mal da deflação" significaria um aumento da carga real das dívidas. Um devedor contrata o pagamento de uma quantia fixa de juros a cada ano. Se o valor da moeda aumenta (os preços caem), os juros a serem pagos serão mais elevados em termos de produtos e serviços que ele pode comprar (no sentido inverso, no caso inflacionário, os juros vão custar menos). Assim, a deflação de preços significa inflação dívida; e um nível de endividamento mais elevado significa menores gastos. Dados os enormes níveis de endividamento público e privado, o “mal da deflação”, como aponta Bootle, “é um pesadelo quase além da imaginação.” Mas como podemos impedir que a “desinflação benigna” se transforme em “mal da deflação”? Apóstolos da expansão monetária acreditam que tudo o que você tem a fazer é acelerar sua emissão. Mas por que isso seria mais bem sucedido no futuro do que tem sido nos últimos anos? Evitar deflação – e, assim, sustentar a recuperação econômica – parece depender de um entre dois cenários: ou uma rápida reversão na queda dos preços da energia ou uma política deliberada de aumentar a produção e emprego, por meio de investimentos públicos (que, como um subproduto, provocaria um aumento dos preços). Mas isso significaria a inversão da prioridade dada à redução dos déficits. Ninguém pode dizer quando o primeiro vai acontecer; e não há governos que estejam preparados para fazer o segundo. Então, o resultado mais provável é mais do mesmo: o movimento à deriva em um estado de semiestagnação. Robert Skidelsky - Professor Emérito de Economia Política na Warwick University, Fellow da Academia Britânica de história e economia e membro da British House of Lords. Copyright: Project Syndicate, 2015. Artigo originalmente publicado em 28.02.15, traduzido e adaptado pela Assessoria Econômica da ABBC.
Baixar