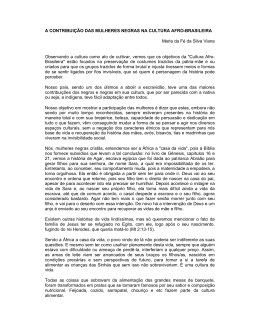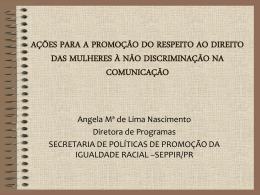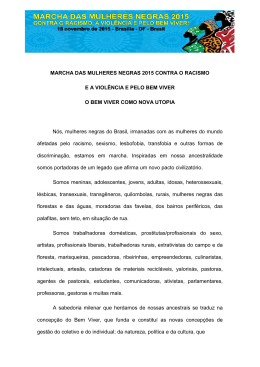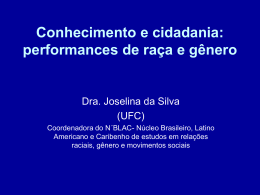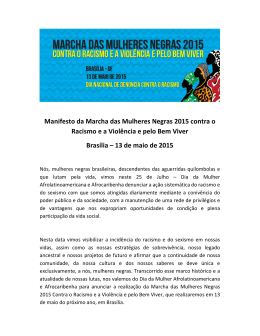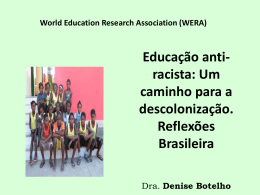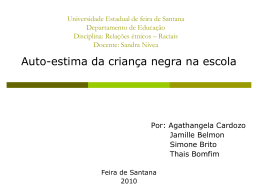CURSO EDUCAÇÃO, RELAÇÕES RACIAIS E DIREITOS HUMANOS MÍGHIAN DANAE FERREIRA NUNES “Professora, ainda posso mudar de cor?”: As crianças pequenas e suas impressões sobre as relações raciais na escola SÃO PAULO 2012 Sou professora de educação infantil há oito anos e tenho trabalhado em algumas escolas da rede pública da cidade de São Paulo. Não é novidade a constatação de que as crianças negras estão em sua maioria, nas escolas públicas. Meu contato com muitas delas, com as coisas que falam e sentem, com aquilo que conseguem expressar, não apenas em palavras, mas em desenhos, sorrisos e gestos, fez-me ter o desejo de registrar estas expressões infantis diretamente relacionadas ao tema das relações raciais e educação, posto que o material sobre este tema com crianças pequenas é quase inexistente. Senti necessidade de escrever sobre estas impressões, visto que, muitas vezes, fui tomada de emoção pelas palavras que me atravessavam os dias, ditas pelas crianças, algumas vezes reprodução de falas adulta, noutras dúvidas e, em muitas delas, tristeza e certo incômodo. Incômodo este que também tornava-se meu, visto que, algumas vezes, penso não ter encontrado a palavra certa para explicar o que eu pensava e assim, carreguei comigo a impressão de que não pude ajudá-las. Hoje, após tantas histórias ouvidas e sentidas, creio que, em muitos momentos, quando as palavras não explicam, importa mais que a criança sinta-se amparada, com um abraço, um afago em seu cabelo, um beijo em seu rosto. Transformo assim estes momentos de experiência sensível num texto, na certeza de que ele servirá de reflexão sobre este tema, tão pouco explorado em trabalhos acadêmicos e mesmo em textos literários. Com este registro, penso poder contribuir para um debate sobre os modos como o racismo instala-se em nossa sociedade, visto que as falas aqui reproduzidas foram ditas a mim – ou ouvidas – por crianças de cinco e seis anos. Nelson Mandela disse que ninguém nasce discriminando. Sendo assim, crianças de cinco e seis anos aprendem a discriminar e classificar seres humanos em inferiores e superiores a partir dos modelos a elas oferecidos pela sociedade em que vive. A nossa sociedade, a partir do mito da democracia racial, criou a falsa ideia de que no Brasil o racismo não é um problema social, escamoteando os modos como nos relacionamos com as pessoas ao nosso redor, fazendo valer a ideia de que é necessário apenas esforçar-se muito para conseguir alcançar o que se quer. As crianças brasileiras estão imersas nesta sociedade e reproduzem estas práticas culturais, eivadas de jargões preconceituosos, de uma visão deturpada sobre as diferenças e, infelizmente, se não atentarmos para o fato de que crianças muito pequenas podem sim, reproduzir o racismo existente em sociedade, não conseguiremos formular práticas pedagógicas de enfrentamento desta situação constrangedora presente também em nossas escolas de educação infantil. Uma afirmação que ouço bastante nos cursos de formação que ministro para professoras de educação infantil são os comentários que elas fazem sobre crianças brancas que não querem dar a mão para suas colegas negras. Muitas professoras não sabem o que fazer e simplesmente "deixam para lá", alegando que esta seria apenas uma questão de afinidade e que nada tem a ver com a aprendizagem de práticas preconceituosas. A partir do momento em que as professoras tem uma formação específica sobre relações raciais e educação, esse olhar muda e elas percebem que as crianças manifestam preferências de amizade também a partir de uma ótica racial. Algumas pessoas questionam-se quando é que as crianças começam a ter noção de seu pertencimento racial. Fiquei interessada no tema e, assim, há três anos, no início de cada ano letivo – trabalho com crianças de cinco e seis anos –, eu sempre faço algumas perguntas para elas e, entre estas, pergunto sobre que cor elas acham que tem. Na maioria das vezes, ouço palavras que remetem apenas à cor da pele, como marrom, rosa e branco, sem uma reflexão relacionada ao pertencimento racial. Com o passar do ano, e com as atividades que desenvolvíamos sobre identidade racial, muitas delas começavam a responder preto ou branco, de acordo com seu pertencimento. Algumas delas já usavam a palavra negro, por conta da relação que a família tinha com o tema. Pelo que pude perceber, a relação das famílias com o tema é fundamental para a criança assumir ou não uma posição racial. Como realizo atividades relacionadas às questões raciais, penso que talvez estas também colaborem para que as crianças possam compreender as diferenças existentes entre ser branco, ser negro, ser indígena. Uma pesquisa mais aprofundada nos ajudaria a percebermos se é mesmo nesta idade que as crianças começam a tomar ciência do assunto ou apenas quando são envolvidas em processos de aprendizagem é que elas atentam para estas diferenças. Como exemplo destas práticas, cito o momento dos desenhos realizados pelas crianças. Algumas vezes, eu desenhava junto com elas e, certa vez, quando desenhei minha família, pintei todas as pessoas negras. Na hora em que compartilhamos nossas atividades, as crianças olhavam para o desenho e eu expliquei que havia pintado as pessoas daquela cor porque minha família era negra. Pouco a pouco, começaram a surgir desenhos com pessoas negras na turma. Esta menina desenhou sua família: Bruna, 06 anos No próximo desenho, é possível ver uma representação das professoras da escola onde trabalho. Ela desenhou as professoras com todas as características que ela conseguia lembrar e que nos diferenciava uma da outra: Renata, 05 anos A professora negra sou eu. Renata é uma menina negra de outra turma, mas sempre conversamos quando nos encontramos. Ela também tem contato com as outras professoras, uma delas loira e uma outra de cabelo castanho. Além desse, também guardo comigo alguns desenhos onde as crianças da turma me representam. Aqui estão alguns deles: Jairla, 06 anos Yasmin, 06 anos Nicolly, 06 anos É perceptível como as crianças notam certas diferenças – nestes desenhos, o cabelo aparece bastante, mas há outros em que elas ressaltam meus gostos pessoais, como brincos grandes, roupas coloridas ou de estampas – e representam nos desenhos as impressões que tem sobre mim. A partir dos estímulos dados para que as crianças desenhem as pessoas como elas são, elas passam a encontrar espaço para desenhar pessoas negras em diversos momentos, como esta menina, que desenhou uma menina negra bailarina, visto que, na turma, ela possuía uma amiga negra que fazia balé e constantemente ensinava passos da dança para as demais: Bruna, 06 anos De certo modo, penso que minhas escolhas tenham contribuído para esse olhar no desenho, mas acredito que não apenas isso. As referências em sala de aula sempre contavam com personagens negras no livro, nos cartazes produzidos, nos vídeos e nas músicas escolhidas, bem como no modo em que trabalhávamos o movimento e o corpo com a turma. Assim, penso que é necessário uma análise com outras turmas, onde talvez estes eventos não aconteçam com tanta frequencia, para saber se é mesmo nesta idade que as crianças começam a expressar seu vínculo racial. Certa vez, quando contei a história do livro Ana e Ana, de Célia Godoy, um menino negro, na hora da saída, trouxe sua avó pelo braço e me disse: - Professora, mostra aquele livro para minha avó. Ela não acreditou quando eu disse que tinha um livro na minha escola que tinha o desenho que era ela. Quando mostrei a gravura do livro, a vovó fez uma expressão de familiaridade e com uma certa vergonha, me disse: - Mas não é que parece mesmo, professora? Ela ficou ali um tempo, folheando o livro e se encontrando. Foi uma cena bonita. Acredito que ela nunca tenha se visto num livro de histórias. Seu neto estava radiante por ter reconhecido a avó num livro, feliz por vê-la desenhada num livro de história com final feliz. Mas não são apenas às atividades e aos bons momentos de descoberta da identidade que vou aludir aqui. Gostaria de relembrar também como o racismo produz, em crianças brancas e negras, a ideia de que os seres humanos são melhores ou piores que outros, por conta de sua cor. Começo relembrando um episódio que vivi três anos atrás, quando um menino branco recusou-se, em determinado momento do ano, em estudar na turma à qual eu era professora. Ele disse textualmente: - Não quero ter uma professora preta! Levei o caso à coordenadora, e pedi que ele repetisse o que havia me dito, e ele o fez, sem hesitar. Lembro-me que a coordenadora, uma mulher negra, pediu-me que relevasse o acontecido e voltasse para sala. Mas não relevei. Convoquei a mãe para uma conversa, e esta me confirmou que o seu filho passava algum tempo com seu pai, um homem idoso e bastante racista, que vociferava palavras de insulto contra as pessoas negras com quem convivia. Ela tinha certeza que isto fazia com que seu filho visse as pessoas negras como seres inferiores. Deste momento até o final do ano letivo, foi bastante dolorosa nossa convivência, porque eu sabia que ele havia aprendido a não gostar de mim e a não me ver como alguém dotada de certa autoridade para solicitar que ele fizesse coisas às quais não estava interessado em fazer, como partilhar brinquedos ou desistir de ser sempre o primeiro da fila do lanche. Foi um ano difícil para nós dois e, certa vez, quando perguntei-lhe se ele pudesse escolher com qual das professoras ele gostaria de ficar, ele apontou-me apenas as professoras brancas da escola, numa prova de que ele sabia quais as diferenças entre eu e elas. Numa outra turma, quando eu abraçava uma das garotas negras que havia na turma, uma menina branca inquiriu-me: - Você não acha que abraça muito ela? Porque você faz isso? Eu havia acabado de abraçá-la, mas parece que ela incomodava-se com o fato de que eu abraçasse e beijasse do mesmo jeito a menina negra pele de chocolate. Quando eu disse que eu tambéma havia abraçado, ela emudeceu. Ela sabia que era verdade, mas, parecia ainda não entender porque aquela menina ganhava carinho igual, visto que em outros lugares, ela percebia que isso não acontecia. Essa sensação é um dos motivos para percebermos como a segregação prejudica não apenas as crianças negras, mas cria uma ideia de superioridade nas crianças brancas que dificulta uma convivência saudável entre os grupos. Muitas destas crianças brancas reproduzem um racismo aprendido em casa, pela família. Uma família que não fala com as crianças sobre questões de raça quando estas aparecem, reforçam a ideia de que este não é um problema da sociedade brasileira e sim de um grupo específico, a saber, a população negra. Assim também, famílias negras que não discutem o assunto e escamoteiam quando situações de racismo acontecem com os membros da família, não colaboram para que as crianças aprendam a conviver junto. Já ouvi muitas coisas de crianças pequenas. Certa vez, sentada no refeitório, um menino negro me cochichou: - Eu queria ser da sua sala. Não era a primeira vez que ele dizia isso. Eu imaginava os motivos. Pelo que ele pode observar das vezes em que a gente se encontrava, a turma com a qual eu passo a maior parte do tempo está sempre em polvorosa, falando alto, correndo, brincando, sendo criança. Acho que ele sente vontade de viver isso na escola, e acho também que ele se identifica comigo. Outras crianças negras ao longo desses anos já manifestaram o desejo de mudarem para minha sala. A gente então começa um papo, entrecortado, já que vigiamos a inspetora que nos vigia, ela não pode nos ver conversando na hora do almoço. Eu pergunto se a mãe dele é bonita como ele e ele começa: - Minha mãe é preta e meu pai é branco. Como ele é bem escuro, eu pergunto se a mãe dele é preta como uma menininha bem pretinha que está a nossa frente. Ele faz que não com a cabeça e diz que a mãe dele é preta como ele. Eu acho difícil que o pai dele seja branco, mas continuamos o papo que ele começou e juntou mais gente para ouvir. A menina da frente diz: - Minha avó é preta, mas e daí? Eu queria ser como ela, eu gosto dela mesmo assim. Interesso-me mais no mocinho porque ele não para de falar sobre sua família, mas também captei a educação racista que a mocinha branca está recebendo, visto que terminou a frase com um "gosto dela mesmo assim". Com um ouvido ouço a menina, que vai falando de seu amor pela sua avó preta. Com o outro, ouço o mocinho mandando essa: - Quando eu nasci, sabia, eu era branco, depois eu me queimei (riso nervoso)! Eu queria ser branco! Olho para ele, uma criança de cinco anos ficando sem jeito e rindo nervoso. Ele sorri pra mim e repete: - Eu queria ser branco porque ser branco é mais legal, né? Eu pergunto: - Mas porque você quer ser branco? Ele continua sorrindo para mim um sorriso sem graça e eu não consigo disfarçar, dou uma fungada de lado e baixo os olhos, porque ele me olha como se estivesse dizendo a coisa mais normal do mundo. Como se tivesse plena certeza do que quer na vida, do que basta para ser feliz. Ele confirma: - Eu queria ser branco, é mais bonito, você não acha? Minha voz esganiçada diz: - Você é tão lindo... E ele emenda, olhando pro prato e riscando-o com a colher, um tanto quanto insatisfeito, decepcionado, nada surpreso: - Minha família toda diz que eu sou lindo... Essa história me desconcertou, mas não foi a única. Uma menina de quase seis anos, depois que comentei sobre o primeiro ano e sobre as datas que teríamos para finalizar o ano, a data da festa de despedida, ela levantou a mãozinha e me perguntou docemente, certa de que eu teria a resposta: - Professora, e até que dia nós podemos mudar de cor? Pedi para que ela repetisse a pergunta, porque, apesar de ter me acertado em cheio, tinha entendido bem o que ela estava dizendo. Ela falou novamente: - É que eu sou dessa cor (apontando para o braço), minha irmã é branca. Ela tem 10 anos. Eu acho que ela mudou de cor quando foi para o primeiro ano, eu não sei, ainda não perguntei. Eu não sei se eu vou mudar de cor antes ou depois, eu queria poder mudar antes, para chegar na nova escola branca. Já havia passado por outros episódios como esse, o que me fez não perder o rebolado logo de cara. Respondi e perguntei: - Mas porque você quer mudar de cor? Eu sou preta igual a você e adoro! É tão gostoso! Outras meninas, negras também, confirmaram: - É, a gente é preta igual a professora! - Eu não quero mudar de cor, eu pareço com minha mãe! E assim, conversamos sobre cores e a chegada ao primeiro ano, algumas crianças falando sobre seu pertencimento racial e falando sobre como era ser negra ou branca. Essas conversas são sempre ótimas e acho que ajudaram quando, ao deixar que as meninas negras escolhessem seus pares nas danças em dupla que costumeiramente fazemos na turma, elas pudessem também escolher os meninos negros para dançar com elas. Desse modo, quando sugeri que os meninos negros escolhessem primeiro, eles também as escolheram, tornando esse momento algo corriqueiro em nossos encontros dançantes. Mas há uma história que ficou marcada em minha memória mais que outras, talvez pela experiência sensível que tive fora da escola com as mesmas crianças com as quais convivia. Certa vez, recebi um convite para ir a um terreiro de candomblé num bairro que eu já havia dado aula três anos antes. Qual não foi minha surpresa quando cheguei lá e encontrei um grande número de crianças que haviam passado por mim na escola e que eu nem sequer imaginava que professavam uma outra fé que não a católica, visto que as famílias nunca expressaram incômodo com práticas religiosas que eventualmente os calendários escolares teimam em continuar realizando, como páscoa e natal. As crianças haviam crescido um pouco e muitas delas me reconheceram. Suas famílias, ao me verem de visita naquele lugar, mostraramse desconcertadas. Acho que imaginavam que eu nunca frequentaria um lugar como aquele ou mesmo não conheceria os rituais próprios de uma religião de matriz africana. Aos poucos, as crianças foram se aproximando e perguntando se eu era eu mesmo. Respondia que sim e elas me davam um sorriso tímido. Confesso que fiquei emocionada ao ver muitas meninas vestidas as roupas e adereços característicos da religião, cantando as músicas de seus orixás e sorrindo, num misto de vergonha e felicidade por estarem sendo vistas por mim em um lugar tão delas. Quando chegou a hora da partilha da comida, elas me olhavam e perguntavam: - Você vai comer? Eu dizia que sim, ela riam. E na hora da dança, de novo a pergunta: - Você vai dançar? Eu sempre dizia sim, elas me abraçavam. Esse dia foi muito importante para confirmar algo que eu já tinha certeza: a escola não respeita as diversas religiões que estão presentes em seu espaço, através da família e da criança. Fecha os olhos para os modos como as crianças experienciam sua fé, organizando um modo único de encarar a espiritualidade e condensando este modo em práticas que chamam de “sociais”. A escola não acha que é um desrespeito fazer uma criança que é de candomblé ou de umbanda rezar o “pai nosso”. Professoras e diretoras dizem que “se não faz mal, faz bem” e creem fielmente que não é agressivo esse tipo de obrigação. A escola é laica, segundo as leis brasileiras, mas isso não acontece e em cada escola, a religião que prevalece é a religião de uma maioria ou mesmo da diretora. Em 2009, tive um aluno que tinha uma família com tradição na umbanda. Sua avó havia aberto um dos primeiros centros de umbanda da região onde moravam, centro este que havia sido desmembrado de uma importante casa de candomblé também da região, com a mãe de santo tendo feito suas obrigações todas numa importante casa de axé em Salvador, na Bahia. O garoto chegou no primeiro dia de aula e me disse: - Eu acho, professora, que você é de Yemanjá… será? Sua tia, filha de Xangô, trabalhava na escola e presenciou esta fala do garoto. Tentou reprimi-lo, mas eu disse que ela poderia despreocupar-se, pois eu não tinha problemas em ouvir sobre candomblé. Ela então contou-me que, infelizmente, um ano antes, a família já havia sido admoestada pelas coisas que o garoto falava e, a partir desse momento, a avó estava sempre pedindolhe que não tocasse nesse assunto. Eu assegurei-lhe que comigo, a criança não teria problemas em falar de sua fé. O ano foi seguindo, e alguma vezes o garoto relembrava coisas que ouvia no terreiro, mas nada muito organizado. Ele também sabia que a religião que a sua família fazia parte não era uma religião proselitista e tinha seus segredos. Assim ele aprendeu. Certo dia, estávamos brincando com brinquedos de plástico na tenda, do lado de fora da sala, e haviam alguns baldes grandes. Ele emborcou um destes e começou a tocar, explicando-me que seu pai era pagodeiro. Ele tinha cinco anos, mas tinha muito ritmo, a ponto de parar e explicar para os outros meninos como se tocava o tambor. As meninas dançavam. Ele então, com o passar do tempo, passou a tocar alguns pontos de umbanda. Não os cantava inteiros, mas eu conhecia alguns deles e percebia, pelo som, que ele havia aprendido com seu pai, não apenas por este ser pagodeiro, mas sim ogan da casa de sua avó. No começo, algumas pessoas da escola achavam engraçado a batucada. Em alguns momentos, eu percebia que algumas delas sabia o que estava acontecendo, mas ninguém nunca se aproximou para perguntar o que seria aquilo, talvez por conhecer o meu trabalho e como eu me posicionava com relação à diversidade religiosa. As crianças também cantavam espontaneamente “Entra na minha casa, entra na minha vida” 1, e eu não as impedia. Porque então deveria impedir pontos de umbanda? Quando ouvi o garoto tocar, cheguei na sala das professoras esfuziante! Comentei com as colegas, e uma delas havia sido a professora do garoto um ano antes. Eu disse animada: - Nossa, você já viu como ele toca bem? Ela então respondeu: - Não, nunca vi, porque quando ele começava com aquele barulho eu já mandava parar! A tia deste garoto confirmou esta fala da professora, dizendo que quando seu sobrinho chegou à escola, era muito mais expressivo, mas aos poucos foi aprendendo que aquilo não era certo e foi aquietando o corpo. Ela disse-me que a família estava muito feliz ao perceber que eu estimulava justamente aquilo que para elas e eles era tão importante quanto aprender a ler, visto que, em sua caminhada dentro da religião, estes sentidos não estavam separados do conhecimento. Eu percebia que o garoto tinha grande potencialidade artística – arrisco dizer que a maioria de nós, ou todos, também temos – e uma sensibilidade 1 Trecho de uma conhecida música evangélica chamada Faz um milagre em mim, do cantor Régis Danese. A letra completa pode ser conferida aqui: http://letras.mus.br/regis-danese/1401252/. Acesso em: 10.dez.2012. muito grande para alguém de sua idade. . Infelizmente, a escola é um dos lugares onde matamos essa conexão feita entre vida, arte e conhecimento. Acreditava também que parte destas experiências advinham do modo como sua família se relacionava com o mundo e com as pessoas. Como deixar isso fora da escola, visto que estas questões eram partes fundamentais do modo como eu concebo educação? Na educação infantil, nossas práticas não são conteudistas, visto que não trabalhamos com metodologias de conteúdo e sim, com práticas educativas e culturais a todo o tempo. Criar um ambiente onde as crianças sintam-se à vontade para serem elas mesmas e viverem suas diferenças é uma de nossas metas, para além de apresentar um livro com imagens ou uma história que remeta às nossas raízes africanas. Desse modo, em todos os contextos é possível estimular a diferença e a afirmação de identidades tornadas subalternas em nossa sociedade, por conta dos diversos preconceitos estabelecidos entre nós. Uma das questões que posso perceber sensivelmente é que, por não percebemos o racismo com um problema em nossa sociedade, as crianças negras, quando sentem-se deslocadas no espaço escolar, são vistas como "mimadas", "mal-criadas" ou "desobedientes". Não há um esforço de inclusão destas crianças, como há com as crianças brancas com deficiência intelectual ou física. Já tive crianças brancas com síndrome de Down e com deficiência física nas turmas em que lecionei, e a atenção desprendida a elas sempre é maior do que aquela dedicada às crianças negras que sofrem com a rejeição e o preconceito (quando falo de atenção, não é apenas do corpo docente da escola, que comumente pergunta como está a criança, mas também do corpo técnico, que invariavelmente estabelece uma relação de proximidade com estas crianças denominadas genericamente de "crianças de inclusão"). Não acho que estas crianças precisem de menos atenção, mas sinalizo que talvez outras crianças também precisem de atenção especial em determinados momentos na escola, mas como suas questões não são vistas como um problema da socialização na educação infantil, ele nem é posto em pauta nos debates pedagógicos em reuniões de professoras. E penso que esta é uma questão importante a ser discutida, porque inclusão significa por para dentro todas as pessoas presentes na comunidade escolar e não apenas esta ou aquela criança com uma dificuldade específica. Incluir também significa não tipificar as crianças, mas vê-las como crianças, seres singulares, pessoas com necessidades únicas e que precisam integrar-se às outras pessoas por serem como são. E vendo as crianças como são, deixaremos de fazer com que elas queiram em ser outra pessoa para serem mais bonitas ou mais aceitas. Esse discurso também aparece quando as meninas falam de seus cabelos. Algumas delas, quando chegam à escola depois de terem feito escova no cabelo ou passado a famosa "chapinha", vem radiantes até mim e me mostram o cabelo novo. Eu falo como gosto de seus cachos naturais. Eu também elogio as tranças e os cabelos naturais soltos em mini-blacks powers. Mas não é uma tarefa fácil, tornar belo aquilo que é tido como desvio, para relembrar uma criança que perguntou-me certa vez: - Professora, quem enscrespou seu cabelo? Para ele, todas as pessoas tinham cabelo liso e eu era aquela que havia mudado de cabelo através de algum processo químico. Todas estas impressões são ousam uma conclusão, querem apenas instigar o debate e fomentar possíveis discussões sobre como poderemos fazer pesquisas com este tema com crianças, descobrindo quais os modos e maneiras os efeitos do preconceito e da afirmação do pertencimento racial mudam as perspectivas das crianças com relação a si mesmas e às pessoas que as cercam. Bom seria ouvir da boca das crianças e, porque não, também dos adultos, algo que um menino negro trigêmeo me disse ano passado. Ele, que era sempre comparado aos irmãos, sabia a importância da diferença, me provocou: - Todos somos diferentes, não é, professora? Por isso que a vida é boa.
Baixar