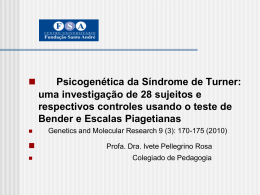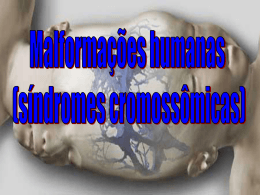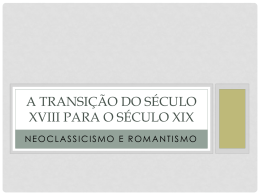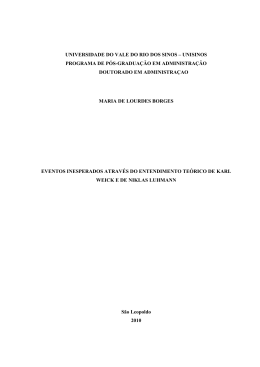Prometeu Revisitado: Acidentes e a Teoria Organizacional Autoria: Paulo Cesar Vaz Guimarães, Mário Aquino Alves Para o analista organizacional, a opção pelo olhar sobre os acidentes decorre do fato de eles serem um tipo de evento que alcança uma situação limite, quando o burlesco sai de cena e os reais valores se manifestam. Em termos mais formais, representam um evento focalizador, que perfaz um acontecimento capaz de alterar a formulação da agenda de um campo e catalizar a mobilização em torno de si, quando os grupos procuram expandir seu raio influência. Dessa forma, o presente artigo é um ensaio teórico que tem como objetivo demonstrar como as principais correntes hoje predominantes na análise organizacional dos acidentes – Normal Accidents Theory (NAT) e High Reliability Theory (HRT) – são aprofundamentos de aspectos sublinhados por Barry Turner em sua Man Made Disaster. Barry Turner alinhavou um modelo ideal, segundo a tradição weberiana, denominado Man Made Disaster (MMD), que inovou ao realçar a latência que as causas dos desastres possuem, o que era relegado. A hegemonia dos trabalhos até então atinha-se ao momento de eclosão e dos ajustes seguintes, sem a dimensão temporal ampliada. Mais importante, no entanto, foi o reconhecimento explícito de que os desastres são eventos sócio-técnicos, nos quais há um gerenciamento negligente ao não conseguir ler os sinais que o período de incubação proporciona. Abriu-se a porta para que a análise organizacional pudesse se desenvolver, quase que de forma concomitante. Uma das linhagens é a Normal Accidents Theory (NAT), desenvolvida a partir dos trabalhos de Charles Perrow. Com base em seus estudos sobre os sistemas envolvidos nas modernas tecnologias de produção, conclui que há a proliferação de esquemas em que predominam interações complexas entre cada unidade do processo produtivo, sem ser possível antecipar quais e quando ocorrerão. Concorre para esse estado de coisas a predominância de alto acoplamento entre as unidades, o que acelera os processos disruptivos e dificulta a intervenção para solucioná-los. Como Perrow vincula os eventos ao contexto social, político e econômico das organizações, seu aparato mostra-se competente para descrever o fenômeno organizacional em sua abrangência macro. A outra das linhagens é a High Reliability Theory (HRT), identificada com os trabalhos de Karl Weick e sua abordagem de sensemaking, optando por acolher os aspectos microscópicos da vida organizacional. Em termos sintéticos, a ação de sensemaking é aquela em que os atores da organização procuram dar sentido ao que fazem, interpretando e explicando a organização. Os maiores esforços de sensemaking são verificados quando o mundo é percebido como sendo diferente do esperado e os atores têm dificuldades de discernir como se engajar no mundo. Ambas as linhagens são significativas ao propiciar a clareza das mais diversas dimensões e permanecerão de valia. Neste trabalho, advoga-se que a conjuminação dos aportes das duas linhagens estrutura uma abordagem centrípeta - um verdadeiro “caleidoscópio” -, vital para que resulte elementos para uma leitura mais integrada das relações entre os atores sociais. 1 Introdução Para o analista organizacional, a opção pelo olhar sobre os acidentes decorre do fato de eles serem um tipo de evento que alcança uma situação limite, quando o burlesco sai de cena e os reais valores se manifestam. Em termos mais formais, representam um evento focalizador, que perfaz um acontecimento capaz de alterar a formulação da agenda de um campo e catalizar a mobilização em torno de si, quando os grupos procuram expandir seu raio influência. Tal posição é defendida por Birkland (1998), que concorda com o posicionamento mais difundido de que a agenda política é afetada pelos grupos, porém acrescenta que a natureza dos eventos também tem seu papel. Klein (2008) leva essa concepção ao extremo, argumentando que empresas poderosas e segmentos do governo aproveitam essas verdadeiras “janelas de oportunidade” para aprovarem legislações e adotarem medidas que não seriam aplicáveis em uma situação rotineira. A ideia da autora não pode ser desconsiderada, mas, como é recente, a polêmica ativada requisita um tempo para que o contraponto de outras visões ganhe corpo. Por exemplo, Birkland e Nath (2001) chamaram a atenção de que as empresas nem se deram conta do aspecto político associado aos acidentes. Para eles, a literatura permanece com sua tônica normativa, prescrevendo um receituário que não revela a dimensão política dos acidentes e que muitas vezes desemboca em um desdém pela pluralidade da democracia. De qualquer forma, o assunto tem recebido contribuições de fôlego, muito em função da evolução que a questão ambiental assumiu nas últimas décadas. No campo organizacional, Gephart et al. (2009), em uma ampla revisão, dividiram seis correntes de influência: a antropologia simbólica; a sociedade de risco (BECK, 2006) a estruturacionista (GIDDENS, 1999), a perspectiva da governamentalidade (FOUCAULT, 1995), a perspectiva dos acidentes normais (PERROW, 1994, 1999[1984]) e a perspectiva cognitiva do sensemaking (WEICK, 1990, 1993, 1995, 1998, 2004). Dessas abordagens, interessa aos propósitos deste artigo, tanto a perspectiva de acidentes normais quanto a de sensemaking. Tendo por preocupação os estudos que procuram dissecar os fenômenos organizacionais associados aos acidentes, decidiu-se que esta revisão seria conduzida explorando estas duas últimas linhagens, uma vez que é nelas em que as organizações são as unidades de análise. As outras certamente devem ser utilizadas para incrementar o conhecimento sobre as facetas que os desastres possuem, possibilitando, inclusive, a compreensão mais refinada do papel desempenhado pelas organizações. A abordagem de Perrow (1999[1984], 1994) traz a problemática do risco para o interior da teoria organizacional. Com base em seus estudos sobre os sistemas envolvidos nas modernas tecnologias de produção, conclui que há a proliferação de esquemas em que predominam interações complexas entre cada unidade do processo produtivo, sem ser possível antecipar quais e quando ocorrerão. Concorre para esse estado de coisas a predominância de alto acoplamento entre as unidades, o que acelera os processos disruptivos e dificulta a intervenção para solucioná-los. Como Perrow vincula os eventos ao contexto social, político e econômico das organizações, seu aparato mostra-se competente para descrever o fenômeno organizacional em sua abrangência macro. Weick (1990, 1993, 1995, 2005), com sua abordagem do sensemaking, também monta guarida na teoria das organizações, optando por acolher os aspectos microscópicos da vida organizacional. Em termos sintéticos, a ação de sensemaking é aquela em que os atores da organização procuram dar sentido ao que fazem, interpretando e explicando a organização. Os maiores esforços de sensemaking são verificados quando o mundo é percebido como sendo diferente do esperado, ou quando os atores têm dificuldades de discernir como se engajar no mundo (WEICK; SUTCLIFFE, 2005). 2 Pela perspectiva organizacional é factível admitir que o trabalho de Barry Turner (1976, 1994) seja seminal (PIDGEON; O´LEARY, 2000, p. 15). Não que esse ramo de estudo não tenha tangenciado a questão dos desastres; basta lembrar que o objeto de análise do grande Selznick – o Tennessee Valley Authority (TVA), naquela que talvez seja a primeira obra da teoria organizacional, tinha entre suas funções o controle das cheias para impedir novas ocorrências de inundações (SELZNICK, 1966). O que Turner alcançou foi a construção de um arcabouço teórico robusto o suficiente para alicerçar novas gerações de pesquisadores que, a partir das inúmeras pistas fornecidas pelo seu modelo, até os dias de hoje aperfeiçoam o conhecimento sobre a gênese e desdobramentos dos desastres decorrentes da ação humana. Este é um ensaio teórico que tem como objetivo demonstrar como as principais correntes hoje predominantes na análise organizacional dos acidentes – Normal Accidents Theory (NAT) e High Reliability Theory (HRT) – são aprofundamentos de aspectos sublinhados por Barry Turner em sua Man Made Disaster. É certo que as contribuições estão sendo significativas ao propiciar a clareza das mais diversas dimensões e permanecerão de valia. Por outro lado, advoga-se também que a conjuminação dos aportes das duas escolas consegue estruturar uma abordagem centrípeta, formando um verdadeiro “caleidoscópio”, vital para que a resultante dê elementos para uma leitura mais integrada das relações entre os atores sociais e situações criticas em organizações. A seleção pelas abordagens centradas nas organizações também decorre da escassez de estudos com este teor no Brasil. Na revisão da literatura, encontraram-se exemplos da sociologia dos acidentes (MATTEDI; BUTZKE, 2001; MARANDOLA JR; HOGAN, 2004; ACSELRAD, 2006; VALENCIO et al., 2009), da influência de Beck (GUIVANT, 1998; ACSELRAD; MELLO, 2002; DEMAJOROVIC, 2003), e de saúde e segurança no trabalho (FREITAS et al., 1995; FREITAS; AMORIM, 2001; GANDRA et al., 2005). Em nenhum deles a teoria organizacional predominou. Prometeu traz a luz e o fogo: Barry Turner e a Man Made Disaster Os anos 60 foram um período no qual as preocupações com o modelo de desenvolvimento econômico adquiriram uma conotação diferente, quando o processo de urbanização e a ampliação da esfera produtiva desvelaram problemas que até então eram apenas potenciais, tais como os acidentes de maior envergadura. Já neste primeiro momento, Barry Turner, professor de sociologia da Universidade de Exeter, Inglaterra, alertou que o foco principal estava sendo direcionado para aspectos secundários (TURNER, 1976). Cônscio das dificuldades inerentes à tratamento das incertezas futuras, o autor asseverava que as ações das organizações eram mais determinadas por “regras de bolso” e por procedimentos costumeiros, capazes de gerar um clima de tranqüilidade para o processo decisório. Fortemente influenciado pela premissa da racionalidade limitada (SIMON, 1997 [1945]), Turner reconhecia que a realidade é caracterizada por problemas pouco estruturados, de difícil enunciado. Para as organizações, restaria tão-somente adotar seus próprios critérios para selecionar o que olhar e o que não olhar. Em termos sintéticos, o argumento de Turner dizia que os esforços estavam sendo direcionados, de forma predominante, para o entendimento do que havia acontecido de errado. A preocupação ficava circunscrita às manifestações aparentes, em uma autêntica investigação da gênese do evento. Segundo sua opinião, a partir de tal modelo o que vinha a tona eram falhas de natureza humana ou tecnológica, havendo sempre um culpado bem delineado, fosse um trabalhador fosse um equipamento. Por esse caminho, o autor era “desmascarado” e recebia a execração pública em múltiplas arenas. Na sequência, contudo, novos eventos de natureza similar tinham vez, sem que houvesse vozes capazes de prevê-los, até por que, 3 afinal, não seria viável a antecipação da vontade humana. Para Turner, a circularidade do pensamento não era cabível e condenava parcelas da sociedade ao fenecimento. Claramente, algo estava equivocado e necessitava ser revisto. Sua proposição básica consistiu no redirecionamento dos holofotes, no sentido de deixar um pouco na penumbra os elementos restritos do instante da tragédia e tentar iluminar os percursos que desembocaram no evento. Somente assim poder-se-ia identificar o fenômeno criado e compreender os motivos pelos quais ele não foi previsto. A pesquisa que Turner (1976, 1981, 1994) empreendeu para elaborar sua perspectiva sobre os acidentes contemplou uma série de desastres de larga escala que, conquanto potencialmente previsíveis e evitáveis, mostraram-se inesperados e graves a ponto de provocarem a reavaliação dos procedimentos administrativos para evitar sua repetição no futuro. A sua conclusão sublinhou que a frequente iniciativa de encontrar o culpado estava equivocada, haja vista que, no mais das vezes, a erupção dos acidentes correspondia a um resultado fruto das condições sociais e organizacionais, e não a uma conseqüência de uma intervenção individual. O primeiro elemento destacado por Turner era a rigidez nos valores e percepções dos padrões organizacionais. O argumento é que o credo cristalizado ao longo da prática acaba por reforçar atitudes que influenciam o processo decisório, sem considerar alterações exógenas. O agravante é que as vozes dissonantes tendem a ser abafadas ou expurgadas, reduzindo a diversidade de olhares, configurando um processo de imbreeding. Ou seja, a organização delimita suas transações com o ambiente externo e inibe a inovação e reduz a capacidade de resposta diante de novos vetores de força. O segundo ponto levantado pelo autor, em uma tradução livre, é o problema do engodo. O que se percebeu é a forte tendência de haver o destaque de aspectos secundários, que são mais estruturados do que as demais dimensões do problema. Face a um conjunto que não consegue ser compreendido em sua totalidade, os atores se calçam naquelas facetas que possuem mais segurança, deixando ao largo as questões centrais. Outro movimento assíduo é o descaso com as opiniões proferidas por pessoas externas à organização. Partindo da premissa de que os profissionais internos estão mais preparados para entender e lidar com o trabalho, acaba-se desprestigiando outros saberes. No limite, pode-se chegar a beira da insensatez, tal qual definido por Tuchman (1986), quando as opções para uma encruzilhada são conhecidas e verbalizadas, só que são descartadas por aqueles que devem decidir. Uma terceira condição encontrada e com grande impacto no agir organizacional está na comunicação interna das informações. Nos casos abordados por Turner, a presença de ambigüidade nos alertas, ordens e controles foi marcante, o que associado a informações equivocadas entre as áreas, desencadeou desencontros entre os níveis gerenciais. Também com potencial disruptivo é a presença de pessoas estranhas aos serviços que lidam com substâncias perigosas e procedimentos de risco. A advertência pode parecer prosaica já que, a rigor, locais susceptíveis não deveriam estar ao acesso de pessoal não qualificado. Perrow (2007) ensina, entretanto, que até instalações de alta segurança como usinas nucleares podem permitir a entrada sub-reptícia de estranhos. Acontece ainda que não é apenas em áreas claramente perigosas que a questão aflora, como bem ilustra o lembrete de Turner (1976) de que mesmo a evacuação de um cinema pode ter pessoas indevidas em locais indevidos. Ainda contribui para a conflagração dos acidentes a vigência de regulações obsoletas, que logicamente não são obedecidas e com isso catalisam comportamentos descuidados. A desatenção vira regra e a justificativa inicial que o aparato regulador possuía fica esquecida. Por fim, pode emergir situações em que o perigo é desprezado. Tanto pode ser que a ameaça seja entendida como de somenos, como haver o conflito de opiniões, dando azo à inércia. 4 Outra possibilidade é que as pessoas atuem para minimizar o problema e considerem que o perigo foi sanado, quando não o foi. A partir desse anteparo, Turner alinhavou um modelo ideal, segundo a tradição weberiana, denominado Man Made Disaster (MMD), que inovou ao realçar a latência que as causas dos desastres possuem, o que era relegado. A hegemonia dos trabalhos até então atinha-se ao momento de eclosão e dos ajustes seguintes, sem a dimensão temporal ampliada. Mais importante, no entanto, foi o reconhecimento explícito de que os desastres são eventos sóciotécnicos (PIDGEON, 1997), nos quais há um gerenciamento negligente ao não conseguir ler os sinais que o período de incubação proporciona (TURNER, 1994). Abriu-s a porta para que a análise organizacional pudesse entrar. Na concepção de Gherardi (1998), o MMD chega a ser um fato cultural em si ao cunhar uma frase que ficou incrustada no mundo científico e que também superou os muros da academia. Tamanho papel deriva de ser a primeira obra que distingue os desastres naturais daqueles provocados pelo homem, reforçando que os últimos não são atos divinos. Em termos analíticos, o MMD trouxe uma abordagem abrangente, capaz de englobar as múltiplas possibilidades para um fenômeno organizacional complexo, em todo o seu espectro de ocorrência. Com o fito de explorar sua potência explicativa, contemplando inclusive suas fragilidades, utilizar-se-á, a seguir, a crítica de Gephart (1984), a qual apareceu pouco tempo após a divulgação do modelo e que continua, em muitos aspectos, válida. Robert Gephart, professor da Universidade de Alberta, Canadá, redigiu sua tese de doutorado no período próximo das publicações de Turner sobre o MMD, e uma de suas inquietações era que os modelos das organizações formais, tradicional objeto de atenção da teoria organizacional, não eram aplicáveis às organizações emergentes no final dos anos 70, principalmente nas situações caracterizadas por fortes relações interorganizacionais. Para eventos desestruturantes como os acidentes, então, a adequação era ainda mais distante. No vazio encontrado, o autor foi um dos poucos a perceber imediatamente a riqueza da elaboração de Turner e conseguiu lançar peias em balizas seguras com os alicerces do modelo, quando este deixou de priorizar os efeitos sociais dos desastres e descortinou os fatores organizacionais presentes (GEPHART, 1984). A aproximação, porém, não se deu sem controvérsias. Na opinião de Gephart, Turner haveria conseguido pressentir as dificuldades com as abordagens tradicionais, só que teria desprezado a dimensão política e o papel que o poder desempenha nas relações sociais. Em razão dessas limitações, procurou ampliar as características do modelo MMD, chegando, inclusive, a propor uma nomenclatura diversa, que denominou Organizationally Based Environmental Disasters (OBED). O resultado que obteve foi interessante ao detalhar aspectos que estavam subentendidos, mas não é razoável admitir que tenha desenhado uma inflexão. A rigor, sua ótica está inserida no arrazoado de Turner, conferindo ao MMD uma clareza aos papéis desempenhados pelos atores sociais, mas não é aceitável dizer que seja um novo constructo teórico. Considera-se que Gephart carregou o MMD com adjetivos, sem que isso desmereça qualquer dos dois autores. O resultado é um modelo que influenciou as correntes seguintes, que se tornaram hegemônicas e se digladiam na atualidade (PERROW, 2009) Prometeu Acorrentado: a Normal Accidents Theory A teoria que passou a ser conhecida como acidentes normais (NAT) está associada aos trabalhos de Charles Perrow, professor aposentado da Universidade de Yale, uma das principais referências na teoria organizacional desde a publicação de seu clássico sobre as organizações complexas, nos idos de 1970, e que se envolveu, segundo sua própria opinião, de forma inesperada na avaliação do acidente nuclear de Three Mile Island (PERROW, 2004, 5 p. 9). Após esse contato, o autor se deteve na investigação de outros eventos de natureza similar, buscando cotejar seus insights e consolidar um referencial mais amplo para a compreensão dos fenômenos organizacionais envoltos nos acidentes. Tal busca teve como primeiro grande produto a redação da obra na qual cunhou o termo acidentes normais (PERROW, 1999 [1984]), a qual teve forte repercussão, seja por parte de aliados seja por antagonistas (no campo das ideias, é claro). Não é temerário afirmar que muito da ressonância deve-se à simplicidade dos conceitos formulados, aliada a uma redação clara e não esotérica. Outra possibilidade do impacto está em uma das principais conclusões do trabalho: existem empreendimentos que, a despeito das medidas de segurança adotadas e demais procedimentos, apresentam potencial disruptivo que podem comprometer vidas humanas. O constructo teórico dos acidentes normais calca-se em duas dimensões centrais: as interações e os acoplamentos entre componentes e entre sistemas. As interações são ou lineares ou complexas. No primeiro caso, o que se tem pela frente são situações esperadas e familiares, e mesmo quando não planejadas, são muito visíveis. Já as interações complexas caracterizam-se pelo inusitado, sem serem planejadas e, quando compreensíveis, o são apenas em momentos posteriores. A alguém pode surgir a indagação do por que a anteposição dos conceitos de complexidade e linearidade, se ambos não são antípodas. Para um evento complexo, afinal, esperar-se-ia, no pólo oposto, um evento simples; para um evento linear, na outra margem ter-se-ia um evento não-linear. Perrow nos ensina que as interações são lineares quando são facilmente compreendidas, e o adjetivo simples denota algo pouco sofisticado, com poucas engrenagens e de fácil gerenciamento. A não-linearidade, por seu turno, não está impregnada da noção de incompreensão (PERROW, 1999 [1984]). O autor adverte que o batizado de uma interação vem da predominância de um ou outro aspecto. Nas coisas concretas usualmente encontra-se as duas possibilidades; por exemplo, a fabricação de medicamentos é uma linha de produção linear, e longe está de ser simples. O analista precisa ter o discernimento de distinguir as facetas mais relevantes, sem ter à mão regras de bolso. O cuidado que Perrow avisa é que não há identidade entre os conceitos de linearidade com as condições físicas e materiais, nem a complexidade está umbilicalmente presa a tecnologias de última geração. Ou seja, a empreitada tem que ter a sua condução de maneira laboriosa e longe está de ser trivial. Um parâmetro que Perrow (1999 [1984]) fornece é uma lista resumida de atributos que costumam estar presentes em sistemas complexos, a saber: proximidade das partes; conexões entre componentes sem seguir uma sequência; sequências de feedback não intencionais; muitos parâmetros de controle com potenciais interações; fontes indiretas de informação; e, entendimento limitado de alguns processos. Esses atributos, com “sinal negativo”, encontramse nos sistemas lineares. Conquanto possa transparecer que uma condição linear seja preferível de sorte a facilitar o gerenciamento das organizações, a ideia não é exeqüível e tão pouco desejada. A limitação prática para linearizar a vida das organizações está no próprio conhecimento disponível, que não tem um acervo capaz de alterar, do jeito pretendido, todas as interações. Em outro sentido, a redução dos modelos de interação para um padrão único solaparia a diversidade e a criatividade que a multiplicidade propicia. A dimensão do acoplamento (coupling) sugere atentar para a flexibilidade que as organizações possuem para administrar o tempo entre uma operação e outra em seus sistemas, o que concorre para a maior ou menor possibilidade de ajustes nos procedimentos, na alocação de recursos e na implementação de correções. A depender do grau observado, os acoplamentos podem ser justos ou frouxos (loose). A situação de acoplamento justo é essencialmente dependente dos tempos planejados para a ocorrência das ações. Isso pode 6 derivar da eficiência viabilizada pelo projeto e também pela gestão da operação. A opinião de Perrow (1999 [1984]) é que o mais freqüente, ainda assim, explica-se pela inelasticidade do funcionamento. A operação de um alto-forno em siderurgias, por exemplo, tem fases bem demarcadas que não são alteradas porque a temperatura não pode baixar de determinado ponto. Se acontecer algum atraso na entrada de insumos, o consumo de energia pouco se alterará, incorrendo em prejuízos econômicos; se o problema for na alimentação de combustível, será certa a quebra de equipamentos; e se houver pane nos controles de emissão, vidas poderão ser comprometidas, com pouquíssima margem para planos de contingência. Para os sistemas de acoplamento frouxo a espera é factível, sem afetar o produto e suas características essenciais. Os planos de contingência são capazes de serem ativados, e em algumas situações nem isso é requerido; basta aguardar em standby que o fluxo normal de matéria e energia será recomposto. Um aspecto bastante peculiar dos acoplamentos justos, como mencionado, é que a sequência das ações é rígida. Destarte, no mais das vezes há um único caminho de produção, enquanto a tecnologia vigorar. Uma imagem que ilustra o fenômeno é o caso dos automóveis de passeio, que até a pouco tempo ou usavam gasolina ou álcool. Depois da invenção do motor flexível, os usuários têm a capacidade de escolha e, numa emergência, poderão recorrer ao combustível que estiver ao acesso. Ou seja, de um acoplamento justo passou-se para o acoplamento frouxo. Como desdobramento das características enunciadas, infere-se que a capacidade de resposta frente a falhas é mais viável diante de sistemas pouco acoplados. Quando o que está em operação consiste em um sistema de acoplamento justo, é admissível o planejamento de zonas de amortecimento e de mecanismos de redundância. E, dependendo da envergadura dos acontecimentos, a funcionalidade do que foi implantado poderá ficar reduzida a zero (CLARKE; PERROW, 1996), além do que a redundância pode vir a ampliar o problema (SAGAN, 2004). No acoplamento frouxo, pelo contrário, até a inexistência de medidas elementares de segurança é capaz de não se fazer sentir, sendo suprida por uma ação emergencial pensada no clamor do problema. Não obstante sua teoria tenha lhe rendido o epíteto de pessimista, Perrow (1994) prescreveu seis características que os sistemas podem assumir para reduzir falhas: experiência com operações em escala; experiência com as fases críticas da operação; processamento das informações sobre os erros; proximidade com as elites pelo motivo do poder estar nelas concentrado; controle organizacional sobre os integrantes da organização, sem esquecer que a intensidade e forma de controle precisa ser adequado ao trabalho; e, densidade organizacional externa rica para que os atores de fora insuflem as medidas de segurança. A observância destas características não garante que os desastres deixarão de aparecer nos noticiários, só que, ao invés da prevalência de sistemas indutores de erros, ter-se-ão sistemas com dinâmicas preventivas. Perrow permanece coerente com seu postulado de que há situações que sempre terão potencial disruptivo; sua ressalva é que a mudança de sistemas indutores é capaz de reduzir a probabilidade dos pequenos erros que se transformam em cataclismas. Sem dúvida, um otimista bem informado. Uma contribuição significativa para o aperfeiçoamento na NAT veio pelas mãos de Scott Sagan (1994), quando se deteve no problema da proliferação das armas nucleares e salientou suas preocupações com os aspectos políticos que podem favorecer os acidentes. Indo mais além do que reforçar ou subtrair nuance do modelo, Sagan, como Perrow (1994) admitiu, descortinou os pilares teóricos da NAT. Nessa lide, um primeiro aspecto foi direcionar os holofotes para os modelos organizacionais que a sustentam, em específico, a influência de Weber, que ajuda a explicar a preocupação com o poder, e a centralidade das teorias da 7 racionalidade limitada e do garbage can. O argumento básico é que os sistemas de elevado risco possuem graus acentuados de incerteza e, na vigência de uma prática estilo garbage can, predominará situações com objetivos nebulosos, equívocos e confusão, o que convida uma postura pessimista em relação aos acontecimentos. Neste ponto as tintas podem ter sido carregadas, lembrando que Cohen et al. (1972) não afirmaram que seu modelo leva à desgraça, e sim que a racionalidade limitada contribui para que as decisões façam uso de respostas já prontas. Pela faceta do poder, Sagan tornou mais explícito que os interesses de grupo atuam de forma incessante na conformação dos sistemas indutores de erro. O que instiga na proposição é que o foco não está no risco, que hoje tende a ser mais estudado pelos múltiplos campos do conhecimento, e sim no poder que as elites armazenam para estruturar sistemas que impõem risco aos demais grupos da sociedade. Mesmo que a elite e a alta hierarquia da organização intentem a estabilização de sistemas preventivos, os choques com os grupos poderão anular a iniciativa. Merece ser frisado que os embates são escondidos e ficam dissimulados em ações da organização, difíceis de serem delimitados. Muito recorrente nessa tergiversação é o uso dos planos, seja para implantação, operação ou remediação dos empreendimentos, e de relatórios de avaliação. Tais peças acabam perfazendo um instrumento simbólico, dando segurança ao pessoal interno e passando um quadro estável e confiável aos demais. Segurança essa que pode ser utópica, pois os planos têm por rotina destacar algumas variáveis, e as que não estão neles inclusas, ficam escondidas e despercebidas (WEICK; SUTCLIFFE, 2001). Com imensa criatividade, Clarke (1999) batizou estes documentos como fantasias. Uma década depois, também com arguta percepção, Birkland (2009) desenvolveu a mesma hipótese para os documentos produzidos pelas organizações para explicar acidentes, e como o acontecido teria permitido o aprendizado. Na análise do autor, as peças produzidas são fantasiosas e dificultam o aprendizado. Um exemplo que pode ser usado como ilustração das visões antagônicas sobre o mesmo fenômeno é o da Shell, face aos problemas ambientais que vem sofrendo no mundo. Quando se estudam os relatórios anuais da empresa, o que transparece é uma cosmologia estruturada que fornece balizas seguras para o agir da empresa. Ao se comparar com o posicionamento de outros, o que vem a mente é que os mundos são diferentes (para uma melhor perspectiva, ver também TSOUKAS, 1999). Cumpre reconhecer que os aportes são válidos e necessários, embora nenhum deles acarrete mudanças significativas perante o conceito inicial dos acidentes normais. Concordando com Weick (2004), a simplicidade do modelo dá-lhe uma funcionalidade heurística grande e seu uso disseminado que, a despeito do incômodo que aflige seu criador, estimula a reflexão, e isso não é pouco. No escopo da teoria organizacional, a formulação de Perrow cataliza a discussão já tomando como parâmetro seus aspectos basilares, como interdependência, coordenação, diferenciação e processos (WEICK, 2004), permitindo um piso sólido para situar em que condições o fenômeno em questão se encontra. Além do mais, a ferramenta dá conta de contemplar diferentes níveis de análise, ora em um âmbito macro, como estrutura e tecnologias, ora em recortes que favorecem saliências do nível micro, como processos. Snook (2000), com primazia, por exemplo, valeu-se desse potencial e elaborou uma pesquisa sofisticada que conseguiu iluminar o evento por múltiplos níveis de análise: abordou-o pelas perspectivas dos indivíduos, dos grupos e das organizações. Para aqueles familiarizados com os estudos organizacionais, é compreensível a dificuldade que se tem para tanto e o investimento elevado para se atingir um mapa coerente e consistente. A NAT, portanto, é um recurso viável e demonstra a força que uma metáfora, com toda a sua carga simbólica, possui para aguçar a mente humana. 8 Prometeu Liberto: a High Reliability Theory Conforme foi citado, a inserção de Perrow no assunto específico dos acidentes decorreu da repercussão do ocorrido nas instalações de Three Mile Island, evento que lhe permitiu formular o conceito de acidentes normais e publicá-lo em uma das primeiras obras que analisaram o problema. Nessa mesma obra, Todd La Porte (1996) deu início ao que veio a ser consagrado como a teoria das organizações de alta confiabilidade (HRT) (RIGMA, 2003). Se compartilharam a manjedoura, o transcorrer dos anos levou os dois infantes para locais próximos, com grande paralelismo. Algumas correntes têm fé que eles sejam convergentes ou pelo menos complementares; outras não vislumbram tais possibilidades nem no infinito. A maturação do pensar de La Porte (1996) teve lugar principalmente nas salas de Berkeley, California, onde se associou aos pesquisadores da instituição e juntos construíram uma corrente de pensamento sobre os acidentes e as organizações. O mote que desenvolveram era entender como sistemas de operação em larga escala alcançavam níveis extraordinários de segurança e produção, nas mais diversas situações. O feito precisava ser entendido para clarear como essas organizações permitiam que a interdependência entre as operações, que são intensas nas tecnologias recentes, seguissem padrões de confiabilidade. A busca era por soluções para a pergunta formulada por Turner e Perrow, sobre como gerenciar e coordenar a capilaridade da rede montada pelas unidades do sistema, principalmente nas situações de maior pressão. Afinal, era vital a compreensão de como se desenvolvia o processo decisório, face a situações rotineiras e face à excepcionalidade, potencial ou efetiva. Nesse intento, os autores previam que a dissecção das regras e valores, formais e informais, era inevitável pelo fato de descortinarem os elementos constitutivos da cultura organizacional. A hipótese era que somente com a interpretação das idiossincrasias profundas, arraigadas na “alma” da organização, conseguir-se-ia aventar as razões pela dinâmica do cotidiano. Entre as características encontradas, os adeptos da HRT inferiram que esse tipo de organização possuía, antes de tudo, uma competência técnica distinta para, na possibilidade de uma situação de emergência, iminente ou não, reordenar seu funcionamento para lidar com a ameaça (BOIN; SCHUMAN, 2008). Para tanto, os processos de recrutamento, seleção e treinamento eram priorizados. Um dos campos que recebiam mais ênfase no aperfeiçoamento do pessoal compreendia as medidas essenciais para o elevado desempenho operacional, desde a montagem de bancos de dados sobre o passado até a construção de modelos de simulação para o futuro. Tudo isso sem perder a flexibilidade, conquistada, notadamente, por meio da implantação de sistemas de redundância. Ou seja, se algum caminho enfrentasse um obstáculo ou um comportamento dissonante, sempre haveria uma alternativa de bypass, até mesmo quando a gênese da dificuldade se localizasse na estrutura de autoridade. Portanto, a variante não se restringe a um relé, açambarcando mecanismos de contestação do processo decisório. Na ênfase de Roberts et al. (2008), o que está por trás é a criação de uma sistemática que permite que os modelos mentais das pessoas sejam respeitados, treinando-as a interagir com freqüência de maneira a garantir que consigam interpretar o ambiente e atuar de pronto, podendo ser exigida a elaboração de novos modelos mentais. No clamor do momento, as pessoas estarão preparadas para desempenhar papéis distintos do usual e a recorrer a estratégias contingenciais de comunicação e decisão, sem melindres ou mal estar. Como corolário, é esperada uma estrutura descentralizada que se imponha, criando espaços para a decisão entre um pequeno número de participantes, que tenha respaldo institucional Tal qual no modelo da NAT, aqui também a prevalência do garbage can é esperada. Uma advertência fundamental, expressada pelos seguidores da HRT, é que uma organização, em termos individuais, não consegue mesclar todas as possíveis características nas suas fronteiras organizacionais (BOIN; SCHULMAN, 2008). O quadro que se configuraria 9 conteria, além de toda a complexidade dos fenômenos associados aos acidentes, um adicional de complexidade gerencial que levasse em conta processos internos sofisticados. Isso posto, opções devem ser feitas, as quais serão parametrizadas por forças internas e pelos constrangimentos externos. A rigor, a limitação para as competências a serem aperfeiçoadas é uma condicionante para toda e qualquer organização, não sendo demérito. O que causa espécie, antes sim, é discernir se as peculiaridades que transformam a organização em altamente confiável são do livre arbítrio de seus membros, treinados para a lide, ou são produto das forças externas que impõem a mudança. Sabendo que até os dias de hoje, a despeito dos avanços, o número de exemplos empiricamente avaliados são poucos, Boin e Schulman (2008) enfatizam que, mais do que uma emancipação endógena, os apelos para a assunção das características prescritas pela HRT podem vir da regulação pública, de uma liderança isolada, sem vínculos robustos com a organização, ou realmente da evolução institucional. Também como desdobramento da escassez de exemplos no universo pesquisado, muito do que foi dito talvez tenha sido conseqüência de vieses do analista, que selecionou organizações de um mesmo cluster, sem poder ser afirmado, mais peremptoriamente, relações causais entre características e desempenho. A saída desse estado de coisas, com toda a certeza, passa pela ampliação dos estudos, incluindo aquelas organizações que não tenham sofrido desastres e não estão embebidas pelo caldo da HRT, e as que eram julgadas como altamente confiáveis e assim mesmo vieram a enfrentar situações negativas. Cônscios do imperativo, os propagadores da HRT reconheceram quer era imprescindível ampliarem o número de casos e as ferramentas utilizadas, visando dar solidez ao seu edifício (ROCHLIN, 1996). O que se viu na sequência é que a intenção de ganhar envergadura estava com limitações de recursos. A expansão para outras organizações e o aprofundamento das múltiplas variáveis não se mostravam exeqüíveis. Logo, como alternativa seus principais idealizadores procuraram estimular os centros de pesquisa a testarem as hipóteses e aplicarem o modelo, no âmbito de governabilidade de cada um. É um movimento que vem ocorrendo, mas que ainda sofre críticas por ser entendida, por alguns, como mais uma lista de adjetivos do que uma teoria (SHRIVASTAVA et al., 2009). Não obstante os comentários mais ácidos terem alguma procedência, no contexto a contribuição de Weick é distinta e deve ocupar posição de destaque no pódio. Esse autor sempre esteve muito próximo do clube de Berkeley e aportou sua perspectiva de psicólogo social ao fenômeno estudado pela HRT. Tendo escrito em parceria com alguns integrantes da Califórnia, o professor da Universidade de Michigan encontrou em Kathleen Sutcliffe uma colaboradora que, juntos, redigiram uma obra de referência que pode evitar que a HRT tantalize seus partidários. Com um título provocador, Weick e Sutcliffe (2001) iniciam seu trabalho apresentando, de forma caricatural, o modelo de Turner para situar o inesperado: uma pessoa tem uma ideia, atua, não consegue compreender o contexto dos eventos, algo sai do previsto e tem-se um resultado inesperado. A partir dessa simples imagem, os autores conseguem alertar que as organizações, seguindo a expectativa da HRT, precisam ser gerenciadas em um formato diferente. Nesse intento, Weick e Sutcliffe (2006) apontam que as mudanças devem ser feitas no sentido de torná-las atentas (mindfulness), o que implica que as organizações altamente confiáveis sejam capazes de perceber com mais acuidade o inesperado e lidar com ele, seja contendo-o ou, na debacle, restaurar o funcionamento rotineiro. Em tom mais enfático, o convite feito é para que, quando coisas erradas aflorem, ao invés de os gerentes acusarem qualquer funcionário, peça ou organização, apresentem competência para a análise mais abrangente. 10 Uma grande contribuição desta obra está na capacidade de síntese da HRT, remodelando-a em uma linguagem direta, sem perder o brilho, chegando a desenhar instrumentos para a autoavaliação das organizações. Sabendo da aversão que o autor principal possui para elaborar guias, imagina-se que estivesse muito seguro da pertinência e necessidade de sua “ousadia”. A espinha dorsal do argumento é as organizações confiáveis, para serem atentas, devem respeitar cinco quesitos (WEICK, SUTCLIFFE, 2001): preocupação com as falhas; relutância em simplificar as interpretações; sensibilidade para com as operações; compromisso com a resiliência; e, deferência ao saber. A centralidade das falhas é inequívoca: a organização confiável requer atenção permanente sobre as falhas, independente da gravidade. Todos seus integrantes são estimulados, e até recompensados, pela detecção de uma anomalia ou pela simples elucubração de que algo está errado. No limite, não importa se houve um mero indício que não se comprovou, a função é impedir o desencadeamento do que Vaughan (2005) denominou normalização (banalização) do desvio. Também não fica em questão o fato da pessoa reconhecer que errou e divulgar o que e como aconteceu. A premissa subjacente é que notícias ruins podem implicar em outras mais amargas, portanto é razoável o debate público e não a execração organizacional. O bom profissional, então, deixa de ser somente o que atinge metas e resultados, ainda mais lembrando que essas organizações formam quadros competentes, sujeitos a poucos erros; o bom profissional é aquele que desempenha a contento suas obrigações e reporta as falhas que porventura apareçam (ou dêem sinais que surgirão). A relutância com simplificações é conseqüência do reconhecimento da racionalidade limitada das pessoas frente à complexidade do real. Para fugir da tendência de fragmentar e enquadrar qualquer coisa que aconteça nos modelos e conceitos prevalecentes, a HRT instiga seus integrantes a fazer o exercício constante de olhar por prismas diferentes. Também busca imprimir uma gestão que busque colaboradores com vivências distintas, além de incitar o contato com o público externo. Adotar essas medidas sem criar celeumas insolúveis não é trivial, e demanda mecanismos de negociação e resolução de conflitos sofisticados para que não vicejem melindres e rusgas. A obtenção de resultados satisfatórios para os dois quesitos acima aludem o imperativo das organizações estarem focadas “na ponta” do trabalho. O distanciamento do cotidiano das fronteiras da organização facilita ruídos na comunicação e a construção de imagens que poderão distorcer, à exaustão, a realidade. Ao mesmo tempo, afora a dissonância, uma possibilidade pouco remota é a cristalização de papéis entendidos enquanto mais ou menos importantes, o que desemboca na falta de prestígio para aqueles inseridos nas operações finalísticas. E é exatamente a familiaridade com a produção que permite o aprendizado e a inovação, e no caso dos acidentes, a identificação das evidências, como Turner denominou, que incubam e anunciam as rupturas. Sobre o aprendizado, cabe reconhecer que de pouco adiantaria a atenção nas falhas e no dia a dia da organização, se os processos de trabalho não o autorizarem. Afinal, a preocupação em legitimar o erro enquanto factível, com vistas a que não se repita, é uma forma de dizer que a organização não pode esclerosar e que a resiliência é fundamental. Ou seja, a experiência, submetida a uma reflexão crítica, ou a uma “imaginação disciplinada”, parafraseando Weick (1989), é uma salvaguarda perante o inesperado. Por fim, o último quesito, referente a legitimidade do saber, remete a uma preocupação presente no modelo de Turner e que também foi incorporada por Perrow: a centralização do processo decisório segundo critérios de competência hierárquica traz elevadas probabilidades de equívocos. Uma diferença para esses autores da HRT é que o processo de descentralização deve ser fluído o suficiente para que as decisões migrem, conforme o termo por eles utilizado, 11 para onde o saber estiver. Ou seja, a hierarquia teria seu papel mas subsumido a contingência. O risco de uma decisão superior ser a primeira peça da queda das peças do dominó restringe os caprichos de status e impõe graus de liberdade, que para serem factíveis, carecem de um caldo cultural adequado. Sua gestão da cultura organizacional, portanto, seria de inestimável valia para o aperfeiçoamento das organizações. Sutcliffe bem se apercebeu da relevância que a cultura organizacional, que sempre fora cultivada pelos arquitetos da HRT e desprezada pela NAT, teria para a elaboração teórica. Assim, Barton e Sutcliffe (2009) e seu co-autor demonstram que transformações de caráter micro concorrem para o aperfeiçoamento das organizações. Pelos indícios que podem ser localizados, a HRT vem ganhando fôlego, independente da crítica de que os estudos não estipulam conclusivamente a relação causal das variáveis com os resultados. Os autores aceitam e valorizam a preocupação (WEICK; SUTCLIFFE, 2006), só que defendem que para interpretar uma gama de variações em um fenômeno, requer-se a ampliação dos conceitos utilizados para estabelecer as correlações. É de se esperar, por conseguinte, a abertura de novas trincheiras. Fim da Saga? Prometeu Recorre ao Caleidoscópio As duas linhas de pensamento que hoje predominam na análise organizacional dos acidentes começaram a ser formalizadas simultaneamente, no início dos anos 80, a partir do legado de Turner, e no percurso a tensão não se desfez. Em determinado momento, representantes da HRT assentiram que o caráter complementar existia, só que foram peremptoriamente rechaçados, como pode ser visto na publicação dos artigos do Journal of Contingencies and Crisis Management, de dezembro de 1994. A partir daí a comunicação ficou comprometida, com cada partido delimitando sua atuação. Cabe a ressalva que no campo de batalha, Weick sempre teve o passe livre para os dois lados: adepto explícito da HRT, enquanto editor da Administrative Science Quarterly, foi quem publicou o ensaio de Perrow que viria a gerar seu livro de 1984, e com ele mantém relação respeitosa, que está transparente no uso de que cada qual faz do trabalho alheio. Contudo, não foi capaz de aproximar os contendores. Em paralelo aos mais dogmáticos, certos autores acreditavam que a colaboração seria frutífera. Rijpma (1997), por exemplo, concluiu que a NAT poderia explicar a confiabilidade e que a HRT dava conta não apenas do desempenho das organizações, mas também dos fatores que acentuam a propensão aos acidentes. Em uma posição salomônica apregoou que “HRT may prevent practioners from over-pessimism induced by NAT. NAT may reduce overoptimism with regard to the success of reliability-enhancing strategies” (RIJPMA, 1997, p. 22). Em uma avaliação posterior, o autor menciona que o debate evoluiu da dicotomia previsibilidade/imprevisibilidade ao incluir a questão sobre a natureza da gênese dos acidentes (RIJPMA, 2003). Esta abordagem ficou um pouco forçada uma vez que, desde o intróito, estava em debate a origem dos problemas; todavia, permitiu ao autor alçar uma conclusão: as duas perspectivas permaneciam separadas, com ângulos divergentes mais acentuados, o que levará a um distanciamento maior. Com uma linguagem amarga, profetizou, ao contrário de sua opinião anterior, que o debate tinha chegado ao fim e que e todo e qualquer ganho seria independente. As razões são claras: de um lado estão aqueles que argúem que podemos lançar mãos de sistemas com potencial disruptivo, sendo factível a implantação de medidas de segurança confiáveis; e do outro lado os que vêem a incrível falibilidade das pessoas, sistemas e tecnologias, sendo melhor evitá-las (RIJPMA, 2003). Pode-se dizer, então, que a cizânia não deriva da origem dos acidentes e da viabilidade de gerenciá-los; o cerne da questão é a cosmologia de cada lado, aparentemente irreconciliáveis. 12 A despeito do ceticismo e do alerta de Rijpma, naturalmente a contenda continua. Hoje a dimensão da cultura está em relevo (NAEVESTAD, 2008; BOIN; SCHULMAN, 2008; TURNER; GARY, 2009; BARTON; SUTCLIFFE, 2009;), sem que as discussões sobre a dinâmica dos aspectos estruturais dos sistemas tenham desaparecido (SHRIVASTVA et al., 2009; LEVESON et al., 2009). As notícias de aproximação, entretanto, não são alvissareiras. O debate no campo teórico não avança, atendo-se muito em aspectos pontuais, tanto que Perrow, deixando um pouco de lado a fleuma que o caracteriza, ontem foi ácido ao clamar mais por estudos aplicados aos casos concretos, e menos energia no choque conceitual (PERROW, 2009). Na visão dele, as duas teorias são imprescindíveis, sem esquecer que devem ser aplicadas corretamente: a NAT focando os sistemas e suas falhas, e a HRT priorizando o lado humano das organizações. A fala de Perrow procede, mas deve ser assimilada com um certo cuidado para não entronizar o entendimento de que uma delas é capaz de explicar um fenômeno sem a colaboração da outra. Vaughan (1990, 1997, 2005), por exemplo, realçou as falhas que a interação complexa e o acoplamento justo ocasionaram em dois acidentes da Nasa, considerando ainda o papel dos grupos de poder, e nem por isso se sentiu impedida de elucubrar ações que poderão ser implementadas para o aperfeiçoamento da gestão. A tese de Snook (2000), por sua vez, demonstrou sobejamente que há, de fato, complementaridade. Ao esmiuçar as estórias que narram como soldados aniquilaram seus companheiros, no que se consagrou como “fogo amigo”, Snook (2000) chegou a um exemplo de acidente normal em uma organização altamente confiável. É possível se afirmar que no segundo lustro dos anos 90, a influência de Turner, ou até mesmo sua redescoberta, aconteceu em decorrência da segunda edição de seu livro sobre acidentes feitos pelo homem (RIJPMA, 2003). Até então, segundo Short e Rosa (1998), o ostracismo na academia e entre os gestores das organizações pública e privadas era quase absoluto; concorria para tanto a tradição epistemológica da ciência ocidental, que favorece a racionalidade mais circunscrita. Dela deriva a prática de quebra dos fenômenos em componentes elementares, os quais são estudados por campos de conhecimento específicos, cujas fronteiras são ferreamente defendidas por seus integrantes. Como bem assinalam os autores, os paradigmas são lentes que focalizam alguns aspectos e escondem outros, favorecendo a disputa entre os times e a dificuldade de mútua compreensão. Não é de se estranhar, portanto, que o aporte de Turner, destacando a organização enquanto unidade de análise, ficasse em um ponto cego. Quando da segunda edição em 1997, todavia, as tragédias feitas pelo homem, como Seveso, Exxon Valdez, Chernobyl e Bhopal, por exemplo, estavam estampadas no roteiro da humanidade, sem condições de serem apagadas. Nesse contexto, o modelo de Turner entrou na surdina no mainstrean, sem dele fazer parte mas influenciando-o. Muito da potência do arcabouço de Turner está na abrangência de sua abordagem, a qual contém os elementos que os estudiosos que se seguiram se apropriaram. A NAT, de forma inequívoca, está sedimentada na fase de incubação, quando, por exemplo, privilegia a distribuição de poder que favorece ou não o processo decisório descentralizado. A HRT, por seu turno, realça a o papel que os processos de trabalho e de comunicação desempenham na prevenção de disjunções, e também destaca dimensão da cultura, objeto da primeira pesquisa de impacto de Turner (1994), no início de sua carreira, e também assunto de suas últimas publicações (PIDGEON; LEARY, 2000). Não é à toa que Weick e Sutcliffe (2001) justamente recuperam os escritos antigos de Turner para discorrer sobre a cultura e as organizações confiáveis. Weick (1998) vai mais além do que admitir que a contribuição de Turner vincula-se a um modelo consistente; para ele, o poder explicativo está na abordagem feita que estimula a 13 reflexão. Weick enfatiza que o intelectual britânico, engenheiro que se tornou sociólogo, descartou as lentes convencionais e entregou, a quem querer pegar, um caleidoscópio. Na posse dessa ferramenta, o interessado poderá despojar-se dos padrões antigos, gerar padrões inusitados a partir dos mesmos elementos constitutivos, percebendo então que inúmeras configurações são possíveis. Cita, com propriedade, a inflexão do pensamento de Turner quando disse que a apreensão com a entropia dos sistemas poderia ser equivocada, visto que sistemas negentrópicos é que acabariam por acelerar os processos disjuntivos, o que mostra a limitação da redundância. Após ser dito, torna-se óbvio que a ordenação das partes, quando mais em sistemas de alto acoplamento, tem chances de possibilitar uma bola de neve devastadora; o ponto é que poucas vozes ousaram fazê-lo antes. Tendo em mente a complexidade do mundo atual, Weick está correto em seu entendimento de que as ferramentas analíticas precisam provocar e inquietar as pessoas. Diante da incerteza dura perante o porvir, o que não se precisa é de faróis que estreitem o horizonte. REFERÊNCIAS ACSELRAD, H.; MELLO, C. Conflito social e risco ambiental: o caso de um vazamento de óleo na Baía de Guanabara. In: ALIMONDA, H. Ecología política: naturaleza, sociedad y utopía. Buenos Aires: CLACSO, 2002. ACSELRAD, H. Tecnologias sociais e sistemas locais de poluição. Horizontes Antropológicos, v. 12, n. 25, p. 117-138, 2006. BARTON, M.; SUTCLIFFE, K. Overcoming dysfunctional momentum: Organizational safety as a social achievement. Human Relations, Vol. 62, No. 9, p. 1327-1356, 2009. BECK, U. Living in the world risk society. Economy and Society, v. 35, n. 3, p. 329- 345, 2006. BIRKLAND, T. Focusing events, mobilization, and agenda setting. Journal of Public Policy, v. 18, p. 53-74, 1998. BIRKLAND, T.; NATH, R. Business and political dimensions in disaster management. Journal of Public Policy, v. 20, n. 3, p. 275-303, 2001. BIRKLAND, T. Lessons of disasters: policy change after catastrophic events. Washington, D.C.: Georgetown University Press, 2007. BIRKLAND, T. Disasters, lessons learned, and fantasy documents. Journal of Contingencies and Crisis Management, v. 17, n. 3, p. 146-156, 2009. BOIN, A.; SCHULMAN, P Assessing Nasa´s safety culture: the limits and possibilities of high-reliability theory. Public Administration Review, v. 68, n. 6, p. 1050-1062, 2008. CLARKE, L. Mission improbable: using fantasy documents to tame disaster. Chicago: University of Chicago Press, 1999. CLARKE, L.; PERROW, C. Prosaic organizational failure. American Behavioral Scientist, v. 39, n. 8, p. 1040-1056, 1996. DEMAJOROVIC, J. Sociedade de risco e responsabilidade socioambiental: perspectivas para a educação corporativa. São Paulo: Editora Senac, 2003. FERNANDEZ-ARMESTO, F. Os desbravadores. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. FOUCAULT, M. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal Editora, 1995. FREITAS, C.; PORTE, M.; GOMEZ, C. Acidentes químicos ampliados: um desafio para a saúde pública. Revista de Saúde Pública, v. 29, n.6, p. 503-514, 1995. 14 FREITAS, C.; AMORIM, A. Vigilância ambiental em saúde de acidentes químicos ampliados no transporte rodoviário de cargas perigosas. Informações Epidemiológicas, v. 10, n.1, 2001 GEPHART, R. Making sense of organizationally based environmental disasters. Journal of Management, v. 10, n. 2, p. 205-225, 1984. GEPHART, R. The textual approach: risk and blame in disaster sensemaking. The Academy of Management Journal, v. 36, n. 6, p. 1465-1514, 1993. GEPHART, R. Hazardous measures: an interpretive textual analysis of quantitative sensemaking during crises. Journal of Organizational Behavior, v. 18, p. 583-622, 1997. GEPHART, R. Crisis sensemaking and the public inquiry. In: PEARSON, C.; ROUXGEPHART, R.; VAN MAANEN, J.; OBERLECHNER, T. Organizations and risk in late modernity. Organization Studies, v. 30, n. 2/3, p. 141-155, 2009. GHERARDI, S. A cultural approach to disasters. Journal of Contingencies and Crisis Management, v. 6, n. 2, p. 80-83, 1998. GIDDENS, A. Risk and responsibility. The Modern Law Review, v. 62, n. 1, p. 1-10, 1999. GUIVANT, J. A trajetória das análises de risco: da periferia ao centro da teoria social. Revista Brasileira de Informações Bibliográficas, n. 46, p 3-38, 1998. KENNEDY, P. Preparando-se para o século XXI. Rio de Janeiro: Ed. Campus, 1992. KLEIN, N. The shock doctrine: the rise of disaster capitalism. New York: Metropolitan Books, 2008. LA PORTE, T. High reliability organizations: unlikely, demanding and at risky. Journal of Contingencies and Crisis Management, v. 4, n. 2, p. 60-71, 1996. LEVESON, N., DULAC, N., MARAIS, K.; CARROLL, J. Moving beyond normal accidents and high reliability organizations: a systems approach to safety in complex systems. Organization Studies, v. 30, n. 2/3, p. 227-249, 2009. MARANDOLA JR, E.; HOGAN, D. Natural hazards: o estudo geográfico dos riscos e perigos. Ambiente & Sociedade, v. 7, n. 2, p. 95-109, 2004. MARCATTO, F. A participação pública na gestão de área contaminada: uma análise de caso baseada na Convenção de Aarhus. São Paulo, 2005. Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da Universidade de São Paulo. MATTEDI, M.; BUTZKE, I. A relação entre o social e o natural nas abordagens de hazards e de desastres. Ambiente & Sociedade, v. 4, n. 9, p. 1-22, 2001. NAVESTAD, T. Safety cultural preconditions for organizational learning in high-risk organizations. Journal of Contingencies and Crisis Management, v. 16, n. 3, p. 154-163, 2008. OLIVEIRA, J. Shell´s environmental responsibility in Vila Carioca, São Paulo, Brazil. Notre Dame: Institute for Ethical Business Worldwide, University of Notre Dame, EUA, 2005. PERROW, C. The limits of safety: the enhancement of a theory of accidents. Journal of Contingencies and Crisis, v. 2, n. 4, p.212-220, 1994. PERROW, C. Normal accidents: living with high-risk technologies. New Jersey: Princeton University Press, 1999 [1984]. PERROW, C. Organizing America wealth, power, and the origins of corporate capitalism. New Jersey: Princeton University Press, 2002. 15 PERROW, C. A personal note on normal accidents. Organization Environment, v. 17, n. 1, p. 9-14, 2004. PERROW, C. The next catastrophe: reducing our vulnerabilities to natural, industrial, and terrorist disasters. New Jersey: Princeton University Press, 2007. PERROW, C. What´s needed is application, not reconciliation: a response to Shristava, Sonpar and Pazzaglia (2009). Human Relations, v. 62, n. 9. p. 1391-1393, 2009. PIDGEON, N. The limits to safety? Culture, politics, learning and man-made disasters. Journal of Contingencies and Crisis, v. 5, n. 1, p.1-14, 1997. PIDGEON, N.; O’LEARY, M. Man-made disasters: why technology and organizations (sometimes) fail. Safety Science, v.34, p. 15-30, 2000. RIJPMA, J. Complexity, tight-coupling and reliability: connecting normal accidents theory and high reliability theory. Journal of Contingencies and Crisis Management, v. 5, n. 1, p. 15-23, 1997. RIJPMA, J. From deadlock to dead end: the normal accidents-high reliability debate revisited. Journal of Contingencies and Crisis Management, v. 11, n. 1, p. 37-45, 2003. ROBERTS, K., YU, K., DESAI, V.; MADSEN, P. Employing adaptive structuring as cognitive decisions in high reliability organizations. In: HOGSKINSON, G.; STARBUCK, W. The Oxford handbook of organizational decision making. Oxford: Oxford University Press, 2008. ROCHLIN, G. Reliable organizations: present research and future directions. Journal of Contingencies and Crisis Management, v. 4, n. 2, p. 55-59, 1996. SAGAN, S. Toward a political theory of organizational reliability. Journal of Contingencies and Crisis, v. 2, n. 4, p. 228-240, 1994. SAGAN, S. Problem of redundancy problem: why more nuclear security forces may produce less nuclear security. Risk Analysis, v. 24, n. 4, p. 935-946, 2004. SELZNICK, P. TVA and the grass roots: a study in the sociology of formal organization. New York: Harper Tochbooks, 1966. SHORT, J.; ROSA, E. Organizations, disasters, risk analysis and risk. Journal of Contingencies and Crisis Management, v. 6, n. 2, p. 93-96, 1998. SHRIVASTA, S., SONPAR, K.; PAZZAGLIA, F. Normal accident theory versus high reliability theory: a resolution and call for an open systems view of accidents. Human Relations, v. 62, n. 9, p. 1357-1390, 2009. SNOOK, S. Friendly fire. Princeton: Princeton University Press, 2000. TSOUKAS, H. David and Goliath in the risk society: making sense of the conflict between Shell and Greenpeace in the North Sea. Organization, v. 6, n. 3, p. 499-528, 1999. TURNER, B. The organizational and interorganizational development of disasters. Administrative Science Quarterly, v. 21, p. 378-397, 1976. TURNER, B. Some practical aspects of qualitative data analysis: one way of organizing the cognitive processes associated with the generation of grounded theory. Quality and Quantity, v.15, n. 3, p.225-247, 1981. TURNER, B. Causes of disaster: sloppy management. British Journal of Management, v. 5, n. 3, p. 215 – 219, 1994. 16 TURNER, N.; GRAY, G. Socially constructing safety. Human Relations, v. 62, n.9, p. 12591266, 2009. VALENCIO, N.; SIENA, M.; MARCHEZINI, V.; GONÇALVES, J. Sociologia dos desastres – construção, interfaces e perspectivas no Brasil. São Carlos: RiMa Editora, 2009. VAUGHAN, D. Autonomy, interdependence, and social control: NASA and the space shuttle Challenger. Administrative Science Quarterly, v. 35, p. 225-257, 1990. VAUGHAN, D. The trickle-down effect: policy decisions, risky work, and the challenger tragedy. California Management Review, v. 39, n. 2, p. 80-102, 1997. VAUGHAN, D. System effects: on slippery slopes, repeating negative patterns, and learning from mistake. In: STARBUCK, W.; FARJOUN, M. Organization at the limit: Nasa and the Columbia disaster. Malden: Blackwell, 2005. WEICK, K. Theory construction as disciplined imagination. Academy of Management Review, v. 14, n. 4, p. 516-531, 1989. WEICK, K. The vulnerable system: an analysis of the Tenerife air disaster. Journal of Management, v. 16, n. 3, p.571-593, 1990. WEICK, K. The collapse of sensemaking in organizations: the Mann Gulch disaster. Administrative Science Quarterly, v. 38, n. 4, p, 628-652, 1993. WEICK, K. Sensemaking in organizations. Thousand Oaks: SAGE Publications, 1995. WEICK, K. Foresights of failure: an appreciation of Barry Turner. Journal of Contingencies and Crisis Management, v. 6, n. 2, p. 72-75, 1998. WEICK, K. Normal accident theory as frame, link, and provocation. Organization & Environment, v.17, n. 1, p. 27-31, 2004. WEICK, K.; SUTCLIFFE, K. Managing the unexpected: assuring high performance in an age of complexity. São Francisco: Jossey-Bass, 2001. WEICK, K.; SUTCLIFFE, K. Mindfulnes and the quality of organizational attention. Organization Science, v. 17, n. 4, p. 514-524, 2006. 17
Download