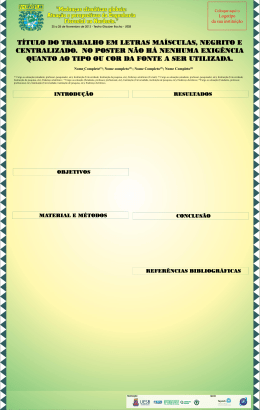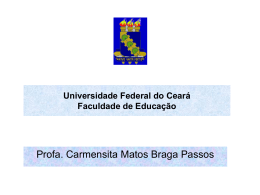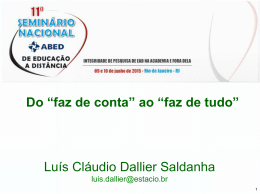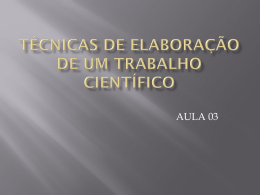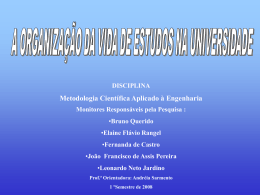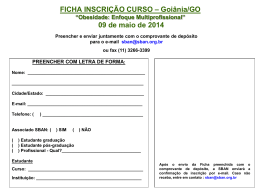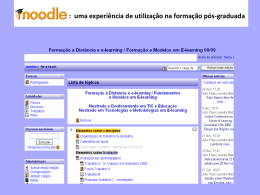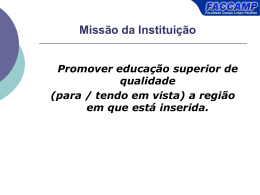UNIVERSIDADE REGIONAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – UNIJUÍ PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO NAS CIÊNCIAS LINHA DE PESQUISA – FORMAÇÃO DE PROFESSORES E DESENVOLVIMENTO DE CURRÍCULO ATIVIDADE DE INTERAÇÃO COM INTEGRAÇÃO DE APRENDIZAGENS EM AULA DE ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO Cristiano Henrique Antonelli da Veiga Ijuí, RS 2013 CRISTIANO HENRIQUE ANTONELLI DA VEIGA ATIVIDADE DE INTERAÇÃO COM INTEGRAÇÃO DE APRENDIZAGENS EM AULA DE ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO Tese de Doutorado apresentada à banca examinadora do Programa de PósGraduação Stricto Sensu em Educação nas Ciências da UNIJUÍ como requisito parcial para a obtenção do título de Doutor em Educação nas Ciências. Orientadora: Profa. Dra. Lenir Basso Zanon Ijuí, RS 2013 Ficha cartográfica Cristiano Henrique Antonelli da Veiga ATIVIDADE DE INTERAÇÃO COM INTEGRAÇÃO DE APRENDIZAGENS EM AULA DE ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO Banca Examinadora Profa. Dra. Lenir Basso Zanon – Orientadora UNIJUÍ Profa. Dra. Andréa Horta Machado Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG Profa. Dra. Enise Barth Teixeira Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS Profa. Dra. Maria Cristina Pansera de Araújo UNIJUÍ Prof. Dr. Otavio Aloísio Maldaner UNIJUÍ AGRADECIMENTOS A você. RESUMO O motivo que impulsionou o desenvolvimento desta tese foi a necessidade de compreender teoricamente um processo de reelaboração de ciclos de ação didática que possibilitassem o entendimento pedagógico do conteúdo de Administração da Produção, cujos aprendizados fossem para além das técnicas de cálculo convencionalmente utilizadas. Para isso, foi estabelecido o objetivo de investigar limites e potencialidades de uma “Atividade de Interação com Integração de Aprendizagens”, com vistas a compreender como conhecimentos e situações da atuação profissional são dinamicamente relacionados, nesse campo do saber, num ambiente que possibilita interações sociais diversificadas. O aporte teórico que norteia a tese está pautado no referencial histórico-cultural, com foco na teoria da atividade, em conjunto com abordagens referentes à constituição da docência. A organização e o desenvolvimento da investigação foram inspirados na pesquisa-ação, como orientação teórico-metodológica. O processo qualitativo de construção, análise e interpretação dos dados abrangeu a modalidade de análise textual discursiva. Como categorias de análise foram definidas, a priori, aquelas referentes à mobilização de conhecimentos, de interações sociais e de relações políticas. O campo empírico da pesquisa abrangeu aulas com acadêmicos regularmente matriculados em duas turmas de um Curso de Administração em uma Universidade Federal no interior do RS, sendo que uma delas serviu para a fase piloto da pesquisa. A Atividade de Interação com Integração de Aprendizagens oportunizou a articulação do conteúdo pela compreensão das relações conceituais em conjunto com ações interconectadas com processos e operações colaborativas em aula. Foi possível a tomada de consciência de que, para atingir o objetivo proposto, é necessário que ele seja um motivo capaz de conduzir o sujeito, na dinâmica do trabalho colaborativo, nas relações interpessoais. Para alguns estudantes, a atividade propiciou novos motivos com deslocamento de sua atividade principal para novos objetivos, cujo cumprimento exigiria novas dinâmicas, com vistas à superação de problemas que emergiram. Como limite, observou-se que alguns estudantes não se envolveram conforme era esperado, o que pode ser atribuído à dificuldade inicial de mobilizar os conhecimentos estudados, na relação com situaçõesproblema vivenciadas no decorrer das aulas. A tese possibilitou avançar no entendimento do processo de ensino e abre um convite para novas oportunidades de investigação, a exemplo da reestruturação da atividade para que seja realizada ao longo de todo o semestre letivo, com articulação dos conteúdos curriculares, em suas significações e contradições, com vistas à expansão da aprendizagem para além das fronteiras da aula. Palavras-chave: Referencial Histórico-Cultural; Teoria da Atividade; Formação de Professor; Integração de Aprendizagens; Ensino de Graduação em Administração. ABSTRACT The motive behind the development of this thesis was the need to understand theoretically the process of cycles didactic action that would enable the understanding Production pedagogical content, whose learning were beyond calculation techniques conventionally used. To this, aimed to investigate the limits and potentialities of an "Interaction and Integrated Learning Activity", in order to understand dynamically how the knowledge and professional performance situations are related to this field of knowledge, in an environment that enables social interactions diverse. The theoretical framework that guides this thesis is directed by the historical and cultural theory, focusing on activity theory, together with approaches regarding the constitution of teaching. The organization and development methodological of research was based by action research method. The construction qualitative process, analysis and data interpretation was oriented by discourse textual analysis. Mobilization of knowledge, social interactions and political relations was defined as the priori categories of analysis. The academic classes to empirical field of research involved two production management classes in a Brazilian Federal University. The first was considered the pilot phase of the research. The Interaction and Integrated Learning Activity provided an opportunity to understanding the link the relationships between the conceptual content with the interconnected collaborative actions and process in classes. In the collaborative interpersonal relationship of the work dynamics is able to transform the motive of students in action to obtain their goals. For some students, the activity provided new reasons to shift its activity to new goals, compliance with which would require new dynamics, in order to overcome the problems that have emerged. As a limit, it was observed that some students were not involved as expected, which can be attributed to the initial difficulty of mobilizing knowledge studied in relation to problem situations experienced during the classes. This thesis was possibility an advanced understanding of the teaching process and opens an invitation to new research opportunities, such as the restructuring of the activity to be performed throughout the semester curriculum content, with a view to expanding learning beyond the boundaries of the classroom. Key-words: Referential Historic-Cultural; Activity Theory; Teacher Education; Integration of Learning; Business Administration teaching. LISTA DE SIGLAS ANGRAD - Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração ATD - Análise Textual Discursiva CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior CESNORS - Centro de Educação Superior Norte do Rio Grande do Sul CNE - Conselho Nacional de Educação CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico ERP - Enterprise Resource Plan FEA-USP - Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo IES - Instituições de Ensino Superior Kanban – Técnica Japonesa de controle da produção MDF - Tipo de material utilizado para construção de móveis MRP – Material Requirement Planning OC – Ordem de Compra OF – Ordem de Fabricação OM – Ordem de Montagem PCP – Planejamento e Controle da Produção PMP – Planejamento Mestre da Produção PPC – Projeto Pedagógico de Curso RAEP – Revista Administração: ensino e pesquisa Set up – Tempo de preparação de máquinas ou de ciclo de produção SIE/UFSM – Sistema de Informações Educacionais da UFSM UFSM - Universidade Federal de Santa Maria UNIJUÍ – Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul ZDP – Zona de Desenvolvimento Proximal LISTA DE FIGURAS Figura 1: Ciclo de desenvolvimento conforme a teoria da atividade .......................36 Figura 2: Sistema de atividade ................................................................................47 Figura 3: Síntese das fases da Atividade de Integração com Integração de Aprendizagens ........................................................................................................103 Figura 4: Dinâmica de interação com integração de aprendizagens para processos contínuos ...............................................................................................123 Figura 5: Dinâmica de interação com integração de aprendizagens para processos intermitentes integrados .........................................................................125 Figura 6: Instrumento usado para a unitarização e categorização ..........................132 SUMÁRIO 1 INTRODUÇÃO ................................................................................. 11 2 A TEORIA DA ATIVIDADE HISTÓRICO-CULTURAL .................... 19 2.1 Aportes da abordagem histórico-cultural na compreensão da constituição humana ............................................................................................21 2.2 Aportes da teoria da atividade na compreensão da constituição humana...................................................................................................................31 2.2.1 O motivo no ciclo de desenvolvimento da atividade .......................................36 2.2.2 As relações de interações sociais no ciclo de desenvolvimento da atividade ..................................................................................................................38 2.2.3 As ações para a constituição do ciclo de desenvolvimento da atividade .......41 2.2.4 As funções psicofisiológicas no ciclo de desenvolvimento da atividade .........45 2.2.5 Os sistemas de atividade ...............................................................................46 3 APORTES TEÓRICOS ACERCA DA CONSTITUIÇÃO DA DOCÊNCIA ......................................................................................... 49 3.1 A constituição da docência no ensino de graduação ..................................49 3.2 Considerações acerca do ensino e da docência na área de Administração .......................................................................................................66 4 O CAMPO DA MANUFATURA E SUAS IMPLICAÇÕES NO ENSINO DE ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO .............................. 75 4.1 O pensamento moderno e suas implicações na estruturação e no crescimento empresarial ......................................................................................77 4.2 O cotidiano empresarial da Administração da Produção: uma análise do cenário cultural da manufatura brasileira ......................................................83 4.3 O conteúdo didático de MRP no ensino de Administração .........................88 5 A PROBLEMÁTICA E O CAMINHO METODOLÓGICO DA ATIVIDADE PROPOSTA EM SEU PROCESSO DE PESQUISAAÇÃO .................................................................................................. 92 5.1 A pesquisa-ação como proposta de sistematização do estudo desenvolvido .........................................................................................................93 5.2 Delimitação do contexto problemático e dos objetivos da pesquisa .........96 5.3 Atividades de Interação com Integração de aprendizagens: estrutura e organização ..................................................................................................... 99 5.3.1 Primeira aula: mediação do conhecimento científico .................................. 115 5.3.2 Segunda aula: ressignificação dos conceitos científicos em ações simuladas do cotidiano ......................................................................................... 117 5.3.3 Terceira aula: articulação dinâmica de aprendizagens ............................... 121 5.3.4 Quarta aula: análise final das atividades desenvolvidas e as sistematizações .................................................................................................... 128 5.4 Procedimentos metodológicos da pesquisa ............................................. 129 6 ANÁLISE DA ATIVIDADE DE INTERAÇÃO COM INTEGRAÇÃO DE APRENDIZAGENS DESENVOLVIDA EM AULA ................................................................................................ 135 6.1 As aulas de mediação do conhecimento científico ................................... 139 6.2 A aula de ressignificação dos conceitos científicos ................................. 152 6.3 A aula de articulação dinâmica de aprendizagens .................................... 169 6.4 A aula de análise geral da atividade de interação com integração de aprendizagens .................................................................................................... 179 7 CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................... 190 REFERÊNCIAS ................................................................................. 195 1 INTRODUÇÃO As Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Bacharelado em Administração ensejam que o perfil do egresso tenha “formação, capacidade e aptidão para compreender as questões científicas, técnicas, sociais e econômicas da produção e seu gerenciamento, observando os níveis graduais do processo de tomada de decisão” (BRASIL, 2005, p. 2). Observa-se ainda que, de acordo com o arcabouço legal que regulamenta a profissão (BRASIL, 1965), uma das atribuições profissionais do administrador é a que se refere à Administração da Produção, a qual é, então, uma das áreas específicas de formação do referido curso. Assim, o ensino de conceitos inerentes à produção é organizado em disciplinas que tratam de um conjunto de conteúdos da formação profissional, a exemplo daqueles centrados na compreensão, organização e gerenciamento da estrutura de manufatura de uma organização empresarial. Ou seja: em atenção ao estabelecido pela legislação educacional brasileira, as Instituições de Ensino Superior – IES – inserem componentes curriculares da área de Produção em seus currículos, por meio dos Projetos Pedagógicos de Cursos – PPC (PEINADO; GRAEML, 2012). Isso situa a importância de compreender a especificidade da contribuição do ensino e da aprendizagem dos conteúdos e conceitos desse campo do conhecimento que constitui a formação dos futuros administradores. Conforme se pode observar, no Brasil, nos últimos anos, houve uma acentuada evolução tanto no número de matrículas quanto no número de cursos de Administração, os quais representam aproximadamente 7,5% do total de cursos e 12,2% dos estudantes matriculados em 2011, observando-se, também, que há ingresso de estudantes cada vez mais jovens no ensino de graduação (BRASIL, 2011). Frente a este cenário, as IES necessitam estruturar seus PPC (AMBONI; ANDRADE, 2002) de modo a atender à legislação e mobilizar recursos científicos e pedagógicos, além dos recursos materiais inerentes ao desenvolvimento do conteúdo desse campo do saber. Para isso, além de outras iniciativas, elas contratam docentes com qualificação, experiência e 12 conhecimentos nessa área da formação profissional de seus egressos. No entanto, muitos desses docentes não possuem a qualificação pedagógica pertinente a sua atuação no ensino de graduação em Administração, emergindo, assim, uma problemática que demanda estudos e investigações (KREUZBERG; RAUSCH, 2013). Muito embora o estado da arte e o desenvolvimento da pesquisa e da extensão no campo da Administração contemplem conhecimentos e referenciais significativos na dimensão técnica, com investimentos que tendem a estar direcionados aos usos e aplicações dos conhecimentos científicos diretamente no meio empresarial (SOUZA; CHAGAS; SILVA, 2011), o que se percebe é que a realidade é bastante diferente no campo do ensino de Administração. O tema desta tese, partindo do contexto mais amplo que diz respeito ao ensino de Administração da Produção, emergiu da preocupação com dificuldades enfrentadas pelos egressos do curso, quando iniciam a carreira profissional, por não conseguirem mobilizar e colocar em ação os conhecimentos construídos ao longo da formação acadêmica. A proposição da tese partiu da crença de que cabe ao docente universitário, em primeiro lugar, a missão de compreender criticamente as dinâmicas de ensino por ele desenvolvidas em sala de aula, e sobre elas refletir, na perspectiva de articular, sempre mais, os conteúdos disciplinares com situações da vivência profissional, complexas e imprevisíveis, como é o mundo do trabalho. Por considerar que essas dimensões fazem parte da responsabilidade da atividade docente de dirimir a lacuna entre os conhecimentos acadêmicos e a futura atuação profissional do administrador, com essa preocupação inicial, a pesquisa foi desenvolvida com o intuito de: analisar uma proposta de ensino que articulasse a possibilidade de tomada de consciência (LEONTIEV, 1978a) das implicações de conteúdos estudados no curso com algumas das inúmeras possibilidades de articulação dos mesmos na vida do trabalho. São poucos os casos de estudos e pesquisas realizadas com preocupação de compreender e desenvolver a articulação entre o meio acadêmico e o campo profissional da produção (SATOLO, 2011). Isso situa a importância de investigar interações entre conhecimentos mobilizados nesses dois distintos contextos socioculturais. A mesma limitação ocorre acerca da 13 investigação que implique a elaboração de material didático que oportunize o aprendizado conceitual nesse campo do saber (MEDINA-LÓPEZ; ALFALLALUQUE; MARIN-GARCIA, 2011a). Mesmo com o esforço da academia em preparar os estudantes para suas futuras atribuições profissionais, no contexto empresarial, houve-se queixas de que falta capacidade ou aplicabilidade dos conceitos estudados na academia quando os egressos iniciam sua atuação na carreira profissional (SILVEIRA, 2009). Frente ao questionamento de que o que é estudado na academia não se transforma em ações ou resultados práticos imediatos para os profissionais, quando egressos do meio acadêmico, esse ruído tem estimulado “propostas de inovação na formação de gestores com um perfil mais adequado ao interesse das organizações” com vistas aos interesses exclusivos das organizações (OLIVEIRA; SAUAIA, 2010, p. 3). Trata-se de uma linha de abordagem, sobre a qualificação para o mundo do trabalho, que vem ganhando espaço nos debates acadêmicos. Nessa perspectiva, a temática das relações dicotômicas entre os conhecimentos acadêmicos e as práticas organizacionais tem sido objeto de estudos diversificados (SANTOS, 2009; MATTOS, 2010; OLIVEIRA et al., 2010). Alguns Cursos de Bacharelado em Administração têm buscado iniciativas pedagógicas para superar tal dicotomia. Um exemplo é a tentativa de alinhar propostas pedagógicas, cuja finalidade seja a de propiciar uma visão do estudante menos idealizada em relação à atuação profissional. Para romper com essa lacuna, um caminho é a adoção de didáticas com foco em vivências formativas em que o futuro profissional desenvolva seus aprendizados pela análise de situações-problema da prática. São exemplos, a apresentação e estudo sobre estudos de casos empresariais (ELLET, 2008) ou o uso de jogos de empresas computacionais (SAUIA, 2012), cujo foco de análise está na competição centrada na obtenção dos melhores resultados econômicos e financeiros para as organizações. Um cuidado que se faz necessário ao abordar qualquer uma dessas estratégias de ensino está no fato de não padronizar ou delimitar os processos educacionais de graduação com a visão de capacitação profissional que atenda apenas aos interesses e necessidades do mercado empresarial. Melo, Robles e Assumpção (2010) defendem a ideia de que há necessidade 14 constante de buscar alternativas que propiciem relações de convivência entre as organizações e a academia em prol do desenvolvimento intelectual e profissional dos indivíduos, na direção do aprendizado pela inter-relação de teorias e práticas. Além disso, há o viés focado no desenvolvimento de uma nova prática gerencial com valorização da cidadania, do respeito e cuidado entre os indivíduos e o meio ambiente, bem como numa conduta ética profissional. Isso tudo passa pela necessidade de desenvolver uma educação administrativa que valorize as pessoas e promova a vida, vista como um todo. Pensar sobre essa temática, ao propor a elaboração desta tese, significou voltar-me para uma reflexão sobre as atividades profissionais que venho desenvolvendo como docente do Curso de Bacharelado em Administração. Ao abordar os conteúdos por meio quase que exclusivo da estratégia de ensino do tipo aula expositiva – estilo de aula predominante no início de minha caminhada docente – percebia que o tema era estudado pelos acadêmicos como algo muito distante e de difícil compreensão, com decisões não lineares que não representavam uma única resposta para a melhoria do desempenho de uma fábrica, por ser um conteúdo bastante fundamentado em cálculos. Com a participação em alguns cursos de formação pedagógica, meu entendimento sobre as estratégias de ensino foi me levando a questionar sobre como oportunizar outros significados dos conteúdos. E esse fato começou a me angustiar. Em busca de modificar essa situação, tomei a iniciativa de desenvolver alguns experimentos de ação didática, que abrangiam outras formas de conduzir o processo pedagógico da aula e tornar o assunto mais interessante, com novas ações didáticas focadas para a aprendizagem. Fui realizando algumas experiências com o uso de materiais concretos, como a desmontagem e montagem de aparelhos de DVD, para ilustrar a organização de uma estrutura do produto. Em outra aula, a ação didática buscava simular uma fábrica como princípio de manufatura enxuta (AMORIN et al., 2010), com análise meramente no resultado técnico-operacional. Em outra disciplina do curso, que também ministro, a ação didática abrangeu a elaboração de um jogo dramático, simulando uma participação em feiras de negócios internacionais (DA VEIGA; LIMA; ZANON, 2012). Esses são exemplos de ações didáticas que visavam articular o conteúdo com didáticas 15 alternativas para ensino de Administração. Essas ações eram fundamentadas em alguns referenciais pedagógicos, mas sem o uso de uma teoria consistente que norteasse o desenvolvimento das ações e suas sistematizações. Alguns resultados de investigações preliminares realizadas durante o doutorado foram objetos de publicação, como o artigo que trata de uma aula que articula conceitos disciplinares em torno da temática referente à produção do conhecimento pedagógico do conteúdo (SHULMAN, 2005), articulado com a epistemologia da prática da reflexão-na-ação e sobre a ação (SCHÖN, 2000) no ensino de Material Requirement Planning – MRP ou Planejamento das Necessidades de Materiais (DA VEIGA; ZANON; ZUCATTO, 2013). Outra publicação foi o artigo que aborda o trabalho acerca do desenvolvimento do texto didático do conteúdo de Planejamento Mestre de Operações, à luz da teoria da atividade (DA VEIGA; ZANON, 2013) utilizado na primeira aula que trata deste tópico. À medida que foi sendo iniciado esse processo de reconstrução pedagógica do ensino desenvolvido em sala de aula, fui percebendo que essas ações preliminares já iam provocando movimentações diferentes dos estudantes durante e após as aulas. Muitos deles realizavam a captura das imagens da aula em seus celulares ou câmeras fotográficas e as postavam em suas redes sociais, sendo também comentadas nos discursos de formatura da turma, cujas mensagens me motivaram a persistir. Mas tal caminhada não ocorreu somente com ações que atingiram bons resultados. Nela também houve dificuldades, limites e críticas. Percebi que alguns estudantes não concordam com novas sistemáticas de ensino, querem saber de antemão os resultados e problematizam as novas finalidades. Há colegas professores que ainda estão arraigados a suas concepções e mantém a visão tradicional e conservadora do ensino, na área. Em momentos inoportunos fazem críticas acerca das novas ações. O meu silêncio, naqueles momentos, foi a minha resposta para essas resistências e questionamentos. Na busca por subsídios às inovações e por avanços na fundamentação teórica com orientação pertinente, o caminho foi buscar encontrá-los no doutorado em Educação nas Ciências. Assim, esses foram os motivos que me levaram a empreitada desta tese. 16 Em relação à escolha do tópico de MRP e das ações das equipes do Planejamento e Controle da Produção - PCP como conteúdo do ensino que iria utilizar para esta pesquisa, o critério foi o fato de se tratar de um conteúdo que ministro em aulas do componente curricular de Produção, Materiais e Logística II, além do fato de ser um tema ainda pertinente a muitas organizações empresariais, sendo assuntos considerados consolidados na teoria da área (RUSSOMANO, 1995; SLACK et al. 2002; LAUGENI; MARTINS, 2006; MOREIRA, 2008; TUBINO, 2008; KRAJEWISKI et al., 2009; BOYER; VERMA, 2010), oportunizando a análise com foco nos resultados pedagógicos da pesquisa. Outro fato foi um episódio ocorrido quando eu ainda era estudante de graduação em Administração, em que o professor, ao ministrar o conteúdo de MRP, não havia conduzido o processo pedagógico de maneira que a turma se envolvesse e entendesse o referido conteúdo. Lembro que o tema gerou controvérsias e muitos colegas, então estudantes, questionavam se não haveria outra maneira de ser ministrada aquela aula. Passados vários anos após este fato, observo que muito pouco foi mudado no ensino de MRP com vistas às questões operacionais decorrentes das equipes de Planejamento e Controle da Produção. Diante do exposto, nesta tese é proposta, apresentada e investigada uma atividade de ensino que articule pedagogicamente os conteúdos acadêmicos e científicos com situações problema da prática profissional, para que sua implementação, acompanhada de investigação, permita avanços na compreensão da problemática em discussão. A sistemática da investigação foi proposta em busca de compreender, mesmo com as limitações inerentes a toda ação didática, como promover o acesso pedagógico dos estudantes aos conceitos estudados conceitualmente em aula e as possibilidades de seu entendimento profissional, por meio de uma atividade de ensino estruturada para essa finalidade. De uma maneira ou outra, essas ações implicam em aprendizados que remetem para possibilidades e limites da formação profissional no que se refere às relações entre os conhecimentos teóricos que circulam no contexto acadêmico e diferentes situações-problema que permeiam a atuação profissional. 17 A atenção se volta para dimensões de aprendizado associadas com conceitos que integram a teoria da atividade (LEONTIEV, 1978a) e se entrecruzam em tramas de sentidos e significados sistematicamente em movimento de (re)construção, nas ações e interações. Como argumentam Vieira e Sforni (2010, p. 53), por meio da teoria da atividade se “procura mostrar a relação entre a atividade laborativa e o desenvolvimento do homem” por meio de objetos tangíveis e intangíveis e da produção de instrumentos de trabalho. Ao buscar se apropriar da cultura e do uso consciente desses objetos, o homem se apropria dos conceitos ali objetivados, como relações dialeticamente transformadoras. Nessa perspectiva, na atividade que é objeto de investigação nesta tese, o estudante “ativo” no processo educacional de graduação é aquele que se apropria dos conceitos e dos conhecimentos teóricos relacionados a um desenvolvimento cognitivo implicado, conjuntamente, nos aspectos sociais, culturais, ético-morais e políticos, constituintes do humano. Isso lhe propicia expandir seus aprendizados para além das questões formais da academia e lhe oportuniza tomar consciência de inúmeras e diversificadas situações de incerteza que a vida profissional pode propiciar. A complexidade e diversidade das situações da vida necessitam ser abarcadas durante a formação do futuro administrador, para que ele tenha condições de entendimento construído a partir da análise mediada por objetos que oportunizem sentidos aos conceitos e às ações necessárias para a resolução de problemas da atuação profissional. Este é o pano de fundo que situa a problemática em estudo nesta tese. Ao abarcar a teoria da atividade (LEONTIEV, 1978a) como referência para a análise de processos de ensino orientados ao desenvolvimento das funções psicofissiológicas superiores, por meio do estímulo ao deslocamento da atividade principal do estudante, a investigação girou em torno de uma vivência de aprendizagem expandida (ENGESTRÖM; SANNINO, 2010), com vista a tomada de consciência sobre limites e possibilidades dos conhecimentos nela mobilizados. Para isso, foi proposto e investigado um ambiente de ensino que propiciasse aprendizados dinamicamente articulados entre si, o qual foi denominado de Atividade de Interação com Integração de Aprendizagens. 18 Para a apresentação do trabalho desenvolvido, esta tese foi estruturada em cinco capítulos centrais, além da introdução e das considerações finais. Nela, após a introdução, no capítulo 2, é tratada a vertente histórico-cultural com base central em Vigotsky (2007 e 2008), seguida de aspectos referentes à teoria da atividade, cuja base encontra-se em Leontiev (1978a) e uma breve abordagem sobre os sistemas de atividade. No capítulo 3 são debatidos aportes teóricos acerca da constituição da docência para o ensino de graduação e para o ensino da área de Administração. O capítulo 4 está focado na apresentação do contexto histórico, do cotidiano das organizações e da área científica do conhecimento pesquisado nesta tese. Em seguida, no capítulo 5 é debatida a estrutura e a organização da Atividade de Interação com Integração de Aprendizagens, bem como a organização metodológica da pesquisa. No Capítulo 6 é apresentado e analisado os resultados referentes a cada uma das aulas desenvolvidas, com uma análise geral e metatextos elaborados a partir das mesmas. E, para concluir este trabalho de tese, apresentam-se as considerações finais abarcaram este trabalho. seguido dos referenciais que 2 A TEORIA DA ATIVIDADE HISTÓRICO-CULTURAL O título deste capítulo foi inspirado num dos autores que, nos últimos vinte anos, vêm expandindo a pesquisa acerca da “cultural-historical activity theory” (ENGESTRÖM, 2011, p. 607), que, em uma visão longitudinal, trata de três gerações de estudos no âmbito dessa temática, as quais são brevemente descritas a seguir. A abordagem histórico-cultural, segundo Engeström (2011), representa a primeira geração. Sua centralidade está na visão de que o desenvolvimento do sujeito humano ocorre pelas mediações no meio social em que está inserido, nas interações existentes entre as pessoas. Vigotsky (2007) comenta que essas interações ocorrem por meio do signo, ou seja, de uma linguagem compreensível entre os interlocutores, que possibilita o significado de um determinado conceito. Para Wertsch (2007), a principal unidade de análise do contexto histórico-cultural está no entendimento de como ocorrem os processos de mediação. A segunda geração é baseada em Leontiev (1978a), que considerou as formas das relações coletivas que possibilitam as significações concretas para o desenvolvimento do psiquismo humano, como unidade central de análise. As formas de relação entre aprendizagem e desenvolvimento possibilitam, segundo a teoria da atividade, a tomada de consciência do mundo e oportunizam significações concretas para a constituição do psiquismo humano, principalmente, sob três dimensões: i) pela atividade cognitiva que possibilita o desenvolvimento da consciência abstrata do conteúdo (teórico e prático); ii) pela ação social humana concreta que possibilita o desenvolvimento da consciência do mundo objetivo e iii), pela ação política que se refere às relações com as questões de poder. Uma pessoa que se “esforça para agir nesse mundo” é aquela que “domina o mundo que a cerca” (LEONTIEV, 1988, p. 120). Assim, ele estabelece um contraste entre dois mundos, dialeticamente interconectados: o das propriedades abstratas e físicas das coisas e o das relações entre os homens e estas propriedades. Da contradição entre o desenvolvimento da “necessidade de agir com os objetos” e o desenvolvimento “das operações que 20 realizam tais ações”, emergem situações importantes de serem compreendidas e caracterizadas, nas quais as pessoas ainda não apresentam capacidades de agir sozinhas, “principalmente porque ainda não dominaram e não podem dominar as operações exigidas pelas condições objetivas reais da ação dada” (idem p.121). A terceira geração representa o momento presente e está focada no estudo das interações, no mínimo, entre dois ou mais sistemas de atividade, cuja unidade de análise requer que se tenha um objeto parcialmente compartilhado (ENGESTRÖM, 2011). Um conjunto de ações em si mesmas não provoca necessariamente uma atividade produtiva no sentido de desenvolver uma conexão pela qual ocorre a mudança no desenvolvimento psíquico da pessoa. Elas servem de mediação para preparar o caminho de transição de uma condição atual para um novo e mais elevado nível de desenvolvimento. A transformação de um conjunto de ações em uma atividade principal ocorre quando aquele interfere de forma marcante no desenvolvimento humano (LEONTIEV, 1978a). A partir desse esclarecimento sobre a formulação do título deste capítulo, para tratar da temática que ele expressa, num primeiro momento, são apresentados aportes teóricos acerca do referencial histórico-cultural com base em Vigotsky (2007, 2008) e em outros pesquisadores contemporâneos que estudam questões pertinentes a tal referencial. Num segundo momento, são abordados aportes teóricos relacionados com a teoria da atividade, como mecanismo de desenvolvimento humano oriundo da atividade principal e como sistema de atividade com influência na tomada de consciência do mundo objetivo. Assim, em busca de compreender as conexões psíquicas que se configuram ou são formuladas durante e após o período em que a atividade principal é realizada, este capítulo apresenta e discute entendimentos sobre tais conexões e sobre relações das mesmas com a aprendizagem e o desenvolvimento humano. 21 2.1 Aportes da abordagem histórico-cultural na compreensão da constituição humana A questão e o foco central dos estudos de Vigotsky (2008) estão situados na constituição da mente humana por meio da linguagem e do pensamento, como relação que vincula o pensamento à palavra, a percepção à ação e a memória à percepção. Segundo esses estudos, a internalização de significados históricos e culturais ocorre pela mediação dos artefatos culturais que externamente são apresentados às pessoas, num processo de internalização da cultura que torna próprio o que não era próprio, torna pessoal o que não era originalmente da pessoa. Nos dizeres de Wertsch (2007, p. 178), o “processo de mediação é um tema que percorre toda a obra de Vigostky”, sendo uma das características mais essenciais à consciência humana. Em seu manuscrito, Vigotsky (2000) argumenta que a formação das funções psíquicas superiores dos indivíduos, seja em fase embrionária, semipronta ou pronta, mas é no coletivo que ela é exercitada, desenvolvida, enriquecida, torna-se complexa em uma direção. Também, em uma posição contrária, as funções psíquicas superiores podem ser freadas ou oprimidas. Sua constituição, primeiramente, se constrói no coletivo, mediada pelas interações entre as pessoas, desde os primeiros momentos de vida. De acordo com Rego (1995), a singularidade e o desenvolvimento do sujeito humano ocorrem a partir das constantes interações e mediações pelo meio social ao qual se está inserido. Laplane e Botega (2010, p. 18) argumentam que a noção de mediação na abordagem histórico-cultural encontra-se no “modo como o meio social cria ou converte relações sociais em funções mentais”. A interação, para Vigotsky (2008), pode ser entendida como a relação social que busca um significado do que se diz. A palavra não se refere a um objeto separado de um contexto, mas a um grupo de objetos que definem um determinado conceito entre os interlocutores em um ato verbal do pensamento, denominado de pensamento verbal. A fala humana passa a ser o sistema mediador, indicando o sentido da palavra. As palavras passam a ser associadas pelo seu significado semântico e fonético, sendo que cada um deles apresenta suas próprias leis de movimento. Para que a palavra se torne chave do processo de internalização, conforme 22 Smolka (1996) é necessário ocorrer uma série de transformações, representadas inicialmente por uma atividade externa, comunicativa e social, que constitui a matriz de significações da fala para si. Ao externalizar suas ideias, a pessoa faz um movimento dialógico entre o pensamento, que apresenta uma estrutura abreviada e predicativa, e a estrutura social comunicativa da fala externa. Um segundo fato está na diferença entre o sentido semântico que uma determinada frase pode representar e o processo ou fato que leva a sua significação. Vigotsky (2008) afirma que há divergência entre os aspectos semânticos e fonéticos, sendo que na fala dos adultos, isso é mais relevante. Essa interdependência do contexto com o que uma mesma frase quer dizer, depende diretamente dos fatos que estão sendo analisados para o contexto do momento em que a mesma é falada. Laplane e Botega (2010) consideram que essa interdependência ocorre devido às interações do homem no grupo social em que convive. A interdependência dos aspectos semânticos e gramaticais em um determinado contexto é que propicia o entendimento de uma fala. Mostram que as alterações na estrutura formal dessa fala podem provocar profundas alterações no seu significado. As expressões verbais apresentam um papel importante para o entendimento do contexto que se está buscando expressar e essa expressão verbal é desenvolvida gradativamente. “Esse complexo processo de transição do significado para o som deve, ele próprio, ser desenvolvido e aperfeiçoado” (VIGOTSKY, 2008, p. 160). Desde criança é necessário aprender a realizar a distinção dessas duas naturezas da palavra, bem como realizar a compreensão da natureza desta distinção. Ao se proferir uma palavra, carregamos junto dela o seu referente, ou seja, sua função nominativa, bem como o seu significado, inerente da função significativa da palavra. Esse caminhar do entendimento das funções nominativas para as significativas não são formações básicas das pessoas e essas se constituem com o seu desenvolvimento e esse se completa quando se é “capaz de formular os próprios pensamentos e compreender a fala do outro” (idem, p.162). Ao aprofundar essa questão, Vigotsky (2008) investiga o terceiro fato da relação pensamento e linguagem no plano da fala interior. A fala interior não 23 pode ser vista com uma fala sem som. Nela, a relação entre pensamento e palavra apresenta uma natureza própria, que difere da fala oral, de modo que a ideia ou imagem de um objeto esteja completa, não necessitando de significações para a sua interpretação. Ao tocar, ver, cheirar ou até mesmo pensar em um determinado objeto, todas as suas características e propriedades já estão presentes subjetivamente. No entendimento de Carvalho (1997, p. 154), “a fala interior caracterizase pelo predomínio do sentido sobre o significado, mas é o significado da palavra que é a matéria constitutiva da fala interior, da unidade do pensamento verbal”. O funcionamento mental ocorre por meio do significado da palavra materialmente internalizada e é, ao mesmo tempo, recurso e fonte de mediação para o entendimento dos sujeitos. A fala interior é uma atividade intelectual emotivo-volitiva que desperta nossa consciência em um todo complexo, fluido e dinâmico. “É uma função autônoma, um plano específico do funcionamento verbal e a sua transição para a fala exterior não é a tradução de uma linguagem para a outra” (idem p.155). Por ser de estrutura predicativa, sintética, idiomática e inteligível para os outros, a fala interior opera independente e simultaneamente com a fala exterior e para que esse processo ocorra, exige uma dinâmica complexa de inter-relação motivada por desejos, interesses, necessidades ou emoções que a pessoa tem intensão de transmitir ou de compreender. Após ter examinado a fala exterior e a fala interior, Vigotsky (2008) analisou as questões relacionadas à comunicação escrita. Sua estrutura principal se baseia no significado formal das palavras, o que requer uma quantidade maior e melhor articulada de palavras, para que seja possível a transmissão de um mesmo pensamento ou ideia na forma escrita, como se fosse pela forma falada. Olson (1998, p. 98) considera que “a possibilidade que os sistemas gráficos com uma sintaxe possam ser lidos como expressões em uma língua natural, é o que torna a forma escrita um modelo para a fala”. Vigotsky (2008, p. 179) argumenta que “a escrita é a forma de fala mais elaborada”. Ao se realizar a escrita de um determinado pensamento, se faz necessário que ela possa transmitir, para um interlocutor ausente, o tom e as ênfases que se pretendem. Para que a escrita transmita o que se quer, se exige mais e precisas palavras para esta articulação. Na fala oral, a 24 transmissão é mais fácil por ser possível se utilizar de mudanças do tom de voz e das expressões corporais simultaneamente realizadas. A forma escrita, em relação à oral, é mais lenta e consciente forma de expressão de um pensamento. Como ela somente ocorre com as palavras e suas devidas articulações gramaticais, provoca a necessidade de organização de rascunhos, seja em nosso processo mental ou na materialidade de um manuscrito, por exemplo. Exige um planejamento do que se quer dizer, e, baseado nesse plano, faz-se necessário também uma releitura e a verificação se o que foi escrito era o que se queria dizer. A interligação complexa, de vai e vem, entre o pensamento e a escrita, é ocasionada devido à estrutura escrita exigir sujeito, predicado e sentido, e esses serem articulados com o que se quer transmitir, possibilitando a elaboração dessa construção, por meio da sintaxe. Conforme Olson (1998) é o ato de refletir se o que está dito, de forma escrita, que fornece uma forma para o discurso de maneira a representar aquilo que realmente se quer dizer. É esse movimento do escrito para o pensamento e vice-versa, que afeta significativamente a consciência e a cognição. Em seu estudo com crianças em fases de alfabetização, Smolka (1996) relata que elas se utilizam de diversos mecanismos para realizar esse vai e vem do pensamento, passando pela sua oralidade predicativa, até formar um escrito definitivo. Dessa forma, constata-se que a criança avança na escrita pela retomada constante ao texto, ao seu pensamento e desse, novamente para o texto. Esse trabalho de escrita também transforma a oralidade, altera seus ritmos e as entonações vão variando à medida que a sua produção escrita vai deixando marcas mais elaboradas no seu pensamento. Dessa forma, pode-se “perceber indícios da complexa situação de interlocução que a criança experiencia ao começar a escrever” (SMOLKA, 1996, p. 61). Por sua vez, no âmbito desta tese, uma das atenções voltou-se para a escrita por parte dos acadêmicos. No ensino universitário, o estudante, ao fazer uso da escrita com as formas de expressão das quais já se apropriou, avança em seus processos de apropriação e uso dos signos, com a mobilização de novas formas de linguagem e pensamento, a partir do momento em que são amadurecidos os significados conceituais das palavras. Quando não há uma compreensão polissêmica associada com inter-relações conceituais envolvidas 25 na compreensão de uma palavra no contexto de um campo específico de conhecimento, ela não é significativa para o entendimento da linguagem científica de que ela trata. Se não é realizado o processo de significação da palavra, nos dizeres de Wenzel (2013, p. 22), o acadêmico “não faz o uso dela na escrita, não consegue elaborar um pensamento usando tal palavra e, consequentemente, não escreve a partir dela”. E, de acordo com Olson (1998), a formação da análise da escrita ocorre a partir do momento em que há o domínio das propriedades formais do significado da linguagem por meio de lógicas baseadas na gramática e nos aspectos estruturais do discurso. Esses são entendimentos importantes a serem levados em conta no ato da docência, para que os processos de mediação dos conhecimentos científicos, a exemplo dos ensinados em aulas de MRP, possam propiciar aprendizados com significação conceitual, diferentemente das repetições limitadas a atos mecânicos que não envolvem inter-relações de conceitos. Nesse sentido, uma reflexão a ser feita é a que se refere à insuficiência da escrita, por parte do acadêmico, sobre um determinado assunto ou conteúdo, apenas a partir dos seus conhecimentos. Cabe ao professor orientar o estudante, mediar seus estudos e aprendizados, a exemplo dos processos de escritas e reescritas sobre um determinado conteúdo, com movimentos de ir e vir que, num contexto vigotskyano, possibilita “aos estudantes a tomada de consciência e a sistematização dos conceitos”, conforme descrito por Wenzel (2013, p. 208). Por outro lado, por mais elaborada que ela se torne, a escrita da pessoa adulta jamais terá o sucesso de determinar completamente a sua leitura (OLSON, 1998). Uma mesma escrita pode ser lida de diversas formas, em diversas entonações, devido ao fato que a estrutura da escrita não consegue exprimir, em sua totalidade, as propriedades fonológicas da língua. Assim, a estrutura gráfica não determina completamente a sua leitura. Ao ler uma determinada escrita, busca-se realizar a decodificação do texto ou a sua interpretação. A escrita fornece uma forma conceitual para o discurso, mas ela não é uma transcrição literal desse discurso, devido ao fato que ela tende a limitar as relações a outros traços da linguagem que são igualmente importantes à comunicação humana. O autor finaliza suas ideias ao afirmar 26 que, “longe de transcrever o discurso, os sistemas escritos criam as categorias nos termos dos quais nos tornamos conscientes do discurso” (idem, p. 108). Ao se buscar demonstrar as relações existentes entre o pensamento e a fala, aquele não consiste em uma unidade separada de comunicação, pois, como diz Vigotsky (2008), o pensamento tem em si, quando se deseja realizar uma comunicação, todos os elementos do que se pretende transmitir em um só pensamento. Todos os elementos e características estão presentes e simultaneamente articulados, mas, para haver uma interlocução com manifestação de certo pensar, por meio da fala, faz-se necessário o desenvolvimento de uma determinada sequência comunicativa, por meio de palavras, para que seja possível a compreensão entre os interlocutores. Esse processo de desenvolvimento mental, com a ajuda de palavras, ou signos, é parte integrante do processo de formação dos conceitos. A formação de um conceito é o resultado de uma atividade intelectual complexa que utiliza todas as funções intelectuais básicas, bem como, pela emergência das funções mentais superiores que, de acordo com Pino (2000), são constituídas social e culturalmente. A presença de um problema que exige a formação de conceitos não pode, por si só, ser considerada a causa do processo, muito embora as tarefas com que o jovem se depara ao ingressar no mundo cultural, profissional e cívico dos adultos sejam, sem dúvida um fator importante para o surgimento do pensamento conceitual. Se o meio ambiente não apresenta nenhuma dessas tarefas ao adolescente, não lhe faz novas exigências e não estimula seu intelecto, proporcionando-lhe uma série de novos objetivos, o seu raciocínio não conseguirá atingir os estágios mais elevados, ou só os alcançará com grande atraso (VIGOTSKY, 2008, p. 73). Esse processo, isoladamente, não explica o mecanismo de desenvolvimento que resulta na formação de conceitos. A busca da compreensão das relações intrínsecas entre as atividades externas e a dinâmica interna de desenvolvimento é que se deve levar em consideração para a formação de conceitos que, na adolescência, não afeta apenas a formação de conteúdos, mas também o método de seu raciocínio. Para Góes (2000, p. 122), baseada no referencial vigotskyano, esse processo se inicia desde criança, sendo que “no espaço das ações lúdicas, a criança recria suas vivências cotidianas, reproduz modos culturais de ação com ou sobre objetos e 27 modos de relação interpessoal” e se desenvolve no decorrer da adolescência até a sua vida adulta, passando por três fases básicas, subdivididas em vários estágios. A primeira fase de formação de conceitos, segundo Vigotsky (2008), é denominada de sincrética e é caracterizada por uma superabundância de conexões subjetivas em relação a uma insuficiência de relações objetivas. Também ocorre a confusão dos elos subjetivos em relação aos reais, podendo ser identificados por agrupamentos desordenados de objetos sob o significado de uma palavra. A fase sincrética apresenta três estágios distintos. Para uma criança, (i) o significado de uma palavra é artificial e o acesso ao objeto, muitas vezes criado ao acaso, visando formar uma suposição por meio do estágio de tentativa e erro. O estágio seguinte (ii) é caracterizado por uma organização do campo visual da criança, que se forma com a contiguidade no tempo e no espaço dos elementos sincréticos isolados. O último estágio (ii) é composto de elementos retirados de grupos ou de amontoados diferentes. A segunda fase da formação de conceitos é denominada de pensamento por complexos, cuja caracterização ocorre quando os objetos, outrora isolados, associam-se na mente, não apenas devido às impressões subjetivas, mas também se utilizando das relações que de fato existem entre esses objetos. Vigotsky (2008, p.76) destaca que “o pensamento por complexos já constitui um pensamento coerente e objetivo, embora não reflita as relações objetivas do mesmo modo que o pensamento conceitual”, mesmo que, na fase de adulto, ainda possam ser percebidos resíduos desse tipo de pensamento. É caracterizado como um complexo as ligações concretas e factuais, não abstratas e lógicas, sendo que as ligações factuais subjacentes aos complexos são descobertas por meio da experiência direta; ou seja, um pensamento por complexo baseia-se no concreto, parte de um objeto. A importância do pensamento por complexos é que ele possibilita a estruturação mental para a formação do pensamento por conceito. Por sua vez, os complexos apresentam cinco tipos básicos, que se sucedem uns aos outros durante esse estágio de desenvolvimento. O tipo (i) associativo é o primeiro estágio do pensamento por complexos. É caracterizado por qualquer ligação que possibilite um núcleo comum de 28 entendimento com outro objeto, de maneira que seja formado um grupo que designe o nome comum a esses. O segundo estágio é denominado (ii) de combinações de objetos de forma concreta, em que seus grupos se assemelham a coleções. Esse estágio representa os agrupamentos feitos de forma embasada em uma característica que torna os grupos diferentes e complementares entre si, sendo que esse estágio permanece em um longo e persistente tempo do desenvolvimento do pensamento infantil. O estágio seguinte é o (iii) complexo em cadeia e se caracteriza figurativamente como os elos de uma corrente, ou seja, seu significado é transmitido de um elo a outro de forma dinâmica e consecutiva desses. Pode ser considerado como a forma pura do pensamento por complexos, devido ao fato que esse complexo não possui núcleo, como o por associação. Nela há relações entre os elementos isoladamente e mais nada. O quarto tipo de complexo descrito por Vigotsky (2008) é o (iv) complexo difuso, o qual consiste no fato de que as qualidades do objeto se tornam vagas e flutuantes; os seus atributos, nessa etapa, são formados por uma impressão de que se tem do objeto por causa de semelhanças reais, ou seja, é caracterizado pela fluidez do próprio atributo que une os elementos. O último estágio do pensamento por complexos é o mais elevado e o estágio final que encaminha para o pensamento por conceitos, o (v) pseudoconceito, que é a generalização formada na mente de uma amostra de objetos que, muito embora possa aparentemente ter sido agrupada de acordo com um conceito abstrato, está orientada ainda pela semelhança concreta e visível do objeto. A terceira fase, denominada de pensamento por conceito, é caracterizada quando a pessoa mantém uma lógica abstrata na caminhada ao entendimento. Trabalha na lógica da formação de um determinado tema, mantendo um pensar contínuo, vinculando e elaborando contextos numa linha de raciocínio. De acordo com Vigotsky (2008), o domínio da abstração combinado com a fase mais avançada do pensamento por complexos permite progredir até a formação dos conceitos verdadeiros. A maior dificuldade dessa fase é o uso de um conceito formulado e compreendido de forma abstrata em 29 novas situações concretas, que também devem ser visualizadas nos mesmos termos abstratos. Para Vigotsky (2008), a maneira de superar a lacuna existente entre a compreensão de um conceito já entendido e as novas formas de sua elaboração é estabelecida por meio da Zona de Desenvolvimento Proximal – ZDP. Segundo Salvador (1994), o conceito de ZDP foi a maneira original que Vigotsky propôs para entender o desenvolvimento humano e a sua vinculação com a aprendizagem. Em sua visão, a relação entre o nível de desenvolvimento real e a capacidade de aprendizado é que estabelecem os dois níveis de desenvolvimento. O primeiro nível corresponde ao “resultado de certos ciclos de desenvolvimento que já estão completados”, sendo denominado de nível de desenvolvimento real (VIGOTSKY, 2007, p. 95). São aquelas capacidades mentais que são possíveis de serem realizadas por si mesmas, sem a ajuda de outros. Assim, quando se atinge o nível de capacidade de resolução de problemas sem a assistência de outros é que se pode considerar atingido o nível de desenvolvimento real, sendo esse nível caracterizado como desenvolvimento mental retrospectivo. O segundo nível, aquele denominado de ZDP, é caracterizado como a distância entre o nível de desenvolvimento real, ou seja, aquelas capacidades já internalizadas e capazes de serem resolvidas sozinhas, e o nível de desenvolvimento potencial, que pode ser estabelecido por meio da capacidade futura de solução de problemas, mesmo que, num primeiro momento, necessite da colaboração ou da orientação de outras pessoas para sua objetivação. Assim, caracteriza-se como ZDP a fase em que as funções mentais ainda não amadureceram, ou estão em fase de maturação, ou seja, trata-se do desenvolvimento mental prospectivo. Ao realizar essa abordagem, Vigotsky (2008) estabelece uma nova posição de investigação do desenvolvimento mental de forma que a tomada de consciência da vida passa para além da noção tradicional que considerava como uma qualidade invariável do humano. Luria (1988, p. 196) enfatiza que “por essa razão, a consciência é a habilidade em avaliar as informações sensórias, em responder a elas com pensamentos e ações críticas e em reter traços de memória de forma que traços ou ações passadas possam ser usados no futuro”. Assim, entende-se que o processo de 30 desenvolvimento, sendo gradual e contínuo, utiliza-se da memória para a formação da consciência, sendo que esse processo ocorre de forma diferente no adulto do que na criança. Ao analisar estes conceitos no contexto pedagógico, o professor necessita criar contextos variados de fortalecimento e consolidação do aprendido em sala de aula. Para Frade e Meira (2012, p. 376), os professores também podem organizar o processo pedagógico, por meio das funções oriundas de uma “situação ou de atividades sociointeracionais produzidas em um ambiente semiótico” para além do conteúdo do que já foi aprendido. Mediante uma provocação que parte do nível real, já aprendido, para o nível potencial. Em função das interações é que o docente estimula a formação de novos entendimentos, bem como na participação dos demais estudantes na busca do entendimento das atividades realizadas. Se nada for feito, para se criar novas relações ou potencializar novos aprendizados, a partir dos conceitos e ideias apresentadas em aula, não é possível que o estudante consiga atingir níveis potenciais superiores de desenvolvimento e, dessa forma, não ocorre o movimento para a ZDP. Xiongyong (2012), ao realizar uma pesquisa com professores chineses que ministram aula de língua inglesa no ensino secundário daquele país, verificou que, embora o uso da mediação seja uma diretriz do ensino recentemente estabelecida legalmente, a maioria dos professores não tem conhecimento sobre o tema, falham ou não sabem como executar corretamente as ações docentes de mediação do conhecimento do conteúdo em sala de aula, mantendo sua ação focada ainda na transmissão tradicional, sem uma adequada desenvolvimento dos interação estudantes ou atividade para além que dos possa provocar conhecimentos o já internalizados. A mediação pedagógica por meio da ZDP oportuniza aos educadores um instrumento pelo qual se pode entender o curso interno do desenvolvimento dos estudantes. Por meio da noção da ZDP, pode-se dar conta para além dos ciclos e processos que se encontram em fase de maturação ou já completados, também aqueles que estão em fase inicial ou que estão sendo maturados em seu estado dinâmico de desenvolvimento, embora ainda seja uma tarefa a ser aprendida e praticada pelos docentes. “O conhecimento científico, filosófico e 31 artístico não se dá de forma espontânea e direta” (EIDT, 2010, p. 178). Para que o estudante tenha acesso e esses conhecimentos, o papel do professor, no contexto histórico-cultural, passa a ser “o de mediador entre o aluno e conhecimento científico, e essa relação é privilegiada para engendrar mudanças substanciais no psiquismo dos alunos” (LEONTIEV, 1988, p. 67). Assim, é papel essencial do professor mediar o processo de desenvolvimento humano por meio do “pensamento decorrente das ações reflexivas dos estudantes sobre o objeto de estudo”, em que “a dedução informal é identificada como elemento comum nas manifestações da apropriação dos conceitos” (BERNARDES; MOURA, 2009, p. 473). Mas se limitar apenas a esse ponto seria um equívoco grave, pois ainda podem existir outros caminhos para que ocorra o processo de desenvolvimento e da aprendizagem para a formação de significados. Vigotsky (2008, p. 58) argumenta que “o pensamento manifestado no uso de instrumentos pertence a essa área, da mesma forma que o intelecto prático em geral”. Em continuidade à discussão sobre essa perspectiva, no próximo subcapítulo, o desenvolvimento humano é abordado no contexto da teoria da atividade, mediado pelo objeto, pelo uso de instrumentos e por relações de trabalho, que são mediadas, por sua vez, pela personalidade, como meio para a tomada de consciência associada com o desenvolvimento psíquico humano. 2.2 Aportes da teoria da atividade na compreensão da constituição humana A teoria histórico-cultural tem como objetivo “entender a relação entre o funcionamento mental humano, por um lado, e o contexto cultural, histórico e institucional, por outro” (WERTSCH, 1998, p. 56). Ela se concentra no entendimento de que a mediação da mente e da consciência reside nos signos (VIGOTSKY, 2007). Já, na teoria da atividade, o problema central encontra-se focado na orientação-objeto, tanto nas atividades mentais internas quanto externas, com vistas à tomada de consciência mediada e regulada pelos reflexos psíquicos oriundos das condições objetivas da realidade (LEONTIEV, 1978a). Por sua vez, a atividade subjetiva da consciência dos processos é que 32 possibilita essa significação concreta da consciência e da personalidade constitutiva de cada ser humano (LEONTIEV, 1978b). Ambas as teorias tem a mesma origem, mas diferem entre si em suas linhas de pesquisa, na medida em que a teoria da atividade “não é uma teoria nova, mas um desdobramento natural das ideias de Vigotsky” (TUNES; PRESTES, 2009, p. 292). Para Zinchenko (1998), na teoria histórico-cultural a mente e a consciência são mediadas pela cultura e pelo signo, enquanto que na teoria da atividade essas são mediadas por objetos e ferramentas de trabalho culturalmente desenvolvidas ao longo da história do homem. Engeström (1999a) comenta que por meio da linguagem se enfatiza a unidade original das ações do trabalho e das relações sociais, ou seja, ambos os aspectos estão interligados e são importantes para a teoria da atividade. Muito embora a teoria histórico-cultural tenha como eixo norteador a influência da cultura sobre o processo mental do humano, segundo Zinchenko (1998, p. 53), a teoria da atividade emergiu em contraposição a “escravização dos camponeses e da organização da produção baseada numa escravização (não só na prisão, mas no país como um todo) que não tinha precedente na história”, relacionando com os „anos de prata‟ vivenciados na Rússia. Considerar o sujeito como histórico, cultural e social possibilita que o processo de sua constituição seja estudado por meio de uma atividade específica, posto que, de acordo com Zanella, Balbinot e Pereira (2000, p. 236), “é via atividade mediada por instrumentos materiais e semióticos que o homem transforma o contexto no qual se insere ao mesmo tempo em que por este é modificado”. Para Fontana (2000), a mediação também pode ser realizada por meio de parceiros sociais, pessoas próximas ou distantes, que progressivamente vão se integrando nas relações sociais e nas interações. Por meio da mediação é que aprendemos a nos reconhecer como humanos. Muito embora seja importante essa mediação social para a formação dos processos mentais, a teoria da atividade tem uma natureza focada na relação das pessoas com os objetivos (tangíveis e intangíveis) e seus resultados concretizados em um objeto real. Por meio de ações efetivas, mediadas pelos objetos, também pode ser desenvolvida a cognição, a memória, a percepção e os aspectos sensoriais, sendo que: a análise desse desenvolvimento necessita ser realizada mediante o acompanhamento do 33 desenrolar dos fatos que ocorrem durante o processo de ação e não no seu resultado final especificamente. Cabe salientar que o foco dessa teoria encontra-se no fato de que a inter-relação entre as ferramentas e instrumentos externos não tem significado em si próprios, mas no desenvolvimento mental que os objetos reais têm na internalização de conceitos durante a ação humana. Em outras palavras, “o que é internalizado não é a coisa, mas as propriedades e os procedimentos relacionados com o signo para usar essas propriedades que a coisa adquire” (ZINCHENKO,1998, p. 47). Em vez de presumir que os indivíduos, ao agirem sozinhos, são os agentes das ações, a designação apropriada de agente é „indivíduoque-opera-com-meios-mediacionais‟. É só usando essa designação que esperamos fornecer uma resposta adequada à questão fundamental (WERTSCH, 1998, p. 62). Ao abordar essa questão, nessa perspectiva, amplia-se a possibilidade de análise da ação humana no contexto mental, institucional, histórico e cultural, no momento e no local em que ele ocorre. Wertsch (1998, p. 69) argumenta que a pesquisa nesse campo necessita expandir seus horizontes, buscando articular os conceitos com outros teóricos e outras tradições, mas, nos dizeres do autor, parece que “uma das formas mais promissoras começa por pressupor que a ação fornece a estrutura para interpretar tudo o mais que segue”. Para que os resultados de pesquisa centrada na atividade humana não sejam sem valor ou de valor desastroso, Zinchenko (1998, p. 53) propõe “o desenvolvimento de uma psicologia histórico-cultural da consciência e da atividade” e, por meio dessa, pode-se introduzir uma contribuição a essa abordagem. Para esses autores, essa seria uma das possibilidades, como tentativa de pesquisa utilizando concomitantemente as duas teorias, conforme denominou Engeström (2011) de teoria da atividade histórico-cultural. Como exemplo dessa aproximação, Zinchenko (1998) discute o uso da ZDP orientada para um objetivo e pela utilização de objetos culturalmente constituídos. Tem-se como pressuposto o de que: as atividades realizadas pela ação humana mediada por objetos ou instrumentos, conjuntamente com as mediações semióticas (ou do signo), estruturam a aprendizagem humana, tornando-se possível, dessa forma, analisar os processos mentais superiores, 34 seus efeitos no aspecto individual, bem como, nas relações coletivas existentes para a execução da atividade (ENGESTRÖM, 1999b). Leontiev (1988) salienta que um fator essencial ao processo de aprendizado está relacionado com o motivo que essa aprendizagem representa para a pessoa, com as relações que ela estabelece com o (e no) mundo, em especial, quanto às ações realizadas para a consecução do objetivo de satisfazer as necessidades a ele correspondentes, por meio de uma determinada atividade. Assim, atividade é entendida como aquelas ações que representam os processos em que o homem se relaciona com o (e no) mundo, mas não é qualquer processo que se considera uma atividade. A atividade humana, para Engeström (1999a, p. 20), “é interminavelmente multifacetada, móvel e rica de variação de conteúdos e formas”. De acordo com Leontiev (1988, p. 68), designa-se atividade “os processos psicologicamente caracterizados por aquilo a que o processo, como um todo, se dirige (seu objeto), coincidindo sempre com o objetivo que estimula o sujeito a executar tal atividade, isto é, o motivo”. Não se trata, apenas, daqueles motivos compreensíveis à atividade, mas aqueles realmente eficazes para o desenvolvimento do processo de desenvolvimento psicológico (interno e externo). Como refere Sereda (2011), a atividade é um singular mecanismo de compreensão humana que regula o conjunto de ações entre os motivos e os processos desenvolvidos para se atingir os objetivos. Um aspecto importante de ser entendido é o que se refere à relação de interligação entre desenvolvimento e aprendizagem, de maneira a possibilitar a tomada de consciência do mundo, que pode ocorrer de duas maneiras principais, uma (i) pela atividade teórica que possibilita o desenvolvimento da consciência abstrata do conteúdo e a outra (ii) pela ação humana concreta que oportuniza o tomada de consciência do mundo objetivo. Uma pessoa que se “esforça para agir nesse mundo” é aquela que “domina o mundo que a cerca” (LEONTIEV, 1988, p. 120). Nos dizeres de Eidt (2010, p. 180), “é a apropriação da atividade material e intelectual humana acumulada nos objetos da cultura que possibilita a humanização do indivíduo”. Isso, porque a apropriação da cultura pelas novas gerações tem papel determinante tanto na constituição de formações cerebrais autenticamente novas, no engendramento de novas formações 35 mentais, e no desenvolvimento das funções psicológicas superiores que se dá pela atividade que o indivíduo realiza. Leontiev (1988, p. 121) estabelece um contraste entre as propriedades abstratas e físicas das coisas e as relações entre os homens e estas propriedades. Essa contradição entre o desenvolvimento da “necessidade de agir com os objetos” e o desenvolvimento “das operações que realizam tais ações” é caracterizada quando as pessoas ainda não apresentam capacidades de agir sozinhas, “principalmente porque ainda não dominaram e não podem dominar as operações exigidas pelas condições objetivas reais da ação dada”. Para o adulto, uma ação em si mesma não provoca necessariamente uma atividade produtiva no sentido de desenvolver uma conexão pela qual ocorre mudança no seu desenvolvimento psíquico. Essa ação ou atividade geral serve para preparar o caminho para a transição da pessoa, de uma condição atual para um novo e mais elevado nível de desenvolvimento, propiciando condições de transformação da atividade geral em uma atividade principal, aquela que interfere de forma marcante no desenvolvimento humano. A Figura 1 foi construída como tentativa de representar a compreensão de como a atividade principal influencia as conexões mentais já formuladas e visa compreender, a partir do desenvolvimento, quais são as novas conexões psíquicas que aparecem e são formuladas durante e após o período em que a atividade principal é realizada. Chama-se atividade geral quando a pessoa realiza um ato meramente com o objetivo de cumprir uma tarefa, representado pela seta à esquerda da Figura 1. Este ato também pode ser caracterizado pelas atividades corriqueiras realizadas no dia a dia. Por sua vez, Leontiev (1988, p. 65) afirma que a atividade principal é aquela “atividade cujo desenvolvimento governa as mudanças mais importantes nos processos psíquicos e nos traços psicológicos da personalidade”, causando modificações subjetivas profundas mediante a relação explícita entre o atual estágio de desenvolvimento da pessoa e a realidade objetiva em que ela se encontra. Trata-se de uma atividade essencialmente coletiva, orientada para um objetivo e mediada por ferramentas e signos (KEROSUO; ENGESTRÖM, 2003). 36 Figura 1: Ciclo de desenvolvimento conforme a Teoria da Atividade Fonte: elaborado pelo autor baseado em Leontiev, 1978 e 1998. Mesmo que seja problemático, segmentar a visão sistêmica da atividade tratada no âmbito desta tese, com o intuito de tornar a leitura mais clara e fluente, para a continuidade da abordagem em torno do tema, a mesma foi organizada em subcapítulos, cabendo alertar no sentido de que a leitura dos mesmos não venha a incorrer em visões etapistas com risco de fragmentar o entendimento, sobretudo, do complexo e dinâmico sistema de relações e interações nele implicadas. Não se trata, pois, de abordagens excludentes entre si, sendo, o mais importante, a valorização dos movimentos de „ir e vir‟ com retomadas e avanços nos processos de interrelação em ação. 2.2.1 O motivo no ciclo de desenvolvimento da atividade Um dos traços, no conjunto de ciclo de desenvolvimento, para que ocorram as modificações objetivas e subjetivas nas pessoas, é aquele que está relacionado com o desenrolar de inúmeros processos psicológicos que se 37 apresentam em direção ao objetivo principal, aquele que estimula o sujeito a executar as conexões da atividade com a realidade, é o motivo da atividade. Esse motivo não é estático, definitivo e único. Ele varia conforme o estágio de desenvolvimento em que a pessoa se encontra e está diretamente relacionado com os objetivos que o levam a realizar uma determinada atividade. Para atingir um determinado objetivo, a pessoa se reorganiza no sentido de identificar suas novas necessidades internas e externas de maneira a buscar outros interesses que lhe possibilitem novos desenvolvimentos e aprendizagens. Os novos motivos são dirigidos ao futuro, os quais são transformados em objetivos que provocam novas mudanças da atividade, em sua relação com a realidade. Um aspecto importante, particularmente no âmbito desta tese, é o que diz respeito ao estudo. Na adolescência, as atividades de estudo são importantes no sentido de buscar a estruturação de uma dinâmica de estudo, bem como na “formação de seu caráter voluntário, a tomada de consciência das particularidades individuais de trabalho e a utilização desta atividade como meio para organizar as interações sociais com os companheiros de estudo” (FACCI, 2004, p. 71). Ao passar da fase da adolescência para a da juventude, ocorre cada vez mais o desenvolvimento do pensamento abstrato e o pensamento concreto começa a ser menos usado. O conteúdo do pensamento do jovem converte-se, paulatinamente, em convicção interna, em orientações dos seus novos interesses, em normas de conduta, em sentido ético, em seus desejos e seus propósitos, sendo esses pontos característicos do segundo traço dos ciclos do desenvolvimento, que é o do processo de transformação dos motivos. Um novo processo de alteração do motivo da atividade ocorre no momento em que o jovem busca direcionar sua atenção para o seu futuro profissional e, assim, ele adquire a intenção de uma preparação profissional para o seu ingresso na fase adulta. Cabe salientar que, nessa fase avançada escolar de preparação para o futuro, a atividade de estudo passa a ser utilizada como meio para a orientação e preparação profissional, ocorrendo o domínio dos meios de atividade de estudo autônomo, com uma atividade cognoscitiva e investigativa criadora. 38 Outro deslocamento do motivo ocorre quando o indivíduo vivencia outra forma de inserção na sociedade: agora, por meio do trabalho. Para Ostrovitianov e Leontiev (1988), quando o homem se insere numa comunidade de trabalho, isso lhe possibilita uma identificação outra com a sociedade e essa passa a ser uma nova relação de referência para novos objetivos de desenvolvimento da psique humana. Eidt (2010) aprofunda essa análise ao argumentar que, por meio do trabalho, o ser humano conseguiu desprender-se das questões relacionadas com sua sobrevivência, não apenas com recursos oriundos da natureza, ao contrário, se distanciou dessa forma de vida passando a realizar a ação transformadora daquela. Esses entendimentos foram considerados importantes e serviram de base para a organização da pesquisa proposta e desenvolvida, nesta tese, em busca de: estudar atividades didáticas, por meio de um ambiente dinâmico de aprendizagem que possibilite aos jovens a identificação e análise das relações existentes entre diversos mecanismos de funcionamento da sociedade do trabalho, na área em que estão buscando se inserir (DUARTE, 2002). 2.2.2 As relações de interações sociais no ciclo de desenvolvimento da atividade Outro traço psicológico referente à atividade está relacionado com as emoções e os sentimentos a ela diretamente ligados (LEONTIEV, 1988). A relação emotivo-volitiva que interliga o motivo ao objetivo pela ação ativa mediada por objetos - os quais representam a apropriação da cultura humana ali acumulada e as circunstâncias que estão envoltas ao fato - é que contribui para que uma determinada atividade possa causar um impacto maior ou para ser praticamente insensível para a pessoa. Para Duarte (2004), o indivíduo ao reproduzir os traços essenciais de uma atividade se apropria da história humana que constitui aquele objeto, seja na sua utilização, seja, em certos casos, na reprodução da atividade envolta em seus processos de transformação. Leontiev (1988) salienta que as emoções e sentimentos não estão somente relacionados ao objeto e aos instrumentos culturais envoltos na atividade, uma vez que estão diretamente relacionados com as interações 39 entre as pessoas, em seu entorno social. Isso tem um sentido profundo em termos do entendimento da constituição humana, na, da, e pela cultura. A apropriação da cultura é o processo mediador entre o processo histórico de formação do gênero humano e o processo de formação de cada indivíduo como um ser humano. Para ser exato, devo acrescentar que também o processo de objetivação faz essa mediação, pois não há apropriação da cultura se não tiver ocorrido a objetivação do ser humano nos produtos culturais de sua atividade social (DUARTE, 2004, p. 50). Isso implica entender que, por meio do trabalho, o sujeito se apropria dos traços característicos a cada processo de fabrico de um produto, incluindo os instrumentos e processos envolvidos na sua manufatura, sendo que, ao se apropriar de um objeto ou instrumento cultural, o indivíduo também se apropria da cultura social a qual tal objeto ou instrumento estão relacionados. Em outras palavras, ao se apropriar e fazer uso de um instrumento de trabalho, por exemplo, o sujeito também se apropria de uma cultura social inerente ao processo de trabalho, numa relação consciente com o instrumento e com o objeto que, ali, se modifica. Assim, o instrumento é um objeto social, o produto de uma prática social, de uma experiência social de trabalho. Por consequência, o reflexo generalizado das propriedades objetivas dos objetos de trabalho, que ele cristaliza em si, é igualmente o produto de uma prática individual. Por este fato, o conhecimento humano mais simples, que se realiza diretamente numa ação concreta de trabalho com a ajuda de um instrumento, não se limita à experiência pessoal de um indivíduo, antes se realiza na base da aquisição por ele da experiência da prática social e, por fim, o conhecimento humano, assente inicialmente na atividade instrumental de trabalho, é capaz, diferentemente da atividade intelectual instintiva dos animais, de passar ao pensamento autêntico (LEONTIEV, 1978a, p. 83). Quando o sujeito se apropria dos instrumentos de trabalho coletivo, ele se enriquece em conjunto com a coletividade de seu uso. As novas instrumentalidades abrem novos motivos e objetivos coletivos para a atividade e expandem as fronteiras das condições atuais da vida (KEROSUO; ENGESTRÖM, 2003). Nesse cenário, outro aspecto importante a considerar é o de que, além da apropriação das propriedades laborativas e dos seus instrumentos de trabalho, também há a apropriação de uma linguagem oral oriunda dessa 40 coletividade. Ela é referente aos termos técnicos histórico-culturais inerentes à atividade no entorno do grupo de trabalho imbricado na linguagem cotidiana dos colegas de labuta (DUARTE, 2004). Isso, sem nunca deixar de considerar que a relação profissional contém, além do trabalho objetivado de um grupo de pessoas que compõe a equipe de trabalho, a sua atuação em particular, o esforço individual objetivo e subjetivo, e que, nessa relação, estruturam-se novos motivos, agora não somente vinculados ao objeto, mas também aqueles intersubjetivos relacionados ao grupo social participante. Leontiev (1978, p. 75) considera que: O trabalho é uma atividade originariamente social, assente na cooperação entre indivíduos que supõe uma divisão técnica, embrionária que seja, das funções de trabalho; assim, o trabalho é uma ação sobre a natureza, ligando entre si os participantes, mediatizando a sua comunicação. Desse entendimento sobre as mediações da, na e pela cultura, emerge outro traço psicológico da atividade: o das relações de interação social. O estudo do desenvolvimento da pessoa, do humano, necessita coincidir com o estudo do desenvolvimento das suas relações sociais, inseridas “num sistema político e econômico, e outra coisa não é senão o estudo da história objetivada particularmente em cada indivíduo” (MARTINS; EIDT, 2010, p. 682). Isso significa que é precisamente a atividade de outros homens que constitui a base material objetiva da estrutura especifica da atividade do indivíduo humano; historicamente, pelo seu modo de aparição, a ligação entre o motivo e o objeto de uma ação não reflete relações e ligações naturais, mas ligações e relações objetivas sociais (LEONTIEV, 1978a, p. 78). Assim se remete ao entendimento, no âmbito desta tese, de que: ao realizar a ligação entre o motivo e objeto da ação, o ser humano estabelece condições que lhe estimulem a fazer determinada atividade e que, ao agir nesse sentido, ele cria as possibilidades de refletir sobre as relações existentes entre o motivo e o seu objetivo. Trata-se, aqui, de compreender a dinâmica em que se configuram os processos de reflexão da ação, mediada pelo objeto ou pelos instrumentos de trabalho, por meio da tomada de consciência dos processos e suas operações, interligada, por sua vez, a um contexto de relações sociais culturalmente constituídas; em que se possibilita, dessa forma, 41 a estruturação da atividade principal como desenvolvedora das funções psicológicas superiores. 2.2.3 As ações para a constituição do ciclo de desenvolvimento da atividade O desenvolvimento de uma atividade principal ocorre por meio da realização de um conjunto de ações. Para que uma ação tenha seus resultados percebidos na atividade principal, é necessário que esta esteja relacionada com o motivo pelo qual ela está sendo realizada. Esse é um ponto importante, pois somente quando uma ação está sendo realizada com um propósito é que ela possibilita a conexão dos processos e das operações para o desenvolvimento do sujeito. Leontiev (1988, p. 72) assegura que “dependendo de que atividade a ação faz parte, a ação terá outro caráter psicológico. Esta é a lei básica do desenvolvimento do processo das ações”. Muitas vezes, uma atividade principal pode desencadear a necessidade de realização de várias ações simultaneamente, ou seja, faz-se necessário uma série de procedimentos parciais e complementares, que, sucessivamente, darão suporte para a consecução consciente da atividade principal. Para que esse mecanismo ocorra, é necessário que esses processos sejam realizados por inúmeras operações, devido ao fato de que as elas são essenciais ao desenvolvimento da consciência. A produção exige cada vez mais, de cada trabalhador, um sistema de ações subordinadas umas às outras e, por consequência, um sistema de fins conscientes que por outro lado entram num processo único, numa ação complexa única. Psicologicamente, a fusão de diferentes ações parciais numa ação única constitui a sua transformação em operações. Por este fato, o conteúdo que outrora ocupava, na estrutura, o lugar de fins conscientes de ações parciais, ocupa doravante, na estrutura da ação complexa, o lugar de condições de realização da ação. Isto significa que doravante as operações e condições de ação também elas podem entrar no domínio do consciente. Em contrapartida, não entram aí da mesma maneira que as ações e os seus fins. Essa metamorfose das ações, a saber: a sua transformação em operações, e, por consequência, o nascimento de operações de um tipo novo (chamar-lhe-emos operações conscientes) foi muitíssimo bem estudada experimentalmente, nas condições atuais, bem entendido (LEONTIEV, 1978a, p. 103). Percebe-se, diante do exposto, que as operações são os modos de realização das ações. Trata-se do conteúdo necessário para a constituição de 42 qualquer ação, muito embora não seja idêntica a ela. Uma mesma ação pode ser realizada ou executada por diferentes operações, pois as operações dependem das condições materiais requeridas ou disponibilizadas para que sejam realizadas, enquanto a referida ação está relacionada ao alvo, ao objetivo. No que se refere a essa linha de compreensão, é importante, no âmbito desta tese, o entendimento, também, de que a complexificação das operações e dos instrumentos de trabalho possibilita, no caso do adulto, o alargamento do domínio do consciente, pois: para que se desenvolvam operações conscientes, faz-se primeiramente necessário que elas sejam parte de uma ação e não podem surgir de outra forma. As operações conscientes “são formadas inicialmente como um processo dirigido para o alvo, que só mais tarde adquire a forma, em alguns casos, de hábito automático” (LEONTIEV, 1998, pp. 74-75). É importante levar em conta, ainda, a consideração, a partir de tais pesquisas, de que: o processo de aprendizado inicia com as revisões dos processos necessários para a execução de uma ação e em cada processo as respectivas operações. Esse processo é gradual e à medida que o aprendiz vai dominando as operações, elas se tornam parte automática de realização. Um exemplo bastante comentado pelo autor é o que consta a seguir: Tomemos o caso de um atirador: quando ele atinge o alvo, efetua uma ação bem determinada. Como caracteriza essa ação? Em primeiro lugar, evidentemente, pela atividade em que se insere, pelo seu motivo e, portanto, pelo sentido que ela tem para o indivíduo que a efetua. Mas ela caracteriza-se também pelos processos e operações através dos quais se realiza. Um tiro ajustado requer numerosas operações, cada uma respondendo às condições determinadas da ação dada: é necessário assumir uma certa pose, apontar, determinar corretamente a mira, encostar ao ombro, reter a respiração e premir corretamente o gatilho. Para o atirador experimentado, estes diferentes processos não são ações independentes. Os fins correspondentes não se distinguem na sua consciência. O atirador não diz: „agora devo pôr a arma ao ombro, agora retenho a minha respiração, etc.‟. Na sua consciência, só há um único fim: atingir o alvo. Isto significa que ele domina as operações motrizes que o tiro exige. A coisa é absolutamente diferente naquele que se inicia no tiro. Deve primeiro ter por fim agarrar corretamente a espingarda; é nisso que reside a sua ação; em seguida, a sua ação consciente consiste em visar, etc. (LEONTIEV, 1978a, p. 103). Ao estudar qualquer ação complexa, como no exemplo citado, existem elos das diversas ações e suas operações que são necessárias para a 43 realização de uma atividade. Constata-se que as ações são realizadas por diversos processos em separado, os quais, por sua vez, exigem o domínio de uma série de operações para a sua correta realização. Na fase de aprendizado do tiro, utilizando-se o exemplo supra citado, uma das primeiras tarefas é a ação de se posicionar para o tiro e essa ação exige o entendimento do processo denominado de „forma correta de se posicionar‟ o qual está envolto de várias operações simultâneas como posição dos pés, flexão dos joelhos, movimento dos ombros, envergadura da cabeça, posição do olho diretor e a empunhadura do armamento. Como demonstrado pelo autor, essas operações são percebidas pelo atirador experiente, embora que, para ele, não sejam executadas mais conscientemente, diferentemente daquele que ainda se encontra em fase de preparação para esse esporte. Uma reflexão aqui emergente é a de que isso não quer dizer que um profissional experiente não possa, em um determinado momento, se valer da consciência das etapas das operações para examinar o seu desempenho, como no caso de uma série de tiros, quando esses apresentam desvio dos padrões tradicionais já atingidos ou quando ele busca aprimorar os seus atuais níveis de acerto. Leontiev (1988) ressalta que ao realizar a análise dos resultados de suas ações, mediante o percurso mental das respectivas ações, processos e operações realizadas, para além dos movimentos motores utilizados, é oportunizado, desta forma, o desenvolvimento das operações mentais oriundas dos movimentos motores realizados. Duarte (2004) lembra que o mesmo ocorre para a análise da resolução de um problema aritmético, ou seja, a busca intelectual do entendimento das operações matemáticas realizadas na resolução de um problema, também interfere para o desenvolvimento intelectual. As atividades mentais para a realização dos cálculos constituem-se em operações que contribuem para a consecução da atividade principal do ensino de matemática, assim, não é somente pelas atividades motoras que ocorre o desenvolvimento das operações mentais (BERNARDES; MOURA, 2009). Os objetos culturais são referentes a uma realidade social e essa “determinada realidade social, tanto material quanto simbólica, corresponde uma dada forma de consciência e personalidade. Desse modo, atividade, consciência e relacionam-se sempre dialeticamente” (ROSSLER, 2004, p. 102). personalidade 44 Para os casos do fabrico de instrumentos a situação é diferente. Leontiev (1978a, p.105) comenta que a “sua produção exige a distinção e a consciência das operações. A produção de um instrumento deste tipo tem como efeito fim uma operação de trabalho, materializado no instrumento”. Verifica-se que, para o desenvolvimento do instrumento de trabalho, primeiramente, a pessoa tem, no plano da consciência, todas as operações que são necessárias para a realização do objeto e, a partir dessa, torna-se possível à elaboração dos instrumentos de trabalho. Em uma segunda ação possível de interpretação do fabrico dos instrumentos, está o fato da realização de melhorias ou mudanças nos processos e operações de trabalho. Assim, atua sobre o plano da estrutura da consciência humana, a capacidade de criação e de atuação sobre a natureza anteriormente apresentada. Caso contrário, quando uma ação é vazia de sentido, ela é apenas um ato de cumprimento de uma tarefa, ela se caracteriza meramente como uma atividade geral. Isso, no entanto, não quer dizer necessariamente um problema, haja vista que na vida cotidiana o ser humano executa inúmeras atividades sem realizar um desdobramento de suas ações no sentido de provocar o desenvolvimento de suas funções psicológicas superiores. Um exemplo disso pode ser relacionado às inúmeras tarefas diárias que realizamos rotineiramente como escovar os dentes, vestir uma roupa ou amarrar um cadarço do calçado. Todavia, o problema se encontra quando o indivíduo se torna incapaz de romper com essa visão cotidiana, mesmo naquelas situações em que se exige um pensar, sentir ou agir além dos padrões cotidianos. “Em outras palavras, quando a estrutura da vida cotidiana se hipertrofia, tornando-se a única forma de vida do indivíduo”, ou seja, quando a vida se resume em apenas num conjunto de atos essencialmente repetitivos e reprodutivos, bem como de sentimentos afetivos e intelectuais rígidos “determinando um modo funcionamento psíquico cristalizado” (ROSSLER, 2004, p. 110). Para Leontiev (1988), a transição de uma atividade geral cujo motivo é apenas compreensível para uma nova atividade principal também é possível. No entanto, a preparação dessa transição toma muito tempo, porque é necessário que a pessoa se torne plenamente consciente dessa nova esfera de relações, sendo que algumas delas podem ser totalmente novas. Neste caso, a 45 atividade pode não surgir como principal, num primeiro momento, mas num estágio a se desenvolver secundariamente. Esse fato é diferente de quando utilizamos as atividades denominadas independentes, originadas do desenvolvimento das operações conscientes, como no caso de dirigir um automóvel. Na maioria das vezes realizamos diversas operações já internalizadas e automáticas de condução do veículo, mas no caso quando percebemos uma situação de risco, como antes de ingressar em outra rodovia mais movimentada, podemos realizar a revisão, conscientemente, de vários procedimentos de segurança e de condução veicular antes de ingressar com o veículo nessa rodovia. 2.2.4 As funções psicofisiológicas no ciclo de desenvolvimento da atividade Por fim, debate-se o último traço das mudanças que ocorrem ao se realizar o deslocamento da atividade principal, ocasionada pelo conjunto de ações motivadas para a concretização dos objetivos, que é o desenvolvimento das funções psicofisiológicas. Leontiev (1988, p. 76) conceitua o termo funções psicofisiológicas como aquelas funções em que se “realiza a mais alta forma de vida do organismo, isto é, sua vida mediada pela reflexão psíquica da realidade”, como as funções mnemônicas e as funções sensoriais. Seus estudos demonstram que as funções psicofisiológicas se desenvolvem em relação aos processos concretos nos quais está envolvida uma série de operações. Essas funções apresentam desenvolvimento quando elas têm participação precisa na atividade desenvolvida. À medida que uma operação exige um nível cognitivo mais elevado, torna-se também necessário o desenvolvimento de ações correspondentes a essas novas necessidades. Essa evolução somente torna-se possível quando a pessoa tenta dominar todas as operações envolvidas na atividade. Cabe frisar que as funções psicofisiológicas não são apenas constituídas a partir de um aspecto puramente processual. Elas também ocorrem devido a importantes conexões internas quando da mudança da atividade principal, mediante o desenvolvimento de uma nova consciência do mundo, conduzindo a outras reinterpretações de suas ações anteriores. À medida que o conjunto de ações que se costumava fazer como papel principal passa para um segundo 46 plano, emerge um novo estágio de desenvolvimento, constituindo-se em novas categorias de entendimento dos conteúdos em termos de seus motivos/objetivos, atitudes, significados e sentidos, passando muito além de uma transição de ações, processos e operações objetivas para uma mudança efetiva, em caráter subjetivo, da atividade principal como um todo. 2.2.5 Os sistemas de atividade Pelo tratado até aqui, neste subitem, cabe destacar que o ciclo de realização de uma atividade, num determinado instante, pode ser formado por várias ações e operações que ocorrem simultaneamente de maneira a formar um ciclo repetitivo e expansivo conhecido como desenvolvimento das funções psicofisiológicas superiores de um indivíduo, mediada pelas interações intersubjetivas (LEONTIEV, 1978b). O tempo do ciclo da atividade é qualitativamente diferente dos tempos de cada conjunto de ação. Engeström (1999a) salienta que, o tempo de uma ação é basicamente linear e finito. Por sua vez, o tempo de uma atividade é recorrente e cíclica em ciclos de expansão. Esse tempo de expansão recorrente e cíclico da consciência de uma atividade ocorre pela internalização oriunda de uma atitude de autorreflexão crítica da atividade como um todo, cujos significados passam a ser aprendidos e desenvolvidos. O ciclo ocorre pelo encontro de um número de atividades capazes de proporcionar a emergência da tomada de consciência social humana, tanto em seu caráter individual quanto coletivo (KOZULIN, 1986), em que: o caráter dual da atividade humana é caracterizado por dois ciclos, um individual e outro coletivo, simultaneamente independentes e interligados, em sistemas dinâmicos e abertos de atividades. Assim, em seu ciclo individual de realização da atividade pelo sujeito, é-lhe oportunizado o desenvolvimento da consciência subjetiva (LEONTIEV, 1978b). O mesmo ocorre para o desenvolvimento da atividade coletiva, como unidade de análise que dá origem a uma memória coletiva da experiência socialmente construída (WERTSCH, 2010) constituindo, assim, um sistema de atividade (ENGESTRÖM, 1999a). Nele, os elementos da atividade humana que o constituem, visualizados na Figura 2, compreendem os conteúdos de análise, os objetos e os instrumentos que constituem os artefatos 47 mediacionais inter-relacionados com as regras, a comunidade envolvida e a divisão do trabalho existente em processo de integração expansiva (KEROSUO; ENGESTRÖM, 2003). Figura 02: Sistema de atividade Fonte: Engeström, 2011, p. 608. Os termos - consumo, produção, distribuição e troca – interconectados entre si, como representado no interior do triângulo, indicam que isso constitui uma unidade de análise como um todo, apesar de ser possível analisar as relações específicas entre os seus elementos estruturais isoladamente. As interligações representadas no triângulo ilustram, esquematicamente, as diversas circunstâncias sociais em que o sujeito atua. A representação triangular do sistema de atividade também busca explicar as origens sistêmica e dinâmica do trabalho humano e suas significações concretas para o desenvolvimento humano individual e social. Uma questão importante, observada por Sannino (2011), é que não há uma atividade sem haver algum tipo de produção humana, representada pela saída, ao lado do triângulo. Para Engeström (2011) o desenvolvimento humano pode ser entendido como uma transformação qualitativa que o direciona para reconceituação do objeto e alteração do motivo de toda a atividade. Essa transformação não ocorre imediatamente. Ela é implementada pelo movimento constante das ações realizadas sistematicamente no trabalho humano. Também, sob as influências do conjunto de inovações oriundas de outros sistemas de atividade, em constante processo de mudança. 48 Ao se atingir um novo e mais elevado nível de desenvolvimento, pode-se dizer que neste momento houve um ponto de mudança. Sua identificação é necessária para que haja momentos de estabilização e de manutenção destas novas funções psicofisiológicas. Analisar esse mecanismo em um sistema de atividade em grupos colaborativos, como no caso das atividades de aprendizagem que são objeto de estudo nesta tese, a mudança é consolidada pelo processo de generalização da nova prática socialmente desenvolvida (ENGESTRÖM, 1991). Ao refletir acerca das questões fundamentais da teoria da atividade e dos recentes estudos que vêm sendo realizados acerca dos sistemas de atividade e suas implicações para o desenvolvimento e a aprendizagem, é possível vislumbrar oportunidades de expansão dos conceitos para estudos tanto da área da educação como da gestão. Para o caso desta tese, o que se busca é justamente articular situações de ensino que oportunizem, didaticamente, a interligação dessas duas possibilidades, em aula, cujas unidades de análise possam ser mobilizadas nas dimensões dos conhecimentos, das interações sociais e das relações políticas (DUARTE, 2002), em um ambiente de aprendizagem dinâmico denominado de Atividade de Interação com Integração de Aprendizagens. Considerando que tal ambiente de aprendizagem foi proposto, desenvolvido em sala de aula e investigado no âmbito de um Curso de Administração, em uma universidade, no capítulo que segue são abordados alguns aportes teóricos que orientaram a pesquisa, no que se refere a implicações de entendimentos sobre a docência no ensino superior. 3 APORTES TEÓRICOS ACERCA DA CONSTITUIÇÃO DA DOCÊNCIA Neste capítulo são explicitados e discutidos alguns entendimentos e seus desdobramentos sobre as questões do ensino e apresentar um debate acerca de questões referentes à constituição da docência para a graduação, com ênfase na metáfora do professor pesquisador. Num segundo ponto são debatidas suas implicações no ensino da área de Administração e, ao final, se discute a delimitação e problemática da pesquisa. Na tentativa de promover um debate crítico sobre o assunto, muito embora o tema possa ser abordado além das temáticas aqui apresentadas, buscou-se uma releitura sobre a problemática do ensino de graduação em que os profissionais docentes são oriundos de uma área profissional específica do conhecimento, como a das Ciências Sociais Aplicadas. Esse profissional ao se tornar professor se apropria de um conhecimento específico, o aprofunda por meio de uma pesquisa focada para a área técnica e reflete sobre as questões de seu conteúdo e suas teorias, “mas não necessariamente a teoria que envolve sua docência” (KREUZBERG; RAUSCH, 2013, p. 111). Assim, a organização deste capítulo tem uma intencionalidade que busca abordar, além dos aspectos da área do conhecimento específica do ensino universitário, as questões do ensinar e do aprender, de forma a propiciar movimentos de „ir e vir‟ entre as diferentes tematizações. Ao se debruçar acerca das especificidades do ensino de graduação de Administração, e mais especificamente na área de Produção, cabe ressaltar de imediato que não se busca transformar a formação universitária, por meio de práticas exclusivas, como se o estudante estivesse em uma indústria (PISTRAK, 2000), nem tampouco o inverso, transformar a indústria em uma escola. O que se busca, com essa tese, é uma ação pedagógica centrada em um contínuo movimento entre a análise dos acontecimentos empresariais em meio à ação acadêmica, de forma a propiciar, aos estudantes, um melhor desenvolvimento de seus conhecimentos, habilidades e atitudes. O foco está 50 no ensino que possibilite uma aprendizagem pela qual os conhecimentos possam ser significados e expandidos. Para que ocorra um processo de aprendizado diferenciado e expandido, o docente necessita, primeiramente, conhecer as teorias que fundamentam o ato pedagógico. Também repensar suas práticas e até realizar pesquisa acerca de novas ações podem oportunizar a expansão da aprendizagem. Assim, parte-se, ao iniciar este capítulo, de uma narrativa sobre as visões que permeiam e constituem a formação docente do ensino de graduação e sua influência sobre os processos de ensino e de aprendizagem. Também é debatido acerca da metáfora do professor pesquisador de sua prática docente com uma ação que oportuniza ao docente criar currículo, pesquisar didáticas e investigar outras maneiras de conduzir o ato pedagógico com vistas à expansão da aprendizagem para além dos conhecimentos do conteúdo. Num segundo momento é debatida a questão específica e legal que fundamental é o ensino curricular específico para o Curso de Bacharelado em Administração, ampliando sua discussão sobre a formação da docência na área específica e o que esta implica no estilo de ensino na área. Finaliza com um debate acerca de propostas que estão sendo investigadas e apresentadas como alternativas ao ensino tradicional da área de Administração. 3.1 A constituição da docência no ensino de graduação O tratamento das questões relacionadas à docência no ensino superior inicia, neste subcapítulo da tese, com uma discussão sobre os conhecimentos necessários para a atividade profissional de professor, de uma forma geral, com debates pertinentes ao ensino que potencializa a aprendizagem dos estudantes aliados a narrativas acerca da experiência vivenciada na docência no ensino de graduação, no Curso de Administração. Puentes, Aquino e Quillici Neto (2009) relatam que, apesar do tema sobre a constituição de professor ser amplo, a pesquisa acerca da profissão docente caracteriza-se pela pluralidade e heterogeneidade de tipologias propostas, embora os significados conceituais sejam quase os mesmos entre os autores por eles pesquisados. 51 Na tentativa de explicitar os conhecimentos necessários ao trabalho docente, Shulmann (2005) propõe sete categorias para formar a base do conhecimento de professor. Há destaque, nesta pesquisa, para a categoria denominada de conhecimento pedagógico do conteúdo, o qual tem como foco principal a didatização do conteúdo em estudo, com a transformação dos mesmos em conteúdo ensinável, pelas didáticas envolvidas nos planejamentos e na realização da aula. É a forma como o professor faz suas compreensões profissionais da docência. Essa compreensão não é apenas a visão de um especialista técnico em determinada área, mas na capacidade pedagógica com que determinados temas e problemas podem ser organizados, representados, apresentados e adaptados didaticamente, de forma a propiciar o entendimento dos estudantes. Outro ponto que interfere na ação do professor em aula é a abertura que o docente possibilita para o debate de forma que os estudantes consigam expor suas dúvidas e opiniões, cujo objetivo seja o de desenvolver, ampliar ou aprofundar seus aprendizados. Para Schön (2000), o ensino objetiva uma aproximação reflexiva sobre atividades práticas de professores, principalmente, para aquelas áreas do conhecimento em que se exige o desenvolvimento de habilidades técnicas dos profissionais. O ensino exige o saber profissional, por exemplo, como pensar sobre como um administrador pode proceder para que os estudantes aprendam cognitivamente as questões da área. Ou para que eles sejam estimulados a raciocinar sobre as problemáticas da área, buscando identificar e refletir, com base numa atividade prática pedagógica, sobre as conexões do conhecimento de uma forma geral para os casos em particular. Schön (2000) discute sobre uma epistemologia da prática, composta por algumas proposições que os professores necessitam levar em consideração no momento em que vão utilizar uma estratégia de ensino. Nos dizeres de Stein (1997), entende-se como epistemologia a tentativa de preencher a lacuna existente no universo de nossas proposições empíricas, nas distâncias que nossas teorias nos separam em relação à experiência e vivência cotidiana. Na perspectiva se suprir essa lacuna, Schön (2000) estruturou sua proposição sobre o conhecimento profissional em quatro fases, iniciando com: i) o ato de conhecer na ação, constituído por meio do conhecimento na ação; ii) em seguida, é desenvolvido o processo de reflexão na ação. Essa é uma das 52 etapas que exige um intenso trabalho do professor em orientar os estudantes a pensarem sobre seus atos ou procedimentos realizados de forma a lhes possibilitar a identificação de seus acertos e de suas lacunas a fim de melhorar e ampliar os seus conhecimentos; iii) a etapa da reflexão sobre a ação; iv) conclui o ciclo por meio da reflexão sobre a reflexão na ação. DeAquino (2007) explica que a aprendizagem de adultos é mais eficaz sempre que o objetivo proposto fosse mais direta e profundamente vivenciado do que quando ele fosse simplesmente recebido de forma passiva. Zeichner (1992) considera que a reflexão na ação vem a ser o processo de pensamento utilizado no transcurso da ação, com os quais o professor busca conseguir que os estudantes consigam respostas mais adequadas aos problemas que estão sendo propostos. Ao término da ação, o professor pode realizar uma narrativa retrospectiva dos fatos ocorridos buscando desenvolver o processo de reflexão sobre a ação. O autor incentiva que os professores busquem suas investigações baseados nas próprias práticas pedagógicas, muito embora, do ponto de vista da ciência, essa legitimidade lhe seja negada. Para Silva e Schnetzler (2000), uma aula prática é um momento importante na formação do estudante, que necessita de um correto planejamento e interação dos estudantes durante tal processo. Uma aula dessa natureza necessita de objetivos educacionais bem estabelecidos e de dinâmicas organizadas que possibilitem, aos estudantes, identificarem como a prática possibilita o entendimento do conteúdo científico. O professor necessita explicitar o que, como e por que será feita a atividade prática do conteúdo, bem como estruturar as dinâmicas das ações a serem realizadas durante a aula, para que o aluno compreenda os conceitos teóricos e para que isso permita futuras articulações reflexivas sobre a atividade desenvolvida. Apesar das contribuições significativas da proposta de Schön (2000), quanto ao conhecimento que pode advir de uma aula prática-reflexiva, Ghedin (2006) salienta que não é exclusivamente por essa ação pedagógica que se pode desenvolvê-lo. O processo educacional não pode ser exclusivamente prático e individual, mas também deve ser realizado e entendido na dimensão teórica e conceitual. Cabe ressaltar, apoiado nas ideias de Vigotsky (2008), que os processos de formação de conceitos induzidos de forma didática e experimental nunca refletem o seu desenvolvimento na vida real. Esses 53 procedimentos permitem identificar os processos chave que estão sendo envolvidos e, posteriormente, no caso da educação, trabalhados pedagogicamente para uma compreensão de como os conceitos e vivências podem ser reelaborados na vida real. Apoiado nos pensamentos de Bock e Aguaiar (2003), cabe discutir que a escola, mesmo com todas as suas lacunas e dicotomias, cumpre com um papel bastante específico na sociedade, em seu dever de disponibilizar o acesso pedagógico aos conhecimentos possibilitados pela evolução científica e outras produções históricas da humanidade, privilegiar valores, ensinar uma relação com o trabalho, ensinar regras e condutas na sociedade e no meio ambiente e, até mesmo, as relações políticas, visando fundamentalmente a preparação das pessoas para enfrentar e superar os desafios da vida. DeAquino (2007) enfatiza que os objetivos educacionais representam a profundidade com que uma determinada ação educacional se encontra comprometida e o tipo de processamento de aprendizagem que se deseja conseguir com a ação. Para que os interesses possam ser contemplados, Bock e Aguaiar (2003) sugerem um diálogo entre os conceitos por meio da adoção de uma ética e disciplina rigorosa. Freire (1996) discute que educar não é treinar, pois ensinar e aprender são um esforço metodicamente crítico do professor e de empenho igualmente crítico e comprometido do estudante no sentido de sua aprendizagem. A mera transmissão de conteúdo não é a tarefa central do educador perante os estudantes, mas sim instigá-los no sentido de que se tornem capazes de inteligir e comunicar o inteligido. DeAquino (2007) argumenta que os estilos de aprendizagens e as vivências dos estudantes necessitam serem levados em consideração para que um docente organize o seu processo de aula. “Aprender também significa pensar sobre o vivido e sobre si” (CUNHA, 2011, p. 565). Contudo, a resistência do professor em aceitar as leituras do mundo do estudante se constitui um obstáculo a experiência do cotidiano, sendo que entender essas leituras “é a maneira que tem o educador de, com o educando e sobre ele, tentar a superação de uma maneira mais ingênua, por outra mais crítica de inteligir o mundo” (FREIRE, 1996, p. 122). Buscar respeitar essa leitura de mundo do estudante como ponto de partida para a compreensão de novos 54 saberes é, de modo especial, um dos impulsos iniciais da produção do conhecimento. Vencida a barreira inicial do ponto de partida dos estudantes, Monteiro, Vasconcelos e Almeida (2005) alertam para outra dificuldade vivenciada por eles, que é sua adaptação às condições de estudo impostas pela universidade, muitas delas decorrentes da utilização de métodos ineficazes de estudo utilizados. Muito embora seja difícil interferir nas variáveis inerentes ao percurso anterior de cada estudante, o docente, a partir dos primeiros contatos com os acadêmicos, necessita identificar e intervir nos fatores que interferem em seu aprendizado. Sua orientação consiste em lhe atribuir uma mais-valia atitudinal e comportamental voltada para além de uma leitura dos textos indicados, mas sim, voltada à reflexão dos conteúdos e ao estudo direcionado à significação das aprendizagens. Por sua vez, o método de avaliação utilizado pelo professor estimula nos estudantes a utilização de abordagens de estudos com um viés mais superficial ou mais aprofundado dos conteúdos, conforme o caso. Reduzir ou simplificar o processo de avaliação dos estudantes a realização única de provas meramente tecnicistas do conhecimento é apenas uma ação de medir as capacidades de respostas imediatas dos estudantes diante de um instrumento pontual de avaliação, muitas vezes realizada sob um sentimento de pressão. “Medir é diferente de avaliar” (CUNHA, 2006, p. 260), ou seja, avaliar o processo de aprendizado é apenas parte de um processo muito mais amplo. Avaliar de forma ampla o estudante somente é possível com o estabelecimento de uma relação causal entre o desempenho da complexidade do conteúdo que está sendo abordado para além da linearidade da realização de uma única prova escrita. O que se procura nesta abordagem é demonstrar que, muito embora o uso do instrumento de avaliação denominado de prova tenha sua finalidade e implicações cognitivas ao aprendizado do estudante, não pode ser este o único meio de se verificar os conhecimentos adquiridos em decorrência do processo de ensino universitário. Ao realizar a análise do trabalho de seus professores, Bakhtin apud Bakhtin e Duvakin (2008), reconhecia a distinção entre o conhecimento técnico e conceitual do docente das suas ações didáticas. A ação docente de interconexão entre a validade do „conteúdo-sentido‟ dos trabalhos técnicos 55 focados no desenvolvimento dos conteúdos e de construções acadêmicas intelectuais muitas vezes diferem da ação emotivo-volitiva real realizada por um ato mecânico de aprendizagem. A cognição teórica, por mais importante que seja para o desenvolvimento acadêmico, não se constitui como a última cognição (BAKHTIN, 2010). As tentativas de superação do dualismo entre o pensamento e a realidade concreta da cognição teórica centrada apenas nos aspectos conteudistas, em relação ao ato histórico de sua realização em relação à vida, acenam como focos de superação de tais barreiras no ensino de graduação. Ensinar é, certamente, provocar o crescimento intelectual e isso não se faz através de aulas onde, ao longo do semestre, só o professor fala e/ou faz demonstrações no quadro. Aprender não significa acumular informações memorizadas e sem sentido. Aprender, efetivamente, significa que o aluno, diante de situações novas, é capaz de buscar alternativas argumentando teoricamente em favor de suas escolhas. Portanto, estimular intelectualmente o aluno exige fazê-lo romper com explicações dos outros, supõe provocá-lo para que ele busque as suas próprias, ou seja, supõe desafiá-lo à autonomia de pensamento (FISCHER, 2009, pp. 314-315). Ensinar não é apenas a transferência de conhecimentos (FREIRE, 1996), mas a criação das possibilidades para a construção de conhecimentos, tanto nos aspectos pedagógicos que dizem respeito ao docente, quanto nas questões da aprendizagem por parte dos estudantes. Entende-se como ensino, pois, o conjunto de todos os fatores e condições disponibilizadas para que haja a potencialização do desenvolvimento da aprendizagem. De fato, a tarefa da educação universitária não é motivo de aprendizagem (embora este é o eu propósito), mas para permitir que o aluno aprenda, um processo que é um resultado direto de suas ações para estudar e não apenas de ensino. Assim, este professor começa a ver o seu ensino como uma atividade que fornece um conjunto de condições favoráveis (do aprendizado), em vez de causalidade, de modo que os resultados são bastante imprevisíveis. De fato, tornar o ensino focado para facilitar e promover atividades que levem o aluno a aprender, de modo que, embora o ensino levam à aprendizagem, que, quando ocorre, não deve ser entendido como o resultado causal do primeiro, mas também como resultado da ação autônoma dos alunos que, mais uma vez, só será dada se o professor cria certas condições que permitem (JARAUTABORRASCA, MEDINA-MOYA, 2009, p. 364). 56 O papel do professor universitário, nesse sentido, passa a ser o de colocar o estudante em situações pelas quais o conhecimento resulte em diálogo na relação pedagógica, entre conhecimentos diversificados, pelo debate acerca das problemáticas dos conceitos estudados. Para isso, o trabalho do professor universitário necessita estar focado na busca pelo desenvolvimento de competências, de compreensão e reflexão dos significados da aprendizagem, diferentemente da mera tarefa de transmissor ou fomentador de conhecimentos por meio de uma abordagem de memorização, por parte dos estudantes, muito embora essa ainda seja a prática dominante nas salas da aula universitária brasileira. Para Cunha (1998, p. 68), também há uma resistência do estudante com a mudança na ação didática pelo fato deles estarem “acostumados a receber o conhecimento pronto na aula estruturada pelo professor”. Diante do exposto, Ribeiro e Cunha (2010) salientam que não é mais admissível que as ações pedagógicas no ensino de graduação sejam assentadas meramente nas tradições históricas de ensinar e aprender. Essa didática ainda é vigente, devido ao fato de que muitos profissionais do magistério superior não dominam ou não conhecem o referencial pedagógico necessário para sua ação em sala de aula. Isso ocorre porque muitos docentes são oriundos de suas áreas específicas, como por exemplo, os graduados em cursos de bacharelado ou de engenharias. Eles podem ser reconhecidos em sua área específica, mas quando ministram suas aulas, muitos se utilizam de seus modelos históricos em que foram ensinados, sem, no entanto, compreender as teorias didáticas por eles empregadas, perpetuando as mesmas formas e estilos utilizados pelos seus professores. “Todos os professores foram alunos de outros professores e viveram as mediações de valores e práticas pedagógicas” (CUNHA, 2006, p. 259). Mediados por essas vivências esse professor foi constituindo suas estruturas de conhecimento cognitivo, subjetivo, afetivo, político e até mesmo de concepções e esquemas didáticos e educacionais que acabam por lhe propiciar subsídios, quase que naturalizados, para a sua atuação como docente. 57 Analisando a situação dos professores que atuam hoje nas salas de aula da universidade, verifica-se facilmente que, com exceção dos docentes provenientes das licenciaturas, a grande maioria não contou com a formação sistemática necessária à construção de uma identidade profissional para a docência. Embora estejam dando aulas, esses professores, nem sempre dominam as condições necessárias para atuar como tais (SLOMISKI, 2007, p. 87). A compreensão de tais práticas e a ação de desvelá-las torna-se um ponto a ser analisado para a melhor compreensão das funções de professor universitário. “Rever a formação do professor universitário em face das mudanças de paradigma é repensar a inovação no sentido de compreender as atividades de ensino, pesquisa e aprendizagem em constante movimento” (PEDROSO; CUNHA, 2008, p. 142). Intervir nesse processo de formação e na compreensão de outra constituição do professor universitário perpassa por uma sistematização de reflexões com o intuito inicial de desconstituir um modelo único de sua ação profissional docente. Em seguida, lhe propiciar novos subsídios teóricos em um ambiente de abertura para o desenvolvimento de outras formas didáticas de realização de sua atuação pedagógica. Para Jarauta-Borrasca e Medina-Moya (2009) existem alguns fatores que são inibidores da mudança desse processo de formação bem como do processo de intercâmbio de experiências docentes e de inovações em aula como o desconhecimento pedagógico, principalmente de professores iniciantes, falta de recursos materiais disponíveis, reconhecimento e falta cultura de alguns departamentos didáticos em reconhecer a inovação. Outro limitador, apontado por Cunha (1998) está no fato de que realizar uma ação pedagógica diferente causa uma desacomodação inicial e exige do professor uma disposição para realizar algo novo, além de um tempo maior dedicado à leitura, reflexões, discussões e avaliações com o intuito de realizar melhorias de sua ação profissional. Para Silva; Klüber (2012) existem outras justificativas que provocam essa lacuna na formação profissional do professor universitário como as políticas de seleção das universidades, o próprio empenho e restrições dos docentes em busca de conhecimentos pedagógicos, da atrofia existente entre o volume de produções e divulgações científicas em relação às atividades de ensino e de extensão, estabelecidas pela legislação brasileira. Também se pode verificar que as exigências de formação em nível de pós-graduação, em um grande número de cursos, encontram-se focadas 58 prioritariamente nas discussões e pesquisas de suas áreas de atuação e não na orientação do futuro professor em como articular os conteúdos científicos da área em suas futuras ações educacionais. Muito embora os órgãos como a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPQ recomendem que as propostas curriculares dos cursos de stricto sensu possuam disciplinas de formação didática e pedagógica. O que se observa é que essas são realizadas de forma isoladas e descontextualizadas com as demais disciplinas. Cunha e Zanchet (2010) argumentam que muitos docentes acreditam que se tornam melhores com a prática da pesquisa, pois lhes auxilia no pensamento, no questionamento e na compreensão dos conteúdos, sendo que esses são atributos importantes na sua atuação profissional. No entanto, não se pode tomar essa afirmativa como única verdade. Nem sempre um bom pesquisador pode se tornar um bom professor e vice-versa. Assim, para as autoras, um pesquisador reconhecido ao ingressar na carreira do magistério universitário implicaria diretamente em seu desempenho para o ensino. O que se observa é que não existe essa linearidade entre a pesquisa e a docência. Os egressos dos cursos de mestrado e doutorado relatam que durante a realização de seus cursos não tiveram a oportunidade de reflexão nem o devido debate de como os conteúdos abordados ao longo do curso poderiam ser articulados para ensino, nem sobre os processos de aprendizado de seus futuros alunos. Pelo contrário, esses egressos ratificam a posição de que cursos de mestrado e doutorado centram pouca ou nenhuma preocupação com os desafios a serem enfrentados na sala de aula, pois estão focados unicamente para a formação científica do pesquisador. A união da pesquisa com o ensino é identificada por Silva e Klüber (2012) como fator de formação dos professores universitários e, nesse sentido, a pesquisa necessita tornar-se um instrumento de organização da ação pedagógica de forma que os professores possam superar a fragmentação dos conteúdos e romper com as limitações do mero repasse de informações aos estudantes. Num momento seguinte a pesquisa também pode vir a se tornar em ações de extensão, aproximando a universidade de suas comunidades. 59 Diante do exposto, cabe refletir que, atualmente, a constituição do trabalho docente universitário está envolta de uma realidade multidimensional, numa diversidade de atividades simultaneamente desenvolvidas. Esse é um processo dinâmico e concreto de produção composto segundo modalidades e ponderações diferenciadas dessas diversas ações realizadas. Tal multiplicidade de atividades realizadas pelos docentes é classificada por Gripp (2010, p. 63) como: “ensino, pesquisa, extensão, atividades administrativas, atendimento a estudantes (orientações e supervisões)” como as principais atividades desenvolvidas. Toda essa interligação dinâmica de atividades caracteriza a constituição e a estruturação do trabalho do professor universitário. Ao assumirem essas inúmeras e simultâneas funções, os professores universitários encontram-se diante de inúmeros desafios e isso pode ocasionar um distanciamento de sua atuação como pesquisador em detrimento do cumprimento das demais atividades a ele encarregado. O docente precisa estar atento às inúmeras atividades da sua profissão sem, no entanto, se furtar de experienciar diferentes situações de ensino que lhe possibilite ser formulador e auto pesquisador dessas novas estratégias de ensino centradas em melhores condições de aprendizagem aos acadêmicos. O professor, ao adotar a postura de propor e investigar outras estratégias de ensino para sua ação docente, com foco na aprendizagem, oportuniza um momento de pensar, planejar, elaborar e questionar sobre os modelos atualmente utilizados e a partir dessa análise auto reflexiva de seu trabalho, pesquisar outras formas de realização de sua aula. Assim, o professor passa a ser pesquisador de sua ação docente. Para a realização das pesquisas em e no ensino, faz-se necessária a análise e interpretação crítica de resultados, com base nas quais, ainda é possível realizar melhorias nas propostas e ações iniciais. Conforme propõe Shulman (2005), por meio dessa pesquisa o professor pode criar suas próprias teorias sobre o seu conhecimento pedagógico do conteúdo. Abordar a metáfora do professor-pesquisador implica debater sobre as condições de constituição desse profissional. Ao adotar tal postura, o docente “pode ser caracterizado, em maior ou menor grau, como um pensador ou pesquisador sobre o que se propõe a apresentar e debater com os alunos, 60 inclusive sobre os efeitos de suas atividades sociais e educativas” (DA VEIGA et al., 2012, p.13), de tal forma que esses pontos sejam elaborados e desenvolvidos na forma de pesquisa de sua prática pedagógica como parte do seu processo formativo permanente ao longo de sua carreira profissional. A pesquisa é um processo que está em constante movimentação e é relevante quando ocorre a transformação. A pesquisa docente focada na interligação do conteúdo científico com as práticas de aula promove a oportunidade de realizar diálogos, leituras, trocas e reflexões que possibilitam o repensar das didáticas adotadas, sejam nos aspectos da aprendizagem dos estudantes ou nas ações utilizadas pelos docentes para a realização desse processo (ROSA, 2008). A ação dos professores de propor didáticas, pesquisar e analisar acerca dos resultados encontrados, conforme Nuñez e Ramalho (2005) é apresentada como uma alternativa que lhe possibilita um processo de constituição de seus saberes docentes focado em sua profissionalidade. Como refere Maldaner (2006), além da questão da estruturação da pesquisa faz-se necessário que as instituições educacionais disponibilizem recursos materiais, tempos e espaços para que os professores planejem e dialoguem, com os colegas, de sua e de outras IES, não somente os conteúdos e materiais, mas também as propostas e ações didáticas desenvolvidas, os objetivos previstos e resultados realizados delas implicados. É o ambiente colaborativo e aberto que propicia o intercâmbio de saberes, experiências e resultados entre o professor-pesquisador e seus colegas de trabalho. Ao realizar essa ação colaborativa, a equipe docente oportuniza uma forma de trabalho que, em consonância com Schön (2000), se contrapõe à visão centrada na racionalidade técnica, oriunda da concepção positivista, que ainda prevalece em muitos ambientes educacionais: de que o foco de discussão acadêmica deve estar centrado nas técnicas e na pesquisa para o avanço do conteúdo científico e pouco permite manifestações ao estudo das próprias práticas para o ensino desse novo conteúdo. Schön (2000) ainda faz uma analogia da racionalidade técnica como um terreno alto e firme, onde os problemas podem ser solucionados por meio de teorias e técnicas baseadas na pesquisa. Em contrapartida, do alto do morro, pode-se ver um pântano que representa, figurativamente, os problemas da 61 sociedade, muitos deles considerados caóticos e confusos que desafiam a sua solução somente pelo uso de uma técnica. Os profissionais encontram-se diante dessa topografia irregular. O profissional da educação não está furtado dessa topografia e dos seus embates. O professor também tem, diante de si, uma situação dessa natureza. Ao abordar a pesquisa do conteúdo puro por meio de técnicas científicas rigorosas, ele busca resolver os problemas importantes da área. Em muitos casos, esses estudos esquecem as questões do cotidiano da aula, parafraseando Schön (2000), do terreno pantanoso que é o desenvolvimento pedagógico desse conteúdo. Para se chegar nesse estágio ainda têm-se algumas barreiras a serem vencidas. Laurino, Duvoisin e Araújo (2008) argumentam que a racionalidade oriunda da estrutura atual de muitas instituições de ensino superior exige que o professor cumpra, primeiramente, com as suas funções de especialista em sua área para que, posteriormente, ele, isoladamente, busque os seus referenciais pedagógicos e didáticos. Em decorrência disso, muitos professores não têm ciência do enfoque de currículo que utilizam em seu trabalho como profissional da educação, como por exemplo, não conhecem, muitas vezes, as diretrizes do PPC do curso. Utilizar-se de referenciais teóricos que permitam uma tomada de consciência acerca do mundo das vivências é um dos primeiros passos para a constituição do professor pesquisador. Compreender a necessidade de sua auto-formação pedagógica continuada de professor como forma de se produzir novos significados de sua prática é um dos objetivos do docente que se encharca desta metáfora. A pesquisa como princípio formativo e como prática é concebida como aquela que ajuda a romper com a tradição na qual “historicamente os professores sempre foram incumbidos de aplicar políticas curriculares uniformes” (MALDANER, 2006, p. 85). O professor precisa ser visto como alguém que cria currículo e “a pesquisa, como princípio formador e como prática, deveria tornar-se constitutiva da própria atividade do professor, por ser a forma mais coerente de construção/reconstrução do conhecimento e da cultura” (idem, p. 88). O professor pode superar a racionalidade técnica utilizando-se de uma prática reflexiva (PIMENTA; GHEDIN, 2006), que se utiliza, intencionalmente, 62 da pesquisa focada para além do conhecimento técnico e científico, com objetivos expandidos e focados na formação de estratégias de ensino que articuladamente propiciam a reformulação do currículo. Dessa maneira, entende-se a pesquisa do trabalho docente como uma ação que contribui para a autonomia e enriquecimento de sua atuação profissional. Ao adotar a prática de pesquisar sua ação didática, o professorpesquisador cria uma espiral de transformação e ressignificação dos conhecimentos e culturas, por meio da pesquisa-ação (THIOLLENT, 2003), tanto dos conteúdos estudados como de suas práticas didáticas. Essa ação também lhe possibilita criar novos significados para o seu trabalho porque lhe permite ampliar, simultaneamente, o conhecimento científico como o pedagógico. Elliot (1998), baseado em uma perspectiva de que a validação de uma teoria educacional não pode ser testada sem uma investigação prática, argumenta que os participantes de uma pesquisa pedagógica devam buscar soluções de problemas em suas ações. A validação de uma teoria educacional, para um educador, implica que ele seja capaz de estabelecer condições de investigação educacional, pela relação entre teorias e práticas. E que seus estudantes possam manifestar-se de modo que a relevância da teoria possa ajudá-los a articular os problemas práticos e, com isso, propor soluções mais apropriadas, possibilitando melhores condições de desenvolvimento de conhecimentos. Nesse sentido, essa discussão em torno do conhecimento novo que a pesquisa sobre o ensino pode proporcionar é, essencialmente, de cunho epistemológico. Pois os modelos teóricos de explicação do real não decorrem de observações neutras, mas de criações humanas. Assim, pode-se entender os modelos teóricos da ciência e, porque não, os conhecimentos e saberes de professor. Souza-Santos (1989) postula uma segunda ruptura epistemológica investigativa, no sentido de propiciar o retorno do conhecimento da ciência para a realidade cotidiana do senso comum e, articulado com esse, propiciar novos entendimentos a ambos. O ensino deveria ter a preocupação de permitir o acesso a tal realidade produzida por meio da significação (VIGOTSKY, 2008). O conhecimento científico é abstrato e descontextualizado; é uma 63 generalização produzida. Para ser compreendido, precisa novamente ser recontextualizado e, a partir deste ponto, gerar novos significados científicos, desenvolver o pensamento e internalizar valores sociais. Pela associação conjunta do ensino e da pesquisa potencializa-se a possibilidade de se atingir níveis de maior consciência de práticas, rotinas, relações de poder e crenças que foram sendo cristalizadas ao longo da história da docência. Muito embora seja importante o debate acerca desse ponto, estudos realizados por Ritter-Pereira (2011) demonstram que os professores tendem a reproduzir uma sequência de conteúdo, em uma mesma situação de ensino, sem que haja qualquer recontextualização. Da mesma forma, a formação descolada da ação específica de uma matéria também merece ser repensada quando se discutem as condições de autonomia do professor para propor programas curriculares. O desenvolvimento de unidades de ensino e a criação de núcleos de pesquisa e estudo da práxis docente favorecem a constituição do professor-pesquisador e seu desenvolvimento como profissional. Elaborar novas teorias ou reconstruir e ampliar conceitos existentes, por meio da pesquisa do professor no seu contexto profissional, demonstra a potencialidade que a proposta da metáfora do professor-pesquisador representa. Para Moraes (2007) trata-se do aprender como reconstrução que a linguagem compartilhada em processo formativo possibilita. E é a existência da dúvida que parece fomentar a produção de argumentos, de modo que a sua problematização é fundamental na construção de novos conhecimentos. O processo de formação docente, em redes, favorece a pesquisa como princípio educativo, ou seja, o educar pela pesquisa. Na opinião de Mayer (2007) a pesquisa necessita ser submetida à crítica de seus pares e a novos olhares da comunidade acadêmica a fim de identificar possíveis lacunas, novas possibilidades de investigação, bem como referendar os seus resultados. E analisar dados coletados por meio de uma teoria de base, tendo o objetivo de formular novas teorias, é resultado de um processo interpretativo que produz algo novo (OGLIARI, 2007). Cabe entender, ainda que: “pesquisar é estabelecer relações entre o conhecimento já existente e as novas evidências” (BINI, 2007, p. 106) que vão sendo propiciadas. Muito embora a busca pela validação da pesquisa sobre o ensino seja importante, Lüdke, Barreto-da-Cruz e Boing (2009) salientam que 64 essa publicização necessita ser bem estrutura de maneira a demonstrar, claramente, as características e as técnicas de pesquisa, visando permitir aos avaliadores, um discernimento correto de que não se trata de um relato de experiência. Estudos realizados pelos autores destacam que, há uma resistência de muitos avaliadores de periódicos e congressos em classificar esse trabalho investigativo, realizado em aula, como uma pesquisa científica. Muitos professores ao terem os seus trabalhos refutados, por estes motivos, sentem-se desmotivados e desistem da busca de divulgar as suas investigações e os seus materiais. Para superar a resistência de aceitação de que uma pesquisa da prática docente seja considerada apenas um relato de experiência, o que se discute é que se fazem necessárias a utilização e a descrição adequada das técnicas e procedimentos metodológicos de forma a possibilitar, aos avaliadores, condições de identificar os fundamentos científicos envolvidos e os resultados pedagógicos encontrados. Vencida essa barreira, pode-se buscar apreender mais e desenvolver melhor os novos significados da prática docente, ao longo da caminhada, cujo conhecimento de professor vem agregando novos sentidos ao longo da profissionalização. Esse é o caso apresentado por Villani, De Freitas e Brasilis (2009), que relatam as práticas da professora Rosa e analisam as condições que permitiram o acoplamento da pesquisa conjunta com a ação da docência. Verifica-se que, este tipo de pesquisa exigiu de Rosa um trabalho colaborativo, bem como o esforço e à vontade persistente da professora-pesquisadora em utilizar uma metodologia de pesquisa que possibilitasse a incorporação, tanto de aspectos objetivos quanto de subjetivos, para referenciar à prática docente. Estudos como esse demonstram a existência de novas dimensões de significado da ação docente. Pela proposição e pela pesquisa do trabalho docente, verifica-se o caráter provisório das didáticas utilizadas atualmente, tornando sempre possível o surgimento de novas dúvidas, novos argumentos, bem como novas teorias e práticas. Nesse sentido, verifica-se que há uma convergência de todos os autores explicitados, até este momento, de que a pesquisa que o docente realiza de sua aula, ou a de seus colegas, pode potencializar a produção de conhecimentos de professor. 65 Ao incorporar a metáfora de professor-pesquisador em suas ações, o docente amplia o círculo de compreensão do mundo que o rodeia. Os argumentos, produzidos a partir das dúvidas, representam o princípio da pesquisa docente, sendo o mesmo princípio que faz avançar o conhecimento dito científico. Os professores-pesquisadores tornam-se eles próprios os meios de divulgação do conhecimento existente e as constatações que se estabelecem, por meio da pesquisa por eles realizadas, produzir uma argumentação que “assume sua função social, favorecendo a superação da condição inicial do sujeito via participação e reflexão” (BINI, 2007, p. 114). Essa reflexão pode ser realizada via redes de socialização que criam possibilidades da produção de contra-argumentos que o coletivo instiga. Tratase da reconstrução dos próprios conhecimentos de professor e da autonomia, que o processo de argumentação e contra argumentação produz no professor, que se individualiza com o outro (VIGOTSKI, 2008). Produzir conhecimento novo, desenvolvendo-se como profissional da educação e expandir currículo são possíveis ganhos de qualidade educacional oriunda da constituição da metáfora do professor-pesquisador da sua prática. Dessa forma, verifica-se a importância da perspectiva prospectiva e retrospectiva da pesquisa que Stenhouse (1993) propõe como possibilidade do desenvolvimento de professores pesquisadores internos e externos, ou seja, professores tanto da escola básica como os das IES. Sem constituição de redes de formação ou sem a constituição e participação em grupos de pesquisa vê-se pouca possibilidade de avanços significativos nesta área. Em condições adequadas, “a pesquisa transforma o saber do investigador e também é transformada, visto que ambos estão diretamente ligados” e a pesquisa como agente de construção de conhecimento pedagógico atua na transformação das práticas didáticas dos sujeitos (FELICETTI, 2007, p. 147). O professor pode se desenvolver como profissional, ampliar a produção de conhecimentos novos e ampliar sua percepção de que a aula pode ser objeto de pesquisa na mesma medida que o próprio pesquisador pode também sê-lo. Entendimentos como esses serviram de referência para a construção da presente tese, tendo sido desenvolvida a parte empírica da pesquisa em aulas de Administração da Produção, em um Curso de Administração. Por isso, no 66 subcapítulo que segue, as abordagens dizem respeito ao ensino e à docência nessa área. 3.2 Considerações acerca do ensino e da docência na área de Administração O campo de conhecimento referente ao ensino de Bacharelado em Administração, no Brasil, está regido pela Resolução 04/2005 do Conselho Nacional de Educação – CNE, a qual estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para cursos nessa área. Em seu art. 3°, como parte do perfil pretendido para os egressos do Curso de Administração, a Resolução citada define a “capacitação e aptidão para compreender as questões científicas, técnicas, sociais e econômicas da produção e de seu gerenciamento”. A referida Resolução do CNE está alinhada ao estabelecido na alínea b do art. 2° da Lei 4.769/1969, que dispõe sobre o exercício da profissão de Administrador no Brasil e ela define como atribuição profissional as atividades vinculadas à Produção, bem como as demais áreas de atuação. Assim, a área da Produção faz parte do estabelecimento das atribuições profissionais do administrador, bem como o amparo para a sua formação educacional, exigindo desdobramentos dos aspectos legais, durante a fase acadêmica da preparação para enfrentar situações e questões da área e, em especial, como um dos focos das operações empresariais, sendo esse o foco central desta tese. A mesma Diretriz Curricular Nacional citada considera a Produção como sendo um dos conteúdos de formação profissional e, para atender a essa exigência, os cursos de Bacharelado em Administração necessitam possibilitar a formação, dentre as competências e habilidades legalmente estabelecidas, a de: “refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo sua posição e função na estrutura produtiva sob seu controle e gerenciamento” com vistas a possibilitar a introdução de “modificações no processo produtivo” (BRASIL, 2005, p. 2). Para atender a essa exigência legal esse tema necessita estar contemplado nos Projetos Pedagógicos dos Cursos – PPC, por meio dos planos de componentes curriculares para a área de produção e suas 67 interdiciplinaridades, além de outras exigências como a definição das ações educativas inerentes a este campo do saber (AMBONI; ANDRADE, 2002). Os desdobramentos dessas ações educativas podem ser configurados em dois vieses significativos: um deles estabelecido como Científico, conforme consta na lista das áreas e subáreas do conhecimento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq (s.d.), na área de Ciências Sociais Aplicadas, denominada de Administração da produção. Outro enfoque dessa temática encontra-se focado para a ação cotidiana das organizações empresariais, que, conforme Tubino (2008) se utilizam dos conhecimentos da Administração da Produção inserindo-os nos processos manufatureiros para a transformação de bens e ou na realização de serviços. Como campo científico, Santos e Alcadipani (2010) relatam a importância e o crescimento da pesquisa no campo científico da área acadêmica. A pesquisa em Administração, no Brasil, vem apresentando crescimento ao longo dos últimos anos, mas, paulatinamente, ela passou a se construir em bases de teorizações abstratas ou tentativas igualmente abstratas de modelagem de aspectos organizacionais. Ela se distanciou, em suas análises e nas implicações no que e como estas teorias afetariam o cotidiano das pessoas no âmbito organizacional e social, bem como para a melhoria do processo de ensino e da expansão da aprendizagem. Ao relacionar o estudo de Santos e Alcadipani (2010) com o debate expresso por Schön (2000), cabe refletir que as pesquisas da universidade moderna estão baseadas, quase que unicamente, na racionalidade técnica. Essa visão pode ser reportada à relação dicotômica entre os dois contextos socioculturais conhecimentos, de produção sejam os científica: de cunho no mais uso e na validação teórico/científico ou dos mais técnico/prático. Assim, o currículo normativo apresenta, em primeiro lugar, a ciência básica relevante, em seguida a ciência aplicada relevante e, finalmente, um espaço de ensino prático no qual se espera que os estudantes aprendam a aplicar o conhecimento baseado na pesquisa aos problemas da prática cotidiana (idem, p.19). As pesquisas científicas na área da Administração são relevantes e Santos e Alcadipani (2010) discutem a necessidade de desenvolvimento de 68 estudos que atendam aos padrões científicos em consonância com as questões relacionadas com as vivências administrativas e empresariais. Faz-se mister salientar que é sobre a atribuição legal do ensino de um conteúdo que se buscará discorrer nesta tese, ou seja, sobre o tema do ensino de Administração da Produção, por meio do estudo de limitações e potencialidades de uma proposta de ensino, na perspectiva de contribuir com aspectos críticos sobre pontos ainda pouco pesquisados. A tese partiu do interesse em expandir e aprofundar um debate sobre uma prática acadêmica adotada para este campo do saber, realizada em sala de aula ambientada de acordo com algumas especificidades. Este estudo não enfoca a abordagem e aplicação de técnicas ou didáticas isoladas para o conteúdo da área de Administração da Produção para serem inseridos no ensino, de maneira geral, mas justamente o inverso. Ele enfatiza os fundamentos teóricos balizadores e transformadores da ação pedagógica para o desenvolvimento acadêmico e intelectual, nesse campo do saber, que possibilitem melhores condições aos professores, para entenderem o desenvolvimento do processo pedagógico e para os estudantes entenderem as relações dos princípios científicos com algumas das possíveis situações da vida profissional, em aula. O ensino administrativo contemporâneo exige, na visão de Nicolini (2003), uma complexidade de conhecimentos que o processo de aprendizagem, usualmente adotado, parece ainda não ter sido considerado na maioria dos Projetos Políticos Pedagógicos - PPCs. Um dos motivos alegados é que o método de ensino predominante ainda é aquele limitado à ação expositiva do docente, originário da epistemologia tradicional positivista. Na crítica realizada por Barros et al. (2011, p. 45) “o reconhecimento da gestão como atividade relevante se legitima somente na sua formalização como algo que possa ser sistematizado, transmitido e apreendido, nos moldes educacionais tradicionais” não sendo possibilitada a abertura para outras estratégias educacionais. Essa herança em que emergiu um estilo tradicional de ensino da Administração está alicerçada desde a concepção legal do curso e sua estruturação, ou seja, sob os auspícios de um Brasil industrial, que influenciou as características educacionais daquele período com “a divisão do trabalho, a 69 especialização funcional e o mecanicismo” (LOURENÇO; KNOPP, 2011, p. 221). Nos estudos realizados sobre a questão da didática adotada nas aulas, “o que se vê, claramente, é que os Cursos de Administração ficaram adormecidos por quase trinta anos” (ARAGÃO, 2008, p.143). As poucas mudanças que ocorreram estavam centradas em atender as necessidades do mercado ocasionadas pela pressão exógina por inclusão, alteração ou exclusão de conteúdos ou componentes curriculares, bem como, pela tentativa de criar diferenças mercadológicas com os concorrentes, do que por estudos focados no aprimoramento do ensino e da aprendizagem na área. Na pesquisa desenvolvida por Lourenço e Knopp (2011) com estudantes de um Curso de Administração em Minas Gerais, os resultados apontam que aproximadamente 40% dos entrevistados entendem que os professores não correlacionam a teoria com a prática em sala de aula, bem como um percentual semelhante opina que os professores têm pouca habilidade para despertar o interesse dos estudantes pelos conteúdos ministrados. Diante dos problemas contemporâneos da atuação profissional, os autores da área têm indicado a necessidade de serem pesquisadas novas bases para a formação do profissional, sob duas principais perspectivas: uma focada para a formação de administradores para atuação profissional nas organizações empresariais e outra focada na preparação para a docência no ensino de graduação. Em relação à primeira perspectiva, observa-se que, de acordo com a legislação brasileira vigente, é na graduação que devem ser desenvolvidos os conhecimentos referentes à profissão de administrador. Para a segunda, primeiramente é necessário questionar: onde está situada a formação para a docência no ensino de graduação em Administração? Seria no stricto sensu? Se sim, qual o papel dos programas de mestrado e doutorado para a formação de docentes qualificados no Brasil? Em qual área/subárea do conhecimento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq seria inserida essa temática? Ao buscar responder essas questões verificou-se a existência de um caminho crítico e muito lento para que as mudanças efetivamente ocorram. Em contexto internacional, Schön (2000, pp.18-19) discute que “as faculdades de 70 administração tornam-se alvo de críticas quando seus cursos de pósgraduação são vistos como fracassados no exercício do gerenciamento responsável”. No Brasil, o fato não é diferente. Os estudos de Lourenço e Knopp (2011) indicam que muitos projetos pedagógicos, inclusive os de programas de mestrado em Administração, ainda são oriundos da tradicional epistemologia positivista. Na pós-graduação stricto sensu, no que se refere à pesquisa, de modo geral, mestrandos vão aprendendo a pesquisar principalmente de modo individual, com base na exposição de seus professores, algumas vezes com aulas dinamizadas por estudos de caso, pseudosseminários e grupos de discussão virtual criados por iniciativa dos alunos. Dessa forma, parece que esse aprendizado é suficiente para que, depois de formados mestres de administração, tais alunos estejam habilitados a lecionar em cursos de graduação. No entanto, pareceu-nos que esse posicionamento deve ser revisto (VILLARDI; VERGARA, 2011, p. 796). Essa revisão pode ser remetida, inicialmente, para a instância da alteração dos critérios de avaliação trienal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, em relação à área de Administração, deixando mais claro quais são as ações efetivas que os programas fazem e transformando a pontuação desse quesito. Ou seja, do atual critério qualitativo, passando para elementos de um item de avaliação de cumprimento, com porcentual quantitativo representativo no contexto da avaliação dos programas de mestrado e doutorado em Administração. Assim, a atenção dos docentes da pós-graduação fica centralizada em realizar a publicação de suas produções intelectuais e bem como a dos programas para ações que são pontuadas quantitativamente em detrimento aos aspectos relacionados com a formação do pós-graduando para o ensino em Administração. Também foi observado, embora seja um item de avaliação qualitativa a preocupação em preparar o pós-graduando para o ensino não é um item que venha a causar impacto no conceito dos programas e, consequentemente, limita a formação na área de professores qualificados no Brasil. Como resultado desse processo, muitos docentes de programas stricto sensu “formam professores tendo pouca formação acerca dos saberes e fazeres docentes” (KREUZBERG; RAUSCH, 2013, p. 118). 71 Assim, o estudo desenvolvido permitiu perceber que o ensino de Administração, tanto na graduação com na pós-graduação, encontra-se diante de um momento vegetativo, sendo ainda poucas as proposições ou pesquisas que propõem alternativas de ruptura do modelo vigente, frente a indicações como as dos autores mencionados. Ainda não se observa um debate nacional consistente sobre essa temática por parte das entidades de classe representativas dessa categoria profissional. Nos meios acadêmicos, trata-se de uma linha de mudança ainda em fase embrionária, mas em transformação, sendo que apenas em 2012 é que ocorreu a alteração do foco da revista da Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração – ANGRAD para o do ensino e da aprendizagem em Administração, alterando inclusive o nome da antiga „Revista ANGRAD‟ para „Administração: ensino e pesquisa – RAEP‟. Essa mudança ocorreu para alinhar o seu conteúdo às demandas de professores – pesquisadores da área, a partir de 2012, além de divulgar textos em forma de artigos e ensaios teóricos originais, incluirá sínteses de tese e dissertação, casos de ensino, descrição de boas práticas de ensino – aprendizagem, e resenhas de livros, desde que versem sobre o estado da arte do ensino, da aprendizagem, e de metodologias de pesquisa aplicadas à Administração ou que se tratem de materiais pedagógicos contributivos para o ensino e a aprendizagem nos cursos de Administração (ANGRAD, s.d.). Por outro lado, a análise dos trabalhos publicados na RAEP permitiu constatar que foram publicados 35 artigos analisados nos volumes de 11 a 13, considerando-se somente aqueles publicados a partir da mudança do foco da revista. Foi observado também que, entre as várias temáticas publicadas, os temas centrais estão focados para a sustentabilidade e o meio ambiente, para as questões dos estágios curriculares, simulações computacionais e empreendedorismo, não apresentando nenhum trabalho específico para a área do ensino e da aprendizagem em produção. No contexto do ensino de graduação, em uma perspectiva internacional, pode ser observado que em estudos realizados com estudantes de Administração da Universidade de Sevilha, Espanha, Alfalla-Luque, MedinaLópez e Arenas-Márquez (2011) ressaltam que: conforme o método de aula utilizado pelo professor se pode modificar a percepção e a atitude do estudante a respeito de seus resultados de aprendizagem e, por conseguinte, alterar sua 72 visão das disciplinas estudadas. Os autores citados manifestam a importância de se selecionar metodologias adequadas para a consecução dos objetivos formativos e para a melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem. Buscando uma tentativa de ruptura com o método positivista, Sauaia e Hazoff Jr. (2009) e Sauaia e Cervi (2007) sugerem um estilo de aprendizagem para a área de Administração alinhando o ensino de gestão com o uso de novas tecnologias, mudando o foco central da aula, onde o participante passa a ser o centro de ação. Sauaia (2008) ainda propõe um modelo de simulação empresarial operacionalizado por meio de um Laboratório de Gestão com uso integrado em jogos empresariais realizados pelo uso do computador. Seus estudos iniciais foram realizados na Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo (FEA-USP) tornando-se uma disciplina da matriz curricular do Curso de Administração daquela Universidade e influenciando outros cursos a adotarem também a sua realização. Oliveira e Sauaia (2010) replicaram essa mesma proposição em outra universidade pública no interior do estado do Rio de Janeiro. Como resultados observados dessa estratégia de ensino se pode destacar como benefício do uso do Laboratório de Gestão a possibilidade dos estudantes realizarem os estudos e buscarem identificar o funcionamento dos inúmeros aspectos do cenário empresarial além do uso mais eficiente dos recursos institucionais. Apesar da dinamicidade e do envolvimento dos estudantes durante a realização dos jogos de empresas, essa estratégia de ensino, conforme Sauaia (2012) ainda denotam suas incompletudes, argumentos esses oriundos da própria prática e da análise de vinte anos de pesquisa e uso dessa sistemática de ensino. Como resultado dessa análise, o autor apresenta três fatores que desencorajam os estudantes para a realização de atividades dessa natureza: i) a inibição ora pela baixa e ora pela alta complexidade do jogo, ii) a falta de articulação dos conteúdos teóricos estudados no decorrer dos processos de tomada de decisão e iii) diante da incerteza frente a problemas com múltiplas possibilidades de respostas e de fontes de entrada de informação, os estudantes apresentam-se estressados com esses múltiplos fatos. Como solução a esse problema foi proposto um tripé conceitual constituído por simulador - jogo de empresas - pesquisa aplicada de forma a minimizar esses 73 efeitos e propiciar um ambiente para a prática conceitual das teorias das áreas da Administração, bem como as da Contabilidade e da Economia. Como reflexo destas novas perspectivas de ensino da Administração, percebe-se uma tentativa de alteração do foco do trabalho docente, para além do de dar aula. A função do professor passa a ser apenas a de um facilitador cuja responsabilidade é a de ajudar o estudante a enfrentar e resolver os problemas empresariais sugeridos pelas dinâmicas do jogo de empresas (SAUAIA, 2008). Em contraposição a tal tendência, num contexto histórico-cultural (WERTSCH, 2007), a posição do docente é a de mediador do conhecimento, ao invés de mero facilitador de resolução de problemas. Ele, por meio de sua experiência, articulado com uma variedade de estratégias de ensino, necessita orientar os estudantes, ajudando-os ativamente em seus processos de desenvolvimento. Pela relação de assimetria entre os conteúdos estudados e as lacunas observadas durante a resolução dos problemas por parte dos estudantes, ele estabelece mediações concernentes ao seu entendimento, com a inserção de novos conceitos por potencializar a atuação na Zona de Desenvolvimento Proximal - ZDP. Ao propor novas problematizações e novas dificuldades, o docente busca o desenvolvimento do estudante pela mediação com ajuda pedagógica na resolução das dificuldades encontradas. Ao se considerar os sujeitos do processo educacional como agentes culturais e inseridos em um contexto formativo, não se pode limitar-se a uma visão dicotômica entre sujeitos passivos ou ativos, pois, para Vigotsky (2007): o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores, como o pensamento, a linguagem, a atenção voluntária, a memória, a imaginação, a abstração, a volição, entre outros, somente ocorre quando há a interação entre os sujeitos. É pela mediação ocorrida nas interações sociais e num convívio dinâmico que o sujeito estabelece, com outros os homens e com o meio, potencialidades para o desenvolvimento das suas funções psicológicas superiores (VIEIRA; SFORNI, 2010). Essas funções, no contexto escolar, necessitam ser vinculadas ao desenvolvimento do pensamento do estudante para que este possa tomar consciência “sobre o lugar ontológico que ocupam na sociedade contemporânea” (BERNARDES; MOURA, 2009, p. 465). 74 Nas relações de ensino e de aprendizagem, Bock e Aguaiar (2003) defendem que o espaço grupal da sala de aula é oferecido como alternativa de favorecimentos de movimentos de ressignificação, movimentos sobre os quais o sujeito adulto reflete, sobre suas vivências, se apropria de novas informações, conhecimentos sobre outras realidades cognitivas, sociais e políticas que lhe permitem subsídios para refletir. Com isso, criam-se possibilidades à crítica e à produção de novos sentidos e saberes. Assim, como refere Marques (2006), a atividade docente pode buscar, na mediação em sala de aula, a efetivação das aprendizagens formais dos conteúdos, sendo que o professor não deve se preocupar em apenas ministrar uma boa aula expositiva, mas também se preocupar com a reflexão das práticas realizadas didaticamente. Também pode buscar interligar o conteúdo com as suas possibilidades de articulação na vida, fazendo da escola um espaço de produção, interação e novos questionamentos. Esta tese vem ao encontro desse pensamento, em defesa de que o trabalho docente seja interativo, focado na aprendizagem associada ao desenvolvimento do estudante, por meio da interação entre os diferentes sujeitos, com suas vivências de mundo e seus conhecimentos, de forma a buscar o desenvolvimento das questões cognitivas do conhecimento científico articulado com situações em estudo. Bem como, no sentido de que cada participante possa exercer, com responsabilidade, as relações sociais do aprender-vivenciar-ensinar e das relações de poder envolvidas durante a consecução de uma atividade de ensino. 4 O CAMPO DA MANUFATURA E SUAS IMPLICAÇÕES NO ENSINO DE ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO A forma de organização do presente capítulo foi intencionalmente estruturada com o intuito de debater sobre a necessidade de constante reflexão e diálogo sobre questões paradigmáticas associadas à emergência de um tipo ou outro de visão de ciência, de academia, de estrutura organizacional, de ensino, de atuação e formação profissional. A oportunidade pedagógica de vivenciar movimentos dinâmicos de „ir e vir‟ entre diferentes mundos, entre diferentes culturas, vem junto com a caracterização da prática feita por Schön (2000), como um terreno pantanoso, já tratado nesta tese, e que é importante trazer à tona novamente. Neste capítulo, o olhar se volta para a relação de diálogo entre o mundo filosófico conceitual do cotidiano organizacional, tácito ou explícito, e o mundo filosófico conceitual do ensino de uma determinada área do conhecimento, também tácito ou explícito, como tentativa de movimento de quebra do pensamento que apenas dicotomiza esses mundos. Quais as concepções e as filosofias de vida que neles reinam? Como eles dialogam entre si? Na interligação de ambientes, entre o mundo da universidade e o mundo das organizações empresariais, como são abordados os inúmeros assuntos e situações problema? De maneira articulada, na rica diversidade de suas especificidades? Ou de maneira dicotomizada? Em que pé andam as interrelações de conhecimentos no ensino de Administração e na atuação profissional dessa área? Ao imaginar um sistema explicativo do mundo e um panorama de como o mundo empresarial se configurou e se configura, fundamentado em conceitos e em filosofias de vida, é importante e é possível que isso possa ser deliberadamente discutido, questionado, modificado, (re)apreendido pelo homem por meio de seu poder reflexivo, intersubjetivo, crítico e criador. Os sistemas explicativos estabelecidos condicionam o potencial criador para fins de uma visão estreita de mercado pré-estabelecido. É quando os homens tomam uma ideia como sendo a única realidade para o meio organizacional, 76 que se faz necessário questionar as teorias e filosofias nele implicadas e como elas se podem interconectar com as novas realidades. Nesse sentido, compreender a natureza e as implicações da racionalidade moderna, em suas relações com os processos de conhecimento, com a dimensão do humano, da natureza, entre outras questões, sempre resulta em consequências aos modos de conceber e agir em meio à gestão das ações e das organizações da vida, em contexto local e geral. Para o caso das organizações empresariais, a cada grande narrativa filosófica identificam-se discursos correspondentes, por meio dos quais, os desdobramentos ocorridos, com base teórica e empírica, acabam produzindo direcionamentos educacionais para área da gestão. Um dos limitantes desse acompanhamento está no fato de que, muitas vezes, essas teorias, dado seu caráter de pretensa universalidade, passam a ser consideradas verdades para todos os tipos e portes de empresas e que estas denominadas verdades é que devem formar a base de uma educação administrativa em seu esforço de apresentação do mundo às novas gerações. Ao percorrer esse caminho, um aspecto sobre o qual que se busca arguir é sobre o tipo de educação em administração que as instituições educacionais denominadas de universidades estão disseminando para os futuros profissionais da área. Na perspectiva da visão de mercado, pode-se visualizar que no início do processo de industrialização inúmeros acontecimentos marcaram a ação empresarial focada na acumulação e centralização do capital, na exploração das pessoas e da usurpação dos recursos naturais. Desde a graduação, não é raro perceber-se que o curriculum vigente nas escolas de administração no Brasil considera que os estudantes trabalharão em empresas orientadas pelos princípios de gestão propostos por Taylor e Fayol no início da sociedade industrial, quando predominavam ambientes menos competitivos e mercados menos complexos (VILLARDI; VERGARA, 2011, p. 796). No contexto atual, algumas dessas visões estão presentes no meio empresarial, embora com outras denominações como a busca incessante de metas, sendo que muitas delas são estabelecidas sem que haja a menor possibilidade de serem atingidas pela equipe de trabalho ou que provocam, 77 ainda hoje, a exaustão dos recursos naturais. Isso, sem falar da recente e desastrosa experiência da volatilização dos mercados financeiros. Como resultado desse modelo, vivencia-se ainda as inúmeras falências empresariais provocadas por essas migrações financeiras, sem uma análise das consequências sociais dessas decisões. Outro problema que o meio empresarial há poucos anos vivenciou foi as inúmeras manobras contábeis que demonstravam uma realidade fictícia dos resultados da empresa, resultados esses não oriundos de problemas de conhecimento gerencial, mercadológicos ou técnicos, mas pela conduta antiética dos gestores, muitos deles, nos mais altos postos de grandes corporações, muitas delas internacionais. Assim, os tópicos a seguir tratam sobre como o pensamento moderno foi sendo inserido nas organizações, sendo em seguida apresentado como, nos dias atuais, o cotidiano da gestão da produção é organizado em empresas localizadas no Brasil e finaliza dialogando com os conteúdos do ensino de Administração da Produção. 4.1 O pensamento moderno e suas implicações na estruturação e no crescimento1 empresarial O pensamento moderno, centrado na confiança e no uso da razão, proporcionou um deslocamento da centralidade dominante do Estado monarca e da fé que o animava. Junto com o crescimento do pensamento de origem religiosa protestante, que liberava os homens à dedicação aos negócios, inúmeros fatores reverteram na emergência e legitimação da classe da burguesia. Esse movimento de transição epocal entre a idade média e a idade moderna, no limiar do século XVI, marcou uma fase de efervescência na busca do conhecimento dos fenômenos naturais; não somente na sua capacidade de interpretação intelectual, mas na de transformá-lo e dominá-lo pelo uso da instrumentalidade da hipótese conceitual e do instrumento científico que lhe possibilite encarnar e materializar (MARQUES, 1993). 1 O termo crescimento é utilizado na área da administração e economia com as dimensões econômicas, mercadológicas e financeiras das organizações e não se refere às questões de desenvolvimento sustentável humano, social e ambiental. 78 O pensamento centrado na razão, aliado a Descartes (2000), contribuiu para a propulsão e disseminação das disciplinas e áreas fundadas numa teoria do conhecimento que se estabeleceu no método científico para o processo da razão e da formação do conhecimento. Bacon por sua vez, emergiu com seu método experimentalista de ciência. Com os estudos de Isaac Newton, o universo gravitacional é estabelecido de forma vinculando com a mecânica, a matemática e a geometria. Os novos conceitos de espaço e tempo propiciavam uma série de compreensões de causa-efeito, culminando nas verdades com as quais se permitia prognosticar hipóteses sobre o futuro. O pensamento moderno afirmou a distinção entre o sujeito cognoscente e o objeto cognoscível, distinguindo o humano da natureza e dando a ele um lugar de centralidade (antropocentrismo). Essa relação objetificadora foi decisiva para o desenvolvimento de um pensamento técnico-científico, que também foi adotado como matriz dos princípios industriais sendo uns dos fatores que potencializou a mudança de uma produção material centrada na forma artesanal de manufatura para os primeiros sistemas mecanizados de industrialização. A integração entre o homem e máquina tornou-se o eixo principal das relações entre os seres humanos e as modernas concepções de natureza. A formação da indústria moderna, fruto da aliança entre a ciência e a técnica, provocou fissuras relevantes na forma tradicional de vida profissional. Nesse período, na visão de Marques (1993, p. 43), se “assentam os princípios do liberalismo político e da propriedade privada, como implicação lógica do individualismo de quem a si mesmo basta”. Esse trânsito ocorrido do artesanato para a industrialização alterou a estrutura social do trabalho, em outras palavras, pela divisão social do conhecimento entre aqueles que pensam e fazem a idealização dos produtos e seus processos e aqueles que apenas executam de forma fragmentada e mecânica os processos. Isso veio aliado, também, com a introdução de um terceiro elemento como interlocutor entre as partes: introduz-se a dimensão do tempo no trabalho, o qual passa a ser mensurável a título de valor e preço, sendo fruto de inúmeras lutas sociais ao longo da história posterior a esses fatos (TAYLOR, 1966). 79 O ambiente industrial que ali emergiu propiciou uma economia regulamentada para atingir o máximo rendimento das máquinas e dos homens, exigindo novas potencializações dos conhecimentos científicos e técnicos à expansão dos mercados e dos negócios. Essa forma de fusão entre o conhecimento científico e os processos produtivos potencializou a criação de novas tecnologias demandadas pelas indústrias, exigindo mais trabalhadores eficientes para atuar nos processos fabris, desencadeando uma mudança migratória maciça do meio rural para áreas urbanas (HOBSBAWN, 2011). Tal movimento de transformação econômica propiciou a geração de uma grande quantidade de riquezas que, por sua vez, se concentrou nas mãos de poucos proprietários, cujo objetivo voltado à acumulação sempre maior do capital, se traduzia na forma de lucros, tornando-se a base para o surgimento do capitalismo industrial (COSTA, 1997). Para Begg, Fischer e Dornbusch (2003, p. 212), “depois de 1750, a industrialização mudou tudo. Capital e conhecimento, acumulados por uma geração, eram herdados e aumentados pela geração seguinte”. O movimento de acumulação de riqueza do século XVIII provocou, nos dizeres de Brum (2011), grandes desigualdades sociais, trabalhos semi escravizados, uso do trabalho infantil, condições sub-humanas de trabalho e remunerações que possibilitavam apenas a sobrevivência dos trabalhadores em detrimento de uma acumulação de riqueza nunca vista na história da humanidade. Diante dessa constituição histórica, a modernidade serviu de base contextual e científica para fundamentar a doutrina de que o lucro era uma benção e o acúmulo vindo da produção não desencadearia uma punição celestial. Percebe-se, nesse período, que a visão moderna de liberdade e progresso encontra terreno fértil e, com isto, passam a ter novos adeptos que a incentivavam. Soares (2005) argumenta que as relações econômicas geridas até o advento da sociedade orientada pelo mercado sempre foram politicamente reguladas e que esta ideia era inconcebível antes da revolução industrial, simplesmente porque a economia nunca se constituiu, até aquele momento, num abstrato processo normativo de caráter social englobante. Esse traço definidor da modernidade está focado na crença no progresso pautado pela máxima de que o hoje é melhor que o ontem e que o amanhã será melhor do que o hoje. Este pensamento motivou o princípio da 80 necessidade insaciável de novos produtos de consumo substituindo a satisfação controlada das necessidades humanas pelos caprichos do mercado. A trajetória do capitalismo, na visão de Brum (2011), se confunde com a do liberalismo (origem de sua expressão econômica), que defende a liberdade das ações realizadas pela iniciativa privada, cabendo ao Estado às tarefas de manutenção da ordem interna e das condições de segurança externa, ambas para servir de apoio as ações comerciais dos capitalistas. Este mesmo autor enfatiza que o capitalismo utilizava-se de dois recursos básicos para a formação de sua riqueza: o trabalho e o capital. A abordagem clássica do desenvolvimento do capitalismo, segundo Serapião Jr. e Magnoli (2006) apresenta três estágios históricos, que, baseados na acumulação de capital, podem ser classificados como: i) o capitalismo comercial, conforme Soares (2005), que foi caracterizado principalmente pelo controle das principais rotas de comércio internacionais; ii) o capitalismo industrial, de acordo com Brum (2011), que teve seu início nos países europeus (destaque para Inglaterra e França) durante o final do século XVIII e perdurou todo o século XIX, apresentando como características o avanço tecnológico, principalmente da máquina a vapor, a disponibilidade de capital, o uso de recursos naturais como o carvão que servia de matéria prima e fonte de energia para mover as fábricas2 ; iii) o capitalismo financeiro, de acordo com Serapião Jr. e Magnoli (2006), que é marcado pela extraordinária expansão financeira de dominação de grandes corporações no mercado mundial e pelo fato dos países ricos realizarem a dominação financeira dos países mais pobres pela utilização do mecanismo de empréstimos e, desta forma, pela determinação das regras para a condução de suas economias. Hobsbawn (2011) faz um detalhado relato sobre as transformações sociais que ocorreram nesse período e como os pensamentos de Taylor possibilitaram desenvolver a problemática indústria siderúrgica norte americana por meio da segmentação do trabalho, da transferência do controle desse trabalho para a área de administração e dos critérios de remuneração por 2 Romanceado por Zola (2005), nessa fase também foi intenso o uso e a exploração das pessoas como mão-de-obra para as minas de carvão, principal fonte de energia das empresas daquela época. Como consequência desta exploração surge um movimento contrário que busca como meta a igualdade entre as pessoas, dando origem aos movimentos de caráter socialista. 81 produção pela super especialização do trabalho, como exemplos típicos do uso da racionalidade nos processos artesanais existentes na época. Mesmo os militantes socialistas, cujo foco era a contraposição do ideário capitalista, também se apoiaram na certeza racional da ciência como instrumento de garantia do progresso e da emancipação das classes menos favorecidas como meio para a mudança daquele modelo econômico. Hobsbawn (2011, p. 407) argumenta que “uma das vantagens decisivas do marxismo em relação a outras tendências socialistas era justamente o fato de ele ser um „socialismo científico‟”. Para Goergen (2005, p. 29), “o embate entre o socialismo e o capitalismo teria sido encerrado pelo colapso do primeiro, simbolicamente concluído com a queda do muro de Berlin, e a vitória definitiva do capitalismo”. Sem uma rivalidade dicotômica, sobressai a supremacia econômica, financeira, política, artística e cultural, principalmente a mercê da hegemonia dos Estados Unidos, considerando-se a locomotiva do mundo. Pinto (1996) discute que houve uma inversão significativa no pensamento do homem no século XX, passando de uma visão da escassez para a visão do pleno consumo, da soberba e exaltação do excesso. Essa mudança de comportamento da sociedade focada no consumo, conforme Harvey (2006) materializa-se nas exuberantes edificações das cidades e de suas lógicas constitutivas e estruturalistas. Esse mesmo autor relata também a influência das novas tecnologias de comunicação, pela passagem da fase pósindustrial para uma sociedade voltada para a informação como um elemento que possibilite uma transformação social, cultural, artística, educacional, administrativa e política no mundo em que vivemos. Para Goergen (2005) esses fatos caracterizam um modo diverso de experimentar a própria história e sua temporalidade; é entrar constantemente em uma crise de legitimação histórica que se baseia na forma pacífica de concepção linear e unitária do tempo histórico. Diante desse cenário, Harvey (2006), alerta que a partir de 1960 a sociedade passou a ter uma produção cultural integrada à produção da mercadoria, com a mesma frenética urgência de produzir novas ondas de produtos ou serviços, tornando a arena cultural também um implacável conflito social. Alguns pensam que o pós-modernismo apenas procurou satisfazer o rompimento do passado em forma de 82 mercadorias e outros ainda sugerem que o capitalismo, para manter seus mercados, se viu forçado a estruturar e estimular as sensibilidades individuais para criar uma estética de consumo que oprimisse as formas tradicionais em vigor. A incorporação de técnicas que possibilitem a superposição de mundos ontologicamente diferentes sem relação entre si como meio natural da vida pós-moderna pode ser uma das formas de sua representação. Essa forma de pensar e estruturar o mundo poderá nos propiciar uma conjuntura social sem efetivas possibilidades de materializar um caminho histórico que represente as perspectivas humanas, sociais, éticas, políticas e ambiental num momento histórico futuro (PENIDO; NEIVA; FRIQUES, 2013). Ao tecer abordagens e reflexões como essas, cabe discutir e refletir criticamente, em todos os níveis e âmbitos da sociedade, sobre o presente momento em que se vive num mundo de comunicação planetária com insistente influência e uso da imagem e da mensagem organizacional como inerentes formas de identificação e aproximação com os mercados consumidores. Mensagens reportam para o consumo além das necessidades humanas e das capacidades financeiras, provocando o endividamento econômico das famílias, impactos na degradação ambiental, princípios éticos preocupantes, além da insatisfação desenfreada decorrente do consumismo. Se, na perspectiva até aqui debatida, o olhar se voltou para a apresentação de um sucinto caminhar histórico da tradição ao longo da história, cabe ressaltar que: essa caminhada influenciou e continua a influenciar as características das organizações em geral, seja no mundo das empresas ou das escolas, pela racionalidade norteadora do pensamento e das ações, incluindo as didáticas utilizadas para a formação e a disseminação de conhecimentos e condutas gerenciais. Ao se debruçar no estudo dessa tradição, os educadores, como os da área de Administração, necessitam desenvolver abordagens que sejam inteligíveis aos estudantes de forma a possibilitar uma releitura dos fatos históricos, os resultados auferidos e suas consequências para as gerações futuras. Por outro lado, também se exige que os educandos façam uma apropriação de tal histórico de forma a tornar intencionalmente possível a constituição de visões de mundo que lhes possibilitem outras caminhadas. 83 Assim, tanto a constituição do cotidiano empresarial quanto o desenvolvimento dos conteúdos científicos ensinados na área de Produção são pontos que merecem ser objeto de reflexão. Levando em conta a premissa de que o ensino de graduação tem a finalidade de propiciar uma formação profissional ao seu egresso, a responsabilidade recai no meio educacional, em propiciar uma condição laborativa qualificada, consciente e crítica do seu papel para a constituição integral dos sujeitos que buscam a formação universitária. 4.2 O cotidiano empresarial da Administração da Produção: uma análise do cenário cultural da manufatura brasileira Ao abordar a temática das ações do cotidiano das organizações, as análises costumam ser impulsionadas pelo interesse nos aspectos de gestão, seja para fins utilitaristas, educacionais ou mesmo críticos. Ao abarcar a teoria da atividade para estudos organizacionais, suas análises necessitam expandir da visão individualista para examinar o contexto de convívio (ENGESTRÖM; KEROUSO, 2007) e do diálogo coletivo (WERTSCH, 2010). O convívio coletivo também pode ser analisado na representação administrativa da cultura organizacional, cujo enfoque central está no fato de se estudar o comportamento coletivo das pessoas em suas rotinas laborativas. “As organizações são minissociedades que têm seus próprios padrões específicos de cultura e subcultura” (MORGAN, 2010, p. 148). Esses padrões e crenças divergem dependendo do grupo de análise ou dos seus significados. A relação existente entre pessoas que labutam em uma determinada instituição e as dinâmicas de suas relações tendem a influir nas decisões sobre as formas como elas lidam com problemas organizacionais e como elas se prepararam para desafios que terão de enfrentar. A análise de uma cultura organizacional pode ser realizada de acordo com o estilo de gestão que em determinados pontos podem ser semelhantes em diferentes países ou muito diferente em um mesmo país. Essa variação depende do lugar de que são analisadas, elas podem apresentar posições diferentes sobre o mesmo tema. Nessa perspectiva, também há uma relação dicotômica entre os objetivos, exigências e expectativas inerentes ao meio acadêmico, no que se refere às questões do ensino e da pesquisa na manufatura e daqueles 84 referentes ao cotidiano das práticas das organizações empresariais. Essa lacuna é debatida, internacionalmente, por Slack, Lewis e Bates (2004), ao comparar os temas considerados significativos para a publicação de uma pesquisa na área de produção, em duas revistas internacionais, e os temas considerados mais relevantes para os gestores das organizações. O estudo evidencia um distanciamento entre o que se está pesquisando para fins acadêmicos e o que se necessita nas empresas. O resultado desse estudo mostra que, na opinião dos editores destas revistas, muito embora o tema de estudo científico do MRP/ERP seja considerado o último ponto relevante (de dezesseis apresentados), para o meio empresarial este é o quarto em prioridade. Assim, este ponto ainda tem um escopo de aplicação dos conceitos e de estudos por parte das organizações. Conhecimentos institucionalizados do saber administrativo acadêmico foram (e são) usados no Brasil no ensino em Administração sem menção à herança aos saberes práticos, ainda que, em parte, eles tenham sido incorporados à área. Isso parece ter acontecido, em grande medida, pela desvalorização dos saberes práticos de brasileiros que não compunham o cenário das grandes empresas e indústrias ou que não concentravam capital econômico (BARROS et al., 2011, p. 57). Para melhor situar a temática em estudo nesta tese, a seguir são relatados alguns casos do cotidiano da manufatura de organizações brasileiras. Frente à grande diversidade de cenários e formas de organização dos aspectos relacionados à organização da manufatura, a atenção se voltou para alguns estudos da área de Produção que permitem uma visão sobre a importância do tema para as empresas, na relação com aspectos educacionais da formação profissional, na área. Nos estudos realizados por Leite (2006), em nove empresas fabricantes de sandálias, sendo elas distribuídas uniformemente em pequeno, médio e grande porte, ambas localizadas em Juazeiro do Norte, CE, verificou que o sistema de produção em todas elas é o denominado tradicional, ou seja, a manufatura ocorre de forma empurrada por meio de lotes de fabricação intermitentes. Em relação ao planejamento e controle da produção, 67% delas não tem equipe definida para esta atividade e em 78% delas o tamanho do lote de produção é definido de forma empírica. A falta de monitoramento dos 85 tempos das operações é uma realidade para 67% destas organizações, além de não mensurarem os tempos de preparação (set up) dos seus principais processos. Outro estudo foi realizado em uma empresa de médio porte, de capital misto Brasileiro-Alemão, localizada em Taubaté, SP. Seu foco empresarial é fornecer prestação de serviços em usinagem e montagem para o setor aeronáutico. Neste caso, conforme Vanderlei (2009) havia problemas de qualidade e de controle nos processos de fabricação. Para buscar alternativas ao problema foram estabelecidas parametrizações para o controle da produção e da qualidade, controles estes que foram inseridos de forma paralela ao sistema ERP utilizado pela empresa. Já o estudo de Martins (2007) buscou estabelecer uma tipologia em três níveis para o estágio evolutivo funcional do planejamento e controle da produção - PCP dentro das organizações. Para comprovar seu modelo, o autor analisou quatro empresas localizadas na região sul do Brasil e constatou que em relação ao método predominante para o controle da produção de peças e componentes, duas delas utilizam o kanban e as outras duas por meio de ordens de fabricação - OF, sendo, em uma delas, geradas pela sistemática do MRP. Para melhor apresentar deste estudo faz-se uma breve explanação do perfil destas empresas. A Empresa A é do ramo automotivo, fabricante de motores para veículos leves, com aproximadamente quatrocentos funcionários. Ela utiliza um software ERP para editar o PMP, mantendo um horizonte de planejamento de seis meses e com atualizações semanais. Todavia, o PCP faz uso de uma ferramenta auxiliar para programar e firmar a produção. A programação da Produção da empresa B controla quinze tipos de modelos e mais de cinco mil itens entre comprados e produzidos para um volume de produção que gira em torno de 34 milhões de componentes por ano. O PMP é elaborado a cada mês para todos os modelos e de forma nivelada, observando um horizonte de planejamento de sete meses, com atualização semanal. Para padronizar a edição do plano mestre, a empresa desenvolveu e utiliza uma solução interna de sistema de informação tipo MRP, concebida por sua matriz no Japão. 86 Ainda em relação aos estudos de Martins (2007), o caso da empresa C relata sobre uma grande produtora mundial de componentes automotivos. O estudo mostra o desenvolvimento do PMP, editado trimestralmente no ERP corporativo, incluindo todos os modelos a fim de satisfazer o plano de vendas estabelecido e contemplando um horizonte de planejamento de seis meses e com atualização semanal, quando são geradas as ordens de produção para as células de manufatura. A última empresa analisada por Martins (2007), denominada de empresa D atua na fabricação de sistemas de refrigeração para linha branca. Considerada de grande porte, produz cerca de 4,5 milhões de unidades, em seis famílias de produtos e com mais de 400 modelos. O PMP apresenta um horizonte de planejamento médio de doze meses e com atualizações semanais. Com o plano mestre ajustado, a empresa desenvolve o plano semanal de produção, gerado por meio da técnica MRP. Como se procurou demonstrar neste subcapítulo, pode-se visualizar inúmeras realidades em relação aos aspectos de sistemáticas industriais e uma amplitude muito grande das técnicas utilizadas por essas organizações para o gerenciamento do cotidiano de sua produção. A rápida abordagem permite perceber que a realidade brasileira atual é muito diferente e ampla: ainda podem ser encontradas fábricas sem os mínimos critérios de gerenciamento e de planejamento e programação da produção até os casos onde há efetivo gerenciamento da manufatura por meio de significativas bases computacionais e tecnologias de gestão aplicadas e, em conjunto ou não, com os conceitos mais atualizados de manufatura flexível. No tocante ao uso de bases computacionais, Martins et al. (2008) constataram que ao ser implantado um novo sistema de gerenciamento informatizado em uma fábrica do ramo metal mecânico mesmo com a implantação de um software de gestão corporativo, para o cálculo das capacidades da manufatura, o MRP ainda é a plataforma de cálculo para as ordens de fabricação. Ao ser integrado a um novo software propiciou a melhoria da eficiência das ações de planejamento, programação e controle da produção, pela utilização integrada das informações de forma corporativa. Os estudos com relatos de ações cotidianas de um número muito elevado de organizações empresariais brasileiras demonstram que os 87 conhecimentos científicos têm amplas potencialidades de articulação com o mundo da prática e vice-versa. Nesta tese, um pressuposto considerado de extrema importância é o de que: as escolas profissionais ao realizarem essa aproximação demonstram sua preocupação “com o significado de preparar os estudantes adequadamente para a vida nas profissões, tal como a vida é entendida por aqueles que a vivem” (SCHÖN, 2000, p. 224). Cabe ressaltar, que as abordagens metodológicas utilizadas pelos docentes, como os aqui relatados, de acordo com Shulmann (2005), permitem ampliar o aporte do conhecimento pedagógico do conteúdo acadêmico focado para a compreensão das habilidades e disposições científicas desenvolvidas sobre os temas e conceitos em estudo. Trata-se de casos que contribuem como relatos de inúmeras e variadas situações possíveis do mundo da vida, as quais os estudantes egressos do curso de Administração poderão encontrar como profissionais. Também, oportunizam o aprimoramento do conteúdo científico por meio de estudos de casos correlatos associados com resultados auferidos pela análise ampliada de específicos processos de atuação profissional. As metodologias utilizadas nos estudos de caso referenciados não foram estruturadas à luz ou na relação com a teoria da atividade proposta por Leontiev (1978a) nem são referentes às questões pertinentes a uma visão crítica sobre a tradição da cultura organizacional (MORGAN, 2010). Sendo assim, tais estudos de caso não levaram em consideração questões referentes, por exemplo, a como as relações sociais de trabalho ocorrem, na relação com as estruturas de poder existentes nas organizações ou como a cultura influencia a concessão dos resultados. Nesse sentido, entendo que a teoria da atividade perde muito de seu potencial de contribuição para os estudos e pesquisas sobre a educação na sociedade contemporânea se não fizer parte do núcleo dessa teoria à abordagem da alienação produzida pelas relações sociais de produção no interior da sociedade capitalista na qual vivemos (DUARTE, 2002, p. 293). Embora os casos apresentem uma limitação de análise em relação às teorias que norteiam essa tese, eles possibilitam, mesmo que parcialmente, uma “análise da relação entre significado e sentido das ações humanas”, que 88 “tem decisivas implicações para a educação”. Ou seja, “um dos grandes desafios da educação escolar contemporânea não seria justamente o de fazer com que a aprendizagem dos conteúdos escolares possua sentido para os alunos?” (DUARTE, 2004, p. 55). Ao buscar responder a esse desafio, uma das inúmeras possiblidades é a de que, pelo estudo das realidades dos ambientes organizacionais, os estudantes dos Cursos de Administração possam (re)elaborar as visões conceituais sobre as condições do mundo real, expandindo suas análises; não somente para o entendimento conceitual e teórico das estratégias e técnicas de cálculos dos processos da manufatura industrial, mas também compreendam a lógica operacional envolvida durante a execução dessas operações e suas relações de trabalho. Para Duarte (2002), o docente ao debater esses tipos de estudos de caso, necessita realizar uma análise crítica sistêmica considerando as relações sociais e de poder inerentes aos ambientes laborais, como dimensão importante numa análise alinhada com a abordagem da teoria da atividade. No subcapítulo a seguir, as abordagens e discussões adentram na especificidade do objeto de estudo da disciplina de Administração da Produção, do Curso de Administração, que serviu de campo empírico para o desenvolvimento da pesquisa, nesta tese. Tais abordagens são apresentadas no intuito de situar o leitor no cenário do universo de conhecimentos que fazem parte de tais estudos. 4.3 O conteúdo didático de MRP no ensino de Administração O estudo acadêmico, no que concerne aos conceitos de Planejamento das Necessidades de Materiais ou Material Requirement Planning, usualmente referido como MRP I, é um tema considerado relevante por organizações industriais, embora o estado da arte e o desenvolvimento da pesquisa no campo do conhecimento de MRP não sejam mais um dos principais tópicos publicados em periódicos científicos nacionais (ROMAN, MARCHI, ERDMANN, 2013). Com o avanço do estudo dos processos industriais, foi desenvolvido o Manufacturing Resource Planning – MRP II, o qual possibilitou o gerenciamento dos recursos utilizados na manufatura (TUBINO, 2008). Para 89 Slack et al. (2002) o gerenciamento dos processos é iniciado pela coleta de dados que serve de base para aplicativos informatizados denominados de Enterprise Resource Plan – ERP os quais tiveram sua evolução a partir dos conceitos de MRP I e MRP II, desenvolvidos desde a década de 1960. O MRP I e o MRP II foram os precursores dos sistemas computacionais para a área de produção, sendo que nos anos de 1980 foram desenvolvidas formas diferentes de se gerenciar uma fábrica, como o Kanban e a manufatura enxuta, que não serão tratados nesta tese. No que concerne ao ensino, esses são conteúdos contemplados nos programas de ensino de disciplinas da área de Produção, nos Cursos de Administração das principais universidades brasileiras (PEINADO; GRAEML, 2012). O estudo de MRP tem um escopo de aplicação e desenvolvimento de seus conceitos e sistemáticas de cálculos para melhorar o desempenho operacional das empresas que utilizam esse arsenal como sistemática de conhecimento na organização da Produção (LOULY; DOLGUI, 2011). Isso ratifica e situa a necessidade de estudo sobre esse campo de conhecimento na fase de formação dos estudantes dos cursos de Administração. O MRP pode ser compreendido como uma técnica de cálculo que permite estabelecer as quantidades de compras de materiais necessários para a fabricação de um ou vários produtos manufaturados por uma determinada fábrica. Martins e Alt (2006, p. 118-119) comentam que esse cálculo é baseado na “lista de materiais (Bill of material), obtida por meio da estrutura analítica do produto, também conhecida por árvore do produto ou explosão do produto, e em função de uma demanda dada”. Krajewski et al. (2009) argumentam que depois de definidas as quantidades que serão necessárias para a manufatura do produto, parte-se para a liberação das ordens de fabricação – OF, das ordens de Montagens ou das ordens de compras - OC. Também necessita ser levado em consideração o tempo de atendimento de cada item e suas estruturas parciais de montagem. Assim, para que um sistema de parametrização que utilize o MRP como base de cálculo para a programação das quantidades de materiais de uma fábrica é necessário o registro dos fatores que constituem a árvore do produto, o tamanho do lote de fabricação, o tempo de atendimento dos materiais e o estoque de segurança (BOYER; VERMA, 2010). 90 De uma maneira geral, os desdobramentos operacionais do MRP ocorrem, no ambiente fabril, por meio da atuação das equipes do setor de Planejamento e Controle da Produção (TUBINO, 2008). Os profissionais que trabalham nesse setor são os responsáveis por verificar o Plano Mestre de Operações identificando os recursos que serão necessários para as ações de manufatura, a existência de possíveis gargalos e realizar a programação da produção, emitindo e distribuindo as ordens de compras, de fabricação e de montagem, a fim de possibilitar a confecção do produto final (MISHRA, 2009). Para que isso ocorra, faz-se necessário um acompanhamento permanente, no chamado chão de fábrica, para monitorar como estão sendo desenvolvidas as etapas produtivas e para verificar se tudo está ocorrendo de acordo com o planejado e, caso sejam verificadas lacunas, propor medidas corretivas para a sua solução (RUSSOMANO, 1995). Observa-se que ao se estudar as questões inerentes à Produção de bens ou de serviços, tanto em seu viés acadêmico com empresarial, podem ser observadas que os sistemas produtivos são, tradicionalmente, conceituados como o conjunto de atividades de entradas de insumos cujos objetivos são produzir saídas de bens ou serviços, de acordo com padrões técnicos e comerciais previamente estabelecidos (SLACK et al., 2002). Para que ocorra essa transformação, um sistema produtivo necessita ser pensado e executado em termos de prazos. Para que as etapas dos sistemas produtivos possam ser gerenciadas, faz-se necessária a definição de pontos de controle e de verificação. No entanto, existe outra abordagem que valoriza não somente as questões relacionadas às máquinas e aos processos da empresa, mas que busca valorizar também os componentes intangíveis envolvidos nos processos empresariais, ou seja, as interações subjetivas humanas de maneira a propiciar questões relacionais. Os processos produtivos são frutos das relações existentes no âmbito empresarial, oriundas de relações pessoais existentes entre os membros das mais variadas equipes de uma organização. Neste sentido, Fröner (2013, p. 82) manifesta que “a relação humana no contexto do processo produtivo depende do que os humanos oferecem (como inputs) para esta relação e, ainda, de como tal relacionamento é sentido pelos atores da interação (como outputs)”. Ou seja, é a qualidade do processo de relações 91 humanas que se propicia o desenvolvimento dos processos empresariais. Bem assim, no contexto da fábrica, as pessoas que laboram no setor de Planejamento e Controle da Produção - PCP são as responsáveis pela condução dessas interações e pela condução da execução das funções de manufatura. Ao analisar a produção sob essa perspectiva verifica-se a importância do papel do administrador da produção para que o desempenho operacional seja atingido de acordo com os objetivos estabelecidos. Levando em conta os referenciais teóricos e o cenário temático situado até aqui, nesta tese, a mesma foi organizada em torno do objetivo de estudar um ensino em que os egressos do Curso de Administração pudessem ter condições não somente de internalizar a perspectiva das estratégias e técnicas de cálculos dos processos. Para além disso, a atenção se voltou para a visão de um ensino que lhes propiciasse compreender a lógica operacional envolvida durante a execução de tais operações industriais, para o que, foi proposta e investigada uma Atividade de Interação com Integração de Aprendizagens. O caminho teórico e metodológico de tal Atividade e o da pesquisa sobre ela são apresentados no capítulo que segue. 5 A PROBLEMÁTICA E O CAMINHO METODOLÓGICO DA ATIVIDADE PROPOSTA EM SEU PROCESSO DE PESQUISAAÇÃO A temática central da estruturação metodológica desta tese está focada na pesquisa-ação, no sentido de visualizar um pesquisador que também atuou diretamente como sujeito participante e como mentor da atividade proposta que serviu de campo empírico para a pesquisa, realizando inferências ao longo do processo investigativo, no intuito de conduzí-lo de acordo com seus entendimentos, interesses, objetivos e planejamentos. Trata-se de uma modalidade de pesquisa-ação que foi organizada sob características pertinentes ao contexto da realidade tomada como campo de estudo, na medida em que ele ia sendo transformado, como objeto complexo em reconstrução teórica e prática. A pesquisa-ação é entendida e assumida, nesta tese, como uma sistemática de investigação que exige um projeto estabelecido e uma preparação prévia, para a articulação de uma dinâmica que permita a organização das ações e dos recursos educacionais necessários a sua consecução. Exige, também, a organização dos registros e do processo de análise dos dados, buscando indícios que possam corroborar ou não os objetivos e entendimentos inicialmente estabelecidos para a estruturação da pesquisa. Neste capítulo é descrito, primeiramente, a fundamentação e a organização da pesquisa-ação. Num segundo momento, é apresentada a delimitação da proposta de pesquisa e o seu público alvo. No terceiro subcapítulo são explicitados os procedimentos metodológicos para os registros e análise dos dados, finalizando com a descrição da proposta de atividade investigada, os conceitos que norteiam o seu desenvolvimento e as fases da sua consecução. 93 5.1 A pesquisa-ação como proposta de sistematização do estudo desenvolvido A pesquisa-ação ocorre num contexto em que os sujeitos que estão realizando o processo de investigação são simultaneamente pesquisadores e participantes da prática investigativa. Em termos gerais, a pesquisa-ação designa uma estratégia investigativa com vistas a uma ação estratégica que, obrigatoriamente, requer a participação ativa dos atores (MORIN, 2004). Esse tipo de pesquisa é caracterizado pela forma diferente de criação de saberes, em que as relações entre os agentes participantes e o pesquisador são constantes e com interação ativa do mesmo ao longo de todas as fases do processo. De acordo com Thiollent (2003), a pesquisa-ação é concebida e realizada mediante a estreita associação com uma ação direta dos participantes na busca da resolução de um problema, em que pesquisadores e participantes da situação investigada estão envolvidos de modo participativo e cooperativo. Essa modalidade de investigação permite que os sujeitos construam e reconstruam suas teorias e estratégias no decorrer da própria pesquisa de campo, ou seja, no mesmo ambiente e instante em que é realizada a busca da resolução da problemática que serviu de origem para a proposição da investigação. Segundo Carr e Kemmis (1988), esse processo apresenta um caráter geral de análise em forma de espiral autorreflexiva, formada por ciclos sucessivos de planejamento, ação, observação e reflexão. Morin (2004) descreve e fundamenta a perspectiva de uma pesquisa-ação integral e sistêmica, que oportuniza uma ação de pesquisa com visão sistêmica do fenômeno investigado, com intervenção ativa durante toda a sua realização. Trata-se de uma ação em movimento de reconstrução que busca produzir mudanças no próprio fenômeno com o intuito de melhorar, tanto o processo da ação, quanto do seu resultado. Esse tipo de investigação é uma “estratégia de condução de pesquisa qualitativa voltada para a busca de solução coletiva a determinada situação-problema, dentro de um processo de mudança planejada” (MACKE, 2006, p. 208). 94 No campo da educação, conforme Carr e Kemmis (1988), a investigação-ação ou pesquisa-ação, tem sido utilizada para o desenvolvimento curricular, no aprimoramento profissional e no melhoramento de programas de ensino. Em alguns casos também tem contribuído para o aprimoramento das próprias políticas de ensino. Uma pesquisa dessa natureza passa a ser uma investigação educativa quando o que se transforma pela pesquisa está relacionado com práticas pedagógicas dos sujeitos envolvidos na ação, em qualquer nível de ensino. Para Stenhouse (1993), a pesquisa-ação é um meio em que o professor pode formular suas compreensões e proposições teóricas sobre um determinado tema educativo de modo que venha a validar, em seus contextos práticos, as implicações de suas propostas. Ao estudarem o uso da pesquisa-ação com grupos de professores de Ciências, Rosa e Schnetzler (2003) alertam que aqueles que compreendem o ensino como processo de mera transmissão de conhecimentos tendem a compreender o processo de pesquisa como aquele pautado nos moldes de uma racionalidade técnica. Por sua vez, nos dizeres das autoras supracitadas, os docentes que concebem o ensino como um processo dialógico de construção de saberes desenvolvem a pesquisa-ação apoiados numa racionalidade prática. No âmbito desta tese, busca-se evitar uma relação dicotômica entre teorias e práticas pedagógicas, reafirmando a visão que ambas se encontram em dinâmico processo de transformação, ao longo do processo da investigação-ação. Para Stenhouse (1993), ao adotar a pesquisa-ação como um tipo de investigação transformadora da ação na prática pedagógica, o professor assume a responsabilidade do seu processo educativo em sua aula, de forma a assegurar que os participantes obtenham o máximo de uma aprendizagem por meio de sua participação ativa no ato educativo. Uma das ideias conceituais sobre o uso dessa sistemática é a de propiciar um processo aberto a interpretações, sendo que, muitas delas, podem ser originais, outras mais divergentes e outras mais consensuais. A pesquisa-ação oportuniza, também, outras dimensões de significado e formas criativas de como os estudantes exploram e transformam os seus conhecimentos (ELLIOTT, 1990). 95 No desenvolvimento metodológico da pesquisa-ação, “os pesquisadores recorrem a métodos e técnicas de grupos para lidar com a dimensão coletiva e interativa da investigação e também técnicas de registro, de processamento e de exposição de resultados” (THIOLLENT, 2003, p. 26). Por isso, para realização de uma pesquisa-ação é necessário um projeto bem elaborado, o qual explicite o tema, o objetivo geral e os objetivos específicos, o problema a ser investigado, suas hipóteses e referenciais teóricos. Ao investigador que coordena o processo da pesquisa-ação cabe zelar pela revisão sistemática dos conhecimentos teóricos e práticos que permeiam o tema, de forma a lhe proporcionar uma fundamentação conceitual inicial dos conteúdos abordados para, posteriormente, buscar detalhar as etapas metodológicas que poderão lhe propiciar possíveis soluções para os problemas a serem investigados. Para uma melhor compreensão sobre a complexidade da área educacional, faz-se necessário problematizar a prática e a teoria pedagógica (ROSA; SCHNETZLER, 2003). Ainda, no projeto e no processo da pesquisa-ação, uma das partes a ser considerada é o plano de ação, o qual se necessita evidenciar as ações a serem desenvolvidas. Também, é importante definir o campo de observação, a população e as amostragens que conferem uma representatividade quantitativa dos dados, bem como a sua técnica de coleta e de interpretação dos dados gerados na pesquisa. No que se refere à execução da pesquisa-ação, Thiollent (2003) considera que ela inicia com a realização de um seminário em que se reúnem os principais membros da equipe de pesquisa e outros colaboradores em um grupo de observação. Esse grupo torna-se necessário para que haja o debate e o entendimento prévio dos pontos importantes a serem investigados. A realização do seminário, antes do início da pesquisa-ação a ser desenvolvida em grupo, é importante para orientar e estabelecer um conjunto de pontos que necessitarão ser observados, incluindo a necessidade de avaliar se os conhecimentos, ações e conteúdos contemplados estão de acordo com as teorias de base e com os interesses em interação. Em relação ao registro e a construção dos dados, Elliott (1990) propõe que eles possam ser obtidos a partir de modalidades de experimentos que possam ser cada vez mais associados com o mundo real em questão. Também podem ser utilizados laboratórios com ambientes em que se podem realizar 96 simulações, o mais autêntico possível, com a realidade. Nos dizeres desse autor, em pesquisas educativas, esses laboratórios podem ser as próprias salas de aula ou os demais ambientes das instituições educacionais reais. Thiollent (2003) salienta que um dos pontos a serem investigados na pesquisa-ação educativa está no fato de se verificar a capacidade de aprendizagem associada ao processo de investigação. As atividades planejadas necessitam ser orientadas para a realização de ações educativas, de comunicação, utilizações de informações, busca de orientação e tomadas de decisão, entre outros aspectos que possibilitem a verificação das aprendizagens dos participantes. A observação e a análise dessas aprendizagens, em alguns casos, podem ser feitas por meio de seminários temáticos ou de grupos de estudos, ou pela divulgação de materiais didáticos, ou outras formas que possam oportunizar, aos participantes, diferentes maneiras de se expressarem ou demonstrarem os conhecimentos em transformação no sentido teórico e prático. Por meio dessa modalidade de pesquisa também é criada uma relação de parceria (OLIVEIRA, 2005). Essa parceria tem o intuito de oportunizar um diálogo acerca das análises dos problemas, dilemas e dificuldades encontradas durante as ações em aula, muitas delas para além da análise da participação e aprendizados dos estudantes. Ela também pode ser ampliada para o âmbito do conteúdo, do curso e até mesmo da instituição, bem como, ao debate das condições da carreira de magistério e até mesmo das políticas públicas referentes ao ensino. Este subcapítulo foi apresentado com a intenção de explicitar características da pesquisa-ação associadas com a modalidade de investigação desenvolvida no âmbito desta tese, ou seja, o intuito não foi o de apresentar uma abordagem extensiva e completa sobre o importante tema da pesquisa-ação. A seguir, dando continuidade a explicitação da modalidade de pesquisa desenvolvida, é apresentada a sua problemática e os seus objetivos. 5.2 Delimitação do contexto problemático e dos objetivos da pesquisa O presente subcapítulo foi elaborado com vistas a explicitar a problemática que deu origem a proposição da Atividade de Interação com 97 Integração de Aprendizagens, bem como, o tema pesquisa-ação desenvolvida e sua delimitação, os objetivos e a hipótese da mesma. O tema central desta tese é a articulação das (inter)ações dos sujeitos em uma atividade de ensino de Administração da Produção entendida como conjunto de ações pedagógicas orientadas ao aprendizado conceitual, num ensino de Administração da Produção que gira em torno de vivências formativas associadas com situações da atuação profissional. O estudo está centrado no planejamento, desenvolvimento e análise de uma atividade de ensino que concerne, particularmente, à relação pedagógica do conteúdo do ensino de Planejamento e Controle da Produção - PCP com o uso do Planejamento das Necessidades de Materiais (Material Requirement Planning – MRP I). As ações pedagógicas e os seus dobramentos foram realizados em sala de aula convencional, denominada, após a adaptação das organizações prévias quanto aos recursos físicos e materiais exigidos para a investigação, de sala ambiente. A problemática que deu origem à pesquisa está centrada na relação dicotômica entre teorias acadêmicas e científicas do campo de Administração da Produção, estudadas em aula, e as situações típicas que podem ser vivenciadas, no contexto cotidiano das organizações fabris. Tal dicotomia propicia dificuldades para que os estudantes se apropriem das teorias, de modo que possam vir a usá-las após o egresso do meio universitário. Essas dificuldades necessitam ser superadas com ações focas a motivar os estudantes para os temas de gestão de operações, mesmo com a falta de interesse em carreiras nesta área quando egressos. Portanto, o professor necessita orientar sua a estratégia de ensino para agir sobre essas variáveis (ALFALLA-LUQUE; MEDINA-LÓPEZ; ARENAS-MÁRQUEZ, 2011). Investigar a articulação pedagógica do conteúdo de Administração da Produção, por meio de uma sequência de ações de ensino, cujo foco é a expansão do entendimento do conteúdo, pela análise crítica e reflexiva, de ações baseadas em situações de ensino vivenciais e simuladas em aula é o propósito central desta tese. Tal relação articuladora envolve vários aspectos, sendo de destaque os referentes ao papel e as estratégias de ensino propostas, a postura adotada pelo docente para o desenvolvimento da 98 atividade, o envolvimento dos estudantes como agentes ativos do/no ensino e dos processos de desenvolvimento da aprendizagem, em torno do entendimento pedagógico dos conteúdos abordados. O conhecimento pedagógico do conteúdo do ensino de Administração da Produção mediado pela Atividade de Interação com Integração de Aprendizagens permite articular o conteúdo teórico com ferramentas culturais objetivas e simuladas, em sala de aula ambientada para essa finalidade, como tentativa de ruptura da relação dicotômica entre conhecimentos acadêmicos científicos e situações da vivência profissional articuladoras do ensino e das aprendizagens. Diante do exposto, as questões de pesquisa centrais são: quais as relações entre as características da Atividade de Interação com Integração de Aprendizagens proposta e a teoria da atividade, no que se refere ao desenvolvimento pedagógico do conteúdo de Administração da Produção? Quais são as características do processo de desenvolvimento dos conhecimentos propiciado pela Atividade de Interação com Integração de Aprendizagens, em termos dos sentidos profissionais que os estudantes tendem a produzir no âmbito (ou por meio) dela? Para estudar essa problemática, a tese foi organizada a partir do objetivo geral de: identificar e analisar as características, as potencialidades e os limites da Atividade de Interação com Integração de Aprendizagens para o entendimento pedagógico do conteúdo de Administração da Produção, com vistas a compreender suas relações com a formação para a atuação profissional, à luz da teoria da atividade. Os objetivos específicos foram assim expressos: - planejar a atividade de ensino do conteúdo de Administração da Produção e viabilizar um ambiente adequado para a sua implementação em aula, com vistas a identificar e analisar as mediações pedagógicas vivenciadas durante as ações realizadas. - identificar as relações entre a teoria da atividade proposta por Leontiev (1978) e as características das ações investigadas à luz do desenvolvimento de teorias, conceitos, técnicas e vivências no âmbito do conteúdo disciplinar; 99 - analisar os limites e as potencialidades das ações propostas quanto às interações e aos aprendizados propiciados aos estudantes. A hipótese central é a de que: a Atividade de Interação com Integração de Aprendizagens cria possibilidades de articulação de conhecimentos diversificados associados com saberes, fazeres, atitudes, valores, habilidades, posturas, por meio de vivências transformadoras de situações de ensino e aprendizagem mediadas por objetos (teóricos e empíricos), de forma simulada e mediada, contribuindo, dessa forma, para a superação da relação dicotômica entre conhecimentos científicos e ações cotidianas da atuação profissional. Para a realização da pesquisa-ação, a população de referência abrangeu duas turmas de acadêmicos do Curso de Bacharelado em Administração da Universidade Federal de Santa Maria – UFSM, do Centro de Educação Superior Norte do Rio Grande do Sul – CESNORS, campus de Palmeira das Missões, RS. De acordo com Gil (1999), os sujeitos de pesquisa podem ser caracterizados como de amostragem não probabilística aliada à questão de acessibilidade. Neste caso, a população abrangeu os estudantes matriculados no referido curso e componente curricular. O subcapítulo a seguir foi elaborado no intuito de possibilitar a necessária compreensão da visão geral da atividade de ensino que foi proposta e investigada nesta tese. 5.3 Atividades de Interação com Integração de aprendizagens: estrutura e organização Um dos pressupostos para que haja o aprendizado humano encontra fundamentos, num contexto educacional e na perspectiva da teoria da atividade histórico-cultural, no sentido de que ele ocorre, além de outras formas, pela mediação social específica pela qual as pessoas interagem com o objetivo de desenvolver sua consciência sobre a vida. A educação dos estudantes ocorre num ambiente em que haja participação ativa e emotivo-volitiva de todos os envolvidos no ato pedagógico da aula. Nos dizeres de Salvador (1994), cada participante possui motivos específicos implicados para objetivos sociais cujas responsabilidades e ações devem ser inerentes ao seu papel social, naquele ato-evento, de maneira a 100 contribuir, mediados pelo processo pedagógico, no processo de significação dos conceitos científicos e, a partir desses, oportunizar ao estudante possibilidades de desdobramentos para o mundo cotidiano e vice-versa. Essa significação ocorre por meio do uso da linguagem pedagógica, cuja finalidade é propiciar o entendimento dos conteúdos curriculares apresentados. O uso da linguagem pedagógica possibilita dirimir as dúvidas emergidas, analisar as sugestões e argumentações sobre o tema abordado na aula. Possibilita ainda a criação de novas interações, sobre o tema abordado, bem como as demais contribuições que cada um dos participantes do ambiente pedagógico único possa ter fomentado, objetivando a sua aprendizagem (DA VEIGA; LIMA; ZANON, 2011). Para Gagné (1983), o aprendizado pode ocorrer em vários meios e de diversas maneiras, seja no meio educacional ou não. A aprendizagem, com foco no ato-evento curricular, pode ser definida como o “processo de aquisição de conhecimentos, desenvolvimento de habilidades e mudança de atitudes em decorrência de experiências educativas, tais como aulas, leituras, discussões, pesquisas, etc.” (GIL, 2007, p. 80). Salienta-se que essas abordagens encontram-se focadas sob a ótica de uma teoria cognitiva e de aprendizagem. De acordo com o tipo de visão e compreensão teórica que se desenvolve e se analisa as questões de aprendizagem é que possibilitam as respectivas compreensões da natureza dos processos de aprendizado e as unidades para sua análise. A abordagem da “teoria da atividade de aprendizagem” (TALIZINA, 2000, pp.11-20) se baseia em três princípios fundamentais: i) aproximação da atividade para a formação da psique, cujo enfoque seja o desenvolvimento humano para a vida, ii) ação como unidade de análise da aprendizagem, cujo foco encontra-se na análise do processo de acordo com o fenômeno específico que se analisa e iii) natureza social do desenvolvimento psíquico do homem, não somente pelo desdobramento interno das heranças da vida humana, mas também pela assimilação da experiência externa, social, que existem nos meios de produção, nos livros, no idioma, etc. Nessa perspectiva, o aprendizado acadêmico dos conceitos científicos, no caso desta tese, em particular, os relacionados à área de Administração da Produção, tem como objetivo propiciar, ao estudante do Curso de 101 Administração, além do conhecimento cognitivo dos aspectos do conteúdo: a assimilação e significação da experiência social e política das questões empresariais relacionadas ao mundo da manufatura, no qual os egressos poderão se encontrar em suas carreiras profissionais, em uma perspectiva transformadora. Frente a isso, o foco do estudo proposto nesta tese está na realização de uma organização didática que oportunize uma variedade de atividades educacionais, sejam elas intelectuais, manuais, visuais, sociais e políticas, tanto em ações individuais como de forma coletiva e colaborativa que propiciem melhorias no ensino focado para a aprendizagem do mundo da manufatura. Este trabalho não está voltado para realizar a transformação da aula universitária em um ambiente voltado para treinamentos focados unicamente na capacitação dos estudantes para o trabalho em uma fábrica específica. O foco está em propiciar outras formas de articulação do conhecimento científico da manufatura com ações psicofisiológicas dinâmicas dos estudantes de forma a propiciar-lhes o melhor entendimento dos conceitos científicos desta área do conhecimento e sua significação para a futura atuação profissional. A articulação alternada e interligada de diferentes saberes, seja nos aspectos conceituais, cotidiano e didático, vem potencializar o desenvolvimento do conhecimento humano, no que se refere às habilidades cognitivas, afetivas, políticas e sociais por meio de ações emotivo-volitivas das inter-relações entre o mundo científico com o mundo do cotidiano empresarial mediados pelo ato pedagógico da Atividade de Interação com Integração de Aprendizagens. Conforme salientam Zanon e Maldaner (2010, pp. 113-114), “desenvolver, na prática, o ensino capaz de propiciar tais inter-relações dinâmicas de saberes, mediante formas de contextualização dos conteúdos de ensino” é uma tarefa da qual o professor não pode abdicar. O desenvolvimento da aula não pode ocorrer pela ação unívoca do docente, nem, no outro extremo, delegar o ensino centrado exclusivamente na ação do estudante. A responsabilidade docente, que não pode ser vista como algo fácil, é a de mediar o acesso, pelos estudantes, às linguagens científicas de um determinado campo de conhecimento humano, por meio de ações pedagógicas diversificadas, criteriosamente e intencionalmente definidas, cujo intuito seja 102 propiciar aos estudantes a internalização dos significados científicos e cotidianos dos conteúdos abordados. Por sua vez, o estudante tem a responsabilidade por sua aprendizagem por meio do esforço necessário para a compreensão da linguagem científica e das relações sociais inerentes da área do conhecimento cujas ações tenham como objetivo o desenvolvimento das suas funções psicofisiológicas superiores. A responsabilidade das instituições de ensino e seus provedores é a de prover, além das questões legais e curriculares, os mais variados recursos para o desenvolvimento do ensino com vista a oportunizar a expansão da aprendizagem. No que diz respeito ao planejamento do trabalho para cada assunto curricular em particular, o professor precisa determinar antecipadamente a sequência de introdução, não só de conhecimento, mas também os hábitos específicos de atividade cognitiva no processo de escolarização (TALIZINA, 2000). A proposta de Atividade de Interação com Integração de Aprendizagens em aula, ilustrada na Figura 3 apresenta uma perspectiva que orienta o planejamento do trabalho acadêmico em busca, além do desenvolvimento dos conhecimentos cognitivos inerentes a um determinado conteúdo: possibilitar a compreensão dos princípios da construção dos sistemas de relações abrangidas no conteúdo em particular, ora pela mediação docente e ora pela ação participativa dos estudantes (coletiva e individual) durante a realização de toda a atividade. A seguir é apresentada uma descrição e fundamentação sobre cada fase da Atividade de Interação com Integração de Aprendizagens, no intuito de compreender a sua organização estrutural e a sua dinâmica de funcionamento. O primeiro momento tem por objetivo mediar os conceitos científicos aos estudantes. É feita uma leitura prévia com um texto em linguagem que dialoga entre o cotidiano e os conceitos básicos do conteúdo disciplinar, cuja finalidade é possibilitar o debate e seu aprofundamento no decorrer da aula. Ao fazer a apresentação científica do tema, o professor viabiliza aos estudantes uma explicação sobre os conteúdos da disciplina a serem abordados na atividade. Nesse momento ele oportuniza um clima de debate com o intuito de dirimir dúvidas que possam ocorrer entre os estudantes. 103 Figura 3: Síntese das fases da Atividade de Integração com Integração de Aprendizagens Fonte: elaborada pelo autor, 2013. O uso de vídeos de curta duração tem a finalidade de servir como ilustração dinâmica dos temas abordados e pode ser utilizado também como pano de fundo para instigar um debate acerca do tema e auxiliar a realização de exercícios propostos. A indicação de estudos extraclasse de trabalhos científicos tem a finalidade de aprofundar o assunto e propiciar o fortalecimento das compreensões dos conceitos científicos. Estudos realizados por Mukherjee (2002) demonstram que, por meio de tratamento estatístico, o uso da estratégia de duplo exercício de reforço, ao longo das duas semanas subsequentes a aula conceitual desenvolvida, oportuniza a melhora do desempenho cognitivo dos estudantes para a resolução de problemas quantitativos difíceis. A segunda aula tem como proposta a ressignificação dos conceitos científicos, mediante o uso de objetos (físicos ou conceituais) específicos à cultura daquele campo de conhecimento, e busca oportunizar situações para o 104 seu entendimento pela organização de ações em grupo de estudantes, ora com maior autonomia dos estudantes, ora pela mediação docente. A atividade construtiva dos alunos tem a sua origem no momento em que o processo didático entra em interação específica com os elementos da atividade de aprendizagem, ou seja, o conhecimento dos objetos e fenômenos do mundo externo como meio de cognição (ARRUDA; ANTUÑA, 2001, p. 333). A realização de trabalho em grupos independentes e autônomos tem como objetivo demonstrar que um mesmo conceito pode ser utilizado de vários modos. A ação sobre um mesmo objeto pode ser realizada de diferentes formas por cada um dos grupos. As interações sociais e as relações de poder existentes em cada grupo propiciam-lhes diferentes entendimentos e ações para a resolução de uma mesma situação-problema. Essa dinâmica também oportuniza uma tentativa de aproximação articulada dos conceitos científicos para a compreensão do conteúdo curricular em questão. O papel do professor passa a ser o de mediador do conhecimento, pela realização de orientações aos estudantes por meio de dicas ou na observação de ações que estão sendo realizadas de maneira que não estão de acordo com os conteúdos estudados. O professor necessita mediar a construção do conhecimento com o intuito do estudante evitar a realização de atividades inadequadas ao conteúdo e perder tempo com correções significativas de suas ações nos momentos seguintes da aula. No primeiro momento de socialização dos processos e resultados obtidos, cada grupo apresenta as ações realizadas, sendo essa uma primeira e importante oportunidade para que o docente possa dirimir eventuais equívocos em relação aos aspectos conceituais, bem como pela observância das questões de organização do grupo e dos diferentes processos utilizados para a resolução da situação de estudo proposta. A aprendizagem, na perspectiva da teoria da atividade, ocorre quando o estudante consegue transformar, a partir de uma situação em estudo, mediante a análise de suas ações, mediadas pelos artefatos culturais em análise, os conhecimentos aprendidos e identificar aqueles que ainda necessitam ser desenvolvidos (REPKIN, 2003). Essa análise pode ser realizada pela 105 comparação entre as suas experiências em ações de ensino ou por aquelas relatadas pelos colegas, bem como com as possíveis situações da vida real. Em seguida, por meio de ações em grupos interligados, busca-se um aprendizado no sentido de possibilitar a integração entre os grupos por meio de um grupo central, que tem a função de sistematizar as ações enviadas pelos demais grupos, denominados de periféricos. As atividades que eram, inicialmente, realizadas em um único grupo, agora são divididas para os grupos periféricos que têm a responsabilidade de organizar apenas uma parte do processo. Nesse instante ocorre a segmentação da atividade pelos diversos grupos externos envolvidos e o resultado de sua ação é encaminhado para os membros do grupo central que terão a função de realizar os desdobramentos estabelecidos pelos primeiros. Somente haverá a concretização eficiente da tarefa se cada grupo externo atuar de forma que a sua ação seja desenvolvida corretamente. A comunicação de cada grupo periférico com o grupo central acontece somente de forma escrita. Caso ocorram problemas de comunicação no sentido de que o objetivo principal da situação de estudo não seja atingido, o papel do docente, neste momento, é o de proferir comentários sucintos ou apresentar pistas para que os estudantes possam identificar as causas da lacuna. Ao realizar a mediação pedagógica, o docente cria oportunidades para demonstrar a importância de cada fase do processo, seja ela intelectual ou manual, bem como propiciar subsídios iniciais para que os grupos possam perceber o que está ocorrendo e realizar as melhorias necessárias nos processos por eles utilizados. Essa sistemática tem por objetivo demonstrar as consequências que a realização de um processo, mesmo que parcial, tem para a consecução do objetivo final coletivo. Essa dinâmica de trabalho em grupos permite uma mediação pedagógica pela qual os conteúdos científicos possam ser desenvolvidos semelhantes às práticas do cotidiano, bem como possibilitar identificação de alguns, dentre os inúmeros, desdobramentos possíveis da vida profissional. Também oportuniza o debate, a interação entre os colegas, a troca de ideias, a divergência de opiniões sobre o entendimento do conteúdo e a sua aplicabilidade, bem como instiga a busca de soluções coletivas das questões implicadas na situação de estudo proposta e da construção do conhecimento. 106 A atividade em grupos visa o desenvolvimento da capacidade de ajuda mútua, colaborativa e participativa entre os colegas. Ao estarem envolvidos em uma mesma situação de estudo, pode haver momentos de mediação entre os estudantes. Aqueles que já entenderam os conceitos auxiliam a dirimir as dúvidas dos colegas que ainda não conseguiram a devida compreensão, atuando em sua Zona de Desenvolvimento Proximal (VIGOTSKY, 2008). Mas quando não ocorre a colaboração entre colegas, para ação centralizadora de individualização do trabalho ou pelo distanciamento passivo em grupo, ocorre a alienação em pleno processo de trabalho coletivo (LEONTIEV, 1978a). No mundo real, nem sempre as ações serão realizadas ou debatidas em grupos, algumas delas necessitam ser realizadas individualmente, total ou parcialmente, muito embora o seu resultado possa ser parte integrante de um trabalho coletivo. Também pode ocorrer que a execução de um trabalho seja realizada pela ação integrada e parcial de grupos de trabalho. No caso do ambiente educacional, por exemplo, mesmo que os componentes resultados curriculares finais têm sejam um ministrados objetivo social separadamente, conjunto os seus mediado pela interdisciplinaridade. As aulas, mesmo sendo ministradas de forma individual, necessitam resultar em conhecimentos que possam ser observados e articulados em um contexto coletivo da formação curricular. Isto requer um diálogo e a colaboração da equipe de professores do curso por meio de ações integradoras. Para a realização da aula com Articulação Dinâmica de Aprendizagens é necessário que ela seja precedida de, no mínimo, uma aula de Mediação de Conhecimento Científico e ou de Ressignificação dos Conceitos Científicos. Ela também pode ser utilizada para finalizar uma série de conteúdos curriculares, implicando uma articulação integradora dos conteúdos curriculares estudados ao longo de um período letivo. Esta condição tem por finalidade propiciar, aos estudantes, a possibilidade de realização de estudos prévios e a percepção de algumas lacunas cognitivas não superadas durante o trabalho coletivo. Estas outras possibilidades poderão ser arquitetadas especificidades do conjunto de cada conteúdo. de acordo com as 107 Para propiciar uma situação pedagógica que ilustre um contexto da vida profissional, foi estruturada uma aula denominada de Articulação Dinâmica de Aprendizagens. A dinâmica é organizada de modo que os estudantes possam vivenciar, em uma situação de estudo, processos inicialmente organizados pelo docente, compostos de três ações distintas: i) ação de aprender o novo conhecimento/processo; ii) ação de mobilizar os novos conhecimentos/processos; iii) ação de comunicar/ensinar o aprendido. A ação de aprender o novo conhecimento/processo pode ser inicialmente realizada tanto por meio do uso de um aplicativo computacional ou por outro recurso que oriente a ação do estudante. Esse momento tem por finalidade apresentar todas as operações que possibilitam a compreensão para a realização de determinado processo. Na primeira vez que está sendo feita essa ação, o docente pode realizar mediações de auxílio do estudante para a compreensão do processo. Na sequência, a segunda ação é a de mobilizar os novos conhecimentos/processos. Ela ocorre de forma individual. Seu objetivo pedagógico é a busca da consolidação dos conhecimentos aprendidos e da apropriação dos conhecimentos teóricos já estudados em aulas anteriores, por meio de operações estruturadas, que possibilitem a articulação desses conhecimentos. Busca demonstrar, para o estudante, que em um determinado momento de sua vida profissional suas ações poderão não ser realizadas de forma individual, mas que seu empenho individual tem influencia para a consecução do todo. Em uma atividade de grupo pode haver uma situação de centralização das ações ou das decisões em um único participante. Em outro oposto, um estudante pode permanecer alheio, apático ou nem si quer se envolver ao processo desenvolvido pelo demais integrantes do grupo, ou seja, sem realizar nenhuma contribuição ao grupo. No momento de mobilizar os conhecimentos, os novos ou processos, o estudante necessita realizar as operações inerentes aos mesmos. Assim, é reduzida a possibilidade de centralização da decisão ou da passividade dos integrantes da atividade diante do exercício proposto pelo docente, nessa fase da aula. Muito embora essa fase da atividade didática de situação de estudo em processos dinâmicos, numa primeira vista, possa transparecer como uma 108 atividade de cunho individual, ela tem por finalidade demonstrar aos estudantes a importância que cada indivíduo tem para a consecução de objetivos comuns por meio de resultados parciais integrados e necessidade de articulação dos conhecimentos estudado em aulas anteriores. No terceiro momento da situação de estudo por processos dinâmicos, o estudante realiza a ação de comunicar/ensinar o aprendido, por meio de sua orientação é oportunizado ensinar o processo para outro colega. Nessa ação suas responsabilidades aumentam e também é exigido a mobilização de outras habilidades mentais para além das questões de entendimento e das consecuções das operações de um determinado conteúdo/processo. Esse momento possibilita, ao estudante, demonstrar a outro colega como são realizadas as operações de um determinado processo, além de acompanhar a realização inicial das tarefas por ele realizadas. Assim, uma de suas responsabilidades é verificar a correta realização do processo acompanhando as ações do colega. Caso seja necessário executar alguma consideração complementar, ela pode ser realizada no sentido de orientação da técnica empregada no processo, podendo inclusive utilizar-se dos referenciais bibliográficos do conteúdo curricular envolvido naquele processo. Após finalizar a ação de ensinar, o estudante que já fez as três etapas se dirige, no tempo seguinte, para o aprendizado de um novo processo. Desta maneira, ele pode vivenciar as diferentes etapas de consecução de uma determinada atividade, iniciando pelo aprendizado dos processos, a sua execução individual e, posteriormente, o ensino dos conhecimentos apreendidos. Durante essa dinâmica o papel do professor passa a ser o de organizador dos tempos e das trocas de estudantes por processo e da observação das ações realizadas por cada estudante para, posteriormente, coletivamente mediar a análise e reflexão dos fatos ocorridos. Essa tarefa complexa do professor necessita oportunizar o diálogo, a troca, identificação de lacunas, analisar as causas das divergências, caso ocorram e tudo isto é embasado nas ações efetuadas pelos estudantes em aula. 109 A atividade prática e a atividade mental são as duas formas de unidade, ou seja, a atividade. Além disso, a atividade mental surge de atividade prática externa. Estas duas formas de atividade se relacionam entre si, que se manifesta em suas interações e etapas de uma forma para a outra. A atividade psíquica interna inclui constantemente os elementos da atividade externa; a atividade prática externa inclui os elementos de atividade psíquica (TALIZINA, 2000, p.18). Fundamentado pelo resultado das atividades dos estudantes, o docente realiza a mediação das análises e reflexões acerca dos fatos ocorridos de maneira a possibilitar que os próprios acadêmicos possam tomar consciência dos mesmos. Para subsidiar o processo de condução da análise, o docente necessita acompanhar as inúmeras ações realizadas e sua atenção precisa ser bastante grande, desde o início da aula até o presente momento. Quando identificados os acontecimentos, que tenham pertinência de serem abordados, ele registra em seu diário de campo, para, posteriormente, por meio da mediação pedagógica, ilustrar o fato ocorrido para que os estudantes possam perceber as interligações conceituais do conteúdo (atividade interna) com as suas ações, atitudes e posturas (atividades externas) ocorridas durante o processo de realização das atividades propostas. Somente buscar o entendimento de conceitos científicos pelo uso de ações que mobilizem o conhecimento curricular já estudado, seja por meio de trabalhos em grupo ou em ações individuais, é centrar a aula apenas no reforço de aprendizado. Para tanto, é preciso: a transformação da Situação de Estudo por Processos Dinâmicos, desenvolvida do início até o presente momento da aula, em uma atividade de Interação Colaborativa em nova Situação de Aprendizagem. Ela é provocada pela inserção de uma nova problemática, mantendo a situação atual da sala, para que os estudantes possam mobilizar os conhecimentos estudados e também pensar criativamente e colaborativamente na sua resolução. Este momento cria novos objetivos sociais que, pela autoanálise coletiva da atividade vivenciada, estimula o desenvolvimento de novas condições de trabalho coletivo e de novos processos, podendo, ainda, serem elaborados outros instrumentos de trabalho. Este momento da aula tem por objetivo possibilitar novas atitudes dos estudantes para que ocorra o deslocamento de sua atividade principal em aula. 110 Para realizar o desenvolvimento de novos instrumentos de trabalho é necessário o desenvolvimento e articulações mentais que contemplem as operações contidas nos processos já envolvidos para que este novo instrumento possa ser executado. Sem um conhecimento dos processos e suas operações não há possibilidade de haver o desenvolvimento correto de um instrumento de trabalho (LEONTIEV, 1978a). Assim, a inserção de uma nova situação/objeto que necessita de uma solução, mantendo os mesmos cenários já desenvolvidos, oportuniza que os estudantes desenvolvam a criatividade, capacidade de tomada de decisão apoiada na apropriação e utilização dos referenciais conceituais, bem como das experiências de suas ações em um cotidiano recentemente vivenciado. Tudo serve de base para o desenvolvimento de uma nova sequência de processos e a sua consecução para verificar a eficiência. Para Salvador (1994), essa dinâmica pode ser caracterizada como uma ação auto estruturante do conhecimento pela qual o estudante necessita mobilizar diversas estruturas de conhecimentos para a busca e resolução de uma nova situação de estudo. As atividades de interação colaborativa em nova situação/objeto de aprendizagens podem ser realizadas, preferencialmente, ainda na mesma aula, com a observação direta do docente e pela ação participativa de todos os envolvidos. Uma mesma ação dirigida a objetivos pode realizar diversas atividades e a transferência de uma atividade para outra diferente. Por outro lado, o objeto e o motivo de uma atividade coletiva podem normalmente ser procurados por meio de alternativas múltiplas de objetivos e ações (ENGESTRÖM, 1999b, p. 65). Nesta ótica, ao final da aula os estudantes articularam, mental e fisicamente, por meio de objetos culturais da área em questão, diversos conhecimentos, sendo que suas ações não ficaram somente aos relacionados ao conteúdo do componente curricular. Também poderá haver um deslocamento da atividade principal dos estudantes para uma nova meta que lhe exigirá novo conjunto de ações focadas na execução do trabalho coletivo e colaborativo. Neste momento a articulação dos processos mentais individuais é transformada em operações coletivas, tanto no pensamento quanto nas ações fisicamente visíveis para a busca de solução ao problema proposto. 111 Ao concluir as atividades de Interação Colaborativa em nova Situação de Aprendizagem, o docente conduz uma rápida sistematização da aula. Ela objetiva um momento coletivo para o relato dos fatos ocorridos, das vivências realizadas, das percepções e sentimentos percebidos, bem como da articulação cognitiva dos conceitos científicos já estudados. A última tarefa é a realização, extraclasse, de um relatório escrito, individual ou em grupos de até três estudantes. Seu propósito é provocar uma reflexão das vivências e dos aprendizados oportunizados durante a realização da atividade. Busca estimular as interações mnemônicas e intercomunicativas entre aqueles que as fazem e aqueles que as leem. Possibilita uma análise crítica dos fatos, dos algoritmos, das linguagens e das representações ocorridas e, por este documento, organizadas e representadas de forma gráfica. O desenvolvimento de ações por meio de sistemas escritos afeta a “consciência e a cognição ao fornecer um modelo para o discurso, uma teoria para refletir sobre o que é dito” (OLSON, 1998, p. 106). A escrita possibilita um olhar para nossos atos e falas de forma estruturada possibilitando inclusive a definição de categorias de análise. A escrita exige uma leitura prévia de revisão do escrito e esse ato estimula melhorias ao texto. O ato de realizar a escrita, sua leitura, a reescrita e a releitura dos próprios escritos potencializa um processo dinâmico de auto-organização com ressignificação de conceitos científicos e cotidianos, ambos recontextualizados pelas mediações inerentes aos avanços da compreensão dos fatos. Trata-se de uma análise que leva em conta as memórias dos fatos vivenciados e dos conceitos resignificados, de modo a possibilitar, ao próprio autor, bem como a outras pessoas em interlocução sobre a leitura, um processo de diálogo e reflexão sobre os aprendizados (MARQUES, 2001). Para oportunizar esse diálogo, um novo momento é necessário, a análise final dos resultados e dos materiais produzidos a partir da aula de Articulação Dinâmica de Aprendizagens. Para a realização desse momento o docente deverá ter lido todos os relatórios e feito um parecer de toda a atividade em três categorias de análise: i) mobilização do conhecimento (teórico e prático); ii) mobilização de interações sociais e, iii) mobilização de relações de poder. 112 Quando a ação de ensino ocorre de forma desarticulada das relações sociais envolvidas ou quando suas análises encontram-se meramente focadas na descrição do cumprimento cognitivo ou mecânico da tarefa, evidencia-se uma visão alienada e alienante (DUARTE, 2002) dos processos intelectuais humanos. Ao adotar uma análise focada apenas nos resultados cognitivos, somente se avalia a capacidade de aprendizagens inerentes às funções intelectuais para a execução da tarefa e não propicia o desenvolvimento das funções psicofisiológicas superiores dos humanos. Pelo desenvolvimento das funções psicofisiológicas superiores é que se consegue provocar uma expansão das aprendizagens humanas para além do crescimento lógico e cognitivo dos conceitos científicos, mas também para o desenvolvimento e aprimoramento das funções motoras, culturais, interpessoais, ambientais, comunicativas, afetivas, sociais, políticas, ou seja, das questões objetivas, subjetivas e intersubjetivas que constituem o ser humano como um todo. Por meio da atividade de ensino corretamente organizada que são colocadas às condições para superação do desenvolvimento parcial de alguma das funções psicológicas superiores, compreendidas como um produto sócio-histórico, ou seja, engendrado pelas relações de objetivação e apropriação do patrimônio cultural construído pela humanidade através dos tempos (EIDT; DUARTE, 2007, p. 52). Assim, o docente necessita orientar o estudante para que ele possa perceber as situações que estão envoltas na atividade e entender a amplitude dos conteúdos estudados e como esses foram abarcados na estrutura integral da vida humana. Esse olhar aguçado para identificar essa integralidade da vida exige do professor uma análise reflexiva sobre o seu próprio trabalho como docente e de como as interações sociais de sua aula estão propiciando condições para que os estudantes realizem esse deslocamento e desenvolvimento, tanto objetivo quanto subjetivo dos conceitos científicos necessários à academia. Mas não basta o docente realizar sua autoanálise do processo, ele também precisa orientar seus estudantes a realizar também essa ação no momento coletivo final de análise dos fatos e das sistematizações escritas. O início desse ato-evento é o momento oportuno para o docente apresentar e 113 debater acerca das três categorias de análise: i) mobilização de conhecimentos; ii) mobilização de interações sociais e, iii) mobilização de relações políticas. Guiados por essas três categorias, solicitar, pela ação da leitura do trabalho de outro colega, identificar, no referido texto, as características referentes a cada uma delas. A análise final é iniciada pelas considerações do docente, pelo uso da linguagem pedagógica de maneira a articular as questões científicas e as cotidianas do conteúdo. Este breve comentário alerta para a necessidade de ter cuidado para não direcionar os comentários dos estudantes. Posteriormente, ele abre espaço para o diálogo participativo dos estudantes. Esse ato-evento serve de fechamento do conteúdo em questão pela analise das conexões objetivas e subjetivas oriunda dos temas abordados pelos estudantes. Essa sistematização final oportuniza um momento de fala dos estudantes com vista a ressignificação dos conceitos. Pela mediação, tanto nos aspectos objetivos como nos subjetivos dos acadêmicos, o docente estimula outros olhares ao conteúdo de formação curricular bem como para a futura carreira profissional dos estudantes. A organização conjunta e sequencial da atividade proposta, centrada nas inúmeras possibilidades de mediação de novos conhecimentos e de novas interações, por meio das diversas dinâmicas envolvidas, exige de todos os participantes da aula, uma atuação interativa e integrativa. Essa atividade além de mobilizar uma variedade de conhecimentos científicos, oportuniza também o desenvolvimento de relacionamentos interpessoais entre os colegas, postura profissional, responsabilidades com as suas tarefas, auto aprendizado, colaboração, esforço em compartilhar o aprendido. A Atividade de Interação com Integração de Aprendizagens busca potencializar o aprendizado cognitivo dos estudantes, ao oportunizar o acesso à linguagem científica, bem como oportuniza momentos de significação do conteúdo em uma ação profissional, mesmo que simulada, de forma a melhorar a sua compreensão por meio do agir, ver, questionar, analisar, modificar e criar novas condições de aprendizagens pela mobilização dos conceitos outrora estudados. Para que isso ocorra os estudantes necessitam também articular a inter/transdisciplinariedade dos conhecimentos oriundos de outros 114 componentes curriculares anteriormente estudados. Também os conteúdos já estudados na atual disciplina necessitam ser articulados. Isto exige a articulação de sua capacidade de criação, envolvimento social, das relações políticas e de poder envolvidas. Em relação à postura do professor, neste momento, passa ser concentrada na de ser mediador da aprendizagem. Sem essa mudança de postura poderá não haver o devido enriquecimento de conhecimentos oportunizados pela mobilização dos diversificados conhecimentos empregados durante consecução das atividades desenvolvidas. Em relação à questão didática, essa proposta corrobora “a crença de que é possível desenvolver um ensino com a potencialidade de romper com práticas pedagógicas alicerçadas em conteúdos repetitivos, segmentados e dicotomizados de qualquer realidade” (ZANON; MALDANER, 2010, p. 118). O texto até aqui apresentado explicita a Atividade de Interação com Integração de Aprendizagens. As fases até aqui demonstradas, em cada um dos retângulos, já ilustrados na Figura 3, correspondem aos momentos de uma aula, sendo que, para este caso, foram realizadas em quatro aulas, muito embora, para outros casos e outros conteúdos essa sequência possa ser modificada conforme as características do novo conteúdo. É compreendido como aula, para a presente tese, a sequência contínua de quatro períodos consecutivos de 60 minutos (total de 240 minutos), com um intervalo de 20 minutos incluso. Para propiciar a organização didática de cada fase da proposta de Atividade de Interação com Integração de Aprendizagens, a seguir é apresentada cada uma das aulas, detalhadamente. É importante, no início de cada uma das aulas, apresentar aos estudantes a sua sistemática de realização e quais são os papeis, posturas e atitudes que serão mobilizados. A explicitação da agenda oportuniza o entendimento da metodologia do ensino que será elaborada, deixando o acadêmico ciente de suas atribuições e focados nos processos de construção de seu conhecimento, mediados pelas reflexões intersubjetivas oportunizadas pelas condições de trabalho articuladas em aula. 115 5.3.1 Primeira aula: mediação do conhecimento científico Ao iniciar uma nova abordagem de conteúdo, faz-se necessário uma preparação dos estudantes anteriormente a aula. No ato-evento propriamente dito da aula, o docente conduz a apresentação do conteúdo e a finaliza deixando material para estudos complementares e/ou exercícios para revisão do conteúdo. Cabe salientar que dependendo do conteúdo a ser desenvolvido é necessária a realização de uma ou duas sequências de aulas para a mediação dos conceitos. Ela pode ser intercalada com as aulas de ressignificação dos conceitos científicos. Essa sequência oportuniza que os conteúdos sejam apresentados, debatidos e analisados com o objetivo de oportunizar o seu entendimento. Primeira etapa: leitura prévia Na semana anterior, o docente seleciona pequenos textos como reportagens de jornais ou de revistas comerciais, rápidos vídeos ou outros meios (físicos ou eletrônicos) que abordem o tema do conteúdo, que será abordado numa linguagem cotidiana, voltada para demonstrar como aquele conteúdo está inserido culturalmente na vida cotidiana das pessoas. O professor também pode desenvolver materiais inovadores como um texto didático e as apresentações que serão utilizadas, sendo estes documentos também enviados antecipadamente aos estudantes. Segunda etapa: ação pedagógica expositivo-dialogada O ato-evento da aula pode ser organizado de forma expositivadialogada, conduzida pelo professor. Como estratégia de ensino pode ser organizada uma apresentação com os recursos audiovisuais de projeções dinâmicas que possibilitem a demonstração conceitual do conteúdo. Esse momento pode ser realizado pelo docente ou por outro especialista convidado para fazer a apresentação técnica, conceitual ou científica sobre o tema. Quando um especialista realiza uma apresentação o professor necessita, 116 após a apresentação realizar uma análise das questões apresentadas e os conceitos científicos da área do conhecimento relacionado. Os materiais de apoio ao momento expositivo-dialogado mediado pelo professor necessita oportunizar uma apresentação inicial e, em seguida, o aprofundamento dos conteúdos, por parte dos estudantes. A elaboração ou utilização de texto didático necessitam ser articulados no decorrer de cada assunto. Outras referências bibliográficas pertinentes aos temas abordados que pudessem ser utilizadas como fonte de consulta para estudos complementares. O material audiovisual é utilizado como um meio de orientação da sequência de apresentação semelhante aos textos do conteúdo para oportunizar o acompanhamento do assunto. O material audiovisual que o professor utiliza em aula pode conter outros slides que não estão presentes no documento dos estudantes com o intuito de se inserir questões no decorrer da aula estimulando a participação dos estudantes e o debate ao tema. Nele também podem ser inseridos momentos individuais de releitura dos textos previamente disponibilizados e, a partir destas, estimular os estudantes a elaborarem questões acerca do tema e solicitar que outro colega faça alguma consideração do seu entendimento (DANIELS, 2007), como exemplos de estímulo ao diálogo e ao debate. Terceira etapa: apresentação de vídeos ou utilização de recursos didáticos complementares Para complementar as explicações da aula expositiva-dialogada do conteúdo, pode ser apresentado um vídeo de curta duração, cujo conteúdo esteja associado ao abordado na aula. Por meio desse recurso audiovisual pode ser visualizado e oportunizado novos debates mediante a visualização de uma projeção dinâmica de um caso real, por exemplo. Uma primeira apresentação pode ser feita sem interrupções e, na sequência, pode ser reapresentado o mesmo ou outro material, sendo realizados intervalos intencionais para que o docente faça o reforço dos pontos conceituais demonstrados naquele instante do vídeo. 117 Também podem ser utilizados outros tipos de recursos didáticos que possam estar auxiliando o estudante a realizar uma visualização rápida sobre um determinado conteúdo, antes da realização de algum exercício para fixação. Quarta etapa: realização de exercícios em sala de aula Em seguida, são apresentados alguns exercícios didáticos para que os estudantes possam verificar a sua compreensão inicial do conteúdo. Esses exercícios necessitam ser realizados dentro da aula para que o docente possa acompanhar o seu desenvolvimento e dirimindo possíveis dúvidas individuais dos estudantes. Também pode ser aproveitado esse momento para se realizar explicações coletivas de partes do exercício provenientes de dúvidas originadas pelos estudantes. Faz-se necessário o controle do tempo para que os exercícios sejam corrigidos e comentados ainda na aula. Para que a aula não fique centrada na didática expositivo dialogada, são realizados vários ciclos de atividades durante o desenrolar do tema. Uma atenção necessária está no fato do docente disponibilizar alguns minutos finais da aula reservados para a explicação da atividade a ser realizada extraclasse. Quinta etapa: organização de exercícios extraclasse e leitura complementar Ao finalizar a aula, o docente disponibiliza um material mais elaborado e detalhado do tema, como por exemplo, a indicação de capítulos de livros, artigos científicos sobre o conteúdo, estudos realizados por entidades que pesquisem o tema abordado. Também pode ser organizado um exercício elaborado pelo próprio docente, em que os estudantes possam estar realizando uma revisão da literatura sobre o conteúdo abordado. 5.3.2 Segunda aula: ressignificação dos conceitos científicos em ações simuladas do cotidiano A realização desta aula encontra-se organizada em cinco etapas, sendo a primeira denominada de revisão dos temas e definição das ações futuras, a segunda foi denominada de ação de interação em grupos, a terceira de 118 socialização dos processos e resultados, seguidos da ação integradora dos grupos e finaliza com a análise e reflexão das ações e dos aprendizados. A seguir são descritas essas etapas em detalhes. Primeira etapa: revisão dos temas e definição das ações futuras A segunda aula é iniciada com a revisão dos conteúdos estudados na semana anterior ou dos exercícios propostos para o estudo extraclasse. O tempo de realização dessa atividade não pode ser muito longo, em torno de quinze minutos, muito embora seja uma etapa importante para relembrar pontos já trabalhados do conteúdo. O docente pode solicitar as respostas mais frequentes dos estudantes e arguir sobre onde ocorram os erros das atividades desenvolvidas extraclasse realizando novos comentários sobre as lacunas de aprendizagem do tema que os estudantes apresentaram durante a correção. Para dar andamento as novas atividades, os estudantes são organizados em grupos de trabalhos dentro da sala de aula. Cabe ressaltar que o número de grupos deve ser igual ao número de sequências de ações que serão realizadas na segunda etapa. Após haver esta organização do ambiente físico da aula inicia-se a segunda etapa. Segunda etapa: ação de interação em grupos Realizadas as atividades iniciais de preparação e revisão, faz-se o início da primeira rodada da simulação. Essa etapa exige que o docente faça a articulação pedagógica do conteúdo no sentido de conduzir, paulatinamente, os dados para a consecução do exercício, independentemente, em cada grupo. Ao fazer a apresentação de novos detalhes, o docente faz a mediação do entendimento do tema e o acompanhamento dos desdobramentos pedagógicos dos conteúdos que estão sendo abordados em cada grupo. A ação mediada de desenvolvimento do conteúdo exige do docente uma capacidade de inovação e articulação entre os conteúdos desenvolvidos na aula com as ações que os estudantes estão realizando em seus grupos. Como essa proposta está baseada na teoria da atividade, o processo didático de mediação do conteúdo necessita de um objeto (que seja pertinente ao 119 conteúdo em estudo) para a realização das operações necessárias para os entendimentos iniciais. Uma atenção nessa etapa está no fato das velocidades de entendimento e realização das ações serem diferente entre os grupos. Para se evitar esse tipo de fato, a atividade necessita ser dividida em uma sequência de ações interligadas, a que se possa chegar simultaneamente ao final da atividade. Com a definição de cada marco temporal para a realização das sequências das ações, o docente consegue realizar as devidas orientações aos grupos que demonstrarem dificuldades. Continuam-se as atividades da simulação observando para que não haja dispersão nem clima de competição em aula. Espera-se que todos os grupos possam finalizar as suas tarefas em um tempo, aproximadamente, semelhante. A organização do ambiente físico, da forma de condução e realização da atividade e dos participantes dos grupos é de livre escolha de cada um. O professor pode realizar intervenções no sentido de auxiliar os estudantes na realização das atividades. Essa intervenção necessita ocorrer quando os estudantes estão realizando erroneamente, em relação ao conteúdo estudado, as ações e necessita estar direcionada a não dar a resposta, mas apresentar dicas e pistas para os estudantes possam perceber seus equívocos (VIGOTSKY, 2008). Nos casos em que possam ocasionar risco a saúde e a segurança dos estudantes o professor necessita intervir ativamente para eliminar uma situação desta natureza. Caso isso ocorra, faz-se necessário realizar um diálogo sobre a importância das ações prevencionistas que podem ser realizadas para se evitar algum tipo de acidente em aula. As diversas formas de organização física e estruturação social e política da atividade necessitam ser observadas pelo docente e realizar os devidos apontamentos no diário de campo, para posteriores análises e considerações. Terceira etapa: socialização dos processos e dos seus resultados Finalizada a primeira ação em grupos solicita-se que todos os estudantes façam uma parada em suas atividades. Nesse instante, o docente solicita aos estudantes, independentemente dos grupos, que façam 120 comentários sobre as experiências individuais ou dos resultados obtidos em cada grupo e a verificação do entendimento do conteúdo mediado pela vivência de uma simulação, ou seja, uma reflexão da ação. Neste momento o docente instiga que os participantes demonstrem como se apropriaram e se utilizaram das teorias, bem como realizaram as suas articulações com o exercício desenvolvido. No caso de haver divergências de opiniões ou formas de realização da atividade entre os grupos, o docente pode solicitar aos participantes que façam comentários explicativos dos motivos das discrepâncias entre a execução das ações e o seu conteúdo teórico. Como cada grupo pode organizar-se de forma independente podem haver formas diferentes de fazer ou de se articular os objetos, os processos, os recursos materiais e as pessoas em cada grupo. As variações de organização dos grupos em relação à execução da atividade também podem ser analisadas pelo professor e debatidas pelos participantes. Essa socialização e análise preliminar dos resultados das ações de cada um dos grupos oportuniza que sejam feitas reflexões sobre as ações e que sejam levantadas propostas de correções nos processos necessários para dirimir as lacunas observadas. Quarta etapa: ação integradora dos grupos Essa etapa tem por finalidade a realização conjunta das sequências de ações estabelecidas na primeira ação realizada independente em cada um dos grupos. O docente solicita que um representante de cada grupo venha a compor um novo grupo central. O nome é central porque ele necessita estar localizado ao centro da sala para que os integrantes dos demais grupos possam visualizá-lo. Respeitando as características da sequência de ações referentes ao objeto utilizado para a ação proposta, os grupos antigos passam a serem os responsáveis pela condução das ações de seu integrante no novo grupo central. O docente propõe um novo objetivo e os grupos periféricos necessitam organizar os conceitos ou as operações e as encaminhar para que os membros do grupo central possam realizar as referidas operações. 121 Quinta etapa: analise e reflexão sobre as ações e os aprendizados Depois de realizado o ciclo completo da atividade em que o objeto esteja concluído para os fins didáticos estabelecidos, mantendo-se a organização dos grupos, o professor solicita que os estudantes façam uma comparação entre o que foi estudado, na primeira ação em grupos, e o que foi realizado nesse instante pelo grupo central e pelos grupos periféricos. Essa análise não necessita ficar restrita apenas ao produto confeccionado, mas podem ser relacionadas observações sobre o fluxo das informações, o registro dos dados, as relações interpessoais e intrapessoais ocorridas, bem como as questões éticas e morais que possam ter surgido durante a realização da atividade. Para finalizar a aula, cada estudante pode realizar um rápido relato, por escrito, objetivando executar uma reflexão acerca de suas ações e as implicações comportamentais, bem como uma comparação entre as etapas vivenciadas anteriormente e a atual ou até mesmo a articulação do conteúdo com as ações realizadas na aula. Esse sucinto relato escrito pode ser entregue, preferencialmente, ao final da aula ou em outra data anteriormente ao início da terceira aula. O docente necessita realizar a análise dos materiais e posteriormente dar o retorno dos relatórios aos estudantes, podendo ser feitas observações individuais ou realizar uma sistematização geral dos principais pontos abordados. Caso seja pertinente, podem ser reservados alguns minutos finais da aula para repassar um novo material de estudo extraclasse, cujo foco seja o aprofundamento conceitual e científico do conteúdo abordado. 5.3.3 Terceira aula: articulação dinâmica de aprendizagens A terceira aula tem como proposta pedagógica o desenvolvimento da aprendizagem do conteúdo, mediante a ação dos estudantes atuando em três momentos distintos de aprendizagens. Primeiramente, há necessidade de realizar uma preparação inicial do ambiente da sala de aula por parte do docente, pois é dele que parte a ação inicial da atividade. A definição do objeto cultural está relacionada ao tema central do conteúdo abordado e é parte fundamental para que seja possível a 122 aproximação pedagógica dos conteúdos de um campo do saber com algumas articulações possíveis com o mundo cotidiano do trabalho, no qual, os egressos dos cursos de graduação estarão envoltos. Nessa perspectiva, a atividade de articulação dinâmica de aprendizagens tem por objetivo propiciar a assimilação dos conteúdos científicos para um mundo objetivo de forma simulada, mesmo com todas as limitações que essa prática didática possui, para possibilitar uma primeira inserção, mediada por objetos e ações, de maneira a apresentar algumas das inúmeras possibilidade de ações humanas no trabalho, a partir da utilização dos conteúdos curriculares estudados em aulas anteriores. Primeira etapa: preparação prévia do ambiente Para a realização da atividade, faz-se necessário a organização do ambiente da aula de acordo com as sequências de ação que serão propostas. Como o primeiro momento da aula ocorre pela ação pedagógica do docente, ou seja, ele orienta os estudantes em cada um dos processos estabelecidos. Assim, são estabelecidos, previamente, os processos e as respectivas operações envolvidas para a execução e a sala de aula é organizada com todas as sequências para a realização da atividade planejada. Segunda etapa: situações de estudo em processos dinâmicos A Dinâmica de Interação com Integração de Aprendizagens tem por finalidade a articulação vivencial dos conteúdos teóricos, de estudos cujo objetivo seja a verificação da apropriação do conhecimento do conteúdo por parte dos estudantes. Num segundo momento, é verificado o seu efetivo desenvolvimento por meio de operações delimitadas por processos. O ciclo é finalizado pela ação de ensinar o aprendido e pela verificação do entendimento de outro estudante dos conteúdos e operações que serão essenciais para a continuidade da atividade. Por meio das Figuras 4 e 5 pode-se realizar a análise detalhada das ações necessárias para a realização dessa etapa da aula. Verifica-se que cada estudante é representado por um círculo com cores 123 diferentes e as letras inseridas dentro são alteradas de acordo com a etapa da dinâmica. Figura 4: Dinâmica de interação com integração de aprendizagens para processos contínuos Fonte: elaborado pelo autor, 2013. As linhas circunscritas pontilhadas representam os diversos intervalos de tempo disponibilizados para a realização de cada etapa do processo e as setas representam o caminho que cada participante realiza para que a atividade possa transcorrer. A definição do tempo real, em relação aos tempos das etapas de cada processo, pode ser previamente dimensionado pelo docente para que haja uma distribuição proporcional do tempo de cada processo. Também o tempo total das ações não seja muito elevado para que durante o percurso da aula todos os estudantes possam ter realizado, pelo menos, um processo da dinâmica proposta. Como os processos podem apresentar vários modos de realização, foram elaboradas duas formas básicas de iniciar a dinâmica da terceira aula. Conforme a Figura 4, os processos desenvolvidos de forma contínua, em que 124 as etapas posteriores somente podem ser realizadas após a finalização da etapa predecessora, de forma que as atividades dos estudantes precisem ser realizadas também obedecendo à mesma lógica propiciada pelo processo. Assim, no tempo 1, identifica-se que a fase inicial ocorre no „processo J‟ e, neste ponto, deve ser iniciada a dinâmica. Um estudante deve ser escolhido no grupo. No caso ilustrado verifica-se que o „estudante B‟ iniciou o primeiro processo passando a realizar os estudos das operações que são necessárias para a sua realização. O docente controla o tempo e anuncia a finalização do tempo 1. Ao iniciar o tempo 2, o „estudante C‟ começa seus estudos do „processo K‟ enquanto o „estudante B‟ realiza as operações individualmente, mobilizando os conhecimentos estudados anteriormente. No tempo 3, o „estudante A‟ inicia os seus conhecimentos do „processo J‟ sob orientação do „estudante B‟, sendo que simultaneamente o „estudante C‟ realiza as operações individualmente do „processo K‟ e o „estudante E‟ inicia seus estudos do „processo L‟. Esse ciclo segue até que os estudantes possam realizar todos os processos, ou seja, no tempo 4 o „estudante B‟ que já realizou as três ações do „processo J‟ passa para a ação de aprender o „processo K‟ sendo orientado pelo „estudante C‟. Ainda no tempo 4, o „estudante E‟ realiza as ações de mobilização dos seus conhecimentos das operações do „processo L‟ enquanto que o „estudante F‟ inicia seus estudos do „processo M‟. Esse ciclo ocorre até que todos os estudantes tenham passado os processos ou que os produtos elaborados tenham sidos finalizados. Para a realização de processos intermitentes, em que seus resultados são interligados, foi elaborada uma sequência diferente das ações a serem desenvolvidas, ilustrada pela Figura 5. Verifica-se que no tempo 1 ocorre o início simultâneo de dois estudantes, „B‟ e „E‟ estão fazendo a ação de aprender o novo conhecimento nos processos „R‟ e „T‟ respectivamente. No tempo 2, pode-se perceber que ocorrem, simultaneamente, as ações de mobilização do conhecimento dos estudantes „B‟ e „E‟ nos processos „R‟ e „T‟, respectivamente, bem como os estudantes „D‟ e „A‟ iniciam a ação de aprender os processos „S‟ e „U‟, respectivamente. A mesma sistemática segue nos tempos 3 de forma que mais dois estudantes, „C‟ e „F‟, passam a integrar a dinâmica interagindo com os colegas „B‟ e „E‟ respectivamente, enquanto que os estudantes „D‟ e „A‟ realizam a ação de mobilização dos seus 125 conhecimentos. Essa mesma sequência de ações ocorre até que todos os estudantes tenham realizado as ações de mobilização dos conhecimentos em todos os processos. Figura 5: Dinâmica de interação com integração de aprendizagens para processos intermitentes integrados Fonte: elaborado pelo autor, 2013. Durante todo o transcurso dessa dinâmica, independente do tipo de sequência dos processos, a atuação do professor está focada no acompanhamento das operações, na fase de troca dos participantes dos processos e no desenvolvimento das novas operações com o objetivo de identificar possíveis alterações ou dirimir possíveis dúvidas que possam ocorrer durante essa etapa. Cabe salientar que o foco dessa etapa está direcionado a atuação do estudante na busca do seu desenvolvimento cognitivo, motor e processual, muito embora possam existir lacunas durante as interconexões do conteúdo com as operações, entre outras possibilidades. É por meio do transcurso dinâmico e interligado das ações de aprender, realizar o aprendido e ensinar o que se aprendeu que denomino de dinâmica 126 de interação com integração de aprendizagens. Muito embora essa ação em tríade que os estudantes realizam esteja limitada a um determinado número de processos e suas operações em que o objeto escolhido possa apresentar, essa proposta busca romper com a prática pedagógica dicotômica do ensino monológico centrado na apresentação docente e na ausculta do estudante. Em outra fronteira, propõe uma ação docente de investigação-ação de didáticas de ensino que possibilitem outras formas de interligações cognitivas, sociais, emotivas e pedagógicas, em sala de aula, voltadas para o desenvolvimento de um estágio mais elevado de aprendizado no ensino superior. A seguir são detalhados esses três momentos da proposta. Momento inicial: ação de aprender o novo conhecimento/processo É caracterizada pela necessidade dos estudantes terem primeiramente aprendido os conteúdos científicos anteriormente desenvolvidos nas aulas e sistematizados nas operações estabelecidas nos processos da atividade, operações essas mediadas pelo objeto e pela ação dos participantes. Momento de ação individual: ação de mobilizar os novos conhecimentos/processos O objetivo é demonstrar o desenvolvimento das operações propostas chegando à realização de uma determinada parte do processo para a formação do objeto proposto. Finalizadas todas as operações necessárias de um dos processos estabelecidos, parte-se para a fase de troca dos estudantes para outro processo. Momento de ensinar outro colega: ação de comunicar/ensinar o aprendido Essa fase de troca compreende o momento em que o estudante, ao ter aprendido as operações da atividade, orienta a aprendizagem do conteúdo e das operações a outro colega que, no momento posterior, passará a realizar as operações do processo em seu lugar. Finalizada sua tarefa de ensinar e 127 acompanhar o aprendido do colega, o estudante que já realizou a ação sozinho vai para outro processo, passando, nesse novo instante, a ser aprendiz de uma série de operações ainda não desenvolvidas. Na sequência ocorre o fechamento do ciclo das operações, nas quais, posteriormente, atuará sozinho e, em seguida, será o orientador de outro colega. Terceira etapa: análise e reflexões das ações e dos aprendizados A ação de reflexão das atividades vivenciadas é um momento importante para a realização de ressignificações dos conteúdos conceituais, das operações, dos processos desenvolvidos e das estratégias que cada estudante utilizou para mediar o outro colega na nova tarefa. Inicialmente, o docente pode buscar a correlação entre os conteúdos abordados em aula e a sua utilização durante a simulação proposta, bem como questionar os estudantes para possíveis projeções, que esses podem fazer com o conteúdo envolvido na atividade para além das ações simuladas. Um cuidado nessa fase é não se limitar apenas a uma interpretação das questões técnicas, mas também analisar os sentimentos, as dúvidas, as questões ambientais, a ética, o comportamento e comprometimento interpessoal, entre tantos outros pontos que possam surgir. Ressalta-se que o ponto final dessa fase esteja na realização de interligações, buscando desenvolver uma projeção psíquica a partir da atividade executada com as possíveis realidades, que os estudantes poderão vivenciar em suas ações como profissionais da área. Quarta etapa: interação colaborativa em nova situação de aprendizagem Essa etapa compreende a inserção de um novo objeto ou elementos ao objeto atualmente adotado, sendo que esse precisa ser inserido dentro do mesmo processo. Nessa ocasião, o grupo deve se reunir e realizar a organização da atividade, rever as sequências de ações e as operações de cada processo. Salienta-se que nessa fase o docente apresenta o desafio, comenta sobre o novo objeto ou novas especificações técnicas ao objeto atual. De 128 posse dessa novas informações, os estudantes desenvolvem o restante da atividade realizando o seu planejamento, organização, execução e análise. É o momento onde poderão ser verificados se houve a aprendizagem efetiva dos conceitos e ações estudados ao longo das aulas anteriores. Quinta etapa: sistematização Essa é a última etapa da Atividade de Articulação Dinâmica de Aprendizagens, em que os estudantes após realizarem todas as ações inerentes à atividade de ensino elaboram um relatório individual escrito, relatando os fatos ocorridos durante a atividade de interação colaborativa em nova situação-problema. Esse relatório pode ser elaborado, posteriormente, a aula e deve ser entregue ao docente num prazo de uma semana. Cabe salientar que esse relatório pode ser estruturado no formato de artigo científico, podendo conter elementos básicos como um título ao trabalho, resumo, introdução, referencial utilizado, metodologia, apresentação dos resultados e as considerações finais que o estudante realizou ao longo de três aulas. Mas essa não é uma diretriz rígida, dependendo do caso e conteúdo pode ser elaborado um relatório descritivo das ações e dos resultados obtidos, ou até mesmo outro tipo de recurso de apresentação de trabalhos acadêmicos, que o docente entender pertinente. 5.3.4 Quarta aula: análise final das atividades desenvolvidas e as sistematizações Essa etapa final da atividade de interação em aula com integração de aprendizagens é realizada em dois momentos. Com a sala organizada com os estudantes dispostos em círculo, é iniciado o primeiro momento quando o docente realiza a apresentação das três dimensões de análise: a cognitiva, a social e a política. Na dimensão cognitiva, busca-se evidenciar os aprendizados teórico-científicos pertinentes à área do conhecimento e os oriundos da prática, na dimensão social são abordadas as relações e interações entre as pessoas e na dimensão política a relação de poder e a hierarquia dos fatos ocorridos. Em seguida é distribuída, uma para cada estudante, a sistematização escrita de 129 outro colega e é solicitado que façam a leitura desse relatório buscando identificar as três novas dimensões de análise. Essa leitura propicia uma fundamentação para o diálogo posterior que será realizado bem como oportuniza outro olhar sobre os mesmos fatos ocorridos. No segundo momento, o docente realiza uma análise geral da atividade demonstrando como os conceitos científicos foram utilizados, bem como onde não foram considerados pelos estudantes no momento da busca da solução da nova situação-problema proposta. Também faz suas considerações em relação à participação social durante a realização das atividades e finaliza seus comentários sobre a estruturação das hierarquias de poder durante a realização da tarefa. Em seguida é aberta a oportunidade para que os estudantes possam realizar as suas considerações sobre a atividade desenvolvida. Nesse momento, os estudantes podem argumentar, arguir, discordar e demonstrar evidências de que a atividade como um todo propiciou para o seu desenvolvimento objetivo e subjetivo. A finalização dessa análise fica a cargo do docente numa síntese dos comentários dos estudantes bem como pela entrega dos materiais escritos para os seus respectivos autores. O conjunto destas ações didáticas é que se denomina Atividade de Interação com Integração de Aprendizagens. Finalizada a descrição de seus pressupostos, parte-se para o trabalho de estruturação do conteúdo programático a ser desenvolvido com os estudantes. A próxima ação é a organização, a articulação e o desenvolvimento dos conteúdos em cada momento definido nesta proposta. Em continuidade a explicitação da pesquisa desenvolvida, são descritos, a seguir, os procedimentos metodológicos da mesma. 5.4 Procedimentos metodológicos da pesquisa O processo de construção e análise dos dados caracteriza-se como uma pesquisa com abordagem metodológica no enfoque qualitativo, em busca de entender, descrever e explicar fenômenos ocorridos durante a atividade de ensino proposta (GODOI et al., 2006). A pesquisa qualitativa pode ser feita de maneiras diferentes, seja pela análise das “experiências de indivíduos ou 130 grupos (...), examinando interações e comunicações que estejam se desenvolvendo (...) e investigando documentos ou traços semelhantes de experiências ou interações” (GIBBS, 2009, p. 8). As atividades de campo realizadas para a produção dos dados foram norteadas pela proposição metodológica da pesquisa-ação (THIOLLENT, 2003), adaptada para as especificidades desta pesquisa, contemplando as seguintes fases: i) organização e preparação das atividades propostas: primeiramente foi realizada a definição didática das etapas de realização das atividades de campo para a presente pesquisa, conforme o item 5.4 desta tese. Definida a sequência das Atividades de Interação com Integração de Aprendizagens, foram elaborados os materiais e os procedimentos didáticos para cada uma das etapas, levando-se em consideração, as especificidades do conteúdo delimitado. Após, os materiais desenvolvidos foram apresentados para três professores do curso de Administração da UFSM, campus de Palmeira das Missões, os quais realizaram comentários e observações, analisando se as atividades propostas cumpririam, inicialmente, as questões de caráter técnico e científico da área. Essa ação caracterizou a fase de análise preliminar da proposta de ensino dos conteúdos. ii) campo de ação, observação e amostragem: preparação do ambiente físico para a realização das atividades de ensino na sala de aula regularmente utilizada pela turma que serviu de campo empírico para a investigação. Os sujeitos participantes foram os estudantes regularmente matriculados no curso, no primeiro semestre letivo de dois mil e treze, na disciplina de Produção, Materiais e Logística II (uma turma do noturno identificada como piloto e outra do diurno). Para a turma do noturno, a disciplina está organizada no sétimo período do curso e na do diurno no quinto período, ambas com o mesmo conteúdo programático e carga horária de 60 horas distribuídas em 15 semanas de aulas ao longo do semestre letivo. O desenvolvimento da Atividade de Interação com Integração de Aprendizagens foi realizado para a turma do diurno, da mesma disciplina, com 35 estudantes matriculados, sendo realizadas nos dias 29 de abril, 13, 20 e 27 de maio e 17 de junho do corrente ano. 131 A amostra apoia-se no princípio da aleatoriedade, em que cada membro da população estabelecida tem as mesmas condições objetivas de participação. O desenvolvimento da atividade de interação na fase piloto serviu para observar algumas características de sua realização, lacunas ocorridas no desenrolar das aulas e no teste de gravação e uma análise prévia da potencialidade dos dados. Para fins desta tese, somente foram analisados os resultados construídos a partir dos registros das aulas da turma do diurno. Em relação às questões éticas foi solicitada aos estudantes a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, cuja autorização permitiu a utilização dos dados coletados para a concessão desta tese. Também foi protocolado o projeto de pesquisa junto ao Comitê de Pesquisa do CESNORS/UFSM (registro SIE/UFSM número 032868) e foi obtida uma autorização escrita do Chefe do Departamento de Administração para a realização da pesquisa. iii) registro das informações e construção dos dados de pesquisa: o registro dos dados na fase caracterizada como fonte primária foi realizada mediante o uso dos seguintes procedimentos: a) questionário qualitativo aplicado aos estudantes participantes; b) gravação audiovisual das atividades desenvolvidas, seguida de análise e interpretação; c) diário de campo, no qual o pesquisador registrou suas observações, percepções e reflexões sobre os fatos vivenciados; d) produção dos estudantes, na forma de um relatório descritivo individual sobre os resultados observados durante a realização das atividades. Como fonte primária de dados obtidos a partir do registro das aulas em vídeo, foram produzidos cinco mídias de DVD, numeradas em ordem crescente, das quais foram realizados os procedimentos da ATD. Para a análise dos conteúdos das falas, foi construído um instrumento na forma de um quadro, ilustrado na Figura 6, que serviu para o registro dos dados na fase de unitarização e categorização das informações por meio da análise textual discursiva – ATD (MORAES; GALIAZZI, 2007). O instrumento mostrou-se útil para a organização dos dados, com construção de categorias com as descrições referidas. O processo de unitarização envolveu o procedimento de assistir os registros em vídeo, sucessivas vezes, em movimentos de ir e vir, à medida que os dados eram 132 registrados, por escrito, na tabela. Por vezes, foi considerado necessário fazer transcrições das falas na íntegra, por vezes não, tendo em vista a relação com a problemática em estudo. Figura 6: Instrumento usado para a unitarização e categorização Tempo inicial no vídeo 0:00:01 Categoria Sub categoria Comentários Preparação Explicação sistemática aula e do exercício Foram necessários 10 min para explicar o exercício. Fonte: elaborada pelo autor, 2013. Durante as transcrições das falas, para garantir o anonimato dos sujeitos participantes, eles foram identificados por duas letras aleatoriamente designadas, de forma que não permita identificá-los, por exemplo: Estudante XX. Em relação à designação dos grupos, os mesmos foram referidos pela utilização de apenas uma letra (Grupo A, B, C...). Para as citações diretas das falas dos estudantes, após a citação, menciona-se, entre parênteses, uma expressão como a que segue: (Estudante XX, 0:00:00-DVDn). Nela, i) “XX” corresponde as duas letras que designam o estudante, ii) “0:00:00” corresponde ao tempo do registro na gravação e iii) “n” corresponde a numeração do respectivo DVD de origem do registro. Para a citação direta das falas do professor, foi seguida a mesma lógica, sendo alterada apenas a designação do sujeito (Professor, 0:00:00-DVDn). Para a citação de uma sequência de turnos de fala (episódios), no início de cada manifestação, o sujeito é identificado seguindo a mesma lógica de designação e, ao final da transcrição é informado, entre parêntese, o tempo inicial do diálogo no respectivo DVD, a exemplo da inscrição que segue: (0:00:00-DVDn). No que concerne às citações oriundas de material escrito elaborado pelos acadêmicos, ao final do excerto, foi utilizada a expressão: (Estudante XX, RELn, p.n). Nela, i) as letras “XX” designam o estudante que escreveu, ii) “RELn” corresponde ao termo relatório e o seu número de registro e iii) o “p.n” identifica o número da página da referida citação. Assim, a dinâmica de registro dos dados ficou centrada nas ações que oportunizaram a ressignificação da temática durante o processo da pesquisaação. Também foram realizados, no diário de campo, registros referentes a 133 situações não previstas ou não planejadas no decorrer das atividades, sendo posteriormente, avaliadas as decisões tomadas durante a realização da aula e o seu impacto nos resultados da pesquisa. A escolha das citações e dos trechos de falas foram selecionadas com vistas aos desdobramentos e análises das categorias prévias estabelecidas para esta tese. iv) registros da aprendizagem na pesquisa-ação: as questões relacionadas à aprendizagem dos conteúdos foram realizadas mediante a solicitação de: a) resolução de problemas por meio de atividade escrita; b) problematização com ressignificação de atividades propostas; c) da realização de um relatório final individual relacionado às questões técnicas do conteúdo e as atividades desenvolvidas. A última etapa foi realizada com o intuito de transcrição dos dados coletados no campo para posteriormente ser realizada a sua análise e interpretação por meio do uso da ATD (MORAES, 2003; MORAES; GALIAZZI, 2007). v) análise e interpretação dos dados: os dados foram analisados com base nos registros obtidos durante a realização das atividades de campo da proposta e das observações feitas pelo pesquisador durante a realização das atividades. A análise dos dados foi realizada por meio da ATD, cujas etapas foram a de unitarização, processo de categorização, capturando os emergentes provenientes desses dados e posterior comunicação de meta-textos (teorização). As categorias prévias de análise definidas para esta tese foram: i) mobilização de conhecimentos; ii) mobilização de interações sociais e, iii) mobilização de relações políticas. Duarte (2002; 2004) salienta que a análise dos fatos, pelo uso dessas categorias, vem ao encontro da proposta de Leontiev (1978), pela qual, a teoria da atividade envolve a mediação pelo objeto (tanto físico como intelectual), mas também está intimamente interligada com as questões sociais e políticas da forma como essa mediação se desenvolveu. As três categorias mencionadas são descritas a seguir. A categoria denominada de mobilização de conhecimentos refere-se aos aspectos da cognição e suas relações com o entendimento curricular da teoria 134 e da prática, do uso da linguagem técnica e científica, do planejamento, da memória, da abstração e da imaginação. A categoria de mobilização de interações sociais é referente ao convívio (colaborativo ou individualista), à cortesia, à atenção e diálogo com o outro, as regras sociais estabelecidas, à postura (moral e ética) nos processos de constituição do trabalho individual e em equipe, à volição (individual e coletiva). A categoria de mobilização de relações políticas é referente aos jogos de poder e ao exercício da autoridade, em suas relações com as formas de alienação, opressão, conflito, cobrança (democrático, autocrático), o exercício de liberdade, persuasão, subordinação, responsabilidade, divisão do trabalho, cooperação e negociação envolta em questões de interesses concorrentes. Orientado por este caminho metodológico, foram realizadas as aulas da Atividade de Interação com Integração de Aprendizagens em duas turmas do curso de Administração da UFSM, campus Palmeira das Missões, sendo que, no capítulo seguinte, são abordadas as análises das categorias para cada aula e uma síntese geral da pesquisa realizada. 6 ANÁLISE DA ATIVIDADE DE INTERAÇÃO COM INTEGRAÇÃO DE APRENDIZAGENS DESENVOLVIDAS EM AULA Neste capítulo é apresentada uma descrição e análise sobre o que aconteceu e como transcorreram a organização e o desenvolvimento das ações didáticas da Atividade de Interação com Integração de Aprendizagens, em consonância com a população delimitada nesta pesquisa (duas turmas de estudantes na disciplina de Produção, Materiais e Logística II, do Curso de Administração). As aulas ocorreram no primeiro semestre letivo do ano de 2013, sendo que no mês de abril foi realizada com a turma piloto (do turno noturno), com 44 estudantes matriculados. Com base nas análises dos resultados do pré-teste foram realizados os ajustes e melhorias necessárias no material didático, destacando-se a alteração da primeira aula de Mediação do Conhecimento Científico que, inicialmente, era de uma aula passando para duas aulas. Assim, os dados construídos a partir dos registros destas permitem amplas análises e discussões sobre as vivências realizadas, algumas delas explicitadas a seguir. A organização didática das aulas seguiu os horários e datas curriculares estabelecidos pela oferta de disciplinas e o conteúdo seguiu o estabelecido no Projeto Pedagógico do Curso de Administração da UFSM – Campus Palmeira das Missões. O ato de contar a história dos acontecimentos oportuniza aqueles que não estavam presentes no ato-evento de tomar ciência do contexto histórico dos fatos (VIGOTSKI, 2007; 2008) e da compreensão dos motivos e objetivos pelos quais aquelas ações foram realizadas (LEONTIEV, 1988). Para quem relata é um momento de rememoração e reflexão sobre os acontecimentos por meio da estética escrita (OLSON, 1998). A orientação desse relato foi no sentido de narrar os fatos ocorridos durante as aulas que constituíram a proposta de Atividade de Interação com Integração de Aprendizagens. A narrativa, num primeiro momento, busca situar o leitor acerca das ações necessárias para a elaboração de cada aula, do seu desenrolar e, na sequência, são realizadas as análises de acordo com as categorias prévias estabelecidas. Essa ação visa apresentar as evidências que 136 venham a corroborar ou refutar as concepções propostas nesta tese ou elaborar e desenvolver teorias acerca da proposta. O desenvolvimento de um processo curricular é iniciado muito antes da realização das aulas propriamente ditas. Ele inicia, na minha experiência docente, quando passo a dedicar tempo no sentido de examinar o conteúdo programático que será ministrado, analisar as vivências anteriores já realizadas, buscar novos referenciais para a atualização do conteúdo, analisar pesquisas e como elas podem ser utilizadas na melhoria das ações didáticas. Também houve o trabalho de revisar os materiais já utilizados, desenvolver novos materiais, entrar em contato com outros colegas para dialogar sobre as experiências didáticas realizadas. Outra questão inserida constantemente, neste processo, está relacionada às expectativas e ansiedades quanto aos resultados das ações didáticas desenvolvidas em cada aula e as mudanças que elas provocam tanto para os estudantes quanto para o docente, ao longo do semestre. Além dessas ações, o docente tem como responsabilidade acompanhar as orientações de estágio, pesquisas e interações sociais com a comunidade externa, além de tarefas administrativas e burocráticas pertinentes à gestão da docência. Ao adotar o perfil de professor pesquisador da própria prática docente (DA VEIGA et al., 2012), no intuito de propor, desenvolver e executar inovações curriculares, o docente assume alguns riscos e necessita estar disposto a conviver com situações imprevistas, incertas e singulares inerentes às mudanças da prática pedagógica (SCHÖN, 2000). Por vezes, as ações propostas acontecem conforme os resultados previstos para a melhoria do ensino e das aprendizagens, em outras não. Nesse caso, o professor necessita estar aberto às pressões oriundas de diferentes fatores, não apenas daqueles tradicionalmente presentes na atividade docente. Uma dificuldade incialmente encontrada na elaboração do material para as aulas estava relacionada à limitação de referenciais teórico-metodológicos, no campo do ensino da Administração da Produção, que pudessem orientar os pensamentos e ações didáticas para o desenvolvimento dos conteúdos programáticos, de forma a melhorar as práticas de ensino com vistas ao aprendizado do estudante. Essa restrição está relacionada, principalmente, à 137 dificuldade e complexidade de elaborar atividades didáticas para o ensino de produção (SATOLO, 2011). Tendo em vista o limite apontado, o docente, que se sente desafiado em alterar as maneiras de desenvolver a sua prática de aula, é colocado em uma condição que lhe exige desbravar caminhos em busca de superar esta dificuldade inicial. Isso me levou a refletir que, ao iniciar a carreira docente, há dez anos, as minhas ações didáticas estavam centradas na estratégia de aula expositiva, muitas vezes por meio de apresentação oral uníssona, com apoio de projeções de slides e da realização de exercícios em aula. Transcorridos alguns semestres passei a me preocupar com o desenvolvimento de outras didáticas que permitissem ampliar a participação dos estudantes durante a aula. De modo geral, fui percebendo que tanto as obras literárias da área, quanto os seus materiais de apoio didático, que são oportunizados aos doentes, estão organizados e estruturados somente para a realização de apresentações das sequências dos tópicos dos capítulos dos livros, sem nenhuma outra orientação de ensino que estimule o uso de novas estratégias de aula, além da expositiva. As primeiras ações de mudança didática foram planejadas e desenvolvidas num processo de tentativa e erro, baseado em leituras de algumas publicações referentes à área de ensino, como o estudo de caso e jogos de empresas. No entanto, algumas atividades que são planejadas com um determinado objetivo, podem não ocorrer como o previsto quando são desenvolvidas em aula. Ao propor novas estratégias de ensino, o professor pesquisador da prática docente também necessita estar preparado para possíveis lacunas ou melhorias a serem realizadas durante o processo da aula. Preparado para dialogar com os estudantes sobre como a aula havia sido planejada e quais foram os aspectos educacionais atingidos e quais não foram. Debater com a turma sobre essas incompletudes ocorridas durante o desenvolvimento dessas novas propostas exige postura serena, madura e profissional do docente. É preciso ter discernimento para entender os comentários dos estudantes e ouvir sugestões posteriormente analisá-las com a devida atenção. de melhorias para 138 Ao desenvolver outras estratégias de ensino, o professor pesquisador também passa a ser alvo de críticas ou ironia por parte de alguns colegas que acreditam que somente pela prática tradicional é possível o processo de ensino. Muitos desses comentários são superficiais pelo fato destes profissionais não se inteirarem sobre as novas ações didáticas que estão sendo elaboradas pelos colegas, bem como pela falta de análise e verificação dos seus resultados para a melhoria do aprendizado dos estudantes. No que concerne à elaboração da proposta de Atividade de Interação com Integração de Aprendizagens, a mesma foi sendo pensada e desenvolvida no transcorrer do doutorado, principalmente durante a realização das leituras referentes à vertente teórica adotada (LEONTIEV, 1978a). À medida que os conceitos eram analisados, entendidos e internalizados pelo pesquisador, passavam a ser rabiscados e arquivados. Decorrido algum tempo, eram revisitados e a partir das orientações a proposta foi sendo estruturada. Definidas as dinâmicas da didática desenvolvida e, após a aprovação da banca de qualificação, partiu-se para o trabalho de organização do conteúdo a ser ministrado, conforme as sequências e objetivos estabelecidos. Com a temática central focada no ensino do MRP, a preocupação docente passou a ser a definição dos objetos (de conteúdo e físicos) e dos processos culturais da área, que pudessem ser abarcados e estudados no decorrer da realização das aulas. Em rápidas palavras, estes foram os preparativos que nortearam e possibilitaram a realização da proposta didática desenvolvida, apresentada no item 5.3 desta tese, ou seja, na sequência das estratégias de aula proposta: Mediação do Conhecimento Científico (duas aulas), Ressignificação dos Conceitos Científicos e Articulação Dinâmica de Aprendizagens. O olhar investigativo foi focado para o sistema de relações ocorridas entre os sujeitos em cada momento proposto, suas implicações e o papel que cada um ocupava, em cada fase do sistema de relações. Ou seja, foram identificados primeiramente os aspectos objetivos referentes à ação que cada um dos participantes (docente e estudantes), suas relações com os objetos culturais, o papel que cada um ocupou no sistema de relações humanas vivenciadas, suas alterações ao longo dos momentos e como elas ocorreram. 139 Com esse olhar orientado e considerando que esta foi uma pesquisa qualitativa, realizou-se a presente análise com vistas a identificar e compreender as relações que a Atividade de Interação com Integração de Aprendizagens oportunizou para o desenvolvimento do ensino da Administração da Produção e quais foram às aprendizagens acerca do conteúdo de MRP e suas integrações. Como caminho metodológico da tese para as análises dos dados, já mencionados, primeiramente foi realizada a ação de unitarização dos mesmos por meio da identificação das partes de cada ação realizada em aula e pela análise dos textos realizados pelos estudantes. Com base nesta unitarização, as ações foram classificadas nas três categorias prévias estabelecidas (mobilização de conhecimentos, de interações sociais e das relações políticas), com a identificação de subcategorias emergidas (MORAES, GALIAZZI, 2007). Como ressalta Moraes (2003, p. 200), “toda categorização implica em uma teoria”. Assim, como último elemento da construção e análise dos dados, foram constituídos meta-textos que possibilitaram a defesa desta tese. A estruturação dos meta-textos encontra-se focada, num primeiro momento, na análise individual de cada um dos três grupos que constituíram o ato-evento da Atividade de Interação com Integração de Aprendizagens. Uma segunda abordagem buscou abarcar um olhar sistêmico da totalidade das ações desenvolvidas, suas contribuições e limitações para os processos de ensino e de aprendizagem. 6.1 As aulas de mediação do conhecimento científico A ação denominada de Mediação do Conhecimento Científico teve por objetivo realizar a apresentação inicial do conteúdo curricular por meio da estratégia didática expositivo-dialogada, combinada com outras ações integradas. Ao apresentar o conteúdo científico, duas questões perpassam nesta ação, uma no sentido de apresentar às novas gerações os fatos culturais e científicos inerentes ao conteúdo e num segundo momento, mediar o desenvolvimento dos conceitos. 140 Em relação ao desenvolvimento do conteúdo programático, na primeira aula foi abordado o conteúdo de Planejamento Mestre de Operações e na segunda aula, o de Planejamento das Necessidades de Materiais. Para o desenvolvimento do conteúdo de Planejamento Mestre de Operações foi elaborado, pelo docente, um texto didático para os estudantes, uma apresentação, em formato de slides, alinhada à sequência do texto, a definição de um material audiovisual e a elaboração de exercícios para a aula, com o propósito de atender ao conteúdo de Planejamento Mestre de Operações, cuja estética verbal estivesse organizada à luz da teoria da atividade (DA VEIGA; ZANON, 2013). O referido texto também foi apresentado a dois colegas professores do Curso de Administração, os quais também realizaram suas análises e emitiram suas considerações. A atividade de aprendizagem necessita estar inserida nas atividades de ensino, cuja abordagem ocorra pela elaboração de problemas concretos que permitam a “introdução das bases necessárias para o desenvolvimento” cognitivo dos estudantes, pela apreensão e reflexão dos conceitos teóricos estudados (CEDRO; MOURA, 2004, p. 2). Para propiciar a busca e aprofundamento dos conteúdos, por parte dos estudantes, no corpo do texto elaborado, para a primeira aula, foram indicadas, no decorrer de cada assunto, outras referências bibliográficas pertinentes aos temas abordados que pudessem ser utilizadas como fonte de consulta para estudos complementares. Após sua utilização com a primeira turma e com base na análise das observações relatadas no diário de campo, pela observação dos estudantes e comentários dos docentes do curso, foram necessárias mais quatro horas para os ajustes do material a ser utilizado pela segunda turma. Em relação à elaboração do texto didático e do material de apoio ao processo da primeira aula, denominada de Mediação do Conhecimento Científico, foi necessário superar, por parte deste professor pesquisador, a estética da escrita tradicionalmente utilizada na área para a elaboração do material didático. Para o desenvolvimento de uma escrita à luz da teoria da atividade, foi necessária rever a lógica conceitual dessa teoria acerca do desenvolvimento e da aprendizagem e elaborar o material de forma a atender o 141 conteúdo programático em questão e estar de acordo com o perfil legal exigido do egresso dos Cursos de Bacharelado em Administração (BRASIL, 2005). Este material também apresentava pontos com linhas em branco, as quais poderiam ser utilizadas pelos estudantes durante a realização da aula para fazer seus apontamentos. Para que as informações faltantes pudessem ser completadas ao texto, foi estruturada uma apresentação que possui sequência semelhante a do texto didático, que possibilitava o acompanhamento do assunto. Também foram inseridas questões no decorrer dos slides da apresentação com o intuito de provocar o debate, explicações complementares sobre a realização das atividades com os respectivos comentários sobre os resultados e com exercícios de fixação a serem realizados e corrigidos em aula. Ao realizar essa tarefa percebeu-se que alguns livros da área de Administração da Produção apresentam o conteúdo apenas de maneira impessoal, como se uma organização empresarial realizasse as ações de forma autônoma, quase que mecânica, sem a participação e envolvimento efetivo das pessoas nas ações decorrentes daqueles conteúdos. Essa observação se aproxima da visão de Morgan (2010, p. 35) de que as empresas “são concebidas como máquinas e seus empregados basicamente devem comportar-se como se fossem peças da máquina”. Um exemplo dessa visão da impessoalidade dos processos empresariais pode ser visto nos trechos a seguir transcritos, a partir da literatura que trata das questões da área de Administração da Produção: O desenvolvimento de uma estratégia de operações orientada para o cliente começa com uma estratégia corporativa, que coordena os objetivos gerais da empresa com seus processos essenciais. Ela determina os mercados que a empresa atenderá e as reações que as mudanças no ambiente terão, fornece os recursos para desenvolver as competências e os processos essências da empresa e identifica a estratégia que será empregada nos mercados internacionais. Com base na estratégia corporativa, uma análise de mercado categoriza os clientes da empresa, identifica suas necessidades e avalia as forças dos concorrentes. Essas informações são usadas para desenvolver as prioridades competitivas, as quais ajudam os gerentes a desenvolver serviços ou produtos e processos necessários para tornar a empresa competitiva no mercado. As prioridades competitivas são importantes para o projeto de novos serviços ou produtos, para os processos de produção e entrega e para a 142 estratégia de operações que desenvolverá as competências da empresa para satisfazê-lo (KRAJEWSKI; RITZMAN; MALHOTRA, 2009, p. 38). Observa-se, neste trecho de um livro didático da área, a quase inexistência de atenção às ações das pessoas e quando elas são citadas, estão numa estrutura de hierarquia tal que o „gerente‟ passa a ser o senhor do conhecimento e o único sujeito capaz de propiciar um diferencial para a elaboração dos processos de uma organização empresarial. Como resultado do planejamento-mestre da produção se tem um plano, chamado de plano-mestre de produção (PMP), que formalizará as decisões tomadas quanto às necessidades de produtos acabados para cada período analisado. O planejamento-mestre da produção [...] faz a conexão entre o planejamento estratégico (plano de produção) e as atividades operacionais da produção (TUBINO, 2008, p. 51). Essa característica é decorrente da influência de uma visão positivista de que tudo o que é definido e estabelecido pela alta direção de uma organização ocorre conforme esse planejamento inicial e as pessoas que labutam nas atividades operacionais são meras executoras dessas deliberações. São poucos os trechos dos referenciais da área que apresentam as influências das ações das equipes táticas e operacionais para a consecução ou não das metas estabelecidas pela direção de uma organização empresarial. Quando as ações são referentes a essas equipes, elas, muitas vezes, são abordadas de forma automática ou computacional, como que sem a necessidade da participação das pessoas dessas equipes para o processamento dessas informações. Com base na lista de materiais (bill of material), obtida por meio da estrutura do produto, também conhecida por árvore do produto ou explosão do produto, e em função de uma demanda dada, o computador calcula as necessidades de materiais que são utilizadas e verifica se há estoque disponíveis para o atendimento. Se não há material em estoque na quantidade necessária, ele emite uma solicitação de compra – para os itens comprados – ou uma ordem de fabricação – para os itens fabricados internamente (MARTINS; ALT, 2006, p. 118-119). Como podem ser observados, os textos didáticos são escritos como se esses cálculos fossem realizados exclusivamente por um software utilizado 143 pela empresa sem a necessidade dos ajustes e inserção de informações corretas para que o sistema funcione. Ao ler o texto é possível perceber uma centralidade de importância na mecanização, computação e automação dos cálculos necessários à realização dos processos industriais, sem análise crítica de como e de onde os dados são oriundos. As diversas operações realizadas pelas equipes com funções operacionais são ocultas aos textos dos livros didáticos tradicionais da área. Em relação às questões de adequação do conteúdo dos livros didáticos com a vivência e o conhecimento inicial dos estudantes sobre a área de produção, verificou-se que alguns textos estavam direcionados a profissionais já graduados e atuantes na área ou centrados no uso maximizado de termos técnicos sem uma aproximação ao entendimento léxico necessário ao estudante de graduação. Também não são debatidas as forças de poder existentes dentro das organizações e como influenciam o processo de tomada de decisão. Assim, para dar início à aula de Mediação do Conhecimento Científico, foram enviados, na semana que antecedeu sua realização, os materiais didáticos elaborados. Eles foram postados no ambiente virtual de apoio ao ensino presencial da Universidade, para que os estudantes pudessem ter acesso aos mesmos e para realizar o seu estudo previamente à aula. Também foi solicitado que realizassem a sua impressão para facilitar o acompanhamento e manuseio durante a aula, mesmo que os estudantes tivessem acesso a uma versão eletrônica em formato pdf. Esta ação vem ao encontro dos estudos realizados por Alfalla-Luque, Medina-López e Arenas-Márquez (2011, p. 50), os quais argumentam que uma das formas de melhorar o ensino de operações seria pela elaboração de “metodologias que impliquem em diferentes ferramentas TIC (aplicações multimídia, plataformas virtuais, simuladores,...) com o objetivo de aprofundar o efeito que estas têm sobre as variáveis subjetivas do processo de aprendizagem”. Nessa perspectiva, o uso de tecnologias de informação associado ao trabalho docente presencial propicia um efeito multiplicador das capacidades dos estudantes para os entendimentos prévios dos conteúdos a serem estudados. 144 Outro fato observado foi que alguns estudantes não realizaram a impressão do material e a sua maioria não fez a leitura prévia. Assim, foram disponibilizados, antes de cada tópico, um tempo para sua leitura em aula. Na sequência foram feitas as exposições sobre o tema pelo docente e em seguida, realizado questionamentos aos estudantes para que se manifestassem sobre os temas abordados. Em relação à parte quantitativa do conteúdo, num primeiro momento, o docente fazia a apresentação das sistemáticas de cálculos, as quais já estavam descritas no texto. Findadas as explicações de cada parte do conteúdo, era disponibilizado um tempo para os estudantes realizarem a atualização do seu material. Ao final de toda a explicação foram realizados exercícios pelos estudantes, que ao serem concluídos, foram corrigidos ainda na aula. Em relação à participação dos estudantes durante a realização dos exercícios, observaram-se quatro grupos distintos, sendo o primeiro caracterizado pelos que realizavam o exercício, aqueles que além de realizar a atividade, auxiliavam outros colegas nas suas dúvidas, o terceiro foi daqueles que não estavam realizando a atividade, mas permaneciam em seus lugares alheios à aula e o último, caracterizado pelos estudantes que não realizavam o exercício e dialogavam outros assuntos com os colegas. Do grupo que buscou resolver os exercícios propostos, percebeu-se que alguns se utilizavam do material que explicava as etapas de realização dos processos de cálculo para auxiliá-los na resolução e outros não o faziam, solicitando explicações aos colegas que estavam próximos. No momento de realizar a correção do exercício, os estudantes pertencentes aos dois últimos grupos participavam por meio da emissão de palpites ou respostas aleatórias na busca de alguma tentativa de acerto ocasional. Por sua vez, os que realizaram as atividades participavam assertivamente na correção, e quando eles identificavam equívocos, solicitavam explicações com o intuito de identificar em que ponto ocorreu e como poderiam realizar as correções. Para a segunda aula da estratégia de Mediação do Conhecimento Científico, foi elaborado um material instrucional de apoio à aula, apenas em forma de apresentação de slides, de um exercício a ser realizado ao final das 145 explicações e a indicação de partes de livros como leituras complementares. O conteúdo abordado foi referente ao ensino do MRP. Os slides foram elaborados com base em algumas orientações já disponibilizadas no portal das editoras dos livros e de exercícios por eles propostos. Cabe ressaltar que o tempo para a elaboração do texto e os demais materiais didáticos, seguindo a teoria da atividade, foi desenvolvido em um período de 30 horas e o material elaborado no contexto tradicional, em 4 horas. Como pode ser percebido, o tempo de elaboração e desenvolvimento do material didático e dos planejamentos extraclasse necessários para o desenvolvimento de aulas inovadoras são maiores do que para a aula tradicional. Assim, para que os professores possam desenvolver materiais inovadores, necessitam de tempo inicial significativo para sua elaboração. Logo, ao pensar em novas ações didáticas, o professor necessita considerar este fator quando da sua elaboração. Noutra perspectiva, está no fato das IES disponibilizarem este tempo para o desenvolvimento deste tipo de material. A segunda aula transcorreu da maneira tradicional, com o docente realizando as explicações do conteúdo disponível nos slides e com intervenções dos estudantes quando encontravam dúvidas. Também foi proposto um exercício para auxiliar no entendimento do cálculo de MRP para ser realizado durante a aula. Findado o prazo para sua realização, foram corrigidos em conjunto. Em seguida foi dada continuidade à aula, sendo que o professor conduziu esse processo comentando, teoricamente, os diversos desdobramentos possíveis para os cálculos realizados, permitindo novas compreensões das dinâmicas operacionais de uma organização empresarial. Neste instante percebeu-se que a aula ficou monótona e centrada nas explicações do docente. Com a falta de um texto para leitura e reflexão, durante a aula, os estudantes não tinham novos argumentos ou dúvidas de compreensão do conteúdo, participando pouco das discussões. As poucas dúvidas surgidas estavam relacionadas em como as empresas se utilizavam daqueles conceitos. Próximo ao final da aula, alguns estudantes moviam a cabeça para os lados, outros olhavam para o horizonte e outros se remexiam nas cadeiras, 146 demonstrando que o assunto estava cansativo e não lhes propiciava maiores interesses. Também foi percebido que muitos dos estudantes da turma do noturno, perto do final da aula (aproximadamente 22h30min), demonstravam sinais de cansaço. Assim, com base nas observações e apontamentos dos estudantes, principalmente da turma do noturno, que argumentaram que a aula ficou muito densa, com muitos conteúdos a serem abordados, nos faz refletir sobre a importância de um material didático que possibilite melhores interações para aula expositivo-dialogada. Alguns estudantes também se manifestaram no sentido de que o conteúdo era denso, cansativo e de difícil compreensão inicial. Essa percepção foi semelhante à de estudantes europeus acerca do tema, no sentido de que na “área de operações, existem diferentes estudos que manifestam que os estudantes universitários tendem a considerar esta disciplina difícil de entender e de menor interesse profissional do que outras matérias empresariais” (MEDINA-LÓPEZ; ALFALLA-LUQUE; MARIN-GARCIA, 2011b, p. 510). Isso aponta para a necessidade de novas pesquisas acerca do desenvolvimento de material didático com novas estratégias para o ensino que oportunize melhores compreensões e aprendizagem. Com base nessa breve narrativa, que buscou descrever os fatos ocorridos nas duas aulas iniciais e com os dados da ação de unitarização e categorização previstos na metodologia, os resultados foram analisados segundo as categorias prévias e as subcategorias que emergiram. No que concerne à categoria de mobilização de conhecimentos, a primeira análise está focada na reflexão dos estudantes em relação ao desenvolvimento cognitivo dos conteúdos por meio do uso dos materiais didáticos propostos pelo docente e dos seus estudos com os referenciais complementares (livros e artigos) indicados. Em relação aos aspectos dos livros referenciados, pode-se verificar uma aparente contradição. O Estudante BA (Rel16, p.1) relata que “os livros são bem explicativos, embora complicado para a resolução do exercício”, ou seja, o desenvolvimento do conteúdo pode ser entendido com as explicações do livro, mas quando é solicitado o desenvolvimento de cálculos e suas interpretações, as explicações existentes nos livros didáticos não propiciam suporte suficiente 147 para que os estudantes elaborem a resolução de um exercício proposto fora dos padrões ali organizados. Ao se analisar o uso do texto em aula, a Estudante HB (Rel16, p.1) comentou que “o texto elaborado pelo professor serviu de grande apoio na realização das atividades, pois continha respostas para as dúvidas que foram surgindo durante o desenvolver das aulas”. Verifica-se que a elaboração do material que propicia diálogo entre o conteúdo e os demais participantes torna a aula mais participativa, também exige maior atenção e envolvimento ativo de todos os sujeitos. Em relação à compreensão dos motivos do ensino para aquele conteúdo, observa-se pelo relato da Estudante BI (Rel16, p.2), que pelo uso “do material disponível pudemos ter uma leitura sobre o que as aulas tratariam e saber o que é e como se calcula o PMP”, demonstrando que o material elaborado pelo docente encontra-se alinhado ao tópico da teoria da atividade ao tratar dos motivos que orientam as atitudes das pessoas que trabalham em organizações que usam esses conceitos para a organização da produção. Continuando a análise da categoria de mobilização de conhecimentos, observou-se que em relação ao desempenho cognitivo percebido pelos estudantes, houve uma variação maior nas percepções do seu aprendizado. A análise da opinião dos estudantes acerca das dificuldades encontradas durante a realização da aula permite inferir que, conforme o relato da Estudante FD (Rel15, p. 2), o conteúdo é de difícil compreensão inicial, pois “mesmo comparecendo à aula, não entendi muita coisa”. A mesma estudante declarou que com a continuidade das demais aulas, ela começou a entender melhor o conteúdo. Um ponto observado pela Estudante BI (Rel15, p. 2) encontra-se também relacionado ao seu desempenho durante o desenrolar das aulas. Embora o conteúdo e material didático atendesse sua expectativa, o “meu desempenho não foi dos melhores, [...], mas alguns cálculos de PMP aprendi a fazer”. Ao realizar a continuidade dos exercícios durante a aula, oportuniza-se a condição para aqueles estudantes que tem dificuldade de concentração, o pode ser um limitador ou um fator a ser observado durante a realização de futuras aulas. 148 No que concerne à visão dos estudantes sobre a compreensão do texto, pode-se verificar que, para a Estudante BF (Rel15, p. 1), o texto didático apresentava “uma linguagem fácil, possibilitava entender os conceitos estudados e a importância do tema” e serviu de apoio nos estudos extraclasse. De acordo com o Estudante AD (Rel15, p. 2), “quando o professor fazia junto conosco, na sala de aula, eu entendia, só que depois quando ia revisar em casa, aí sim que surgiam as dúvidas. Mas consegui entender razoavelmente os conteúdos”. Esse relato demonstra que a compreensão inicial na aula não abrange todos os detalhes do conteúdo e o texto auxilia na resolução das atividades extraclasse propostas, o que também auxilia no desenvolvimento do aprendizado dos estudantes. Ao se analisar as anotações realizadas no diário de campo, durante a aula, foi observado que a realização de uma atividade em que o material didático está alinhado, mas não apresenta exatamente o mesmo conteúdo que os slides apresentados, provocou deslocamento da atenção dos estudantes para o acompanhamento de ambos. Isso exigiu outra postura dos estudantes durante a aula expositivo-dialogada, sendo necessários alguns momentos de parada mais longa da aula, por solicitação dos estudantes, para que pudessem verificar suas anotações em relação ao tópico abordado pelo professor. A segunda análise está relacionada às atitudes dos estudantes em relação a sua postura e comportamento durante o processo de ensino, podendo ser agrupadas, a título da análise desse tópico, simultaneamente as categorias de mobilização de interação social e de relações políticas. Como já relatado anteriormente, foi organizado material didático para as aulas, sendo que ambos os materiais didáticos foram enviados com uma semana de antecedência, e disponibilizados pelo sistema virtual de apoio ao ensino presencial da Universidade, o que também foi informado aos estudantes por e-mail, pelo docente, sendo solicitada a impressão do material e sua leitura prévia para a aula. Observou-se que alguns estudantes fizeram o solicitado, outros apenas imprimiram o material e não realizaram a leitura e foi possível identificar um terceiro grupo de estudantes, que não realizaram nem a impressão nem a sua leitura. Para os estudantes que realizaram a leitura do material e até mesmo tentaram iniciar a realização das atividades propostas, a participação em aula 149 ocorreu no sentido de dirimir suas dúvidas ou buscar compreender com maiores detalhes os conteúdos. Este grupo apresentou perguntas do tipo: “professor, poderia explicar melhor tal assunto”, “há, agora entendi porque se faz...”, “minha compreensão foi essa, é isso mesmo?”. Para o segundo e terceiro grupos, em relação à participação em aula, verificou-se que os mesmos ficavam assistindo a aula e quando se manifestavam, o faziam com questões do tipo, “não entendi, poderia explicar novamente”, “como é mesmo que se faz isto?”. Em relação ao último grupo, aqueles que não tinham imprimido o material, embora tê-lo em mãos, permaneceram em aula acompanhando a apresentação do assunto e realizavam esporadicamente anotações em seus cadernos dos temas abordados na aula. Essa postura permaneceu até que foram iniciadas as atividades de diálogo entre a apresentação (do docente e dos slides, que não estavam disponibilizados à turma), bem como com as explicações complementares das etapas dos cálculos e da realização dos exercícios propostos a serem desenvolvidos durante a aula. Ao perceberem que não conseguiriam continuar participando da aula sem o material, muitos estudantes o foram providenciar. Conforme a Estudante BI, essa ação provocou ruído e movimentação dos colegas na sala, o que prejudicou sua atenção para o desenvolvimento inicial do exercício. Essa falta de envolvimento e participação ativa desses estudantes também foi observada quando da solicitação da conclusão dos cálculos propostos no exercício em aula. Alguns estudantes buscavam realizar as atividades propostas em aula e pediam explicações ou ajuda (tanto para o docente, quanto para colegas ao lado) para isto, enquanto outros estavam apáticos, dispersos ou nem se propuseram a realizar a atividade. Na resolução do exercício, quando o professor solicitava como fora desenvolvido o cálculo e qual o resultado encontrado, alguns estudantes emitiram palpites acerca de uma resposta e outros ainda estavam apenas na espera da resposta do exercício no quadro, para o preenchimento de seu material. Em contrapartida, aqueles estudantes que buscaram realizar os exercícios participaram ativamente da correção e suas explicações. Mesmo aqueles que cometeram erros durante suas tentativas de resolução queriam 150 compreender em que ponto haviam cometido os equívocos e como poderiam solucioná-los. Para finalizar a aula e propiciar o estudo extraclasse do conteúdo, foi elaborado um exercício a ser realizado com o objetivo de o estudante fazer uma revisão dos conceitos e das sistemáticas de cálculos do MRP. O exercício já foi elaborado com o uso do objeto cultural a ser utilizado na aula seguinte. Essa ação foi pensada para que o estudante já pudesse ir se familiarizando com os conceitos da área e com a estrutura do produto que seria utilizada. Foi solicitado que os estudantes realizassem o exercício e o trouxessem pronto na aula seguinte, quando seria corrigido e dirimidas as dúvidas. Durante a correção do exercício, o professor mostrou que os cálculos podem ser realizados por meio de uma planilha eletrônica, pela elaboração de fórmulas que contenham, por exemplo, as funções se e marred, com as quais é possível a tomada de decisão conforme os critérios estabelecidos e também pelo arredondamento dos cálculos. Ao final dessa explicação, a estudante QP questionou por que o docente não enviou a tabela com as fórmulas para que eles fizessem a inserção dos dados e suas análises, como ocorre nos sistemas computacionais disponíveis nas organizações empresariais. O professor respondeu para a estudante que, embora houvessem pesquisas acerca do uso de softwares empresariais em aula do MRP (SEETHAMRAJU, 2007), esse procedimento poderia ser feito sem problemas, caso se buscasse a otimização de tempo para a obtenção dos resultados, como no caso de uma empresa, embora já existissem pesquisas acerca deste tópico com uso de softwares (LÉGE, 2012) desenvolvidos para o tema. Um modo de ação, que é apresentado a uma pessoa de fora e controlado por ele sem mudar suas características como um agente. Ele simplesmente expande suas capacidades como um funcionário. É sempre possível passar de um determinado modo de ação para uma máquina, robô ou computador. Mas uma máquina dificilmente pode resolver a tarefa de um agente. Assim, é insuficiente para alteração substancial de um agente de referência para o domínio do modelo de ação (REPKIN, 2003, p. 23). Ao adotar esta perspectiva, para o caso do desenvolvimento cognitivo dos estudantes, a tarefa de aprendizagem proposta tinha como objetivo fazer com que o estudante mobilizasse os conhecimentos e desdobramentos 151 teóricos das fórmulas, identificasse as fontes das informações, suas dinâmicas de cálculo e como os resultados parciais estariam interligados à resolução final do exercício. “O personagem principal do processo de aprendizagem é o estudante. Os esforços do mestre se dirigem para fazê-lo estudar. Para ele é necessário que o aluno queira e possa fazer isto” (TALIZINA, 2000, p. 115). Para que isto ocorra, é necessário que o estudante esteja participando ativamente na aula, para que possa acompanhar as explicações, as leituras e contribuir no debate acerca do conteúdo. A elaboração de um texto didático como apoio pedagógico ao ensino e ao aprendizado do conteúdo de Planejamento Mestre de Manufatura à luz da teoria da atividade demonstrou ser uma didática dinâmica na formação participativa do conhecimento, mesmo na estratégia de ensino do tipo expositivo-dialogada. Ainda em relação às questões didáticas se verificou a necessidade de outros materiais didáticos auxiliares para o desenvolvimento da aula, como a organização de apresentações de slides que estivessem interligados com o texto e de indicações de leituras complementares para estudo extraclasse (DA VEIGA; ZANON, 2013, p. 15). Diante do exposto, verificou-se que por meio da utilização de um material didático que oportuniza um diálogo com vista a formação de sentidos e pelo desenvolvimento do processo de ensino que fortaleça o hábito do pensamento lógico, via participação cognitiva ativa do estudante, mesmo em uma aula do tipo expositivo-dialogada, oportuniza ao estudante interessado em seus processos de aprendizagem desenvolver sua capacidade cognitiva. No aspecto relacionado ao processo de estudo, quando esse está relacionando os motivos pelo qual o estudante o está realizando e pela busca dos seus objetivos conscientes para o seu desenvolvimento. Isso ocorre quando os estudantes fazem um esforço para que os conteúdos passem a ter sentidos e serem entendidos por meio de uma elaboração mental lógica e ativa desses conhecimentos, mesmo que este seja desenvolvido num sentido teórico de seu aprendizado. No tópico a seguir, são apresentados e discutidos resultados de pesquisa referente às aulas seguintes às até aqui tratadas, denominadas de Ressignificação dos Conceitos Científicos e de Articulação Dinâmica de Aprendizagens, as quais foram organizadas para que os estudantes pudessem 152 articular micro relações entre o conceito científico estudado e alguns de seus desdobramentos, em termos de situações problema da prática profissional, mesmo que simulados em um ambiente educacional. Para estabelecer a ponte entre teoria e prática, a escola deve tornarse um centro de experiência permanente para que o aluno identifique as relações existentes entre os conteúdos do ensino e as situações da aprendizagem com os muitos contextos da vida social e pessoal, juntando o aprendido sistematicamente escolar na instituição com o observado de maneira espontânea no cotidiano (GASPARIN, 2011, p. 106). Por meio das duas aulas tratadas a seguir, os estudantes tiveram a possibilidade de vivenciar e observar fatos com base em uma teoria que lhes propiciasse movimentos de „ir e vir‟ entre os conteúdos científicos já estudados e algumas das inúmeras possíveis situações-problemas de sua futura área profissional, como possibilidade de análise e reflexão sobre os próprios processos de conhecimento e de aprendizagem em construção. 6.2 A aula de ressignificação dos conceitos científicos O primeiro desafio para a elaboração das duas aulas seguintes estava na definição dos processos que fossem possíveis de serem desenvolvidos em cada aula e na definição dos objetos culturais a serem utilizados de forma a propiciar uma ampliação da complexidade de resolução e análise. O objeto da atividade aparece de maneira dupla: em primeiro lugar, como independente, subordinando e transformando a atividade do assunto e, segundo, como uma imagem do objeto, que ocorre como resultado da atividade do sujeito. A imagem do objeto é uma imagem íntegra, que surge como resultado de um trabalho complexo analíticosintético, por parte do sujeito, que se destacam alguns traços essenciais e permanecem inibidos outros que não são, e combina os detalhes percebidos como um todo consciente (MONTEALEGRE, 2005, p. 35). Nesta perspectiva, o objeto necessitava atender o desenvolvimento do exercício sistematizado conforme cada proposta, com vistas a possibilitar o desenvolvimento das aprendizagens dos conceitos e das operações pertinentes às ações da equipe de PCP e dos cálculos de MRP e seus desdobramentos operacionais decorrentes dessa sistemática durante a 153 execução da aula. “Quanto você puder aproximar a aprendizagem do mundo „real‟, mais aceitável ela será e, portanto, mais rápida e eficiente os seus alunos aprenderão. O contrário também é verdadeiro” (ROGERS, 2011, p. 52). Em uma pessoa adulta, a atividade de aprendizagem é incorporada em suas ações na vida (REPKIN, 2003). Outro pressuposto para a definição do produto estava no fato de possibilitar o seu manuseio em sala de aula (uma das turmas com 47 e outra com 35 estudantes matriculados), não exigir recursos financeiros significativos (limitação orçamentária do pesquisador para a pesquisa), os materiais serem manuseáveis e possibilitarem uma estrutura do produto que oportunizasse o desenvolvimento das diversas especificidades técnicas do conteúdo abordado. Outro fato que levado em consideração foi referente ao tempo de realização da atividade, pois toda a atividade necessitava ser realizada em uma aula de quatro períodos consecutivos. Baseado nestes pressupostos, foi estabelecido como objeto cultural para a aula de Ressignificação dos Conceitos Científicos a caneta esferográfica em cinco modelos de cores diferentes. Este objeto foi escolhido por ser de uso dos estudantes ao longo de sua trajetória educacional, ser de baixo custo, fácil transporte e armazenamento, possibilidade de sua movimentação interna na aula, constituída de poucos itens e poder ser subdividida em etapas de processamento diferentes em cada grupo, de maneira a demonstrar algumas possibilidades de desdobramentos da teoria estudada. Para organizar o funcionamento da dinâmica foi elaborada uma descrição das características de cada um dos produtos e os procedimentos que cada grupo necessitava desenvolver no decorrer da ação de interação em grupos. Depois de definido o objeto cultural a ser utilizado, foram necessárias mais 12 horas para a organização, definição e descrição dos procedimentos para a realização da aula. Assim, a aula denominada de Ressignificação dos Conceitos Científicos, foi iniciada com a apresentação da sistemática que seria realizada no seu transcorrer e que o objeto cultural a ser utilizado seria a caneta esferográfica, mas com uma estrutura mais simplificada comparativamente ao exercício elaborado e disponibilizado na aula anterior para que os estudantes realizassem a sua resolução extraclasse. 154 Durante a correção do exercício foi verificado que poucos estudantes o tinham realizado e alguns apenas com resultados parcialmente desenvolvidos. As Estudantes PP, ZQ e BZ comentaram que ficaram uma manhã tentando resolver o problema e apenas realizaram uma pequena parte do exercício. Para a estudante PP (0:55:36-DVD5), “o cálculo é muito complexo e eu não conseguia entender o cálculo”. Assim, foi desenvolvida uma parte e não foi concluída. Ao serem questionados sobre a realização da leitura do material, a grande maioria novamente não fez uma revisão do conteúdo para a aula. Como resultado, o tempo de correção foi maior que o planejado e também foram necessárias novas explicações sobre o desenvolvimento do conteúdo. A atividade de Ressignificação dos Conceitos Científicos, propriamente dita, é iniciada pela ação de interação em grupos. Primeiramente foram organizados os grupos de estudantes e foi repassado para cada um deles uma orientação escrita dos objetos e dos processos necessários para sua realização. Nesse momento, cada grupo teve como objetivo organizar os referidos processos pela articulação dos conhecimentos estudados nas duas aulas anteriores. Cada grupo, nesta etapa, teve autonomia de se organizar para a consecução das suas atividades. Para iniciar as dinâmicas de Ressignificação dos Conhecimentos Científicos foram estruturados grupos de livre escolha dos estudantes, quanto a sua forma de organização. As diversas atividades propostas seriam realizadas, neste momento da aula, pelo próprio grupo e para possibilitar a continuidade do exercício era necessária a interligação de informações e de produtos entre determinados grupos, previamente estabelecidos. Com os materiais distribuídos aos grupos foi anunciado o início da ação de interação em grupos. Como as dinâmicas e estilos de estruturação eram de autonomia de cada grupo, foram vistas formas diferentes de organização e sistematização dos processos para cada grupo. Alguns grupos realizaram a montagem de todos os componentes, para posteriormente verificar os seus cálculos. Outros ficaram buscando entender como poderiam realizar as atividades e houve um caso em que os componentes estavam alheios ao processo. 155 Ao finalizar o tempo do primeiro ciclo da sistemática de cálculo, os grupos necessitavam realizar a troca de informações entre si por meio de documentos definidos autonomamente por cada grupo. De posse dessas novas informações, cada grupo retornava para seus cálculos e suas análises. A partir do terceiro ciclo, além das trocas de informações entre os grupos, também era necessário o envio de uma determinada quantidade de objetos especificados. Além das informações escritas, neste momento, também havia o diálogo entre alguns componentes de grupos auxiliando o entendimento do pedido e outras informações. Ao se analisar os fatos ocorridos neste primeiro momento, em relação à categoria de análise denominada de mobilização de conhecimentos, pode ser percebido que o desenvolvimento cognitivo ocorreu, em alguns grupos, pela busca da transformação da ação mental em forma de ação externa pelo debate entre os integrantes do grupo para organizar a estruturação escrita da sistemática de cálculo para a situação-problema apresentada. Essa mobilização ocorreu pela análise do material apresentado pelo docente nas aulas anteriores, pelo debate entre os integrantes do grupo e nos apontamentos realizados pelos estudantes. Com base nestes dados houve o debate entre os membros de cada grupo para a finalização da sistemática de cálculo adequada para o caso em questão. Para a organização dos cálculos, alguns grupos estruturaram planilhas no caderno, sendo identificados como grupo A, B, C, D, E e F. O grupo G utilizou o auxílio de uma planilha eletrônica através do computador e o grupo H, não estruturou nada neste primeiro momento da aula. Os estudantes calculavam, gesticulavam e debatiam sobre os conceitos e as atividades. Buscavam os conceitos já internalizados em suas mentes e pela expressão verbal e em seguida na ação escrita, buscavam tornar objetivo os conceitos abstratos estudados. Os estudantes do grupo B debatiam os pontos da tabela de cálculos apontando com os dedos para a mesma e no grupo G, que estava com o apoio do computador, os estudantes apontavam para a tela e em seguida apontavam para os dados disponibilizados pelo docente e para os objetos dispostos sobre as mesas e debatiam como poderiam resolver a situação. Como pode ser visto por meio desses fatos, o desenvolvimento da ação mental interna do conhecimento cognitivo ocorre 156 para a ação externa e a partir da organização dessas estruturas externas provocam novas análises na forma interna e assim sucessivamente. Em contrapartida, o grupo H em que os componentes não haviam desenvolvido o entendimento cognitivo dos conceitos que estavam ali implicados, suas ações por cerca de vinte minutos foram de dispersão por meio de conversas aleatórias ao tema da aula e passeios na sala para ver o que os outros estavam fazendo. A mobilização de interações sociais ocorridas dentro dos grupos, durante essa primeira etapa da aula de Ressignificação dos Conceitos Científicos, apresentou variação no comportamento dos seus membros. Era esperado que diante da necessidade de uma ação conjunta para a estruturação das planilhas de cálculos em relação aos objetivos propostos, houvesse uma tentativa de colaboração entre todos os membros do grupo, fato que não ocorreu em alguns deles. Observou-se que no grupo C, um estudante estava sentado ao lado dos colegas de grupo, mas alheio as suas necessidades, sendo que eventualmente observava as ações do grupo e emitia algum palpite. Enquanto os integrantes do grupo realizavam a estruturação dos dados e organização das ações para o cálculo, outro colega estava sentado mais para o lado com a cadeira levemente inclinada e com um notebook sobre suas pernas navegando em ambientes sociais externos à aula. O estudante ficou ali durante a realização da maior parte do tempo das ações do grupo e, ao mesmo tempo, o grupo não o considerava nas análises e elaboração dos dados, ou seja, o estudante estava apenas fisicamente presente ao lado do grupo. Outra questão social verificada foi a ação social colaborativa dos colegas entre os grupos. Muito embora a atividade de interação em grupos fosse realizada de forma autônoma para cada grupo, mesmo assim alguns componentes de grupos diferentes auxiliavam os colegas nas dúvidas inerentes aos desdobramentos dos conceitos para as possíveis ações que eles poderiam realizar, como o ocorrido entre os grupos E e F. Em relação à categoria de mobilização de relações políticas, no que concerne sobre as ações internas nos grupos, foi possível perceber durante a fase inicial que a maioria dos grupos trabalhou de forma aparentemente coesa. No entanto, não foi identificada, nos grupos em haviam estudantes alheios à 157 solução do problema, nenhuma ação de busca de responsabilização para auxiliar na resolução da situação-problema. Também foi identificada certa acomodação dos estudantes na tentativa de solução de algumas situações dadas. Como o exercício oportunizava uma autonomia na resolução, ainda assim, alguns estudantes buscavam resolver suas dúvidas por meio da tentativa de resposta para suas dúvidas por meio de perguntas ao docente: Estudante CB: “Como vai ser essa ordem de compras?” Professor: “Vocês é que vão criá-las”. Estudante CB: “Como eu as crio?”. Professor: “Busquem os exemplos nos referenciais estudados”. Esse diálogo pode ser visto, inicialmente, como uma ação de negação da mediação do conhecimento por parte do professor. Cabe ressaltar que neste primeiro momento da aula a estratégia de ensino é fazer com que o estudante faça suas tentativas, mesmo com a possibilidade de erros, de mobilizar o conhecimento científico estudado nas aulas anteriores. Cunha (1998, p. 68) comenta sobre a resistência inicial dos estudantes em relação a novas propostas de ensino que ocorrem pelo fato deles estarem “acostumados a receber o conhecimento pronto na aula estruturada pelo professor”. Em todas as aulas, o docente apresentou e deixou sobre sua mesa algumas obras bibliográficas referentes ao tema e que os estudantes poderiam utilizá-las quando tivessem dúvida de algum tópico. Essas obras estavam a poucos metros no campo de visão do estudante CB e mesmo assim, nenhum livro foi consultado, por nenhum estudante, ao longo de todas as aulas. A resposta aos problemas estava exemplificada por alguns modelos já ilustrados nas referidas obras que estavam ao seu alcance. Observou-se que alguns documentos foram organizados com algumas informações mínimas, sendo que na sua grande maioria foi realizada num canto da folha de caderno rasgada, sem o mínimo cuidado com a apresentação. Assim, algumas informações não constavam nos referidos documentos, como a falta de dados do grupo emissor e para quem seria feita a entrega, qual a data de emissão do documento e data de entrega dos pedidos, entre outros aspectos técnicos. A maioria dos documentos apresentava uma estrutura de formulário contendo o 158 código e descrição do produto e a quantidade a ser entregue como informações principais. Esse tópico foi anotado pelo docente em seu diário de campo pela sensação inicial de frustação provocada pela falta de iniciativa dos estudantes em buscarem resolver os problemas apresentados. Esse assunto foi debatido na sequência da aula e também na aula seguinte. Assim, esta primeira etapa da aula se alinha à visão dos quatro pilares da educação, no sentido de que busca fazer com que o estudante possa “aprender a fazer no âmbito das diversas experiências sociais e de trabalho” (DELOURS, 2010, p. 31). No mundo da vida, quando os problemas se apresentarem, muitas vezes os egressos não terão mais um professor para dar as respostas. Eles precisarão pesquisar as formas de solucionar os problemas, tomarem uma decisão e agirem para que isso ocorra. Embora cada grupo tivesse autonomia na elaboração dos seus métodos de sistematização das atividades, havia uma integração de ações entre eles para que o processo de cada um pudesse ser realizado. Assim, foi necessário que os grupos tivessem que realizar a entrega desses documentos para os referidos grupos fornecedores e que esses realizassem o cumprimento das quantidades solicitadas no prazo estabelecido. Como as integrações entre os grupos somente poderiam ocorrer para os produtos correspondentes, não houve grandes movimentações na sala para a entrega das solicitações. Um fato em particular foi relacionado à forma de tratamento do grupo F para o grupo H. Depois de receber o documento solicitando a entrega, os integrantes do grupo H iniciaram uma ação de busca de informações e ajuda com os grupos vizinhos. O estudante CD foi buscar ajuda com os colegas do grupo B, enquanto o estudante AA foi até o grupo A para solicitar ajuda em relação aos cálculos. Em seguida, os estudantes solicitaram a ajuda do docente na tentativa de compreender o que era necessário fazer. Ao buscar auxiliar o grupo, primeiramente o professor foi investigar a causa da falta de entendimento apresentada pelos estudantes. Foi constatado que um dos componentes do grupo não havia comparecido à aula anterior e ambos não tinham o material com o conteúdo da última aula. Eles estavam tentando realizar a atividade de 159 cálculo de MRP com o texto contendo o conteúdo da primeira aula, ou seja, o conteúdo de PMO. Outro fato está relacionado ao tempo decorrido entre o início da atividade e a postura de busca de solução do problema. Os estudantes ficaram um pouco mais de vinte minutos dispersos sem realizar nenhuma ação na tentativa de resolver o problema. Novamente é visto que os estudantes não tiveram a iniciativa de pesquisar nos referenciais bibliográficos da área para buscarem a solução dos seus problemas. Neste caso, mesmo com livros dispostos a menos de 3 metros dos estudantes, eles primeiramente recorreram aos demais grupos para solicitar auxílio dos colegas e posteriormente ao docente. O professor orientou os estudantes para que esses realizassem o estudo do conteúdo correto, explicar qual é o processo e como esses são transformados em cálculos. Ao finalizar as rodadas que simulavam as semanas de produção das empresas representadas pelos grupos, pode ser verificado que o grupo H conseguiu entender a sistemática de cálculo e a cada entrega correta havia uma comemoração entre os colegas. Ao realizar a análise desta narrativa, é possível verificar que existem duas questões a serem debatidas. A primeira está no fato dos estudantes conseguirem compreender as metodologias de cálculos e realizarem as ações que eram necessárias para o desenvolvimento da atividade. A segunda perspectiva de análise está relacionada aos motivos que levaram os estudantes a não se inteirarem do processo, ou seja, a falta de comprometimento para o aprimoramento dos conteúdos estudados em aula. Ao ampliar essa discussão, é possível constatar que, desde a primeira aula, foi observado um grupo de estudantes com um perfil descomprometido com o estudo. Muitos estudantes ficam na espera da ação ou resposta do professor para a resolução dos problemas, em sua maioria, não realizam estudos prévios aos conteúdos estudados e no caso da falta à aula, não interagiam com os colegas para verificar o que foi estudado, mesmo que o material do conteúdo estivesse disponível no portal virtual da instituição e com os colegas. Com a necessidade de mobilização dos conhecimentos estudados nas aulas anteriores, os estudantes necessitavam realizar a revisão dos conteúdos 160 para conseguirem acompanhar as atividades desenvolvidas. Caso isso não ocorresse, não haveria condições cognitivas dos estudantes conseguirem participar, a menos que estivessem em um grupo que aceitasse a sua passividade durante o desenvolvimento do exercício. No momento em que um grupo apresentasse, em sua totalidade, estudantes que não compreenderam o conteúdo, que não estudaram anteriormente à aula ou não estiveram na aula e não se prontificaram a verificar o que fora estudado, ficou difícil para serem ocultadas as faltas de iniciativa para com o seu aprendizado e a consequente falta de participação, seja pelo silêncio ou pelo aguardo do momento da correção dos exercícios, para verificar o que estava ocorrendo na aula. Uma interrogação que fica, neste momento, é: quais foram os motivos que propiciaram a mudança de postura dos componentes do grupo H? Ao retornar ao relato dos fatos ocorridos na aula, depois de finalizados alguns ciclos que buscavam ilustrar as sistemáticas de funcionamento entre a estrutura de cálculos e as ações de compra e fabricação de uma série de organizações empresariais, foi realizado o início da etapa de Socialização dos Processos e dos Resultados. “Na sala de aula, a ação do professor tem como objetivo criar as condições para a atividade de análise e das demais operações mentais do aluno, necessárias para o processo de aprendizagem” (GASPARIN, 2011, p.103). Na socialização dos processos e resultados os participantes dos grupos puderam manifestar suas observações acerca de suas atividades e como o trabalho dos demais grupos interferiam nos seus processos e resultados. Alguns conceitos estudados teoricamente puderam ser vivenciados na dinâmica e outros fatos que ocorreram no decorrer das ações, necessitavam de conhecimentos de outras disciplinas, que também puderam ser debatidos e melhor compreendidos no contexto da área fabril. Para estimular os estudantes a se manifestarem sobre as percepções dos fatos ocorridos, o professor pediu atenção ao grupo, comentou da ação de socialização dos processos e resultados e indagou a turma: “Quais foram as dificuldades iniciais? O que perceberam desta primeira dinâmica? As coisas que planejaram ocorreram? O que vocês entenderam?” (Professor-0:29:14DVD2). Transcorridos alguns segundos deu-se início a uma série de diálogos. Alguns deles são apresentados a seguir: 161 Estudante AF: „Não foi no meu caso, mas eu vi que para o grupo no lado faltou material‟. Professor: „Por que faltou?‟ Estudante GB que é membro do grupo citado: „Por que os fornecedores que tinham que fornecer não o fizeram, então houve atraso em um e continuou‟. Estudante J: „houveram pedidos entregues atrasados‟. Professor: „Muito bem! Problema levantado. Por que isso ocorreu?‟ Estudante GB: „Porque faltou matéria prima‟. Professor: „Por que faltou matéria prima?‟ Estudante AF: „Porque não havia estoque‟. Professor: „O que acontece, se eu sou o fornecedor de matéria prima e entrego para eles?‟ (neste momento o professor mostra um produto, desloca-se da frente da sala até o grupo que recebe o material e o deixa sobre a mesa) „Quanto tempo eu tenho para entregar?‟. Estudantes: „Uma semana‟ (0:29-DVD2). Esse diálogo pode ser atribuído à categoria de mobilização de conhecimentos, de maneira que o conteúdo foi articulado com as ações realizadas, objetivando os conceitos estudados. Por meio dele é destacada a importância da ação de mediação docente em relação à análise dos fatos ocorridos na sala, com vistas a aprimorar o entendimento dos conteúdos. Os fatos ocorridos na aula e a ação dos estudantes passaram a ser fonte de análise, ou seja, os próprios atos dos estudantes passaram a ser os referenciais de estudo entre o conteúdo científico e as vivências decorrentes das decisões tomadas embasados neles. No trecho a seguir é apresentado outro exemplo da ação de mediação docente para o entendimento dos conceitos científicos. Professor: „Muito bem, assim, o meu lead time é um. Recebi o pedido na semana 30. Eles (o professor vira-se para o grupo e entrega o objeto a ser processado) estão recebendo o produto na semana 31. (o professor volta-se para a turma) Vejam! Somente na semana 31 eles poderão processar, ou seja, eles vão fazer a entrega somente na outra semana. (o professor retorna para o centro da sala) Aqui podemos ver o que se lê nos livros, que é a cadeia de fornecimento, ou seja, eu, como fornecedor do grupo, tenho uma semana para entregar. (o professor se dirige novamente para o lado do grupo e aponta com a mão) Eles têm uma semana para processar e entregar para o outro grupo (aponta para quem irá receber os objetos na sequência) que também tem uma semana. (o professor desloca-se para o quadro) Para os fornecedores de vocês - que entregam os componentes, ou seja, o grupo de colegas que fazem o pedido dos produtos prontos -, para a entrega das tampas, o tempo de entrega é de uma semana. Para os demais componentes é de duas semanas. (o professor aponta para a tabela e questiona a turma) Qual o grupo que, na semana 28, solicitou a entrega de peças para a semana 30? (um estudante levanta a mão) Um. (...) Se o grupo não fez o pedido, o que vai acontecer agora?‟ Estudante SI: „Não vai ter produto‟. 162 Professor: „Quer dizer, não vai ter estoque. É o que vocês estão me relatando?‟ Estudantes: alguns acenam positivamente com movimento de cabeça. Professor: „Quando o programador da produção está olhando para o prazo de entrega dos seus fornecedores ele tem que entender essa lógica. Então aqui nós temos um exemplo do conceito da cadeia de fornecimento‟ (0:31-DVD2). Ao realizar a explicação do conteúdo com as vivências realizadas em aula, o docente oportuniza, por meio das ações dos próprios estudantes, a compreensão do conceito de tempo de atendimento (lead time). No trecho é demonstrada a ocorrência da integração de conteúdos oriundos de outras disciplinas, como o conceito de cadeia de fornecimento. Cabe ressaltar que o conteúdo da cadeia de fornecimento é ministrado na disciplina de Logística. Outra questão referente à mobilização de conhecimentos relacionada ao conceito de acuracidade dos estoques, ou seja, à quantidade de produtos existentes no ambiente físico seja a mesma que está registrada nos sistemas de banco de dados. Salienta-se que esse tema foi debatido no conteúdo do final da aula anterior. O professor se utilizou dos dados do grupo que usou uma planilha eletrônica para realizar o controle dos dados. De posse de um item do produto, mostrou para a turma e contou a quantidade física e verificou se é a mesma que está registrada no sistema. O mesmo procedimento ocorreu com outro grupo que realizou o cálculo em uma tabela organizada no caderno. Ao constatar que o controle estava correto em ambos os casos, o professor comentou que independente do tipo de controle existente, seja eletrônico ou no papel, o que necessita ser compreendido é que, na medida em que ocorre a utilização dos materiais, também deve haver o registro de entrada ou saída nos sistemas de controles. Caso essa ação não ocorra, não existe sistema que seja confiável, independente do tipo de tecnologia utilizada. Ainda em relação à questão dos estoques, uma estudante se manifestou acerca de sua atitude para que não houvesse a falta de materiais. Essa manifestação é apresentada no diálogo a seguir e foi classificada na categoria referente à mobilização de relações políticas. Estudante AF: „Nós achamos uma forma de não faltar o produto. Nós impomos para nosso fornecedor que a entrega fosse tal dia. Aí eles tiveram que se organizar para entregar‟. 163 O estudante AA do grupo H citado na fala da colega vira para a turma e comenta: „Aí a gente entregava ou se dava mal‟. Turma: risos. Professor: „Agora nós temos outro tipo de relação aqui. Qual é a relação entre cliente e fornecedor? (ocorre uma pausa e um silêncio na sala) Aqui, neste caso, o cliente „impôs‟ a entrega em um determinado momento ocorrer quando o cliente tem maior poder de negociação que o fornecedor, mas o que acontece quando ocorre o contrário?‟ (0:34-DVD3). O professor aproveita o tema e questiona os estudantes se já estudaram a teoria das cinco forças competitivas de Porter. Eles acenam que não. Ele comenta que um tópico dessa teoria trata da relação de força entre os clientes e os fornecedores. O professor ainda argumenta que este tópico será estudado na disciplina de estratégia, uma das disciplinas de final de curso. Este momento oportunizou o debate acerca da necessidade de boas relações durante uma negociação empresarial no que se refere à forma de tratamento entre as pessoas. Caso o nível de cobrança seja muito elevado, a empresa pode não mais querer manter as relações empresariais e suspender o fornecimento. Este fato oportunizou uma vivência que vem ao encontro de mais um dos quatro pilares para a educação propostos por Delours (2010, p. 31): “Aprender a conviver, desenvolvendo a compreensão do outro e a percepção das interdependências – realizar projetos comuns e preparar-se para gerenciar conflitos – no respeito pelos valores do pluralismo, da compreensão mútua e da paz”. Neste momento da aula pode-se perceber que o ensino contemplou abordagens e dimensões formativas referentes às relações de poder entre os colegas e como eles se relacionaram sob as diversas condições do trabalho coletivo. Quando os resultados são interligados, ou seja, o resultado de um determinado grupo está dependendo da ação de outro, cada um tendo funções distintas, definidas e independentes corrobora a influência da teoria da atividade (LEONTIEV, 1978) de que as formas de relações possibilitam as significações concretas para o desenvolvimento do psiquismo humano. Assim, quando as relações ocorrem num contexto de objetivos sociais em que carecem ações de cooperação ou de comprometimento para com o resultado dos grupos, mesmo que de maneira indireta, fica evidenciada a relação de poder e de pressão para a obtenção desses resultados. 164 Também pode se perceber que a pressão “imposta” sobre os colegas apresentou seus resultados. Quando o grupo se sentiu pressionado, os estudantes se mobilizaram para entender o exercício, realizaram as ações pertinentes e aprenderam a fazer os cálculos. Nas semanas seguintes o grupo entregou as quantidades solicitadas no prazo estabelecido. Outra mobilização de relações políticas identificada foi a resistência em aceitar o erro e na ausência de ação para a resolução do problema. Esse foi observado quando os estudantes do grupo C, ao receberem os objetos, verificaram que havia algumas peças erradas. A estudante BH perguntou para o professor como procederia nesse caso. O professor a orientou no sentido de realizar a negociação para a troca dos produtos que estão fora da especificação, ou seja, ela pode argumentar que o produto foi reprovado pelo controle de qualidade de recebimento de materiais. A estudante BH, de posse do material errado se deslocou até o grupo E, seu fornecedor, para providenciar a referida troca, enquanto o professor se afastava do grupo. A estudante AY, membro do grupo E, ao terem ouvido a reclamação da colega BH, duvidara que houvesse procedido a entrega de produto errado, balançara a cabeça negativamente e resistiu em não receber a mercadoria de volta (a captação da fala das colegas na filmagem não é compreensível). Os demais membros do grupo E, conjuntamente com colegas dos grupos vizinhos que acompanharam a negociação, deram risada de sua reação. A estudante BH voltou até o local do seu grupo, pegou um produto correto e retornou até a estudante AY. Ela então mostrou o produto correto para a colega que olha para o mesmo e comentou que “essa mudou!” (Estudante AY- 0:28-DVD2) e os colegas em seu entorno novamente deram risada. Um colega de grupo chegou e abanou a cabeça no sentido contrário, como se não acreditasse no que estava acontecendo. A estudante BH, que estava de frente para a colega AY, virou-se, olha para o professor com um sorriso sem graça, com o semblante levemente avermelhado, com um olhar como que pedindo ajuda, mas não fez nenhum comentário. Em seguida ela voltou para seu lugar, em pé, olhou para a mesa e constatou a falta de materiais para o cumprimento de sua tarefa, virou-se novamente para o professor e então comentou: “olha aqui professor, não tem a quantidade para continuar” e voltou a se sentar (Estudante BH-0:29-DVD2). O 165 professor se deslocou até o grupo da Estudante BH e a orientou para outras formas de ação. Em seguida o docente se dirigiu até o grupo E, dialogou com a estudante AY, como mediador para uma solução. Neste relato, a estudante AY apresentou uma postura de resistência e negação ao seu erro. A estudante BH buscou argumentos para convencer a colega de que ela havia enviado o material errado, argumentando sobre as características do produto solicitado e do produto entregue. Somente ao demonstrar as diferenças pela comparação física entre os produtos é que a estudante AY percebeu o erro, mas mantém a posição de resistência à troca das mercadorias, mantendo sua posição de poder e de resistência em relação aos erros ocorridos. Novamente é oportunizado, em aula, o desenvolvimento de outro pilar da educação: “aprender a ser, para desenvolver o melhor possível, a personalidade e estar em condições de agir com uma capacidade cada vez maior de autonomia, discernimento e responsabilidade pessoal” (DELOURS, 2010, p. 31). Assim, durante a realização individual de exercícios de fixação pela resolução somente no material escrito do estudante, quando ocorreu um erro, ele buscou corrigir o que fez errado. Também fez as melhorias e os ajustes necessários para a sua correção. Por sua vez, quando o erro interferiu no resultado dos outros grupos, a situação se alterou. Agora, não bastava apenas corrigir o cálculo ou os procedimentos para a garantia da manutenção das ações corretas no papel. É necessária uma ação efetiva no sentido de corrigir o que estava incorreto. Para que isto ocorresse, a compreensão de erro e de aceitação inicial de que houve algo errado se alterou e exigiu outro tipo de empenho, não apenas o cognitivo, para a correção do problema. Ao se inteirar da dinâmica do jogo dramático, os participantes tiveram de vivenciar, em seus processos, as experiências que lhe propiciassem compreensões acerca de suas posturas e ações. Assim, “a atividade e as relações humanas possuem um impacto tão grande no jogo protagonizado que seu tema pode variar, embora o conteúdo sempre permaneça o mesmo, qual seja, a atividade do homem e as relações sociais entre as pessoas” (ARCE, 2004, p. 22). 166 Nesta mesma situação verifica-se também a modificação do papel do professor, o qual necessita, no momento adequado, agir como mediador de conflitos para que os estudantes encontrem uma solução. O professor precisa ter um autocontrole no sentido de não interferir nas decisões para o desenrolar dos fatos. A solução dos problemas necessita ser feita pelo processo de tomada de decisão oriundo das interações entre os próprios estudantes e pela habilidade de mobilização das tensões ocorridas durante as relações de poder entre os mesmos. Finalizada a Socialização dos Processos e seus Resultados, realizadas no primeiro momento da aula, foi iniciada a Ação Integradora dos Grupos na qual o professor reorganizou os grupos de maneira que um grupo central realizasse as ações que os grupos periféricos enviassem as ordens de fabricação para esses. Essa didática buscou ilustrar, num primeiro momento, as ações referentes à comunicação existente entre as equipes de PCP com as da linha de fabricação. A partir deste instante, as equipes periféricas iriam realizar os cálculos de parte do processo e repassar as informações para o grupo central que seria o responsável pela consolidação das informações por meio da execução da montagem dos produtos. A comunicação deveria ser feita somente de forma escrita e os grupos periféricos somente poderiam comentar ou orientar a equipe central por meio de documento por escrito. Neste momento da aula, embora as ações dos estudantes fossem realizadas em grupos separados, o objetivo final foi o mesmo para toda a turma. Cabe lembrar que no momento anterior da aula, o objetivo da atividade era evidenciar a autonomia de cada grupo para a resolução das atividades, como se fossem empresas separadas, interligadas apenas pela cadeia de fornecimento de materiais e como as ações de um grupo, mesmo atuando de forma isolada e diferenciada, interferia para o resultado dos mais. Agora o foco era o resultado mediante uma atividade coletiva interligada da turma. Uma atividade coletiva é impulsionada por um motivo comum. O motivo é formado quando uma necessidade coletiva encontra um objeto que tem o potencial para atender a necessidade. O motivo é, assim, incorporado no objeto da atividade. O objeto, por sua vez, é para ser entendido como um projeto em construção, que se deslocam, de uma forma significativa, a partir de „matéria prima‟ 167 potencial e para um resultado (ENGESTRÔM, 1999b, p. 65). ou para uma conclusão Nessa perspectiva, a nova sistemática de ação teve por princípio demonstrar as inter-relações existentes entre os diversos setores de uma organização empresarial e como elas podem ou não interferir para que os resultados sejam atingidos por todo o grupo. Os objetivos de cada grupo eram parciais e o atingimento da meta geral dependia diretamente das ações de cada equipe. Para que isso fosse entendido pelos estudantes, o docente orientou uma nova organização física da sala, distribuiu as novas tarefas para as equipe e comentou como serão realizados os fluxos de informações e de produtos durante a realização da dinâmica. Na ação integradora dos grupos, o papel do docente, foi de observador dos processos estabelecidos pelos estudantes. Este ponto era importante ser comentado antes do início da atividade para que as dúvidas pudessem ser formuladas antes do início da mesma. O docente acompanhou a ação dos estudantes, repassou os materiais solicitados e coordenou o tempo de início e fim de cada ciclo de processo. Uma intervenção docente poderia ter ocorrido para os casos em que fosse percebida a necessidade de realizar alguma mediação para o entendimento da atividade ou a ação dos estudantes pudesse provocar risco à saúde e a segurança sua ou dos colegas. Findada a nova organização da sala e dos esclarecimentos sobre os novos papéis de cada equipe, foram realizados mais dois ciclos de ação (que representaram duas semanas de produção). Com a redução do número de cálculos a serem elaborados pelos grupos, o tempo de desenvolvimento foi de quatro minutos para o primeiro ciclo e de seis para o segundo. Antes da troca de ciclos o professor perguntou à turma se eles haviam concluído a tarefa. Somente com a concordância da turma foi iniciado um novo ciclo de processos. Essa atitude do docente visou não provocar uma pressão decorrente de tempo determinado para a consecução das ações. Ela é justificada pelo foco principal da dinâmica estar no desenvolvimento do entendimento dos conteúdos e das ações subsequentes que a metodologia de cálculo do MRP proporciona para o desencadeamento dos processos manufatureiros e não no inverso. Ao finalizar os processos, foi iniciada a última etapa da aula de ressignificação dos conceitos científicos, que foi a reflexão das ações e dos 168 aprendizados ocorridos durante a realização da aula. Os estudantes permaneceram na posição em que estavam e dessa posição puderam explicar com detalhes os fatos ocorridos, os erros cometidos e como não foi possível a comunicação oral, a escrita foi mais demorada ou de difícil explicação para que fosse possível uma resposta ao grupo central. O professor também realizou a mediação das dúvidas identificadas e questionadas pelos estudantes com os tópicos teóricos abordados nas últimas aulas ou de assuntos que foram desenvolvidos no semestre anterior e que neste momento foram suscitados. Em relação à categoria de mobilização de conhecimentos dos estudantes, o que se destacou foi à rápida ação de adequação das planilhas de cálculos iniciais para a nova situação de ensino. Centrados nos novos dados, os membros das equipes se empenharam na resolução do problema, muitos debateram e trocavam opiniões acerca das mudanças necessárias. No que se refere à mobilização de interações sociais, observou-se que todos os grupos estavam realizando as ações para a consecução da tarefa. Como a didática, neste momento, limitava a comunicação de maneira escrita, a interação entre os membros dos periféricos era inexistente. Cada grupo procurava realizar a atividade da sua forma, sem a busca de uma interação com os demais. Cada um fazia sua parte ao realizar os cálculos e emissão de OFs ou OC e as repassavam para as respectivas partes interessadas. Na primeira rodada desta última fase, a equipe que representava a linha de montagem estava no aguardo, parada, no aguardo das deliberações das equipes periféricas para darem continuidade as suas atividades. A aparente parada das pessoas da linha buscou demonstrar a importância das questões de organização de uma empresa e demonstrou que houve o entendimento dos conceitos acerca das ações somente serem realizadas mediante o envio de OFs. Essa postura do grupo central propiciou uma situação de interação social que demonstrou o comprometimento dos estudantes para a resolução da atividade, cientes de que, mesmo não realizando nenhuma ação, estavam participando ativamente do processo. Acerca da mobilização de relações políticas observou-se que embora as ações dos grupos estivessem sendo realizadas de forma independente, em 169 cada grupo, no olhar de um observador externo, foi possível perceber que ainda havia falta de organização nas sistemáticas de trabalho do grupo e coletiva. Muito embora as ações dos grupos fossem realizadas de maneira separadas em cada um deles, ao analisar a atividade em si, foi possível perceber a ocorrência de uma tentativa colaborativa de execução da meta proposta. 6.3 A aula de articulação dinâmica de aprendizagens A última aula proposta para esta tese, denominada de articulação dinâmica de aprendizagens teve por objetivo demonstrar, dentre os inúmeros desdobramentos possíveis do conteúdo curricular, mesmo que simulada, de algumas práticas do cotidiano e suas implicações. Pela realização de diversos processos foi oportunizada a possibilidade do estudante ter tido subsídios para tomar consciência dos motivos e objetivos dos conteúdos e lhe possibilitar condições objetivas para uma análise sobre o entendimento curricular, bem como estimular a busca de soluções coletivas e da construção do conhecimento pela resolução de situações de ensino propostas. Para a operacionalização da aula, primeiramente foi definido um objeto cultural que oportunizasse os mais variados modos de transformação, visando oportunizar algumas, das diversas possibilidades de situações de aprendizagens possíveis, em relação ao conteúdo curricular envolvido. Assim, foi definida como objeto cultural, a fabricação de blocos de anotações oriundos da transformação de papel A4, fonte principal de matéria prima. A decisão do uso do papel estava fundamentada na visão de que “a papiroflexia é um meio, não um fim. Não consiste somente em uma ferramenta para visualizar, é muito mais rica, permitindo estudar propriedades, observar, analisar e conjecturar” (LÓPES, 2010, p. 4). Nesta perspectiva, tanto o bloco como o papel, assumiram uma dupla finalidade, por serem objetos da cultura estudantil e, a partir deles, possibilitarem a compreensão dos conteúdos curriculares em questão. Cabe ressaltar que a produção do objeto cultural definido, o bloco de anotações feito de papel A4, teve por princípio educativo o desenvolvimento de 170 diversos procedimentos referentes ao conteúdo de MRP e as ações referentes à equipe do setor de PCP. Essa dinâmica não busca treinar os estudantes para o processo de fabricação em si de uma empresa do ramo gráfico. Definido o produto, a próxima ação foi realizar o desenvolvimento e definições dos processos e dos instrumentos de trabalho (LEONTIEV, 1978) de acordo com o conteúdo em questão e com o objeto escolhido. Para cada local de trabalho foram definidos, pelo docente, os processos e as respectivas operações. A denominação dos locais de trabalhos foram as seguintes: setor de cálculo de MRP, elaboração das ordens de fabricação, elaboração das ordens de montagem, almoxarifado, corte, dobra, impressão da capa, prémontagem, montagem e o de expedição. Com essas informações o docente elaborou as primeiras „ordens de fabricação‟ – OF, „ordens de montagem‟ – OM, e com base na estrutura do produto foi estabelecida uma „ordem de compras‟ – OC. Em relação às ações do PCP foram realizadas as orientações iniciais e as planilhas de cálculo de acordo com a estrutura do produto que era iniciado o exercício. Também foram disponibilizados documentos em branco (OF e OC) para os setores do PCP que iriam realizar a sua emissão no decorrer da aula. Foi também elaborada uma planilha para o controle dos estoques utilizada nos setores de almoxarifado e de expedição. Para identificar cada local de trabalho foram confeccionadas placas com os nomes dos respectivos setores e posicionadas sobre as mesas. Para demonstrar a importância das questões técnicas do produto e suas ações na fábrica simulada, foram confeccionados desenhos técnicos de cada parte do produto e disponibilizadas cópias dos mesmos de acordo com o posto de trabalho a ser empregado. Ao final também havia um desenho técnico demonstrando todas as partes do produto e as sequências de operações. Para demonstrar a integração de conteúdos, foi impresso no canto superior esquerdo de cada desenho, em vermelho, o termo “cópia não controlada”, termos utilizados em muitas empresas para demonstrar que aquele desenho não está nos registros dos sistemas de qualidade da fábrica. Para a realização das operações, em alguns locais de trabalho, foi necessário o uso de instrumentos de trabalho. Assim, foram projetados três instrumentos de trabalho e posteriormente confeccionados em MDF, cuja 171 finalidade era demonstrar a sua finalidade durante as operações nos referidos processos. O tempo necessário para a definição do produto, elaboração dos desenhos, dos processos e suas operações, do estabelecimento do modelo e o preenchimento das OFs iniciais, impressão e separação dos documentos, organização em pastas para cada posto de trabalho, foi de aproximadamente 20h. Para o desenvolvimento dos desenhos em software 3D foram necessárias 4h. Para a confecção dos instrumentos em MDF contou-se com a ajuda, os equipamentos e materiais da oficina do amigo Marcos, sendo dedicadas mais 3h de trabalho em conjunto. Para dar início à aula, também era necessária a organização da sala de aula. Ela foi estruturada para possibilitar o desenvolvimento da atividade, necessitando mais 30min de organização, sendo denominada de sala ambiente. A sala permaneceu fechada até 5min antes do início da aula. Ao entrarem na sala os estudantes olhavam para o novo layout e ficaram sem saber como agir. O professor os orientou a sentarem nas cadeiras dispostas em torno da sala. O estudante RM, ao ver a sala ambiente, questionou: “o que é isso?”, demonstrando curiosidade pelo seu tom de voz (0:04, DVD4). Ao iniciar a aula foi explicado para a turma, o funcionamento da dinâmica da atividade. Em seguida foram demonstradas as operações referentes aos processos de cálculo de MPR e da emissão de documentos. Também foram apresentados os fluxos de informações no decorrer de sua realização e as atribuições de cada participante do exercício. Para dar início à atividade foram solicitados voluntários para o primeiro processo que era o cálculo do MRP. Não houve um voluntário que se prontificasse, apenas alguns colegas indicando outros. O professor, após alguns minutos, indicou três estudantes que iriam iniciar a ação de aprender o novo processo. Para esse grupo inicial foram repassadas as cópias dos documentos e das apresentações em pastas dispostas sobre as mesas. O professor também os auxiliou no entendimento inicial das operações em cada um dos processos estabelecidos. Finalizado o primeiro tempo de processos, foram organizados os outros estudantes para o segundo grupo de processos, de forma que os primeiros receberam novas tarefas e os segundo foram orientados para as operações 172 que estariam envoltas em seu processo, seguindo o ciclo a cada novo ciclo indicado pelo docente. No decorrer dessas atividades ocorreram alguns problemas oriundos de erros no cálculo do MRP e outro proveniente da falta de informações da quantidade a ser produzida. Esse fato trouxe uma agitação para o grupo, principalmente quando os estudantes se dirigiram ao docente buscando uma resposta à solução do problema e este comentou que eles próprios deveriam identificar o motivo das lacunas e tomarem as decisões pertinentes ao caso. Enquanto o grupo de estudantes que estava envolvido nas atividades buscava interagir na busca da solução dos problemas e na continuidade da atividade, os estudantes que estavam acompanhando a dinâmica, no aguardo de sua vez de ingresso, apresentavam dois perfis de comportamento. Alguns estavam observando as ações da dinâmica e realizando seus apontamentos e comentando com o colega ao lado as suas considerações. Outros estavam alheios à aula acessando a internet e conversando com os colegas assuntos externos ao tema. Realizados alguns ciclos das Situações de Estudos em Processos Dinâmicos foi iniciada a análise e reflexão das ações e das aprendizagens ocorridas até o momento. Os estudantes que estavam inteirados das ações ocorridas manifestaram-se com frutíferas análises acerca dos fatos e apresentaram propostas para a melhoria das ações. Ao finalizar as considerações e as análises acerca das Situações de Estudos em Processos Dinâmicos, o grupo de estudantes foi desafiado a alterar o cenário proposto, por meio de uma nova situação de aprendizagem, proposta pelo professor, denominada de Interação Colaborativa em Nova Situação de Aprendizagem. O grupo iniciou um diálogo coletivo sem coordenação das ações que seriam pertinentes à solução. Transcorridos mais alguns minutos, ocorreu a formação de dois grandes grupos, um focado para a ação de melhoria dos processos operacionais e outro, com as questões de cálculos e emissão de documentos, com o envolvimento daqueles que participaram ativamente, mesmo que direta ou indiretamente na busca da resolução da situação de aprendizagem, muitos deles realizando caminhadas na sala e outros com movimentos físicos de braços indicando as possíveis melhorias. Por sua vez, o grupo que estava alheio aos processos e 173 desenvolvimento da aula, gradativamente foi se retirando da sala. Esse fato ocorreu até que permaneceram em aula apenas os estudantes que estavam trabalhando na busca da resolução das questões ou daqueles que estavam realizando os apontamentos dos fatos ocorridos. Definido o novo processo e suas operações, o docente reiniciou as ações dinâmicas de ciclos de fabricação, informando as quantidades de objetos que seriam necessários serem fabricados para os próximos períodos. Ao final da aula foi realizada uma socialização dos fatos ocorridos na qual os estudantes puderam expor as suas percepções acerca das melhorias e das lacunas ainda existentes. Foram debatidos os aspectos relacionados aos conteúdos de MRP, além de temas oriundos de outras disciplinas, sendo que algumas delas ainda não haviam sido estudadas pelos acadêmicos. Para finalizar a aula, o professor solicitou auxílio para reorganizar a sala na posição tradicional e auxiliar no recolhimento dos materiais utilizados. Com o uso do objeto produzido a partir do papel, que permite flexibilidade e diversidade de operações (papiroflexia), foi possível verificar outras características do conteúdo de MRP. Como exemplo, um determinado material poder ser transformado em outros componentes dentro do processo. Também a quantidade de compra pode ser estabelecida com os desdobramentos dos itens de demanda dependente, das diferenças entre os fluxos de informações e de produtos, bem como da importância das relações e das ações das pessoas para a realização dessas operações e para os resultados finais do exercício. Uma vez concluída essa breve narrativa, feita no intuito de apresentar uma visão dos fatos ocorridos na aula buscando situar o leitor acerca dos acontecimentos, vistos como um todo, a seguir é apresentada a análise dos acontecimentos em torno das três categorias de construção dos resultados desta pesquisa. Ao realizar a análise da denominada mobilização de conhecimentos, um dos primeiros fatos se refere às questões da mediação docente para o desenvolvimento dos conceitos científicos aplicados em uma situação de ensino. Um fato a ser relatado está relacionado à ação docente de conduzir, por meio de questionamentos, a mediação dos conceitos com as operações 174 práticas que seriam necessárias para a realização da atividade. Como os estudantes não estavam acostumados a realizar a transposição dos conhecimentos teóricos em decisões práticas, eles solicitavam frequentemente, ao docente a resposta para as situações ocorridas. Neste momento a atenção do docente deve ser a de fazer com que o estudante procure perceber quais são os conteúdos envolvidos no problema e, por meio de pistas, o auxilie a alcançar o entendimento do fato e a sua solução. A Dinâmica de Aprendizagem por Situações de Ensino para Processos Intermitentes Integrados oportunizava uma ação inicial de conhecimento em operações que era reforçada com a ação de mobilizar, sozinho, as operações envolvidas no processo. Ao realizar o terceiro ciclo, o estudante necessitava orientar outro estudante na ação inicial de aprendizagem daquelas operações. Este ciclo oportunizou uma tríplice estimulação de aprendizados em situações de ensino – aprender, fazer, ensinar – que exige a articulação dos conceitos estudos com o desenvolvimento das funções psicofisiológicas superiores e da formação de conceitos acerca das operações desenvolvidas, para posterior orientação dos conceitos ressignificados. Este processo de articulação de ressignificação e auxílio na formação de conceitos científicos a outro colega é visto pelos estudantes da seguinte maneira: Esta etapa caracterizou-se pela duplicação do aprendizado obtido pelo aluno A na primeira rodada da Dinâmica, sendo que nem todos os acadêmicos obtiveram êxito nesta operação. Primeiro, porque não houve da parte do aluno B a total compreensão de como se dava as operações produtivas daquele dado setor – o que observou-se, principalmente, nos setores de cálculo de M.R.P. e almoxarifado – e segundo, porque não houve tempo suficiente para a prática das atividades. A compreensão do conhecimento teórico e prático de dado setor pelo aluno B não se deu com êxito devido tanto à falta de conhecimento teórico, quanto à falta de informações passadas pelo aluno A (Estudantes GM; SM; UX, Rel05, p. 7). Essa narrativa demonstra a dificuldade inicial dos estudantes em mobilizar os conhecimentos científicos para uma atividade cultural simulada do cenário profissional almejado. Ao olhar para este comentário crítico dos estudantes é possível constatar a necessidade dos estudantes terem o hábito de estudar não apenas para a realização de uma prova, mas para estarem prontos a enfrentar as inúmeras situações problemas da vida profissional que 175 poderão emergir. Assim, esta dinâmica vem ao encontro dos pensamentos de Vigostky (2008): A presença de um problema que exige a formação de conceitos não pode, por si só, ser considerada a causa do processo, muito embora as tarefas com que o jovem se depara ao ingressar no mundo cultural, profissional e cívico dos adultos sejam, sem dúvida, um fator importante para o surgimento do pensamento conceitual. Se o meio ambiente não lhe faz novas exigências e não estimula o seu intelecto, proporcionando-lhe uma série de novos objetos, o seu raciocínio não conseguirá atingir os estágios mais elevados, ou só os alcançará com grande atraso (VIGOSTKY, 2008, p. 73). Os problemas que surgiram no decorrer da aula de Articulação Dinâmica de Aprendizagens, muitos deles, oriundos da falta do estudo de conceitos científicos e da capacidade de sua aplicação por parte dos estudados. Um dos fatos que pode ser evidenciado acerca desta questão se inicia com a divergência entre a quantidade produzida no setor de corte e a quantidade especificada a partir do cálculo de MRP. Embora houvesse uma OF indicando a quantidade necessária a ser produzida, a estudante que estava na fase A2 da Dinâmica – Ação de mobilizar os novos conhecimentos/processos – não teve atenção e o cuidado em produzir o especificado e o fez a mais. Ao constatar o problema, ela entrega os produtos para a equipe do Almoxarifado que, ao perceber a falha, questiona o docente: “e agora o que eu faço?” (Estudante SE 1:20:10-DVD4). O docente orientou a estudante a realizar os registros nos seus controles de estoque e em seguida comunicar a equipe de PCP para realizar os ajustes, ação que a Estudante SE fez (1:21:02-DVD4). Este tópico está alinhado aos comentários realizados na aula anterior acerca das ações para a acuracidade dos estoques, por meio da ação da Estudante SE realizar o ajuste da quantidade real em sua planilha de controle (em papel) e comunicar ao setor de cálculo do MRP que também necessita realizar o referido ajuste no sistema de controle. Em relação à ação dos acadêmicos que não estavam agindo diretamente na dinâmica realizaram uma observação intencional das ações desenvolvidas. Os conteúdos a serem articulados, além dos conhecimentos do cálculo de MRP, eram a cronometria das operações industriais, os processos de trabalho, o fluxo de informações e a interferência do layout para os 176 resultados, conteúdos referentes às disciplinas de Qualidade, Gerência de Processos e de Produção, Materiais e Logística I. Essa informação era de conhecimento dos estudantes conforme pode ser visto no exceto de um relatório: O professor salientou os diversos conteúdos que poderiam ser utilizados e que estão relacionados às operações de uma fábrica de manufatura, como por exemplo, o estudo de tempos, movimentos e métodos, que serviria para ponderar de uma forma detalhada e planejada cada tarefa, com a finalidade de abolir qualquer elemento desnecessário a operação e determinar o mais eficiente método para executá-la (Estudantes FL, JM, BB, Rel01, p. 2). Embora os acadêmicos tivessem conhecimento dos conteúdos envolvidos na atividade, ao analisar os relatórios escritos observou-se que nenhum deles apresentou um estudo quantitativo acerca dos tempos – cronometria – de cada processo. Embora os demais conteúdos tenham sido abordados nos relatórios, a falta desta informação limita futuras análises de melhorias das ações realizadas, como, por exemplo, a questão do conteúdo acerca do balanceamento dos processos industriais entre outros. Para a elaboração da aula denominada de Articulação Dinâmica de Aprendizagens foram necessários, além dos conteúdos destas disciplinas, os relacionados à área de engenharia do produto. Isto é, os conteúdos implicados que mais se destacavam. Embora o conteúdo de desenho técnico do produto não seja um conteúdo estudado no curso, os estudantes, ao realizarem a fase de Interação Colaborativa em Nova Situação de Aprendizagem, realizaram os desenhos dos novos produtos nas folhas de desenho em branco que estavam disponíveis. Em relação à disponibilização de Ordens de Fabricação e de Ordens de Compras elaboradas pelo docente, foi demonstrado, aos estudantes, a forma de preenchimento de um modelo previamente estabelecido pelo docente, dentre as inúmeras possibilidades. Ao apresentar as OF, OM e OC, o professor aproveitou a oportunidade para mostrar como foram elaborados esses documentos na aula anterior. Para as Estudantes MB; TZ (Rel10, p.7) “Com os modelos de ordem de pedidos é possível programar e coordenar tanto a produção específica, como a entrega e os pedidos aos clientes”. Cabe lembrar que este tópico foi ponto de questionamento de estudantes e o docente não realizou a demonstração de um 177 modelo, mas instigou os estudantes a buscarem nos referenciais bibliográficos da área que estavam disponíveis na sala a resposta. Outra questão interessante nesta fase foi que a organização do novo layout foi realizada somente na tentativa de se reduzir os fluxos dos processos. Como não haviam sido coletados dados quantitativos acerca desses processos, não foram realizadas análises das operações envolvidas neles e, consequentemente, não foram realizadas tentativas de melhorias destas operações. Assim, ao considerar estas lacunas técnicas, por parte de alguns acadêmicos, acerca da mobilização integrada de conhecimentos como uma oportunidade, a realização de novas pesquisas acerca de como abordar e superar essa falta de integração dos demais conteúdos estudados no decorrer do curso, bem como realizar a inserção de novos conhecimentos inerentes ao conteúdo programático a ser desenvolvido na disciplina ao longo do semestre, se torna uma necessidade. A segunda categoria de análise está relacionada à mobilização de interações sociais ocorridas durante a aula de Articulação Dinâmica de Aprendizagens. Ao finalizar a explicação acerca da atividade a ser desenvolvido na aula, o professor solicitou três estudantes voluntários para iniciarem os processos referentes ao cálculo de MRP e de emissão de ordens de fabricação e de montagem. Transcorridos aproximadamente dois minutos e após algumas vezes o docente repetir a solicitação, era ouvido apenas alguns colegas indicando outros e a questão foi resolvida com a indicação de três estudantes para realizarem a atividade. Essa falta de predisposição para atuarem em uma atividade em que os estudantes não estão tradicionalmente acostumados a realizar dinâmicas que lhe exigem a mobilização dos conteúdos estudados. A percepção de alguns estudantes, em relação a esse momento inicial pode ser percebida na manifestação escrita, de um trabalho de grupo, a seguir transcrita. Destaca-se que alguns acadêmicos não se disponibilizaram a participar da dinâmica, devido ao receio de cometer erros em determinadas tarefas e cálculos além da falta de iniciativa e timidez intrínseca em alguns acadêmicos. O receio de cometer erros deriva, principalmente, da falta de preparo no que tange o conhecimento sistemático e prático, pois se sabe que não é dada tanta ênfase, da 178 parte dos alunos, aos estudos teóricos contidos nos livros e outros materiais, além da falta de preocupação destes com os assuntos relacionados aos conteúdos apresentados pelo professor (ESTUDANTES GM; SM; UX, REL05, pp. 6-7). Essa falta de iniciativa pode ser considerada como resultado de um modelo de ensino em que o estudante aguarda pelas respostas do professor (LOURENÇO; KNOPP, 2011) ou pelo estilo tradicionalmente passivo de ensino utilizado no ensino de Administração no Brasil (NICOLINI, 2003). Ao estimular os estudantes a realizarem uma aprendizagem ativa (SAUAIA, 2012) é necessário ter entendido o conteúdo curricular envolvido nas atividades, bem como correr os riscos sociais das lacunas ainda existentes sobre este. É necessário se expor. Para isso, é necessário se preparar, realizar, nos intervalos entre as aulas, os exercícios propostos (MUKHERJEE, 2002), para ter segurança durante a realização dos cálculos e na tomada de decisão de ser o primeiro a realizar uma atividade cujo conteúdo é considerado difícil e complexo (ALFALLA-LUQUE; MEDINA-LÓPEZ; ARENAS-MÁRQUEZ, 2011). A terceira categoria de análise, denominada de mobilização de relações políticas pode ser evidenciada ao decorrer de toda a aula de Articulação Dinâmica de Aprendizagens, foi questão relacionada ao sistema tácito de regras de atividade coletiva (ENGESTRÖM, 2011), no sentido das contradições de atitude dos acadêmicos durante a sua atuação nos papeis a eles implicados. Ao organizar o sistema didático da aula em processos que se assemelhavam às divisões de trabalho (ENGESTRÖM, 1999b), tradicionalmente encontradas nas organizações empresariais, os estudantes, ao percorrer as suas etapas vão incorporando as regras desta organização comunitária laborativa e se portando de acordo com as atribuições inerentes aos seus processos. A concepção de comportamento apresentado pode ser analisada sob duas perspectivas, uma colaborativa voltada para a ajuda construtiva de solução de problemas oriundos de erros do desenvolvimento dos processos e a outra, na pressão por soluções mediante a cobrança verbal e genérica sem, no entanto, uma proposta de tentativa de ação transformadora do cenário laboral articulado pela situação de ensino vivenciada. 179 Ao pensar acerca da proposta didática, alguns acadêmicos manifestaram: Esta prática oferece uma disponibilidade de dados, que permite análise variadas e diferentes resoluções e considerações por parte dos alunos. Estes alunos que estão aqui, sentados em suas carteiras, serão os futuros tomadores de decisões das organizações que atuam em nossa sociedade, diante disso, tem-se a importância de que estes profissionais não saiam da universidade como meros interpretadores de fatos, mas sim como participantes destes fatos e para isso necessitam de orientações de professores para a tomada de decisão em situações complexas (Estudantes SE; CL; KZ; HB, REL02, p. 2). Este ambiente diferente da aula provocou deslocamento da realização do trabalho dos acadêmicos da forma clássica de resolução de casos elaborados para sua interpretação e participação dinâmica na atividade. Assim, tiveram a oportunidade de analisar as diversas situações problemas da prática profissional com informações oriundas de suas próprias ações. A partir de um processo mediado de interpretação e análise dos fatos, o professor pode auxiliar no desenvolvimento dos acadêmicos para que estes tivessem condições de realizar para além da análise dos acontecimentos ali vivenciados. O trabalho docente passa a ser o de provocar novas situações de aprendizagem em que seja exigida a articulação dos conhecimentos cognitivos ressignificados pela sua mobilização mediada em ações de interação social participativa e pelas relações políticas colaborativas. Esta nova situação de aprendizagem necessita motivar os acadêmicos para a elaboração de novas ações de trabalho, que os estimule ao estabelecimento de novos objetivos que oportunize o desenvolvimento de suas funções psicofisiológicas superiores, propiciando-lhe motivos para agir de maneira a lhes propiciar o desenvolvimento de uma nova atividade principal. 6.4 A aula de análise geral da atividade de interação com integração de aprendizagens O que se procurou demonstrar com essa abordagem está no fato de que ao se propor realizar pesquisas relacionadas a formas diferentes de desenvolvimento do processo curricular, o professor necessita primeiramente da definição dos procedimentos que irá realizar quais os objetivos educacionais 180 a serem desenvolvidos, a elaboração do material didático e das atividades complementares à aula e que esteja de acordo com os objetivos e conteúdos programáticos curriculares da disciplina em questão. Ao adotar esta postura o professor pesquisador necessita de um tempo significativo para a preparação da aula, tempo esse maior do que o da própria execução da aula. Mesmo com essa preparação prévia, não há garantias de que no ato-evento propriamente dito, sejam evidenciadas lacunas ou melhorias que irão exigir novas análises e ações para suas correções. Ao realizar uma análise geral da proposta de Atividade de Interação com Integração de Aprendizagens uma das primeiras questões a serem observadas está no fato da sua aplicabilidade para o ensino em questão. Esta análise está estruturada, principalmente, acerca das opiniões manifestadas no quinto encontro realizado com os estudantes três semanas após a última dinâmica e da entrega dos relatórios escritos. Em relação à mobilização de conhecimentos, um dos pontos destacados pelos estudantes foi a oportunidade de realização de uma atividade prática, mesmo que simulada, no curso de Administração. Essa carência de ações que oportunize outras maneiras de entender o conteúdo é vista como uma lacuna existente no curso, muito embora os estudantes percebam a importância da teoria. “Na faculdade tem que ter um pouco de prática. A gente aprende um monte de coisa aqui e acha que nunca vai utilizar” (ESTUDANTE AA, 0:20:18-DVD5). Ao realizar ações didáticas em que seja necessária a articulação dos diversos conhecimentos auxiliam os estudantes a entenderem os motivos que levam o estudo do conteúdo e suas interações. “As aulas práticas fazem com a gente fixe mais o conteúdo. Tu não estás só na teoria. Ali, tu estás vivenciando” (ESTUDANTE GC, 0:22:23-DVD5). O Estudante OS comenta que ao cometer um erro no desenvolvimento do processo, esse erro foi percebido e influencia no resultado dos outros colegas. Diante desta situação foi necessário pensar no que houve de errado e corrigir. “O cálculo de MRP estava correto, mas no processo em si não se calculava a falha que ocorreu ali” (ESTUDANTE GC, 0:24:08-DVD5). Esta argumentação demonstra que a estudante conseguiu visualizar, que embora o desdobramento da teoria estivesse correto, algumas ações não ocorrem como o planejado e que medidas para a sua correção são necessárias, de maneira 181 que a atividade desenvolvida também foi percebida como a realização de uma prova prática. Ao realizar as atividades propostas era “como se fosse uma prova prática” (Estudante OS, 0:22:50-DVD5). Na mesma perspectiva a Estudante SE se manifestou acerca da sistemática tradicional de avaliação que é realizada por meio de “uma ou duas provas no semestre. A gente escreve, tu (professor) vai corrigir, vai ver onde foi o erro. Tá, é assim, mas a gente não vai gravar. Assim, a gente errou na frente de todo mundo, corrigiu e viu como é o certo” (0:23:05-DVD5). Para o estudante AA na avaliação escrita individual, o erro pode ser percebido pelo próprio estudante, mas no caso da atividade realizada nas últimas aulas, os resultados de um estudante interferem nos resultados dos outros colegas, exigindo que os conhecimentos sejam mobilizados corretamente. Quando são cometidos erros, esses necessitam ser resolvidos ainda na aula, para dar continuidade à atividade. Na visão da Estudante PP (0:49:15-DVD5), “em uma aula prática tu aprende bem mais que na teoria. Se aprende fazendo”. Embora essas considerações acerca de atividades em aulas que oportunizam a articulação dos conhecimentos sejam importantes, para a realização da atividade é necessário que o estudante tenha, primeiramente, compreendido as definições teóricas estudadas, pois quando houver erros no processo ele precisa identificar porque ocorreu e realizar a correções. Nesta perspectiva, com uma fundamentação teórica consistente, os acadêmicos potencializam os inúmeros desdobramentos profissionais em que aquele conceito é usado. “Na faculdade tem que ter um pouco de prática. A gente aprende um monte de coisa aqui e acha que nunca vai utilizar. Assim, não se da tanta importância, pois pensa que não vai utilizar” (Estudante AA, 0:20:18-DVD5). Embora o estudante comente que haja um aprendizado das teorias estudadas, muitas vezes não conseguem realizar a projeção para um momento futuro de sua carreira profissional, não dando a devida importância para o seu estudo. Estudante GC: Sobre esse conteúdo (PMM e MRP) eu entendi, mas não via para que serviria. Tá, este cálculo é para quê? Agora quando a gente estava naquele esquema de uma fábrica eu vi. Agora vi para que vamos utilizar esses cálculos. Estudante PP: Quando eu saio de uma aula teórica, em que só são passados slides, eu vou para casa e não penso na aula. Eu vou pensando em outra coisa. Quando foi feita a aula das canetas e a última, a dos blocos de notas, eu saí falando que a aula foi bem legal. 182 Eu consegui aprender isso, isso e isso. Já numa aula teórica a gente não sai falando. Estudante ZQ: Numa aula prática a gente consegue ver bem todas as teorias com suas implicações. Estudante PP: Em uma aula prática tu aprende bem mais que na teoria. Se aprende fazendo (0:47:48-DVD5). A dificuldade apontada sobre a transposição dos conhecimentos teóricos para as ações da carreira e a ausência de motivos para a continuidade dos debates do conteúdo após a aula demonstram algumas das limitações que os acadêmicos possuem em relação a sua formação profissional. Essa visão se aproxima da opinião de estudantes de Administração, em Minas Gerais, acerca da dificuldade de correlacionar a teoria debatida em sala de aula com as situações da prática profissional (LOURENÇO; KNOPP, 2011). Um dos motivos deste fato foi analisado por Dornelles (2006) ao constatar que a visão de muitos estudantes de Administração ainda se encontra focada em um aprendizado segmentado. A autora comenta que muitos estudantes objetivam, durante a realização do curso, apenas a eliminação de matérias e não um entendimento significativo dos conteúdos administrativos. Essa postura limita a capacidade de relacionar os diversos conteúdos com suas futuras tomadas de decisões na carreira profissional. Como resultado, ouve-se a queixa dos graduados, ao saírem da universidade, que não conseguem, num primeiro momento, relacionar o que foi estudado com as ações profissionais inerentes à profissão (SILVEIRA, 2009). Ao se tornarem autores de suas práticas, os estudantes alteram suas percepções acerca da teoria envolvida na resolução das situações de ensino e se oportuniza uma reflexão acerca dos desdobramentos das ações realizadas em aula para uma análise prática. Ao fim da dinâmica foram debatidos todos os acontecimentos ocorridos, tentamos imaginar isso em uma empresa de grande porte com vários setores e produtos, se numa simples empresa como a nossa, ocorreram todos esses problemas, o que dirá numa empresa maior (Estudantes GC; ZQ, REL04, p. 3). Mesmo com a limitação inerente a qualquer didática de ensino, as análises realizadas com os estudantes acerca de suas ações lhes oportunizaram momento de significação e ressignificação de conhecimentos. Foi um momento que o docente pode questionar sobre os motivos das ações 183 realizadas e provocar a identificação das ações que foram realizadas e quais as lacunas identificadas. O desenvolvimento de um estudo dinâmico realizado em sala de aula, envolvendo tanto planejamento como efetividade da produção permite esta avaliação do todo que envolve uma organização. A socialização de problemas observados, bem como a seleção de medidas a serem tomadas, envolve pontos de vista de alunos que atuaram em todos os setores, abre espaço para uma discussão abrangente e, certamente, construtiva (Estudantes SE; CL; KZ; HB, REL02, p. 2). Ao conduzir a atividade reflexiva coletiva dos fatos, o professor necessita ter como objetivo a busca da tomada de consciência (LEONTIEV, 1978b), por parte dos estudantes, acerca dos conhecimentos e articulações empregadas na atividade didática a título de oportunizar condições de planejamento de novas ações que serão necessárias serem realizadas para a sua solução e, a partir dessas propostas, arguir sobre as inúmeras possibilidades de desdobramentos daqueles conhecimentos para suas futuras atividades profissionais. Assim, a Atividade de Interação com Integração de Aprendizagens se apresenta como uma alternativa de ação didática para reduzir a lacuna de compreensão das questões teóricas e suas implicações profissionais na área de Administração da Produção. Além da questão de desenvolvimento de conhecimentos teóricos e práticos acerca dos conteúdos curriculares abarcados pela disciplina, a atividade desenvolvida oportunizou, a partir desses conhecimentos, a mobilização de interações sociais entre os colegas de turma. Embora o desenvolvimento de conhecimentos cognitivos seja uma das principais ações que a universidade desenvolva nos acadêmicos, ao realizar atividades didáticas em que as condições e o resultado do trabalho acadêmico seja atingido mediante o estabelecimento de objetivos sociais coletivos. No relato a seguir é possível observar a necessidade de um conhecimento cognitivo para o desenrolar das atividades, mas para se atingir os resultados era necessária a articulação coletiva dos acadêmicos. Percebe-se, que esta dinâmica nos proporcionou o entendimento amplo das atividades de produção manufatureira das fábricas. Através desta, podemos tomar conhecimento de várias interferências 184 – internas e externas – e peculiaridades invisíveis a nossa cognição quando tínhamos apenas o conhecimento teórico das atividades produtivas. Entre estas interferências podemos destacar como pontos cruciais a falta de contribuição, apoio, companheirismo e união das pessoas que integravam o setor produtivo (Estudantes ZW; GB; SM, REL05, p. 9). Assim, durante a aula de Articulação Dinâmica de Aprendizagens, os acadêmicos realizam as suas tarefas de maneira que cada um tivesse uma função distinta e definida. Em cada uma dessas funções foram estabelecidos processos e operações individuais necessários para a conclusão de sua ação. Essa ação não era conclusa nela própria, ela era parte de um conjunto de ações cujo resultado pode ser atingido pela finalização dos demais processos executados por outros colegas, todos com suas funções distintas e definidas. Na perspectiva da teoria da atividade, essas ações individuais são operacionalizadas para a consecução dos objetivos da coletividade. O conhecimento é articulado pelas formas sociais de participação. Por meio dessas interações, mediadas pelo motivo-objetivo materializado na construção de um objeto comum ao grupo, se potencializa a construção de ações coletivas que, por meio da análise das significações concretas possibilitam o entendimento das interações sociais para a sua concretização pela ação coletiva. Não basta apenas ter o conhecimento técnico da área para que as ações sejam realizadas como diz a teoria. Outros fatos inerentes à vida ocorrem em um ambiente organizacional, que não estão contemplados na literatura. Eles emergem durante a execução do trabalho coletivo e a sua solução, muitas vezes, não é alcançada apenas com o desenvolvimento do cognitivo. No relato da estudante GC (0:24:08-DVD5) é possível observar bem essas duas dimensões: “O cálculo de MRP estava correto, mas no processo em si não calculava a falha que ocorreu ali. (...) Por mais que se tenha a teoria, para trabalhar na produção de uma empresa, a gente tem que ter um jogo de cintura para estes acontecimentos que ocorrem”. O problema que a estudante GC trata exigia uma ação interligada de dois ou mais setores. Como alguns acadêmicos buscaram, durante a realização da atividade, apenas atingir individualmente o seu melhor desempenho cognitivo ou do uso da técnica de cálculo, eles não perceberam que a resolução só ocorreria ao realizar o melhor desempenho oriundo da ação 185 cooperativa. Ao refletir sobre os comportamentos dos colegas em relação social de trabalho, pode-se perceber a diferença de visão entre duas estudantes acerca de possíveis cobranças por resultados nas organizações reais: Estudante SE: Imagina se numa organização, numa empresa todo mundo se metesse e realizando tudo ao mesmo tempo. Como não seria se tudo o que acontece ali ocorre lá? Seria difícil. Professor: Você acha que isto não acontece em uma empresa? Estudante MS: Eu acho que acontece pior... Estudante SE: Eu acho que não deveria acontecer. Estudante MS: Também acho que não deveria, mas acontece. Lá tudo é real. Lá tem tempo mesmo, rola dinheiro, se tem muito erro, acho que rola muito mais pressão. Eu acho que sim. Imagina se eu trabalhasse em uma empresa assim? Turma: risos. Estudante SE: Se ocorre isso, eu acho que deveria fazer um trabalho psicológico então. Turma: risos novamente. Estudante SE: Porque isso não é normal. Professor: Se você tivesse que trabalhar numa empresa assim, como você se sentiria? (a estudante MS se movimenta para frente, apoia os cotovelos na mesa e a cabeça nas mãos e fica olhando para o alto e não responde). Como vocês se sentiram ao final daquela aula? Estudante ZQ: Cansada. Professor: Que tipo de cansaço? Estudante ZQ: Mental e psicológico. Estudante MS: Eu acho que se eu não conseguisse atingir os objetivos eu me sentiria insignificante. Se eu não conseguia fazer nada, se eu não colaborasse com nada para a empresa eu me sentiria péssima (0:42:04-DVD5). Ao projetar os sentimentos acerca da pressão social sofrida durante a execução do trabalho foi possível verificar, à luz da teoria da atividade, que os estudantes realizaram um movimento de ação reflexiva acerca das interações sociais vivenciadas e essa ressignificação implica na transformação, tanto das suas ações quanto da atividade como um todo. Esse momento, de tentativa de transposição da situação vivenciada, realizando uma projeção deste aprendizado para futuras situações que poderão ocorrer em sua carreira como administrador, oportunizou a tomada de consciência acerca da influência das relações humanas de trabalho em possíveis situações da vida profissional. Uma vez que as ações inovadoras são reconhecidas e adotadas por outros, elas podem ser transformadas em novas formas de atividades. Nesta fase crítica de transição de novas ações para novas atividades coletivas, o sujeito torna-se consciente das contradições de suas atividades atuais e começa a desenvolver as novas 186 atividades, relacionando-as com novas ressignificações para o futuro (SANNINO, 2011, p. 573). Nesta perspectiva, uma segunda análise que pode ser feita acerca do depoimento, que é a mudança da atividade principal sobre as futuras ações a serem realizadas. Na opinião do estudante OS (0:38:20-DVD5) “agora nós já fizemos a análise crítica. Nós já olhamos para o todo e vimos os pontos que deram errado, o porquê e o que poderia melhorar. Baseado nisso, seria um passo adiante”. Assim, evidencia-se a importância da sistematização como a última etapa da Atividade de Interação com Integração de Aprendizagens para que os estudantes façam uma reflexão sobre suas ações com vista a se tornarem conscientes das questões referentes a sua aprendizagem. “Por isto que esta análise é importante. A gente pode ver o que estava errado e foi falando” (Estudante BZ, 0:38:40-DVD5). A partir dessa compreensão dos fatos se oportunizou o deslocamento de suas funções psicofisiológicas superiores para novos motivos e objetivos a serem atingidos. “Se nós fizéssemos hoje, de novo todo aquele teatro, iria dar mais certo. O resultado seria mais positivo. Eu acho que não iriam ocorrer erros ou seriam minimizados, porque a gente já sabe a situação como funciona” (Estudante SE, 0:38:05-DVD5). Agora o objetivo da aprendizagem foi alterado, não é mais uma questão em que o docente necessita realizar um esforço inicial para demonstrar os motivos e objetivos de seu estudo. A meta de realizar novamente a atividade, a partir dos fatos ocorridos e corrigir os erros passa a ser os novos objetivos dos acadêmicos e esta nova caminhada da ação abre espaço para novas pesquisas acerca da Atividade de Integração com Interação de Aprendizagens. Este mesmo fato também pode ser analisado no que se refere à mobilização das relações políticas. Ao realizarem a análise dos fatos ocorridos na dinâmica ocorre um debate acerca das relações de poder. Como a prática da ação coletiva em aula não é uma didática corriqueira dos acadêmicos, inicialmente ocorrem muitos problemas de interações sociais a ponto do pensamento individualista predominar em relação a uma ação colaborativa e cooperativa. Essa visão de que ao centralizar em uma pessoa a coordenação das atividades é o meio de resolução dos problemas. Veja, no trecho a seguir, como esta visão é defendida pelos acadêmicos: 187 Estudante HB: Seria interessante, para o bom funcionamento, alguém que supervisionasse todos os setores. Cada setor via o que era importante para si, cada um se focava no era importante para o seu setor e não via o quanto era importante os outros setores para o todo. Estudante MS: O que ocorria é que cada um cuidava do seu, mas os produtos não chegavam aos setores seguintes, o que acabava atrapalhando o trabalho dos outros. Estudante HB: Os setores reclamavam, mas não ia ver qual era o problema do outro, ou seja, não sabiam por que não estava chegando. Professor: Por que vocês não tomaram a iniciativa de propor uma organização dessas para a atividade? Estudante MS: Cada um se preocupou com os seus afazeres. Ai a gente não iria fazer mais nada. Estudante SE: É que tiveram alguns funcionários que só cobravam, almoxarifado entrega isso, almoxarifado falta aquilo, o almoxarifado está atrasado. O colega OS sabe bem o que é isto. Turma: risos Estudante OS: Não teve tanta intervenção de outros colegas por eles não saberem o que fazer. Estudante SE: É! Ficaram... (cruzando os braços e os projetando para frente e os apoiando sobre a mesa). Estudante OS: Eu fiquei concentrado no que tinha que fazer no meu setor e vou procurar fazer isto bem. Agora eu vejo que naquele setor a coisa não vai bem, mas eu não sei o que fazer para ajudar eles! (0:27:38-DVD5). Neste trecho foi possível observar a visão tradicional Taylorista de que para haver um bom desempenho do processo industrial é necessário que haja a centralização das tomadas de decisão em detrimento de uma equipe que somente reproduz essas decisões. Ao assumirem o papel de operadores de setores considerados de chão de fábrica, os estudantes ficavam no aguardo das deliberações e soluções dos problemas oriundas daqueles. Alguns chegaram ao ponto de se levantar da cadeira, falar em tom acima da média, cobrando deliberações dos demais setores e voltar a sentar e conversar com os colegas que estavam na observação da atividade. Atitudes como essa demonstram um pensamento individualista que os afastam dos princípios contidos na teoria da atividade de que os objetivos sociais são atingidos mediante a cooperação, mesmo que realizados por ações individuais dos envolvidos, no contexto do trabalho coletivo. A busca de uma autoridade formal pode ser visto, para Morgan (2010, p. 195) como “um tipo de poder legitimizado que é respeitado e reconhecido por aqueles com quem alguém interage”. A essa pessoa é reconhecido o direito de comandar as ações e que os demais necessitam respeitar. Quando não há esse tipo de obrigação, ocorre “um vácuo, e o poder depende de outras fontes” (idem). Na visão de 188 Sannino (2011), ao realizar a análise da ação individual para o resultado da atividade coletiva se evidencia uma distinção crítica e complexa entre essas duas unidades de análise. Como resultados dessas ações, os acadêmicos que estavam realizando os processos preliminares sentiram-se pressionados. Veja no depoimento do Estudante OS (0:30:37-DVD5), acerca destes fatos, como ela foi percebida: “aquela pressão, não foi só uma pressão, foi uma angústia, uma vontade, foi um medo, foram várias coisas. Só que foi gostoso, porque deu para vivenciar como ocorre uma pressão de verdade”. Para Leontiev (1978a) é pelas formas de relações de trabalho que se possibilitam significações concretas para o desenvolvimento do psíquico humano. Ao continuar seus comentários, acerca do mesmo fato, o Estudante OS (0:30:45-DVD5) demonstra a tentativa de solução dos problemas e um senso de responsabilidade para o atingimento dos objetivos sociais: “Eu não estava com a postura de que se referre isto. Não. Eu queria terminar aquilo ali. Eu queria desenrolar. Só que em determinado tempo caíram várias coisas na minha mesa e todo mundo naquela pressão”. Observa-se que as condições de “pressão” durante a realização do trabalho coletivo dificultavam que o estudante pudesse tomar uma posição acerca das ações necessárias para a continuidade da tarefa, embora ele demonstrasse desejo de comprometimento com sua execução. “Conexões e colaboração por si mesmas podem ser benéficas, mas elas não garantem que o objeto conjunto da atividade seja transformado de uma maneira produtiva” (ENGESTRÖM; KEROUSO, 2007, p. 337). Nessa perspectiva, a ação individual dos colegas de apenas cobrarem por contribuições dos outros, sem colaborarem ativamente no enfrentamento e solução dos problemas vivenciados, não lhes proporciona condições para uma integração e expansão dos aprendizados associadas com o desenvolvimento de funções psicofisiológicas superiores. Pelo contrário, ao atuarem dessa maneira, reiteram o clima de individualismo e de competição frente à necessidade de uma solução que atinja os objetivos sociais envolvidos. Não cabe, nos limites desta tese, uma análise representativa da amplitude de dados que também seriam importantes de serem tomados como objeto de análise e discussão. Por isso, em se tratando de uma pesquisa de 189 caráter qualitativo, cabe, intencionalmente, encaminhar a presente escrita para uma última análise, direcionando o olhar para o conjunto dos acontecimentos vivenciados nas quatro aulas que compuseram o campo empírico da Atividade de Interação com Integração de Aprendizagens. A decisão recaiu em destacar o excerto a seguir citado: A dinâmica é uma ferramenta prática e expositiva dos conteúdos abordados durante as aulas. É uma ferramenta pedagógica de excelentes resultados, pois faz com que os alunos tenham um feedback positivo dos conteúdos explanados com a participação de todos (Estudantes MB; TZ, REL10, p. 5). Nesta análise sucinta é possível identificar que os resultados de desenvolvimento dos conhecimentos curriculares são atingidos com o envolvimento, cooperação e participação para o atingimento dos objetivos sociais e suas significações para o desenvolvimento profissional dos acadêmicos. Em relação à possibilidade de novos entendimentos do conteúdo e de interação de aprendizagens, “a aula foi produtiva facilitando a compreensão do programa mestre de manufatura, planejamento das necessidades de matérias e todo conteúdo ministrado nas unidades I e II desta disciplina” (Estudantes Fl; JM; BB, Rel01, p.6). A Atividade de Interação com Integração de Aprendizagens é uma estratégia de aprendizagem universitária que oportunizada o desenvolvimento dos conteúdos curriculares e possibilita, mediante suas análises, a ampliação dos conhecimentos para além daqueles estabelecidos nos programas curriculares (ENGESTRÖM, 1991). Por meio da tomada de consciência dos resultados da atividade implicados pela personalidade de cada sujeito (LEONTIEV, 1978b), é uma experiência formativa dinâmica que propicia, aos participantes ativos, novas vivências em aulas, cuja aprendizagem cruza as fronteiras da universidade. Esse outro contexto possibilita ao acadêmico, a mudança de visão acerca dos motivos de sua aprendizagem curricular além da projeção de atitudes necessárias sobre sua futura carreira profissional na área de produção. 7 CONSIDERAÇÕES FINAIS É momento, nesta tese, de chegar a um final da elaboração escrita sobre o conjunto de ações cujos processos e operações foram realizados por motivos que levaram à concretização dos objetivos, previamente propostos, cujos ciclos de atividades foram objetivados, neste instrumento de trabalho escrito, denominado tese. Ao longo desta caminhada houve interações sociais colaborativas de inúmeras pessoas que, por meio de suas intervenções pedagógicas e sociais, cujas relações possibilitaram significações concretas que, pelas mediações ocorridas durante as orientações, com vistas à tomada de consciência de um processo de desenvolvimento em transformação, oportunizou uma experiência enriquecedora, que possibilitou o desenvolvimento da Atividade de Interação com Integração de Aprendizagens. Essa caminhada permitiu chegar ao alcance do objetivo de identificar e analisar características, potencialidades e limites da Atividade de Interação com Integração de Aprendizagens para o entendimento pedagógico do conteúdo de Administração da Produção, com vistas à compreensão de suas relações com a formação para a atuação nesse campo profissional, à luz da teoria da atividade. Ao abarcar a metáfora de professor-pesquisador e com uma fundamentação centrada na teoria da atividade, foi elaborada a sequência de aulas que oportunizaram a reflexão integrada entre o conteúdo e a didática em um processo com objetivos coletivos, mesmo com funções distintas e definidas dos sujeitos, que oportunizou a constante transformação do conhecimento. Ela é enriquecida de interações oriundas, inicialmente, da mediação docente por meio de situações de ensino desenvolvidas até sua transformação em novas situações de aprendizagem articuladas em aula. Após esta primeira explicitação, pela pesquisa, da Atividade de Interação com Integração de Aprendizagens, ao fazer uma projeção para outros contextos e conteúdos, abrem-se importantes possibilidades de pesquisas acerca da adequação e elaboração de sequências de ações didáticas que possam ser realizadas em forma de ciclos de atividades de aprendizagens que 191 oportunizem o desenvolvimento, tanto dos estudantes quanto do próprio professor-pesquisador. Na perspectiva do movimento de mudança de atividade principal por parte do professor pesquisador, ao longo da proposição e elaboração desta tese, a reflexão se volta para a mudança do motivo inicial, quando do projeto de candidatura ao curso de doutorado. O projeto era o de elaborar uma proposta de simulação que propiciasse uma melhor formação dos estudantes, numa visão técnica, alienante e limitada, no sentido de que os resultados contribuíssem apenas na direção do setor empresarial. Ao tomar consciência de que esta é apenas uma pequena parte do processo pedagógico, ainda que o conteúdo contemplasse a dimensão técnica, as ações para a sua transformação em conhecimento pedagógico passaram a ser envoltas por outras dimensões e interações humanas, tendo em vista ao olhar outro para o próprio ato-evento pedagógico em processo de (re) construção. Não bastava apenas demonstrar, praticamente, em aula, algumas situações da atuação profissional relacionadas com o conteúdo do ensino. Outros elementos de análise passaram a se tornar necessários, fazendo parte das elaborações dos estudantes, para que eles também vivenciassem processos de tomada de consciência dos fatos ocorridos e dos entendimentos sobre eles, na relação com escolhas e tomadas de decisão, a partir de motivos outros, para além do mero cumprimento das tarefas tipicamente exigidas para obter aprovação na disciplina. Outro deslocamento da atividade principal ocorreu no momento em que, no processo da aula, o professor necessitava superar a ansiedade frente ao desafio de não dar as respostas prontas aos estudantes, mesmo que esta fosse cobrada, embora, em alguns momentos fosse necessário a orientação dos acadêmicos por meio de dicas. Foi necessário propiciar o tempo pedagógico, mesmo diante de tumultos, como percebido em alguns momentos das últimas aulas, para privilegiar momentos de análise e reflexão sobre as posturas e os comentários dos estudantes acerca de suas próprias vivências. Era importante que eles percebessem o que estavam fazendo e aprendendo, para além do conteúdo em si, e isso exigia (re) orientá-los com devidas intervenções, para ajudá-los a sair da condição não participativa e individualista para outra, colaborativa, com a qual não estavam acostumados, com 192 deslocamento da posição ocupada pelo professor, na atividade principal como docente. Estes movimentos foram possíveis, primeiramente, pelo fato de ao organizar o novo desenvolvimento da proposta, junto com as categorias prévias de análise, haver problematizações e questionamentos acerca das ações inerentes ao papel do próprio docente durante as atividades em aula. Um segundo momento, mais significativo, foi durante o processo de análise dos dados oriundos da atividade desenvolvida. Ao abarcar a metáfora do professor pesquisador à luz da teoria da atividade, também houve um olhar, durante a fase de análise das próprias ações, às posturas adotadas. O pesquisador também analisou sua atuação como professor e fez suas autocríticas acerca da sua prática à luz das mesmas categorias de análise que estão sendo utilizadas na pesquisa. Essa interação oportunizou também um processo de tomada de consciência dos fatos ocorridos não somente para o pesquisador, mas com implicações ao professor, em relação de dupla reciprocidade, pelo que essa atividade propicia ao conjunto do trabalho e da formação do docente. Noutra perspectiva de relação, as fundamentações conceituais abrangidas na pesquisa, em conjunto com as ações didáticas realizadas com as turmas de acadêmicos, oportunizaram subsídios para responder as questões de pesquisa, em termos das contribuições da teoria da atividade para o desenvolvimento pedagógico do conteúdo de Administração da Produção; das características e de como ocorre o desenvolvimento de conhecimentos; dos sentidos profissionais produzidos pelos estudantes na Atividade de Interação com Integração de Aprendizagens. Das diversas condições para o desenvolvimento do trabalho acadêmico, intencionalmente elaborados, emergiram lacunas no decorrer de seu desenvolvimento. Ao se depararem com situações que, habitualmente não são vivenciadas no ambiente educacional, os estudantes necessitaram mobilizar, em um ambiente de aprendizagem dinâmico, os conhecimentos técnicos da área para a identificação das causas do problema cujos dados não estavam disponíveis em um relatório ou estudo prévio para a seleção das informações que melhor conviessem para a elaboração de uma tomada de decisão. Esse fato foi um ganho significativo para os acadêmicos, pois eles necessitavam 193 realizar o diagnóstico do problema, no qual os dados eram primários e em constante transformação. A tomada de decisão também passou por circunstâncias dinâmicas. À medida que o problema foi sendo identificado, bem como sua forma de sua solução também exigia ação nos processos do objeto cultural e pedagogicamente representado. O resultado da ação individual, a partir de suas atitudes ativas – tanto as colaborativas, quanto as individualistas – e das passivas, afetava o desempenho do trabalho coletivo objetivado nas dificuldades vivenciadas durante a construção do objeto. Essa condição de trabalho coletivo gerou movimentos de interações intersubjetivas para além do conhecimento científico ali articulado. As atitudes de passividade dos estudantes, tanto a da não participação em aula, quanto da espera da resolução do problema por parte do docente ou dos outros colegas, demonstravam uma postura de distanciamento em comprometimento na resolução de situações em um ambiente de aprendizagem, que não exigissem a mobilização de outros conhecimentos além dos estudados. Ao refletir sobre essa situação e projetar uma ação que se contrapunha a ela, vinha ao pensamento a ideia da participação ativa dos estudantes. Ao analisar, qualitativamente, essa participação, sob a perspectiva da mobilização das interações sociais e das relações políticas, observou-se que as ações predominantes nos acadêmicos ainda eram a individualista, competitiva, de cobrança de resultados e desempenhos do outro, da visão que uma pessoa deva organizar e legitimar as suas ações individualistas em nome de um resultado coletivo. O outro comportamento ativo dos acadêmicos, tanto em momentos de ação em grupo quanto a realização de suas tarefas individuais para a realização do todo, foi o responsivo colaborativo. Essas atitudes foram as que possibilitaram, significativamente, o real desenvolvimento dos processos com vista a alcançar os objetivos propostos. Sob este grupo também recaíram as cobranças e as ações pertinentes às soluções dos problemas ocorridos. Ao defender a ideia de participação ativa dos estudantes, é importante se questionar sobre o tipo de participação que se pretende, que perfil de comportamento ativo a universidade privilegia e busca desenvolver. Logo, não 194 basta que haja uma participação ativa dos estudantes sem que traga melhorias ao desenvolvimento das condições do trabalho coletivo. É importante que as interações existentes entre os colegas sejam analisadas para que reflitam sobre a influência que as formas de condições intersubjetivas propiciam para o desenvolvimento do trabalho saudável e colaborativo. Assim, ao olhar para as interconexões entre as três categorias de análise, articuladas no processo pedagógico da Atividade de Interação com Integração de Aprendizagens, oportunizou-se a articulação objetiva e subjetiva dos conteúdos pela vivência. Pelas formas de relações e de mediação intersubjetiva que possibilitaram novas significações subjetivas que, por sua vez, podem transformar dinamicamente as condições objetivas e estas serem novamente significadas. A reflexão destas ações, em interações pedagógicas, oportuniza o enriquecimento do aprendizado de maneira a mobilizar, não somente os conhecimentos científicos e técnicas de trabalho da área de estudo específica, mas que sejam articuladas, conjuntamente, as questões intersubjetivas sociais e políticas com vistas à tomada de consciência das significações concretas dos conhecimentos acadêmicos, conjuntamente com o seu desenvolvimento humano. REFERÊNCIAS ALFALLA-LUQUE, Rafaela; MEDINA-LÓPEZ, Carmen; ARENAS-MÁRQUEZ, Francisco J. Mejorando la formación en Dirección de Operaciones: la visión del estudiante y su respuesta ante diferentes metodologías docentes. Cuadernos de economía y dirección de la empresa. Madrid, España, v. 14, n. 1, p. 4052, 2011. DOI:10.1016/j.cede.2011.01.002. AMBONI, Nério; ANDRADE, Rui Otávio Bernardes de. Projetos pedagógicos para cursos de administração. São Paulo: Markon Books, 2002. AMORIN, Anderson Luis Walker et al. Relatório das melhorias implementadas no processo de fabricação de livros de bolso: uma simulação vivencial da manufatura em sala de aula. Congresso virtual brasileiro de administração. Anais do VII Convibra Administração, 2010. ANGRAD. Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração. Sobre a revista - RAEP. Disponível em <http://www.angrad.org.br/revista/>. Acesso em: 20 abr. 2013. ARAGÃO, José Euzébio de Oliveira Souza. Cursos de administração e políticas de avaliação do ensino superior no estado de São Paulo (19952006). 2008. Tese (Doutorado em Educação), Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2008. ARCE, Alessandra. O jogo e o desenvolvimento infantil na teoria da atividade e no pensamento educacional de Freidrich Froebel. Caderno Cedes, Campinas, v. 24, n. 62, abril 2004, p. 9-25. ARRUDA, José Ricardo Campelo; ANTUÑA, José Marín. Un sistema didáctico para la enseñanza-aprendizaje de la física. Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 23, n.3, 2001, p.329-350. BAKHTIN, Mikhail Mikhailovitch. Para uma filosofia do ato responsável. São Carlos: Pedro e João Editores, 2010. BAKHTIN, Mikhail Mikhailovitch; DUVAKIN, Viktor. Mikhail Bakhtin em diálogo – conversas de 1973 com Viktor Duvakin. São Carlos: Pedro e João Editores, 2008. BARROS, Amom Narciso de et al. Apropriação dos saberes administrativos: um olhar alternativo sobre o desenvolvimento da área. Revista de Administração Mackenzie. São Paulo, v. 12, n.5, set./out. 2011. BEGG, David; FISCHER, Stanley; DORNBUSCH, Rudiger. Introdução à economia: para cursos de Administração, Direito, Ciências Humanas e Contábeis. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. 196 BERNARDES, Maria Eliza Mattosinho; MOURA, Manuel Oriosvaldo de. Mediações simbólicas na atividade pedagógica. Educação e Pesquisa. São Paulo, v.35, n.3, p.463-478, set./dez. 2009. BINI, Márcia Bárbara. Pesquisar é construir argumentos: um caminho para a superação. In: GALIAZZI, Maria do Carmo et al. (Orgs): Construção curricular em rede na educação em ciências: uma proposta de pesquisa na sala de aula. Ijuí: Ed. UNIJUÍ, 2007. BOCK, Ana Maria Bahia; AGUIAR, Wanda Maria Junqueira. Psicologia da educação: em busca de uma leitura crítica e de uma atuação compromissada. In: BOCK, Ana Maria Bahia. A perspectiva sócio histórico na formação em psicologia. Petrópolis: Vozes, 2003. BOYER, Kenneth; VERMA, Rohit. Operations & supply chain management for the 21th century. Mason, USA: Cengage, 2010. BRASIL. Lei 4.769 de 09 de setembro de 1965. Brasília, 1965. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4769.htm> Acesso em: 02 abr. 2012. ______. INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS. INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. Evolução - 1980 a 2007. Brasília, 2011. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/web/censo-da-educacao-superior/evolucao-1980-a2007>. Acesso em: 23 jun. 2011. ______. Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES. Critérios de avaliação trienal. Triênio avaliado 2004 – 2007. Área de avaliação: administração/turismo. 2006. Disponível em: <http://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/CA2007_Administ racaoTurismo.pdf >. Acesso em: 03 jan. 2013. ______. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. Resolução n° 4. Brasília, 2005. Disponível em: <http: portal.mec.gov.br/cne/arquivo/pdf/rce004_05.pdf>. Acesso em: 02 abr. 2012. BRUM, Argemiro Jacob. O desenvolvimento econômico brasileiro. 28 ed. rev. e atual. Petrópolis, RJ: Vozes; Ijuí, RS: Ed. UNIJUÍ, 2011. CARR, Wilfred; KEMMIS, Stephen. Teoría crítica de la enseñanza. Barcelona: Martínez Roca, 1988. CARVALHO, Maria de Fátima. Aspectos da dinâmica interativa no contexto da educação de crianças e jovens com síndrome de Down. In: GÓES, M. C. R.; SMOLKA, A. L. B. A significação nos espações educacionais: interação social e subjetivação. Campinas, SP: Papirus, 1997. CEDRO, Wellington Lima; MOURA, Manoel Oriosvaldo de. O espaço de aprendizagem e a atividade de ensino: o clube de matemática. In: VIII Encontro 197 Nacional de Educação em Matemática. Anais do VIII ENEM, Recife, PN, p. 116, 2004. CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO – CNPq. Tabela de áreas de conhecimento. Disponível em: <http://www.cnpq.br/documents/10157/186158/TabeladeAreasdoConhecimento .pdf>. Acesso em: 10 dez. 2012. COSTA, C. Sociologia: introdução a ciência da sociedade. 2 ed. São Paulo: Moderna, 1997. CUNHA, Maria Isabel da. Aprendizagem ao longo da vida e avaliação do desempenho profissional. Avaliação, Campinas; Sorocaba, v. 16, n. 3, p. 559572, nov. 2011. ______. Docência na universidade, cultura e avaliação institucional: saberes silenciados em questão. Revista brasileira de educação, Campinas, v. 11 n. 32, p. 258-371, maio/ago. 2006. ______. O professor universitário na transição de paradigmas. Araraquara: JM Editora, 1998. CUNHA, Maria Isabel da; ZANCHET, Beatriz Maria Boéssio Atrib. A problemática dos professores iniciantes: tendência e prática investigativa no espaço universitário. Educação, Porto Alegre, v. 33, n. 3, p. 189-197, set./dez. 2010. DANIELS, Harry. Pegagogy. In: DANIELS, Harry; COLE, Michael; WERTSCH, James V. The cambridge companion to Vygotsky. New York: Cambridge University Press, 2007. DA VEIGA, Cristiano Henrique Antonelli et al. Horizontes do professorpesquisador no contexto de sua prática docente. IX Simpósio de Pesquisa em Educação da Região Sul. Anais... 9. ANPEDSUL, Caxias do Sul: UCS, 2012. DA VEIGA, Cristiano Henrique Antonelli; LIMA, Jesildo Moura; ZANON, Lenir Basso. Rodadas de negócios internacionais: uma proposta didática vivencial de jogos de empresas em sala de aula. Simpósio de administração da produção, logística e operações internacionais. Anais... XV SIMPOI, 2011. DA VEIGA, Cristiano Henrique Antonelli; ZANON, Lenir Basso. Desenvolvimento de texto didático à luz da teoria da atividade: uma proposta de ressignificação na área de administração da produção. XXIV Encontro Nacional dos Cursos de Graduação em Administração. Anais... 24. ENANGRAD, Florianópolis, ANGRAD, 2013. DA VEIGA, Cristiano Henrique Antonelli da Veiga; ZANON, Lenir Basso; ZUCATTO, Luis Carlos. Conhecimento pedagógico de conteúdo no ensino de planejamento das necessidades de materiais. XVI Simpósio de Administração 198 da Produção, Logística e Operações Internacionais. Anais... XVI SIMPOI, 2013. DE LIMA, Clóvis Ricardo Montenegro; LIMA, José Rodolfo Tenório; MOREIRA, Fernanda Kempner. Problematização e racionalização discursiva dos processos produtivos em organizações. Journal of information systems and technology management, São Paulo, v. 7, n. 3, p. 669-692, 2010. DEAQUINO, Carlos Tasso Eira. Como aprender: andragogia e as habilidades de aprendizagem. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. DELOURS, Jacques. Educação: um tesouro a descobrir. Brasília: UNESCO, 2010. DESCARTES, René. Discurso sobre o método: para bem dirigir a própria razão e procurar a verdade nas ciências. Curitiba: Hemus, 2000. DUARTE, Newton. psicologia de A. N. Leontiev. Caderno CEDES, Campinas, vol. 24, n. 62, p. 44-63, abr. 2004. ______. A teoria da atividade como uma abordagem para a pesquisa em educação. Perspectiva. Florianópolis, v. 20, n. 02, p.279-301, jul./dez. 2002. EIDT, Nadia Mara. Uma análise crítica dos ideários pedagógicos contemporâneos à luz da teoria de A. N. Leontiev. Educação em revista. Belo Horizonte, v.26, n.02, p.157-188, ago. 2010. EIDT, Nádia Mara; DUARTE, Newton. Contribuições da teoria da atividade para o debate sobre a natureza da atividade do ensino escolar. Psicologia da educação, São Paulo, v. 24, pp. 51-72, 1º sem. 2007. ELLET, Willian. Manual de estudo de caso: como ler, discutir e escrever casos de forma persuasiva. Porto Alegre: Bookman, 2008. ELLIOTT, John. Recolocando a pesquisa-ação em seu lugar original e próprio. In: GERALDI, C.; FIORENTINI, D.; PEREIRA, E. (Orgs.). Cartografias do trabalho docente – professor(a) – pesquisador(a). São Paulo: Mercado de Letras, 1998. ELLIOTT, John. La investigación-acción en educación. Madrid: Ediciones Morata, 1990. ENGESTRÖM, Yrjö. From design experiments to formative interventions. Theory & Psycology, United Kingston, v. 21, n. 5, p.598-628, 2011. DOI: 10.1177/0959354311419252. ______. Putting Vygotsky to work: the change laboratory as an application of double stimulation. In: DANIELS, Harry; COLE, Michael; WERTSCH, James V. The cambridge companion to Vygotsky. New York: Cambridge University Press, 2007. 199 ENGESTRÖM, Yrjö. Activity theory and individual and social transformation. In: ENGESTRÖM, Yrjö; MIETTINEN, Reijo; PUNAMÄKI, Raija-Leena (Eds.). Perspectives on activity theory. New York: Cambridge University Press, 1999a. ______. Expansive visibilization of work: an activity teorical perspective. Computer supported cooperative work. Netherland, v. 8, p.63-93, 1999b. ______. Non scolae sed vitae discimus: Toward overcoming the encapsulation of school learning. Learning and instruction, v. 1, n.3, p.243-259, 1991. ENGESTRÖM, Yrjö; SANNINO, Annalisa. Studies of expansive learning: Foundations, findings and future challenges. Educational Research Review, v. 5, p.1-24, 2010. DOI 10/1016/j.edurev.2009.12.002. ENGESTRÖM, Yrjö; KEROSUO, Hannele. From workplace learning to interorganizational learning and back: the contribution of activity theory. Journal of Workplace Learning, v. 19, n. 6, p. 336-342, 2007. DOI 10.1108/13665620710777084. FACCI, Marilda Gonçalves Dias. A periodização do desenvolvimento psicológico individual na perspectiva de Leontiev, Elkomin e Vigotski. Caderno CEDES, Campinas, v. 24, n. 62, p. 64-81, abr. 2004. FELICETTI, Vera Lúcia. Pesquisar é buscar e estudar: um aprofundamento no conhecimento. In: GALIAZZI, Maria do Carmo et al. (Orgs): Construção curricular em rede na educação em ciências: uma proposta de pesquisa na sala de aula. Ijuí: Ed. UNIJUÍ, 2007. FISCHER, Beatriz Terezinha Daudt. Docência no ensino superior: questões e alternativas. Educação, Porto Alegre, v. 32, n. 3, p. 311-315, p.311-315, set./dez. 2009. FONTANA, Roseli Cação. Cação. A constituição social da subjetividade: Notas sobre Central do Brasil. Educação & sociedade, Campinas, Ano XXI, nº 71, Jul. 2000. FRADE, Cristina; MEIRA, Luciano. Interdisciplinaridade na escola: subsídios para uma zona de desenvolvimento proximal com espaço simbólico. Educação em Revista, Belo Horizonte, v. 18, n.1, p.371-394, 2012. FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 35 ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996. FRÖNER, Felipe. Qualidade do ambiente laboral e relações de trabalho. Revista do processo de trabalho e sindicalismo, n. 4, Porto Alegre: HS Editora, 2013. GASPARIN, João Luiz. Uma didática para a pedagogia didático-crítica. 5 ed. rev., Campinas, SP: Autores Associados, 2011. 200 GAGNÉ, Robert. Como se realiza a aprendizagem. Rio de Janeiro: LTC – Livros Técnicos e Científicos Editora, 1983. GHEDIN, Evandro. Professor reflexivo: da alienação da técnica à autonomia da crítica. In PIMENTA, Selma Garrido; GHEDIN, Evandro. Professor reflexivo no Brasil: gênese e crítica de um conceito. 4 ed. São Paulo: Cortez, 2006. GIBBS, Graham. Análise de dados qualitativos. Porto Alegre: Artmed, 2009. GIL, Antônio Carlos. Didática do ensino superior. São Paulo: Atlas, 2007. ______. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5 ed. São Paulo: Atlas, 1999. GODOI, Christiane Kleinübing; BANDEIRA-DE-MELO, Rodrigo; SILVA, Anielson Barbosa. Pesquisa qualitativa em estudos organizacionais: paradigmas, estratégias e métodos. São Paulo: Saraiva, 2006. GÓES, Maria Cecília Rafael de. A formação do indivíduo nas relações sociais: contribuições teóricas de Lev Vigotski e Pierre Janet. Educação & sociedade, Campinas, ano XXI, nº 71, Jul. 2000. ______. Pós modernidade, ética e educação. 2 ed. Campinas: Autores Associados, 2005. GRIPP, Glícia. A prática dos professores de ensino superior. Estudos de sociologia, Araraquara, v.15, n.28, p.61-85, 2010. HARVEY, David. Condições pós-modernas. 15 ed. São Paulo: Loyola, 2006. HOBSBAWN, Eric John Earnest. A era dos impérios 1875 – 1914. 13 ed. 2. imp. São Paulo: Paz e Terra, 2011. JARAUTA-BORRASCA, Beatriz; MEDINA-MOYA. La formación pedagógica inicial del profesorado universitario. Repercusión en las concepciones y prácticas docentes. Magis, Revista Internacional de Investigación en Educación, Bogotá, v.1, n.2, p. 357-370, 2009. KEROSUO, Hannele; ENGESTRÖM, Yrjö. Boundary crossing and learning in creation of new work place. Journal of Workplace Learning, v. 15, n. 7/8, p.345-351, 2003. DOI 10.1108/13665620310504837. KOZULIN, Alex. The concept of activity in soviet psychology. American Psychologist, v. 41, n.3, p.264-274, 1986. KRAJEWISKI, Lee; RITZMAN Larry; MALHOTRA, Manoj. Administração de produção e operações. 8 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009. 201 KREUZBERG, Fernanda; RAUSCH, Rita Buzzi. Compreensões de professores que atuam na pós-graduação stricto-sensu sobre professor reflexivo e professor pesquisador. Administração: ensino e pesquisa, Curitiba, v.14, n.1, p. 99-121, jan, fev, mar, 2013. LAPLANE, Adriana Lia Friszman de; BOTEGA, Marilda Baggio Serrano. A mediação da cultura no desenvolvimento infantil: televisão e alimentação na vida cotidiana das famílias. In: SMOLK, Ana Luiza Bustamante; NOGUEIRA, Ana Lúcia Horta. Questões de desenvolvimento humano - práticas e sentidos. São Paulo: Mercado das Letras, 2010. LAUGENI Fernando Piero; MARTINS Petrônio Garcia. Administração da produção. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2006. LAURINO, Débora Pereira; DUVOISIN, Ivone Almeida; ARAÚJO, Maria Santiago. Compreendendo a proposta de projetos de aprendizagem. In: GALIAZZI, Maria do C. et al. (Orgs.) Aprender em rede na educação nas ciências. Ijuí: Ed. UNIJUÍ, 2008. LÉGE, Pierre-Majorique, et al. Authentic OM problem solving in an ERP contexto. International journal of operations & production management, v. 32 n. 12, pp. 1375-1394, 2012. LEITE, Ronaldo Landin. Analise dos desperdícios da manufatura de calçados de acordo com a lógica JIT: estudo de casos múltiplos em empresas fabricantes de sandálias de Juazeiro do Norte. 2006. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção), João Pessoa, Universidade Federal da Paraíba, 2006. LEONTIEV, Alexis Nikolaievtch. O desenvolvimento do psiquismo. Lisboa: Livros Horizonte, 1978a. _____. Actividade Consciência e Personalidade. 1978b. Disponível em <www.dominiopublico.gov.br> Acesso em 10 de dez de 2012. ______. Uma contribuição à teoria do desenvolvimento da psique infantil. In: VIGOTSKY, Lev. S. Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem. São Paulo: Ícone, 1988. LÓPES, Natalia Ruiz. Medios y recursos para la enseñanza de la geometría en la educación obligatoria. Revista electrónica de didácticas específicas, nº 3, pp.1-15, dez. 2010. LOULY, Mohamed-Aly; DOLGUI, Alexandre. Optimal time phasing and periodicity for MRP with POQ policy. International journal of production economics, v.131, n. 1, p. 76-86, 2011. LOURENÇO, Cléria Donizete da Silva; KNOP, Marcelo Ferreira Trezza. Ensino superior em administração e percepção da qualidade de serviços: uma aplicação da escala Serviqual. Revista brasileira de gestão de negócios, São Paulo, v.13, n.39, p.219-233, abr./jul. 2011. 202 LÜDKE, Menga; BARRETO-DA-CRUZ, Giseli, BOING, Luiz Alberto. A pesquisa do professor da educação básica em questão. Revista brasileira de educação, Campinas, v. 14 n. 42 set./dez. 2009. LURIA, Alexander Romanovitch. O cérebro humano e a atividade consciente. In Vigotsky, Lev. S. Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem. São Paulo: Ícone, 1988. MACKE, Janaina. A pesquisa-ação como estratégia de pesquisa participativa. In: GODOI, Christiane Kleinübing; BANDEIRA-DE-MELO, Rodrigo; SILVA, Anielson Barbosa. Pesquisa qualitativa em estudos organizacionais: paradigmas, estratégias e métodos. São Paulo: Saraiva, 2006. MALDANER, Otávio Aloísio. A formação inicial e continuada de professores de química. 3 ed. Ijuí: UNIJUÍ, 2006. MARQUES, Mario Osorio. A aprendizagem na mediação social do aprendido e da docência. 3 ed. rev. Ijuí: Ed. UNIJUÍ, 2006. ______. Conhecimento e modernidade em reconstrução. Ijuí: Editora UNIJUÍ, 1993. ______. Escrever é preciso: o princípio da pesquisa. 4 ed. Ijuí: Ed. UNIJUÍ, 2001. MARTINS, Carlos Fernando. Evolução funcional do planejamento e controle da produção: um estudo de múltiplos casos. Tese (Doutorado em Engenharia Mecânica), Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2007. MARTINS, Carlos Fernando et al. O papel da tecnologia da informação na condução do planejamento e controle da produção: um estudo de caso. GEPROS. Gestão da Produção, Operações e Sistemas, Bauru, ano 3, nº 1, p.77-89, jan./mar. 2008. MARTINS, Lígia Márcia; EIDT, Nádia Mara. Trabalho e atividade: categorias de análise na psicologia histórico-cultural do desenvolvimento. Psicologia em estudo, Maringá, v. 15, n. 4, p. 675-683, out./dez. 2010. MARTINS, Petrônio Garcia; ALT, Paulo Renato Campos. Administração de materiais e recursos patrimoniais. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2006. MATTOS, Pedro Lincoln de. “Relações Teoria-Prática” em Administração: o que Desaparece nesse “Buraco Negro”. In: XXXI Encontro da Anpad, 2010, Rio de Janeiro. Anais... 34 EnANPAD, Rio de Janeiro, 2010. MAYER, Edson. O processo de investigação na pesquisa científica: investir na busca, seguindo o rastro do conhecimento. In: GALIAZZI, M. C. et al. (Orgs). 203 Construção curricular em rede na educação em ciências: uma proposta de pesquisa na sala de aula. Ijuí: Ed. UNIJUÍ, 2007. MEDINA-LÓPES, Carmen; ALFALLA-LUQUE, Rafaela; MARIN-GARCIA, Juan. Active learning in operations management: interactive multimedia software for teaching JIT/Lean Production. Journal of Industrial Engineering and Management, n.4 v.1, p.31-80, 2011(a). doi:10.3926/jiem.2011.v4n1.p31-80. ______. La investigación en docencia en dirección de operaciones: tendencias y retos. Intangible capital, v. 7 n. 2, p. 507-548, 2011(b). http://dx.doi.org/10.3926/ic.2011.v7n2.p507-548. MELO, Ilma Cantuária Alves; ROBLES, Léo Tadeo; ASSUMPÇÃO, Maria Rita Santos. A Relação entre a teorização dos acadêmicos e a prática dos executivos nas organizações. XIII Seminários em Administração. Anais... 13 Semead, São Paulo: FEA-USP, 2010. MISHRA, Daya. Operations management: critical perspectives business. New Delhi, India: Global India Publications, 2009. on MONTEALEGRE, Rosalía. La actividad humana en la psicología históricocultural. Avances en Psicología Latinoamericana. Bogotá, Colombia, v. 32, 2005, p. 33-42. MONTEIRO, Sílvia; VASCONCELOS, Rosa; ALMEIDA, Leandro. Rendimento acadêmico: influência dos métodos de estudos. Actas do VIII Congresso Galaico Português de Psicopedagogia. Braga: Universidade do Minho, p. 3505-3516, 14 - 16 set. 2005. MORAES, Roque. Aprender Ciências: reconstruindo e ampliando saberes. In: GALIAZZI, M. C. et al. (Orgs.). Construção curricular em rede na educação em ciências: uma proposta de pesquisa na sala de aula. Ijuí: Ed. UNIJUÍ, 2007. ______. Uma tempestade de luz: a compreensão possibilitada pela análise textual discursiva. Ciência & educação, Campinas, v. 9, n. 2, p. 191-211, 2003. MORAES, Roque; GALIAZZI, Maria do Carmo. Análise textual discursiva. Ijuí: Ed. UNIJUÍ, 2007. MOREIRA, Daniel Augusto. Administração da produção e operações. 2 ed. São Paulo: Cengage Learning, 2008. MORGAN, Gareth. Imagens da organização: edição executiva. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2010. MORIN, André. Pesquisa-ação integral e sistêmica: uma antropopedagogia renovada. Rio de Janeiro: DP&A, 2004. 204 MUKHERJEE, Arup. Improving students understanding of operations management techniques through a rolling reinforcement strategy. Journal of education for business, Philadelphia, July/August, 2002. NICOLINI, Alexandre. Qual será o futuro das fábricas de administradores? Revista de administração de empresas, São Paulo, v.43, n.2, pp.44-54, 2003. NUÑEZ, Isauro Beltan; RAMALHO, Betânia Leite. A pesquisa como recurso da formação e da construção de uma nova identidade docente: notas para uma discussão inicial. Eccos revista científica, São Paulo, v.7, n. 01, jun. 2005. OGLIARI, Lucas Nunes. Pesquisar é analisar dados: uma constante (re) construção da realidade. In: GALIAZZI, Maria do C. et al (Orgs.) Construção curricular em rede na educação em ciências: uma proposta de pesquisa na sala de aula. Ijuí: Ed. UNIJUÍ, 2007. OLIVEIRA, Murilo Alvarenga; SAUAIA, Antônio Carlos Aidar. Implantando o Laboratório de Gestão: um Programa Integrado de Educação Gerencial e Pesquisa em Administração. XIII Seminários em Administração, 2010. Anais... 13 Semead, São Paulo: FEA-USP, 2010. OLIVEIRA, Murilo Alvarenga et al. Relação entre Conhecimento e Desempenho Gerencial: Análise do Aprendizado dos Participantes de um Jogo de Empresas In: XXXI Encontro da Anpad, 2010, Anais... 31 Enanpad, Rio de Janeiro, 2010. OLIVEIRA, Selma Garrido. Pesquisa-ação crítico-colaborativa: construindo seu significado a partir de experiências com a formação docente. Educação e pesquisa, São Paulo, v. 31, n. 3, p. 521-539, set./dez. 2005. OLSON, David. A escrita e a mente. In WERTSCH, J. V.; DEL RIO, P.; ALVARES, A. Estudos socioculturais da mente. Porto Alegre: ArtMed, 1998. OSTROVITIANOV, Konstantin Vasilevich; LEONTIEV Alexis N. Modos de produção pré-capitalistas. São Paulo: Global, 1988. PEDROSO, Maísa Beltrame; CUNHA, Maria Isabel da. Vivendo a inovação: as experiências no curso de nutrição. Interface - comunicação, saúde, educação, Botucatu, SP, v.12, n.24, p.141-52, jan./mar. 2008. PEINADO, Jurandir; GRAEML, Alexandre Reis. A gestão de operações nos melhores cursos de graduação em Administração do Brasil. In: XV Simpósio de Administração da Produção, Logística e Operações Internacionais, 2012. Anais... 15 SIMPOI. São Paulo: FGV-EAESP, 2012. PENIDO, Anouk Van Der Zee; NEIVA, Marilucia; FRIQUES, Manoel Silvestre. As bonecas de Nova York: filos de um império pós-moderno. Revista de Design, Inovação e Gestão Estratégica – REDIGE, v. 4, edição especial, p.119, jul. 2013. 205 PIMENTA, Selma Garrido; GHEDIN, Evandro (Orgs.). Professor reflexivo no Brasil: gênese e crítica de um conceito. 4 ed. São Paulo: Cortez, 2006. PINO SIRGADO, Angel. O social e o cultural na obra de Vigotski. Educação & sociedade, Campinas, ano XXI, nº 71, Jul. 2000. PINTO, José Marcelino Rezende. Administração e liberdade: um estudo do conselho de escola à luz da teoria da ação comunicativa de Jürgen Habermas. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1996. PISTRAK, M. Fundamentos da escola do trabalho. São Paulo: Editora Expressão Popular, 2000. PUENTES, Roberto Valdés; AQUINO, Orlando Fernández; QUILLICI NETO, Armindo. Profissionalização dos professores: conhecimentos, saberes e competências necessários à docência. Educar. Curitiba: Editora UFPR, n. 34, p. 169-184, 2009. REGO, Tereza Cristina. A origem da singularidade humana na visão dos educadores. Cadernos cedes, Campinas, ano XX, nº 35, p.79-93, 1995. REPKIN, V. V. Developmental teaching and learning activity. Journal of russian and east european psycology, v. 41, n. 5, 2003, p. 10 – 33. RIBEIRO, Marivalda Lopes, CUNHA, Maria Isabel da. Trajetórias da docência universitária em um programa de pós-graduação em saúde pública. Interface comunicação, saúde, educação, Botucatu, SP, v.14, n.32, p.55-68, jan./mar. 2010. RITTER-PEREIRA, J. Os programas de ensino de química na educação básica na concepção e prática de professores. 2011. 178f. Dissertação (Mestrado em Educação nas Ciências), UNIJUÍ, Ijuí, 2011. ROGERS, Jenny. Aprendizagem de adultos: fundamentos para educação corporativa. 5 ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. ROMAN, Darlan José; MARCHI, Jamur Johnas; ERDMANN, Rolf Hermann. A abordagem qualitativa na pesquisa em Administração da Produção no Brasil. Revista de gestão. São Paulo, v. 20, n. 1, p. 131-144, jan./mar. 2013. DOI: 10.5700/rege491. ROSA, Maria Inês de Freitas Petrucci dos Santos; SCHNETZLER, Roseli Pacheco. A investigação-ação na formação continuada de professores de ciências. Ciência & educação, Campinas, v. 9, n. 1, p. 27-39, 2003. ROSA, Renata Urruth. A qualidade política da pesquisa: promover a transformação de conhecimentos e práticas. In: GALIAZZI, M. C. Aprender em rede na educação nas ciências. Ijuí: Ed. UNIJUÍ, 2008. 206 ROSSLER, João Henrique. O desenvolvimento do psiquismo na vida cotidiana: aproximações entre a psicologia de Alexis N. Leontiev e a teoria da vida cotidiana de Agnes Heller. Cadernos CEDES, Campinas, vol. 24, n. 62, p. 100116, abr. 2004. RUSSOMANO, Victor Henrique. Planejamento e controle da produção. 5 ed. São Paulo: Pioneira, 1995. SALVADOR, César Coll. Aprendizagem escolar conhecimento. Porto Alegre: Artes Médicas, 1994. e construção do SANNINO, Annalisa. Activity theory as an activist and interventionist theory. Theory & psycology, United Kingston, v.21, n.5, p.571-597, 2011. DOI: 10.1177/0959354311417485 SANTOS, Jorge Alberto. Learning environments in management education: in Search of Meaning. In: XXXIII Encontro da Anpad, 2009, São Paulo. Anais... XXXIII EnANPAD, São Paulo – SP, 2009. SANTOS, Leonardo Lemos da Silveira; ALCADIPANI, Rafael. Por uma Epistemologia das Práticas Administrativas: a Contribuição de Theodore Schatzki. In: ENCONTRO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓSGRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, 2010. Anais... 34 EnANPAD, Rio de Janeiro, 2010. SATOLO, Eduardo Guilherme. Modelo de simulação aplicado ao conceito da produção enxuta no ensino de engenharia de produção. XXXI Encontro Nacional de Engenharia de Produção. Anais… 31 ENEGEP, Belo Horizonte, 2011. SAUAIA, Antônio Carlos Aidar. Laboratório de gestão: educação vivencial com pesquisa aplicada. In: IX Congresso Virtual Brasileiro de Administração. 2012. Anais... 9 Convibra Administração, 2012. Disponível em: <http://www.convibra.com.br/upload/paper/ 2012/31/2012_31_5311.pdf>. Acesso em: 05 jan. 2013. ______. Laboratório de gestão: simulador, jogo de empresas e pesquisa aplicada. Barueri, SP: Manole, 2008. SAUAIA, Antônio Carlos Aidar; CERVI, Maria Luisa. Atividades centradas no participante em curso expositivo de Estatística: os alunos como agentes na aprendizagem. In: XIV Simpósio de Engenharia de Produção, 2007. Anais... 14 SIMPEP. Bauru - SP, p. 1-12, 2007. SAUAIA, Antônio Carlos Aidar; HAZOFF Jr., Waldemar. Transformando uma aula expositiva em aprendizagem centrada no participante: um estudo em Administração. In: VI Congresso Virtual Brasileiro de Administração. 2012. Anais... 6 Convibra Administração, 2009. Disponível em: <http://www.convibra.com.br/2009/artigos/234_0.pdf>. Acesso em: 20 dez. 2010. 207 SCHÖN, Donald. Educando o profissional reflexivo: um novo design para o ensino e a aprendizagem. Porto Alegre: Artmed, 2000. SEETHAMRAJU, Ravi. Enterprise systems software in the busines curriculum: aligning curriculum with industry requirements. In: LOWRY, Glem R.; TURNER, Rodney L. Information systems and technology education: from the university to the workplace. Hershey, USA: IGI Global, 2007. SERAPIÃO JUNIOR, Carlos; MAGNOLI, Demétrio. Comércio exterior e negócios internacionais: teoria e prática. São Paulo: Saraiva, 2006. SEREDA. Grigoriĭ Kuzʹ mich. On the problem of the relationship between the main types of memory in activity-memory-activity theory. Journal of russian and east european psycology, v. 49, n.1, p.44-53, 2011. DOI 10.2753/RPO1061-0405490103. SHULMANN, Lee. Conocimiento y enseñanza: fundamentos de la nueva reforma. Profesorado. Revista de currículum y formación del profesorado. Granada: España, v.9, n.2, 2005. SILVA, Lenice Heloísa de Arruda; SCHNETZLER, Roseli Pacheco. Buscando o caminho do meio: a "sala de espelhos" na construção de parcerias entre professores e formadores de professores de Ciências. Ciência & educação, Campinas, v. 6, n.1, 2000. SILVA, Vantielen da Silva; KLÜBER, Tiago Emanuel. Formação e docência no ensino superior: uma meta-análise de artigos publicados em revistas brasileiras de educação. Acta scientiarum. Education, Maringá, v. 34, n. 1, p. 87-97, Jan./Jun. 2012. SILVEIRA, Mário. Painel apresentará perspectivas para jovens. Jornal do comércio, Caderno Contabilidade. Nº 16 de 09 setembro de 2009. SLACK, Nigel, et al. Administração da produção. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2002. SLACK, Nigel; LEWIS, Michael; BATES, Hilary. The two worlds of operations management research and practice. Can they meet, should the meet? International journal of operations & production management. v. 24, n. 4, p. 372-387, 2004. SLOMISKI, Vilma Geni. Saberes e competências do professor universitário: contribuições para o estudo da prática pedagógica do professor de ciências contábeis do Brasil. RCO – Revista de contabilidade e organizações – FEARP/USP, v. 1, n. 1, p. 87 – 103, set./dez. 2007. SMOLKA, Ana Luiza Bustamante. A dinâmica discursiva no ato de escrever: relações oralidade-escrita. In: SMOLKA, A. L. B.; GÓES, M. C. R. A linguagem 208 e o outro no espaço escolar: Vigotisky e a construção do conhecimento. 5 ed. Campinas, SP: Papirus, 1996. SOARES, Luiz Antônio Alves. Guerreiro Ramos: considerações críticas a respeito da sociedade centrada no mercado. Rio de Janeiro: Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, 2005. SOUZA, Antônia Vieira de; CHAGAS, Fábio Azevedo; SILVA, Carlos Eduardo. Jogos de empresas como ferramenta de treinamento e desenvolvimento. Revista brasileira de administração científica, Aquidadã, v. 2, n. 2, dez. 2011. DOI: 10.6008/ESS2179 684X.2011.002.0001. SOUZA, Francislê Neri; COSTA, António Pedro; MOREIRA, António. Análise de Dados Qualitativos Suportada pelo Software web QDA. Atas da VII conferência internacional de tic na educação: perspetivas de inovação (CHALLANGES 2011), pp. 49-56. Braga, 12 e 13 de Maio, 2011. SOUZA-SANTOS, Boaventura de. Introdução a uma ciência pós-moderna. Rio de Janeiro: Graal, 1989. STEIN, Ermildo. Fundamentar e pressupor: a caminho do dito e do dizer. In: A caminho de uma fundamentação pós-metafísica. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1997. STENHOUSE, Laurence. La investigación como base de la enseñanza. 2 ed. Madrid: Ediciones Morata, 1993. TALIZINA, Nina. Manual de psicologia pedagógica. México: Editorial Universitária Potosina, 2000. TAYLOR, Frederich Winslow. Princípios de administração científica. 6 ed. São Paulo: Atlas, 1966. THIOLLENT, Michel. Metodologia da pesquisa-ação. 12 ed. São Paulo: Cortez, 2003. TUBINO, Dalvio Ferrari. Planejamento e controle da produção: teoria e prática. São Paulo: Atlas, 2008. TUNES, Elizabeth; PRESTES, Zoia. Vigotski e Leontiev: ressonâncias de um passado. Cadernos de pesquisa, v. 39, n. 136, p.285-315, jan./abr. 2009. VANDERLEI, Marcelo Leite. Implantação de controle baseado no sistema de execução da manufatura (MES): análise em empresa de usinagem no setor aeronáutico. 2009. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica), Universidade de Taubaté, 2009. VIEIRA, Vanize Aparecida Misael de Andrade; SFORNI, Marta Sueli de Faria. Avaliação de aprendizagem conceitual. Educar em Revista, Curitiba, Brasil, n. especial 2, p. 45-58, 2010. 209 VIGOTSKY, Lev Semenovitch. Pensamento e linguagem. 4 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008. VIGOTSKY, Lev Semenovitch. A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. 7 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. ______. Lev S. Vigostki: manuscrito de 1929. Educação & sociedade, Campinas, ano XXI, n. 71, Jul. 2000. VILLANI, Alberto; DE FREITAS, Denise; BRASILIS, Rosa. Professor pesquisador: o caso Rosa. Ciência & educação, Bauru, v.15, n.3, p.479-496, 2009. VILLARDI, Beatriz Quiroz; VERGARA, Sylvia Constant. Implicações da aprendizagem experiencial e da reflexão pública para o ensino de pesquisa qualitativa e a formação de mestres em Administração. Revista de administração contemporânea. Curitiba, v.15, n.5, art. 1, pp. 794-814, set./out. 2011. WENZEL, Judite Scherer. A significação conceitual em química em processo orientado de escrita e reescrita e a ressignificação da prática pedagógica. 2013. 230f. Tese (Doutorado em Educação nas Ciências) Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Ijuí, 2013. WERTSCH, James.. Texto e dialogismo no estudo da memória coletiva. Educação e pesquisa, São Paulo, v. 36, n. especial, p.123-132, 2010. ______. Mediation. In: DANIELS, Harry; COLE, Michael; WERTSCH, James V. The cambridge companion to Vygotsky. New York: Cambridge University Press, 2007. ______. A necessidade da ação na pesquisa sociocultural. In WERTSCH, J.; DEL RIO, P.; ALVARES, A. Estudos socioculturais da mente. Porto Alegre: Artmed, 1998. XIONGYONG, Cheng. Cognition of Mediation among Secondary School EFL Teachers in China. International journal of business and social science, Radford, v.3, n.14, Special Issue, July 2012. ZANELLA, Andréia Vieira; BALBINOT, Gabriela; PEREIRA, Renata Susan. A renda que enreda: Analisando o processo de constituir-se rendeira. Educação & sociedade, Campinas, ano XXI, n. 71, jul. 2000. ZANON, Lenir Basso; MALDANER, Otavio Aloisio. A química escolar na interrelação com outros campos de saber. In: SANTOS, Wildson Luiz Pereira; MADANER, Otavio Aloisio. Ensino de química em foco. Ijuí: Ed. UNIJUÍ, 2010. ZEICHNER, Ken. Novos caminhos para o practicum: uma perspectiva para os anos 90. In NOVOA, Antônio. Os professores e sua formação. Publicações Don Quixote: Lisboa, Portugal, 1992. 210 ZINCHENKO, Vladimir. A psicologia histórico-cultural e a teoria psicológica da atividade: retrospectiva e prospectos. In: WERTSCH, James V.; DEL RIO, Pablo; ALVARES, Amelia. Estudos socioculturais da mente. Porto Alegre: Artmed, 1998. ZOLA, Emile. Germinal. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.
Download