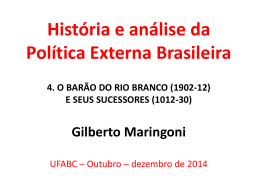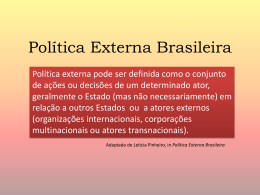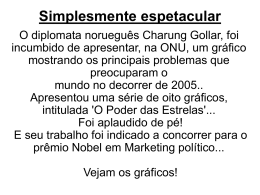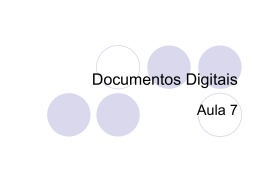DIPLOMACIA E HUMANIDADES Juca Diplomacia e Humanidades - Número 06 - 2012 IRBr 06 Ano 6 - 2012 juca.irbr.itamaraty.gov.br A revista dos alunos do Instituto Rio Branco NESTA EDIÇÃO: DOSSIÊ Política externa e redemocratização: com a palavra, os Presidentes Patriota, um perfil pessoal A pena e a renda: literatura e diplomacia Mulheres no Itamaraty de antanho Os rubicões da Rio+20 Memórias de além-túmulo: o Barão, redivivo Instituto Rio Branco O que é Juca? É a revista anual dos alunos do Curso de Formação em Diplomacia do Instituto Rio Branco. Compõem o universo temático deste periódico a diplomacia, as relações internacionais, as demais ciências humanas, as artes e a cultura - todas agrupadas sob o binômio “Diplomacia e Humanidades”. Concebida para refletir a produção acadêmica, artística e intelectual dos alunos da academia diplomática brasileira, a Juca visa também recuperar a memória da política externa do País e difundi-la nos meios diplomático e acadêmico. Por que Juca? REVISTA JUCA José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Chanceler que ingressou no panteão dos heróis nacionais na qualidade de patrono da diplomacia brasileira, era conhecido nos seus dias de juventude e boemia como Juca Paranhos - à época, ainda despido de honraria nobiliárquica que viria a batizar nossa academia diplomática. Fosse o Itamaraty do século XIX organizado como é hoje, o jovem diplomata que consolidara as fronteiras nacionais e estabeleceria novo paradigma para a política externa brasileira, seria tratado, em sua temporada na academia diplomática, por Terceiro Secretário Juca Paranhos. A revista elaborada pelos diplomatas recém-ingressados no Instituto Rio Branco presta homenagem à política exterior legada pelo Barão do Rio Branco e ao próprio, que antes das glórias nas questões arbitrais e políticas foi o... Juca. juca.irbr.itamaraty.gov.br editorial A história da diplomacia brasileira está repleta de ideias absurdas. Ou, ao menos, de ideias que, em sua origem, foram vistas como absurdas. A começar pelo insólito de um país com mais de 15 mil quilômetros de fronteiras e dez vizinhos não ter desentendimentos fronteiriços há mais de cem anos. A esse despropósito fundamental – resultado do trabalho sem precedentes do Chanceler que dá nome a esta revista e ao Instituto que a publica - seguiram-se muitos outros, que o leitor da JUCA há de identificar sem grande esforço: a política externa independente, a barganha pendular do entreguerras, a integração sul-americana, a projeção do Brasil como ator global na última década, etc, etc. Não deve causar surpresa, portanto, que ideias e empreitadas invulgares transbordem das páginas da JUCA 6. Trata-se de um projeto improvável, que dá continuidade, com a mão de obra de 26 alunos-diplomatas, a uma iniciativa nascida junto com as “turmas de cem” do Instituto Rio Branco. Igualmente pouco factível desenhava-se a pauta de nosso dossiê – a seção da JUCA que, em cinco edições, consolidou-se como espaço privilegiado para a publicação de coleções de fôlego sobre os mais variados temas: lançamo-nos à quixotesca tarefa de conversar sobre política externa com todos os ex-Presidentes da República vivos – e, acreditem, conseguimos. Como o leitor da JUCA 6 comprovará nas páginas que seguem, cada um dos mandatários entrevistados contribuiu com seu quinhão de aparentes despautérios para a projeção internacional do Brasil: Sarney e a aproximação nuclear com a Argentina, Collor e a consolidação dos temas ambientais em nossa agenda internacional, Fernando Henrique Cardoso e a integração sul-americana, Lula e a expansão de nossas responsabilidades globais. O ímpeto inovador que espelha nossa melhor tradição diplomática subjaz a todas as grandes iniciativas internacionais desses governos – iniciativas que, no princípio, encontraram consideráveis doses de ceticismo. Há muitas outras ideias disparatadas nessa JUCA 6. Thereza Quintella e Maria Rosita de Aguiar Pedroso, por exemplo, ousaram perturbar a sagrada masculinidade do Itamaraty dos anos 1950 e tornaram-se objeto de uma matéria paternalista e condescendente de uma revista feminina, como relata Natália Shimada em “Intrusas no lago dos cisnes”; no mundo das letras, toda uma geração de diplomatas escritores propõe-se ao sobre-humano ofício de produzir literatura de altíssima qualidade em meio à frenética rotina diplomática dos dias atuais, como revelam João Bayão, João Maranhão e Pedro Gomides em “O nomadismo da letra”; de volta ao campo diplomático, o Embaixador Luiz Alberto Figueiredo e o Ministro Laudemar Aguiar encontraram obstáculos titânicos para negociar e organizar a colossal conferência Rio+20, como demonstram Gustavo Machala e Jaçanã Ribeiro em “Os legados da Rio+20”. Em seu derradeiro desatino, a JUCA desfrutou do privilégio de conversar por cerca de uma hora com o Ministro de Estado Antonio de Aguiar Patriota e não abordou temas de política externa. Foi uma escolha consciente, com o objetivo de desvelar uma faceta pouco conhecida de um diplomata cujas ideias e credenciais no âmbito profissional não carecem de complementação. Eis, portanto, a JUCA 6. Nosso desejo sincero é que o leitor desfrute desse apanhado de textos plurais e inquietos com o mesmo espírito que animou sua confecção: desarrazoadamente. 3 expediente Agradecimentos Embaixador Antonio de Aguiar Patriota Embaixador Luiz Villarinho Pedroso Embaixadora Thereza Maria Machado Quintella Embaixador Gelson Fonseca Junior Embaixador Georges Lamazière Embaixador Luiz Alberto Figueiredo Ministro Laudemar Gonçalves de Aguiar Neto Diretor Honorário Embaixador Georges Lamazière Ministro Eduardo Carvalho Ministro Alexandre Guido Lopes Parola Ministro Ary Norton de Murat Quintella Editor-Chefe Danilo Vilela Bandeira Diretor Executivo Gustavo Cunha Machala Ministro Alexandre Vidal Porto Ministro Sérgio Barreiros de Santana Azevedo Ministro Luis Felipe Silverio Fortuna Ministro Roberto Avellar Ministro Michel Arslanian Neto Editor Assistente Artur Andrade da Silva Machado Diretor Jurídico Pedro Mendonça Cavalcante Revisão Gustavo Guelfi de Freitas Artur Andrade da Silva Machado Capa Bruno Pereira Rezende Direção de Arte e Diagramação Ct. Comunicação www.ctcomunicacao.com.br Conselheiro Adriano Silva Pucci Conselheiro Bernard Jorg Leopold de García Klingl Conselheiro Mário Antonio de Araújo Secretário Márcio Oliveira Dornelles Secretário Rodrigo de Oliveira Godinho Secretário Rodrigo de Oliveira Castro Secretário Filipe Correa Nasser Silva Secretária Maria Rosita de Aguiar Pedroso Secretária Gabriela Guimarães Gazzinelli Secretária Amena Martins Yassine Secretário Diogo Ramos Coelho Professor Doutor Marcio Garcia Instituto Fernando Henrique Cardoso [email protected] 4 Sr. Luiz Dulci e Instituto Lula sumário PERFIL 09 Antonio de Aguiar Patriota 08 Alexandre Souto, Danilo Vilela Bandeira, Gustavo Machala e Pedro Mendonça Cavalcante 20 RESENHA 21 O Mundo em Desajuste, de Amin Maalouf Jaçanã Ribeiro 24 DOSSIÊ 25 A política externa da redemocratização - contada por aqueles que a conceberam Barbara Boechat de Almeida, Danilo Vilela Bandeira, Germano Faria Correa, Gustavo Cunha Machala, Gustavo Guelfi de Freitas, João Guilherme, Fernandes Maranhão, Paulo Cesar do Valle 42 MEMÓRIA DIPLOMÁTICA 43 Intrusas no lago dos cisnes 70 Memórias de além-túmulo João Guilherme Fernandes Maranhão 76 O fim da besta hora Pedro Henrique Gomides 80 Ímpeto de mosca e Anunciação João Henrique Bayão 81 100 palavras na aritmétrica de um impressionista Artur Andrade da Silva Machado 82 -Ensaio Fotográfico On the road Thiago Carvalho de Medeiros 94 ARTIGOS E ENSAIOS 87 Memória de um encontro Norte-Sul Artur Andrade da Silva Machado 94 O Brasil nas páginas da Foreign Affairs Natália Shimada 54 A linha que não alinha 99 O lugar do conceito de Filipe Nasser 58 Responsabilidade ao Proteger na evolução da justiça internacional Os legados da Rio+20 Gustavo Cunha Machala e Jaçanã Ribeiro 62 CULTURA -Poesia e Prosa O nomadismo da letra João Guilherme Fernandes Maranhão, João Henrique Bayão e Pedro Henrique Moreira Gomides 62 Artur Andrade da Silva Machado 108 Nossa diplomacia no mundo da teoria Bárbara Boechat de Almeida e Artur Andrade da Silva Machado 112 Ordens e medalhas no Itamaraty Renato Levanteze Sant’Ana 117 As caretas do Barão: charges sobre o Chanceler entre 1908 e 1912 Luana Alves de Melo Juca - número 06 Daniel Torres de Melo Ribeiro 5 prolegômeno resenha Turma OSCAR NIEMEYER (com as mui sentidas ausências de Artur Machado, João Maranhão, Pedro Cavalcante e Ramon Arruda) na Embaixada do Brasil em Buenos Aires Todas as turmas felizes se parecem. Talvez não fosse possível dizer essa frase há cerca de ano e meio, quando éramos apenas 26 jovens desconhecidos (uns não tão jovens, outros não tão desconhecidos) que tínhamos, de cara, apenas uma coisa em comum: o fato de termos passado no CACD no mesmo ano. Sim, havíamos lido os mesmos livros, havíamos resumido os mesmos textos, havíamos tido aula com os mesmos professores nos longos anos em que estudamos para passar no concurso. Apesar de tudo isso, podíamos dizer que, além da aprovação no concurso, compartilhávamos somente mais uma característica: éramos muito diferentes uns dos outros. No começo, o entrosamento se deu baseado na erudição conquistada durante a preparação para o concurso. As conversas eram recheadas de citações de autores que frequentavam as nossas estantes, de advérbios entre vírgulas, de lampejos de sabedoria que caíam muito bem em questões discursivas, nem tanto em conversas informais. O verniz de conhecimento - que no caso de alguns estava mais pra guache - deixava, invariavelmente, suas marcas nos bate-papos. 6 Com o passar do tempo, no entanto, passamos a falar de assuntos mais normais, de banalidades, de como Brasília era diferente do Rio Janeiro / São Paulo / Porto Alegre / Belo Horizonte / Dourados /João Pessoa / Recife / Garça, de quantas novidades estávamos enfrentando naquele momento. Se a maior parte das pessoas, quando chegam a um ambiente desconhecido, começam falando sobre banalidades, sobre o tempo, sobre cerveja e futebol, para só depois conversarem de temas mais sérios e profundos e, finalmente, conhecerem de fato as outras pessoas, nós fizemos exatamente o oposto: começamos falando sobre temas sérios, difíceis e complexos, mas só passamos a conhecer verdadeiramente as outras pessoas quando começamos a falar sobre trivialidades. Porque foi exatamente neste momento que percebemos que poderíamos ter muito mais em comum do que havíamos imaginado. Vimos que, por trás daqueles especialistas em direito internacional, em História do Brasil, em integração sul-americana, ou simplesmente em citar os autores certos nos momentos corretos, havia pessoas com histórias, gostos e vontades muito parecidos. Seria fácil dizer que essa mudança aconteceu de uma hora para outra. Não há como negar, contudo, que alguns eventos contribuíram decisivamente para que isso ocorresse. As três semanas em Buenos Aires, em janeiro de 2012, foram um desses eventos marcantes. Ao curso intensivo de língua espanhola, somaram-se os cursos intensivos de gastronomia, cultura e, sobretudo, de convivência com os novos colegas. Dividir “clases”, medialunas, apartamento e aulas de tango com os que, até pouco tempo antes, eram apenas adversários no concurso foi uma experiência inesquecível. Foi a primeira viagem oficial dos novos diplomatas, deixa para aprofundar o conhecimento sobre um país que sempre será nosso vizinho e sobre pessoas que sempre serão nossos colegas. Tudo somado, quando se trata de um país ou de uma pessoa, a regra é praticamente a mesma: é difícil compreendê-lo sem conhecê-lo por inteiro. Se a estada em Buenos Aires foi uma excelente oportunidade para conviver à paisana com os colegas de turma, a viagem ao Rio de Janeiro serviu para descobrir - pelo menos por alguns dias - não só como funcionava a vida de um diplomata, mas também como funcionavam os novos diplomatas (alimentou, igualmente, a nossa imaginação com uma questão dolorosa: como seria a vida de diplomata nos anos dourados do Rio de Janeiro, capital do Brasil?). Viver o ápice de um grande evento internacional como a Rio+20 logo no começo da carreira foi o batismo da nossa turma. Realizamos uma das funções fundamentais da diplomacia: representar. Como diplomatas de ligação, pudemos perceber que todos os detalhes de logística são importantes para a boa realização do evento. Pequenas engrenagens em um mecanismo gigantesco, vimos a roda da história passando na nossa frente, como bem disse um colega, provavelmente entre uma e outra ligação do famoso - e saudoso? - ponto focal. No final do evento, percebemos que existem dois tipos de diplomatas: aqueles que trabalham e aqueles que vão à praia (mas só se for a trabalho). Aprender na prática – que mais parece lema de faculdade – foi o que ocorreu na Rio+20. Por outro lado, aprender com quem já praticou muito foi a tônica das sessões de Orientação Diplomática. Coordenados por cinco Embaixadores, esses encontros tinham por objetivo explicar aos jovens diplomatas tudo aquilo que eles queriam saber, mas não tinham um Embaixador para perguntar. Detalhes sobre o Recepção na Embaixada do Qatar em Brasília funcionamento da carreira e generosas doses de “petite histoire” marcaram as aulas – o nome não era esse, mas o que tivemos foram verdadeiras aulas de como ser diplomata. Graças à iniciativa do Embaixador Denis Fontes de Souza Pinto, a Orientação Diplomática foi conduzida pelos seguintes Embaixadores: Gelson Fonseca Junior, José Vicente de Sá Pimentel, Georges Lamazière, Denis Fontes de Souza Pinto e Tovar da Silva Nunes. Segundo o mentor do projeto, “os encontros de Orientação Diplomática beneficiaram os jovens diplomatas com ensinamentos de funcionamento da carreira diplomática e auxiliaram os diplomatas graduados a conhecer as novas gerações”. Mas falar da nossa turma não é só falar dos eventos, viagens e encontros com Embaixadores. Falar da nossa turma é falar das pessoas que, por dois semestres, também fizeram parte dela. Mesmo sem saber disso (agora eles saberão, caso sobre espaço para enviar a Juca na próxima mala diplomática), os diplomatas estrangeiros que dividiram conosco as aulas e palestras do Rio Branco contribuíram para enriquecer ainda mais a nossa formação. Se tivemos que ensiná-los a jogar futebol e a tomar caipirinha, aprendemos muito sobre a história e a cultura de seus países. Além disso, criamos laços com diplomatas que certamente farão parte de nosso futuro. E arranjamos alguns lugares diferentes para visitar nas próximas férias. Foi mais ou menos assim que, de meros desconhecidos com quase nada em comum, passamos a ser diplomatas, colegas, amigos. As experiências compartilhadas nos aproximaram em muitos sentidos. Conhecemos muitas coisas novas em um ano e meio como diplomatas. Mas, principalmente, conhecemos 25 novos amigos com os quais temos e teremos muito em comum. E chegamos à conclusão de que quem se parece mesmo são os alunos das turmas felizes. Alexandre Souto, Luiz Felipe Pereira e Turma OSCAR NIEMEYER 7 perfil perfil 8 1988, em Guilin, sul da China O construtor de pontes Alexandre Souto, Danilo Vilela Bandeira, Gustavo Machala e Pedro Mendonça Cavalcante Um dia na vida de Antonio de Aguiar Patriota 9 perfil São 11h15 da manhã de segunda-feira quando o Chanceler Antonio de Aguiar Patriota saúda a equipe da JUCA em seu gabinete de trabalho no Palácio Itamaraty, em Brasília. Durante a hora que se segue, o Ministro abandonará os temas que diuturnamente o preocupam para esboçar o perfil pessoal de um cosmopolita, cuja vocação para o diálogo intercultural manifestou-se desde muito cedo, na esteira da vida nômade exigida pela carreira do pai - também diplomata. Pouco a pouco, por meio de menções a momentos decisivos em sua vida, a livros, músicas e filmes que forjaram sua sensibilidade artística, a personagens marcantes em sua trajetória e a aspectos da vida cotidiana, emerge a figura de um diplomata de sólida formação humanista, comprometido em absorver os elementos mais positivos que cada cultura tem a lhe oferecer. Nas páginas que seguem, o leitor da JUCA terá a oportunidade de conhecer melhor a formação intelectual, a vida pessoal e o dia a dia de um dos expoentes da tradição pacifista e conciliadora da diplomacia brasileira. Como é um dia normal em sua vida? Na medida em que existem dias normais, o dia começa cedo para mim, porque eu recebo por email uma primeira filtragem da imprensa nacional e internacional por volta das 7h. Às vezes peço alguma providência, alguma nota à imprensa ou algum procedimento em relação a algum brasileiro que esteja em situação de emergência. Quando chego ao Itamaraty, às 9h, geralmente tenho uma reunião rápida, que envolve a chefe de gabinete, o assessor de imprensa e o Ministro Haroldo Ribeiro, um assessor polivalente. Aí examinamos a agenda do dia, a imprensa nacional e internacional, os compromissos, enfim, fazemos uma espécie de reunião de gabinete ágil. Procuro me atualizar e programar o imediato. Frequentemente recebo visitantes estrangeiros, colegas de Ministérios, parlamentares e representantes do setor privado e da sociedade civil. Tento também reservar 10 tempo para a leitura, pois há uma quantidade enorme de material para ser lido. Tenho de reservar tempo para despachar com o SecretárioGeral. Também despacho com meus assessores material relacionado a visitas presidenciais ao exterior, a visitas de dignitários estrangeiros ao Brasil e à preparação para conversas com meus interlocutores. Enfim, isso é mais ou menos o que pode haver de rotina, sempre lembrando que há um número muito grande de viagens e que, portanto, a rotina é variada, não há uma grande previsibilidade. Isso sem falar nos compromissos sociais, almoços, jantares... Também tento reservar um pouco de tempo para a saúde física e mental. Procuro fazer exercícios físicos três vezes por semana, sem esquecer a música, o cinema. O senhor tem uma estimativa de quanto tempo passa no Brasil e no exterior? Segundo estatísticas preparadas pela Secretaria de Planejamento Diplomático, passo mais ou menos 40% do tempo no exterior. No Brasil, além de Brasília, incluem-se viagens para outras cidades, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Em 2011, por exemplo, tivemos uma reunião do BASIC, em Inhotim, e da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, em Manaus. Em 2012, passei mais tempo no Brasil do que em 2011, e uma das razões foi a Rio+20. A Conferência exigiu uma permanência maior, sobretudo nos meses que a antecederam, pois o mundo veio ao Brasil, de certa maneira. Embora eu tenha ficado mais tempo no Brasil, o número de chanceleres que visitou o Brasil foi maior do que em 2011: até setembro, recebemos o mesmo número de chanceleres que no ano anterior inteiro. Há alguma razão específica para que tenha havido mais visitas em 2012? Isso vem acontecendo em um crescendo, em função da mudança do perfil internacional do Brasil, do interesse pela interlocução com o Brasil. Sad-Eyed Lady of the Lowlands Canção épica, consta do álbum “Blonde on Blonde”, de 1966, geralmente tido como o ponto máximo da carreira de Dylan. Com 11 minutos e 22 segundos, ocupou o lado quatro inteiro do disco duplo quando do lançamento. A letra estrutura-se na forma de uma série de descrições insólitas de qualidades atribuídas à “moça de olhos tristes das terras baixas” (“with your mercury mouth/ in the missionary times”), coroadas por perguntas retóricas que, naturalmente, nunca são respondidas. Dez anos mais tarde, na canção “Sara”, Dylan explicaria a quem “Sad-Eyed Lady” se destinara: “Staying up for days, in the Chelsea Hotel/Writing SadEyed Lady of the Lowlands for you”. O mundo é um moinho Provavelmente a mais soturna das canções de Cartola, abre o segundo álbum do sambista, de 1976. Especula-se que o fundador da Mangueira tenha escrito “O mundo é um moinho” como um alerta a sua enteada, que, à época, estaria encaminhando-se para a prostituição. Cazuza e Ney Matogrosso produziram versões célebres da canção, que sentenciava, lúgubre: “Ouça-me bem, amor/ Preste atenção, o mundo é um moinho/ Vai triturar teus sonhos, tão mesquinho/Vai reduzir as ilusões a pó”. Alguns colegas de nossa turma encontraram o senhor no show do Bob Dylan, aqui em Brasília. Ele tem algum significado especial para o Senhor? É verdade. Eu estava lá no show. Música em geral tem um significado especial para mim. Meu interesse vem desde muito jovem, tendo estudado piano clássico desde os 6, 7 anos. Gosto de todos os tipos de música: desde música clássica ocidental, passando por música indiana, que ouço com frequência, até música popular, samba, MPB, jazz, rock. Ouço também música africana, música cubana, latina em geral. Há uma riqueza enorme. Quanto ao Bob Dylan, trata-se de um grande compositor. Foi a poesia da minha juventude, junto com Chico Buarque, Caetano, Gil, John Lennon. Também gosto muito de Cartola. Gosto de tocá-lo ao piano. Acho uma combinação especialmente feliz de melodia e letra. O senhor poderia mencionar alguma música do Bob Dylan e do Cartola em particular? Do Dylan há várias, em suas diferentes encarnações: a veia mais lírica, a veia mais política. Talvez uma das obras-primas do Dylan seja “Sad-Eyed Lady of the Lowlands”. Das músicas com conteúdo político, “Masters of War”. Do Cartola, “O mundo é um moinho”, “As rosas não falam”. O senhor ganha muita música de presente das chancelarias? O Ministro do Comércio indiano, Anand Sharma, me deu recentemente quatro CDs excelentes de música indiana, desde cítara até flauta. A vida pessoal é uma das partes difíceis da vida diplomática, como foi isso para o senhor, que é filho de diplomata? Como foi sua decisão de entrar para a carreira? A vida diplomática oferece uma oportunidade interessante de viajar e conhecer pesso- 11 perfil as. No meu caso, fiz muitos amigos. Valorizo as amizades antigas e recentes. A escolha de uma carreira tem de ser uma decisão muito pessoal. Por mais que existam experiências positivas na sua família, você tem de se encontrar com sua própria vocação. Acho que foi um bom caminho para mim, pois a carreira diplomática me trouxe realização profissional e pessoal. A relação com minha mulher e meus filhos é muito importante. Converso muito com meus filhos para entender a nova geração. Entender a geração que me antecedeu é mais fácil; comunicar-me com minha própria geração não exige esforço; já entender os mais jovens exige um movimento da minha parte, exige um movimento do adulto. No meu caso, faço isso com prazer, é uma interação enriquecedora, que me ajuda a ficar atento a certos fenômenos que não saberia interpretar de outra forma. Claro que o círculo se completa quando sentimos que os mais jovens nos ouvem e apreciam a interação. Como é o relacionamento com sua esposa? Acredito que a realização profissional de marido e mulher é chave para um casamento feliz. Na fase atual de vida em que nos encontramos, em que os filhos já cresceram e em que há facilidade de comunicação e de mobilidade, morar em cidades diferentes é cada vez mais frequente. No caso de funcionários da ONU, por exemplo, isso é muito comum. Há dificuldades, momentos de angústia. Tania estava no Haiti durante o terremoto, em 2010, por exemplo, e, até conseguir falar com ela, você pode imaginar como fiquei. Hoje, ela chefia, em Bogotá, o escritório do Fundo de População das Nações Unidas. O respeito e a amizade, além do amor, obviamente, ajudam a manter a união na distância. No nosso caso, os reencontros são bastante frequentes. Acabamos de festejar, em Istambul, 33 anos de casados. 12 Imagino que o senhor tenha tido uma vida diplomática muito antes de ser diplomata. Nós tivemos dificuldades de encontrar os lugares em que o senhor morou durante a sua infância e sua adolescência. O senhor poderia mencionar alguns? Nasci no Rio de Janeiro e, com dois anos, fui para Genebra, onde frequentei o jardim de infância, aprendi a falar francês. Com cinco anos, meu pai foi para o Consulado em São Francisco, Califórnia, onde fui alfabetizado. Morei também em El Salvador, onde estudei na Escola Americana, mas metade do dia estudava em espanhol. Falei inglês, francês e espanhol desde criança. Depois, passei um período relativamente longo no Rio de Janeiro (196167). Na adolescência, morei em Nova Iorque, estudei em uma escola pública americana e também na escola das Nações Unidas. Foi lá que despertei para a vida internacional. Cada professor era de uma nacionalidade. Depois voltei a morar em Genebra e acabei fazendo universidade lá, antes de prestar o concurso para o Instituto Rio Branco. Foi difícil passar no concurso? Bom, o concurso é difícil para todo mundo. Decidi dedicar um ano de preparação e passei na primeira tentativa. Para mim, foi um período feliz e espero que seja para a turma de vocês também. O Rio Branco foi um período em que descobri um outro Brasil. Como eu só tinha morado no Rio, foi no Rio Branco que conheci colegas de várias procedências, embora o Itamaraty daquela época refletisse menos a diversidade brasileira do que hoje em dia. Essa turma mantém contato? Costumávamos ter encontros anuais, mas depois as agendas foram ficando mais dificilmente conciliáveis. Ministro Antonio de Aguiar Patriota com familiares (sua esposa, Tania, acima à esquerda, seus dois filhos, Miguel e Thomas, acima à direita, sua mãe no centro à esquerda e seus pais no centro à direita) e com a Presidenta Dilma Rousseff em visita à Nigéria e durante formatura dos alunos da Turma 2010-2012 do Instituto Rio Branco 13 perfil O senhor poderia mencionar algum colega? Claro. Entre os subsecretários, há o Embaixador Paulo Cordeiro. Até pouco tempo atrás, o Embaixador Gradilone, que foi para a Nova Zelândia. No exterior, há a Lígia Scherer, Embaixadora em Moçambique. Começamos a trabalhar na mesma divisão, sentados um do lado do outro. A Ana Cabral, que é Embaixadora em Angola, conheço há mais tempo, pois estudei para o concurso com ela e com outro colega que está agora na Tunísia, Luiz Eduardo Maya Ferreira. Talvez o mais simples seja citar todos: Carlos Alberto Ribeiro Reis, Carlos Roberto Bevilaqua Penna, Carmelito de Melo, Henrique Luiz Jenné, Henrique Sardinha, Hermano Telles Ribeiro, João Inácio Oswald Padilha, Marcos Vinicius Pinta Gama, Mariane Bravo Leite, Paulo César de Camargo e Silvana Peixoto Dunley. Lembro que colegas muito queridos já faleceram. E esse interesse especial do senhor pela China? De onde vem? Qual foi o contexto? Pois é, o meu interesse pela China tem uma origem bem específica. Aos dezoito anos, li um livro chamado “Estrela Vermelha sobre a China”, de um jornalista americano que acompanhou toda a Longa Marcha de Mao Zedong e foi enterrado com honras de herói em Pequim: Edgar Snow. Li o livro com um enorme mapa da China na minha frente e fui descobrindo que já se aprende um pouquinho de chinês com a geografia. Esse mapa era de um Atlas da National Geographic que meus pais me deram por essa época, ao descobrirem que eu adorava mapas. Para dar um exemplo de como é possível aprender chinês com a geografia: Beijing é capital do norte; Nanjing, do sul. Bei é norte; Nan, sul. Xian, onde está o Exército de Terracota, quer dizer a paz do ocidente. An é paz; Xi, ocidente. Tóquio para os chineses é Dongjing, que quer dizer capital do oriente. 14 Red Star Over China Primeiro relato sobre Mao Zedong e a Grande Marcha a alcançar o Ocidente, já em 1937, Red Star Over China é uma longa reportagem escrita pelo jornalista norte-americano Edgar Snow, que acompanhou pessoalmente o avanço do Exército Vermelho ao longo da década de 1930 e, entrementes, realizou entrevistas pioneiras com o líder da Revolução. Em uma época na qual o desconhecimento sobre a China era absoluto, Snow contribuiu para produzir uma imagem positiva dos guerrilheiros maoistas, daí em diante vistos como integrantes de um movimento progressista, combatente do fascismo. Anos mais tarde, o próprio Mao, ao analisar o impacto que a obra tivera sobre a opinião pública ocidental, afirmaria: “Seu mérito é comparável ao do [imperador] Yu ao controlar as enchentes”. Esse interesse do senhor vem de antes de a China ficar na moda... Não sei quando a China ficou na moda. Mas a China sempre foi um país de grande relevância internacional, em função de seu território, população, história, cultura. A experiência da leitura desse livro trouxe para mim, em primeiro lugar, a dimensão da transformação histórica de grande impacto que foi a Revolução Chinesa, a Longa Marcha como um símbolo desse momento. Mas trouxe também um sentimento de proximidade, que facilitou minha adaptação quando lá morei entre 1987 e 1988. Na verdade, quando há interesse é possível sentir-se próximo de qualquer cultura. O senhor já tinha estudado mandarim antes desse período? Comecei a estudar um pouco em Genebra. Em Pequim, tinha aula duas vezes por semana. Como eu tinha filhos pequenos e a babá deles só falava chinês, isso nos obrigava a aprender em casa, no dia a dia também. Até hoje me lembro muito bem como se fala “tomar banho” e “ir para o quarto dormir”. Há palavras que os meus filhos até hoje usam em chinês, como xigua, que é melancia. O senhor tem aulas particulares de chinês? Costumava ter, mas o professor Wang deixou o Brasil e o tempo ficou curto. Ele não só me deu aula de mandarim, como me ajudou com a terminologia diplomática. Meu vocabulário é mais de uso doméstico. Para além disso, o Wang representou também uma janela aberta para as novas gerações de chineses, que viajam e usam a internet. O senhor utiliza o chinês quando vai à China? Isso abre um pouco mais as portas? Acho que sim. Sou partidário de se fazer sempre um esforço para aprender as línguas locais. Das seis línguas oficiais das Nações Unidas, podemos dizer que o diplomata brasileiro costuma conhecer bem o inglês, o francês e o espanhol. Mas não há muitos que falam árabe, russo ou mandarim. Estamos fazendo um esforço concentrado para aumentar nossa capacidade. Mas, independentemente do número de pessoas que falam a língua, aprender a língua local é uma manifestação de interesse e de respeito. A população local sempre aprecia. Quer ver um dado interessante? Quando eu era jovem diplomata, não eram muitos os Embaixadores estrangeiros que falavam português em Brasília. Hoje em dia, é raro o Embaixador estrangeiro em Brasília que não fale português. Mas houve, sim, uma situação curiosa, em que pude usar o mandarim em uma visita à China. Estava com o Ministro Celso Amorim em Pequim, em um carro, e o ar condicionado estava muito frio. O motorista só falava chinês. E eu consegui dizer “o ar condicionado está muito frio” (leng feng ji tai leng). E o motorista aumentou a temperatura. Foi divertido ver o ar de surpresa do meu ex-chefe! Nós falamos de música, mas pulamos cinema e livros, que talvez sejam pontos de interesse do senhor... Nosso trabalho exige muita leitura, produção de textos e oratória. Ler é útil profissionalmente e indispensável para o desenvolvimento intelectual do indivíduo. Sempre gostei muito de ler. Ultimamente, o tempo que posso reservar para literaturas “extracurriculares” é limitado. Recentemente, tenho lido bastante o autor franco-libanês Amin Maalouf. Além de seu livro sobre política externa, “O mundo em desajuste”, há o romance “Samarkand”, sobre a vida do poeta persa Omar Kayyám. Retrata o ambiente cultural de um mundo interligado, desde o Irã até o Uzbequistão, passando pelo Afeganistão, pelo norte da Índia e pelo Paquistão, durante o Séc. XII. É fascinante, além da excelente qualidade literária. O Mundo em Desajuste Obra de 2009 do escritor franco-libanês Amin Maalouf, membro da Academia Francesa de Letras desde 2011, argumenta que as crises econômica, ambiental e política que fustigam o planeta têm por origem um desarranjo mais profundo, relativo ao esgotamento do sistema de valores sobre o qual o ocidente e o mundo árabe-muçulmano se sustenta. Particularmente interessado na situação do mundo árabe, Maalouf elabora sobre a importância da compreensão mútua e do diálogo entre as diferentes culturas. Para uma resenha completa da obra, ver página 20. 15 perfil Ministro Antonio de Aguiar Patriota com os Chanceleres de Colômbia, Peru, Uruguai, Argentina, Venezuela, Guiana, União Europeia, Estados Unidos, Angola e representantes do BASIC 16 O senhor poderia falar sobre alguma leitura que marcou a sua adolescência ou juventude? “Cem anos de solidão” é um clássico que marcou muito a minha geração. A literatura latino-americana é muito rica. Algum brasileiro em particular? Desde criança, li muito Monteiro Lobato. Gosto dos escritores nordestinos: João Cabral de Melo Neto, Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Jorge Amado. E o cinema? Às vezes, sinto falta de oportunidades para ver filmes de diferentes nacionalidades. Acho que vocês terão ouvido falar do filme iraniano “Separação”, que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. Achei fascinante. Tento assistir filmes fora do circuito habitual. No fundo, ir ao cinema é mais fácil quando eu estou em Brasília. Outro filme que vi recentemente chama-se “Melancolia”, de Lars Von Trier. Achei impactante. Quanto aos brasileiros, há filmes excelentes. Central do Brasil, de Walter Salles. Cidade de Deus, de Fernando Meirelles. Melancolia Obra mais recente do excêntrico cineasta dinamarquês Lars Von Trier, propõe uma fusão extrema entre o estado de espírito de seus personagens e o mundo exterior. Na noite de seu casamento, a depressiva Justine esforça-se para parecer satisfeita e não arruinar a suntuosa festa organizada por sua irmã, a bem-resolvida Claire. À medida que um gigantesco planeta azul batizado de “Melancolia” avizinha-se da Terra, entretanto, os papéis invertem-se, e a iminência do desastre torna tênue a fronteira entre sanidade e loucura. Central do Brasil Filme de Walter Salles, com roteiro de Marcos Bernstein e João Emanuel Carneiro. Retrata a história da professora aposentada, Dora, interpretada por Fernanda Montenegro, e Josué, interpretado por Vinícius de Oliveira, um garoto que fica órfão de mãe aos oito anos e que sonha em conhecer o pai. Dora ganhava a vida escrevendo cartas para pessoas analfabetas na estação Central do Brasil, Rio de Janeiro, onde conhece Josué e de onde partirá em uma aventura pelo sertão da Bahia e de Pernambuco para realizar o sonho do novo amigo. O filme retrata ainda a realidade brasileira dos subúrbios de uma cidade grande no final do Séc. XX, bem como a situação da diáspora nordestina pelo Brasil e o problema da desigualdade social. A separação Filme iraniano vencedor do Oscar e do Globo de Ouro em 2012, retrata as tensões conjugais e sociais derivadas de um divórcio litigioso em uma sociedade na qual a tradição continua a ocupar papel central. Rompendo o estereótipo atribuído aos filmes iranianos - que tradicionalmente são venerados pela crítica especializada, mas tidos como “chatos” pelo espectador comum - “A Separação” obteve expressivos resultados de bilheteria ao redor do mundo. 17 perfil Um conto chinês Filme argentino dirigido por Sebastián Borenzstei e estrelado pelo onipresente Ricardo Darín, relata a história do encontro, em Buenos Aires, entre Roberto, um veterano da Guerra das Malvinas, e Jun, um chinês que está na cidade à procura de seu único familiar vivo. A relação entre os dois homens fará que Roberto abandone a clausura em que se tem mantido pelos últimos vinte anos e volte à vida. Todos se internacionalizando agora. Muitos se internacionalizando. E quem sabe uma menção especial ao cinema argentino, que produziu grandes obras. “Un cuento Chino”, por exemplo, não sei se vocês viram, um filme de que a Presidenta Dilma Rousseff gostou muito. O senhor mantém contato sobre temas profissionais com seu pai, que também foi diplomata? Os meus pais são, antes de mais nada, duas pessoas vitoriosas pelo vigor que têm, dada a idade muito avançada. Meu pai tem 96 anos; minha mãe tem 89. Meus conselheiros são o Secretário-Geral, os Subsecretários, os meus assessores, os Embaixadores no exterior, que estão acompanhando a agenda diária. A relação com meus pais é de natureza afetiva. Temas internacionais podem surgir a partir de uma conversa descompromissada e livre. Há alguma figura de diplomata que inspirou o senhor? Olha, há duas figuras especiais, eu diria. Uma delas é o Ministro Celso Amorim, com quem trabalhei muitos anos, desde Conselheiro, na Missão junto às Nações Unidas em 18 1995, onde foi o Representante Permanente. Trabalhei estreitamente com ele em vários temas, inclusive em um projeto que marcou muito a todos de que dele participaram, os chamados “painéis” sobre o Iraque no Conselho de Segurança, em 1999. Dois outros colegas também participaram daquele trabalho, a Ministra Gisela Padovan e o Ministro Leonardo Gorgulho. Ela está em Washington, e ele hoje de volta à missão junto à ONU. Ficamos alguns meses, praticamente o dia inteiro, incluindo sábado e domingo, dedicados a trabalhar e re- Painéis do Iraque Série de painéis estabelecidos pelo Conselho de Segurança em 1999, sob a presidência rotativa do Brasil e a coordenação do então representante permanente Embaixador Celso Amorim. No contexto do acirramento das tensões entre o Iraque de Saddam Hussein e os Estados Unidos, a meta dos painéis era avaliar, de forma objetiva, a situação humanitária, a evolução do processo de desarmamento e as condições dos prisioneiros em território iraquiano. Após dois meses de debates, o painel sobre desarmamento concluiu que a maior parte do trabalho das inspeções fora realizada e que seria possível passar para a fase de monitoramento contínuo. Embora exitosos em seus propósitos, os painéis não foram capazes de evitar a escala beligerante que se seguiu à eleição de George W. Bush e ao 11 de setembro – com consequências conhecidas. digir os relatórios. Normalmente o Secretariado é que faz esse trabalho. Tive muito contato com o Sérgio Vieira de Melo, que na época era o Subsecretário-Geral da ONU para Assuntos Humanitários. Foi uma experiência profissional realmente interessante. Mas antes dele, um chefe que marcou muito a todos que trabalharam com ele foi o Paulo Nogueira Batista. Foi meu chefe na delegação permanente em Genebra, de 1983 a 1987. O Paulo Nogueira Batista teve seu perfil feito na Juca 4. Eles conversaram com a viúva dele... Elmira Nogueira Batista, uma grande senhora. Olha, se perguntar aos Embaixadores Antonio Simões, Paulo Cordeiro, Hadil Rocha Vianna (todos trabalhávamos com ele nessa época), verá que nos marcou muito aquela experiência. Às vezes ficávamos exaustos, mas era um trabalho gratificante e aprendemos muito. Sobretudo aprendemos. Por exemplo, conforme conversei outro dia com um colega que estava escrevendo uma tese sobre “o bom negociador diplomático”, o Embaixador Paulo Nogueira Batista não ia para uma reunião no GATT ou na ONU sem ter lido os documentos antes. Ele não era daquele tipo que diz: “Resume aí o que tem nesse papel”. Ele estudava, era aplicado. Estabeleceu um padrão profissional elevado, que me influenciou muito. Agora, tive outros chefes, de quem fiquei amigo a vida inteira, o Embaixador Henrique Valle, que foi meu primeiro chefe na Divisão das Nações Unidas; a Embaixadora Vera Pedrosa, que foi minha chefe quando trabalhei na assessoria internacional no Planalto, na época do Presidente Itamar Franco. O senhor foi o primeiro de sua turma no Rio Branco. Até que ponto isso influiu em sua carreira? A classificação do Rio Branco é baseada em critérios objetivos, e, obviamente, ninguém será prejudicado por estar entre os primeiros Paulo Nogueira Batista Embaixador que formou uma geração de diplomatas, notabilizou-se pela tenacidade incomum que dedicava aos temas de que se ocupava – e pelo comprometimento que exigia, com alguma severidade, de seus subordinados. Entre outras proezas, negociou o acordo nuclear com a Alemanha, na década de 1970, performance que lhe granjeou o cargo de diretor da Nuclebras, nomeado pelo então Presidente Ernesto Geisel. Mais tarde, foi representante permanente em Genebra, à época das negociações que culminaram na criação da OMC. Sua posição era, por vezes, tão assertiva que a imprensa internacional elegeu-o o “maior inimigo da Rodada Uruguai”. Morreu em 1994, aos 64 anos. Para um perfil completo de Paulo Nogueira Batista, ver JUCA 4, disponível no sítio do MRE. colocados. Mas a avaliação do Instituto Rio Branco baseia-se sobretudo no desempenho acadêmico do diplomata, e a diplomacia é uma carreira que envolve a personalidade em seu conjunto: a capacidade de iniciativa, a atitude, a capacidade de relacionamento, de lidar com situações de tensão e imprevistos, de usar a criatividade para conseguir resolver problemas. Essas outras capacidades não são tão facilmente aferíveis por uma nota no Instituto Rio Branco. E o que quero dizer com isso é que os diplomatas que passam no concurso, que é muito exigente, terão sempre oportunidades de se sobressair. Dou muito valor, sem dúvida, ao desempenho acadêmico, mas também dou valor à atitude, à imaginação, à disposição de enfrentar desafios. 19 resenha resenha O Mundo em Desajuste, de Amin Maalouf Jaçanã Ribeiro É preciso dar-se conta da especificidade de nosso tempo: estamos diante de uma grande oportunidade de reajustar o mundo como condição de nossa sobrevivência 20 F. de la Mure / MAEE Amin Maalouf ocupa hoje, na Academia Francesa, a cadeira antes ocupada por LéviStrauss. Nascido no Líbano, esse escritor francófono passeia com maestria entre a literatura, o jornalismo e o ensaio político. Ao menos é assim que considero O Mundo em Desajuste: um ensaio político lúcido que instiga à ação, um livro forte cuja mensagem adquire a qualidade de exemplo prático com sua escrita e publicação. Já em suas palavras iniciais, o Maalouf romancista evoca duas belas metáforas para fazer o diagnóstico de nossa condição atual. De acordo com a primeira, “entramos no século sem bússola”, e nossos companheiros de viagem devem se dar conta de que o navio está à deriva e o tempo não é nosso aliado – ele é, antes, nosso juiz. Para Maalouf, chegamos ao limiar de nossa incompetência moral, o que é notório, dada a multiplicação de desajustes (econômico, financeiro, ambiental, moral) que nos desafiam. Assim, um pouco analogamente àquele antigo filósofo que saía com uma vela acesa em pleno dia, Maalouf pretende nos servir de guia, munido de uma lâmpada, através de um jardim destruído por uma tempestade – eis a segunda metáfora, no momento exato em que uma tempestade ainda mais destruidora, mais violenta, se anuncia. Nem só jornalista, nem só romancis- ta, nem tão somente jardineiro, paisagista ou filósofo, mas sim tudo isso mesclado em uma prosa límpida e cativante, Maalouf inicia seu livro com um questionamento: como reagir à regressão que nos ameaça? O livro está dividido em três partes. A parte inicial, “As vitórias enganadoras”, apresenta o final da Guerra Fria como um acontecimento enganador. Segundo a visão do autor, a vitória estratégica do ocidente acelerou seu declínio, conjurado pelo fim do debate político, substituído pela explosão das divisões identitárias. Essa é uma das ideias mais fortes do ensaio. A saída da Guerra Fria representou menos universalismo, menos racionalidade, menos laicidade, menos debate. Houve uma “deriva do ideológico ao identitário” que continua a bloquear uma conscientização política mais abrangente em nível mundial. Uma das consequências mais graves dessa deriva talvez seja a existência de duas “interpretações da história”, ambas internamente justificadas, porém incomunicáveis, que dividem, de um lado, aqueles que denunciam a “barbárie do mundo muçulmano, impermeável à democracia”, e, de outro, aqueles que denunciam o “cinismo do ocidente”, do qual a instalação premeditada do comunitarismo no Iraque, realizada por meio de ocupação errática e desastrosa, seria o exemplo mais eloquente. Para Maalouf, trata-se do retrato de duas civilizações moralmente falidas: uns não tem nenhuma moral, outros a perdem a cada dia. A segunda parte do livro, “As legitimidades perdidas”, apresenta um longo desenvolvimento sobre o processo de perda de legitimidade que afeta os países árabes. A figura central desse desenvolvimento é, sem dúvida, Abdel Gamal Nasser. Maalouf retraça toda a trajetória desse líder que conquistou ao que chama de “legitimidade patriótica”, inicialmente no Egito e, mais tarde, na grande maioria dos países árabes. Nasser será o mo- 21 resenha delo de muitos outros depois dele, como Saddan Hussein, Gadaffi, todos tendo fracassado em representar para o povo árabe aquilo que Nasser representou no pós-guerra de 1948 e na nacionalização do Canal de Suez, em 1956: “com Nasser, os árabes tinham o sentimento de ter reencontrado sua dignidade e de poder caminhar novamente entre as nações com a cabeça erguida”. Entretanto, Maalouf não poupa do retrato de Nasser o fato de ter sido vítima de sua própria retórica: “patriota dedicado, íntegro, inteligente e carismático, porém sem grande cultura histórica ou moral”, foi quem mais contribuiu para o fim do nasserismo. Um capítulo inteiro trata somente da Guerra dos Seis dias, que, segundo Maalouf, constitui a tragédia de referência que afeta a percepção que os árabes têm do mundo e que pesa sobre seus comportamentos. Os árabes “tem o sentimento de que tudo o que constitui sua identidade é desprezado e odiado pelo resto do mundo”. Esse duplo ódio, do mundo e de si mesmos, aliado à falta de legitimidade que se sucede à queda de Nasser, abre espaço à radicalização dos movimentos islâmicos, cujas teses saem fortalecidas pela ideia de que um chefe de estado árabe não consegue enfrentar o ocidente. Maalouf diagnostica a emergência de dois universos políticos paralelos, que hoje, nos desdobramentos da Primavera Árabe, ainda disputam legitimidade: aquele dos que governam sem o povo, como o exemplo de Sadate, cuja legitimidade é de jure, mas não de facto, e o dos que estão com o povo, mas não podem governar por não terem legitimidade de jure. A eleição do Hamas, em 2007, embaralhou novamente as cartas. Seria interessante ouvir a opinião do autor sobre o Egito, o Bareine e o Iêmen de hoje. Na terceira e última parte do livro, “Certezas imaginárias”, Maalouf lança uma série de ideias inovadoras, fortes e cheias de es- 22 Esse “epicurista fervoroso” não perde a oportunidade de discorrer longamente sobre o prazer do conhecimento e sobre a importância da cultura na sobrevivência dos homens. O século XXI será salvo pela cultura, ou perecerá perança. Esse “epicurista fervoroso” não perde a oportunidade de discorrer longamente sobre o prazer do conhecimento e sobre a importância da cultura na sobrevivência dos homens. O século XXI será salvo pela cultura, ou perecerá. Diz o livro sagrado do Islã que “os sábios são herdeiros dos profetas”, e insta: “estude, do berço à tumba”. O conhecimento é assim a chave para compreender que as ideologias passam, mas as religiões permanecem, pois o homem tem necessidades metafísicas tão essenciais quanto as materiais. Ele também é a chave para compreender que, no islã, o que ocorre é um sufocamento do religioso pelo político – vitória dos sultãos sobre os califas, contrariamente ao que se passou no ocidente. O religioso se espalhou no corpo social por causa desse sufocamento, escreve Maalouf. Daí uma das ideias mais fortes do livro, a de que a ausência de uma autoridade eclesiástica centralizadora e reconhecida como legítima favorece a expansão de radicalismos: “a ausência de uma instituição ‘papal’ capaz de traçar a fronteira entre o político e o religioso é o que explica, ao meu ver, a deriva que afeta o mundo muçulmano”. O clérigo papal teria, na visão do autor, o papel de sustentar a atividade de registro de progresso a cada etapa da evolução dos costumes, o que não ocorre no islã. Maalouf é cristão confesso e escreve claramente que não é especialista na religião islâmica. Ainda nessa chave, o conhecimento teria um papel importante na desmistificação da ideia de choque de civilizações. Parte-se de um diagnóstico clínico correto: depois da queda do Muro, as sociedades reagem aos eventos políticos em função de seu pertencimento religioso. Maalouf vaticina que o erro é partir do presente para construir uma teoria geral da História. As civilizações são compostas, móveis, permeáveis. Além disso - uma ideia mais ousada - é chegado o momento de transcender todas as civilizações, criando uma civilização comum fundada em dois princípios intangíveis e inseparáveis, que são a universalidade dos valores essenciais e a diversidade das expressões culturais. Nesse contexto, o autor dedica boa parte de sua reflexão para pensar a figura do migrante, exemplo máximo de duplicidade cultural, corrente de transmissão de valores e percepções, vetor de modernização, progresso social, liberação intelectual nas sociedades de origem. É preciso, segundo Maalouf, ver o emigrante dentro do imigrante, ver sua duplicidade como algo unitário, ideia que tem no Ministro Patriota - amigo pessoal do autor - um grande entusiasta. O papel do migrante seria de fundamental importância se se pudesse transformá-los em ‘discípulos da experiência europeia”, associando-os à comunidade plenamente, aceitando o fato de que uma pessoa pode ser dupla, convidando a ser, “entre sua cultura e a nossa, o intermediário insubstituível”. Por essa razão o autor aposta no papel edificante culturalmente que as diásporas vem exercendo e que deveriam exercer com maior força nas comunidades em que se encontram, aquele de criar laços de conhecimento mútuo que possam ser comunicados aos suas comunidades de origem. Essa é uma das apostas de Maalouf, dentre outras tantas. Uma das mais interessantes, ao mesmo tempo sóbria e cativante, é aquela relativa ao aquecimento climático, que Maalouf toma emprestado de Pascal. Aposte que ele exista, pois se ele não existir, não terá perdido nada. Porém, caso ele exista, e você apostou o contrário, as consequências podem ser catastróficas. O livro fecha com outras apostas. A eleição de Barack Obama é uma delas. Passado seu primeiro mandato, Obama já foi reeleito, e os efeitos de um “Novo Começo” ainda alimentam esperanças. Outra fonte de esperança de Maalouf é a União Europeia, ao tempo de escrita do livro menos incerta de seus rumos e tormentosa do que se encontra agora. Enfim, seria preciso rever o próprio Prefácio escrito depois do início da Primavera Árabe, eivado de nova esperança que ainda espera ver resultados concretos nos desenvolvimentos da Tunísia, Líbia, Egito. Maalouf escreveu seu diagnóstico do mundo antes de começarem os protestos no mundo árabe. Hoje, quando se comemoram dois anos de Primavera Árabe, a situação no Egito, na Tunísia, no Iêmen, no Bareine e no Iraque só demonstra a atualidade de seu pensamento e de seu alerta. Talvez o mundo nunca tenha sido ajustado, mas hoje seus desafios nos demandam ações cada vez mais concertadas e efetivas. O que incomoda Maalouf, ainda agora, é a urgência. O desajuste, ou melhor, os desajustes que denuncia nesse livro são, para ele, fonte de uma regressão destruidora que se anuncia, capaz de desorientar qualquer parâmetro de convivialidade internacional hoje ainda de pé. É preciso agir agora, mesmo que os caminhos apontados não pareçam os mais fáceis. Maalouf convida-nos para um desafio planetário, para o qual a concorrência de todas as nações é de suma importância. Afinal, como ele mesmo escreve, “não há mais estrangeiros nesse século, só ‘companheiros de viagem’”. MAALOUF, Amin. O Mundo em Desajuste: Quando nossas civilizações se esgotam. Difel: São Paulo, 2011. 23 dossiê dossiê 24 A política externa da redemocratização contada por aqueles que a conceberam Nas páginas que seguem, o leitor da JUCA terá a oportunidade única de acompanhar a evolução de vinte e cinco anos de nossa política externa por meio de relatos pessoais dos homens responsáveis por pensá-la. Sabe-se que não foram poucos os desafios a serem pensados nesse período atribulado de nossa inserção internacional: novas concepções nas áreas de integração regional, direitos humanos, meio ambiente, desarmamento e comércio internacional, entre outras, demandaram decisões arrojadas de toda uma geração de formuladores de política externa. No comando, estiveram os presidentes José Sarney, Fernando Collor de Mello, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. A equipe da JUCA fez sua parte e conversou com os quatro ex-mandatários vivos. Não ousaremos esboçar uma tentativa de síntese; cabe ao leitor fazê-lo. Com a palavra, portanto, os Presidentes. 25 dossiê José Sarney “Eu não entendia por que nós tínhamos os olhos voltados somente para o Norte e abandonávamos completamente os nossos vizinhos” Agência Senado Danilo Vilela Bandeira Gustavo Cunha Machala Gustavo Guelfi de Freitas 26 Os incontornáveis e intermináveis compromissos do então Presidente do Senado Federal não impediram que, por uma tarde, a equipe da JUCA fosse recebida por José Sarney de Araújo Costa na imponente Sala de Reunião do Senado. Falando com nítido entusiasmo sobre a sua atuação na arena internacional – a tal ponto que, em mais de uma ocasião, visitantes de altíssimo escalão tiveram de aguardar a conclusão de seu raciocínio na sala contígua -, o primeiro presidente da Nova República revisou seu relacionamento pessoal com Alfonsín e a aproximação com a Argentina, os desafios da redemocratização, da dívida externa e da condução de um país em meio à escalada da inflação, além de abordar momentos fundamentais de nossa história diplomática - como a candidatura do país à sede da Rio 92 e a adesão a tratados internacionais basilares. A seguir, trechos da entrevista. Presidente, qual a maior realização de sua política externa nos cinco anos em que o senhor esteve à frente do governo? A política externa nunca fez parte da política interna no Brasil. Se analisarmos a história do Parlamento brasileiro, pelo menos ao longo da República, observamos que nunca tivemos grandes debates sobre política externa. Isso impossibilitou, na transição para a democracia, que as forças políticas que participaram da transição tivessem condições de pressionar o governo nas posições de política externa, proporcionando-me o único espaço em que pude imprimir livremente a minha marca pessoal. Eu não entendia por que tínhamos os olhos voltados somente para o Norte, para a Europa, para os EUA, e abandonávamos completamente os nossos vizinhos, quando se pode mudar tudo menos a geografia. E a geografia impunhanos uma eterna convivência com nossos vizinhos. Nesse sentido, julguei que a primeira iniciativa que deveríamos tomar em política externa era criar um espaço econômico na América do Sul no qual pudéssemos ter capacidade de união e, ao mesmo tempo, aumentar nossa competitividade econômica e nossa participação política. Por isso busquei o fortalecimento de nossas relações com a Argentina nos moldes do modelo trilhado pelo chamado Mercado Econômico Europeu. A integração da Europa começou com a paz franco-germânica, por meio do Tratado do Aço. Considerei ser o parâmetro a seguir. Então mandamos, logo nos primeiros meses de governo, o Olavo Setúbal a Buenos Aires, dando início aos primeiros contatos com vistas a mudar o patamar de nossas relações. Eu almejava criar uma aproximação e uma parceria de cooperação muito estreita, que rompesse com todas as sombras e barreiras que nos tinham dividido no passado. Acho que todas elas baseadas em políticas equivocadas, a maior delas apoiada na premissa de que quem dominasse o Prata dominaria a América do Sul, uma teoria do século XIX, inteiramente falsa. O senhor acredita que esse projeto de MERCOSUL é muito distinto do MERCOSUL que se consolidou efetivamente? Sim, porque nosso objetivo era criar um mercado comum que depois fosse aberto a todos os países da América do Sul. É por isso que o Tratado de Buenos Aires de 1988 falava em integração por setores, justamente para que não tivéssemos que dar um passo à frente e outro para trás, sabendo que um projeto dessa grandeza e dessa natureza teria problemas. Nós não queríamos ficar só na retórica. Queríamos realizar, e para isso teríamos que ter um projeto objetivo e exequível. O Tratado dava início a essa integração setorial. A partir de 1990, com a ascensão de Menem e Collor, essa visão foi totalmente modificada, passando a vislumbrar apenas a construção de uma área de livre comércio. Assim, a nossa integração, que era uma integração política, física, econômica e cultural, em suma, de toda natureza, passou a ganhar outros contornos. O resultado é que a partir daí começaram os problemas. Esse projeto grandioso e generoso passou a sofrer com interesses pequenos, casuísticos e circunstanciais. Mais recentemente, ele não recuperou esse sentido? Eu acho que não, eu acho que ao contrário. Abandonou-se esse projeto principal, e quanto ao projeto atual, temos visto cada vez mais os países defenderem os seus interesses internos, se fecharem, em vez de se abrirem para um projeto comum. Não avançamos um passo em sua construção institucional, como aconteceu com a Europa, com todos os organismos e instrumentos que montaram. Evidentemente, do ponto de vista econômico não podemos negar que tivemos um sucesso extraordinário. A Argentina passou a ser o nosso maior parceiro e, na América do Sul, mudamos, só com uma ideia, a face do relacionamento entre os países. Isso foi simbolizado em frase do Sanguinetti, ao mencionar em Uruguaiana que “a coisa mais importante para nossos países, depois de nossas independências, foi a criação do MERCOSUL”. E eu acredito que essa continua sendo uma ideia não só generosa, como necessária. O germe dela foi plantado e se desenvolverá em algum momento. Podemos ter perdido o timing do andamento, mas é inevitável que ela vai dominar a América, porque a tendência mundial é a de desenvolvimento dos espaços econômicos. Em que medida o senhor teve influências das ideia de política externa do Presidente Tancredo Neves? O Presidente Tancredo nunca falou comigo a esse respeito. Eu não participei da elaboração do programa de governo. Isto foi ideia pessoal minha. Até porque eu era uma voz isolada dentro do Congresso, sempre discutindo problemas de política externa. Mas havia muitas tensões, não? Com os EUA? Com os EUA era muito difícil. Naquele momento, a Guerra Fria estava dando margem, nos seus estertores finais, a um cheque mate dos EUA em relação à União Soviética, impulsionado pela intensificação da corrida tecnológica e pelo agravamento das relações bilaterais, bem ilustrado pela declaração de Reagan sobre o Império do Mal. Evidentemente, o reflexo aqui na América Latina era o alinhamento de nossos países em torno dessa corrida armamentista e, ao mesmo tempo, a importância que Cuba assumia no continente como símbolo de resistência a esse modelo. E nesse sentido o senhor optou pelo não alinhamento? Eu optei pelo não alinhamento, porque estávamos saindo de um processo autoritário no qual as forças que viviam na clandestinidade precisavam de espaço de manobra para se manifestarem. Para construir a democracia, o governo que estava nascendo deveria realmente ser um governo que abrisse espaço para essas forças, pois nós sabíamos exatamente o que significava o efeito desestabilizador que as guerrilhas poderiam ter nesse novo mundo. Ao longo da história considerávamos que o perigo, em matéria de soberania, era a Argentina. Todas as nossas hipóteses de guerra eram com a Argentina. Mas agora estávamos diante de uma ameaça que vinha do Norte. Temíamos uma intervenção dos EUA na América Central. Não participamos do Grupo de Contadora, mas fundamos o Grupo de Apoio a Contadora. Da coordenação entre ambos nasceu o Grupo dos Oito, mais tarde formalizado como Grupo do Rio. Naquele momento estávamos vivendo problemas muito sérios, estávamos debaixo da guilhotina da dívida externa. Qual o papel que o Itamaraty objetivamente teve nessa renegociação da dívida? Era muito mais lógico buscar uma negociação com o governo dos EUA abordando a dimensão política da dívida, e não apenas a comercial. Mas ouvi do próprio presidente Reagan que isso era um problema bancário: “nós 27 Victor Bugge dossiê política para impor o sacrifício de um plano dessa natureza ao povo brasileiro. Como havia sido defendido por Tancredo, não se podia deixar que a dívida externa fosse paga com a fome do povo brasileiro. No plano ambiental, a ideia da Rio 92 foi do senhor? não temos nada com isso”. O Secretário Baker naquele instante era muito resistente. Tivemos uma reunião bastante tensa com ele da qual participou o então Vice-Presidente George Bush. Discutimos exatamente a respeito da necessidade de que a dívida fosse tratada como um problema de política porque ela era de certo modo impagável. Essa foi a primeira grande virada da política externa. A outra foi termos a visão mundial de que países do nível do Brasil, da China e da Índia deveriam formar um grupo também em nível internacional. Talvez isso tenha sido o início da ideia dos BRICs. Nós tínhamos a dificuldade de não termos um país africano para incluir nessa articulação, pois naquele tempo a África do Sul se encontrava em regime de apartheid e seria impossível que viesse a fazer parte do grupo. Além disso, tínhamos o problema da Nigéria, que almejava protagonismo em seu continente, mas que também não tinha estrutura para um projeto dessa natureza. Na minha conversa com o Deng Xiaoping cheguei a citar esse problema… A decisão de decretar a moratória teve alguma interlocução com o Itamaraty? Não. A decisão da moratória não teve interlocução com o Itamaraty porque ficou muito mais na área econômica. Não foi uma moratória política, foi uma moratória técnica. Nossas reservas estavam na ordem de 3 bilhões de dólares, o que não dava para as importações brasileiras de sessenta dias. Não tínhamos mais tempo. Já tínhamos tentado, em vão, muitas negociações com os EUA. Eles protelavam o diálogo e nos levaram a uma situação de estrangulamento. Quando decretamos o Plano Cruzado, buscando uma solução heterodoxa. Estávamos rompendo com uma tradição que eles tinham montado para defender a economia mundial e o FMI. A ideia deles era forçar-nos a seguir a receita do FMI, que era a receita da recessão. Eu não tinha condições políticas de aceitá-la, pois a primeira consequência seria a minha deposição. Eu não tinha força 28 A ideia da Rio 92 foi minha. Com o fim da Guerra Fria, o problema do meio ambiente passou a ocupar esse vazio na ideologia daquele tempo. O Brasil viu-se sentado no banco dos réus com a Amazônia. Fomos vítimas de todas aquelas teorias de que a Amazônia era o pulmão do mundo e de que estávamos tocando fogo na Amazônia. Quando, na realidade, a preocupação com a Amazônia tinha sido nossa, pois até as fotos dos satélites americanos que detectavam as queimadas na Amazônia tinham sido encomendadas e compradas pelo Brasil. Desde 1972, na época da Conferência de Estocolmo, busquei transmitir a minha preocupação sobre o assunto. Em meu governo formulamos o programa Nossa Natureza e criamos o IBAMA. Eu achava que deveríamos alterar a legislação brasileira. Fomos pioneiros e hoje temos, talvez, a melhor legislação ambiental do mundo. Mas as pressões sobre o Brasil aumentavam. Tínhamos de fazer algo em termos de Nações Unidas, e isso era colocar o Brasil como sede da Conferência do Meio Ambiente. Estava resolvido que a sede seria na Noruega. Propusemos que fosse no Brasil. Lançamos o desafio. Se o Brasil era apontado como um dos vilões, queríamos que a Conferência fosse realizada aqui. Qual o balanço que o senhor faz dos vinte anos entre as duas conferências no Rio? O nosso engajamento para que a Conferência fosse aqui mudou a percepção mundial a respeito do Brasil e de sua relação com o meio ambiente. Eu tive uma conversa com o Presidente Bush, no Japão, por ocasião do sepultamento do Imperador Hirohito, na qual ele me disse que os EUA não viam com bons olhos uma estrada que estaríamos construindo, com financiamento japonês, para atingir o Pacífico. Disse-me que seria a devastação da Amazônia. Respondi-lhe que para mim era uma surpresa, pois eu estava tendo a notícia da construção dessa estrada por ele. Em seguida perguntei-lhe se sabia qual era a dimensão da Amazônia, se tinha ideia do tamanho da floresta. Mencionei o fato de ser dez vezes o tamanho do Texas, de forma que não era um lugar em que se poderia tocar fogo como em uma fogueira de folhas de outono. Hoje, o Brasil é visto como um defensor de temas relacionados à preservação do meio ambiente. Desapareceu a imagem negativa do país que existia no final da década de 1980. Questões como a de Belo Monte, por exemplo, dinário. Ele dizia que o Uruguai é um país pequeno, mas posso afirmar que sob o comando de Sanguinetti o Uruguai se expandia, crescia, tal é o poder de sua inteligência, da sua capacidade política, do seu espírito público. Sem falar no que ele representou nas relações conosco, entre Argentina e o Brasil, e a ligação que tivemos Alfonsín, Sanguinetti e eu. Ficamos os Três Mosqueteiros dessa grande causa, que é o MERCOSUL. são muito menos importantes e mais específicas, diferentes da preocupação mais geral que existia na década de 1970 e 1980, quando a Amazônia era tida como um problema mundial, de proporções muito maiores. Houve, em seu governo, uma mudança da postura em relação aos Direitos Humanos? Sim. Logo no início de meu mandato, em 1985, assinei a Convenção Interamericana sobre os Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), reafirmando meu propósito político de consolidar no Brasil, dentro do quadro das instituições democráticas, um regime de liberdade pessoal e de justiça social, fundado no respeito dos direitos humanos essenciais. No ano seguinte, a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura. No âmbito das Nações Unidas havia um programa de ajuda e apoio institucional a países recém-saídos de ditaduras, cujo objetivo principal era a defesa dos Direitos Humanos, e que contou com o total apoio de meu governo. Após concluirmos nossos respectivos mandatos, Alfonsín e eu éramos convidados principais dos seminários organizados no âmbito desse programa, pelo exemplo que demos ao longo do processo de transição democrática em nossos países. Nesse contexto, por que não se decidiu assinar o Tratado de não Proliferação (TNP)? O TNP não estava na mesa de negociações, não era uma preocupação dos EUA. Ademais, o Brasil já havia concebido a ideia do Atlântico Sul como Zona de Paz. As pressões por assinatura foram posteriores; o tema não tinha a prioridade que ganhou por parte da política externa norte-americana. Recordo que a política de aproximação e integração coma Argentina pôs fim às desconfianças mútuas, encerrando qualquer possibilidade de corrida nuclear. Naquele período a participação do Brasil no Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) já era uma questão? O senhor poderia comentar a sua relação com os presidentes Sanguinetti (Uruguai) e Alfonsín (Argentina)? CruzABr Alfonsín foi uma figura extraordinária na política argentina e um grande estadista. Foi fundamental para a viabilização e construção do MERCOSUL. A Argentina estava dez anos à frente do Brasil em termos de pesquisa nuclear e, em meio a essa rivalidade, uma fotografia foi fundamental para começar a solucionar a questão. Alfonsín, em um gesto político ousado, pediu-me para levar toda a comissão de técnicos responsáveis pela pesquisa nuclear brasileira à usina secreta de Picanegeo, na Argentina. Na mesma viagem, Alfonsín comentou-me que a Argentina já dominava há bastante tempo a tecnologia de enriquecimento de urânio. Quando o Brasil também concluiu essa etapa, convidei-o para inaugurar a Usina de Aramar, até então secreta, de tecnologia sensível, e onde há uma placa de bronze com os seguintes dizeres: “Esta usina foi inaugurada pelo Presidente da Argentina, Dr. Raúl Alfonsín”. A partir desse momento, não havia mais segredos com relação à questão nuclear entre os dois países, um processo que outras nações tiveram enorme dificuldade para atingir. Havia uma tranquilidade absoluta quanto ao entendimento entre nós. Há que se ressaltar a grande resistência dos militares argentinos a tais gestos de aproximação com o Brasil, muito mais disseminada e ampla do que aqui, circunscrita a grupos específicos e bem identificados. Quanto a Sanguinetti, o que posso dizer é que foi um parceiro extraor- Eu procurei reavivar, em 1988, em discurso na ONU, a necessidade do Brasil participar, como membro permanente, do CSNU. Mas isso era uma reivindicação histórica brasileira que eu retomava e que remontava à época da Liga das Nações. Na Segunda Guerra foi um compromisso não cumprido de Roosevelt. O discurso visava a marcar a posição brasileira. Não chegamos, no entanto, a entabular conversações com Japão, Índia e Alemanha. No que diz respeito à Argentina, não cheguei a discutir o pleito brasileiro de um assento permanente no CSNU com o Presidente Alfonsín. 29 dossiê Fernando Collor de Mello “Não cabe ao Brasil a adoção de atitudes pequenas e gratuitas como o chamado terceiro-mundismo” Ubirajara Dettimar/ Ag. Br João Guilherme Fernandes Maranhão Não raro, o quadro interno e o contexto internacional alcançam curiosas convergências. No Governo Collor de Mello, as mudanças por que passava o mundo tinham progressiva expressão nas reformas e criações políticas da República. No Brasil, tinha termo o modelo desenvolvimentista das décadas pretéritas e persistiam problemas macroeconômicos de monta, enquanto a dissolução da União Soviética fazia compreender que o mundo se reorganizava. Entre 1990 e 1992, Collor de Mello deixou um legado que não se dissolveu pela força do tempo. Nas páginas seguintes, em entrevista concedida por e-mail, o exPresidente – hoje aos 63 anos e senador por Alagoas – fala desse patrimônio incorporado à história da diplomacia: sua concepção de um país sem “complexo de inferioridade”, a abertura econômica como ato de modernização, o aprofundamento da confiança com a Argentina por meio da criação da ABACC e da consolidação do MERCOSUL e a reabilitação da imagem internacional do país na esfera ambiental, com a realização da Rio-92, entre outros temas. Qual foi a maior realização de sua política externa? Considero o MERCOSUL uma de minhas principais realizações, ao lado da abertura da economia. Penso, com convicção, que a ideia do Mercosul não era meramente econômica, mas a criação de um espaço de colaboração, de paz e solidariedade entre nossos vizinhos. Devemos cuidar para que a amizade e a solidariedade sejam os elementos principais da argamassa que manterão unidas as nossas nações, pois os desafios internacionais continuam grandes e não podem ser enfrentados isoladamente. O senhor poderia mencionar as características contextuais que distinguem sua gestão da PEB da gestão anterior? A política externa de meu Governo fundamentou-se em profunda e cuidadosa análise do cenário internacional de então, na elaboração de seus possíveis desdobramentos e na antecipação das possibilidades de ação do país. A configuração mundial que emergiu da Segunda Guerra Mundial teve como uma de suas principais características a bipolaridade, ou seja, a concentração do poder em dois polos principais que lutavam pela hegemonia. De um lado estava o campo liderado pelos Estados Unidos, e, de outro, aquele encabeçado pela União Soviética. Os dois campos lutavam pela supremacia em todas as áreas. Propugnavam a superioridade de sua ideologia, por meio 30 No seu governo, o Brasil aprofundou uma postura mais participativa e colaborativa quanto à defesa do meio ambiente. Qual é sua avaliação dos avanços na implementação da agenda da ECO-92? E qual foi o maior ganho para o Brasil com a Rio+20? A Rio 92 configurou êxito marcante e foi divisor de águas na batalha ambiental ao conseguirmos unir as ideias de proteção da natureza e desenvolvimento, consubstanciadas no conceito de desenvolvimento sustentável, o que se consolidou na Rio + 20. Registro o sucesso de conseguirmos fazer que o progresso e a preservação ambiental não fossem vistos mais como conceitos antagônicos e sim como forças que podem e devem caminhar juntas. Agência Senado de ações de propaganda, de busca de prestígio, e procuravam expandir a crença na superioridade de suas convicções em todo o mundo. Essa luta dava-se no terreno econômico, na disputa tecnológica, na corrida armamentista, tanto nuclear quanto convencional. Embora os dois lados não tenham chegado a se enfrentar diretamente no campo militar, e por isso o período do pós-guerra foi chamado de Guerra Fria, os dois polos combateram por meio do apoio a contendores como se verificou na África e na Coréia. Do ponto de vista econômico, as áreas de influência eram fortemente delimitadas e havia muita rigidez nas relações de troca. O sistema internacional essencialmente bipolar de depois da Segunda Guerra pode ser visto como uma configuração em que os dois centros principais de poder faziam exigências extremamente fortes em termos de lealdade e alinhamento, pois não se podiam permitir derrotas ou fracassos – uma perda de um lado correspondia direta e simetricamente ao ganho do outro – com consequências imediatas em termos de prestígio aos olhos do mundo. Essa configuração, que apresentei de forma muito esquemática e simplificada, já dava sinais de esgarçamento mesmo no período de mais aguda bipolaridade, com o crescente afastamento da China Comunista em relação à União Soviética, o Movimento Não-Alinhado, a paulatina formação do Mercado Comum Europeu, a busca de independência por parte de integrantes do Bloco Soviético (Hungria em 1956, Tchecoslováquia em 1968). Esse movimento de relaxamento, que levou à derrocada do Leste Europeu e da URSS pode ser simbolizado com a Queda do Muro de Berlim, em1989, imediatamente anterior ao meu Governo. No novo cenário, as fronteiras deixavam de ser tão rígidas, a preponderância dos polos de poder se esvaía e as forças da globalização tomavam impulso. Os mercados não se circunscreviam aos limites anteriores e aumentava a competição, com características cada vez mais transnacionais. Havia uma nova realidade na qual o Brasil deveria se inserir. Como o senhor qualificaria a orientação de sua política externa em relação aos Estados Unidos? Havia uma intenção deliberada de abandonar o terceiro mundismo? O relacionamento com os EUA deve ser entendido como um relacionamento maduro, de países independentes que têm uma contribuição a dar à paz e à segurança internacionais. Deve, portanto, ser uma relação de respeito mútuo e não cabe ao Brasil a adoção de atitudes pequenas e gratuitas como o chamado terceiro-mundismo, que reflete um incabível complexo de inferioridade. No meu governo as relações bilaterais foram de mútua aceitação de diferenças, de confiança e de respeito recíproco. O senhor é detentor do maior índice de viagens ao exterior no período em que foi presidente (considerando-se os presidentes até então). O senhor credita esse fato a uma marca pessoal ou a uma necessidade percebida de que a participação mais ativa do Brasil no sistema internacional (autonomia pela participação) dependia também da presença ativa do PR? Como reagiu o Itamaraty à maior participação da Presidência nos fóruns e nos canais diplomáticos usuais? Considerei a chamada diplomacia presidencial importante para a consecução dos objetivos brasileiros em uma fase de aguda transição, em que só o empenho direto do Presidente daria o impulso necessário à necessidade de afirmação do Brasil naquela época de incertezas. O Itamaraty, instituição pela qual tenho o maior respeito e admiração, foi crucial para as vitórias que pude obter, inclusive na preparação de outro marco da minha política externa, para a qual me empenhei pessoalmente, que foi a Rio 92. 31 Roberto Barroso dossiê Em que medida o MERCOSUL de hoje representa o (ou diverge do) projeto que o Sr. implementou? Em outras palavras, o Sr. enxerga um processo de continuidade nessa construção de um espaço de integração? Para a consecução do ambicioso projeto de um Mercado Comum era necessário, continuar com o trabalho, já iniciado por meu antecessor, de eliminação da tradicional rivalidade entre as duas potências sub-regionais, o Brasil e a Argentina. Foram tomadas medidas para a integração, por meio da aproximação política e econômica. Um marco desse processo de construção de confiança mútua foram os acordos de cooperação nuclear, com a constituição da ABACC, a Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Material Nuclear, e a celebração do Acordo Quadripartite entre o governo brasileiro, o argentino, a AIEA e a ABCC, que firmei em Viena. Essas medidas de “confidence building” marcaram o meu Governo e foram a base de todo o processo de integração regional, que tem sido seguido pelo Brasil como política de estado – é, inclusive, matéria constitucional – e não apenas de governo. Considerando-se que um dos grandes objetivos políticos a que o senhor se propôs foi a liberalização e a modernização da economia brasileira qual a avaliação que o Senhor faz desse objetivo com a vantagem de já termos avançado duas décadas após esses acontecimentos? Para a nova inserção, o Brasil deveria ser competitivo, para o que necessariamente tinha que modernizar sua economia e deixar de lado os mecanismos de proteção de setores ineficientes da economia, sob pena da obsolescência e do esclerosamento. Esse quadro levou às medidas de abertura que caracterizaram meu Governo e foram a base para o desenvolvimento atual da economia brasileira. Por outro lado, havia que garantir espaços econômicos que propiciassem mercados adequados em 32 uma situação internacional de globalização crescente. Essa consideração nos levou a empreender a construção do Mercado Comum do Sul, o MERCOSUL, um espaço econômico, mas também de solidariedade. A campanha brasileira por um assento permanente no Conselho de Segurança lhe parece uma prioridade de política externa? Quanto à participação como membro permanente do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, considero que não será conquistada por meio de campanha política. Embora seja necessária a democratização do Conselho de Segurança e a presença de países emergentes, o Brasil, para se habilitar ao Conselho, deverá adquirir posição de maior relevância na configuração internacional de forças, tanto por meio do desenvolvimento econômico sólido quanto pela aquisição de peso estratégico. A participação no Conselho implica prestígio, mas também pesada responsabilidade na manutenção da paz e da segurança, o que tem um custo alto, para o qual a sociedade brasileira deverá estar preparada. Ademais, o processo de afirmação e integração regional do Brasil deverá estar em fase que possibilite representarmos, sem contestações, nossa sub-região no concerto internacional. Quando esses requisitos estiverem atendidos, o Brasil será naturalmente levado a posições de maior influência mundial. Para que serve a política externa? O senhor acredita que ela foi útil para alcançar objetivos de política interna em seu governo? A política externa significa a projeção do país no exterior e é essencial para a sua defesa, a sua segurança e o seu desenvolvimento. Deve ser uma feição permanente do Estado e não mero complemento ou coadjuvante da política interna, apesar de haver óbvio inter-relacionamento. Assim, os interesses de Estado sobrepõem-se aos interesses eventuais de um governo e dizem respeito à própria sobrevivência do país no sistema internacional. Fernando Henrique Cardoso “Minha maior realização foi fazer o Brasil voltar a ser um país normal” Danilo Vilela Bandeira Barbara Boechat de Almeida Paulo Cesar do Valle A silhueta do ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso desenhava-se contra um céu tempestuoso de uma tarde de primavera quando a equipe da JUCA foi introduzida em seu gabinete. Jovial, quase indiferente aos 81 anos que ostenta, o presidente de honra do PSDB falou por quase duas horas sobre a política externa de seus dois mandatos. Enfatizou o seu papel como mediador da reinserção do país em um sistema internacional em acelerada mutação, os desafios da integração regional em um período de nuvens negras da economia internacional e os ditames de uma política externa que, nas palavras do então Chanceler Luiz Felipe Lampreia, pretendia “afastar-nos das posturas terceiro-mundistas”. A seguir, trechos da entrevista concedida no instituto que leva seu nome, na região da República, em São Paulo. Presidente, qual foi a maior realização de sua política externa? Minha maior realização foi fazer o Brasil voltar a ser um país normal e não ter inibições no seu relacionamento com o mundo. Porque nós sempre tivemos uma posição – historicamente, não importa o governo – de um país grande, de influência relativa na América Latina e muito fechado, economia fechada, sempre desconfiado dos EUA, da Europa. Houve momentos, como vocês sabem, de uma política externa mais agressiva, a chamada PEI, mas que via o Brasil como parte do terceiro mundo, o que naquele momento tinha a sua justificativa. Quando eu cheguei ao governo, o Brasil já era um país bastante diferente, tinha um peso específico bem maior. Eu dizia na época, quando era candidato, que o Brasil não era um país subdesenvolvido, era um país injusto. Já era a 10ª economia do mundo, mas havia quase um complexo no relacionamento com os EUA e a Europa. Eu fiz oposição ao Sarney, mas ele teve dois grandes méritos: primeiro, ele foi muito tolerante internamente, o que era importante para a democracia. Segundo, o Sarney abriu o Brasil para a América do Sul. Então nós já estávamos numa posição diferente. Veio o Collor, com seus rompantes, e quebrou o isolamento econômico. Você pode discutir se deveria ter sido negociado ou não, mas de qualquer forma era muito difícil ter um impulso como o do Collor, para poder abrir a economia. E o Collor tinha complexo de primeiro mundo, adorava Tatcher. Ele já tinha um relacionamento vigoroso com o primeiro mundo, mas não deu tempo de fazer nada. No governo do Itamar – no qual eu tinha bastante influência - já era óbvio que o Brasil tinha que se acomodar na ordem emergente nova, que era a globalização. Então o que a política externa tinha de fazer, e isso continua, é defender os interesses nacionais do país em um contexto diferente do anterior. 33 dossiê E o que seria esse país normal? É isso, não ter receio de negociar. Por exemplo, tem globalização, tem a OMC, então vamos usá-la. A primeira questão colocada em litígio foi no meu governo, do algodão. Nós criamos no Itamaraty um grupo para poder acompanhar a questão. Eu tive de brigar com uma pessoa que admiro, que mais tarde nomeei Embaixador no Vietnã, porque ele deu uma entrevista em que disse que eu queria transformar o Itamaraty numa associação comercial. Eu disse, olha, o Itamaraty também tem de entrar nessa briga comercial. Se tem que brigar com os EUA, briga, mas não vamos transformar um choque específico em um choque global. E isso vale para todos, vamos defender nossos interesses de forma competente. A primeira reunião de G20 foi feita no meu governo, ainda com os Ministérios da Fazenda. Comenta-se muito que o peso da Fazenda, não apenas no G20, mas em outras instâncias, foi maior que o do Itamaraty. É provável que isso seja verdade. Primeiro, porque nós tínhamos uma dificuldade financeira enorme, e isso pesava. Segundo, a equipe era muito competente, e era reconhecida internacionalmente, mas eles sempre jogavam em conjunto com o Itamaraty, para o qual eu sempre dei muita importância. Quais eram as grandes questões do período? Naquela época, nós tínhamos algumas questões complicadas. A primeira era a consolidação do Mercosul. A segunda era a posição brasileira em relação ao Conselho de Segurança. A terceira era a questão da ALCA. O Mercosul foi uma experiência complicada, porque começou como uma iniciativa burocrática, nem mesmo econômica, que foi aceita, com certa dificuldade pelo Itamaraty, e com alguma resistência pela Fazenda. Inicialmente, avançou muito na parte comercial, mas os empresários e a população não participaram do processo, pois foi o Executivo que conduziu. Além desses temas, eu achava que a América do Sul tinha que ser prioridade e por isso a primeira reunião do continente foi feita por mim. Havia muita dúvida no Itamaraty, por causa das suscetibilidades que isso poderia levantar – e levantou. O México não gostou, tanto que eu tive que convidar o chanceler mexicano, Jorge Castañeda – que é meu amigo – para assistir à reunião. Por que América do Sul? Eu percebi que o Mercosul, do jeito que ia, seria basicamente um acordo do comércio e logo empacaria na competição comercial. Por isso, achei que nós deveríamos ir pelo outro lado, pela integração física. Falamos com o BID, decidimos fazer eixos de integração, fazer a IIRSA, para evitar que se concentrasse tudo no comércio, fazer algo que vinculasse os países mais profundamente. Outra prioridade, mais 34 complicada, era a Alca. Havia data marcada pelos americanos, para fechar as negociações - 2005. Eu achava inviável e os americanos, a certa altura, também desistiram do projeto. Mas ao longo de toda a negociação, a postura brasileira foi totalmente reativa. O Brasil nunca soube se situar diante da questão da integração hemisférica, com medo dos EUA, e sempre com o problema da agricultura. Não era só isso, havia mais do que isso, as compras estatais, serviços, as consultoras, que não gostam de competição. Como nunca houve uma ideia clara se nós ganharíamos ou perderíamos, o que nós fizemos foi cozinhar em banho maria. A decisão foi tomada em Belo Horizonte, com a ideia do single undertaking - só estaria resolvido quando tudo estivesse resolvido -, que era uma forma de não fazer. Depois disso, a questão virou uma coisa política. Quem queria a ALCA, era pró-americano; quem não queria, era anti-americano. A verdade é que ninguém sabia se ganharíamos ou perderíamos e por isso foi sendo empurrado com a barriga. Na reunião em Miami, com o Celso, acabaram com a ALCA, dizendo que cada um poderia escolher o que quisesse. Os EUA, que àquela época já não estavam mais sob liderança do Clinton, tinham outros interesses e passaram a assinar acordos bilaterais, que de certa forma isolaram o Brasil. Nós temos um acordo com Israel e o acordo automotivo com o México, e mais nada. Se o PSDB tivesse ganhado a eleição, em 2002, o resultado teria sido diferente? O PSDB não tinha nem ideia. Era a mesma coisa, não havia consenso no país. Nenhum partido tinha pensamento de política externa no Brasil. E a candidatura brasileira a um assento permanente no Conselho de Segurança? Isso era uma obsessão do Celso [Amorim]. O Brasil sempre será candidato a uma posição num órgão como o CS, então tem de manter. Agora, quando eu assumi a presidência, os argentinos e os mexicanos eram contrários a nossa candidatura, e nós não tínhamos nem consolidado o Mercosul. Eu falei, à época, que nós teremos uma cadeira lá, mas só quando houver uma reforma mais ampla, sem isso eu não vejo quem ganha. O Brasil vai ter ônus de dizer não ou sim, responsabilidades militares. Na Argentina, eu disse que preferia ter uma boa relação com os argentinos a ter uma cadeira naquele Conselho de Segurança, daquele momento. E coloquei a questão em banho maria. Mantivemos a candidatura, mas não forçamos. O Celso voltou, forçou, forçou, e não deu, porque não tem reforma, é uma batalha de Itararé. Não vai ter reforma porque ninguém quer, a China não deixa. Os grandes não querem reformar. A China não quer por causa da Índia e do Japão, na Europa é uma briga. É falta de realismo. Um dia o Brasil vai ter, o G20 é melhor do que o atual Conselho – que é impasse e veto. A minha posição sempre foi a de que as uvas ainda estão verdes, não adianta colher. Se não vai haver mudança, não vale a pena fazer um esforço gigantesco. Você mantém o princípio, mas não coloca seus canhões atirando. Isso vale para outras áreas, como a participação brasileira nas negociações no Oriente Médio? Na minha época valia, mas eu não diria isso hoje. Os problemas internos hoje não são mais a mesma coisa, não são tão graves. Quando eu assumi o governo, isso aqui era um caos total, não havia Estado, por causa da inflação. Outro assunto polêmico foi a assinatura do TNP. Muita gente diz que o Brasil perdeu uma oportunidade de barganha. Não havia barganha possível. Eu pessoalmente sou favorável ao tratado de não proliferação, sou signatário com outras personalidades do mundo, acho que temos que desnuclearizar. Nós temos que ter a capacidade de pesquisar aquilo que nos interessa, estarmos prontos se for necessário. Outra coisa é fazer uma política baseada em poderio atômico, a Índia fez isso, e ganhou o apoio dos EUA ao Conselho. A Índia está estrategicamente situada, de tal forma que os EUA precisam dela, para conter a China e o Paquistão. Nós, não. Para a sorte de nosso povo, nós vivemos numa área que não é estratégica para os EUA. Então não podemos fazer jogo estratégico, porque não temos esse cacife. Se o senhor nos permite fazer uma citação do chanceler Lampreia, ele disse o seguinte: “na área internacional, nosso objetivo principal era inserir o Brasil no mainstream internacional, afastando-nos gradualmente das posturas terceiro-mundistas que haviam sido articuladas no passado, e das ambiguidades que tinham origem no governo militar, baseadas na ideia de Brasil potência.” O senhor acredita que esses objetivos foram alcançados? A ideia de Brasil potência era basicamente uma ideia dos militares, bomba atômica, etc. Assustava todo mundo, e não mudava nada. Hoje, o Brasil opera na América Latina sem que haja essa preocupação de que nós sejamos sub-imperialistas. Em mais de uma ocasião, o governo do senhor atuou para a preservação da democracia no Paraguai. Naquelas ocasiões, o Mercosul teve algum papel? Como o senhor compreende, hoje, a atuação do Brasil em prol da estabilidade regional? Diria que me engajei bastante na manutenção da democracia no Paraguai, mas também no quadro do conflito que existia entre o Equador e o Peru, onde atuamos muito fortemente para resolver o conflito e conseguimos. No caso do Paraguai, onde estive duas ou três vezes, posso dizer que a atuação do Brasil foi definitiva. Em um dado momento, não sei exatamente quando, o Clinton me telefonou e conversamos sobre o que fazer com o Paraguai. Minha primeira reação foi dizer: sai dessa. Deixa o Paraguai por nossa conta ou não vai dar certo. E, de fato, o Clinton deu ordem por lá para que não chateassem e aí foi o Itamaraty e as nossas forças armadas que atuaram diretamente. O que aconteceu foi que, em um dado momento, o Wasmosy pediu para vir secretamente ao Brasil. Ao chegar, ele disse que pretendia demitir o Oviedo e que temia um atentado contra sua vida. Respondi que, infelizmente, se o Oviedo o matasse, eu não poderia fazer nada, mas que, se ele não fosse morto, ele poderia ter certeza de que o Brasil sempre apoiaria a ordem estabelecida no Paraguai. De fato, o Oviedo se rebelou. Minha reação se deu em duas etapas. Primeiro, consultei o exército para entender quanto tempo demoraria para ocupar Itaipu. Afinal, se Itaipu parar, meio Brasil para. Como era rápido, tomei a segunda ação: entrei em contato com o Ministro do Exército da época, o Zenildo, e pedi para que ele interviesse junto ao Oviedo, que tinha sido seu aluno. O Zenildo é jeitoso e conseguiu falar com o Oviedo e insistir que o Brasil não aceitaria o golpe, sendo melhor resolver pacificamente. O Oviedo foi para Argentina e, mais tarde, o Menen me pediu que eu recebesse o Oviedo aqui, porque ele não podia mais ficar lá, por outras razões que 35 dossiê eu não sei quais são. Depois da vinda do Oviedo para o Brasil, a situação no Paraguai se acalmou. A segunda situação delicada foi com o Cubas, que me ligou pedindo balas de borracha, para conter confrontos que estavam acontecendo no Paraguai. Depois de um dia, liguei de volta e disse: olha, você vai se sair mal. Tem muita gente morrendo. Vem pra cá. Depois do meu telefonema, ele negociou com o Oviedo e nós mandamos um avião ao Paraguai para trazer o Cubas para o Brasil. Se esses processos ocorressem hoje em dia o Brasil não agiria sozinho, mas no âmbito das instituições que foram criadas nos últimos anos, não? 36 muito grande e íamos perder. E perdemos. Votamos a favor dele e, para sinalizar a clara posição do governo brasileiro, eu o recebi, sendo presidente. É tudo o que eu sei, apesar de ter ouvido várias interpretações – foi derrubado, não foi derrubado. Não havia razão nenhuma para o Brasil não defender o Bustani. No mandato dele como diretor, nunca soube que ele tivesse feito coisa errada, embora tenham acusado depois, provavelmente porque queriam tirá-lo de lá. Insisto que nunca ninguém veio a mim pra dizer que nós tínhamos que tirá-lo de lá, mesmo porque nós não tínhamos força pra tirar e a ordem foi de votar a favor dele, mas ele teve muito poucos votos. Quando os americanos se juntam com não sei quem e não sei quem, eles derrubam. Como foi a construção do Mercosul no contexto da desvalorização do Real? A Argentina foi consultada? Provavelmente. Mas hoje o Brasil tem menos capacidade de fazer isso do que tinha naquela época. Hoje a América Latina está, na verdade, mais dividida do ponto de vista ideológico do que estava antes. Não posso dizer que o Brasil dava as cartas, porque essa expressão é incorreta. Nós nunca demos as cartas. Mas o Brasil era a referência, e não precisava dizer isso pois não existia o outro lado. Nos últimos anos, houve a emergência do Chavez e de todo um eixo que não existia. Hoje, a ação do Brasil como mediador é dificultada porque nós até falamos com todos os atores, mas não mandamos fazer. A emergência do Chavez foi muito significtiva. Ele tem características fortes de liderança, sabe lidar com cena, tem jogo de cintura, sabe lidar com a mídia e tem charme. É inteligente, lê mais do que pensam que ele lê. Além disso, sua capacidade de influência aumentou muito com o barril do petróleo a US$ 100. Na minha época, o barril custava US$15. Bem ou mal o Chavez teve a capacidade de articular um discurso de oposição aos americanos e ao mundo capitalista que tem eco e apoio aqui e alí. É um discurso que o governo do Brasil não pode fazer, simplesmente porque não pode. Além disso, o Lula não é assim, o Lula não é de romper instituições. Nem eu poderia fazer esse tipo de discurso. Ninguém no Brasil. Não, a Argentina não foi consultada. Em primeiro lugar, a desvalorização não foi uma decisão do governo. Foi o mercado que impôs. Não foi uma decisão nossa. Eu queria mudar a política cambial porque achava que a política do Banco Central de bandas deslizava muito lentamente e estava já no limite; não podia continuar. Tinha que mudar, acelerando a desvalorização. Essa política do Banco Central se justificou no fortalecimento da moeda, mas depois começou a ser impeditiva. É possível que se nós tivessemos mudado em 1997, antes da crise asiática, as coisas poderiam ter sido diferentes, mas não mudamos. Porque ninguém queria. Isso porque quando você muda a regra ou abre a economia, muita gente perde. Porque quando você tem um negócio dessa natureza e você tem abertura da economia e depois estabilização da moeda, muitas pessoas vão perder, mas economia é assim – infelizmente ou felizmente. Eu li muita economia e muito o Capital e não tem jeito, isso vai acontecer. E uns vão perder e outros vão ganhar. Tem que olhar o país e não a pessoa que vai perder. Presidente, uma questão sensível foi a OPAQ, que sempre causa muita controvérsia. Qual a interpretação que o senhor faz do episódio? A política externa do seu governo serviu ao propósito de alcançar objetivos de política interna? O que eu soube do assunto foi o seguinte: o Bustani, a quem eu recebi na época, era diretor da organização e não era funcionário do Brasil. Era funcionário internacional. Recebi a informação de que a situação dele era insustentável e que os americanos estavam fazendo uma pressão muito forte. A ordem que eu dei foi a de apoiá-lo, e o Brasil ficou com ele. Inventaram que o Celso Lafer tinha feito um acordo com o chanceler americano - o Colin Powel. Eu nunca soube dessa história. O que eu soube é que não havia mais condições políticas de mantê-lo, porque a pressão era Não. Não me lembro de nenhum objetivo de política interna relacionado à política externa. A função da minha política externa era fazer com que o Brasil tivesse um papel nesse mundo que emergia. De forma mais ampla, para que serve a política externa? Primeiro, para garantir a soberania do país. Junto com as Forças Armadas, ela trabalha para manter a integridade territorial, o que continua sendo muito importante. O Brasil faz isso, e sempre fez. A política externa brasileira sempre foi orientada para preservar. Preservar que, na cabeça do Barão do Rio Branco, era cuidar do rio da Prata e manter boas relações com os Estados Unidos, para poder existir. Hoje não, é muito mais complicado que isso. Hoje você tem que realmente perceber qual é o interesse estratégico do país. Isso pode parecer palavra, mas é muito importante. Vou dar um exemplo: a Argentina se equivocou estrategicamente. Ela não entrou na I Guerra Mundial, ao lado dos Aliados; não entrou na Segunda, e quando ela resolveu recuperar, que foi com o Menem, e o Menem foi demais para a coisa, mandou uma corveta, sei lá o que, para o Iraque, para demonstrar que ele era aliado carnal dos americanos. Até hoje eles são aliados preferenciais da OTAN. Mas errou. Ele não percebeu. Ficou com a Inglaterra e depois não ficou nem com os Aliados. O Brasil, sempre, desde a República, operou mudanças estratégicas. Nesse sentido, o senhor acha que o Itamaraty orientou muito a sua política externa? Ah, isso sim. O diálogo com o Lafer, meu com o Itamaraty era fluido, era permanente e fluido. Sempre foi fluido. Com quem que o Presidente interage no dia a dia, no trabalho? Era com o Itamaraty, no meu tempo, com as Forças Armadas e com os seus Ministros de confiança. Casa Civil, Fazenda, isso é um grupo do governo. Itamaraty, no meu caso, sempre teve essa função, mesmo na questão que extrapolava o comercial. O senhor apontaria algum traço que diferenciaria a sua gestão das gestão anterior, do Collor/Itamar, ou de gestões anteriores? Certamente, com relação ao período dos militares, muito diferente. Com relação ao Sarney, houve um aprofundamento na questão da América do Sul. E na medida em que o Brasil ficou democrático e ficou mais organizado, o nosso peso aumentou, na América do Sul e nos Estados Unidos. A relação que eu tinha com o Clinton, não era uma relação de subordinação. Eu nunca precisei de nada. Era uma relação normal. Houve algo que o senhor não conseguiu realizar, de política externa? Certamente. Veja bem, estamos aqui falando de uma época em que o Brasil estava começando a se organizar, mas ainda não era uma coisa que o mundo reconhecesse. Nós não conseguimos, por exemplo, mudar a ordem financeira. Não deu em quase nada. Foi feita uma coisa importante, que foi o G-20, que foi o início da coisa toda, a reunião em Cancun. Mas era mais difícil você ter peso nessas circunstâncias. O peso era mais meu que do Brasil, pessoalmente, de ter acesso aos italianos, aos franceses, aos espanhóis, aos portugueses. O Mario Soares era meu amigo desde os anos 70. E, nesse sentido, há muita continuidade entre o governo do senhor e o do seu sucessor? A falta de continuidade é retórica. O discurso é diferente. Eu diria que, com essa América Latina, eu seria menos leniente com, digamos, as relações democráticas aqui. Eu teria mais capacidade de segurar, a Bolívia, principalmente. Eu acho que era possível ter sido mais firme, evitar que o chavismo tivesse ganhado a cabeça do Evo Morales. Mas, no geral, eu acho que essa coisa do Paraguai, que foi feita agora, e a entrada da Venezuela foi errada. Nós não exigimos da Venezuela o necessário para ela entrar no Mercosul, pela porta dos fundos. Você afasta o Paraguai e põe a Venezuela. Nós estamos criando um problema com o Paraguai por muito tempo, não é? Eu preferia que o Lugo não tivesse sido destituído como foi, mas o Lugo não tinha mais condições de governar. Tanto não tinha que não houve reação nenhuma. Então eu seria mais cauteloso em relação a ser tão duro com o novo presidente que está lá. E isso vai ter peso para nós, custo para nós. Em nome do quê? O pobre do Lugo não tinha mais base, capacidade política de governar. Caiu rápido, mas não se esqueçam de que o Jânio caiu muito mais rápido. E também é discutível. Ninguém discutiu a carta dele no Congresso, que foi aceita. Foi aceita na hora. Não deram condições de defesa, mas ele não tinha como se defender. Não tinha mais base política para governar. No caso de Honduras, também, nós exageramos. São questões pontuais, que têm mais a ver com um sentimento ideológico do que com uma política de motivação ideológica. Eu estive recentemente na Venezuela, nas eleições, foi uma loucura. Uma mobilização de Governo, de Estado, quase fascista. E ele queria se aproximar do Lula, e eu falei com o Lula, e o Lula me enganou: “Vou falar com ele, vou falar com ele”. E nunca falou, né? Pelo contrário. Foi lá e apoiou o Chávez. “Você acha que o Chávez vai ganhar”. E eu falei: “Acho que vai, mas o Brasil tem que ver a longo prazo. Um dia, o outro lado vai ganhar”. O que seria uma brevíssima síntese de sua política externa? Foi uma espécie de adaptação do Brasil às condições emergentes do mundo e ao que nós tínhamos feito aqui. O Brasil tinha que estar à altura do que já era e do que o mundo era. Entender com mais realismo o mundo de hoje. 37 dossiê Luiz Inácio Lula da Silva Ricardo Stuckert “Era necessário ter pleno conhecimento de nosso potencial e não aceitar passivamente o lugar subalterno que os países hegemônicos quiseram tradicionalmente conferir ao Brasil” Barbara Boechat de Almeida Germano Faria Corrêa Poucos foram os períodos na história da diplomacia brasileira em que tanto foi feito em tão pouco tempo. Em estreita harmonia com seu Chanceler, Celso Amorim, Luiz Inácio Lula da Silva defendeu uma política externa “ativa e altiva”, cujos efeitos ressonaram em múltiplos campos angariando defensores e detratores. Na conversa que segue, Lula abordou momentos controversos de sua gestão externa - como as negociações com Turquia e Irã em torno do programa nuclear iraniano e a adesão da Venezuela ao Mercosul – mas, acima de tudo, destacou a reconquista da autoestima do brasileiro e o importante papel da diplomacia como catalisadora do desenvolvimento nacional. Impossibilitado de se encontrar com a equipe da JUCA em razão de suas muitas viagens, o ex-Presidente, ainda assim, fez questão de falar sobre os oito anos de seus dois mandatos. A seguir, a íntegra da entrevista concedida por e-mail. Presidente, qual foi a maior realização de sua política externa? Não sei se a maior, mas a que me deu maior satisfação, em meus dois mandatos como Presidente, foi a de recuperar a autoestima do nosso povo sobre a viabilidade do Brasil como nação. A confiança reconquistada em nós mesmos, a convicção de que podíamos ser um país mais desenvolvido e mais justo, um país para todos os brasileiros refletiu-se em nossa ação internacional. O Brasil passou a ter outra visão sobre seu lugar no mundo. Fomos capazes de entender o momento de transição por que passava o sistema internacional no início do século XXI – em direção a uma ordem cada vez mais multipolar – e apostamos em iniciativas para transformar o Brasil e a América do Sul em um dos pólos dinâmicos desse novo mundo. Para fazer isso era necessário ter pleno conhecimento de nosso potencial e não aceitar passivamente o lugar subalterno que os países hegemônicos quiseram tradicionalmente conferir ao Brasil. O senhor poderia mencionar uma característica que distingue sua gestão da Política Externa da gestão anterior? Deixo essa comparação entre os distintos governos para os diplomatas, historiadores e cientistas políticos que, com o devido distanciamento, poderão avaliar as mudanças conceituais e práticas que introduzimos na política exter- 38 Ricardo Stuckert na brasileira, sem as quais o Brasil não teria hoje a inédita projeção internacional que conquistou. Quero ressaltar, no entanto, duas medidas que adotei com efeitos diretos e duradouros sobre a política externa brasileira: Primeiro, adequamos o Itamaraty às novas responsabilidades que o Brasil passou a ter no mundo. Ampliamos o número de diplomatas em 40% e criamos 34 novas embaixadas: 15 na África, 6 na América Latina e Caribe, 5 na Europa, 3 no Oriente Médio e 3 na Ásia. Para atender os cidadãos estrangeiros que nos procuram e os brasileiros no exterior, abrimos 19 novos consulados; Depois, ampliamos os canais de debate entre a sociedade civil organizada e o governo. Envolvemos na reflexão sobre a política externa os mais diversos setores da população. Além do empresariado urbano e rural, envolvemos também as universidades e os centros de pesquisa, as centrais sindicais, as entidades da agricultura familiar, as organizações não-governamentais voltadas para o tema ambiental, dos direitos humanos, da igualdade étnica e de gênero etc. Nunca a política externa ocupou um lugar tão destacado nos debates públicos em nosso país. Para que serve a política externa? O senhor acredita que ela foi útil para alcançar objetivos de política interna em seu governo? Desde o primeiro dia de meu primeiro mandato deixei claro que a política externa do Brasil não seria apenas uma forma de projetar o Brasil no mundo. Ela deveria ser entendida como um componente essencial de um novo projeto nacional de desenvolvimento. Logo no mês de janeiro de 2003, visitei com todos os meus ministros (inclusive o Chanceler) alguns dos municípios mais pobres do Brasil. Aquele foi um momento marcante, que deixou claro para a nossa equipe o sentido que deveriam ter todas as ações de governo, inclusive na área externa. Para vencer nossos históricos desafios necessitávamos crescer, distribuir renda, pôr fim à exclusão social, reduzir nossa vulnerabilidade externa, lograr estabilidade macro-econômica e aprofundar nossa democracia. Num país com um passivo social tão grande como o Brasil, o Estado tem o papel central de criar oportunidades, combatendo a pobreza e a desigualdade. Por isso, nas negociações comerciais – na OMC, na ALCA ou com a União Européia, para citar alguns exemplos – buscamos evitar acordos que limitassem a margem de manobra da sociedade e do Estado brasileiros para adotar políticas públicas essenciais ao país, em matéria de investimentos, compras governamentais, agricultura, bens industriais e serviços. Em paralelo, fortalecemos o comércio com o MERCOSUL, a América do Sul e toda a América Latina, região para a qual exportamos parte expressiva de produtos de maior valor agregado. Ampliamos também nossa relação com o mundo árabe, a África e a Ásia. O Ministro Celso Amorim, em artigo que faz balanço da sua gestão à frente do Itamaraty, afirma que, além de aliar pragmatismo e princípios, a política externa do governo Lula também teve certa dose de audácia e irreverência, que contribuiu para os resultados positivos alcançados. Em que momentos da política externa o senhor acredita que a audácia e a irreverência foram mais importantes? Muito dessa percepção de audácia e irreverência se deve ao fato de que decidimos mudar nossa relação com o mundo. Compreendemos que não podíamos sofrer, de forma passiva, aquilo que muitos chamaram de “globalização”. Partimos de uma avaliação que se provou correta: ao longo das primeiras décadas do século XXI, o mundo vivia profundas mudanças na correlação de forças. Mudanças que exigiam de nós uma atitude diferente daquela adotada no passado. Isso ficou mais evidente com a crise financeira de 2008, mas os sinais já vinham de antes. Nossa diplomacia tinha de pôr em prática sua vocação universalista, tantas vezes proclamada, mas nem sempre aplicada por alguns governos. Um país tão grande como o Brasil não pode aceitar o papel subalterno que muitos querem lhe atribuir. Precisamos ter uma presença forte no mundo. Daí a opinião de que fomos audazes e irreverentes quando atuamos para criar o G20 comercial na OMC; não aceitamos o projeto da ALCA, que significaria a virtual anexação das economias latino-americanas pelos EUA; demos início ao processo de entrada da Venezuela no MERCOSUL e criamos a UNASUL e a CELAC; incentivamos 39 Antonio Milena dossiê a criação dos fóruns birregionais envolvendo América do Sul – Países Árabes e América do Sul – África; ajudamos a promover importantes articulações entre os grandes países emergentes, tais como o IBAS, o BRICS e o BASIC; e defendemos, no âmbito do G20 financeiro, o combate à crise econômica internacional pela via da regulação democrática dos fluxos e do crescimento com justiça social, rejeitando a tradicional receita recessiva baseada na atrofia do Estado e no corte de direitos e serviços essenciais. Como foi o processo de aproximação com o Irã e como o senhor avalia os efeitos da mediação turco-brasileira no caso do programa nuclear iraniano? Aprendi ao longo da vida, especialmente no movimento sindical, a importância da negociação. Buscar pontos de convergência, apostar naquilo que aproxima as posições e não no que divide. Por isso, nunca acreditei na política de colocar países contra a parede, de demonizar governos. No caso do Irã, havia um impasse crescente sobre o programa nuclear e a Agência Internacional de Energia Atômica havia feito uma proposta para enriquecimento de urânio fora do país. A proposta era boa e trazia o Irã para a mesa de negociações junto com os P5+1 (EUA, Reino Unido, França, Rússia, China e Alemanha). A desconfiança de lado a lado era muito forte. A maior parte da sociedade iraniana não acredita na boa fé das grandes potenciais devido a sua experiência histórica com elas. Na primeira metade do século XX, o país foi vitima da prepotência britânica e russa. Depois, durante a ditadura do Xá, tornou-se um satélite dos Estados Unidos, uma espécie de policia da região do Golfo. As intervenções posteriores no Afeganistão e no Iraque ajudaram a alimentar esse 40 clima de insegurança. As grandes potências, por sua vez, nunca acreditaram em um acordo com o Irã e, por isso, não se empenharam em explorar essa possibilidade. Em 2010, junto com o Primeiro Ministro Erdogan, da Turquia, fomos ao Irã. A Turquia é um país muçulmano e membro da OTAN. O Brasil, um grande país em desenvolvimento, conhecido por sua postura independente e sem histórico de atuação colonialista. Convencemos com grande esforço o Governo iraniano a aceitar a proposta da AIEA. E o fizemos com pleno conhecimento dos membros do Conselho de Segurança, França e Estados Unidos, em particular. Infelizmente, nossa iniciativa foi vítima do seu próprio sucesso. Demonstramos, na prática, que era viável uma verdadeira solução negociada. Isso incomodou as grandes potências nucleares que, provavelmente, nos consideraram como “intrusos”. Elas preferiram as sanções no Conselho de Segurança. Hoje a situação é pior do que a de 2 anos atrás. Mas ainda acredito que há espaço para uma solução negociada. Qual função o senhor atribui à diplomacia presidencial? Quais êxitos da política externa o senhor atribui ao exercício dessa função? É inegável que a diplomacia presidencial ganhou muito espaço nos últimos anos, sobretudo porque fomos capazes de estabelecer uma nova articulação entre as questões internas e externas. Além disso, as facilidades de locomoção, as novas tecnologias de comunicação e a maior interdependência entre os países fizeram dos Chefes de Estado e de Governo atores cada vez mais importantes na formulação e mesmo na condução da política externa. Mas no caso do Brasil, os êxitos da política externa e a projeção internacional que alcançamos nos últimos Durante o governo do senhor, houve grande insistência sobre a necessidade de reforma do Conselho de Segurança, para aumentar sua legitimidade e eficácia. No entanto, a reforma ainda parece um objetivo remoto. O senhor acredita que os esforços dispensados compensaram? anos são consequência da grande transformação que experimentamos internamente. Foi o Brasil que mudou. Depois de mais de duas décadas de estagnação, retomamos o crescimento. E um crescimento diferente, resultado de um amplo processo de distribuição de renda, expansão do emprego nunca vista, aumentos dos salários acima da inflação, apoio à agricultura familiar, generalização do crédito, sobretudo para os mais pobres, e sólidas políticas governamentais em educação, habitação e saneamento básico. Tudo isso provocou uma profunda mudança econômica e social em nosso país. Diferentemente do passado, pudemos realizar essa transformação mantendo o equilíbrio macroeconômico e reduzindo consideravelmente nossa vulnerabilidade externa. E o mais importante é que tudo isso ocorreu em pleno ambiente democrático. Nossa diplomacia, reconhecidamente uma das melhores do mundo, e o interesse do Presidente da República no trato das questões internacionais, contaram muito. Mas o novo lugar que o Brasil passou a ocupar no mundo é, sobretudo, uma conquista da sociedade brasileira. Essa é uma aspiração histórica da diplomacia brasileira, que meu governo encampou com afinco. O Conselho não pode continuar preso a uma realidade internacional completamente superada e a uma correlação de forças que não existe mais. Um mundo mais democrático na tomada de decisões que afetam a todos é a melhor garantia de nossa segurança coletiva. A reforma do Conselho de Segurança da ONU é um passo essencial pra isso ocorrer. O déficit de participação permanente dos países em desenvolvimento no Conselho só agrava sua falta de legitimidade e de autoridade. É inexplicável que em pleno século XXI regiões tão importantes como a América Latina e a África não tenham assentos permanentes no Conselho. Para dar novo impulso à reforma, nós criamos o G4 (Brasil, Índia, Alemanha e Japão). Já contamos com importante número de apoios, inclusive de membros permanentes como França e Reino Unido. Sempre tive plena consciência de que o processo não seria fácil e levaria tempo, mas nem por isso iríamos desistir desse desafio. Não tenho dúvida de que quando a reforma vier, o Brasil será contemplado com um assento permanente. A entrada da Venezuela no MERCOSUL interessa ao Brasil em todos os sentidos. A Venezuela é um grande país, com uma população de 27 milhões de habitantes, com nível de renda elevado. Possui uma das maiores reservas de petróleo e gás do mundo. Essa ampliação permitiu projetar o MERCOSUL à sub-região andina da América do Sul, além de fortalecer os vínculos e as oportunidades de desenvolvimento da região amazônica. Essa tendência se fortalece com a decisão boliviana de ingressar no bloco e a crescente aproximação com o Equador. Mas não creio que isso ocorra em detrimento da ALBA. São duas iniciativas distintas – mas não opostas – de integração regional. A ALBA é um grande acordo de cooperação, não é uma união aduaneira e nem um acordo de livre-comércio. Quem perdeu muito nos últimos anos como projeto de integração foi a Comunidade Andina. Mas isso ocorreu bem antes da saída da Venezuela. Quando Colômbia e Peru decidiram negociar individualmente acordos de livre-comércio com a União Européia e os Estados Unidos, a Comunidade Andina ficou muito fragilizada. Ricardo Stuckert Na recente Cúpula do Mercosul, a Bolívia assinou o protocolo de adesão ao bloco e o Equador sinalizou interesse. A entrada desses países e da Venezuela indica, na opinião do senhor, um reconhecimento do modelo de integração do MERCOSUL sobre outros projetos, como o da ALBA? 41 memória diplomática memória diplomática 42 Intrusas no lago dos cisnes Natália Shimada Como uma insólita reportagem lançou-me em uma improvável viagem pelo passado de duas corajosas mulheres no Itamaraty, e o que aprendi no percurso 43 memória diplomática A edição de junho de 1959 da revista “Lady” parecia estranhamente interessada na possibilidade de diplomatas mulheres conseguirem a introdução de um “fardão” diplomático feminino no vetusto ambiente de trabalho do Itamaraty. “Os homens têm seu uniforme de embaixador, mas as mulheres, não. É preciso 44 que tenham”, defendia a publicação. Hoje, 54 anos depois, o anacrônico fardão não é nem remotamente uma das preocupações das mulheres no Itamaraty. Nas últimas décadas, conquistamos espaço e notoriedade, mas a representatividade feminina na carreira continua relativamente baixa. As mulheres entre os cisnes A inusitada publicação foi parar em nossas mãos por meio de nosso professor de Direito Internacional, Dr. Márcio Garcia – assíduo e curioso frequentador de sebos da capital federal. Na capa, um ecktachrome da atriz Tônia Carrero seguido por um título que, hoje, poderia soar algo irônico: “Tônia Carrero, um rosto bonito”. Entre matérias sobre cuidados com o sol, artigos que prenunciavam os livros de autoajuda e dicas sobre moda, encontrava-se a reportagem que chamara a atenção de nosso professor. Uma matéria curta, de quatro páginas ricamente ilustradas por fotografias, sob o título “Itamarati (sic) aceita mulheres entre os cisnes”. O objetivo da matéria era retratar a presença feminina no Ministério das Relações Exteriores, bastante escassa à época. Segundo a revista, havia então apenas 19 mulheres na carreira diplomática. Além de fazer um breve percorrido pelo histórico de avanços e retrocessos da mulher no Serviço Exterior Brasileiro, a reportagem detinha-se no perfil das únicas quatro “moças” que seguiam os cursos do Instituto Rio Branco. Duas cursavam já o segundo ano - a pernambucana Maria Natividade Duarte Ribeiro e a carioca Anunciata Padula - e as outras duas, Maria Rosita Guliker de Aguiar e Thereza Maria Mendes Machado, ambas cariocas, recém ingressavam na academia diplomática. O texto tratava das perspectivas para a carreira e da vida pessoal das quatro diplomatas. Destacava o desejo das moças de “sair do Brasil e levar nosso país para bem longe, propagá-lo o máximo possível e, talvez, um dia serem notícia internacional, como foi Claire Boothe Luce (sic)” - política norte-americana e a primeira mulher designada para chefiar uma grande embaixada de seu país, em Roma, durante o governo de Dwight D. Eisenhower, na década de 1950. Ao explicar que as moças não poderiam se casar com outro diplomata, a reportagem julga que “essa proibição é lógica”, já que, “sendo ambos de carreira, o que aconteceria se ele fosse nomeado, por exemplo, para o Japão, e ela para a África do Norte (sic)?” O periódico também enfatizava a preocupação com a vida amorosa das jovens diplomatas, já que, naquele momento, eram todas solteiras. “Sabem que a escolha de um marido, na sua carreira, é mais difícil. Há de ser um homem que possa acompanhá-las onde (sic) quer que forem”, destaca a revista. “-Um marido pintor, por exemplo, é ideal...”, concluiu uma das entrevistadas. Na época, valia ainda a proibição de casamento entre um diplomata e um funcionário público, que só seria revogada em 1961. Com relação a essa questão, a revista reflete com precisão a mentalidade de seu tempo. Ao explicar que as jovens não poderiam se casar com outro diplomata, a reportagem julga que “essa proibição é lógica”, já que, “sendo ambos de carreira, o que aconteceria se ele fosse nomeado, por exemplo, para o Japão, e ela para a África do Norte (sic)?” Naturalmente, nada havia de lógico nessa proibição – tanto é verdade que, hoje, casamentos entre colegas de profissão não são raros no Itamaraty. O texto afirmava ainda que as jovens dificilmente abandonariam a carreira para se casar com um colega. 45 memória diplomática Mais de meio século depois da edição nº 28 da revista Lady, seria possível investigarmos como cada uma dessas quatro diplomatas conduziu sua carreira na diplomacia? Teriam obtido igual ou ainda maior êxito que a diplomata norte-americana? Como conciliaram a profissão com a vontade de constituir família? Eu me fazia essas perguntas ao iniciar meu trabalho - sem saber por onde começar. Afinal, como encontraríamos essas diplomatas? Inevitavelmente, todas já estariam aposentadas e talvez, casadas, tivessem adotado um novo sobrenome. O que se seguiu – para a minha sorte, e para a sorte do leitor da JUCA - foi uma série de agradáveis coincidências, que permitiram contato pessoal com duas das entrevistadas pela revista Lady, Thereza e Rosita. Logo no início, aprendemos que a Thereza da reportagem era a embaixadora Thereza Maria Machado Quintella, mãe do ministro Ary Quintella - nosso professor no Instituto Rio Branco. Dada essa coincidência, foi-nos possível saber um pouco mais sobre a vida da embaixadora Thereza. Descobrimos, por exemplo, que olhávamos para seu retrato quase diariamente, na antessala do auditório Embaixador João Augusto de Araújo Castro, no Instituto, onde se encontra uma galeria de todos os Diretores-Gerais de nossa academia. Eu sempre prestava bas- Foi assim que soubemos que, sim, a embaixadora Thereza havia sido extremamente bemsucedida em sua carreira – como planejara no dia em que concedera a entrevista, em 1959 46 tante atenção nessa fotografia em particular, porque era a única que retratava uma mulher, em meio a mais de uma dezena de fotografias masculinas. Foi assim que soubemos que, sim, a embaixadora Thereza havia sido extremamente bem-sucedida em sua carreira – como planejara no dia em que concedera a entrevista, em 1959. Rosita teve uma carreira bastante diferente. Pouco tempo depois de entrar para o Itamaraty, apaixonou-se por um colega de profissão, Luiz Villarinho Pedroso, que viria a ser nosso embaixador em Riade e Varsóvia, nos anos 1980 e 1990. Para possibilitar o casamento, Rosita precisou deixar a carreira e, embora tenha sido readmitida alguns anos mais tarde, aposentou-se ainda como Segunda Secretária. Quando tomei conhecimento de que o desenvolvimento das carreiras das duas - que se iniciaram na mesma data - havia sido tão diferente, senti que precisava descobrir mais sobre a vida dessas diplomatas para entender os motivos e razões dessas diferenças. Senti, ainda, que a história das duas diplomatas estava intrinsecamente ligada à história da mulher no Itamaraty, com seus avanços e retrocessos ao longo das décadas. Eu sabia que tudo isso teria profunda relação com minha própria história. Afinal, também sou diplomata, sou mulher e trabalho em um ambiente ainda predominantemente masculino. Assim como aquelas quatro jovens da reportagem, estou em início de carreira, tenho planos, sonhos e ambições. Era hora de conhecê-las pessoalmente. Percalços na caminhada rumo ao topo A embaixadora Thereza Quintella gentilmente recebeu-me em sua casa no Rio de Janeiro, numa manhã de domingo. Logo que entrei, chamou-me a atenção a grande quantidade de móveis e peças decorativas prove- nientes das mais variadas partes do mundo. A tapeçaria e as caixinhas russas foram os itens que mais atraíram meus olhares. A embaixadora explicou-me que praticamente tudo o que estava dentro daquela casa havia sido adquirido na Áustria, Rússia e Estados Unidos, países onde estavam localizados os últimos postos em que serviu. Depois de tomarmos juntas um delicioso café da manhã, conversamos durante longo tempo na sala de sua residência, de onde tínhamos uma vista belíssima para a praia de São Conrado. A embaixadora contou-me que não lia nem conhecia a Revista Lady - até o dia em que o repórter visitou o Instituto Rio Branco. Confessou-me que sentia vergonha da matéria e que esta foi motivo de piada entre os colegas durante um bom tempo, porque consideravam-na “boba demais”. De fato, o tom da reportagem é leve, ingênuo e quase patriarcal. Propositadamente ou não, retrata as alunas como “moças” inocentes, cuja “ideia fixa” era “introduzir o ‘fardão’ diplomático para as mulheres”. Na legenda de uma das fotos, elas são descritas como “confiantes no futuro e na sua carreira, jovens alegres e de sorriso satisfeito”. Thereza sequer guardou uma edição da revista Lady. Uma amiga, Alcina Carbonar, mulher do embaixador Orlando Soares Carbonar, guardou um exemplar e, muitos anos depois, por ocasião de uma mudança, presenteou-a com a revista. 47 memória diplomática A embaixadora recorda que as dificuldades começaram logo na primeira escolha de lotação. Thereza foi designada para a área de emissão de passaportes e Rosita, para a consular, que na época “eram as duas divisões menos valorizadas no Itamaraty” 48 Naquela época, diferentemente do que ocorre hoje, os alunos do Rio Branco não recebiam remuneração. Entre as quatro diplomatas entrevistadas, Anunciata era a única que recebia bolsa, porque havia deixado o emprego no Ministério do Trabalho para se dedicar ao curso. Da turma de Thereza, apenas dois colegas ganhavam uma “bolsa simbólica”, nas palavras da embaixadora, por serem os únicos que não vinham de uma família carioca. “As pessoas tinham praticamente que apresentar um certificado de indigente para receber a bolsa”, lembra Thereza. Conversamos longamente sobre a trajetória profissional da embaixadora e sobre os obstáculos por ela encontrados. A princípio, Thereza disse que não havia se dado conta daquilo que identificou como preconceito contra a mulher no Itamaraty. Isso porque o Departamento Político (equivalente ao que hoje é uma Subsecretaria-Geral) era chefiado por uma mulher, da mesma forma que o Rio Branco também era comandado, na prática, por uma ministra, a segunda na hierarquia do Instituto. Para ela, as mulheres tinham um lugar de destaque na carreira. No entanto, a embaixadora recorda que as dificuldades começaram logo na primeira escolha de lotação. Thereza foi designada para a área de emissão de passaportes e Rosita, para a consular - que, à época, “eram as duas divisões menos valorizadas no Itamaraty”. Se tivesse tido a chance de escolher, teria optado pela Divisão do Pessoal, que acreditava ser uma oportunidade de se fazer conhecida dentro do Ministério, uma vez que não tinha parentes na carreira. Thereza avalia que, naquele momento, o mérito pesou menos que o gênero, já que, ao final do curso no Instituto Rio Branco, havia ficado em sexto lugar em uma turma de 13 pessoas e, mesmo assim, não conseguiu trabalhar com o que queria. Os homens, por sua vez, costumavam ser designados para as áreas políticas e econômicas. Houve mais uma decepção na primeira remoção, em 1964. Thereza desejava um posto na América do Sul, porque já era casada e o marido não poderia acompanhá-la ao exterior. Assim, as visitas mútuas seriam facilitadas. No entanto, foram-lhe oferecidos postos que considerava de menor prestígio, os consulados em Baía Blanca, na Argentina, e em Valparaíso, no Chile. Preferiu a primeira opção. Cinco anos depois, na segunda remoção, quando quis sair do país novamente, expôs seu interesse por uma experiência em embaixada, mas somente ofereceram o consulado em Gênova, na Itália. Dessa vez, Thereza conta que resolveu adotar postura mais ativa e empenhou-se para conseguir um posto de seu agrado. Elaborou uma lista de nove postos em que teria interesse em servir e seu chefe à época apresentou-a ao responsável pelas remoções. A lista incluía Nova York, Washington, entre outros. O esforço rendeu frutos e foi removida para Bruxelas, em missão junto à Comunidade Econômica Europeia. Com base nessas primeiras experiências, a embaixadora avalia que, no início de sua carreira, as mulheres sofriam discriminação. “A administração dava um jeito de, sem que a gente percebesse, nos colocar de lado, nos deixando em posições menos relevantes. Quando a gente percebia, estava totalmente fora do mainstream”, desabafou. A embaixadora considera, ainda, que outras colegas não tiveram a mesma sorte que ela, “não souberam se impor em um mundo dominado por homens nem souberam demonstrar seu valor profissional”. Conta, por exemplo, que, a uma colega, “pediam que fosse ao banco, para fazer esse tipo de serviço, mesmo com a presença de contínuos na divisão”. Para sua terceira remoção, Thereza demonstrou interesse em servir na Bacia do Prata, novamente, por questões familiares. Decidiu-se que ela deveria ir para Montevidéu, no Uruguai, onde havia três postos (embaixada, consulado e missão junto à Associação Latino-Americana de Livre Comércio). Ao designá-la para este último, seus superiores justificaram-se afirmando que ela não poderia ir para nenhum dos outros dois postos, porque já havia uma mulher em cada um – um estranho critério de lotação. Como se não bastasse a desconfiança vinda dos homens, havia ainda o receio de algumas mulheres em relação a seu trabalho. Esse dado curioso foi retratado pela Secretária Viviane Rios Balbino, em seu livro “Diplomata: substantivo comum de dois gêneros”. Segundo as pesquisas realizadas pela autora, não são raros os casos em que mulheres afirmam preferir trabalhar com chefes homens, em detrimento de chefias do mesmo sexo. Os motivos para essa preferên- 49 memória diplomática cia variam bastante, mas quase sempre estão relacionados a certos preconceitos de gênero, como, por exemplo, a ideia de que as mulheres seriam menos equilibradas emocionalmente. Thereza lembra, ainda, que quando já era conselheira e estava de volta ao Brasil, em 1979, e foi convidada para ser chefe da Divisão de Imigração, houve quem duvidasse de sua eficiência no cargo, já que deveria estar em contato direto com a Polícia Federal, uma instituição predominantemente masculina. Mas ela conta que não teve problema algum com a Polícia Federal e que, ao contrário, construiu ótimo relacionamento com seus interlocutores. Em meados da década de 1990, como embaixadora em Moscou, também não enfrentou dificuldades por ser mulher. “As autoridades russas sempre me trataram com enorme cordialidade e respeito”, diz Obstáculos jurídicos à ascensão da mulher Nos anos 1990, havia a percepção de que já era chegada a hora de uma mulher ser promovida a embaixadora, e Thereza encontravase entre as candidatas naturais. Em 1987, foi promovida a Ministra de Primeira Classe e trabalhou para que seu feito fosse repetido por outras colegas. Como Diretora-Geral do Instituto Rio Branco (cargo que ocupou entre 1987 e 1991) e como Presidente da Fundação Alexandre de Gusmão (entre 2001 e 2005), a embaixadora sempre trabalhou para a realização de eventos e seminários que discutissem a situação da mulher em atividades profissionais e círculos de poder, em geral, e no Itamaraty, em particular. Para ela, o primeiro passo para evitar que certas injustiças continuem a ocorrer é reconhecer que o preconceito e a discriminação existem e devem ser combatidos. Em 1995, acompanhou, na IV Conferência das Nações Unidas sobre a Mulher (Pequim), a então primeira-dama Ruth Cardoso, que chefiou 50 a delegação brasileira na ocasião. Thereza, no entanto, lamenta que muitas mulheres tão ou mais capazes que ela não tenham conseguido prosperar na carreira, devido aos múltiplos obstáculos que se ofereciam às mulheres. Maria Rosita fez uma escolha que sequer lhe passava pela cabeça naquele junho de 1959: pediu exoneração para se casar com um colega. Sua decisão foi motivada pela lei que proibia o casamento de diplomata com funcionário público – lei de 1946 que, Rosita acreditava, continuava em vigor Apesar de a história profissional de Thereza ter sido de sucesso, ela pode ser considerada a exceção, e não a regra, entre as mulheres que ingressaram na diplomacia em meados do século XX. Além de casos de preconceito, como os relatados pela embaixadora, muitas mulheres sofriam as consequências da proibição do casamento com outros funcionários públicos e do instituto da agregação. Maria Rosita de Aguiar Pedroso é um desses casos. Visitei-a em sua residência, no Rio de Janeiro, onde fui calorosamente recebida por ela, seu marido, o Embaixador aposentado Luiz Villarinho Pedroso e o filho do casal, o ministro Luiz Eduardo de Aguiar Villarinho Pedroso. Conversamos durante uma tarde inteira, na sala de seu apartamento na praia de São Conrado. “Quando voltei pro Ministério, mais de dez anos depois, meus colegas de turma já eram todos conselheiros, ministros”, afirma Rosita. “Alguns funcionários ficavam até sem graça de me chamarem de secretária”, lembra, com um sorriso no rosto Maria Rosita fez uma escolha que sequer lhe passava pela cabeça naquele junho de 1959: pediu exoneração para se casar com um colega. Sua decisão foi motivada pela lei que proibia o casamento de diplomata com funcionário público – lei de 1946 que, Rosita acreditava, continuava em vigor. Anos depois, quando o casal vivia em Lima, Rosita descobriu que tal lei já não existia. Fora modificada em 1961, pelo então presidente Jânio Quadros, pouco antes do casamento. O casal conta que ficou sabendo dessa mudança porque um amigo diplomata, o futuro embaixador Gilberto Velloso, havia se casado com uma professora primária que, apesar de ser funcionária pública, não precisou pedir exoneração. Quando soube da revogação da lei, Rosita iniciou sua saga para ser reincorporada ao Serviço Exterior Brasileiro. Naquele momento, duas opções se apresentavam: a reintegração e a readmissão, sendo a primeira muito mais complexa que a segunda, já que envolvia o recebimento de todos os benefícios que a diplomata havia deixado de receber durante os anos em que ficou afastada. A readmissão, por outro lado, era um processo mais simples e, por ser um procedimento me- ramente administrativo, dependia apenas da assinatura do Ministro das Relações Exteriores. Durante a entrevista, o casal mostrou-se um pouco ressentido com a Administração do Ministério da época, que “deveria estar sabendo da mudança da lei e ter nos alertado”, evitando assim que Rosita ficasse tanto tempo fora dos quadros do Itamaraty. “Quando voltei pro Ministério, mais de dez anos depois, meus colegas de turma já eram todos conselheiros, ministros”, afirma Rosita. “Alguns funcionários ficavam até sem graça de me chamarem de secretária”, lembra, com um sorriso no rosto. Mesmo após sua readmissão, Rosita continuou sendo prejudicada pelas leis da época, que, em casos de remoção, obrigavam um dos cônjuges à “agregação”, ou seja, “afastamento do exercício do cargo”, neste caso, “para acompanhar o cônjuge, funcionário da Carreira de Diplomata, removido para posto no exterior ou que já se encontre servindo no exterior”. Esse período não contava como tempo de serviço e, por isso, a carreira do cônjuge que decidia pela agregação era atrasada. Evidentemente, as normas não diziam que a mulher deveria ser o cônjuge a agregar, mas, na prática, era muito mais comum que elas abrissem mão de suas carreiras para acompanhar os maridos. Assim aconteceu com Rosita e com muitas outras, prejudicando a trajetória de várias mulheres competentes que não conseguiram trilhar o mesmo caminho de Thereza, que, nas palavras do embaixador Luiz Villarinho Pedroso, “foi a melhor embaixadora que o Brasil teve no século passado”. Nosso “fardão” atual Os obstáculos jurídicos que diminuíam a presença feminina no Itamaraty foram todos derrubados ao longo do século XX. A partir de 1954, o concurso à carreira voltou a admitir o ingresso de mulheres. Alguns anos mais 51 memória diplomática Os obstáculos legais que diminuíam a presença feminina no Itamaraty foram todos derrubados ao longo do século XX. Apesar de tudo isso, a discrepância entre os gêneros, em termos numéricos, ainda permanece. O percentual de mulheres na carreira de diplomata continua baixo, em torno de 20% tarde, a proibição de casamento entre diplomatas e servidores públicos deixa de existir, assim como a obrigatoriedade da agregação para acompanhar cônjuge em missões no exterior. No início do século XXI, acompanhando política informal de valorização da mulher na diplomacia, muitas diplomatas foram promovidas às classes superiores da carreira e hoje Luiz Villarinho Pedroso e Maria Rosita 52 Thereza Quintella ocupam lugar de destaque nos quadros do Itamaraty, tanto na Secretaria de Estado quanto em postos no exterior. Apesar de tudo isso, a discrepância entre os gêneros, em termos numéricos, ainda permanece. O percentual de mulheres na carreira de diplomata continua baixo, em torno de 20%, índice que se mantém mais ou menos inalterado nas diversas classes da carreira. A questão de gênero sempre esteve muito presente na turma 2011-2013 do Instituto Rio Branco. Somos apenas três mulheres, em um universo de 26 alunos e representamos, assim, um pouco mais de 10% do total. Essa cifra pode ser considerada um recuo, visto que, nos últimos anos, entre um quarto e um quinto dos aprovados no concurso eram mulheres. Felizmente, nossa turma parece ter sido um ponto fora da curva. A turma 2012-2014 tem nove mulheres, em um total de 30 alunos. Não raras foram as vezes que palestrantes e professores nos indagaram sobre a quantidade de mulheres na turma. E, após nossa resposta, a reação costumava ser a mesma: olhos esbugalhados e desconforto, geralmen- te acompanhados de algum comentário de pesar. Antes de entrar na carreira diplomática, eu nunca havia pensado que poderia haver uma sub-representação feminina no Ministério. Lembro-me bem da primeira vez que tive a chance de refletir sobre isso. Em maio de 2012, uma jornalista de O Globo entrou em contato comigo para uma rápida entrevista sobre como era ser mulher em uma carreira considerada tipicamente masculina. A matéria intitulada “Invasão feminina nas carreiras públicas” identifica, além da diplomacia, as áreas fiscal, de segurança pública e a jurídica como tradicionalmente masculinas. Muitas são as possíveis explicações para a baixa proporção de mulheres em nossa carreira, como aponta o já mencionado livro de Viviane Rios Balbino. Entre elas, está exatamente a imagem masculina da carreira, corroborada pela mídia. Além disso, as características peculiares da profissão poderiam engendrar difi- culdades para a convivência com o cônjuge e para a criação dos filhos, o que a autora chama de “mito da impossibilidade de constituição de uma família”. A relativa menor obstinação das mulheres, quando comparada à dos homens, em serem aprovadas no concurso, também é analisada nesse livro como uma possível razão para a sub-representação feminina. Sejam quais forem os motivos atuais da baixa presença de mulheres no Itamaraty, certamente, hoje, eles são menos numerosos e menos impeditivos do que há 50 anos - o que deve ser motivo de orgulho para o Ministério e para a sociedade brasileira. Ainda assim, e apesar dos avanços, podemos pensar que o gradativo aumento da participação feminina no Itamaraty deve ser ideia fixa e objetivo de toda a instituição – deixando para trás, definitivamente, os tempos em que diplomatas mulheres eram uma curiosidade vista com complacência e paternalismo. 53 memória diplomática A linha que não alinha Filipe Nasser* A política externa brasileira e o Movimento dos Não-Alinhados Índia, Egito, Indonésia, China, Turquia. Seleção das potências emergentes. Estrelas da nova multipolaridade. Próceres de uma ordem internacional mais global, colorida, plural; menos assimétrica, hegemônica, ocidental. Marrons, azeites e amarelos a diluir a branquelice reinante na elite dirigente dos assuntos globais. Mas – epa! – cadê o Brasil nesse escrete? Onde está o abre-alas dos BRICS? O vértice central do IBAS? O dínamo da Unasul? O anfitrião da Cúpula América do Sul-Países Árabes? O enfant terrible de Cancun? O meio-campista de Teerã? Surpresa: não estava. Bem, pelo menos não com a sua força máxima, que fique claro. É óbvio que não estamos falando do mundo circa 2008. Afinal, o Brasil tem – e deve ter! – cadeira cativa em qualquer novo arranjo da governança global. O ano agora é 1955. A ordem ainda é rigidamente bipolar. Estamos na Primeira Conferência Afro-asiática, realizada, entre 18 e 24 de abril, em Bandung, na Indonésia. Pelos umbrais do Gerdung Meka – o centro de conferências da cidade javanesa, hoje museu que homenageia a conferência –, cruzou o diplomata brasileiro Adolpho Justo Bezerra de Menezes, que ocupava o honroso cargo de Segundo Secretário da Embaixada em Jacarta. Relata nosso homem em Bandung, entusiasta do movimento cujas sementes testemunhou serem semeadas: Bandung firmou-se como um símbolo do término da intromissão do Ocidente, direta e soberanamente, nos negócios da Ásia e da África. Foi um marco, mostrando o fim de um período começado em 1493, com a chegada de Vasco da Gama às Índias. No entanto, se a conferência teve esse caráter impiedoso, ao dar bilhete azul aos ocidentais que ainda desejavam permanecer por aqui como patrões, também teve o mérito de proporcionar clima de conciliação e de apaziguamento de que todo o mundo bem estava carecendo. 2 54 1 Verdade seja dita: o Brasil, por mais que possa se orgulhar das muitas proteínas africanas e asiáticas em seu DNA, não pertencia geográfica, geopolítica ou espiritualmente ao mundo afro-asiático em contexto de descolonização e de ebulição das independências nacionais. Enquanto o Terceiro Mundo adquiria contornos e feições mundo afora – firmando-se verdadeiramente como conceito operacional das relações internacionais –, Juscelino Kubitschek chegava ao poder e, com ele, a promessa de que o Primeiro Mundo aterrisaria no Brasil. Não que JK não desse bola para outros países em desenvolvimento e para seus líderes – Juscelino recebeu vários deles, inclusive em uma ainda “infundada” Brasília—, mas a auto-imagem que se buscava projetar era de afirmação do Brasil moderno, democrático, ocidental, embicado na pista do desenvolvimento e da prosperidade. O espírito prevalecente no Catete e, depois, no Planalto ainda não era de contestação da estrutura da ordem internacional de um ponto de vista dos injustiçados deste mundo. Se foi em Bandung que se plantou a semente do Movimento dos Não-Alinhados (MNA), o desabrochar teve palco em Belgrado, na antiga Iugoslávia. A primeira Cúpula de Chefes de Estado do MNA foi patrocinada por Josip Broz Tito, entre 1º e 6 de setembro de 1961, sob a sombra do temor de aniquilação nuclear mútua entre as superpotências. Naquele ano, já não havia meias palavras sobre a divisão do mundo em dois campos geopolíticos e ideológicos antagônicos. Além disso, a onda de descolonização que varria o mundo afroasiático já havia demonstrado, a quem quisesse ver, sua irreversibilidade. 1 Registro aqui um agradecimento especial aos amigos Dawisson Belém Lopes, João Augusto Costa Vargas, Luiz Feldman e Matias Spektor, sem cujas observações, sugestões e críticas este ensaio jamais teria superado – se é que chegou a superar – o estágio do subdesenvolvimento. 2 DE MENEZES, Adolpho Justo Bezerra. O Brasil e o mundo ásio-africano. Brasília: FUNAG, 2012, pp. 252. * Filipe Nasser foi o editor-chefe da JUCA 1, de 2007 Na reunião preparatória da Cúpula de Belgrado, esta realizada no Cairo, entre 5 e 12 de junho daquele mesmo ano, o observador brasileiro foi ninguém mais ninguém menos do que João Augusto de Araujo Castro. Em seu relatório, Araujo Castro observou, em um tom crítico sobre as perspectivas de participação brasileira: Nenhum outro país enviou ‘observador’ ao Cairo. A única explicação plausível para nossa atitude, aos olhos das chancelarias, era de que a nova política exterior do Brasil desejava precisar em que consistia o não-alinhamento, a fim de determinar se era ou não possível, dentro do quadro de seus compromissos internacionais, examinar a possibilidade de seu comparecimento à conferência de cúpula. 3 A esta altura, já vingava a Política Externa Independente (PEI) de Jânio Quadros, que incorporou o Sul ao radar diplomático brasileiro. Quadros reservava à política externa o espaço de progressismo possível em seu Governo, já que a sua política econômica se servia despudoradamente do ideário ortodoxo-liberal da época. Expressar solidariedade terceiro-mundista em face da comunhão de problemas advindos do subdesenvolvimento compunha o quadro em que política interna e o projeto de inserção internacional do Brasil se fundiam na aurora dos anos sessenta. Apesar de Quadros jamais ter disfarçado a inspiração que buscou nos líderes do Movimento, isso não implicou adesão ao MNA. Parte da resistência brasileira advinha das incertezas a respeito do leme conceitual do movimento: afinal do que se tratava extamente aquela posição de “meio” no calor da Guerra Fria? A desconfiança em torno do emprego do termo “neutralismo” para designar o Movimento dos Não-Alinhados, por exemplo, era reconhecida por Araujo Castro: Evitava-se cuidadosamente a introdução do conceito de “neutralismo”, “neutralidade”, ou mesmo “neutralidade ativa” (...) O não-alinhamento não significaria, assim, indiferença ou alheamento aos problemas que contribuem para a caracterização da crise mundial; existe, pelo contrário, subentendida, a premissa, um tanto farisaica, de que somente os países não-alinhados, eqüidistantes dos dois blocos de potências, estavam em condições de contribuir para a gradual consolidação da paz. 4 O Chanceler Afonso Arinos desfaz um outro nó da malha conceitual, distinguindo neutralidade, à suíça, do neutralismo terceiro-mundista. A nossa política é independente mas não neutralista, principalmente porque, na minha opinião, o neutralismo é uma forma de engajamento (...) A neutralidade é uma posição diplomática e jurídica suficientemente esclarecida, analisada, estudada, pesquisada e exposta (...), [a]o passo que o neutralismo representa, sem dúvida, com todas as vantagens, com toda a importância desta ação, um determinado tipo de ação que não é abstenção, que não é omissão, mas é, isto sim, influência e intervenção. 5 A citação faz sair à superfície outro elemento importante para compreender o entusiasmo morno do Brasil: o espírito de Bandung arriscava colidir com a tradição soberanista e não-intervencionista da política externa brasileira em um momento de nossa história política, social e diplomática que (ainda) não admitia a flexibilização e relativização de tais conceitos. Talvez resida aí um das contradições inerentes à PEI: cheia de opinião sobre os ventos do mundo, mas ainda hesitante em manobrar os lemes da História. O Brasil nunca integrou o MNA plenamente. Mantém, desde então e até os dias de hoje, o status de observador junto ao agrupamento. Daí a pergunta: o que explica que um país que tem or- 3 CASTRO, João Augusto de Araujo. Documento 12. Relatório do ministro João Augusto de Araújo Castro, observador do Brasil à Reunião Preliminar da Conferência de Chefes de Estado e Governo de Países Não-Alinhados apud FRANCO, Álvaro da Costa (Org.). Documentos da Política Externa Independente. Volume 1. Rio de Janeiro: CHDD & Brasília, FUNAG, 2007, p. 94. 4 CASTRO apud FRANCO (2007). pp. 94-95. 5 FILHO, Afonso Arinos. Diplomacia Independente. Um legado de Afonso Arinos. São Paulo: Ed. Paz & Terra, p. 231. 55 memória diplomática gulho de uma política externa historicamente independente, tão frequentemente assumindo, em caráter formal ou informal, o papel de porta-voz dos anseios do mundo em desenvolvimento, nunca tenha participado plenamente do MNA – megafone dos povos marginalizados deste planeta? A resposta curta e fácil é que o caráter “independente” que se procura imprimir historicamente à política externa brasileira (ou a seu discurso) se revelou refratária a alinhamentos automáticos de qualquer espécie, inclusive ao próprio não-alinhamento. Com a palavra, novamente Araujo Castro: Como tentamos definir, na breve declaração que fomos chamados a fazer no âmbito da Conferência do Cairo, ‘nenhum país ou bloco de países, alinhados ou não-alinhados, tem (...) um monopólio sobre princípios ou monopólio sobre a independência’. (...) Continua extremamente vago e difuso o conceito de não-alinhamento. Que é alinhamento? O Brasil é um país alinhado? Sabemos que não é neutro, que ideologicamente é parte do Ocidente. Podemos, entretanto, dizer com segurança que pertença ao ‘bloco ocidental’? Na realidade, nenhum ato jurídico internacional nos vincula à ‘defesa’ do Ocidente. (...) Não creio que tenhamos grandes vantagens políticas em repetir que pertencemos ao bloco ocidental, porque uma rígida identificação com o moderno conceito político de Ocidente, caracterizado como aliança de países altamente industrializados, poderá dificultar nossos contatos com o mundo do subdesenvolvimento, onde poderemos encontrar excelente campo de ação para a dinamização da política exterior do Brasil. 6 Em artigo para a revista Foreign Affairs – publicado curiosamente somente após a sua prematura renúncia –, Quadros oficializa a visão: Not being members of any bloc, not even of the Neutralist bloc, we preserve our absolute freedom to make our own decisions in specific cases and in the light of peaceful suggestions at one with our nation and history. (…) The first step in making full use of our possibilities in the world consists in maintaining normal relations with all nations. 7 Traduzindo em miúdos, o Brasil se enxergava tão desalinhado a quaisquer blocos de poder que a hipotética participação formal no Movimento dos Não-Alinhados parecia, na psiquê diplomática brasileira, com uma forma de alinhamento e, pior, de engessamento da ação externa brasileira. Há um outro aspecto importante. É Arinos, o primeiro dos Chanceleres da PEI, quem articula a explicação de que a resistência expressada pela nossa 6 7 56 8 CASTRO apud FRANCO (2007), p. 95. QUADROS, Jânio. Brazil New Foreign Policy. In Foreign Affairs. Vol. 40, N. 1 (Oct. 1961), p. 20. FILHO (2001), p. 231. diplomacia em se alinhar aos não-alinhados tem origem nas divergências verificadas entre a identidade brasileira – particulamente debaixo do sol de nosso interregno democrático – e o perfil político dos países de proa do Movimento: Quando observamos a gama de estados chamados neutralistas com vários dos quais nos sentimos, no momento, ligados em aspectos específicos de natureza econômica, e também em aspectos gerais de conduta política, ligados pelas mais gratas, cordiais e afetuosas relações, concluímos que, nesses estados, prevalece um certo tipo de estrutura político-constitucional que independe das ideologias no sentido social, que os aproxima dentro de um certo quadro de aparelhamento quase comum. O partido único instituído, a concepção da liberdade política, determinadas restrições à livre empresa econômica, determinadas conexões com blocos internacionais, tudo isso estabelece ua homogeneidade formal, estrutural, com a qual não nos sentimos, realmente, aparentados, nem mesmo aproximados. 8 A Política Externa Independente de Jânio Quadros e João Goulart tinha como bússula a independência dos Estados Unidos e da União Soviética. Entretanto, é lícito admitir que o sentido implícito de conquista de autonomia no slogan diplomático brasileiro alvejava antes a Casa Branca do que o Kremlin. Já o Movimento dos Não-Alinhados, apesar de se propor, nos dias altos de sua glória, bissetriz entre Washington e Moscou, era refratário à visão de mundo do primeiro e mais próximo espiritualmente ao segundo. No cômputo geral, naquele quadrante particular da História, é lícito supor que, se o Brasil estivesse mais próximo a um dos campos, este continuaria a ser o Ocidente. Daí não se alinhar à OTAN, muito menos ao Pacto de Varsóvia... e nem à Declaração de Belgrado. Os mesmos predicados que talvez fizessem do Brasil líder natural dos Não-Alinhados, talvez tenham distanciado o País dele: a grandeza das dimensões, a tradição pacifista, a capacidade de aproximar posições entre pobres e ricos, entre pobres e paupérrimos (que vem acompanhada da indisposição de tomar partido a priori). De um ponto de vista externo, foram a identificação com o Ocidente e os rumos do próprio Movimento que distanciaram o Brasil da iniciativa capitaneada por Nasser, Nehru, Nkruma, Sukarno e Tito. De um ponto de vista interno, o projeto de modernização conservadora patrocinado mesmo pelo regime democrático, a ausência de impulso popular em favor da afirmação da identidade não-alinhada e, afinal, o triunfo, já em 1964, de um regime de exceção marcadamente conservador terão também afastado o Brasil do espírito de Bandung. *** Mesmo que o canal preferencial não tenha sido o Movimento dos Não-Alinhados, o conceito de Terceiro Mundo foi paulatinamente incorporado ao discurso e prática da política externa brasileira. O Brasil tem sido mais ativo no G-77 – do qual é fundador e permanece, até os dias de hoje, como membro ativo e politicamente engajado – e na construção do Diálogo Norte-Sul nos fóruns internacionais mais, digamos, formais. Desse modo, é possível inferir que, historicamente, o Brasil preferiu exercitar seus músculos terceiro-mundistas nas tribunas multilaterais sob as tendas da ONU. Afinal, além de ocidental, o Brasil sempre foi un grand pays du Sud e, no mais das vezes, devoto do multilateralismo onusiano. Aliás, nas negociações relativas especificamente à agenda de desarmamento e não-proliferação nuclear, a diplomacia brasileira é tipicamente associada às posições não-alinhadas – qual seja, a militância contra a injustiça inerente à ordem nuclear global. A política externa brasileira passou a alternar dois paradigmas fundamentais – o globalista e o alinhamento à potência hegemônica –, frequentemente apresentando os dois elementos combinados. Com efeito, o paradigma globalista necessariamente representou a aproximação com outros países em desenvolvimento. Em outras palavras, no léxico da política externa brasileira, universalismo pressupõe terceiromundismo, embora não se limite a ele. Desde o advento da PEI, dois outros períodos da política externa brasileira apresentaram um marcado sotaque sulista: o Pragmatismo Responsável do Presidente Geisel e do Chanceler Azeredo da Silveira e a era precipitada pelo Presidente Lula e pelo Ministro Celso Amorim. A historiografia provavelmente confirmará a tese de que a política externa geiseliana traduziu em ações concretas o que a PEI pregou no plano discursivo e das ideias. O encampamento efetivo da causa da descolonização, o discurso de urgência da reforma das instituições internacionais, o reconhecimento pioneiro da independência da Angola, o restabelecimento de relações diplomáticas com a China Popular perfilam-se entre as ações que posicionaram o Sul no centro da política externa brasileira e/ou em que o Brasil se afirmou internacionalmente como integrante do Terceiro Mundo. Mais recentemente, a prioridade outorgada à aproximação com outros países em desenvolvimento não encontrou eco particularmente no Movimento dos Não- Alinhados, cuja atualidade deverá ter-se perdido sob os escombros do Muro de Berlim. A própria noção de Terceiro Mundo – tal como cunhada pelo historiador francês Alfred Sauvy em tempos imemoriais, precisamente para agrupar os países que não eram nem membros do bloco capitalista, nem do seu rival comunista – foi despida do significado original. Mesmo a vulgar equiparação de Terceiro Mundo à pobreza encontra-se algo datada, na medida em que a decantada redistribuição do poder global – causa e consequência da emergência das novas potências do antigo Sul – diluiu a fronteira entre quem é rico e quem é pobre nas relações internacionais contemporâneas. Para além da curiosidade histórica, este debate sobre o não-alinhamento aos Não-Alinhados faz algum sentido para a política externa dos nossos dias? O Movimento dos Não-Alinhados pode até oferecer um palco interessante para a apresentação dos pontos de vista brasileiros, mas certamente não se converterá na Sapucaí de nossas alegorias diplomáticas. A pergunta a ser feita provavelmente é: existe um mapa de política externa brasileira possível nesta curva da História que rejeite o Sul como diretriz ou conceito operacional? É possível especular que haja ênfases na construção do discurso terceiro-mundista ou de contestação dos rumos da governança global e sua prometida reforma. É igualmente válida, do ponto de vista da execução da política, a discussão sobre em quais arranjos bilaterais, plurilaterais e multilaterais apostar. Para além disso, permanece viva a questão se o Brasil se enxerga internacionalmente como membro do Sul e como isso se traduz em projeto de inserção internacional. Perguntas instigantes em um momento em que o Brasil participa proativa e criativamente da formação de geometrias variáveis de poder: IBAS, BRICS, Unasul, CELAC, ASPA, ASA, o novíssimo mecanismo de coordenação Turquia-Brasil-Suécia, toda uma sopa de letrinhas diplomáticas dos nossos tempos. Brasil, Índia, África do Sul, Indonésia, China, Turquia. Seleção das potências emergentes. Estrelas da nova multipolaridade. Próceres de uma ordem internacional mais global, colorida, democrática; menos assimétrica, hegemônica, ocidental. Marrons, azeites e amarelos a diluir a branquelice reinante na elite dirigente dos assuntos globais. 57 memória (recente) diplomática Os legados da Rio+20 Gustavo Cunha Machala Jaçanã Ribeiro O Embaixador Luiz Alberto Figueiredo e o Ministro Laudemar Aguiar descrevem a transposição de um rubicão negocial e logístico Não são apenas 20 anos que separam a Rio 92 da Rio+20. As transformações mundiais nesse intervalo são gigantescas, seja em termos econômicos e tecnológicos seja em termos sociais e ambientais. As quase 50 mil pessoas que se encontraram no Rio puderam participar de mais de 500 eventos oficiais e milhares de debates e discussões públicas que fizeram da cidade, por nove dias, a verdadeira capital global. A participação não se restringiu a eventos presenciais. A estrutura de tecnologia da informação desenvolvida pela organização da Conferência permitiu que a sociedade civil pudesse contribuir diretamente com a atuação dos quase 12 mil delegados oficiais. 58 Na condução de toda essa logística, por parte do Itamaraty, esteve o Ministro Laudemar Aguiar, Secretário Nacional do Comitê Nacional de Organização da Rio+20. Em entrevista à Juca, o Ministro Laudemar alertou que os modelos de licitação e de planejamento de eventos dessa magnitude deveriam ser aprimorados urgentemente. Para tanto, sugere, como um dos legados da Rio+20, a conscientização política de que a manutenção de um núcleo permanente de coordenação de grandes eventos dentro do Itamaraty ajudaria a minimizar problemas decorrentes de convocações inarredáveis de pessoal, que sempre acabam por desfalcar seus postos de origem. O Ministro Patriota encontra populações indígenas durante a Rio + 20 Um núcleo permanente de coordenação de grandes eventos dentro do Itamaraty ajudaria a minimizar problemas decorrentes de convocações inarredáveis de pessoal, que sempre acabam por desfalcar seus postos de origem. Ministro Laudemar Aguiar Contudo, para o Ministro Laudemar, antes de representar uma história de vitória sobre o inesperado, sempre presente na organização de qualquer evento, a realização da Rio+20 permanecerá como uma comprovação da excelência da capacidade organizativa brasileira. “O primeiro legado imaterial, o maior de todos, é que o Brasil tem capacidade para fazer qualquer evento internacional de qualquer magnitude”. Na opinião do Ministro, o Brasil mostrou que está fazendo desenvolvimento sustentável não só na teoria, não só com o Governo, mas com as empresas e a sociedade civil como um todo. Ademais, as campanhas de acessibilidade, de inclusão social, de parcerias, de conectividade, de sustentabilidade que fizeram parte da Conferência, dão mostra de como o modelo brasileiro faz escola na organização de eventos multilaterais de grande magnitude. Do ponto de vista da condução diplomática, o salto brasileiro, nesses 20 anos, também foi bastante qualitativo. Se em 1992 a diplomacia brasileira atuava na defensiva, buscando resguardar interesses brasileiros e afastar as críticas de que o País era uma ameaça ao meio ambiente, devido às queimadas na Amazônia (confira entrevista do ex-presidente José Sarney, nesta Juca, falando sobre esse tema), no início da segunda década do século 21, somos uma diplomacia que procura estar na dianteira das discussões ambientais. Como explica o Embaixador Luiz Alberto Figueiredo, chefe da delegação brasileira à Rio+20, o papel brasileiro na condução das negociações que levaram ao texto final da Conferência foi crucial, demonstrando a capacidade de nossa diplomacia de utilizar o instrumental técnico de que dispõe o negociador multilateral. Confira, em seguida, trechos da entrevista concedida pelo Embaixador Figueiredo à Juca. 59 memória (recente) diplomática A Conferência Rio 92 ficou marcada como uma conferência que lançou documentos seminais, processos que foram muito importantes na sequência das discussões sobre o Desenvolvimento Sustentável. O que marcará a Rio+20? Sem dúvida nenhuma, a Rio 92 e a Rio + 20 são conferências fundamentalmente diferentes. A Rio 92 resultou do amadurecimento de vários processos que convergiram para a conferência. Por exemplo, a negociação das Convenções de Biodiversidade e a do Clima, como também a de Desertificação, a Agenda 21, os Princípios do Rio, enfim, textos seminais para a consideração, até hoje, dos temas de desenvolvimento sustentável. A Rio +20 não é o desembocar de processos. Ela é, sim, lançadora de processos novos. Ela não é o final de um caminho, ela é o início de um caminho. Nesse particular, o tema pelo qual ela será, possivelmente, lembrada, é o lançamento do processo dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). Abriu-se um processo de negociação que será conduzido em Nova York e que desembocará no ano de 2015, quando se espera que os países adotem esses Objetivos. Os ODS têm um caráter global que difere fundamentalmente dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), uma vez que se destinam a todos os países e não apenas aos países em desenvolvimento. Eles têm um olhar de sustentabilidade que os Objetivos do Milênio não necessariamente tiveram. Portanto, de certa forma, os ODS serão complementares aos ODM. Porém, os resultados da Conferência não se esgotam nisso. A Rio + 20 lança várias novidades, vários aperfeiçoamentos até das Conferências desse tipo nas Nações Unidas, especialmente na área de participação da sociedade civil. Como vocês sabem, nós organizamos quatro dias de diálogos sobre temas de desenvolvimento sustentável, diálogos da sociedade civil, exclusivamente, em que não havia participação de governos, no formato de 10 mesas redondas , sendo que cada mesa preparou 3 recomendações que foram, depois, enviadas aos Chefes de Estado na Conferência propriamente dita. Entretanto, o exercício não se restringiu a esses quatro dias, ao contrário: houve todo um processo preparatório participativo, transparente, aberto, com o uso da 60 internet, de modo que qualquer pessoa poderia opinar e sugerir questões. Desses diálogos participaram grandes especialistas de vários ramos da sociedade civil, desde ONGs, empresas, academia, com a preocupação de equilíbrio de gênero e de equilíbrio norte-sul. Tivemos a intenção de obter uma diversidade de opiniões real, uma riqueza de pontos de vista. Portanto, essa inovação, que é uma inovação brasileira, ela marcará muito essa Conferencia também, porque, após a Conferência, nós ouvimos muito de outros colegas que “não vai se poder fazer novamente uma conferência da ONU sem essa inovação”. Os próprios membros do Secretariado me disseram isso. Foi uma inovação que o Brasil criou e que nós esperamos que prospere para outras conferências. Tivemos uma palestra com o ex-Secretário-Geral Embaixador Ruy Nogueira durante nosso ano letivo de 2012, em que sua atuação foi merecidamente elogiada, sobretudo quando se referiu aos desafios do fechamento do texto. Inclusive, comentouse que com o texto da Conferência, “todos ganharam e todos perderam”. Com relação ao fechamento do texto, o Senhor poderia comentar se houve também inovação na estratégia de ação diplomática brasileira? Na verdade, o que a delegação brasileira fez foi utilizar o instrumental que está à disposição do negociador multilateral. Você tem que escolher o processo de acordo com as necessidades da hora. Nesse caso, foi uma escolha feita com certa ante- Houve uma série de manifestações das delegações elogiando o espírito democrático, transparente e inclusivo que o Brasil imprimiu à negociação. Alguns até disseram que era um “renascimento do multilateralismo no que ele tem de melhor”. A Rio +20 não é o desembocar de processos. Ela é, sim, lançadora de processos novos. cedência, pois era previsível que o Comitê Preparatório (CP) da Rio + 20 não conseguisse adotar o texto ao final dos trabalhos do Comitê. Como se sabe, a última sessão do Comitê foi já no Rio de Janeiro, imediatamente antes desses quatro dias dedicados ao diálogo de desenvolvimento sustentável. Mas mesmo o estabelecimento desses quatro dias entre o término da ultima sessão do CP e a conferência foi uma escolha pensada, porque era importante ter algum tempo entre o fim dos trabalhos do comitê e o inicio dos trabalhos da conferência propriamente dita, para eventual correção de rumos, para tentar negociar o que ainda não estivesse fechado. Então, isso foi um instrumento usado pela delegação brasileira. O negociador multilateral tem uma caixa de utensílios à sua disposição e vai usá-la de acordo com a necessidade. Nesse caso, tínhamos uma conferência bem mais curta do que foi a Rio 92, ou seja, uma conferencia de três dias. A Resolução das Nações Unidas dizia que ela seria precedida por três dias da última sessão do CP. A interpretação brasileira foi: o precedido não quer dizer em sequência. Então, criamos esses quatro dias de intervalo entre uma coisa e outra, como uma medida prudencial para atender às necessidades da negociação. Foi importante que isso tivesse acontecido, porque nos ajudou a, como presidência da conferência, tomar as rédeas da negociação ao término do CP e realizar o que veio a se chamar Consultas Pré-Conferência. Nessas Consultas Pré-Conferência, que aconteceram exatamente nesses quatro dias, conseguimos fechar o texto. Foi uma negociação clássica, no sentido que foi uma negociação conduzida por negociadores, até que se esgotassem as possibilidades de negociação dos temas. Ou seja, ninguém parou de negociar porque estava a espera de uma solução mágica. A negociação foi até o final desses quatro dias. E o Brasil assumiu a responsabilidade de, com base na negociação, preparar um texto final que foi o texto aprovado. Devo dizer que após essa adoção, houve uma série de manifestações das delegações elogiando o espírito democrático, transparente e inclusivo que o Brasil imprimiu à negociação. Alguns até disseram que era um “renascimento do multilateralismo no que ele tem de melhor”. Enfim, obviamente ficamos contentes com isso, enquanto delegação brasileira, porque houve um reconhecimento de que é possível conduzir uma conferência de maneira transparente, que inclua todas as vozes, e se chegar a um resultado. Claro que é sempre um processo muito difícil. Temos que levar em conta que ao fim dos trabalhos do CP, mais de 60% do texto continuava sem acordo. Como se pode imaginar, a parte sobre a qual havia acordo eram temas mais ou menos incontroversos. Todos os temas em que havia algum tipo de controvérsia ou de visão diferente entre as partes estavam abertos. O desafio nosso, enquanto presidência da conferência, ao assumir a responsabilidade de concluir essa negociação, era de lidar com esse mais de 60% do texto de uma maneira que atendesse ao interesse legitimo das partes e refletisse, da melhor maneira possível seus pontos de vista. Ao mesmo tempo, buscamos chegar a um texto que fosse equilibrado, no sentido em que todos pudessem se reconhecer naquele texto; ainda que nem todas as ideias de uma parte estivessem lá, aquela parte poderia ler o texto e ver que sua preocupação estava atendida. Isso o Brasil foi capaz de conseguir nesses quatro dias, através de um processo paciente, ouvindo a todos e buscando entender o que cada grupo de países propunha, a fim de buscar uma solução que, se não fosse a ideal para aquele país, pelo menos era uma solução com a qual ele se sentisse satisfeito ou, pelo menos, atendido. Ao mesmo tempo, buscamos chegar a um texto que fosse equilibrado, no sentido em que todos pudessem se reconhecer naquele texto 61 cultura poesia e prosa O nomadismo da letra João Guilherme Fernandes Maranhão João Henrique Bayão Pedro Henrique Moreira Gomides Em compasso ou descompasso, diplomacia e literatura continuam juntas no século XXI Um possível pince nez em mãos, o olhar sereno, mas, talvez, com um quê de melancolia. E disse o Conselheiro Ayres, na tentativa de justificar os revezes que lhe trouxeram o nomadismo, a viuvez e a ausência de filhos: “Vi revoluções”. Um dos mais notórios diplomatas da literatura brasileira evoca, tanto em Esaú e Jacó quanto em Memorial de Ayres, as vivências pitorescas – frequentemente estranhas 62 àqueles que se dedicam a outros ofícios – que não raro pontilham os misteres diplomáticos. Ayres, porém, não deixa os espetáculos que sorveu com os olhos novecentistas soçobrarem nos desvãos da memória ou se perderem em exercícios de eloquência: verte-os em palavras, plasma-os em seu diário. Diplomacia e literatura, afinal, no Brasil e noutras plagas, não raro estendem os braços uma à outra. Sujeito que percorre searas sinuosas, aprendendo a sempre driblar vicissitudes e conservando, em alguma medida, certo gosto pelo desterro, o diplomata não raro encontra no fazer literário um meridiano a que se agarra e que lhe confere estabilidade em meio à fluidez de sua jornada itinerante. Qualquer escritor, em verdade, busca na palavra um remanso em meio às agruras que, de súbito ou pouco a pouco, eclodem: a consciência da finitude, a complexidade desconcertante que governa e desgoverna os homens. Escrever, sabe-se, é, também, e quase sempre, um gesto de perpetuação. Ayres, por exemplo, viúvo e sem filhos, faz de seu diário uma derivação de si. Da mesma forma, Brás Cubas, a habitar o além e avesso à ideia de saber-se findo, leva aos vivos suas memórias, já que a inexistência de uma descendência o impede de, mais concretamente, desdobrar-se no plano terrestre. Seres mais etéreos e menos estáticos, alguns diplomatas, pode-se supor, encontram na literatura o adubo com que guarnecem certas lacunas. Movidos pela necessidade de, no papel, forjar mundos, homens, situações, ora propositadamente evadindo-se de realidades circundantes, ora as confrontando (pois a ficção não raro confere ao real uma carnalidade que o relato objetivo, paradoxalmente, esmaece), muitos diplomatas erigiram grandes obras, colheram prêmios, fizeram-se célebres. Não em vão grande parte das salas do Instituto Rio Branco recebem os nomes de João Cabral, de Merquior, de Nabuco, de Rosa. Não em vão goza Vinícius, nas bocas e ouvidos da maior parte dos brasileiros, de uma popularidade que excede a conferida a qualquer outro diplomata. Findados os dois primeiros parágrafos, o leitor já indaga sobre os rumos da argumentação tecida até o momento. Afinal, constatado o fato de que foram citados, poucas linhas acima, apenas medalhões da atividade literária, pode-se perguntar sobre a continuidade de uma prática que, a depender da perspectiva, constitui, de fato, uma tradição. Escrevem os diplomatas que pertencem às mais modernas gerações? E, se escrevem, publicam livros? Também eles, assim como Ayres, convertem a substância das coisas vividas em palavras gravadas sobre a lauda branca, que convida, desnuda, ao jogo agridoce da criação? A resposta é sim. A produção de diplomatas cuja atividade se concentra nas últimas duas décadas, além de considerável, reflete distintas tendências e abrange diferentes gêneros. Revela, ainda, que a noção arquetípica de um diplomata-escritor esboroa-se face à complexidade do real. Esqueçamos a imagem do viajante desenraizado, ancorado nas experiências vividas ao longo da carreira, a modelar uma ficção que, embora às vezes críptica, fatalmente remete às particularidades a que teve acesso em decorrência de sua profissão. A ideia de que as duas atividades – diplomacia e literatura – necessariamente devam basear-se em um simbiótico enlace é, aliás, contestada por um dos que pertence às mais contemporâneas gerações de diplomatas que, coincidentemente ou não, dedicam-se à literatura. O poeta e crítico literário Felipe Fortuna, atualmente ministro de segunda classe, cujo último livro foi lançado em fins do ano passado, afirma que o fazer literário – embora possa, em muitas ocasiões, ser insuflado por experiências decorrentes do ofício diplomático – depende, fundamentalmente, de uma curiosidade a que se somam talento e prática. “O fato de o indivíduo, na condição de diplomata, vivenciar singularidades políticas e conhecer realidades outras, de culturas distintas, não necessariamente lhe confere as qualidades de que depende um bom escritor”, diz o poeta. Na poesia de Fortuna, por exemplo, há inflexões que se devem a vivências associadas à sua carreira. Em “Maneiras de Jacarta”, do volume Estante, evocações da capital indonésia plasmam-se ao material poético do autor: “O calor de Jacarta apodrece o ar: seu abraço contaminado e forte deixa nódoas na pela e na textura (...)” 63 poesia e prosa O Suicida, de Felipe Fortuna Não me chamem pelo meu nome: eu não atenderei. Meu braço não alcança, sequer pertence à cãibra ou carrega buquês. Uma perna arqueou-se, lúcida; a outra recebeu a sombra que depois recobriu o corpo. Minha cabeça permanece ainda o objeto imperfeito que se abria e provava, em tosca posição. Mas agora não doo, nem respiro, nem escuto, ainda quando abrem à força os meus olhos lisos de vidro. Tentam saber se tenho raiva, e por isso roçam, apalpam? Mas eu já saí. Por escrito expliquei por que não quis mais. A mão descansa em mim, igual à mosca que vai retornar. 64 Determinados aspectos poéticos, porém, derivam de impressões cuja eclosão independe do lugar. A série “Poemas para a aula de ginástica”, composta por dez seções, surgiu com base em observações feitas pelo autor em uma academia de ginástica carioca. “O espanto que então me causaram os materiais usados nas academias e a relação entre espelho, exercícios e música poderia ter sido suscitados em vários outros lugares”, acredita. O contexto determina a produção literária: “Baudelaire não viu lycra e látex, eu vi”, ironiza Fortuna. Mobilidade e episódios pitorescos acumulados em uma vida não pressupõem o estofo com o qual se constrói a obra literária. Adriano Pucci, conselheiro, que publicou, em 2008, O avesso dos sonhos, reconhece que a carreira pode fornecer interessantes subsídios para o ofício literário. “Etimologicamente, o diplomata é ‘aquele que carrega o papel dobrado’, é alguém que aprende a lidar com o peso e a medida de cada palavra – o mot juste aplicado ao poder”, esclarece. É um “forasteiro profissional”, munindo-se do estudo de idiomas e do contato com outros povos para cinzelar suas concepções. Mas a conjunção entre carreira e talento literário é fortuita. Se, por um lado, Melville escreveu Moby Dick após “percorrer o Pacífico, viver entre canibais, participar de um motim, ir para a cadeia e dela escapar”, Emily Brontë, “que viveu reclusa e morreu aos trinta anos de idade”, escreveu o Morro dos ventos uivantes. Inegavelmente, a diplomacia confere àquele que a exercita um adensado estatuto ontológico (permitamo-nos o fraseado filosófico). O “adensado” visa a frisar a intensidade da influência referida, já que essa correspondência ontológica se aplica a todas as profissões. Diplomatas que escrevem, no entanto, às vezes parecem buscar certa dissociação entre as duas dimensões que os compõem – a diplomacia e a literatura. Vejamos exemplos: Adriano Pucci, em seu O avesso dos sonhos, trouxe à baila histórias inter-relacionadas, vertidas em prosa simples e direta e ambientadas em um microcosmo rural. Jorge Tavares, de forma ainda mais contundente, forjou, à maneira de Tolkien, um universo meticulosamente descrito nos quatro volumes que compõem A guerra das sombras, publicados ao longo dos anos 2000. Já Marcelo Cid, atualmente em Berlim, professa, declaradamente, a fé borgiana, evidenciada em seus dois livros publicados: o romance Os unicórnios, de 2010, e o volume de contos Os doze nomes e outros contos, publicado no ano seguinte. Gabriela Gazzinelli, jovem secretária em Boston, recorreu ao legado machadiano. Entrevê-se um pouco da lucidez mórbida do defunto-autor Brás Cubas no pássaro narrador de seu elogiado romance de estreia, Prosa de Papagaio. Mário Araújo, um dos vencedores na categoria “Contos e Crônicas” do Prêmio Jabuti 2006 pelo livro A Hora Extrema, apresenta especial interesse no tema da desigualdade, o que ganha expressão lírica no conto “Rauziclíni”, um dos que compõe a obra Restos, de 2008. Por fim, na obra de Alexandre Vidal Porto, atualmente ministro de segunda classe, sexualidade, desejo e poder misturamse no romance Matias na Cidade, publicado em 2005. Mais recentemente, Sergio Y. Vai à América rendeu ao autor o Prêmio Paraná de Literatura. Paradoxo do exílio A diplomacia não faz, sozinha, o escritor. Poderia, por outro lado, obstá-lo? Após dois anos de serviço no calor gabonês de Libreville, Gabriela Gazzinelli reconhece que “uma rotina fora da literatura traz elementos para a literatura”. Há, claro, diversos condicionantes da vida diplomática que, em certo grau, dobram a pena e a ela negam a plenitude do exercício literário. “Por serem muito diferentes uma da outra, a escrita diplomática tem de ser isolada da escrita literária”, defende. Risco sempre à espreita, principalmente para aqueles cujo ofício envolve as formas rígidas da linguagem burocrática, é assimilar, às vezes irrevogavelmente, os vícios do fraseado burocracial. E assim fiquei, em reportagem. Além da diferença de estilos – aqui a linearidade dos telegramas; alhures, a sinuosidade da escrita poética – a diplomacia impõe, reiteradamente, a distância em relação à língua materna. É aquilo a que Gabriela se refere como o “paradoxo do exílio”. Entre jovens aspirantes a voos diplomáticos sob a égide do Itamaraty é comum a ideia de que o diplomata vivenciará, ao longo de sua carreira, experiências sumamente interessantes no exterior. Pensa-se que o exílio pode ser fecundo para a escrita. “Mas o exílio te distancia da sua língua” assevera Gazzinelli. E o convívio cotidiano com a língua é importante para quem escreve. Para Felipe Fortuna, a questão do exílio é uma dimensão que a diplomacia impõe e acaba por envolver, não apenas a língua, mas todos os aspectos da vida social. “Eu não tinha ideia do peso dessa dimensão”, confessa o poeta. Aos privilégios que só a distância oferece contrapõe-se um preço a pagar: não raro lamenta o diplomata a impossibilidade de, em um momento de luto, poder sofrer junto aos parentes. Trata-se, para Fortuna, de uma escolha. “Não sou vítima do meu ofício”, elucida. As asperezas da distância não ganham, absolutas, um lado da balança. Todo exílio pode ser fecundo. “Muitas vezes a distância evidencia o quão caras ao autor são determinadas questões”, acrescenta Gabriela. Por um lado, os afastamentos, continentais, oceânicos, muitas vezes imensos, vibram a corda da saudade doída. Por outro, concedem tempo ao escritor para que em seu texto surjam formulações fadadas, em outras situações, a jamais converterem-se em letra impressa. Em alguns casos, as vantagens do “paradoxo do exílio” manifestam-se caudalosamente. Há observadores particularmente reativos aos ambientes estranhos em que são inseridos. Para eles, a pluralidade de situações vividas em exílio faz borbulhar o caldeirão das ideias. É o caso de Vidal Porto, para quem a ausência evocou presença: escrever, para ele, era a forma de ligarse, de novo, ao português que lhe fora, não sem a anuência do autor, subtraído. Combate em duas frentes A menção aos ídolos literários das gerações de antanho traz à tona a discussão sobre o descompasso entre as rotinas de trabalho de um Rosa ou de um Cabral de Melo Neto e dos que hoje confrontam suas pretensões literárias em meio a uma carreira cada vez mais caracterizada por dinamicidade, pluralidade temática e deslocamentos espaciais singulares, súbitos e intensos. “Foi-se o tempo do otium cum dignitate ciceroniano”, constata o conselheiro Pucci, ao lembrar que dois colegas, escritores, estão licenciados, a fim de dedicarem-se a suas atividades literárias. A queixa da falta de tempo, espremido por tecnologias ubíquas, pode bem ser um subterfúgio a camuflar momentos de esterilidade. O ministro Fortuna ressalta o valor da disciplina, que se sobrepõe aos óbices do tempo. Fichas de leitura, arquivos organizados, listas e notas compulsivas propulsionam sua atividade. A dificuldade em conciliar a vida cotidiana profissional com a produção literária impõe o aproveitamento de quaisquer lapsos de imobilismo inescapáveis, como as constantes idas e vindas em viagens aéreas. Pucci, que escreveu seu livro paralelamente à elaboração de sua tese de CAE, em que disserta sobre questões fronteiriças entre Brasil e Uruguai, acredita ser a literatura um ofício obsessivo. “Não é trabalho de ourivesaria, a demandar tempo: escrevo quando há uma compulsão avassaladora”. Não obstante sua predileção pelos momentos matutinos para transformar as ideias em palavras, Gabriela Gazzinelli acaba por dedicar noites e finais de semana à escrita, mesmo reconhecendo não ser muito metódica. Fortuna planeja, em tabelas, suas leituras; no arquivo do escritório, organiza anotações, inventaria ideias, busca conciliar os afazeres que o esperam na Esplanada com o fazer a que sua paixão o impele. Jorge Tavares, por sua vez, embora tenha começado o construir o mundo de A Guerra das Sombras ainda na Faculdade, terminou sua saga de fantasia já como membro do qua- E assim também paralisei o que de mim mais gostariam de ver em bruta sucessão: a mão que vai com pouca tinta escrevendo as palavras mais simples encontradas no dia; o susto em tudo a despertar o olhar que nunca se equilibra sob as pálpebras, entretido em escandir a luz que passa e se projeta à outra esquina. Vim, vi, e agora terminei: Supremo e todo no comando, constituí a supressão. Mandei nutrir minha saúde com o que sobrava demais: o corpo na sua estatura igual ao tamanho da mesa. Logo escolhi a posição: um molde fóssil que deixei à extinção, indiferente aos vincos puros do lençol. Ali deixei ou me atirei sem lembrar de Sandra e de Márcia, não de Regina, não de Sônia, como se a porta permitisse que passassem, e não me vissem. (Mas eu fiquei atento: o rastro que me leva aonde deitei também serve para fugir, e foi a fuga o que eu segui). Muitos somos os suicidas a desejar a brevidade: mas falo por mim, não por quem quis imitar mortes alheias. E é por isso que hoje, ao abrir esse portão de ferro-gusa, deixei tortos, de lado, os passos que me trouxeram para dentro. E nem acordei nem perdi: gravei um retorno melhor, no chão, para servir de guia. 65 poesia e prosa O dia arqueja frente ao outro. O dia está preso ao cordão que então seguia até saber onde o não se dobrava, o não se esticava, o não se torcia e devorava toda a sombra. Agora me chama a razão: vou resvalando à marginal de tudo o que aprendi, sem dor (como espero) e sem parecer hesitante ao sentir o sol: pois eu nasci para sair. E não quero seguir a esmo o fio que se produz sem cortes sobre a rua longa onde piso. Não sigo. Prefiro que tudo me deixe sem chão e sem curvas até que um cansaço sem luzes traduza meu corpo e o cubra com uma palavra estrangeira. De que maneira apressaria o que outros poetas fizeram? Insisto: poetas caídos, horizontais ou verticais, que acordam e dormem depois de entrarem no mesmo automóvel. dro diplomático. O tempo foi conquistado à maneira dos guerrilheiros: devagar e sempre. Os dois últimos livros que compõem a quadrilogia foram redigidos em quatro anos. “Deixei de escrever todo dia ou passei a escrever por períodos mais curtos de tempo”, detalha. Ao fim de sete anos, criou um universo a que se tem acesso em cerca de mil e trezentas páginas. Durante o processo, nenhuma grande cisão entre o diplomata e o construtor de mundos. “A criação literária me permite desenvolver a emoção. A diplomacia dá espaço ao lado racional”, explica Tavares. Inspirações Em relação aos autores que inspiram as novas gerações de diplomatas escritores, a regra é o universalismo. Vidal Porto, por exemplo, cita, dentre outros, Maupassant, Machado, Roth e Kafka como algumas de suas referên- *** Pequena amostra literária JUCA sugeriu que alguns diplomatas apresentassem trechos de suas obras literárias. Esperase que os temas, imagens e estilos evocados por essas linhas despertem a curiosidade do leitor. Trecho “A Hora Extrema”, de Mário Araújo, publicado em 2005 e terceiro colocado no Prêmio Jabuti, de 2006. A víbora branca se esconde no grande jasmim que plantou Alfonsina Storni. As mãos que ali colheram já se foram. Jamais serviram para o mar que transportou à terra, em vão, Kostas Karyotakis. Ondas roeram seus braços e suas pernas de náufrago. Quando finalmente o rádio dá as horas, são onze e quarenta e oito. Inicia imediatamente uma nova contagem, como nas lutas de boxe e nas partidas de basquete. Desta vez, a pulsação dos números na cabeça é acompanhada pelas batidas do coração aflito. Envereda para o quarto devagar, obrigado a ter cuidado, o ritmo dos passos em desarmonia com o restante de si. Alcança a janela e contempla a noite que segue em branco, fazendo duvidar do que acaba de dizer o rádio e do que diria qualquer relógio. Então, de joelhos numa cadeira, põe-se a abrir a janela, impaciente, mas lentamente devido à sua força pequena, fazendo a vidraça escorregar macia nos caixilhos até que se trave, enquanto a noite começa a acender o quarto, com seu Mário Araújo 66 cias. Não faltaram escritores brasileiros contemporâneos quando os entrevistados foram indagados sobre o que estavam lendo. Michel Laub, Alberto Mussa e Milton Hatoum foram lembrados. Marcelo Cid é convictamente borgiano. Jorge Tavares é fã confesso de Dostoiévski. Na biblioteca de Felipe Fortuna abundam os clássicos. Pouco se conclui. Algo se constata. As novas gerações de escritores brasileiros continuam laborando na tessitura de renovadas tradições literárias. É um caminho pontilhado por doses grandes de talento e de dedicação. Temse uma produção plural e rica, que evidencia o seguinte: por mais oscilante que seja a relação, diplomacia e literatura têm tudo a ver – e continuam a alimentar-se amistosamente. Diante da nova produção, o Conselheiro Ayres possivelmente deixaria amainar o pessimismo e permitiria a seus olhos espertos e experientes o luxo do assombro. vento fresco, seus aromas e suas luzes de vaga-lumes. Falta um minuto. Sente um arrepio, que se explica certamente por sua afeição inata à natureza, por conter ele também ramos, orvalho, folhas e pedras. Começa a contar mais lento agora, bêbado dos cheiros do jardim, e sessenta morosos segundos depois, compreende que a meia-noite é a hora secreta em que lesmas e jasmins reúnem-se para exalar. As cores sombrias explodem, numa vibração não perceptível às criaturas diurnas. O silêncio de fora se sobrepõe ao silêncio de dentro, sendo aquele um silêncio mais fresco, molestado por ruídos sempre imprevisíveis, ao passo que o silêncio de dentro está estagnado, oprimido entre os rugidos do pai e os suspiros do bebê – somente a mãe aprendeu a arte da sublimação mesmo inconsciente. Invadido pelo silêncio, pelo olor e negror da noite, o quarto do menino não pertence mais à casa, foi anexado pelo mundo. A meia-noite é, na verdade, a hora da noite extrema. Mas a meia-noite só dura um segundo, ou um minuto, e não há que esperar pelo desenrolar do novelo da madrugada. Então, com o rosto acariciado pelo vento cordial do enigma decifrado, ele desce a vidraça e devolve o corpo à imobilidade sob as cobertas quentinhas. No seu mais íntimo, sabe que a noite é mesmo uma estátua, inalterada das oito às cinco. Dorme tranquilo. Muitos escritores têm certa repulsa à palavra “inspiração”, o que é compreensível uma vez que essa palavra poderia remeter a um alheamento do escritor do mundo real, do mundo do trabalho, como se ele simplesmente recebesse das musas todo o produto do seu trabalho, sem que fossem necessários maiores esforços para a realização da sua obra. De fato, nesse sentindo a resistência à ideia da inspiração se justifica, mas creio ser inegável a existência de alguma coisa dada de presente ao escritor, mesmo que essa etapa da criação artística seja também fruto de muito trabalho. Explico: uma boa ideia, daquelas capazes de fundar um romance ou de construir um enredo do início ao fim, pode surgir na mente do escritor a qualquer momento da forma mais rápida e banal que se possa imaginar. Claro que para que isso aconteça com certa frequência ajuda muito um certo treinamento do escritor, estar preparado para reconhecer uma boa ideia, estar atento ao mundo que o cerca, ler muito, ser capaz de intuir a maneira mais adequada de narrar a história que lhe cai nas mãos. Depois desse contato privilegiado com as musas, no entanto, tudo é trabalho, trabalho muito duro. No meu caso, não vejo como encurtar o caminho até o produto final sem muitas horas escrevendo e reescrevendo frases, lutando com a sintaxe, tentando decidir entre seis e meia dúzia, que, afinal, ainda que expressem o mesmo valor, têm sons diferentes, ritmos diferentes. Pensava eu que o exercício da escrita pelo menos encurtasse a distância entre a primeira e a última versões de uma frase. Mas vejo que não é assim. Haverá sempre dezenas de tentativas antes da frase definitiva - se que é se chegará isso, pois muitas vezes cada leitura da frase já publicada é uma nova tentação de lhe dar novos contornos. E é preciso uma enorme paciência para polir o pequeno fragmento que se tem à frente mesmo quando a arquitetura inteira já está na nossa cabeça e o desfecho que já escolhemos nos parece genial. Outra coisa boa é a disciplina, qualquer que seja ela, desde que os dias sejam mais ou menos iguais. No meu caso em particular, só consigo começar um texto quando já tenho uma boa ideia da sua estrutura, do contrário, me perderei fatalmente. É como ir enchendo de carne um esqueleto. Outra particularidade que resulta em muito trabalho é o fato de raramente encontrar um caminho e segui-lo até o fim, como se tudo o que passasse pela cabeça convergisse em benefício daquela ideia inicial. Em vez disso, tenho ideias as mais dispersas, díspares, e depois tenho que fazer um grande esforço para descobrir o que pertence a este texto e o que pertence a outro. Acaba sendo um processo de montagem de ideias, cenas e palavras que só funciona quando se aprende algo muito difícil: jogar no lixo a ideia que é ótima, mas não se encaixa, o parágrafo que ficou bem escrito, mas que não pertence ao texto que se está elaborando. 67 poesia e prosa Mas só um disparo acertou o rumo, o caminho mais perto: o sal, a febre, o respirar mais tenso, como fez Cesare Pavese em seu vórtice, e na mudez de um verso final, decassílabo. Um corpo, no entanto, desceu ao fundo – todo o corpo um modo, em pausa, de silêncio e água. E embora nem mesmo nadasse, tinha a visão de outros poemas que Hart Crane deixou de escrever. Longe do mar, os pés no chão e as duas mãos dentro da guerra, Georg Trakl detonou a bala violenta em pânico e pólvora, mas o branco dos olhos só lhe surgiu contra o branco pó que o enterrou durante o inverno. (Lá fora faz medo: mas dentro de casa, depois de seladas todas as portas e janelas e servidos o pão e o leite, a cabeça de Sylvia Plath mastiga o gás engole a luz da manhã mais simples do mundo). Consulto com pressa, em voltagem dupla, meu relógio que conta as pedras e os redemoinhos do rio que corre em Paul Celan. Tudo passou: anéis e dedos, flores e vasos, prazer e zéfiro, ferrolhos e portas. Tudo fechado: ninguém ouve o tiro permanente, não recomendável, de Vladimir Maiakovski em seu cubículo, a flor de abril como uma orelha de cão. Ninguém pendura a foto de Sergei Iessênin sem chão, em combustão, acima do espaço que ocupou a mão rasante e curta de Marina Tsvetaeva, mão de cera. 68 Trecho de “Prosa de papagaio”, de Gabriela Guimarães Gazzinelli. Gabriela Guimarães Gazzinelli As lembranças mais vivas que tenho da escrita do “Prosa” voltam aos meses que passamos num quarto umbroso de hotel em Bas-de-Gué-Gué, Libreville. Era bem simples: janelas sem vista, teto manchado, lâmpadas fracas. Não tinha escrivaninha. Escrevia numa bandeja de pés dobráveis que, na hora de dormir, guardava no vão entre a cama e o criado-mudo. Quando cansava da escrita, a única coisa em que podia repousar os olhos era a cortina de tecelagem local. Contra o verde das listras verticais, estampadas em cinza, preto e branco, sereias africanas enfileiravam-se do piso ao teto. Fitava aquelas sereias estilizadas (se é que eram sereias, ele suspeitava serem lagostas). Remeteriam a que histórias? O que simbolizariam assim dispostas, com seus pentes enfeitiçados, cortinando uma janela tão pequena? Que mistura de bens e males se entreteceria nas escamas de suas caudas arqueadas? Quarto, bandeja, sereias talvez se revelem numa leitura diametral do texto. O Peru revistado O discurso de brinde sobre o peru deu-me o que pensar. Tenho-me sentido deslocado: eu, um papagaio, pertencendo a uma das minorias da vizinhança, incompreendido pela mentalidade dominante, de seres autocêntricos, arbitrários e irascíveis. Vivo submerso nas trivialidades da vida humana, mundo ao qual não pertenço. Como é insólito! Minha identidade fragmentou-se. Sinto-me suspenso em um entre-lugar, já não pertenço mais a espaço algum, nem ao humano, nem ao papagaio. Não sei se sou eu ou um outro. Como dizem por aí, devo ser um outro!! (...) A experiência radical da alteridade que ora experimento provoca em mim grande empatia pelo peru que, como se mencionou no último capítulo, é sempre um outro, seja no Brasil, nos Estados Unidos, na Turquia ou na França, na Índia ou em Portugal. (...) O peru, apesar de sua inteligência, de sua alma nobre e sensível, é reduzido à materialidade mais bruta: o peru de natal. Recusam-lhe uma identidade própria que poderia, quiçá, salvá-lo do forno. (...) Por que só seriam merecedores de odes o rouxinol e o sabiá? Acaso são mais dignos que o nosso desprestigiado amigo? Que nos miremos no peru – que suporta com tanta circunspeção e gravidade este triste fado de signo da alteridade! Proponho ainda que alguma jovem poeta incógnita dedique ao peru um livro inteiro dos poemas mais belos e dignificantes, que há de se tornar o livro sagrado da literatura comparada, da filosofia de gênero e de minorias e dos movimentos emancipatórios das guerrilhas urbanas. Meus olhos se enchem de lágrimas, quando penso na grandeza dessa obra nasciturna. Fico realmente comovido. (...) O querido leitor purista terá de sofrer mais alguns medíocres versos meus, para incentivá-lo a compor esse grande elogio ao peru: Participem do tributo ao peru, que, coitado, anda tão jururu! Trecho de “Matias na cidade”, de Alexandre Vidal Porto O som agudo de uma brecada de carro interrompe tudo - qualquer coisa. Espera-se que tal agudeza seja seguida do barulho metálico, abafado, do choque entre dois carros ou entre um carro e um poste. O silvo do pneu negro cria a expectativa de tragédia. Sempre foi assim e continuará a ser assim enquanto durarem os carros sobre a face asfaltada da Terra. Ninguém espera, porém, que a brecada acabe no nada, num barulho oco. Não se pensa que o grito agudo do carro possa ser eternizado pelo grito ainda mais agudo de uma mãe, ou de uma avó, ou de qualquer mulher desesperada com o ataque de um automóvel contra o filho, o neto ou o marido. Matias pisou no freio do carro por reflexo, por medo de envolver-se no acidente, por prudência e covardia. Queria evitar qualquer contato com aquela gente e com aquele infortúnio. Quis acelerar e ir embora quando a mãe, chorando, com um filho ferido demais para chorar, pediu-lhe ajuda e caridade. Não disse nada, nem sim nem não, quando a mulher invadiu seu carro com o filho que um transeunte ajudou a recolher do asfalto. Matias não queria falar. Ouvia, no entanto, o gemido da criança, o choro da mãe e o nome de todos os santos. O que teria acontecido se a vida não tivesse seguido seu caminho natural de perseguição à morte? Matias tinha curiosidade em saber se a vida havia finalmente encontrado a morte no corpo daquela criança. Não ouvia mais gemidos. Não sabia se a morte havia estado ali no seu carro, às suas costas. Pensava nas manchas brilhantes de sangue sobre o couro do assento. Preocupavam-no as manchas de barro nos tapetes impolutos de seu carro negro.” Alexandre Vidal Porto Meu processo de produção literária tem de ser disciplinado porque me sobra pouco tempo livre para escrever. Normalmente escrevo à noite, depois do jantar, e durante os fins-de-semana. Produzo devagar. Releio e edito diversas vezes. Como escritor, quero que meu texto seja simples e claro e que possa ser compreendido pelo leitor sem grande dificuldade. Por isso, favoreço a ordem direta e as frases curtas. Não quero que o rebuscamento limite o entendimento do que tenho a dizer. Quando começo a escrever, já tenho delineados os personagens, mas não o desenvolvimento completo da trama. A história vai-se desvelando à medida que a escrevo e é condicionada, pelo menos parcialmente, pelo que seria a interação plausível entre os personagens e pelos processos existenciais em minha vida pessoal. Acabo, por exemplo, de iniciar um novo romance, para o qual tenho personagens e paisagem, mas cujo enredo completo ainda desconheço. Nada disso tem fim. O corpo persegue a si mesmo um pedido e atende a sombra. Nunca mais veloz pulsante ardente idílico o ritmo sem respiração. Pois eu nasci para sair: aqui me encontro muito breve o corpo agora amortalhado de quantas tentativas foram vãs. Sou vertical. Porém, deito e vou pronunciando adeus. Os meus amigos me olham morto. Ninguém me toca, nenhum cúmplice se aproxima e me abraça muito e pergunta por que, por que não assinei o manifesto. Eu me exibo sem saber como defender minha tese bruta com teorias sobre forcas, venenos, pistolas e saltos. Um desses amigos nem chora ao pressentir minha razão. Não quis pescar comigo, nunca viu desse modo os meus cabelos? Outro amigo não vai querer concordar comigo de novo e marcar encontro no dia seguinte, sob o sol e as frutas. E seu pensamento atravessa como um líquido no meu corpo, eu, cujas unhas crescem, cuja pele deve ser bem raspada ou defendida contra a rosa. 69 poesia e prosa Memórias de além-túmulo João Guilherme Fernandes Maranhão Sobre os curiosos fatos que sucederam após Juca Paranhos voltar da morte à vida, pena da risota empunhada e altivez na algibeira Mundo mundo vasto mundo se eu me chamasse Raimundo seria uma rima, não seria uma solução. Mundo mundo vasto mundo, mais vasto é meu coração. (Um desses poetas novos) †1912 - 2012* 70 Acordei sobressaltado. As suíças desgrenhadas e a fronte sulcada em reentrâncias de dúvida e tensão pouco faziam justiça ao semblante imponente de meu busto. Monumento que me causou deletéria impressão logo na entrada do edifício em que surgi. Meu corpo diáfano, imenso, espectral transdescendera. Não se sabe por que desígnios eternos, foi-me dada a oportunidade de deixar o futuro escatológico da humanidade e devassar, cá embaixo, o legado de nossa miséria. O edifício – o qual, vim a saber depois, trazia meu nome – recordava-me, vagamente, o panóptico de Bentham. Um jardim central ladeado de sóbrios aposentos, em cujas partes superiores dos umbrais de entrada, em letras garrafais, epítetos curiosos estavam encimados. Não me lembraram todas as pessoas aí designadas. Provavelmente, a nominata era ilustre. De qualquer forma, lugar de honra parece o destino ter a mim reservado. As paredes do piso inferior traziam inúmeras fotografias minhas. De início, assaltou-me a ideia de que, inadvertidamente, tornara-me pai de uma espécie de religião simoniana. A razão, porém, acudiu-me logo. A austeridade estética era a de um liceu. O leitor incrédulo, a princípio, faz juízo pouco lisonjeiro de meu relato. Não tenho culpa de estar alçado ao panteão dos heróis. O certo é que a eternidade tornou-me livre de circunspecção. Se em vida busquei somar a depuração das formas à vitalidade da ação, o fluir infindo que sorvi, no Meu corpo diáfano, imenso, espectral transcendera. Não se sabe por que desígnios eternos, foi-me dada a oportunidade de deixar o futuro escatológico da humanidade e devassar, cá embaixo, o legado de nossa miséria páramo atemporal, despojou-me de decoro, cautela e vontade. Ressurgi, vazado em carne e osso, sem a ânsia de um télos, sem qualquer inquietação mundana. A vibrátil dinâmica das coisas vivas, ferindo-me os sentidos, oblitera toda dúvida: o descanso celestial provoca abulia. Não a ponto de amordaçar a vaidade, sobreposta à surpresa. Consideram-me grande, não há que objetar. Escrutinei os corredores, as salas, o pátio central. Tive, subitamente, inconteste prova da carnalidade que me fora investida, por motivos então insondáveis: senti fome. Era manhã. Abriam-se, então, as portas do Instituto Rio Branco. Os estudantes adentravam o recinto com certo ar que me consternava. Perdia, por completo, a serenidade com que o infinito me galardoara. Por indubitável, não tinham as feições que exige o ofício diplomático: nem todos eram altos, e mesmo a estes faltava certa distinção. Despertou-me a atenção a presença de funcionários negros e amarelos. Vestimentas coloridas feriam a monotonia do tom cinza, infortúnio para esta narrativa, ressentida das metáforas monocromáticas que ficaram ausentes. Ao divisar mulheres com pastas de trabalho em mão, senti o sangue verter sobejamente para a face. Recobrada a fleuma, por absoluto aborrecimento de quem não alcançará da existência mais que este derradeiro vislumbre da realidade, pude entregarme à tarefa de perscrutar o estranho entorno. Sem saber se minha humanidade reencarnada poderia fazer alarde à vista dos pupilos, ingressei, com cautela, em uma das salas do andar superior. As criaturas que lá estavam tinham os olhares perdidos no espaço. O mundo pesava naquele recinto. Assim parados, alguns debruçados sobre estranhos cartapácios luminosos, pareciam graves e tolos. Vistos da perspectiva celestial, eram vítimas de uma faina inútil. Ocorre que minha mesquinhez de homem apegara-se a mim após minha descida: ter o amor à nomeada satisfeito em um desvão do universo é o máximo deleite. Não, Eclesiastes não estava certo, e aqueles seres alienados tinham alguma razão em consumir-se para serem grandes. 71 poesia e prosa Logo percebi que a nova fórmula de treinamento dos diplomatas brasílicos era perfeita: socialização, controle e emulação. Tudo concorrendo, graciosamente, para trazer os esquizoides ao grau mínimo de sociabilidade, os impetuosos à comedida pusilanimidade e os radicais-liberais ao amor da tradição. Certo, não me pus de acordo com tudo que ali se passava. Estou com Rodó: deve-se evitar o ódio ao extraordinário e a exaltação do medíocre. Faltava senso de nobreza naquele meio. Aliás, provas há bastantes de que o modelo preparatório não é assim tão eficaz. O que dizer dos megalomaníacos, dos iluministas extemporâneos, dos doidivanas que pululam no meio diplomático? Algumas pessoas são incorrigíveis. Algum tempo foi necessário para notarem minha presença no instituto. Compreendi, perfeitamente, a razão. No início, eu era muito denso, e aqueles seres, demasiado etéreos. Então, tal qual um potente paquete atravessa a névoa que encobre as proximidades da enseada, podia eu transpassar aquelas frágeis criaturas. Após terem alcançado o mesmo nível de consistência que tinha, suas inteligências atingiram perfeita intelecção. Depois de ter sido notado por todos, passei por um período de terrível lembrança. Vou poupar o leitor dos detalhes grotescos. Sumario o ocorrido de forma rápida e indolor. Em que pese minha boa fé e compromisso com a verdade, advirto que relatos lapidares costumam soar falsos, como explicações mal cosidas. Se assim é, não é por minha culpa. A natureza da linguagem limita minhas nobres intenções. Se o leitor compreender, bem. Se não, estou certo de que se trata de um chato, amante de discursos longos. A esses sujeitos, não os quero como amigos. 72 Os estudantes adentravam o recinto com certo ar que me consternava. As criaturas que lá estavam tinham os olhares perdidos no espaço. Assim parados, alguns debruçados sobre estranhos cartapácios luminosos, pareciam graves e tolos Antes da historieta, tenho que relatar um sonho que tive. Sei que não parece oportuno interromper assim a sequência de uma narrativa, mas certas lembranças aprumam-se cá encima e deitam estacas impertinentes. Talvez seja a culpa pelos fatos oníricos. A passagem da morte para a vida foi como despertar de um sono irrequieto. Em minha alucinação noturna, montava um javali que trazia uma medalhinha de Nossa Senhora no focinho. A medalha era de ouro e reluzia com tal força ígnea que me obrigava a permanecer de olhos fechados. Estava eu em vestes talares de branco alvíssimo, com meus parcos cabelos esvoaçantes, em tresloucada correria no dorso do javardo, em meio ao Palácio do Itamaraty. Meu inconsciente trazia à superfície essa imagética duplamente sacrílega, como a anunciar os fatos que açoitariam minha dignidade. Passei longa estadia em um hospital de alienados. Acreditavam-me insano, por óbvio. Acabei conhecendo um graduado diplomata, que, por alguma razão, resolveu tomar minha história por verdadeira. Visitava-me amiúde e tinha o hábito de vociferar, com irritante intimidade: “O senhor estava certo, Paranhos! O realismo é a única forma de encarar o Império do Norte!”. Não dizia exatamente com essas palavras, mas o artificial e burlesco do exemplo cabem-lhe à justa. Suportava a maçada porque aquele homem de olhar alongado com lumes de desvario era minha única salvação. Com seu auxílio, comprovei quem eu era. Eu mesmo redigi os argumentos para a ação de reconhecimento de identidade post mortem. Também obtive ajuda de um senador -digno do epíteto “nosso Talleyrand brasileiro”. Melhor não citar nomes. O leitor compreenderá. No Palácio do Itamaraty, um triste vislumbre do que foi o Palácio no Rio de Janeiro. O ambiente da nova capital não despertava paixões – muito funcional, para oferecer algum atrativo estético; demasiado monótono, para que a vida tivesse lugar. Malgrado essa visão leteia, algumas coisas jamais sofrem mutação. O séquito de bajuladores, já amaneirados pelo tirocínio laudatório; o murmúrio constante daqueles que planejam suas vidas como quem calcula a envergadura da Terra; a luta por diminutos espaços de poder; as veleidades dos embaixadores; a afetação dos metidos a intelectuais; as tarefas rotineiras, sempre a embaciar a imagem gloriosa do diplomata; a ostentação de títulos como se o nome das coisas mudasse a Estava eu em vestes talares de branco alvíssimo, com meus parcos cabelos esvoaçantes, em tresloucada correria no dorso do javardo, em meio ao Palácio do Itamaraty essência delas. Tudo evocava reminiscências de uma profissão amada. Evidente, subtraídos esses pequenos aborrecimentos. Dos aborrecimentos livrava-me minha bela assistente. Sempre que se inclinava, o olhar ia certeiro pousar no bico de seus sapatos. Isso, no início. Olhos furtivos. Não queria açular as paixões do baixo ventre. Com o tempo... Bem, com o tempo e a experiência, a gente aprende que é melhor respeitar a pudicícia que as pessoas trazem na superfície. Voltemos aos fatos relevantes. Fui agraciado com uma repartição especial, diretamente ligada ao Gabinete do Ministro. Minha presença era resultado da imposição legal; não da credulidade de meus colegas. Claro, também contei com o apoio do Ministro de Estado, homem inventivo e capaz de transcender a obviedade da superfície e alcançar os frutos da perspicácia. Com raras exceções, criam-me um impostor ou um lunático. Ninguém ousaria dizê-lo diante do Chanceler. Sorriam com dentes fartos, afetavam deferência a minha figura, davam leves pancadinhas no braço do Ministro e encetavam uma narrativa monótona sobre a definição das fronteiras na República. Quando estava longe do Ministro, um meneio com a cabeça já era o bastante. Se ao menos houvesse alguma genialidade naquelas figuras desprezíveis, eu aguentaria de bom grado a falta de cortesia. Aquilo não me surpreendia, irritava-me. Nada que se passava ali poderia causar sobressalto. No exercício da função diplomática, o mundo começa a ficar pequeno com o tempo. O problema é que tudo fica mais profundo. E era na profundidade da Casa que eu me perdia. A convivência sempre intensa, voraz, absoluta. Um passo e ali estava seu homólogo nas agruras, um espelho de sua própria mesquinhez e soberba. Tudo permitia a cópula obscena desses dois elementos: o imaginário alteado aos píncaros da glória, onde a palavra 73 poesia e prosa é espada para a conquista da paz e da prosperidade; a realidade amesquinhada em memorandos, instruções e subsídios. Quod non est in actis non est in mundo ! Talvez o mundo lá fora estivesse em expansão. Antes, orbitávamos em um universo hemisférico com poucas ligações vicinais, uma principal com o Norte e uma grande ponte com o Velho Mundo; agora, abraçamos o globo com imensas autoestradas e aeroplanos. Alguns consideram isso progresso. Eu lhes pergunto: quem fará a manutenção de tantas vias? Certo, o leitor dirá que o que vai aí escrito é coisa de gente avançada nos anos, reacionária. De fato, estou tão alquebrado quanto em minha primeira vida. De qualquer modo, não há quem me leve a palma em questões temporais. Estou acima de considerações assim diminutas. Ao menos, foi o que compreendi dos discursos em minha homenagem no Palácio do Itamaraty. Verdadeiras preleções. Um cartaz imenso com minha imagem ao fundo, um bigode imenso, um embaixador com retórica de cura de almas, com aquelas pausas cadenciadas, prédica monocórdica só interrompida pelo altear de voz no fim das frases, vogais alongadas. O conjunto dos fiéis com um olhar fixo e rente de que não se pode extrair nenhum estado de espírito – cacoete de diplomatas para dissimular o aborrecimento. Clima modorrento. Observava tudo do alto, da Sala dos Tratados. Assistir às próprias exéquias como se fora uma festa não apraz nem enobrece. Aliás, prefiro as palavras de meus contemporâneos a meu respeito. Descobri um belíssimo texto de Juansilvano Godoi publicado na Revista Americana em 1913, digno do que fiz por meu país. Diz esse afável amigo no que seria um belo obituário: “La estructura de su cabeza despoblada de cabellos es monumental, redondeada, vasta, del orden braquicéfalo. El hueso coronal, espacioso, ancho, levantado, formando con los parietales y temporales una bóveda craniana de regularidad irreprochable, constituye 74 Dos aborrecimentos livravame minha bela assistente. Sempre que se inclinava, o olhar ia certeiro pousar no bico de seus sapatos una obra de arte acabada.”. Essas bondosas palavras consolaram-me. Sentia-me, então, desamparado, relegado ao ostracismo. Se tamanha dignidade flui do meu escalpo, imagine o leitor o que poderia fazer com minhas mãos estendidas sobre aquela turba. Contive meu impulso medonho. Não iria abusar de meus poderes. Se Juansilvano tivesse voltado a esta existência ingrata, talvez não fosse tão elogioso. Já se ia longe no tempo sua estadia no Rio de Janeiro como plenipotenciário paraguaio. Talvez, as rusgas nas relações entre nossas pátrias pudessem afetar nossa amizade. A ele não poderia ser mais grato: retificou palavras ofensivas de certo embaixador sobre minha pessoa. Tal biltre foi autor de acinte que jamais poderia conceber: “Este omnipotente canciller no tenía ningún orden en su casa, ni horas para comer ni para dormir. Acribillado de deudas, no pagaba ninguna. Un camarero dirigía su casa. Mal vestido, sin placeres, sin pasiones, ávido solamente de poder, despreciaba los honores y no quería ser más que William Pitt.”. Se dívidas houve, são as de toda uma nação para comigo; se quis ser alguém nesta vida, foi eu mesmo, mas fundido com a pátria, despersonalizado, entregue ao sacrifício dos heróis, dos santos! Desculpe-me o leitor essa verve de tribuno. Não anelo provocar o tédio alheio. Daqui para frente, excluamos a retórica e as citações. Já chego ao meu triste ocaso. Sem rodeios. Não inventarei um Deus ex machina. Não preciso emular Eurípides. Afinal, o que conto é uma tragédia pessoal. Sei que o leitor não me crê totalmente e faz muito bem nisso. Eu mesmo não acreditaria neste relato se já não tivesse subjugado a morte Recordações de Juansilvano e tantos outros amigos queridos, eu as tinha em meu gabinete de trabalho. A interrupção veio inoportuna e ingrata, para provar que o mundo cá dentro continuava estreito e fundo. Mudara o Chanceler, mudaram-se os planos. Por decisão irrecorrível fui posto à disposição do Departamento de Pessoal. O juízo veio de cima, da cúpula demiúrgica que me dera existência, a única existência que conhecera. Caminhava para o limbus patrum. Logo eu, que criara aquele mundo. A notícia fatídica chegava em hora não tão desagradável. Avizinhava-se o tríduo de pândega e despudores que antecede a quaresma. Nunca fui dado a esse hábito de passar da insidiosa obscenidade para as preces tímidas e áridas da QuartaFeira de Cinzas. Não quero dizer que não seja amigo dos pequenos excessos da lascívia a que todos os homens sucumbem. A verdade é que não deitava tanta importância nessas coisas, nem no sagrado, nem no profano. Costumava ficar em casa, para colocar a leitura em dia. E uma dorzinha aguda no peito sempre a me incomodar, o rosto inchado, uma meningite renitente... Não, leitor lúgubre e maldoso! Não tive fim semelhante ao anterior. Sobrevivi àquele carnaval. Pena que não pude voltar à minha digna prebenda. Voltei para lugar menos honroso, desses que não ousariam mencionar meus biógrafos. Faço votos de que o amor à hagiografia não esmoreça depois do que segue revelado. Sei que o leitor não me crê totalmente e faz muito bem nisso. Eu mesmo não acreditaria neste relato se já não tivesse subjugado a morte. Mais uma vez, torno lapidar os dissabores que tive. Se em vida, não se os pode encurtar, a escrita se presta complacente a esse fim. Há que se considerar, ademais, que não busco a catarse do leitor. Minha tragédia não poderá invocar arquétipos de nenhuma espécie. Uma confabulação foi posta em marcha por meus inimigos. Um longo processo de interdição, notas picarescas na imprensa sobre o ocorrido, diatribes deploráveis no Ministério, proventos suspensos. E aqui estou. De volta a este quarto branco, divisando pessoas igualmente vestidas de branco. Um homem de jaleco reinicia seu discurso em tom condescendente e enervante. Com certo ar de receio, tenta convencer-me de que sofro de uma estranha combinação de mitomania e megalomania. Seu rosto me incomoda. A fisionomia evoca o Oliveira Lima: cara rechonchuda, um bigode antiquado ocultando os lábios, olhar de criança triste. Não bastasse essa agravante, ele tenta usar argumentos lógicos recorrendo à história. Suporto até o limite. Então, nos atracamos violentamente. Ninguém terá melhor conhecimento de história do que eu! 75 poesia e prosa O fim da besta hora Pedro Henrique Gomides 76 O tédio e a consciência de que a existência é um redemoinho lotérico levaram-me a estudar o georgiano. A solidão e o desespero levaram-me a Medea Korsantia. Não foi a primeira língua hermética sobre a qual me debrucei. Com paixão púbere, estudei o letão e o lituano. Perguntaram-me sobre a utilidade dos meus esforços. Bocejava, evocava a beleza inequívoca das mulheres bálticas. Terminada a escola, dominava os mais relevantes idiomas indo-europeus; começava a ter fluência no turco, ramo obsedante da árvore altaica; ingressava, com curiosidade maníaca, no ramo fino-úgrico das línguas urálicas. Diziam que eu era prodigioso. Meus pais instavam-me a estudar o Direito. A exortação materna insuflou o medo necessário à aquiescência. Bacharelei-me, tolerei a aspereza do positivismo jurídico. Preferi, quase sempre, o pessimismo filosófico dos grandes céticos à utopia ordenadora dos legisladores. Ao receber o diploma, já havia traduzido Schopenhauer e Cioran para idiomas que julguei adequados a suas reflexões erosivas. O alemão foi vertido para o turco; o francês, para o húngaro. Lanzio Amenábar, chefe tirânico da editora Atma, ao ver minhas traduções, julgou-as inúteis. Astuto, não ignorou meu talento: fui contratado. A intensidade do desgosto familiar equiparou-se à do meu deleite intelectual. Engavetei meu bacharelado com orgulho febril. Encetei projetos heterodoxos, que, contrariamente às previsões maledicentes, triunfavam. Traduzi a História das religiões, de Chantepie de la Saussaye, para o estoniano e para o romeno. Toda a obra de Jorge de Lima ganhou versões em línguas eslavas: esloveno, servocroata, búlgaro, macedônio (a tradução para o montenegrino, consubstanciada em edição primorosa, com ilustrações de Espinoza Pekovich, foi um arrebatador sucesso editorial). Os romances invernais de Artêmis Dodeskaden, Com paixão púbere, estudei o letão e o lituano. Perguntaram-me sobre a utilidade dos meus esforços. Bocejava, evocava a beleza inequívoca das mulheres bálticas lavrados em um português considerado indigesto, tornaram-se mais palatáveis nas versões sueca, dinamarquesa e norueguesa. Intuí que os alexandrinos labirínticos de Fédor Sebastião Rivadávia, tornados surpreendentemente populares, encontrariam expressão elegante nas aglutinações harmônicas do finlandês. Lanzio Amenábar negava-se a reconhecer, sem restrições, a fertilidade das minhas sugestões. Temia que o avanço de meu estranho tirocínio editorial, somado a meus conhecimentos linguísticos, fosse destroná-lo. Durante os quase seis meses que passei em Kazan, incumbido de trasladar todas as Mil e uma noites para o tártaro – irrecusável e delirante proposta da República do Tartaristão –, voltei para casa duas vezes. Enterrei meu pai; depois, minha mãe. Ao fim da estada em Kazan, Searle Minnikhanov, dono da editora que me empregava, levou-me a Moscou. Vivi excessos inéditos: embriaguei-me numa dacha às margens da cidade; tentei – em vão – seduzir a curadora de uma exposição de arquitetos construtivistas. No último dia de viagem, em jantar na embaixada da Geórgia, Minnikhanov, fascinado com a obra de Hamlet Paliashvili e de Dmitri Belluci Taktakishvili, poetas decadentes – ambos estrábicos – idolatrados no Tartaristão, 77 poesia e prosa zir Cioran. Estudei o georgiano afincadamente. apresentou-me a Evgeni Kakhidze, homem de Explorei a famosa New Grammar de Irving Crowolhos angulosos, editor renomado em Tbilisi. ley; a maior parte dos Vergleichende grammatisDisse-me que conhecia minhas traduções de che Grundlagen der südkaukasischen Sprachen, Cioran; são “robustas”, disse. Lamentava não de Hartmann Löwenthal; toda a Kratkaia Gruhaver traduções da obra do cético romeno zinskaia Grammatika, de Marina Dolenga. para sua língua natal. Quer dar início à tarefa? Em Tbilisi, pouco após terminar a tradução Pouco depois, faleceu Lanzio Amenábar. Rede Précis de Décomposition, conheci Medea cebi boa parte de seu espólio; apontou-me, em Korsantia. Vi-a nos vestíbulos que ladeavam a breves parágrafos testamentários, seu sucessor. sala de Kakhidze; gestos langorosos, o nariz Em Kazan, recebi prêmios eminentes. Minenorme e delicado. Tinha em mãos (mãos brannikhanov propôs outros projetos: a tradução cas, dedos vibrantes) os originais de seu primeidos vinte tomos da Dialética da Pornografia ro romance, A besta hora e os frades perfunctóOcidental, de Leão Meledendri, e da Vindicarios. Kakhidze havia elogiado a narrativa: trama ção do Erotismo Satânico, de Lukas Madeiro policialesca, situada em uma Tbilisi futurista, Håfstrom; uma edição luxuosa do Rubaiyat, protagonizada por um arquiteto que pensa ser, de Omar Khayyam, com ilustrações “viscerais” em intermitentes delírios noturnos, a versão redo desenhista Dominguez Vautré. A ênfase diviva de um antigo poeta armênio. em temas lúbricos foi, provavelmente, o motivo da minha repulsa (os desenhos obscenos de Vautré evocaram a boeEm mim, sob a capa do polímata, férreo mia de Kazan, a volúpia poliglota, erodia o sentido das coisas. mongólica das moças que vi nas pistas labiríntiA disciplina pareceu-me uma virtude cas do Ermitage Club). atroz; a solidão, uma perturbação do Ao voltar, assumi a chefia da editora Atma. espírito. Sabia, sempre soube: somos um Seguiram-se trabalhos; estremecimento frívolo alheio à magnitude dos meus esforços, enriqueci. Às vezes, lembrava-me de Kazan, dos desenhos Não tardaram a editar o livro. Tampouco de Dominguez Vautré, das estranhas fórmulas tardaram as reedições: o protagonista, Baraglutinadas do tártaro. Em mim, sob a capa bieri Mistral, arquiteto transmudado em detedo polímata, férreo poliglota, erodia o sentitive, tornou-se herói literário. Encarnou-o, no do das coisas. A disciplina pareceu-me uma cinema, Vlado Kumaritashvili, outrora wrestler virtude atroz; a solidão, uma perturbação do cultuado no país. Kakhidze, lançado o filme, espírito. Sabia, sempre soube: somos um esvoltou-se às traduções, demandadas no Cáutremecimento frívolo. caso, na Rússia, na Europa. Um veio dourado!, Minhas ponderações foram breves. Dispus seus olhos, argênteos, refletiam vindouras tudo com celeridade. A editora foi passada às glórias editoriais. Propôs, inicialmente, duas mãos do especulador e financista Modesto Léversões: para o alemão e para o português. fèbvre. Convenci Evgeni Kakhidze: quero tradu- 78 Lembrei-o de minha regra: não traduzo para o português. É um pedido pessoal de Medea Korsantia, asseverou. Assenti. No dia seguinte, encontramo-nos, autora e tradutor. Senti o quê? Um obscurecimento no ventre, que vencia as diligências do intelecto. Era o prelúdio do amor? A resposta manteve-se suspensa. As línguas e suas literaturas eram minha existência, o desvelar do mundo que elas, condões preclaros, tornavam possível. O amor, uma abstração em laudas, uma intangibilidade prazerosa, desfrutada em tercetos turcos, em alexandrinos armênios, em decassílabos húngaros. Medea Korsantia era um fulgor real. Primeiramente, senti-a nas páginas d’A besta hora. Procrastinei a tradução para o português; comecei os trabalhos em alemão. Vivi horas pânicas, notívago, lutando contra as páginas iniciais, que não se curvavam ao cálculo da sintaxe germânica. Não posso traduzir você – escrevi a Medea. Fizemos um passeio nas vinícolas de Tiflis. Uvas imemoriais em cálices de cerâmica; o torpor do Cáucaso em estranhos sucos fermentados. Depois, em seu apartamento, conversamos sobre Barbieri Mistral. “Sou eu, e todos os que, avessos ao agora, se prendem ao límbico espaço do passado e do futuro”. E os frades perfunctórios, a seita que persegue Mistral? “O mal, evidentemente, e, ao mesmo tempo, a prova de que o delírio nem sempre se opõe à razão; não delirasse, Mistral não saberia existirem os frades infames”. Na cama, entendi o corpo de Medea: os desvãos entre as pernas e as nádegas; as concavidades olorosas das axilas. A boca era elíptica, vibrátil à luz morna. Suspendi a tradução para o alemão; verti as primeiras frases para o português: “Barbieri Mistral, arquiteto e celibatário, adquiriu a obra completa do poeta Lori Tumanyan. Ao ler o último poema, publicado em 1877, grifou todos os seus versos. Pensou que eram pungentes e aterrorizantes. Desde então, começou a crer que era, não sabia por que meios, Lori Tumanyan”. Liberta, em português conciso, fluiu a prosa d’A besta hora. Concluí os trabalhos em um ano, ao lado de Medea Korsantia. Viajamos. Conheci mares, terras, céus descortinados. O que eu havia sido? Fixei a solidão despercebida, a austeridade da autoemulação infindável; lembrei-me de uma passagem do romance de Medea: desespero é o horizonte morto, que não oferece nada por que esperar. 79 peosia poesia e prosa ÍMPETO DE MOSCA joÃO HENRIQUE BAYÃO “Könnten wir uns aber mit der Mücke verständigen, so würden wir vernehmen, daß auch sie mit diesem Pathos durch die Luft schwimmt und in sich das fliegende Zentrum dieser Welt fühlt.”* *“Se pudéssemos entender a mosca, perceberíamos que ela navega no ar animada por essa mesma paixão e, em seu voo, sente, em si, o centro do mundo”. Friedrich Nietzsche Ímpeto de mosca num mergulho incerto, não intencionado Na descrença decerto numa crença fosca No intuito vago ainda ludibriado A palavra errada sem momento algum Na ausência plena de qualquer presença, No sentido pleno de nobre carência, Confusão extrema, nasce o dilema No mergulho incerto, na palavra incerta, No exemplo incerto em minha cabeça, De uma mosca inútil em sua desavença, Com o sentido oblíquo de sua destreza Na queda em vazio de suas lembranças, Fuga mal intencionada de sua certeza O mergulho incerto para as profundezas De um vazio pleno que a complemente No zumbido eterno que a faz descrente. 80 Anunciação JoÃO HENRIQUE BAYÃO Do céu acima veio acertar-me o olho De modo que, no primeiro instante Tive de fechá-lo no impulso Não doeu, mero instante de cegueira O estalo fora quase um afago Inesperado, é claro - Eu não contava olhar para cima Esclareço – não tenho crenças Não acredito, portanto, no acaso Não foi preciso aceitar Veio-me de graça com inestimável preço Não foi preciso agradecer Tampouco houvera indulgência Somente um ocorrido molhado Num lampejo em que meus olhos Imediatamente cerraram-se e reabriram Nada mais que num lampejo promissor Pois ao abrir os olhos O mundo antes turvo acre, seco, surdo quis encontrar-me de acaso e no entanto, hoje penso, não fora nada além de uma gota A primeira gota A anunciação da tempestade 100 palavras na aritmétrica de um impressionista ARTUR ANDRADE DA SILVA MACHADO Perfeito seria escrever rascunho, De punho, sem recursos filosóficos. Óbvio que exemplos mil ficam de fora... É hora, serei direto e conciso. Adjetivos? Corto, assim como artigos. Arbitro entre pensamentos genéricos. Aéreo, permito-me a reflexão? Não. Talvez daqui vinte ou trinta anos, Quando terei achado enganos em Cânones de qualquer literatura... Murmúrio... São colegas que acabaram. Batem-se por poucos goles de expresso. Confesso que esta aqui não ficou mal. Qual? Padece de justificativa? Priva-se, como toda outra obviedade Que invade minhas métricas palavras. Lavro, torço, aprimoro, alteio, limo. Estimo obter parágrafos poéticos. Perplexo, reviso minhas respostas, Que reprovo, reavalio, entrego. 81 ensaio fotográfico Veículo da expedição, com equipagem completa, em uma calma estrada de Tamil Nadu On the road Texto e fotos de Thiago Carvalho de Medeiros O sul da Índia no olhar de um ciclista 82 Entre setembro de 2008 e janeiro de 2009, três amigos pedalaram por mais de 3.000 km através dos Estados indianos de Tamil Nadu, Kerala, Karnataka e Goa. Esse espaço, historicamente disputado pelas dinastias drávidas, cujos feitos de guerra mesclam história e mitologia e cujo expansionismo influenciou a cultura de lugares tão distantes como o sudeste asiático, foi, em séculos mais recentes, palco dos colonialismos português, francês e britânico, que deixaram suas marcas na arquitetura e nos costumes de lugares como Pondicherry, Cochin e Calicute. Os elefantes de trabalho ainda são relativamente comuns em Kerala. Esses “tratores” naturais valem muito, e seus proprietários, que os alugam, são homens ricos Durante a possessão, Shiva fala aos seus fiéis em sânscrito clássico 83 ensaio fotográfico De economia majoritariamente agrária, o Sul da Índia destaca-se por melhores taxas de alfabetização, expectativa de vida e fertilidade que os Estados do norte. A paisagem alterna cidades vibrantes, plácidos terrenos de rizicultura artesanal, reservas ecológicas devotadas à proteção de tigres, palácios e fortalezas de dinastias há muito extintas, suntuosas residências de marajás, extensas redes de canais naturais, margeados por campos de arroz (as “backwaters” de Kerala), templos e locais de peregrinação do islã, do hinduísmo e do cristianismo, belas praias, cidades de arquitetura colonial e muito mais. Entre as manifestações culturais mais interessantes, destacam-se as formas tradicionais de vida do povo da região. A indumentária é de especial interesse: saris (longos pedaços de tecidos finos enrolados em forma de “vestidos”) para as mulheres, e dhotis (longos pedaços de tecidos grossos enrolados em forma de “saias”) para os homens. Os festivais religiosos, como o Divali, as cerimônias de possessão de brâmanes pelo espírito de Shiva, e o “ski” de búfalo nos campos alagados de arroz (“kambla”) são manifestações bastante pitorescas. As imagens aqui reunidas foram feitas durante a “road trip”, seguindo as principais rodovias que margeiam as costas, desde Chenai (a antiga Madras, no estado de Tâmil Nadu) até Goa. Trabalhadores preparam o templo de Tanjavore para seu aniversário de 1.000 anos 84 O ashram de Vivekanda foi construído em uma ilha próxima da costa de Kanyakumari (ou Cabo Komorin), cidade que abriga um velho templo dedicado à virgem Sita. A cidade, que se localiza no extremo sul do subcontinente indiano, é ponto de encontro das águas do Oceano Índico, da Baía de Bengala e do Mar da Arábia, e é local de peregrinação Colheita manual do arroz, feita exclusivamente por mulheres, às margens de uma estrada em Tamil Fiéis acampam perto do templo em festival religioso na cidade sagrada de Hampi Hora do recreio em uma escola rural em Tamil Nadu Um “mercado” de rua, em Nagapatinam 85 artigos e ensaios artigos e ensaios 86 Memória de um encontro Norte-Sul Artur Andrade da Silva Machado O jantar que reuniu o Instituto Rio Branco e o Council on Foreign Relations 87 artigos e ensaios Brasília, 28 de fevereiro de 2012: A turma toda estava empolgada com aquele segundo encontro com Julia Sweig. A impressão geral era que a Julia representava os Estados Unidos que, de repente, se interessavam pelo Brasil. O relatório sobre o Brasil que ela publicara no âmbito do Council on Foreign Relations (CFR) retratava nosso País com excepcional otimismo. Era o Brasil potência emergente, que fora capa de edição da The Economist; o Brasil dos BRICS, do G20 Financeiro; o Brasil que superava a Crise Econômica Mundial e a desigualdade social doméstica e que ganhava admiração em toda parte, inclusive no gigante do norte. Os Estados Unidos passavam a buscar esse novo Brasil com curiosidade também renovada. E a Julia era como um símbolo desse processo. Na primeira vez em que ela fora conversar com os alunos do Instituto Rio Branco, houve forte empatia mútua. Ao invés de ministrar uma palestra, ela decidiu estabelecer uma “conversa franca” com o auditório Emb. João Augusto de Araújo Castro e, quando um aluno da plateia fazia uma pergunta, ela respondia com outra. Queria ouvir a opinião dos alunos, instigar debates e lançar provocações. E é claro que os alunos corresponderam. Todos os tópicos mais espinhosos no relacionamento entre Brasil e EUA foram abordados. Os jovens diplomatas revelaram frustração com o escasso comprometimento estadunidense nos regimes multilaterais do clima e do comércio. Perguntaram sobre o Caso do Algodão, 88 JUCA: Por que seu interesse pelo Brasil? JULIA: Sempre tive interesse pela América Latina. O Brasil é a potência mais relevante da América do Sul e ganhou relevância global. Então entender o Brasil é imporante para qualquer acadêmico ou think-tank interessado em política externa dos EUA. JUCA: Os países sul-americanos têm buscado uma integração de tipo político, em paralelo à integração comercial idealizada no passado. Como deve ser avaliada essa mudança? JULIA: A palavra integração é bastante carregada: significa muita coisa para muita gente. Algumas das instituições criadas para promover a integração econômica claramente falharam, desapareceram ou estão desaparecendo. Mas eu acho que a grande história por trás da integração econômica na América Latina é a institucionalização da democracia, o que significa mais e mais pessoas com direito a participar do processo politico – a votar, a ter uma voz – e a participar do mercado. JUCA: Essa inclusão social tem sido um dos principais objetivos do Brasil e alguns dos nossos programas, como o Fome Zero, foram exportados para outros países. Qual seria o papel do Brasil na superação das causas e consequências da pobreza na América Latina? JULIA: Os programas de combate à desigualdade que estão sendo desenvolvidos não apenas no Brasil, mas também em outros países, como o México e Colômbia, baseiam-se na noção de que é preciso combater a pobreza no curto e no longo prazo. O maior desafio do Brasil ao enfrentar as causas estruturais da desigualdade é o de democratizar o acesso à educação e à inovação. É por isso que essa nova classe média brasileira tem de virar não apenas uma classe consumidora, mas também produtora. É aí que você consegue combater as causas da desigualdade. Vocês conseguiram grande sucesso até agora. Eu acredito que o Brasil terá sucesso nesse projeto e isso será maravilhoso para a América Latina. Mas também acho que não podemos assumir que o Brasil tem a única receita certa. Também podemos ver sucesso em outros lugares que não refletem exatamente o modo brasileiro. * Julia Sweig é a diretora da Iniciativa Brasil Global no CFR. ** Entrevistadores: Bruno Rezende e Danilo Bandeira. JUCA: O senhor avalia que as sanções contra o Irã têm funcionado? HAASS: Depende de qual é a sua definição de “funcionar”. Se você entende que isso significa que elas tiveram um impacto no Irã, sim, elas funcionaram, se a sua definição é “elas mudaram o comportamento deles”, então não. Eu escrevi muitos livros sobre sanções, as sanções por si mesmas não podem conseguir tudo. A questão real é qual é o preço que o Irã está disposto a pagar por seu programa nuclear. Eles estão preparados para pagar um enorme preço econômico, ser isolados diplomaticamente, ser atacados militarmente? JUCA: O senhor não concorda que o fato de as conversas com o P-5 não terem funcionado até então justifica a entrada de novos atores no processo negociador? HAASS: Não vejo nenhuma razão especial para isso. O que falta não é novos atores, é a vontade do Irã de aceitar suas obrigações internacionais. Não é uma questão de mediadores, de atores diplomáticos, o Irã sabe o que deve fazer: que deve cooperar com a AIEA, dar garantias à comunidade internacional sobre suas atividades, mas se recusa a fazer isso. Não é uma questão de o Brasil, Argentina, índia, ou outro país para mediar. O que falta é um país cumprir suas obrigações internacionais. Ter novos atores mediando não vai mudar a situação para melhor. JUCA: O mesmo se aplica ao conflito entre Israel e Palestina? HAASS: Esse conflito tem ocorrido há décadas. Também não precisa de mais mediadores. Se os brasileiros acham que têm alguma ideia original para so- as Bases na Colômbia, os Assentamentos em Cisjordânia e Gaza. Indagaram sobre as perspectivas de democratização das instituções multilaterais financeiro-monetárias e políticas. Quiseram saber sobre o embargo a Cuba e as sanções contra o Irã... Falando sobre a Declaração de Teerã e a Resolução 1973 do CSNU sobre a Líbia, um aluno chegou a comparar a diferença de atitude de Brasil e EUA na solução multilateral de crises com a parceria entre “good cop and bad cop”, tão recorrente no mundo de Hollywood. A interação foi longa e lucionar o problema, eu os convidaria a expô-la. Eu ficaria surpreso se houvesse ideias originais que contribuíssem para uma solução entre as partes. Acho que o Brasil deveria se preocupar mais com assuntos nos quais o país tem um papel evidente a exercer: negociações internacionais de comércio, energia, clima, agricultura, regionais... esses assuntos fazem sentido. Eu não acho que o Brasil tenha uma posição muito particular em relação ao Irã e a Israel. JUCA: O senhor não acha que há um paradoxo em defender um assento permanente para o Brasil no CSNU e, ao mesmo tempo, ver com reservas uma atuação mais assertiva do Brasil no Oriente Médio ou na crise iraniana? HAASS: Se o Brasil fosse um membro do Conselho, obviamente participaria da mediação. Ele pode participar agora, mas eu tenho a visão de que o mundo não precisa de mais participantes diplomáticos independentes, e novas iniciativas diplomáticas. Pessoalmente, acho que o Brasil deveria estar no Conselho, que a Índia deveria estar no Conselho. O CSNU está cada vez mais desligado do mundo. Uma constelação de poder que representava o mundo nos anos 1940 não se aplica mais ao mundo de hoje. * Richard Haass é o Presidente do CFR. Até junho de 2003, foi diretor de planejamento politico do Departamento de Estado. Também foi assistente especial do Presidente George W. Bush e director senior para assuntos do Oriente Próximo e Sul da Ásia, no Conselho de Segurança Nacional. ** Entrevistadores: Alexandre Souto, Danilo Bandeira, Gustavo Machala e Paulo Cesar Valle. sincera e, após algumas horas, Julia confessava que seria uma satisfação pessoal ver o Brasil no CSNU e, na sequência, um aluno tomou coragem e pediu a palavra para revelar que seguia a palestrante no twitter. Era de se esperar, portanto, que esse segundo encontro seria evento de grande interesse. Quando a direção do Instituto Rio Branco (IRBr) circulou documento perguntando quem gostaria de participar de jantar oferecido ao Instituto pelo CFR, a adesão foi unâmine e imediata. Nos intervalos entre as aulas, 89 artigos e ensaios debatiam-se as atividades e as motivações da think-tank de Nova Iorque, bem como o alcance de suas recomendações. Os mais desconfiados logo reuniram artigos científicos e reportagens versando sobre o Conselho. Política externa, democracia, bipartidarismo, liberdade intelectual, debate informado, opinião pública, elites profissionais, influência política. Esses conceitos compunham o campo semântico comum a qualquer tentativa de explicar a atuação do Council on Foreign Relations. JUCA: Como especialista em América Latina como a senhora imagina que seria a reação de México e Argentina, caso o Brasil conseguisse o assento permanente no CSNU? SHANNON: A expansão do CSNU é um interessante desafio global. Para quem quer que entre com a expansão, sempre haverá insatisfeitos. Mas você não pode expandi-lo para todos os membros da ONU, senão ele viraria o que é a Assembleia Geral. Acho que as sensibilidades das nações que não forem contempladas pela expansão devem ser consideradas, mas acho que descontentamentos serão inevitáveis, porque, para que o Conselho funcione, sempre ficará alguém de fora. O Conselho não pode triplicar ou duplicar de tamanho. Acho que o descontentamento faz parte do processo, então sempre teremos sensibilidades na Argentina, México, Colômbia – quem quer aspire participar da expansão – os vizinhos da Alemanha ou nações africanas. JUCA: Como avaliar as divergências no relacionamento entre Brasil e EUA? Haveria problemas de compreensão entre os dois países? SHANNON: Acredito que há algumas razões históricas para essas divergências. Primeiro, Brasil e EUA são dois países com dimensões continentais, que tendem a priorizar temas de política interna. Com certeza isso se aplica aos EUA e acho que também acontece no Brasil. Acho que parte da incompreensão advém do desconhecimento que o público geral nos EUA tem 90 O CRF é uma das think-thanks mais influentes dos Estados Unidos. Conta com quase 4.700 membros, incluindo proeminentes figuras das vidas política, empresarial e acadêmica dos EUA, e edita a revista Foreign Affairs. Repleto de mesas-redondas, grupos de estudos, relatores especiais e forças-tarefa independentes, o cotidiano do Conselho volta-se à contemplação de temas candentes da política internacional e questiona-se acerca do posicionamento dos EUA. Segundo defendem de muitos temas. O Brasil não é o único país sobre o qual o público americano tem uma imagem não acurada. Segundo, a comunidade política nos EUA que lida com América Latina tende a se especializar no espanhol, o que faz as pessoas em focarem suas... Eu, por exemplo, falo apenas espanhol e portunhol, de modo que receio ter uma desvantagem em enternder o que ocorre aqui, quando comparado a outros países da América Latina. E não estou sozinha nisso: acho que é muito comum na comunidade. Assim, os especialistas que estudam a política hemisférica também privilegiam outros países devido a questões linguísticas. JUCA: Isso poderá mudar no futuro? SHANNON: Vejo que isso já está começando a mudar. Algumas das melhores universidades dos EUA estão construindo centros de estudos sobre o Brasil – quando eu estava fazendo meu PHD em Harvard, eles estavam criando um Brazilian Institute. A Universidade de Columbia está abrindo um escritório aqui e outro no Rio. Essa mudança já está começando então a próxima geração de estudantes terá uma oportunidade e vários incentivos para estudar português e para melhor conhecer o Brasil. * Shannon O’Neil é especialista do CFR para a América Latina. ** Entrevistadores: Gustavo Machala e Pedro Cavalcante. Metropolitan Club. O luxuoso salão do Metropolitan Club foi a primeira sede dos jantares organizados pelo CFR para discutir a política externa dos Estados Unidos Elihu Root. O estadista estadunidense, que ganhou o prêmio Nobel da Paz em 1912, é figura fundadora do CFR e o protótipo do conceito de Wise Man seus membros, a ideia por trás do Conselho é informar o debate público acerca de questões de importância crítica para a política externa dos Estados Unidos. Bem, àquela época, a emergência econômica e política do Brasil aparecia no topo da lista de interesses internacionais dos EUA e, assim, em 27 de fevereiro de 2012, chegava a Brasília uma ampla comitiva, organizada pelo CFR. A comitiva reunia 19 personalidades do âmbito governamental, da academia e do setor privado dos EUA. Chamava atenção a presença de importantes figuras do expressivo business sector estadunidense: grande parte da comitiva constituía-se de presidentes e diretores executivos de grandes empresas que desejavam ampliar seus negócios no Brasil. No dia 28, a comitiva estadunidense ofereceu um jantar, no Salão Panorâmico do Royal Tulip Hotel, à turma 2011-13 do Instituto Rio Branco. Afora a vista para o lago Paranoá, não havia nada de especial no formato do encontro, já que a organização de jantares de discussão intelectual é prática fundadora do Conselho. A deferência foi, no entanto, evento extraordinário na rotima do IRBr. Apenas futuramente os alunos viriam a conhecer a razão histórica daquele jantar. Em 10 de junho de 1918, Elihu Root – cuja carreira em constante alternância entre funções públicas e setor privado o legou o título de protótipo do wise man estadounidense – convidou uma coleção de mentes ilustres de sua época para um jantar no Metropolitan Club, em que se discutiria a política externa de uma potência em franca ascensão. A iniciativa foi bem recebida e os jantares black tie passaram a ocorrer com regularidade mensal, até que, em 1921, o dinner club do ex-Secretário Root fundiu-se ao braço americano do Comitê Transatlântico para Relações Internacionais, dando origem ao CFR. O bipartidarismo e a vocação para motivar debates na sociedade civil são também dessa 91 artigos e ensaios época, já que muitos dos membros oriundos do Comitê Transatlântico haviam ajudado a formatar o ideal wilsoniano de relações internacionais, em que a opinião pública presta contribuição capital para a paz mundial. O primeiro secretário administrativo da Foreign Affairs, a título de exemplo, foi Hamilton Fish Armstrong, um jovem colaborador que havia participado da delegação à Conferência de Paz de Paris, quando o ideal de opinião pública teve força para abolir a diplomacia secreta e formalizar o sistema de segurança coletiva da Liga das Nações, baseado na “Moratoire de la Paix”. O propósito de aproximar a sociedade civil estadunidense a temas internacionais justificou, cerca de 80 anos após seu lançamento, a organização daquela comitiva ao Brasil. A comitiva passaria por múltiplas cidades e teria encontros com diversos segmentos da sociedade brasileira. Começando por Brasília, era bastante conveniente incorporar à agenda da visita um encontro com os jovens diplomatas do IRBr. Embora o black tie tenha saído de moda nos eventos da diplomacia brasileira, cada aluno escolheu sua melhor gravata ou vestido para a ocasião. A preparação para o jantar envolveu também leitura de notícias, artigos e relatórios tratando de temas da política internacional e dos avanços no desenvolvimento brasileiro. Era preciso passar uma boa imagem do País e os interlocutores representavam uma instituição de respeito. Com quase um século de história, o CFR teve oportunidade de acompanhar os mais trágicos eventos da política mundial e opinar acerca das maiores inflexões da política externa estadounidense. O Conselho pôde posicionar-se contrário à segregação econômica da Alemanha após a IGM e favorável a uma política de boa-vizinhança para a América Latina. Chegou a argumentar que a Nova Política Econômica da União Soviétiva criaria boas oportunidades de negócios de risco e, já em 1939, passou a defender a criação de um regime internacional de desarmamento que levasse em conta as “diferenças” entre as nações. A Força-Tarefa do CFR sobre o Brasil Além de sua rotima de eventos na Harold Pratt House, o CFR passou, desde 1995, a organizar forças-tarefa independentes para tratar de temas de maior complexidade e relevo, já tendo publicado mais de 50 relatórios. O Conselho reúne e financia um grupo de especialistas com variadas opiniões políticas e formações acadêmicas, que deve publicar relatórios consensuais sobre tema designado. Cada força-tarefa é independente para publicar os resultados de seus estudos, mas o CFR entra com apoio instucional, buscando alcançar visibilidade midiática e influenciar profissionais dos poders Executivo e Legislativo. O Conselho organizou uma força-tarefa independente voltada para compreender e explicar o novo Brasil e, em 2011, lançou o relatório Brasil Global e as Relações Estados Unidos-Brasil. Entre outras coisas, o relatório recomenda: 1) que o Congresso dos EUA venha a eliminar a tarifa sobre etanol; 2) que a Casa Branca dê o primeiro passo para retirar a necessidade de visto à entrada de brasileiros nos EUA; 3) que o Departamento de Estado venha a apoiar o pleito brasileiro por um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. 92 Harald Pratt House Localizada na esquina da 68th Street com a Park Avenue, Nova Iorque, a mansão que serve de sede ao CFR foi construída com os melhores materiais possíveis, entre 1919 e 1920, por Harold Irving Pratt. O Sr. Pratt foi membro do CFR de 1923 até seu falecimento, em 1939. Seu pai fundara a Astral Oil, que, ao final do século XIX, fundira-se à Standar Oil, do grupo Rockefeller, um grande contribuinte e doador ao Conselho. Em 16 de abril de 1945, a mansão foi doada ao Conselho pela Viúva de Harold I. Pratt. Além dos jantares-debate e outras atividades do Conselho, a casa costuma ser alugada para celebrar casamentos de personalidades da sociedade novaiorquina. Quando o Brasil ganhou espaço específico na agenda do Conselho, foi porque o País esteve na linha de frente de um importante desenlace da história mundial moderna: a ascensão de potências não-tradicionais na conjuntura da crise econômica do mundo desenvolvido. O CFR não tardou a perceber o conjunto de transformações centradas no Brasil e logo organizou uma força-tarefa independente para compreender o vizinho austral e suas relações com os EUA. A comitiva que veio a Brasília já havia aprendido bastante sobre o Brasil e estava preparada para aprender ainda mais. No jantar do Royal Tulip Hotel, o prato principal foi cordeiro assado. Como començais, distribuídos em mesas de seis a oito pessoas, alunos do IRBr e personalidades da comunidade política estadunidense trocavam opiniões sobre o Brasil, seus programas nacionais, sucessos e desafios do seu projeto de desenvolvimento. A relação bilateral com os EUA era retratada como madura e promissora, capaz de resistir a qualquer divergência conjuntural e aprofundar-se no ilimitado. Além da rica discussão política, a revista JUCA aproveitou a oportunidade do jantar para entrevistar três membros do CFR: Richard Haass, presidente do CFR; Julia Sweig, diretora da iniciativa Brasil Global; e Shannon O’Neil, especialista em América Latina. A transcrição de trechos dessas entrevistas, dispostos em caixas independentes ao longo da matéria, poderá dar um gostinho ao leitor mais interessado do que foi esse atípico encontro Norte-Sul. Membros da Comitiva ao Brasil Richard N. Haass, Presidente do CFR Robert John Abernethy, Presidente, American Standard Development Co. Howard E. Cox Jr., Parceiro consultivo, Greylock Kim G. Davis, Diretor Executivo, Charlesbank Capital Partners, L.L.C. Joel S. Ehrenkranz, Pearceiro Senior, Ehrenkranz & Ehrenkranz LLP Bart Friedman, Parceiro, Cahill Gordon & Reindel Michael E. Gellert, Parceiro Geral, Windcrest Partners Mimi L. Haas, Presidente, Mimi and Peter Haas Fund Donna J. Hrinak, Presidente, Boeing Brazil Ann F. Kaplan, Presidente, Circle Financial Group Shannon K. O’Neil, Especialista em América Latina (Douglas Dillon Fellow), CFR Jeffrey A. Rosen, Vice-Presidente, Lazard Stanley S. Shuman, Diretor Executivo, Allen & Company LLC Julia E. Sweig, Diretora da Iniciativa Brasil Global, CFR Aso O. Tavitian, Presidente, Tavitian Foundation David B. Weinberg, Presidente e Princiapl Oficial Executivo, Judd Enterprises, Inc. Robert G. Wilmers, Presidente e Princiapl Oficial Executivo, M & T Bank Corporation Jeffrey A. Reinke, Chefe de Gabinete do Presidente, CFR Sharon R. Herbst, Diretor de Projetos Especiais, CFR 93 artigos e ensaios O Brasil nas páginas da Foreign Affairs Daniel Torres de Melo Ribeiro Em 75 anos de história, o Brasil foi objeto central de 21 artigos da Foreign Affairs. A análise desses escritos revela o olhar de estudiosos estrangeiros, intelectuais brasileiros e até Presidentes da República (ver box) acerca de momentos significativos da vida nacional. Os primeiros dois artigos sobre o Brasil têm em comum a análise sobre governos de Getúlio Vargas. “The new régime in Brazil”, de Ernst Hambloch, foi publicado em 1938 e discorria acerca do Golpe do Estado Novo. Para o autor, o evento apenas ratificou um processo já em curso de centralização do governo na figura do Presidente Vargas, a quem eram dirigidas severas críticas. O governo autoritário instaurado não seria condizente com as tradições políticas brasileiras. Sobre a Política Externa do Estado Novo, o autor já anteviu que não haveria maior aproximação com Itália e Alemanha, mas uma mera política de barganha. O segundo artigo sobre Vargas, escrito em 1950 por G. H. Haring, “Vargas returns in Brazil”, manteve o tom crítico à figura de Getúlio. O autor destacou o contexto diverso da nova Presidência de Vargas e as divisões tanto em sua base de apoio como dentro das Forças Armadas brasileiras, aspectos que contribuiriam, quatro anos mais tarde, para seu suicídio. Entre as décadas de 1950 e 1960, intelectuais brasileiros valeram-se da Foreign Affairs para suas publicações. Gilberto Freyre assinou dois artigos para a revista. O primeiro, “Slave Monarchy and Modern Brazil”, de 1955, apresenta a tese de que a figura do Imperador brasileiro, ao projetar-se acima da autoridade dos senhores rurais, contribuiu para atenuar as 94 relações patriarcais e teria efeitos duradouros sobre a organização política do país. “Misconceptions about Brazil”, publicado em 1962, tem como pano de fundo a instabilidade vivida pelo país após a renúncia de Jânio Quadros. Gilberto Freyre tece duras críticas aos jornalistas estrangeiros que não compreenderiam a complexidade do país. A formação histórica brasileira teria produzido, segundo o au- tor, uma sociedade democrática, inclusive sob o ponto de vista racial, com instituições sólidas e comprometidas com ideais nacionais, que não poderiam ser ignoradas. Em “Brazil, What Kind of Revolution” de 1963, Celso Furtado discorreu sobre a necessidade de mudança dos paradigmas sociais do Brasil, no momento em que o país passava por rápido surto de crescimento. Embora o autor aceitasse o pressuposto marxista da possibilidade (e necessidade) de mudança social como uma doutrina essencialmente humanista, afirmava que a revolução no Brasil dar-se-ia, provavelmente, por meios democráticos, de maneira gradual e respeitando-se liberdades civis, o que não ocorrera em outras revoluções de cunho marxista. O autor, entretanto, não excluiu a possibilidade de processos revolucionários violentos, sobretudo em virtude da enorme parcela da população miserável ainda no campo e de um retrocesso autoritário - o qual se confirmaria no ano seguinte. Hilgard Sternberg, em “Brazil: Complex Giant”, de 1965, aborda a questão do uso do território. O autor destaca o baixo nível de produtividade agrícola do país, a concentração de terras danosa ao surgimento de uma classe-média rural e a baixa eficiência das políticas estatais para a questão. Durante as décadas de 1970 e 1980, dois assuntos dominaram as páginas da Foreign Affairs: a situação política do país e as relações Brasil-Estados Unidos. Escrito no auge do regime militar em 1971, “Brazil: All power to the Generals”, de David Trubek e Henri Steiner, buscou responder quanto tempo mais duraria o regime. Os autores afirmaram que não havia perspectivas de abertura política naquele momento pelo apoio de setores importantes da população ao governo. Concluíram, ao final, que enquanto o crescimento econômico continuasse, segmentos importantes da população civil seguiriam apoiando os militares. Em 1975, contudo, após o fim do “milagre brasileiro”, “Decompression in Brazil”, de Fernando Pedreira, trata da decisão de abertura, atribuída ao próprio governo. O autor destacou a retomada dos ideais de uma “intervenção saneadora” de 1964, as divisões internas entre os militares e o receio de desgaste após anos de governo e abusos. Aludiu-se, ademais, à perda de controle sobre elementos das Forças Armadas. A situação econômica é apresentada como perigo ao processo de abertura controlada, caso se deteriorasse abruptamente. “Between Repression and Reform”, escrito por Fritz Stern em 1978, relata as impressões do autor em viagem pela Argentina e pelo Brasil. O autor destacou o processo de abertura feito no Brasil sob controle estrito dos militares, que buscavam equilibrar pressões pela abertura na sociedade civil e pelo autoritarismo dentro das Forças Armadas. “Brazil: On The Tightrope Toward Democracy”, de Juan de Onis, insere-se no contexto das eleições presidenciais de 1989. O autor discorre sobre os grandes desafios brasileiros, como a hiperinflação e a superação de desigualdades sociais. Ao analisar as eleições, de Onis destaca a fragilidade dos partidos, à exceção do PT de Lula e do PSDB de Mario Covas, a fragmentação do PMDB e o desejo popular de mudança e de novas lideranças. O autor conclui que o novo presidente deveria adotar reformas econômicas, privatizações e formar coalizões políticas para enfrentar os desafios do país. Albert Fishlow escreveu dois artigos de grande relevância para o estudo das relações Brasil-Estados Unidos nas décadas de 1970 e 1980. “Flying down to Rio”, de 1978, apresenta perspectivas para as relações bilaterais no contexto do mal-estar causado pela política de direitos humanos de Carter e a oposição norte-americana ao Acordo Nuclear BrasilAlemanha. O autor propõe, como política efetiva de aproximação norte-americana com o país, maior comprometimento com o desenvolvimento brasileiro, inclusive pela transferência de tecnologia. O segundo artigo de Fishlow, “The United States And Brazil: The Case Of The Missing Relationship”, analisa as relações bilaterais no 95 artigos e ensaios contexto da crise da dívida de 1982. Para o autor, o governo Reagan, com seu resgate da polarização Leste-Oeste e promoção do livrecomércio, não teria sucesso em melhorar as relações com o Brasil, então sofrendo recessão e altas taxas de inflação que o impeliam a uma política externa pragmática. Fishlow ressalta o dano criado pela elevação dos juros norteamericanos e prevê o surgimento de novas tensões comerciais, uma vez que o Brasil estimularia cada vez mais as exportações para cobrir o pagamento da dívida, como de fato ocorreu no caso de produtos de informática em meados da década. À exceção da entrevista com o Presidente Fernando Henrique Cardoso em 1995, não houve artigos sobre o Brasil na década de 1990. Em 2002, “Two Ways to Go Global”, de Peter Hakim, apresentou comparação entre os modelos de inserção internacional do México pós-NAFTA e do Brasil, que assume uma postura autônoma e de diversificação de parceiros. O autor alerta para o fato de que o Brasil provavelmente resistiria aos esforços de liberalização comercial capitaneados pelos Estados Unidos, sobretudo a ALCA. Propõe, ainda, que Estados Unidos e Brasil busquem terreno comum para diálogo, uma vez que o apoio brasileiro seria necessário para a atuação norte-americana na América Latina. Em 2003, “Lula`s Brazil”, de John Williamson, analisou as perspectivas do mandato do Presidente Lula, no contexto da crise provocada pelo temor de investidores pela vitória do petista. O autor condicionou a superação da crise ao compromisso de Lula de manter uma política econômica conservadora e ao retorno de capitais estrangeiros ao país. Caso o novo governo fosse bem sucedido, as políticas propostas por Lula poderiam ser benéficas para toda a região e, inclusive, para a relação com os Estados Unidos. No ano seguinte, “The Reluctant Partner”, de Peter Hakim, analisa os primeiros anos da política externa do governo Lula. O autor destaca 96 a singularidade e pragmatismo do novo governo, que gerariam pontos de tensão e oportunidades de cooperação. Harkim propôs, nesse sentido, que a melhora da situação interna do Brasil seria pressuposto para os interesses norte-americanos no Hemisfério. Os artigos publicados na segunda metade da década assumiram um tom mais otimista. Escrito em 2008, “Brazil`s Big Moment”, de Juan de Onis, concentra-se, sobretudo, nos recursos energéticos, naturais e humanos à disposição do país. Pela primeira vez, questões ambientais são apresentadas, relacionadas ao desmatamento na Amazônia, emissões de carbono e produção de biocombustíveis. De Onis propõe que a cooperação com os Estados Unidos poderia dar-se em áreas como produção de alimentos, mudanças climáticas, energia e segurança regional. Em 2010, “A New Global Player”, de Julia Sweig, ressalta a emergência brasileira como ator global relevante por suas credenciais diplomáticas e peso econômico e estratégico, tanto em termos de recursos energéticos atuais, como futuros, em especial a água. A autora busca, igualmente, explicações para o envolvimento brasileiro nas negociações sobre o programa nuclear iraniano. Sweig propõe que os Estados Unidos deveriam considerar a ascensão brasileira como a emergência de um novo parceiro global. “Bearish on Brazil”, de Ruchir Sharma, publicado em 2012, assume, por fim, um tom pessimista. O artigo destaca a incapacidade brasileira de acompanhar o crescimento de China e Índia e responsabiliza os elevados gastos sociais do Governo, em detrimento de investimentos em infraestrutura ou melhorias em educação como parte do problema. A necessidade de melhor aproximação norte-americana do Brasil é tema recorrente em tais escritos, derivada da percepção da singularidade brasileira - tanto pelas dimensões continentais e potencialidades, quanto pela formação de seu povo. Jânio, Sarney e FHC: Autonomia, transição democrática e reforma Três Presidentes da República brasileiros estiveram nas páginas da Foreign Affairs. Jânio Quadros e José Sarney assinaram artigos sobre a política externa e o processo político brasileiro, ao passo que Fernando Henrique Cardoso concedeu entrevista a James Hoge Jr., editor do periódico em 1995. Publicado em 1961, semanas após a renúncia de Jânio Quadros, o artigo “The New Brazilian Foreign Policy” é considerado um dos documentos fundamentais da Política Externa Independente. A constatação básica que orienta a formulação da “nova política” é a de que o rápido crescimento do Brasil impunha uma política externa pragmática, voltada para o desenvolvimento nacional, e universalista, ainda que com identidade arraigada aos valores Ocidentais. Com base nessas premissas, Jânio advogava maior aproximação com os novos Estados afro-asiáticos e maior atenção dos países desenvolvidos para o mundo em desenvolvimento, caso desejassem manter esses países afastados do socialismo. Escrito 25 anos depois, “Brazil: A President`s Story” é uma narrativa pessoal do Presidente José Sarney sobre as circunstâncias trágicas que o levaram a assumir o mandato presidencial. Escrito em tom de otimismo em relação ao futuro do país, durante a estabilização momentânea trazida pelo Plano Cruzado, o artigo relata os desafios brasileiros, sobretudo no que se refere à superação das desigualdades e término da transição democrática, com a nova Constituição. No campo da política externa, o Presidente discorreu sobre a questão da dívida, uma das grandes contingências do país e da América Latina. Reafirmou a necessidade de uma renegociação em bloco das dívidas, tal como prevista no Consenso de Cartagena. Digno de nota é o tom crítico das relações com os Estados Unidos. Sarney criticou a postura norte-americana em relação a América do Sul que viria recebendo “tratamento de terceira classe”. O presidente identifica nesse tratamento a causa de sentimentos antiamericanos na região. “Fulfilling Brazil`s Promisses” é entrevista de Fernando Henrique Cardoso ao editor da Foreign Affairs no início de seu primeiro mandato em 1995. O Presidente discorreu sobre os desafios de seu mandato, internos e externos. Reafirmou o comprometimento brasileiro com a integração regional e com a diversificação de parceiros. Sobre as relações com os Estados Unidos, afirmou que ambos os países partilhavam os mesmos valores e mantinham boas relações apesar de eventuais fricções. Perguntado sobre o papel do Brasil no contexto da divisão NorteSul, o Presidente afirmou que tal divisão teria sido superada, sendo os valores vencedores da Guerra Fria partilhados tanto pelo Norte quanto pelo Sul. Fernando Henrique discorreu acerca das reformas necessárias no país e foi enfático ao qualificar a situação econômica como sólida, após ser indagado sobre possível contágio da Crise Mexicana de 1995. 97 artigos e ensaios 98 O lugar do conceito de Responsabilidade ao Proteger na evolução da justiça internacional Artur Andrade da Silva Machado Por uma diplomacia idealista e propositiva 99 artigos e ensaios Tem-se às vezes a impressão de que as Nações Unidas, às vésperas de seu vigésimo quinto A tensão criativa que se processa no equacionamento da justiça internacional é interpretada, pela tradição filosófica ocidental, segundo relação dialética que, fundada na Hélade, se reproduz contemporaneamente. Nos diálogos de Sócrates com os filósofos sofistas, Platão relata a tensão entre duas concepções de justiça, em esforço precursor do debate entre universalismo e relativismo. Ateniense convicto na existência da razão como denominador comum das realidades humanas, Sócrates defendia a possibilidade de encontrar preceitos morais universais, porque racionais; ao passo que, para os sofistas, cuja concepção filosófica era conformada por um nomadismo que os colocava em contato com diferentes culturas, qualquer preceito moral deveria ser matizado culturalmente antes de sua formulação e aplicação (PLATÃO, 2008). Na sociedade internacional contemporânea, a concepção de justiça é antes de tudo um patrimônio público negociado politicamente. Se, para realistas como Morgenthau (2003), concepções nacionais de justiça excluem-se em inconciliável jogo de vencedores e perdedores; para autores da Escola Inglesa como Bull (2002), o ideal de justiça das sociedades ocidentais choca-se com o imperativo de organização das relações internacionais. Reconhecidos os limites e as contradições do justo, nações que queiram pautar suas relações internacionais em ideais de justiça encontram forte apelo para priorizar a busca por consensos e por equilíbrios de posições. Este é o caso do Brasil, que, em sua inserção internacional, promove um ideal de justiça universalista, mas consensualista. Os princípios de justiça universais de Platão encontram espaço na tradição cultural e na política externa brasileiras. Contudo, o Brasil apregoa que mudanças em princípios nacionais e locais de justiça somente podem ser alcançadas pela via do convencimento, jamais por exercício de 100 aniversário, parecem postas à margem da realidade política, como se seus princípios e objetivos fossem um estorvo e seus mecanismos e processos se tivessem mostrado inadequados. Nota-se uma perda de confiança na ação organizada da comunidade internacional e um abusivo retorno à ação unilateral, às intervenções, abertas ou indiretas. (MAGALHÃES PINTO. Discurso por ocasião da abertura da XXIV AGNU. In: CORRÊA, 2008) subjugação da crença do Outro. Para convencer interlocutores externos sobre a moralidade das regras internacionais, faz-se necessário manter diálogo racional com culturas diferentes. Nesse caso, o Governo brasileiro tem advogado que se erigem consensos internacionais, somente na ausência de repúdio aos valores e crenças dos interlocutores. Na história das relações internacionais, é possível identificar raros consensos com relação a ideais de justiça. O princípio da Responsabilidade de Proteger (R2P), se algum dia tiver alcançado esse consenso, torna-se cada vez mais politizado, o que se deve ao abandono dos compromissos com o frágil equilíbrio de visões que viabilizaria o conceito. Caso o Brasil aceite o desafio de engajamento propositivo na estruturação normativa do R2P (BIERRENBACH, 2011), será preciso restabelecer o compromisso desse conceito com a justiça, antes que seja politizado, descartado ou imposto pela força. Neste ensaio, argumento que o conceito de Responsabilidade ao Proteger (RwP), principal proposta brasileira na agenda de normatização da responsabilidade humanitária internacional, é exemplo de uma política externa idealista (PAROLA, 2007), criativa e promissora. Justiça internacional como concepção pública Na concepção ocidental, a ideia de justiça é contingente dos princípios de equidade e liberdade. Nenhum sistema de interação social pode ser concebido como justo se estabelecer desigualdades injustificadas entre os agentes da interação. Para John Rawls (2008), a distribuição desigual dos benefícios da interação social somente é legítima quando essa desigualdade gera ganhos absolutos significativos para todos os demais agentes sociais. Segundo esse preceito, cumpre ponderar que o modelo de representação e votação desigual do Conselho de Segurança da ONU somente poderia ser aceito na medida em que trouxesse maior eficácia no atendimento de necessidades de paz e segurança por parte de toda a comunidade internacional. Tampouco é justo o sistema normativo que não se baseie no princípio da liberdade, pois, sendo a justiça uma concepção pública, deve ser negociada em liberdade e jamais imposta. Seja a partir do contratualismo de Rawls, seja a partir da ação comunicativa de Harbemas, o processo de formação de consensos em uma sociedade pluralista exige inclusão e mediação de visões diferenciadas sobre o que é justo (PAROLA, 2007). Na sociedade internacional, definida pela existência de unidades soberanas de representação sociopolítica, o imperativo de equidade manifesta-se em dois níveis. Por um lado, é justo que interajam como iguais os Estados representando diferentes nações; por outro, cumpre equalizar direitos fundamentais dos humanos representados. Essas promessas de igualdade, arroladas como compromissos do artigo 1º da Carta de São Francisco, são desequilibradas pela distribuição desigual do estoque de poder internacional. Se existe o que se poderia chamar de uma concepção pública de justiça internacional, sua manifestação prática cede aos mecanismos de sustentação de poder de uma ordem internacional injusta. O case da sociedade internacional frequentemente coloca em cheque a convicção socrática no justo universal, dando razão à retórica realista de conformidade ao injusto e de conformação dos justos. Teleologias de uma concepção internacional de justiça Dado que a noção de justiça em uma sociedade internacional funda-se no equacionamento de princípios e expectativas nacionais e locais sobre certo e errado, seria inelutavelmente utópico buscar preceitos consensuais de justiça internacional? Pelo contrário, a noção de justiça como patrimônio coletivo é mais facilmente compreendida como processo que como princípio, já que este é atemporal enquanto aquele é histórico. É nesse sentido que a história de compromissos internacionais permite evidenciar consensos acerca de preceitos morais abstratos que fundamentam narrativas teleológicas de justiça. Entre esses preceitos, três merecem destaque: i) a equidade no nível das representações políticas, evidenciada pelo imperativo moral de redução de desigualdades na participação de comunidades políticas organizadas na formação de compromissos internacionais, nos benefícios e custos relacionados à ordem social; ii) a equidade no nível dos indivíduos representados, consubstanciada na definição de direitos e garantias fundamentais para a dignidade da pessoa humana; e iii) o regramento do uso da força, preceito moral que deriva dos dois precedentes. A primeira vertente de avanço de um ideal teleológico de justiça incorpora movimentos de transformação da ordem internacional que permitam maior inclusão e maior igualdade entre Estados. Nem sempre esse avanço ocorreu de forma linear. Por exemplo, na passagem da ordem de Utrecht – pautada no com- 101 artigos e ensaios promisso com soberanias sacrossantas para os menores principados europeus – para a ordem de Viena – em que chega ao ápice a conformidade ante o intervencionismo dos mais poderosos –, registra-se retrocesso na ideia de justiça como igualdade em nome da justiça como paz (WATSON, 2004). Não obstante, a evolução dos grandes acontecimentos internacionais que se lança com as ondas de descolonização da década de 1940 e culmina, nos dias de hoje, nas negociações para reforma das principais instituições econômicas internacionais reflete uma clara aproximação entre os polos da díade ordem- justiça. O compromisso com a equidade no nível dos indivíduos representados abarca dois movimentos teleológicos: de uma parte, diversas instâncias de representação na comunidade internacional adotam uma missão humanitária na defesa dos direitos mais fundamentais da dignidade da pessoa humana; de outra, a comunidade internacional tem aceitado compromissos com a melhoria da situação socioeconômica das populações mais pobres e excluídas de níveis mínimos de bem-estar e consumo de produtos de necessidade elementar. A sensibilização de atores da comunidade internacional com o compromisso teleológico com os direitos atualmente arrolados no Estatuto de Roma é mais antiga, originando-se com o repúdio ao inexplicável sofrimento da população civil nas guerras de unificação italiana. A sensibilização com o sofrimento causado pela pobreza e pela miséria extremas é ainda recente, ensejando compromissos apenas subsidiários por parte da comunidade internacional. O terceiro campo de avanço da justiça internacional é o da proibição do uso da força, uma vez que a violência contra iguais é a negação última de qualquer concepção de justiça. Nessa vertente, cabe nota para o fato que grandes saltos na tecnologia da violência e no seu emprego ensejaram igualmente grandes avanços no regramento internacional do uso da força, passando-se de ordenamentos em que Estados teriam uma compétence de guerre 102 (VATTEL, 2004) para a institucionalização de sistemas de segurança coletiva, cuja versão contemporânea se positiva nos artigos 2º,4º, 25 e 42 da Carta de São Francisco. Os três objetivos de justiça aqui lembrados têm estrutura interpretativa aberta, de modo que seus conteúdos variam histórica e casuisticamente. É, aliás, devido à liberdade interpretativa que se pode observar a articulação, renovação e revisão de consensos internacionais, a partir dos quais seria justificável uma presunção de teleologia dos preceitos de justiça internacional. Da mesma forma, qualquer retrocesso irrefletido na marcha das teleologias da justiça aponta para certa degradação moral da ordem política internacional. O intercruzamento das grandes narrativas de justiça O contato e a tensão entre ordem e justiça atingem seu ponto máximo quando esta exige a reforma daquela. Se a justiça depende da ordem para ser efetiva, a ordem depende da justiça para ser legítima. Assim, acomodar avanços da concepção pública de justiça no sistema normativo será talvez a principal função daqueles que influenciam a ordem social. Quando se chocam os movimentos de avanço de cada vertente teleológica de justiça, é preciso atualizar os regramentos internacionais, equilibrando as novas expectativas com garantias tradicionais. Trata-se de difícil reforma de paradigmas, envolvendo a articulação de novos consensos. Contudo, é imperativo que seja justa a resultante do contato entre as diversas concepções de justiça, velhas e novas, nacionais e globais. O contemporâneo movimento de reforma do sistema de segurança coletiva da ONU amarra-se a expectativas de atualização do equilíbrio entre as três narrativas teleológicas de justiça. A ideia de intervenção humanitária resume uma nova proposta de justiça internacional, priorizando-se a equidade no nível World Summit Outcome Document (2005) Responsibility to protect populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity dos indivíduos representados sobre compromissos nas outras duas narrativas. Trata-se de rara inflexão no modo como se articulam os valores de soberania, direitos humanos fundamentais e proibição do uso da força. Segundo Inis Claude Jr., “[t]here is real danger that newly created international organizations may not be simply too little and too late, but also already out of date.” (1971, p.46). A proposição aplica-se para explicar a incapacidade da Liga das Nações em evitar a II Guerra Mundial e inaptidão da ONU para pacificar o sistema internacional da Guerra Fria. Mas também serve para analisar a crise do sistema de segurança coletiva do pós-Guerra Fria, em que conflitos intraestatais são combatidos com instrumentos forjados para responder a conflitos entre Estados. Da mesma forma que a Liga das Nações foi feita para evitar uma nova I Guerra Mundial e a ONU, uma nova II Guerra Mundial; a proposta intervencionista da II Guerra do Golfo não serviu para atuar na Somália e o não-intervencionismo pós-Somália ensejou a catástrofe de Ruanda. O problema do paradigma histórico é que, por vezes, sua lembrança ofusca peculiaridades do presente. Durante a década de 1990, o reforço de compromissos humanitários por parte de uma concepção norte-atlântica de justiça internacional instituiu, em termos práticos, a figura da intervenção humanitária, ao mesmo tempo em que possibilitou o surgimento de novos paradigmas de ação e inação da comunidade internacional diante de conflitos domésticos. Essa nova proposta de uso da força encontrou reação imediata em importantes atores do sistema internacional. Em sua estratégia de segurança publicada no ano 2000, por exemplo, a Rússia define entre as principais ameaças de então: “the utilization of military-force actions as a means of "humanitarian intervention" without the sanction of the UN Security Council, in circumvention of the generally accepted principles and norms of international 138. Each individual State has the responsibility to protect its populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. This responsibility entails the prevention of such crimes, including their incitement, through appropriate and necessary means. We accept that responsibility and will act in accordance with it. The international community should, as appropriate, encourage and help States to exercise this responsibility and support the United Nations in establishing an early warning capability. 139. The international community, through the United Nations, also has the responsibility to use appropriate diplomatic, humanitarian and other peaceful means, in accordance with Chapters VI and VIII of the Charter, to help to protect populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. In this context, we are prepared to take collective action, in a timely and decisive manner, through the Security Council, in accordance with the Charter, including Chapter VII, on a case-by-case basis and in cooperation with relevant regional organizations as appropriate, should peaceful means be inadequate and national authorities are manifestly failing to protect their populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. We stress the need for the General Assembly to continue consideration of the responsibility to protect populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity and its implications, bearing in mind the principles of the Charter and international law. We also intend to commit ourselves, as necessary and appropriate, to helping States build capacity to protect their populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity and to assisting those which are under stress before crises and conflicts break out . law” (RÚSSIA, 2000, p. 3). A doutrina da intervenção humanitária trouxe não apenas a apreensão de soberanistas, mas, também, o receio generalizado com o uso seletivo dos novos mecanismos de uso da força. 103 artigos e ensaios A responsabilidade com a justiça internacional durante o processo de reordenamento da normativa da intervenção humanitária A necessidade de fazer avançar o compromisso internacional com a justiça humanitária não pode justificar retrocessos na concepção pública de justiça. A imposição de práticas que se acreditam mais progredidas moralmente pode encerrar retrocessos quando prejudique outros valores importantes até então pacificados. A dissociação entre a missão humanitária, a desigualdade entre Estados e a banalização do uso da força foi o principal objetivo perseguido pela Comissão Internacional sobre Intervenção e Soberania do Estado (ICISS) no relatório sobre a Responsabilidade de Proteger (R2P), de 2001. A ICISS tentava viabilizar a ideia de intervenção humanitária, por meio da racionalização de contextos e limites à proposta de justiça humanitária norte-atlântica, evitando tanto a não-intervenção trágica de Ruanda quanto o intervencionismo injustificado. Nesse afã, a Comissão logrou formular algumas proposições interessantes e equilibradas. Em primeiro lugar, o entendimento de soberania como responsabilidade visava à reafirmação de um significativo grau de equidade no nível das unidades de representação. Segundo, a tipificação de três âmbitos de exercício da responsabilidade subsidiária da comunidade internacional – prevenção, reação e reconstrução – permitia cobrar maior engajamento internacional com o desenvolvimento na solução de conflitos. Por último, a intervenção humanitária foi racionalizada como caso especial na seara de possíveis reações a conflitos, devendo cumprir com seis critérios: right authority; just cause; right intention; last resort; proportional means; reasonable prospects of success (ICISS, 2001). Apesar da sofisticação da proposta, sua incorporação como parte de uma concepção pública de justiça foi bastante difícil. Afinal, se os aconte- 104 cimentos internacionais já atestavam o abuso da estratégia intervencionista mesmo na ausência de legitimidade, como seria possível acreditar que o conceito de R2P não concorreria para o esboroamento definitivo da soberania negativa? Quando se discutiu o texto de positivação para a nova doutrina, em 2005, os Estados decidiram impor ainda mais restrições ao conceito, que perdeu sua amplitude, sendo novamente associado a episódios de tragédias humanitárias. Ora, as tragédias humanitárias apresentam, como característica geral, sérias dificuldades para atuação preventiva. Além disso, o método de análise casuística de crises tradicional do Conselho de Segurança da ONU tende a trabalhar com um leque de medidas que exclui o apoio ao desenvolvimento e a fazer uso seletivo e politizado de circunstâncias semelhantes. O texto do Documento Final da Cúpula Mundial de 2005 incorpora o conceito de R2P com pelo menos dois desequilíbrios: i) um desequilíbrio interno, na media em que o R2P torna-se pró-intervenção, negligenciando o papel da comunidade internacional na prevenção de conflitos e no apoio ao desenvolvimento e à capacitação; e ii) um desequilíbrio externo, já que, ao trabalhar com um texto aberto e impreciso, o processo de tomada de decisão internacional perpetua uma estrutura de poder ultrapassada e acostumada a priorizar interesses geopolíticos sobre princípios de justiça. Em julho de 2009, a Assembleia Geral da ONU discutiu meios de implementação do conceito de R2P, motivada por relatório do Secretário-Geral Ban Ki-Moon de janeiro do mesmo ano. Em seu relatório, Ban Ki-Moon afirmou que o conceito de R2P gozava de consenso restrito e recomendou pensar a doutrina em três pilares: i) as responsabilidades protetoras do Estado; ii) assistência internacional e capacitação; e iii) resposta rápida e decisiva. No relatório, o Secretário-Geral enfocou a responsabilidade da comunidade internacional de evitar grandes tragédias humanitárias, recomendando um uso flexível dos instrumentos de ação (ONU, 5 passos até a proposta brasileira de RwP 1 º passo: Durante a década de 1980, surgiram apelos sobre um “droit d’ingérence”, em debates internacionais. Com os desastres humanitários da década de 1990, o CSNU aprovou mandatos para algumas “intervenções humanitárias”, por vezes invocando razões de segurança para legitimá-las. 2 º passo: Em 2000, a força dos ideais humanitários trazidos pelo Relatório do Milénio do Secretário-Geral das Nações Unidas, intitulado We the Peoples, motivou o Canadá a lançar a Comissão Internacional sobre Intervenção e Soberania do Estado (ICISS). Em 2001, a ICISS publicou o relatório chamado Responsabilidade de Proteger (R2P), segundo o qual a comunidade internacional deveria assumir a responsabilidade sobre a proteção do núcleo das necessidades humanitárias das coletividades nacionais. 3 º passo: Em paralelo a esse debate, ocorria a segunda onda de reformas da ONU. Entre 2004 e 2005, como resultado do relatório do Painel de Alto Nível sobre Ameaças, Desafios e Mudança (A More Secure World: Our Shared Responsibility), a Comissão de Consolidação da Paz foi criada com formato pensado para estabelecer uma ligação entre o CSNU e o ECOSOC. 4 º passo: Os líderes mundiais trouxeram o conceito de R2P à deliberação dentro das Nações Unidas. Depois da cúpula da ONU que teve lugar em Nova York, em 2005, os artigos 138 e 139 do Documento Final da Cimeira Mundial (A/RES/60/1) definem o R2P como a responsabilidade subsidiária da comunidade internacional para garantir os direitos humanitários fundamentais de indivíduos e coletividades, quando os governos nacionais não conseguem fazê-lo. Em 2006, o conceito foi recordado por uma resolução do CSNU relativa à proteção de civis durante conflitos armados (S/RES/1674). Em 2009, o Secretário-Geral da ONU publicou relatório sobre a implementação do R2P, o que levou a novo debate na AGNU. 5 º passo: Depois de revelar, repetidas vezes, suas preocupações com os limites políticos do R2P, o Brasil encontrou, em 2011, a oportunidade para lançar discussões sobre um conceito novo e complementar: a Responsabilidade ao Proteger (RwP). O conceito foi primeiramente mencionado durante o discurso da presidenta Dilma Rousseff durante a abertura da 66a sessão da AGNU. Durante um debate aberto no Conselho Segurança sobre a proteção de civis (9/11/11), a delegação brasileira preparou uma nota conceitual, na qual se pede por método e responsabilidade nas ocasiões em que a comunidade internacional decide recorrer ao uso da força. Em 21 de fevereiro, o Ministro Patriota e o professor Edward Luck copresidiram um debate aberto sobre a RwP e os discursos dos participantes foram disponibilizados pela Coalizão Internacional pelo R2P. Enfim, após o Relatório do SGNU: “Responsabilidade de Proteger: resposta pronta e decisiva” (A/66/874S/2012/578), os Estados-membros da ONU debateram o RwP em um diálogo interativo informal (5/9/2012). 105 artigos e ensaios A/63/677, 2009). Durante o debate, evidenciouse a ausência de consenso com relação à nova doutrina, sobretudo no que se refere à implementação de sua dimensão intervencionista. Embora haja vozes a afirmar comprometimento irrestrito com o confinamento da doutrina ao texto de 2005, muitos Estados apresentam ressalvas quanto aos seguintes tópicos: possíveis ações unilaterais; desatualização do Conselho de Segurança; seletividade no uso da força; passagem de ações de prevenção para intervenção; negligência a causas estruturais de conflito como subdesenvolvimento e pobreza extrema (ICRtoP, 2009). A despeito da falta de consenso com relação a importantes aspectos do conceito de R2P não desenvolvidos pela breve menção do texto de 2005, a nova doutrina foi usada para justificar os secessionismos de Kosovo, da Ossétia do Sul e da Abcásia, bem como uma intervenção rápida e decisiva durante a crise na Líbia. O uso indiscriminado do conceito, sem apoio explícito do Conselho de Segurança, reanimou receios com a seletividade do uso da força e com a fragmentação das garantias negativas da soberania. O elevado número de mortes de civis, a imparcialidade de alguns atores-chave envolvidos na intervenção e o impactante assassinato da liderança líbia trouxeram dúvidas quanto ao acerto do novo compromisso humanitário. De fato, acordar em um novo instrumento sem definir circunstâncias, limites e processos de maneira precisa traz sérios riscos à implementação, de modo que, com o fechamento da crise, houve múltiplas discussões, no âmbito da ONU, sobre a acontabilidade do uso da força por parte da instituição. Em uma dessas circunstâncias (ONU, 2011b), o Brasil apresentou uma nota conceitual sobre a Responsabilidade ao Proteger (RwP) – princípio cujo condão é aperfeiçoar a R2P. Em resumo, a RwP encerra 5 propostas objetivas: i) prevenção é sempre a melhor política; ii) intervenção como ultima ratio; iii) imperativo de mandato 106 detalhado do CSNU para o uso da força; iv) uso da força deve respeitar as regras do jus in bello; e v) criação de mecanismos de monitoramento do uso da força (BRASIL, 2011). Com essa sugestão, o Brasil não apenas aborda a implementação da R2P de forma propositiva, como também abre espaço para maior discussão acerca de como acomodar o avanço da teleologia humanitária com antigas concepções de justiça. Após a crise da Líbia, será preciso intenso esforço de reconsideração da doutrina de R2P para evitar sua politização. Se a comunidade internacional virá adquirir um novo instrumento de justifica do uso da força, é preciso que se criem mecanismos de defesa contra intervenções seletivas, bem como de promoção da confiança dos Estados nos processos de tomada de decisão internacional. Para que a intervenção humanitária seja encarada como um princípio de justiça, é preciso protegê-la de interesses geopolíticos imparciais, de secessionismos arbitrários, de abusos de autoridade e de poder, de consequências trágicas quanto aos direitos humanos de civis. Para que seja possível avançar com a teleologia da equidade humanitária sem prejuízos para uma concepção pública de justiça, é preciso reequilibrar seu relacionamento com a equidade entre Estados e com a proibição do uso da força. O conceito de RwP contribuirá para esse fim, conquanto incorpore visões diversificadas sobre justiça internacional e forje novos consensos. Perspectivas A noção de justiça é uma concepção pública que serve ao funcionamento orgânico de uma sociedade. De fato, a estabilidade de regras sociais pode ser assegurada por poder ou por justiça, sendo esta via menos custosa que aquela. A justiça em escala nacional e local é mais diversa e mais humana, na medida em que reflete com- promissos morais com padrões de conduta surgidos espontaneamente a partir do convívio em sociedade. A justiça internacional, fruto da interação negociada de diferentes culturas, é um imperativo das relações sociais sustentado por relações de poder, que será tanto mais controverso quanto menos flexível e abarcativo. O contexto atual aponta para séria inflexão na ordenação multilateral do uso da força, trazendo implicações para uma concepção pública de justiça, na qual se equilibram três objetivos abstratos: equidade entre indivíduos; equidade entre Estados; combate à violência. Com o desastrado fechamento da crise da Líbia, em 2011, fragilizou-se o consenso internacional que permitiria avançar com o ideal de proteção humanitária. É preciso repensar o princípio de R2P com uma lógica inversa à que foi criado: visando ao fortalecimento das garantias negativas da soberania e do regramento restritivo do uso da força. As propostas trazidas no âmbito da primeira formulação da RwP ajudarão a reequilibrar os objetivos de justiça internacional, mas é sobretudo a capacidade de lançar discussões a principal virtude do conceito. A proposta do RwP lança, portanto, perspectivas de novas discussões que merecem ser estudadas. A ampliação dos dois primeiros pilares do R2P para além do confinamento do texto de 2005 pode ser de interesse para dissociar o conceito do processo normativo que culmina majoritariamente na intervenção. Pode-se pensar na elevação do nível de compromisso internacional com a prevenção de conflitos e com a cooperação em capacitação, desenvolvimento e combate às causas estruturais de conflitos, já que os esforços de base têm também um papel legitimador da pretensão de intervir. Ademais, a formulação da RwP pode ser usada para justificar um maior zelo com a mitigação dos efeitos adversos de sanções econômicas, incorporando o mecanismo de smart sanctions. Em suma, o Brasil poderia cogitar a abertura política da formulação da RwP, que poderia funcionar como um guarda-chuva de propostas de aperfeiçoamento do R2P, por meio, por exemplo, da convocação de uma comissão internacional sobre a matéria. Referências bibliográficas e documentais BIERRENBACH, A. M.. O conceito de responsabilidade de proteger e o Direito Internacional Humanitário. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2011. BRASIL. Ministério das Relações Exteriores. Conselho de Segurança das Nações Unidas – Debate Aberto sobre Proteção de Civis em Conflito Armado – Nova York, 09/11/2011. Nota à Imprensa no. 436, 2011. BRASIL. Ministério das Relações Exteriores. Pronunciamento do Ministro Antonio de Aguiar Patriota em debate sobre Responsabilidade ao Proteger na ONU. Nota à Imprensa no. 28, 2012. BULL, H.. A Sociedade Anárquica. São Paulo: Editora Universidade de Brasília, 2002. CLAUDE JR., I. L.. Swords into Plowshares. Nova Iorque: Random House, 1971. CORRÊA, L. F. S. (Org.). O Brasil nas Nações Unidas. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2008. ICISS. Comissão Internacional sobre Intervenção e Soberania do Estado. Responsabilidade de Proteger. 2001 ICRtoP. Report on the General Assembly Plenary Debate on the Responsibility to Protect. 2009 MORGENTHAU, H. A Política entre as Nações. São Paulo: Editora Universidade de Brasília, 2003. ONU. Assembleia Geral. Conselho de Segurança. Letter dated 9 November 2011 from the Permanent Representative of Brazil to the United Nations addressed to the Secretary-General. A/66/551-S/2011/701. 2011a ONU. Divisão de Notícias e Mídia. Says during Security Council Open Debate on Civilian Protection (6650th Meeting). 2011b ONU. Relatório do Secretário-Geral. Implementing the responsibility to protect. A/63/677. 2009 PAROLA, A. G. L.. A Ordem Injusta. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2007. PLATÃO. Diálogos socráticos I. Tradução Edson Bini. São Paulo: Edipro, 2008. RAWLS, J.. The Law of Peoples. Nova Iorque: Harvard University Press, 2002. RAWLS, J.. Uma teoria da justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2008. RÚSSIA. The Russian Federation Military Doctrine. Governo da Rússia, 2000. VATTEL, E. O Direito das Gentes. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2004. WATSON, A. A evolução da sociedade internacional. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2008. 107 artigos e ensaios Nossa diplomacia no mundo da teoria Barbara Boechat de Almeida Artur Andrade da Silva Machado Como teoria e prática interagem no cotidiano da Política Externa Brasileira A oposição entre teoria (conhecimento contemplativo) e prática (conhecimento aplicado) é tema que motiva recorrente discussão. Para quase todos os desafios da vida em sociedade, abordagens teóricas e práticas convergem tanto quanto divergem, ao apresentar explicações e soluções. Nesse contexto, cabe perguntar: até que ponto a experiência prática pode beneficiar-se do pensamento teórico e vice-versa? A Revista JUCA decidiu trazer essa discussão para o a diplomacia brasileira, entrevistando cinco colegas: os Embaixadores Gelson Fonseca Junior e Georges Lamazière, o Ministro Alexandre Guido Lopes Parola e os secretários Rodrigo de Oliveira Godinho e Amena Martins Yassine. Em comum, os cinco diplomatas estimam incorporar pensamento teórico em suas atividades práticas. Desde o marco de criação da Cátedra de Política Internacional em Aberystwyth, no período entre-guerras, o debate especializado em relações internacionais expandiu-se exponencialmente na prática acadêmica. Hoje em dia, importantes universidades do mundo disponibilizam grades dedicadas ao estudo do que vem sendo chamado de Teoria das Relações Internacionais (TRI). No Brasil, por muito tempo o 108 pensamento teórico sobre relações internacionais manteve-se segmentado tematicamente, de modo que cada nicho das Ciências Sociais trazia uma visão própria sobre o assunto. Desde a década de 1970, contudo, começaram a ser criados institutos especializados em relações internacionais, de modo que, atualmente, diversas universidades do Brasil dedicam-se ao estudo e ensino de TRI. Começando do começo, deixamos claro que TRI é um conceito epistemológico cuja vocação é congregar sob um único termo os infindos postulados teóricos sobre relações internacionais. Esses postulados são tão diversos entre si que se convencionou dividi-los em correntes de pensamento. Assim, a comunidade acadêmica especializada em relações internacionais sole categorizar ideias e classificar pensadores em determinadas escolas teóricas: realistas, idealistas, institucionalistas, marxistas, construtivistas, críticos, feministas, pós-estruturalistas, pós-modernistas, normativistas, pós-colonialistas, entre muitas outras. No Instituto Rio Branco (IRBr), o ensino de TRI foi somado ao currículo do curso de formação bem mais recentemente que na academia. Segundo o Embaixador Gelson Fonseca Jr., isso se O diplomata trabalha com contradições e zonas cinzentas e, diante de uma situação concreta, não há tempo para pensar teoricamente. A teoria não é, por si mesma, um instrumento de política externa. Mas serve para criar sensibilidades; para formalizar atitudes que já estão presentes no pensamento de cada um e que ganham expressão nas funções práticas Embaixador Gelson Fonseca Jr. deve ao fato de o ensino de teoria ter-se consolidado no IRBr antes da institucionalização de TRI como matéria. Segundo o Embaixador, o Instituto sempre tentou – com iniciativas que variaram ao longo do tempo - fornecer a seus alunos fundamento teórico para suas ações. No passado, havia as disciplina de Teoria Política e de Teoria do Poder, baseadas nas formulações teóricas da ESG. Ao mesmo tempo, o Embaixador Saraiva Guerreiro ensinava teorias de direito. Nesse sentido, o IRBr tem sido responsável por criar interesse teórico em muitos diplomatas. Entre nossos entrevistados, três de cinco colegas afirmaram que teriam iniciado seu apreço por TRI no curso de formação do IRBr. Pensar como a teoria é usada no dia a dia da diplomacia é tanto mais interessante em momento em que a própria academia – pelo menos a norte-americana – vem se afastando da aplicação rigorosa das teorias de RI desenvolvidas até o momento. Em ”Leaving Theory Behind”, Walt e Mearsheimer argumentam que, atualmente, os pesquisadores têm sucumbido à tendência de tentar avançar o conhecimento apenas por meio do teste de hipóteses formuladas ad hoc. Após a análise de uma pequena quantidade de dados, formular-se-iam hipóteses que passariam a ser testadas exaustivamente, até serem comprovadas ou refutadas. Se na academia a tentação de fugir da contemplação teórica é grande, na prática ela é certamente maior. Entre aqueles que colocam em prática a Política Externa, a imensa pressão de tempo – a necessidade de achar soluções e respostas rápidas para os problemas – e também a diversidade na formação acadêmica podem desanimar os diplomatas a se engajarem em indagações teóricas. Contudo, nas conversas que tivemos com os colegas diplomatas que, apesar das dificuldades, decidiram se engajar no estudo de TRI, percebemos o diagnóstico comum de que o embasamento teórico é fundamental para organizar ideias e aumentar a capacidade de interpretação da realidade. Além disso, o uso de conceitos comuns ajuda a facilitar a comunicação, ao permitir o desenvolvimento de uma linguagem compartilhada por todos aqueles envolvidos com o estudo de teoria. Como comentou o Embaixador Gelson Fonseca, “a teoria ajudaria a criar maior sensibilidade”. Segundo Rodrigo Godinho, “por vezes é possível antecipar considerações do discurso de outras nações por meio do reconhecimento de categorias de correntes de TRI”. Essa análise é compartilhada por Amena Yassine, que comentou 109 artigos e ensaios Como dizia Karl Popper, todo cientista tem uma filosofia da ciência mesmo que não saiba que a tem. Com TRI é a mesma coisa Embaixador Georges Lamazière que “o conhecimento teórico muitas vezes nos permite perceber que tentam consolidar uma ideia de mundo que não é aquela que queremos patrocinar.” Com efeito, muitos dos conceitos do jargão prático de relações internacionais têm elevada carga teórica. Multipolaridade, Estados falidos, soberania, interesse nacional e muitos outros conceitos que usamos quotidianamente foram semanticamente preenchidos por proposições e análises originadas ou retrabalhadas na academia. Como ressaltou o Embaixador Lamazière, conscientizar-se sobre as premissas teóricas que basearam a formação de conceitos como esses permite ao diplomata desnaturalizar proposições, adotando retórica que defenda os interesses de seu país. Apesar das semelhanças em seus comentários, os diplomatas entrevistados têm afinidades teóricas bastante diferentes. O ponto fortalece o argumento apresentado por Joseph Nye Jr., em “Understanding Global Conflict and Cooperation”, em que o autor defende que a grande separação teórica em correntes de pensamento existente na academia não se transpõe para a prática. Na vida diplomática, diferentes teorias ajudariam a elucidar diferentes problemas, diferentes situações. Não é possível adotar apenas um arcabouço teórico para entender todas as situações que os diplomatas precisam interpretar e compreender. Outro ponto comum que permeia o discurso de nossos colegas é que a teoria tem um tempo necessariamente diferente do tempo da prática. Análises perfeitas e sem furos não servem para nada se obtidas depois do acontecimento do fato. O ideal científico de análise cautelosa e detida, de avanço do conhecimento, ainda é utópico para aqueles que trabalham com diplomacia. Talvez para os norte-americanos como Nye, apenas a diferença de tempos entre os dois campos dificulte a aplicação de arcabouços teóricos à prática. No caso brasileiro, a situação é mais complicada, já que teorias de RI são criadas, em grande medida, nas universidades do Norte Global. Em “A iminente revolução no mundo social”, Raewyn Connell chega a definir teoria como aquilo que é feito no norte. Segundo ela, haveria uma divisão do trabalho na área acadêmica, com clara dimensão geopolítica. A “periferia” seria a zona utilizada para a coleta de dados em grande escala e, mais tarde, após a sistematização teórica, a área para aplicação do novo conhecimento. Já o “centro” seria responsável pela formulação conceitual e metodológica, pelo processamento de dados e, finalmente, pelo debate intelectual. O texto trata das ciências sociais em geral, mas a preocupação não é estranha ao campo de RI. Vários textos críticos da área têm ressaltado a cegueira do arcabouço teórico disponível àqueles que estudam relações internacionais a partir do Sul. Afinal, as teorias não são apenas métodos para que se consiga prever ou explicar algo. Teorias informam quais as possibilidades de ação e intervenção humana. Elas informam o que vemos (nossa percepção de mundo) e sugerem o que devemos fazer (nossas receitas de ação normativa). A Teoria da Dependência não poderia ter sido desenvolvida no Norte, onde o problema da dependência não afeta a vida das pessoas. É nesse contexto que se tem Imaginar a prática sem a teoria é correr o risco de acreditar que a realidade se descortina ao olhar imediato; por outro lado, pretender que a teoria sozinha possa dar conta do esforço de atuação sobre o concreto é caminhar pela vereda das ideias que apenas entendem o mundo, sem o compromisso de transformá-lo Alexandre Guido Lopes Parola 110 A transição da teoria para a prática envolve um pouco de ciência, mas também um pouco de arte. O grande risco é quando a relação entre teoria e prática está desequilibrada e descolada de conhecimento empírico sólido Rodrigo de Oliveira Godinho, diplomata e professor de TRI no IRBr, desde 2011 apontado que a preponderância da produção estadunidense levaria o campo como um todo em direção a temas e preocupações que dizem respeito tão somente aos Estados Unidos. Como afirma Robert Cox, não existe uma teoria que seja independente de seu contexto histórico: “theory is always for someone and for some purpose”. Nesse sentido, seria preciso ter cautela ao fazer uso de muitos conceitos de TRI para a formulação de Política Externa Brasileira. A solução, evidentemente, não passa pela suposta não adoção de uma abordagem teórica. Afinal, por processos lentos, mas seguros, alguns postulados teóricos passam a fazer parte do senso comum das pessoas e, assim, passamos a defender certas verdades sem nem mesmo nos darmos conta que foram, um dia, apenas postulados teóricos. Certas suposições passam a ser verdades absolutas, das quais não temos consciência. A resposta possível é buscar teóricos de países do Sul Global. No caso brasileiro, essa diversificação foi incorporada como bandeira normativa, explicitada, por exemplo, no livro Concepts, Histories and Theories of Interna- É interessante pensar em como a PEB está relacionada com os principais conceitos das RI. O discurso da Presidenta Dilma na última sessão anual da Assembleia Geral da ONU, por exemplo, fala sobre democratização das instituições internacionais, que é uma discussão lançada pelo professor David Held. tional Relations for the 21st Century: Regional and National Approaches. O Embaixador Gelson Fonseca lembra, ademais, que, muitos diplomatas guiam suas ações por convicções teóricas próprias, muito embora não as tenham sistematizado. Exemplifica a proposição o caso do Embaixador Araújo Castro, que foi um dos maiores pensadores da nossa política externa. O Embaixador Araújo Castro não sistematizou seu pensamento, nem citava outros autores; teve, no entanto, uma densa formação teórica quando jovem, com influência de teóricos da ESG, de Hans Morgenthau, de Max Weber. É grande o esforço tanto para avançar o conhecimento teórico formulado no Sul, quanto para aproximar o lado que produz a reflexão do lado que a aplica. Como lembrou o Embaixador Lamazière, ao contrário dos Estados Unidos, em que alternância entre períodos de governo e períodos de academia permite aos funcionários do Departamento de Estado acumular capital intelectual para depois gastá-lo; no caso do Itamaraty, esse acúmulo tem de ocorrer durante a atividade prática e nos momentos de cursos de aperfeiçoamento, como o CAE e o CAD, concomitantemente ao interesse pessoal. O mais importante, nesse caso, é colocar a reflexão teórica como parte da vida dos diplomatas, uma vez que, como nos disse Alexandre Parola, “Os esforços de transformação da realidade não se podem dar sem a construção, por um lado, de diagnósticos específicos sobre os problemas a serem superados e, por outro, sem a construção de algo que os pósmodernos gostam de chamar de grandes narrativas. A produção desse diagnóstico e dessas narrativas é uma tarefa que nos cabe e entendo que para ela contribuirá, sim, o esforço de entendimento e de apreensão conceitual da realidade que é dado pela reflexão teórica.” Amena Martins Yassine, diplomata e professora de TRI no IRBr, entre 2010 e 2011. 111 artigos e ensaios Ordens e medalhas no Itamaraty Renato Levanteze Sant’Ana Breve apanhado sobre as muitas maneiras pelas quais o Ministério das Relações Exteriores reconhece e premia aqueles que honram o legado de Rio Branco 112 Uma ida ao Museu Histórico e Diplomático do Palácio Itamaraty no Rio de Janeiro é suficiente para transmitir ao público visitante a importância das condecorações na vida protocolar do corpo diplomático. Além de diversos bustos, que portam inúmeras insígnias fielmente reproduzidas, há uma saleta inteiramente dedicada a medalhas e a ordens estrangeiras recebidas ao longo da vida de alguns ilustres diplomatas de nossa história. Nessa sala estão expostas também algumas das condecorações outorgadas pelo Brasil a seus nacionais e a estrangeiros. O Itamaraty possui, porém, algumas condecorações em sua trajetória institucional que são hoje pouco conhecidas, inclusive por membros da casa. Esse artigo visa a trazer algumas curiosidades sobre a medalhística diplomática e, sobretudo, despertar o interesse do leitor para o tema. Primeiro, é necessário diferenciar ordem honorífica de medalha. Uma ordem é uma honraria concedida por Estado ou instituição e é composta não apenas por uma condecoração, mas pela inscrição do agraciado em um grupo hierarquicamente organizado em graus. Costumeiramente, uma ordem é divida em cinco graus: grã-cruz, grande oficial, comendador, oficial e cavaleiro, obedecendo a tradições das antigas ordens de cavalaria. Uma medalha, por sua vez, premia mérito específico e, embora possa apresentar variações de categoria (bronze, prata, ouro, por exemplo), não implica a adesão do agraciado a um grupo organizado. Não há necessária precedência de ordens sobre medalhas. O fato que originou o reconhecimento do agraciado costuma ser mais relevante que a honraria em si. O Decreto 40.556/56, que regula o uso de condecorações em uniformes militares estabelece uma ordem de prece- dência, na qual as ordens honoríficas têm relativo destaque, sendo precedidas apenas pelas medalhas concedidas por atos de bravura e por participação em combate. As ordens, por terem sido outrora ligadas a casas monárquicas e a privilégios de nobreza, foram extintas no Brasil com a primeira Constituição Republicana, juntamente com os títulos nobiliárquicos. Apenas em 1932, durante o Governo Vargas, elas voltaram ao Brasil por meio da reinstituição da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. A Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul foi a nova denominação da antiga Imperial Ordem do Cruzeiro, mas desta se diferencia por ter seu quadro composto somente por estrangeiros que tenham se tornado dignos do reconhecimento da Nação brasileira. O Chanceler da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul é o Ministro das Relações Exteriores, que, auxiliado pelo Cerimonial, processa as indicações e organiza as cerimônias de admissão e de imposição de insígnias. Ela possui um sexto grau, o grande-colar, destinado a agraciar altos dignitários, como Chefes de Estado. Poucas ordens brasileiras possuem o grau grande-colar. A ordem que ocupa, todavia, a maior atenção do Cerimonial é aquela entregue todo dia 20 de abril, nas comemorações do Dia do Diplomata: a Ordem de Rio Branco. Criada em 1963, a Ordem de Rio Branco homenageia o patrono da Diplomacia brasileira e contempla membros nacionais e estrangeiros. É composta pelos cinco graus tradicionais. Existe ainda, uma medalha de prata anexa à ordem. Essa medalha não pertence formalmente à ordem (não é um sexto grau), mas, não raro, é indevidamente classificada como “grau medalha”. A Ordem de Rio Branco possui um Quadro Ordinário, composto pelos diplomatas da ati- 113 artigos e ensaios ensaios va, com um número limitado de membros, bem como um Quadro Suplementar, ilimitado, composto por diplomatas aposentados e demais pessoas físicas e jurídicas. A maior parte das ordens brasileiras possui essa divisão entre Quadro Ordinário e Suplementar (ou Especial). Sempre o Quadro Ordinário visa a agraciar o pessoal da ativa de determinada carreira (isso ocorre nas Ordens do Mérito da Defesa, do Mérito Naval, do Mérito Militar, do Mérito Aeronáutico, etc.) ou a agraciar nacionais (ordens mais gerais como a Ordem Nacional do Mérito, Nacional do Mérito Educativo, do Mérito Judiciário do Trabalho, etc.). Em todas essas ordens, o Quadro Ordinário tem efetivo limitado e todos seguem uma estrutura piramidal, em que o grau mais baixo (cavaleiro) possui maior número de membros que os demais graus. O efetivo diminui a cada grau até o último (grã-cruz ou grande-colar), seguindo a lógica de hierarquia. A única exceção dentro das ordens nacionais é a Ordem de Rio 114 Branco, que, sem aparente motivo, possui a forma de uma pirâmide invertida, com um efetivo maior de membros grã-cruz que comendadores, oficiais e cavaleiros somados. Aliás, o grau grãcruz é ilimitado no Quadro Ordinário. No que se refere às medalhas, o Itamaraty concede, regularmente, apenas três. A primeira e mais comum é a já mencionada Medalha de Rio Branco (anexa à Ordem de Rio Branco). As outras duas são as Medalhas Prêmio Lafayette de Carvalho e Silva e Prêmio Barão do Rio Branco. A primeira medalha-prêmio (termo comumente utilizado para medalhas que agraciam desempenho acadêmico-escolar) é destinada aos primeiro (em prata) e segundo (em bronze) colocados no Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata. Já a Prêmio Barão do Rio Branco é recebida pelos primeiro (vermeil – uma combinação de prata, ouro e outros metais) e segundo (prata) colocados no Curso de Formação do Instituto Rio Branco. Em 2010, a Lei 12.281 criou a Medalha Sérgio Vieira de Mello, de responsabilidade do MRE, com o objetivo de reconhecer serviços de excepcional relevância em proveito das relações exteriores ou do Direito Humanitário prestados por pessoas físicas ou jurídicas. Seu estatuto ainda não foi concluído. Em outros períodos da História, o Itamaraty condecorou brasileiros e estrangeiros com medalhas comemorativas, criadas para celebrar eventos relevantes e destinadas a reconhecer o esforço dos agraciados na organização das festividades ou na perpetuação da memória histórica do fato celebrado. Temos como exemplo a Medalha Centenário do Barão do Rio Branco, criada em 1945, a Medalha Centenário de Lauro Müller, criada em 1964, e a Medalha Palácio Itamaraty, criada em 1999, para comemorar o centenário do Palácio Itamaraty no Rio de Janeiro como sede do Ministério das Relações Exteriores, nunca re- gularizada ou outorgada. São medalhas que acompanharam as festividades do momento e que, portanto, não são mais entregues. Como se pode ver, existem inúmeras condecorações no âmbito do Itamaraty, mas o tema perdeu relevância nos tempos mais recentes. No que tange à medalhística diplomática brasileira, o desafio parece ser conseguir atrelar a prática de condecorar ao objetivo maior de valorização de mérito no seio da carreira. Para além das paredes do Palácio, o gesto de condecorar é um claro sinal de reconhecimento e prestígio outorgado pelo Itamaraty aos demais brasileiros e estrangeiros e não pode ser menosprezado. Resta à Casa de Rio Branco continuar o aprimoramento de seus estatutos de condecorações no sentido de adequar uma prática tão tradicional às exigências de um Ministério das Relações Exteriores cada vez maior e mais atuante no cenário internacional. 115 artigos e ensaios 116 As caretas do Barão: charges sobre o Chanceler entre 1908 e 1912 Luana Alves de Melo A obra e a vida de José Maria da Silva Paranhos Júnior foram objeto de intensa discussão no país, suscitando manifestações populares e diversas publicações. Essas representações não eram isentas, mas imbuídas de visões de mundo, no que diz respeito ao papel da imprensa em relação à política externa e à conduta do Barão do Rio Branco. Nesse contexto, a revista Careta é de especial interesse, pois, por ser uma publicação nova, de teor humorístico e satírico, possuía uma linha editorial responsável por críticas irreverentes. A política externa não é seu principal assunto; entretanto, questões mais polêmicas são discutidas, como a relação entre Brasil e Estados Unidos, o imperialismo de alguns países, os acontecimentos relacionados à I Guerra Mundial e as relações com os vizinhos. 117 artigos e ensaios A intenção do ensaio é fornecer uma leitura crítica e contextualizada das charges e anedotas da revista, porventura revelando manifestações da imprensa que ainda não haviam sido estudadas. A análise de Careta pode desvelar mais significados que a leitura de uma publicação jornalística comum. O interesse desse tipo de estudo já foi demonstrado no ano do centenário do falecimento do Barão, ocasião em que as caricaturas do chanceler foram estudadas de forma mais profunda, com exposições, como a promovida pela Fundação Alexandre de Gusmão, e o lançamento de um livro sobre o tema (“O Barão do Rio Branco e a Caricatura”, da historiadora Ângela Porto). A revista Careta A imprensa brasileira, no início do século XX, passou por transformações causadas pela modernização e por mudanças sociais. A imprensa periódica era, então, o veículo difusor da modernidade e desenvolveu novos códigos, privilegiando uma linguagem simples para retratar o cotidiano (GARCIA, 2005, p. 29). Segundo Garcia, “Os humoristas e caricaturistas encontraram nesta imprensa moderna um espaço fértil para a produção de figuras e desenhos [...] alcançava um novo tipo de público: a população analfabeta” (Ibid., p. 30). Influenciada pela argentina Caras y Caretas (Ibid., p. 31), Careta se propunha a ser irreverente e crítica – principalmente em relação à política e aos costumes sociais – configurando-se como uma das mais importantes revistas de sua época (SODRÉ, 1977 APUD GARCIA, op. cit., p. 35). A linguagem provocativa e o apelo visual das charges – que chegaram a gerar conflitos com o governo – resultaram na longa duração das publicações e no sucesso de público. Publicada sem interrupções de 1908 a 1960, “foi um empreendimento do jornalista e empresário Jorge Schmidt, […] [que optou] por uma publicação mais simples e, por isso mesmo, mais popular: a Careta” (GARCIA, op. cit., p. 29). Müller destaca a importância de categorizar Careta corretamente: mais do que uma revista humorística, re- 118 tratava os costumes da época, de “cunho jornalístico e de costumes, […] utilizava frequentemente a artifício das imagens […] para representar o panorama da sociedade” (MULLER, 2011, p. 213). A metodologia adotada para a análise foi a de leitura crítica, tentando revelar as estratégias discursivas e as relações com o contexto histórico a que pertencem. As charges foram cuidadosamente interpretadas, por se julgar que apresentam elementos significativos para se entender o imaginário da época no que diz respeito ao Barão do Rio Branco, além de ser um importante índice para a análise da opinião pública. O termo charge, utilizado nesse trabalho, não se confunde com a ideia de caricatura; ao contrário, transcendea, pois não é apenas um desenho em que as características do objeto ou ser desenhado são exageradas. A charge refere-se a uma forma de representação humorística, caricatural e de caráter potencialmente político que satiriza um fato específico. […] Os desenhos de humor produzidos pelos artistas do traço representam uma forma de interpretação de sua realidade circundante, e são, ao mesmo tempo, reflexos diretos da produção cultural da sociedade na qual estão inseridos. Como produto cultural específico de um grupo, a caricatura não se define apenas pela semelhança entre o caricaturado e seu retrato, mas pelo caráter identitário estabelecido entre o meio produtor e o público. E, por engendrar novos sentidos, as charges também são portadoras de representação (GARCIA, op. cit., pp. 71-73). O período foi escolhido por apresentar coincidência entre a publicação da revista – lançada em 1908 – e os anos finais de atuação do Barão. As representações relacionadas ao Barão do Rio Branco estavam concentradas, quantitativa e qualitativamente, nos meses próximos ao episódio do telegrama nº 9 e ao falecimento do chanceler brasileiro. O interesse pela produção da revista Careta se amplifica quando as dimensões visuais – charges e caricaturas – e escritas – legendas – são consideradas, uma vez que a conjunção das duas vertentes de comunicação pode ampliar a gama de significados discutidos. A estratégia de humor iconográfico em conjunto com a palavra escrita pode comunicar mais, em decorrência da maior dificuldade do governo de censurar esse tipo de publicação. 119 artigos e ensaios A opinião pública e a Política Exterior no Brasil Segundo o senso comum, a opinião pública, no Brasil, teve, historicamente, pouco interesse sobre as questões de política externa. Entretanto, o interesse pelo assunto tem aumentado principalmente após a redemocratização do país, devido a transformações tecnológicas. Conforme afirma Faria, O caráter insulado do processo de produção da política externa brasileira, fortemente centralizado no Itamaraty, tem sido amplamente reconhecido. Há, porém, indícios de alterações importantes nesse padrão tradicional, a partir do início da década de 1990 (FARIA, 2008, p. 80). Entre as causas para tal fenômeno, menciona-se o não envolvimento do país em guerras e a resolução dos problemas fronteiriços – um 120 feito pelo qual se homenageia, principalmente, o Barão do Rio Branco –, assim como a autonomia do Executivo; a delegação feita pelo Legislativo ao Executivo; o caráter do presidencialismo; o isolamento autárquico do modelo desenvolvimentista; e a profissionalização e o prestígio do corpo diplomático (Ibid., p. 81). A situação de insulamento da política externa e a falta de dados acessíveis conduzem à ausência de obras interpretativas acerca da importância da opinião pública para a política exterior do país. Conforme Manzur, a ausência de estudos mais sistemáticos não implica, entretanto, a inexistência de interesse sobre o assunto (MANZUR, 1999, p. 30), e a intenção desse trabalho é justamente entender um pouco da opinião pública da época, por meio da análise dos exemplares de Careta. Manzur conceitua o termo opinião pública como um “conjunto das correntes de pensamento expressas em um país em determinado período” (Ibid., p. 30), que engloba a expressão de grupos políticos, econômicos e sociais, naquilo em que apresentem um consenso. Segundo Sartori, As opiniões não são inatas, nem surgem do nada. A questão “o que é opinião pública?” é melhor respondida através de três processos e na seguinte ordem: (a) a disseminação de opiniões a partir de níveis da elite; (b) o borbulhar de opiniões a partir das bases; e (c) identificações com grupos de referência. (SARTORI, 1994, p. 132) Nesse sentido, a revista Careta tem importante papel. Por ser revista identificada, geralmente, com as classes menos abastadas, por ser de fácil compreensão e por ser vendida a preços acessíveis, a revista influencia o segundo aspecto, isto é, a repercussão dos fatos sob o ponto de vista a partir das bases e das massas do país. Em relação à opinião pública, Manzur atesta que é muito importante “o papel da imprensa, que tanto espelha quanto induz a formação de opiniões” (MANZUR, op. cit., p. 31). De fato, no Brasil, a imprensa é um dos maiores medidores das diferentes correntes de pensamento, ao mesmo tempo em que constitui forte variável de influência da população, uma vez que é por intermédio da mídia que a sociedade tem, muitas vezes, acesso às informações. A Careta não deixou de se posicionar acerca dos temas internacionais entre os anos de 1908 e 1912. Embora o tema principal da revista fosse a vida da sociedade brasileira, os temas internacionais também receberam atenção. Além das matérias e figuras relativas às outras searas do sistema internacional e de cobertura sobre a vida social das embaixadas, com cobertura fotográfica e escrita sobre bailes, jantares e recepções promovidos por embaixadas e legações estrangeiras e pelo serviço diplomático, a revista teve uma ampla cobertura sobre acontecimentos relacionados ao Barão. No período estudado, foram vinte e cinco charges, excluindo-se outras representações nas quais o Barão costumava estar presente. Ademais, a temática esteve presente em cinco capas da revista. O Barão na revista Careta Os episódios relacionados ao Barão entre 1908 e 1912 foram amplamente representados na revista Careta. O método de análise escolhido para interpretar essas representações foi o de leitura crítica, com intenção de explicitar as estratégias de legitimação ou de crítica à condução da política externa do Brasil. No caso das charges, que contam com recursos visuais e textuais, como o uso de legendas, buscar-se-á demonstrar as estratégias utilizadas para demonstrar ao leitor as causas da posição adotada pela revista. O estudo cronológico dessas representações, embora possa fornecer um panorama interessante, é, de certa forma, fatigante, e faz perder a oportu- 121 artigos e ensaios nidade de organizar essas representações em torno de eixos de significação. Dessa forma, a análise das figuras foi estruturada em torno de quatro temas que foram recorrentes entre 1908 e 1912. O primeiro tema trata das querelas que envolveram o chanceler brasileiro e o argentino Estanislao Zeballos – principalmente o telegrama nº 9 –, enquanto o segundo faz leves críticas ao Barão, tanto no que diz respeito à sua relação com o Legislativo brasileiro quanto no que diz respeito à gestão do serviço diplomático brasileiro. A terceira temática trata 122 de assuntos relacionados à política internacional e regional então em voga. Finalmente, um quarto grupo temático trata das manifestações de apreço, da legitimidade e do prestígio do Barão do Rio Branco, ao longo dos anos estudados e por ocasião de seu falecimento. Estanislao Zeballos esteve nas capas de Careta, caracterizado satiricamente como “tradittore de telegramas”, em uma alusão ao episódio do telegrama nº 9 (Careta, Rio de Janeiro, ano I, nº 23, 7 de novembro de 1908, capa). Na mesma charge, aparece a imagem do Barão, a perseguir figura feminina identificada como a paz. No que diz respeito às charges que tratavam de temas relacionados à política internacional, a questão que envolvia Zeballos foi uma das mais constantes na publicação, pelo menos no período estudado. Foram oito menções, diretas ou indiretas, ao chanceler argentino, todas em 1908. Na quarta edição da revista, aparece a primeira charge relativa ao tema, intitulada “A renúncia Zeballos” (Careta, Rio de Janeiro, ano I, nº 4, 27 de junho de 1908, p. 13). Zeballos, em segundo plano, com chapéu e livros nas mãos, está em atitude cabisbaixa que sugere sua partida e aparente decepção, enquanto a figura do Barão, apoiada em uma mesa, em primeiro plano, deixa transparecer a ideia de permanência, o que se coaduna com a legenda da charge, “Barão: … Enfim só”. Na charge “o meeting Zeballos” (Careta, Rio de Janeiro, ano I, nº 18, 3 de outubro de 1908, p. 19), o chanceler argentino é retratado a fazer um discurso, posicionado em cima de uma série de livros. Na verdade, trata-se de uma forma de escárnio da revista, pois a suposição é a de que Zeballos é retratado da forma como se vê: gigante, perto de outros tão pequenos. Acometido por grande vaidade, o diplomata argentino se sobrepõe aos livros e às leis, enquanto o Barão é retratado ao rés do chão – ou seja, consciente da realidade que o cerca. O argentino foi objeto de charge novamente (Careta, Rio de Janeiro, ano I, nº 20, 17 de outubro de 1908, p. 16), em ilustração que retrata Assis Brasil a segurar o topete de Zeballos, intitulado como “vaidade”. Ao ser perguntado de que destino dar à cabeleira, o Barão é enfático: “Guarda... na prateleira das Missões”. O Barão não é representado como a contraposição direta a Zeballos, mas como diplomata competente e consciente de suas vitórias, enquanto o diplomata argentino parecia basearse, segundo a opinião de Careta, em vaidades. A revista chega a ser ainda mais direta em relação a Zeballos, publicando, ainda em 1908, a charge “A biographia de um idiota” (Careta, Rio de Janeiro, ano I, nº 24, 14 de novembro de 1908, p. 13), sobre a trajetória de Zeballos. A revista chama-o de “Saltimbanco ridículo” e “vaidoso cretino”, entre outros apelidos, sem referir-se ao seu nome até o final da charge – a figura que o retrata, porém, é inconfundível. A revista retrata, ironicamente, a forma pela qual o diplomata, alçado à condição de chanceler, foi destituído do cargo posteriormente, chafurdando-se no “pântano mais próximo”. Depois dessa derrota, “após alguns segundos de martírio indizível, a triste vítima conseguiu desapegar-se do lodo, e num esforço supremo, abraçou-se a uma estaca misericordiosa cuja extremidade apodrecida atravessava as profundezas do charco”, pântano a que se nomeia “ridículo”. A estaca a que se refere o texto aparece na charge com a legenda de “La prensa”, e Zeballos nela se apoia para proferir discurso violento contra “os autores de seu infortúnio”. O diplomata argentino, porém, exalta-se excessivamente, caindo novamente no pântano, para sempre assombrado após a morte – metafórica, ou seja, o ostracismo – de Zeballos. Careta também tratava de outros assuntos relacionados à política internacional, em tons que nem sempre eram elogiosos ao Barão do Rio Branco. Em “A posteridade é nossa” (Careta, Rio de Janeiro, ano I, nº 5, 4 de julho de 1908, p. 13), os caricaturistas se baseiam em uma notícia do jornal O Paiz - “à semelhança dos Estados Unidos, a República Francesa vai deixar os seus negócios e os interesses de seus nacionais em Venezuela a cargo da legação brasileira em Caracas”-, para fazer uma crítica à gestão do Barão. A legação brasileira em Caracas é representada como uma mulher frágil e atribulada, pois tem que dar conta dos interesses americanos e dos interesses franceses, além dos assuntos brasileiros. Enquanto o Barão a assiste impassível, a legação solicita, por piedade – o que reforça sua fragilidade e o fato de que está sobrecarregada-, ser alçada à condição de embaixada, ao que o Barão responde: “Ora, deixe-se de tolices. Eu sou ministro... dos estrangeiros”, no que é uma crítica ao suposto descaso para com os nacionais brasileiros e para com o serviço diplomático. Outra questão bastante criticada em 1910 foi a da politicagem na qual o Barão estaria supostamente envolvido, e os danos de tal contexto aos interesses nacionais. Na charge “Um belo trabalho” (Careta, Rio de Janeiro, ano III, nº 85, 15 de janeiro de 1910, p. 15), a Câmara, representando, de modo geral, os políticos da época, é retratada como uma senhora mais velha, de traços um tanto toscos e sugerindo certa malícia e maldade, que está prendendo o Barão no tronco da politicagem – como se 123 artigos e ensaios fosse, mesmo, um escravo de conchavos políticos. A legenda da charge é clara: “O patriotismo tal qual o interpretam os politiqueiros da cadeia velha”, ou seja, os integrantes do mais antigo grupo de políticos da República – que estavam envolvidos com a política desde a Monarquia. Parece ser da opinião da revista que não é uma opção para o Barão o envolvimento com a Câmara, mas uma necessidade, devido à importância do Legislativo nas decisões orçamentárias. Essa interpretação se confirma quando a charge “Um pélago de lama” (Careta, Rio de Janeiro, ano III, nº 84, 8 de janeiro de 1910, p. 19), que tratava da questão da concessão do condomínio da Lagoa Miriam ao Uruguai, é analisada. O pragmatismo do Barão, que precisa da Câmara para aprovar determinadas decisões, é em parte criticado – por manchar o idealismo das ações de política externa – e em parte tolerada – por sua necessidade. Outro grupo de charges retrata os assuntos de política regional e internacional e sua relação com o Barão. Em particular, chama a atenção charge sobre o ABC, em que o Barão é retratado como um professor tentando ensinar a três crianças – vestidas com as cores das bandeiras do Chile, da Argentina e do Brasil – os princípios e as vantagens do agrupamento, sem obter sucesso (Careta, Rio de Janeiro, ano III, nº 120, 17 de setembro de 1910, capa). O Barão é então representado como um grande mestre das relações regionais. Em outra ocasião, a questão da importação das farinhas americanas é tratada (Careta, Rio de Janeiro, ano IV, nº 141, 11 de fevereiro de 1911, capa). O Tio Sam é representado com as cores e formas típicas, a carregar farinha americana. O Barão aparece abrindo o que seriam as portas do Brasil para tal importação, em nome da amizade que une os dois países. Em uma representação que flutua entre crítica e tolerante, o pragmatismo do chanceler brasileiro é mais uma vez retratado. 124 O prestígio do Barão é patente quando se constata que estava presente já nas primeiras capas de Careta. Durante o ano de 1908, a revista teve suas capas ilustradas por personalidades artísticas culturais e políticas, como o presidente da República, Afonso Pena, “O Chefe”; Ruy Barbosa, representado jocosamente ao lado de um Código Civil que ampara uma cadeira; e o doutor Osvaldo Cruz, “general da Brigada Mata Mosquitos”, entre tantos outros. O retrato do chanceler brasileiro, com expressão séria, estampa a capa da segunda edição da publicação (Careta, Rio de Janeiro, ano I, nº 2, 13 de junho de 1908, capa). Outra mostra de seu prestígio político está na charge “Gata Ministerial” (Careta, Rio de Janeiro, ano IV, nº 171, 9 de setembro de 1911, p. 11), sobre a composição do próximo gabinete, em que o Barão é mencionado nos seguintes versos: “Nesta gata certamente Quem tem melhor posição E não sae, nem que arrebente É o Barão” A habilidade do chanceler brasileiro é louvada na charge “No ‘ground’ Itamaraty” (Careta, Rio de Janeiro, ano I, nº 7, 18 de julho de 1908, p. 23), em que o Barão é representado como hábil jogador que maneja com maestria a bola “política internacional”, conforme a legenda da charge: “Si hay un valiente que quiera luchar con otro valiente, que venga”, estrategicamente em espanhol, devido ao contexto da crise do Telegrama nº 9. Finalmente, por ocasião do falecimento do Barão, Careta rende diversas homenagens ao Barão. Na edição imediatamente posterior à sua morte, a revista, com cerca de cinquenta páginas, dedicou mais de vinte páginas ao Barão, com fotografias e textos sobre o diplomata e seu sepultamento, em uma demonstração do prestígio do chanceler brasileiro (Careta, Rio de Janeiro, ano V, nº 194, 17 de fevereiro de 1912, passim). A edição posterior teve como capa uma das charges mais laudatórias de Careta, com a apresentação dos muitos ganhos que a atuação do Barão trouxe ao Brasil, entre os quais podem ser citados o Acre, a questão do Amapá, as Missões, as vitórias na Haia (Careta, Rio de Janeiro, ano V, nº 195, 24 de fevereiro de 1912, capa). Esse conjunto de êxitos é apresentado na charge como uma carga pesada e difícil para o substituto do Barão à frente da chancelaria brasileira, Lauro Müller. Considerações finais em seu conjunto, uma visão articulada, que não deixa de apresentar as contradições que já faziam parte do imaginário brasileiro à época. A revista Careta é, na ausência de outros dados, um importante fator de mensuração da opinião pública brasileira no início do século XX, mesmo porque atendia a um público que nem sempre recorria a outras leituras. Nas ocasiões em que o interesse nacional foi confrontado mais drasticamente, segundo os produtores da revista, essa opinião pública torna-se menos sutil, mais exagerada, atingindo maior número de charges e capas. Essas fontes já apresentavam uma visão de mundo específica, cujas representações, longe de apenas informar, compartilham interpretações e críticas. Foi possível apreender um pouco do pensamento da sociedade da época, demonstrando-se que, em consonância ou em desacordo com a posição oficial, o pensamento sobre a realidade internacional foi, no período, abundante. Coexistiam, dessa forma, representações que expressavam a legitimidade do Chanceler brasileiro e que criticavam alguns de seus atos. As críticas aos vizinhos ou a outros atores da Política Internacional eram frequentes. Manifestou-se apoio ao Barão, muito embora isso não signifique que as representações de Careta fossem totalmente favoráveis à condução de política externa do país; como era de se esperar, a revista também apresentou críticas pontuais. Finalmente, a revista também apre- A análise das publicações de Careta entre 1908 e 1912 tanto limitou o escopo da pesquisa quanto revelou a repercussão que o chanceler teve, mesmo entre setores mais populares, em um período que seu prestígio estava consolidado. Em decorrência de sua veia humorística, a revista Careta pôde fazer análises da situação que, se não foram exatamente profundas em sua individualidade, demonstraram, 125 artigos e ensaios Referências Arquivos pesquisados Acervo Digital da Biblioteca Nacional. Disponível para acesso em <http://bndigital.bn.br/wdl.htm>. Careta, Rio de Janeiro, 1908-1912. Disponível para download no sítio eletrônico <http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_periodicos/Careta/Careta_anos.htm>. Último acesso em 25 de setembro de 2012. Referências bibliográficas SARTORI, Giovanni. A Teoria da Democracia Revisitada. São Paulo: Editora Ática, 1994. P. 132 SODRÉ, Nelson Werneck. História da Imprensa no Brasil. Rio de Janeiro: Graal, 1977. APUD GARCIA, S., op. cit., p. 35 FARIA, Carlos Aurélio Pimenta de. Opinião pública e política externa: insulamento, politização e reforma na produção da política exterior do Brasil. Rev. bras. polít. int., Brasília, v. 51, n. 2, Dec. 2008. Disponível para consulta no sítio eletrônico <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_ arttext&pid=S0034-73292008000200006&lng=en&nrm=i so>. Último acesso em 20/12/2011. sentou charges cujo conteúdo se referia ao lugar do Brasil no mundo, principalmente no que diz respeito às suas relações com os vizinhos mais próximos. Essas ideias, embora aparentemente desconexas, fazem parte de um coeso sistema de pensamento sobre a imagem que a sociedade brasileira tem sobre a atuação do país em âmbito externo. Se for verdade que, em 1908, a população apresentava essa espécie de reflexão – em uma relação de influência mútua e interação complexa entre a sociedade e as representações apresentadas em Careta -, cotejar o passado com o presente permite concluir que, enquanto alguns desses pensamentos parecem obsoletos – como é o caso da rivalidade com países vizinhos –, outras, embora claramente transformadas pelo novo contexto interno e internacional, sobrevivem. 126 MANZUR, TÂNIA MARIA PECHIR GOMES. Opinião pública e política externa do Brasil do Império a João Goulart: um balanço historiográfico. Rev. Bras. Polít. Int. 42 (1): 30-61 [1999]. P. 30. Disponível para consulta no sítio eletrônico <http://www. scielo.br/pdf/rbpi/v42n1/v42n1a02.pdf>. Último acesso em 20/12/2011. GARCIA, Sheila Nascimento. Revista Careta: um estudo sobre humor visual no Estado Novo (1937 – 1945). Dissertação (Mestrado) – Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Faculdade de Ciências e Letras de Assis, 2005. Disponível para consulta no sítio eletrônico <http://www.athena.biblioteca.unesp.br/exlibris/bd/bas/33004048018P5/2005/garcia_sn_ me_assis.pdf>. Último acesso em 20/12/2011. MULLER, Fernanda Suely. (Re)vendo as páginas, (re)visando os laços e (des)atando os nós: as relações literárias e culturais luso-brasileiras através dos periódicos portugueses (1899-1922). 2011. 2 v. Tese (Doutorado). Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, 2011. Disponível para consulta no sítio eletrônico <http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=fernanda%20 suely%20muller%20doutorado%20revista%20Careta&sourc e=web&cd=1&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww. teses.usp.br%2Fteses%2Fdisponiveis%2F8%2F8150%2Ftde10082011-132047%2Fpublico%2F2011_FernandaSuelyMuller.pdf&ei=aOL0TqG8DIaXtwfChpjQBg&usg=AFQjCNEiqCzR vdoYzW4kYQ262Y3iN-h3aA>. Último acesso em 20/12/2011. DIPLOMACIA E HUMANIDADES Juca Diplomacia e Humanidades - Número 06 - 2012 IRBr 06 Ano 6 - 2012 juca.irbr.itamaraty.gov.br A revista dos alunos do Instituto Rio Branco NESTA EDIÇÃO: DOSSIÊ Política externa e redemocratização: com a palavra, os Presidentes Patriota, um perfil pessoal A pena e a renda: literatura e diplomacia Mulheres no Itamaraty de antanho Os rubicões da Rio+20 Memórias de além-túmulo: o Barão, redivivo Instituto Rio Branco O que é Juca? É a revista anual dos alunos do Curso de Formação em Diplomacia do Instituto Rio Branco. Compõem o universo temático deste periódico a diplomacia, as relações internacionais, as demais ciências humanas, as artes e a cultura - todas agrupadas sob o binômio “Diplomacia e Humanidades”. Concebida para refletir a produção acadêmica, artística e intelectual dos alunos da academia diplomática brasileira, a Juca visa também recuperar a memória da política externa do País e difundi-la nos meios diplomático e acadêmico. Por que Juca? REVISTA JUCA José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Chanceler que ingressou no panteão dos heróis nacionais na qualidade de patrono da diplomacia brasileira, era conhecido nos seus dias de juventude e boemia como Juca Paranhos - à época, ainda despido de honraria nobiliárquica que viria a batizar nossa academia diplomática. Fosse o Itamaraty do século XIX organizado como é hoje, o jovem diplomata que consolidara as fronteiras nacionais e estabeleceria novo paradigma para a política externa brasileira, seria tratado, em sua temporada na academia diplomática, por Terceiro Secretário Juca Paranhos. A revista elaborada pelos diplomatas recém-ingressados no Instituto Rio Branco presta homenagem à política exterior legada pelo Barão do Rio Branco e ao próprio, que antes das glórias nas questões arbitrais e políticas foi o... Juca. juca.irbr.itamaraty.gov.br
Download