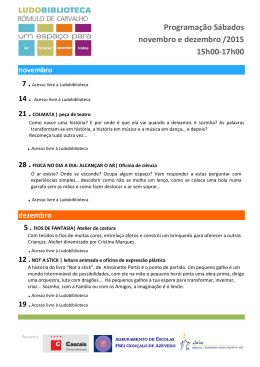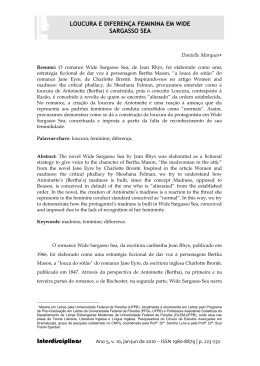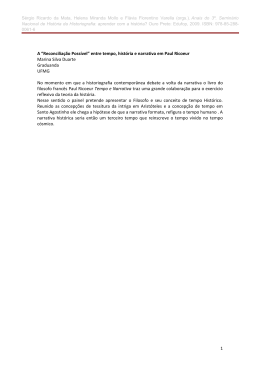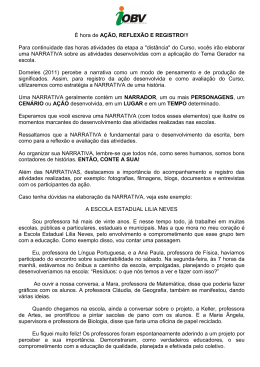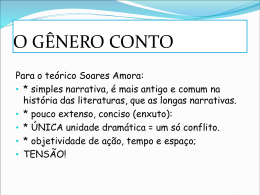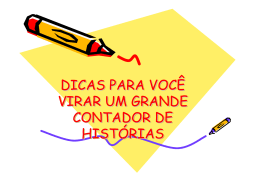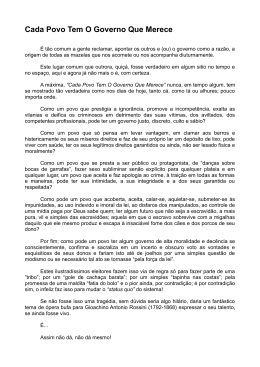WIDE SARGASSO SEA: UMA RELAÇÃO DE PODER E DESEJO WIDE SARGASSO SEA: A RELATION OF POWER AND DESIRE Maria Conceição Monteiro* Resumo A narrativa em Wide Sargasso Sea (Jean Rhys, 1966) tanto trata de desejo quanto o usa como dinâmica de significações. A própria estrutura do texto, com seus dois narradores (Antoinette e Rochester), torna evidentes as relações de desejo. A narrativa estabelece um sistema de transformações e troca em que o dinheiro, o desejo erótico e o discurso tornam-se fatores cambiáveis num espaço de poder. O romance é, assim, construído por narrativas tecidas pelas vozes dos protagonistas (Antoinette e Rochester), que contam suas histórias, tendo como eixo central experiências relacionadas a poder e desejo. Palavras-chave: Casamento, Poder, Desejo Erótico, Corpo. Abstract The narrative in Wide Sargasso Sea (Jean Rhys, 1966) not only deals with desire but uses it as a dynamic of significations. The structure of the text itself, with two narrators (Antoinette and Rochester), makes evident the relations of desire. The narrative establishes a system of transformation and exchange where money, erotic desire and discourse become interchangeable in a space of power. The novel is thus constructed by narratives woven by the voices of the protagonists (Antoinette and Rochester) who tell their histories, having as central axis experiences related to power and desire. Key words: Marriage, Power, Erotic Desire, Body. 1 Considerações Preliminares O romance Wide Sargasso Sea (Jean Rhys, 1966/1977) tanto trata de desejo quanto usa esse tema como dinâmica para as significações. A própria estrutura do texto, com seus dois narradores (Antoinette e Rochester), põe em evidência as relações de desejo. A narrativa estabelece um sistema de transformações e troca em que o dinheiro, o desejo erótico e o discurso tornam-se fatores cambiáveis num espaço de poder. Na economia da narrativa libidinal, o desejo é experienciado por Rochester como forma de descoberta de si por meio do outro, do exótico, do selvagem. Antoinette, por sua vez, o experiencia como energia corporal, carnal, desejo desnudo, desejo por desejo. Nos dois ramais narrativos, contudo, o desejo é fonte de energia, prazer, poder, desespero e destruição. O romance é, assim, construído por narrativas tecidas pelas vozes dos protagonistas, que contam suas histórias tendo como eixo central experiências relacionadas a desejo e poder. A leitura do romance ora proposta se acha dividida em três partes. Inicialmente, exponho as reflexões de Hegel sobre o tema Senhor / escravo, para, em seguida, apresentar uma visão panorâmica da narrativa, propondo, por fim, a focalização de certos dos seus segmentos a que chamo “cenas”, analisados em referência a um conjunto integrado de categorias: desejo erótico, corpo feminino, sonho e memória. 2 Reflexões de Hegel: tema Senhor / escravo Em “Independence and dependence of self-consciouness: lordship and bondage” (1979, p. 111-119), Hegel assume que o sujeito tem consciência de si quando essa consciência é reconhecida pelo outro. Para que tal reconhecimento ocorra, no entanto, é necessário que o outro seja anulado em sua essência, pois o sujeito absoluto é o “Eu”. Assim, o outro é, para o sujeito, objeto sem essência, objeto negativamente caracterizado, donde todo desejo humano ser um desejo por reconhecimento. Consequentemente, falar da origem da autoconsciência é necessariamente falar de uma luta de morte pelo reconhecimento. De acordo com a noção de reconhecimento desenvolvida por Hegel, isso é possível somente quando cada um é para o outro o que o outro é para si mesmo. Ou seja, quando cada um no seu próprio ser, pela sua ação e pela ação do outro, adquire a abstração pura de ser-por-si. Tal ação, todavia, implica a morte do outro. Dessa forma, a relação dos dois indivíduos é constituída de tal maneira que se experiencia mediante uma luta de morte e de vida. A luta se faz necessária, pois os contendores precisam levantar a certeza de ser por si mesmos na verdade. E a liberdade só é obtida quando a vida é arriscada. Da mesma forma que se arrisca a própria vida, cada um busca a morte do outro, pois valoriza o outro não mais que a si mesmo. O outro é uma consciência imediata envolta numa variedade de relações e tem que considerar a sua alteridade como negação absoluta. A morte, contudo, destrói a verdade e, consequentemente, a certeza do ser. Uma vez que a vida é o espaço natural da consciência independente sem negatividade absoluta, então a morte é a negação natural da consciência, negação sem independência que permanece sem reconhecimento. Assim, a destruição é nada mais que uma necessidade extrema de ser por si mesmo ou de ter uma existência própria. Entretanto, o reconhecimento do outro implica a renúncia do seu desejo para satisfazer o desejo do outro; o sujeito deve reconhecer o outro sem ter o reconhecimento de si atestado. Tal reconhecimento simboliza a relação entre um ser superior e um ser inferior. Donde o fato de que falar da origem da autoconsciência é falar da autonomia e dependência da autoconsciência do Senhor e do escravo. Quem se quer reconhecido pelo outro não quer, por sua vez, reconhecer o outro. Entretanto, cada um desses indivíduos é subjetivamente certo de si, mas não do outro. Daí a certeza subjetiva de si não constituir ainda uma verdade. A verdade só existirá quando for universal e válida. Assim, a verdade do indivíduo, ou a revelação da sua realidade, consequentemente, pressupõe uma luta de morte. E é somente pelo risco de vida que a liberdade desponta. Donde se conclui que a consciência é nada exceto ser-por-si (cf. Kojève, 1980, p. 12). No entanto, destruir o outro por meio da luta é destruir também a própria verdade. Dessa forma, o outro tem que ser vencido dialeticamente. O outro viverá, mas tendo perdido a autonomia para tornar-se escravizado. Como se pode observar, o sujeito e o outro existem como duas manifestações concretas de consciência. Um é a consciência autônoma, cuja realidade essencial é ser por si; o outro, por seu turno, é a consciência dependente, cuja realidade essencial é simplesmente viver ou ser para o outro. O primeiro é o Senhor; o segundo, o escravo. O escravo, assim, é o adversário derrotado, que não arriscou a vida, que não adotou o princípio do Senhor: conquistar ou morrer. Aceita a vida dada pelo outro. Daí, depender do outro. Prefere escravizar-se a morrer e, por optar pela vida, torna-se escravo. A certeza do Senhor, por sua vez, é mediada pelo reconhecimento do escravo. O problema que ainda confronta o Senhor é que ser reconhecido pelo escravo não o satisfaz, pois esse reconhecimento não tem valor para ele. Para que se sinta satisfeito é preciso que seja reconhecido por alguém de valor. O escravo, entretanto, estima e reconhece o valor da liberdade humana pela sua subordinação ao Senhor, embora não a veja realizada em si, mas no outro. Essa é a sua vantagem. O Senhor, incapaz de reconhecer o outro que o reconhece, encontra-se num impasse. O escravo, para ser reconhecido, precisa impor-se sobre o Senhor. Mas, para que isso aconteça, é preciso que deixe de ser escravo: precisa transcender-se, superar-se como escravo. O Senhor, ao contrário, é fixo no seu domínio. O escravo torna-se escravo por não querer arriscar a vida. No seu terror mortal, contudo, compreende que uma condição fixa não pode esgotar as possibilidades da existência humana. No entanto, é somente pelo trabalho, e na confecção do produto, que o escravo irá se conscientizar do que realmente é, adquirindo independência. Ao ser capaz de produzir, o escravo percebe que tem existência essencial e verdadeira. E essa percepção torna-se a sua verdade. Ao descobrir-se, o escravo percebe que é precisamente pelo trabalho que vai adquirir consciência própria. Observa-se, contudo, que não é o trabalho em si que o liberta, mas, ao transformar o mundo pelo trabalho, o escravo se transforma também, criando, desse modo, novas condições que lhe permitirão assumir a luta libertadora por reconhecimento, que antes recusara por medo da morte. Isso posto, passo à apresentação do romance Wide Sargasso Sea. 3 Panorama do Romance Wide Sargasso Sea No romance sob análise, Jean Rhys antecipa o movimento feminista de resgate ao recuperar, na sua personagem Antoinette, a primeira Srª Rochester – a louca do sótão –, personagem do romance Jane Eyre (1848), de Charlotte Brontë. Sucintamente explicando: o romance de Rhys retoma o de Charlotte Brontë, recriando a vida de Bertha Mason, a primeira esposa de Rochester, a louca do sótão, que, ao destruir-se, liberta o marido para casar-se com a preceptora órfã, Jane Eyre. Antoinette, assim, é o fantasma que retorna e que se recusa a encaixar-se no contínuo coletivo. A história se passa na Jamaica, alguns anos depois do Ato de Emancipação de 1834. A heroína, Antoinette Cosway Mason, a bela herdeira mestiça, filha de uma viúva da Martinica, descende de uma família de proprietários de escravos. Ela, a mãe – Annette – e um irmão inválido residem na casa grande Coulibri. Os negros, agora emancipados, as desprezam; os brancos as rejeitam. Criada pela empregada negra, Christophine, e usando roupas inglesas, Antoinette vive entre duas culturas, mas não pertence a lugar algum. A narrativa de Antoinette é, no início, intensa e lírica; depois, ao perceber o distanciamento de Rochester, torna-se fragmentada, vacilante. Já a narrativa de Rochester reflete a sua própria condição: o irmão mais novo que é mandado da Inglaterra para as Índias Ocidentais, a fim de “realizar-se”: buscar uma noiva rica. Nesse espaço, contudo, Rochester não deixa de registrar o fascínio pela estranheza do território. Ao contrário do Rochester construído por Charlotte Brontë, aventureiro, em Wide Sargasso Sea ele mergulha no paraíso de intensidade desconhecida. A condição de mestiça própria de Antoinette faz dela uma estranha até mesmo nos espaços cujas cores, perfumes e crenças a construíram. Ela ocupa espaços complexos. Cresce num paraíso há muito perdido, consciente da própria diferença. Mas, por pertencer a um lugar outro do passado, ninguém poderá apagar o seu espaço textual. A heroína de Rhys é exilada na sua própria terra, cultural e sexualmente. Deslocada no próprio Caribe, excluída do mundo doméstico tradicional, vagueia pelas ruas, vivendo à margem da respeitabilidade, da sanidade, da dignidade. A percepção fragmentada de si e do mundo aponta a experiência moderna de exílio e do ser descentrado. Dessa forma, ela incorpora a ambivalência sexual que é central à experiência social moderna. Antoinette é aparentemente vítima passiva, mas resiste à violência social e à degradação por meio dos sonhos, das alucinações, da memória e da loucura. Antoinette, ao contrário dos descendentes dos senhores de escravos e colonialistas, reconhece que a ilha pertence aos nativos; daí, desejar ser negra, num esforço de sentir-se em casa com as pessoas que admira, mas que não confiam nela; daí, sentir-se fora de lugar. Rochester, ao levá-la para a Inglaterra, no final, a encerra num meio de uma cultura diferente, na qual as pessoas e o clima compartilham a mesma falta de calor e de cor. 4 Seleção de Cenas: desejo erótico, corpo feminino, sonho e memória Entendo por narrativa de desejo aquela cuja leitura toma uma forma que nos move através do texto, e cuja culminância é o erótico que eclode em um fragmento textual, a que denomino cena. Essa modalidade de narrativa concretiza uma tópica amorosa, da qual a cena (figura), como sugere Barthes (1988, p. 2), constitui um lugar (topos). Ainda segundo esse autor, a tópica é sempre um pouco vazia. Assim, o que quer que se diga sobre o desejo erótico é apenas um suplemento oferecido ao leitor para que dele se aproprie, acrescente, suprima. A cena pode ser considerada como força em movimento de interação na linguagem, entre o lugar (topos), as intensidades afetivas (pathos) e o resultado cognitivo produzido (logos), sendo responsável pelos efeitos que determinam aqueles momentos culminantes e inesquecíveis da narrativa (cf. Vianna, 1999, p. 23). Na trama da cena, há um saber que não se quer mostrar, mas que se faz conhecer, perpassando as possibilidades que tal saber recobre (cf. Vianna, 1999, p. 23). Como no teatro, a cena é locus cultural onde o amor erótico se torna instrumento de conhecimento, de penetração no outro. Para Rochester, o espaço que dividia com a mulher, Antoinette, era belo – “selvagem, intocado, com uma estranha, perturbadora beleza secreta. E mantinha o seu segredo” (Rhys, 1977, p. 73).1 E era exatamente esse espaço com a sua ocupante que buscava dominar: “O que vejo é nada – mas quero aquilo que se esconde – o que não é nada” (ibidem). A esposa estrangeira é a estranha que lhe pode escapar. Assim, Antoinette permanece: passiva dentro do universo masculino, reavivando a inquietação e o desejo do outro. Dentro da economia dele, ela é a estranha de quem quer apropriar-se. Como nos lembra Cixous (1996), a mulher é mantida à distância de si mesma; é forçada a se ver como o homem quer vê-la: quase nada (cf. p. 66). O corpo de Antoinette é colonizado, como fora a Jamaica. É um corpo invisível, estranho ao Outro europeu. Corpo-mercadoria que garantirá o funcionamento do sistema: o Senhor e a escrava. A escrava que lhe servirá o corpo – corpo objeto/abjeto – para apropriação. Por último, escrava que fará o seu capital girar, não pelo trabalho escravo, mas do corpo-mercadoria, do corpo sexual. Quando Antoinette reluta em aceitar Rochester como marido, ele entende que o corpo do que é estranho não poderá desaparecer; a sua força deve ser conquistada e dispor-se ao Senhor. E é nessa realidade que ancora o progresso da História, assinala Cixous. Assim, tudo, através dos séculos, depende da distinção entre o mesmo, o próprio (o que é meu, consequentemente, é bom) e aquilo que o limita: o Outro, a ameaça ao meu próprio bem (cf. Cixous, 1996, p. 71). No artigo “Women on the market”, Irigaray (1985), apoiada pela teoria de Marx, sustenta a ideia de que a commodity, enquanto compartilha o culto do pai, sempre copiará aquele que a representa. Ou seja, para que possa incorporar-se no valor do espelho, é necessário que o produto reflita apenas a sua propriedade do trabalho humano: que o corpo da commodity seja nada mais que a materialização de um trabalho humano abstrato (cf. Irigaray, 1985, p. 179). Assim, a commodity não possui corpo, substância, natureza, mas é a cristalização visível da atividade masculina. Observa-se que, dessa perspectiva, a mulher enquanto commodity é dividida em dois corpos irreconciliáveis: o corpo natural e o corpo socialmente cambiável e valorizado. Dessa forma, o preço de Antoinette não é avaliado pelo seu corpo, mas por espelhar o desejo de troca entre homens. Donde o fato de o papel da mulher expressar a manifestação e a circulação do poder masculino, estabelecendo a relação entre os homens. Observa-se que a economia libidinosa constrói-se pela apropriação da natureza, no desejo de (re)produzir e em trocas do produto com outros membros da sociedade (cf. Irigaray, 1985, p. 184). Antoinette, enquanto “virgem”, é valor de troca, mas, uma vez objeto “desvirginado”, é escravizada como propriedade privada, não mais objeto de troca. Consequentemente, sem direito ao prazer. Como a commodity não tem um espelho para refletir-se, a mulher serve de reflexo, de imagem de si para o homem, mas sem especificidade própria. A sua forma de valor investido está no seu corpo. Desse modo, no jogo sexual, o corpo da mulher reflete o substrato material do objeto de desejo, mas ela própria não tem acesso ao desejo. A mulher permanece amorfa, sofrendo de pulsões sem representativos ou representações. A transformação do natural no social ocorre por funcionar como componente da propriedade privada, como commodity. Observa-se que Antoinette, como o Outro, na posição de escrava, é a alteridade que se encaixa no círculo dialético. Numa relação hierarquicamente organizada, em que o corpo vendido não tem autonomia e nem mesmo identidade, o Mesmo dita as regras. Assim se processa o sistema descrito por Hegel, que leva à luta de morte: a mulher torna-se o Outro: ninguém; posição inexorável da eterna diferença; lógica do desejo em que o movimento em direção ao Outro é encarado numa produção patriarcal na qual o homem é o Eu. É a história do reconhecimento do homem pela mulher, em que o desejo por reconhecimento é o desejo por apropriação. Disso, resulta que a diferença sexual com igualdade de forças não produz o movimento do desejo. É a desigualdade que incita o desejo, como desejo por apropriação. Sem luta, tem-se a morte. Vale ressaltar que, no esquema hegeliano de reconhecimento, não há espaço para o Outro, para um igual, para a mulher. Segundo Cixous (1996), a mulher precisa reconhecer o parceiro masculino e, no tempo que leva para tal reconhecimento, ela tem que desaparecer, deixando-o para ganhar um lucro imaginário, uma vitória imaginária. Assim, a boa mulher, consequentemente, é aquela que resiste o tempo necessário para que ele sinta não somente o poder sobre ela, mas também seu desejo, para que sinta o prazer de saborear o retorno a si próprio (cf. Cixous, 1996, p. 80). Observa-se que Rochester ganha mais masculinidade, poder, prazer, ao deparar-se com a descoberta do próprio desejo. O lucro masculino está sempre ligado ao sucesso socialmente definido. Antoinette, por sua vez, entregava-se temendo perder o prazer que o desejo dele lhe desperta. Daí, seguir com ele para onde quer que a leve. Não foge dos extremos; ao contrário, vive os extremos, por desejo. O seu corpo é um cosmos onde Eros navega. A narrativa do desejo é, pois, assim como a noção de Eros desenvolvida por Freud (1989) em Além do princípio do prazer (Beyond the pleasure principle), uma força que inclui o desejo sexual, porém mais polimorfa, buscando combinar substâncias orgânicas com unidades maiores. Assim, o desejo, como Eros, torna-se central para a experiência da leitura da cena enquanto “erótica textual”. O desejo erótico enquanto encenação implica acima de tudo a transgressão dos limites impostos à vida amorosa de mulheres e homens. O desejo do erotismo é vitorioso na batalha contra a interdição. Daí, estarem sempre presentes o segredo, a busca do conhecimento do corpo e as emoções ilimitadas que, às vezes, resultam na própria morte. Essa morte, contudo, se aplica à pureza das paixões. Como nas tragédias gregas, existe no amor erótico uma tendência à intoxicação divina que a prudência do mundo racional não pode suportar. Essa tendência se opõe ao Bem, que, por seu turno, está ligado a interesses comuns que envolvem preocupações com o futuro. Ao contrário, a intoxicação divina concentra-se no presente, e considerá-la em nome de um futuro é uma aberração. Entretanto, a pureza do amor é recuperada na sua verdade verdadeira por meio da morte. Assim, a morte e o momento da intoxicação divina fundem-se enquanto se opõem às intenções do Bem como sustentadas pela razão. E a morte indica o momento que, por ser instantâneo, implica renúncia à busca racional da sobrevivência (cf. Bataille, 2004, p. 22 e 24). A narrativa de Antoinette é costurada em carne e sangue. É vibração, medo, desejos, sonhos, turbulência, morte. Rochester a viu morrer muitas vezes, da sua maneira, contudo. Quando ela está feliz, pede a ele para pedir-lhe que morra: “Se pudesse morrer. Agora, quando estou feliz. Farias isso? Não terias que me matar. Diz morre e eu morrerei”. E ele pondera: “Eu a vi morrer tantas vezes. Do meu modo, não no dela. À luz do sol, na sombra, ao luar, à luz das velas. Nas longas tardes quando a casa estava vazia. Somente o sol estava lá como companhia” (Rhys, 1977, p. 77). Essa forma errante de ser é a sua própria força. Entretanto, ainda que submissa ao desejo do marido, Antoinette é sempre uma ameaça possível de ferocidade que põe em risco o mundo “civilizado” dele. Uma ameaça, sem dúvida, ao que há de selvagem nele e que na Jamaica se manifesta, mas que fora de lá deve voltar a se ocultar. Na trama do romance, tanto Antoinette quanto sua mãe, Anette, submetem-se a casamentos por interesse, sendo transformadas em moedas de troca por identidade social. Ao fazer parte de mercadoria de compra, Rochester muda-lhe o nome. Agora, é Bertha, objeto de posse, escrava: “Os nomes são importantes; como ele não me chamava mais Antoinette, vi Antoinette flutuar pela janela com o seu perfume, suas lindas roupas e o seu espelho” (Rhys, 1977, p. 147). O casamento deles, uma troca de propriedade e sexualidade, mimetiza a relação Senhor / escravo; marido e mulher encenam o rito tradicional de posse e revolta. O desespero da mulher e a indiferença do homem aumentam ao longo do tempo. Talvez, esse descompasso aponte mais para as suas semelhanças do que para as suas diferenças. Talvez, seja a identificação com a sexualidade escandalosa de Antoinette que leva Rochester a ver Antoinette como o seu Outro absoluto e, daí, sua vontade de excluí-la, por não poder olhar aquilo que terá sempre que ficar de fora do circuito de aceitação pela moral vitoriana. Contudo, a luta de Antoinette para despertar o desejo do marido a leva a ocupar a posição de escrava do próprio desejo, garantindo a ele a indiferença. Assim, a intensidade da dialética hegeliana é aqui invertida no campo da paixão: aquele que “ama” mais intensamente perde a batalha no campo do prazer, tornando-se escravo até morrer. A propósito dessa questão, é possível um relacionamento com a tentativa de explicar a tenacidade da paixão que destrói o próprio ser, empreendida por Rougemont (1987) em sua análise do mito em Tristão e Isolda. O mito tanto esconde quanto revela sua origem; é uma estratégia que se apresenta quando é impossível fazer a terrível confissão de relações afetivas que se desejam conservar, ou que é impossível destruir. Na realidade, como assinala o autor, não precisamos de mito para enunciar as verdades científicas, mas para exprimir o fato obscuro e inconfessável de que a paixão está ligada à morte e leva à destruição quem quer que se entregue completamente a ela. Isso porque desejamos salvar a paixão e adoramos essa plenitude, ao passo que a moral e nossa razão as condenam. O mito que nos tem perturbado há séculos é, por conseguinte, ao mesmo tempo uma paixão que emerge de uma natureza sombria e um potencial pré-estabelecido na busca de um obstáculo que a intensificará (cf. Rougemont, 1988, p. 20-21). O desejo apresenta-se já no começo da narrativa, num estado de despertar inicial. Atinge a sua intensidade máxima por meio de movimentos de força (Eros) que explodem em fragmentos textuais, imprimindo sentido à narrativa. Dessa forma, podemos identificar na obra pelo menos três níveis inter-relacionados de presença do desejo: sendo o tema, atua como “força erótica”, além de responder pela intenção do discurso narrativo. Passo, agora, a uma outra cena de domínio do Senhor sobre a escrava. Convencido de que Antoinette está louca, Rochester a leva para a Inglaterra e a trancafia no sótão de Thornfield Hall, em nome da razão, da moralidade e da civilização. É aí que o(a) leitor(a) toma conhecimento da relação adúltera que mantivera com Sandi e que associa ao vestido vermelho, que funciona na narrativa como espaço de memória: O tempo não tem significado. Mas algo que possas tocar e segurar como o meu vestido vermelho tem significado (...). (...) vestia um vestido vermelho quando Sandi veio me ver pela última vez. Sandi veio me ver muitas vezes quando aquele homem não estava. Os empregados sabiam, mas ninguém falaria. Agora não havia mais tempo, então nos beijamos (...). Sempre tínhamos nos beijado antes, mas nunca como agora. Era o beijo da vida e da morte, e apenas se sabe muito tempo depois o que é, o beijo da vida e da morte. O navio branco soprou três vezes, uma vez alegre, uma vez chamando, uma vez para dizer adeus (Rhys, 1977, p. 152). O vestido vermelho a fazia lasciva aos olhos do marido, que, ao descobrir que se encontrava com Sandi, passa a considerá-la “a filha infame de uma mãe infame” (Rhys, 1977, p. 152). Entretanto, Antoinette toma a palavra para se manifestar sem subjugação. Começa a falar, a expressar elementos do inconsciente, do imaginário, a partir daí compondo sua escrita. Nesse espaço, ela se expõe, materializa o pensamento carnalmente, expressa o desejo e a significação sexual do corpo-escrita. Dessa forma, Rhys, ao construir a narrativa de Antoinette, transforma a sua história. Ao narrar, Rhys e Antoinette alocam a mulher num espaço outro fora da região do silêncio, “espaço reservado à mulher no simbólico” (Cixous, 1996, p. 93). Antoinette, assim, pelo poder mágico da escrita, deixa o sótão de Thornfield Hall, onde fora trancafiada, e impõe a própria presença, abrindo-se ao desejo e à palavra. Antoinette fala sobre seus medos, sobre a complexidade móvel e infinita de seus impulsos eróticos. Essa histérica maravilhosa, diria Freud, encena a vida por meio da palavra, fala de si, do que fora excluído, proibido, do desejo. É pela narrativa que a protagonista se libera da autoridade masculina e da posição de escrava. Outra forma de resistência à dominação masculina dá-se pelos sonhos. Os sonhos condensam imagens, vozes, personagens, rostos e eventos históricos em novos símbolos e novas narrativas que não podem ser reveladas de outra maneira. A narrativa onírica junta a história da ilha com a tragédia pessoal. Os sonhos ocupam o espaço entre os eventos públicos e os privados, que se configuram verdadeiros no final dramático do romance. Para falar dos sonhos em Wide Sargasso Sea, é necessário, pois, lembrar as sugestões de Freud (2000) em “A interpretação dos sonhos” (“The interpretation of dreams”). A interpretação psicanalítica tem o poder de desfazer os efeitos de conclusão constitutivos do sonho devido ao seu acesso aos sentimentos reprimidos. Tal análise busca desvendar os mistérios e os segredos na mente humana, numa técnica de leitura que desconstrói as camadas linguísticas confusas, qual um palimpsesto, para levar o sujeito ao conhecimento suprimido. Entre os pensamentos que a análise traz à luz, estão aqueles relativamente distantes do núcleo onírico e que tomam a forma artificial de interpolações ligadas a um objetivo particular. Entretanto, é esse objetivo que promove a conexão entre o conteúdo do sonho e a sua interpretação (Freud, 2000). No sonho, há uma transferência e um deslocamento de intensidade psíquica. Esse processo é parte essencial do sonho e deve, segundo Freud (2000), ser descrito como “deslocamento onírico” (p. 147-148), ocorrendo mediante a influência de uma censura exercida na mente por um agente psíquico sobre outro. A primeira cena onírica antecipa o desfecho desde o começo da narrativa de Antoinette. O fogo que estrutura o sonho final consome aquilo que jamais poderá explicitar-se: as chamas são manifestações do desejo de ser ouvida, reconhecida. Na narrativa de Antoinette, observa-se o desejo na sua persistência e incoerência, o desejo que, por não satisfazer-se, tem a morte como alternativa, mas cuja satisfação seria também a morte. Lembrando Brooks (1993), poder-se-ia afirmar o desejo contraditório da narrativa, caminhando em direção ao final que seria tanto a sua destruição quanto o seu significado, “suspensa nos trilhos metonímicos que se inclinam em direção desse final sem ser capaz de dizê-lo completamente” (p. 58). Rhys propõe a narrativa como força e forma de desejo humano; o desejo de narrar como força humana primária que busca seduzir e subjugar o sujeito leitor, envolvendo-o no desejo que não pode ser nomeado, mas que insiste em fazer os seus movimentos em direção a esse nome (cf. Brooks, 1993, p. 61). A cena onírica que encerra a narrativa de Antoinette, a última da sequência, é assim uma cena de agonia, um momento de suspensão em que a narrativa muda de direção e focaliza o retorno à vida, ao passado, à impossibilidade e, paradoxalmente, à plenitude de si. Quando Bergson (2006) nos lembra que o passado se conserva por si mesmo e que nos segue a todo momento e que aquilo que “sentimos, pensamos, quisemos desde a nossa primeira infância está aí, debruçado sobre o presente que a ele irá se juntar, forçando a porta da consciência que gostaria de deixá-lo de fora” (p. 47-48), podemos constatar que a memória não deixa de ser uma re-elaboração do passado, uma vez que é com ele que desejamos, queremos, agimos. E ainda que o “mecanismo cerebral” se ocupe de reprimir quase todo o passado no inconsciente e só deixe escapar o que venha a esclarecer a situação presente, sentimos, mesmo assim, que o nosso passado continua presente. Daí, o fato de que presente e passado como que se confundem, e a lembrança se torna uma névoa que se condensa e, de virtual, se atualiza. Dessa forma, o passado, “que até então se contraía sobre si mesmo na impulsão indivisível que nos comunicava, decompõe-se em mil e uma lembranças que se exteriorizam umas com as outras” (Bergson, 2006, p. 54). Essa exteriorização é, de fato, uma reconstrução do passado que se traduz no presente à medida que o passado nele se introduz. Ou, ainda, como sugere Walter Benjamin (apud Muricy, 1998), em um outro contexto: “... a expressão de cada ideia recorre a uma verdadeira erupção de imagens” (p. 6). Imagem que é buscada no passado, seguindo, assim, o progresso contínuo que a levou da obscuridade para a luz. É o momento em que o presente busca o passado numa formulação de desejo que sustentara a vida então e que agora retorna pleno. De repente, Antoinette vê-se envolvida num mundo de cores e perfumes; o povo da ilha, tudo aparece no céu, agora vermelho pelas labaredas que tomam as cortinas: “O céu estava vermelho e a minha vida estava aí” (Rhys, 1977, p. 155). A cor vermelha, tal qual aquela que queimara Coulibri, reflete também o vermelho-fogo do vestido tecido a desejo. Entretanto, ao abrir os braços ao fogo, ela é tragada nas labaredas da renúncia, do nada, da impossibilidade, do vazio de si: a morte do desejo; a fuga do Senhor, no último sonho. Seguindo a lógica freudiana ao viver a realização do desejo por meio da possibilidade da morte, Antoinette encontra a impossibilidade de desejar, pois desejar torna-se a escolha da morte de si. No sonho, a antiga amiga negra, Tia, num gesto de conciliação a chama de volta para a ilha. Do outro lado, vem a voz do marido a chamar-lhe “Bertha”. Opta pela ilha e atira-se no ar. O sonho, dessa forma, condensa numa fração de segundos todas as imagens da vida interior e os conflitos do seu mundo social. Ao acordar, atravessa dois mundos, agora livre, dissolvendo todas as dicotomias do espaço vitoriano: sexualidade legítima e ilegítima, loucura e razão, comportamento primitivo e civilizado, fato e ficção. E, ao acender a vela que iluminará o seu caminho na escuridão, pensa: “Agora, finalmente, sei o motivo que me trouxe aqui e o que devo fazer” (Rhys, 1977, 155-156). Segundo Hegel (1979), a morte destrói a verdade que dela emana e, consequentemente, a certeza do ser. Uma vez que a vida é o natural espaço da consciência, independência sem negatividade absoluta, então a morte é a negação natural da consciência, negação sem independência, a qual permanece sem a significação requerida do reconhecimento (p. 114). Entretanto, a forma de transcendência para Antoinette é a própria morte. A morte é o mundo de liberdade do estado que lhe foi concedido, a forma de sair da condição de escrava. Vê-se, assim, que a questão do poder, na arena do desejo, em Wide Sargasso Sea, destrói de forma irrevogável a possibilidade da realização real da paixão, e o que resta é nada mais que o desespero, a destruição e a morte. Nota 1 Todas as traduções de fontes em inglês são de minha autoria, com remissão para os originais indicados nas Referências. Referências BARTHES, Roland. Fragmentos de um discurso amoroso. Rio de Janeiro: F. Alves, 1988. BATAILLE, Georges. O erotismo. São Paulo: Arx, 2004. BERGSON, Henri. Memória e vida. São Paulo: Martins Fontes, 2006. BROOKS, Peter. Body work: objects of desire in modern narrative. Cambridge: Harvard University Press, 1993. CIXOUS, Hélène. Sorties: Out and out: attacks / ways out / forays. In: CIXOUS, Hélène; CLÉMENT, Catherine. The newly born woman. London: I. B. Tauris Publishers, 1996. p. 3-39. FREUD, Sigmund. Beyond the pleasure principle. London: W. W. Norton, 1989. ______. The interpretation of dreams. In: RIVKIN, Julie; RYAN, Michael. Literary theory: an anthology. Oxford: Blackwell, 2000. p. 128-150. HEGEL, G. W. F. Independence and dependence of self-consciousness: Lordship and bondage. In: ______. Phenomenology of spirit. Oxford: Oxford University Press, 1979. p. 111-119. IRIGARAY, Luce. Women on the market. In: ______. This sex which is not one. New York: Cornell University Press, 1985. p. 170-191. KOJÈVE, Alexandre. Introduction to the reading of Hegel. New York: Cornell University Press, 1980. MURICY, Kátia. Tempo e imagem em Walter Benjamin. Dossiê Walter Benjamin. Revista de Teatro, Crítica e Estética, Rio de Janeiro: Uni-Rio, ano 6, n. 6, 1998. RHYS, Jean. Wide sargasso sea. Middlesex: Penguin, 1977. ROUGEMONT, Denis de. O amor e o Ocidente. Rio de Janeiro: Guanabara, 1988. VIANNA, Lúcia Helena. Cenas de amor e morte na ficção brasileira. Niterói: Ed. da UFF, 1999. Dados da autora: *Maria Conceição Monteiro Pós-doutora e Doutora em Literatura Comparada, Professora Titular de Literaturas de Língua Inglesa – Universidade do Estado do Rio de Janeiro/UERJ – e Pesquisadora do CNPq. Endereço para contato: Universidade do Estado do Rio de Janeiro Centro de Educação e Humanidades Instituto de Letras Departamento de Letras Anglo-Germânicas Rua São Francisco Xavier, 524 – 11º andar Maracanã 20550-000 Rio de Janeiro/RJ – Brasil Endereço eletrônico: [email protected] Data de recebimento: 31 maio 2010 Data de aprovação: 17 ago. 2010
Download