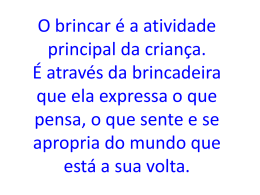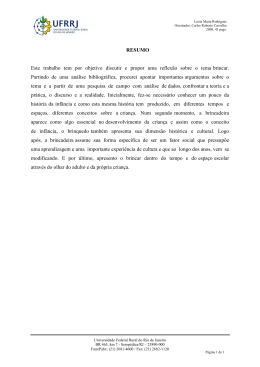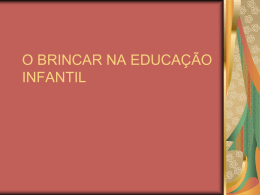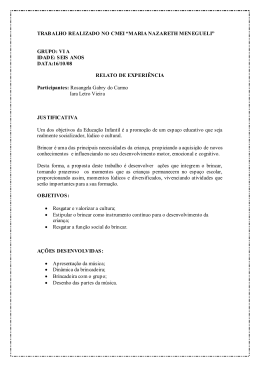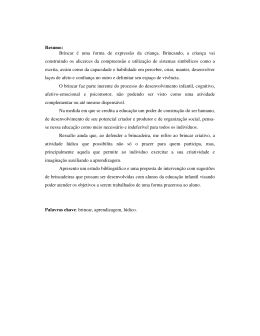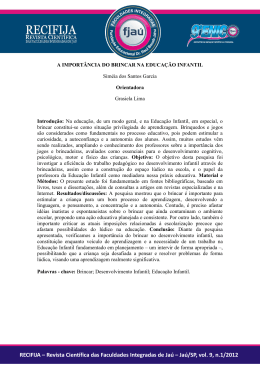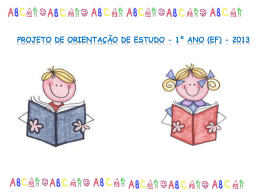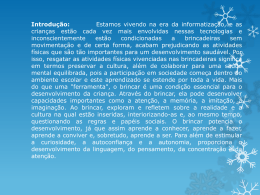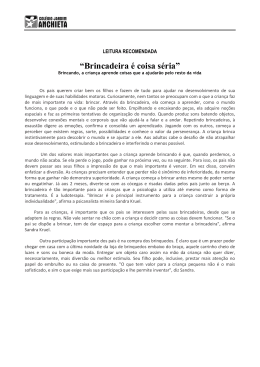BRINCADEIRA DE MENINO & BRINCADEIRA DE MENINA: UMA QUESTÃO DE GÊNERO Mércia Maria de Santi Estácio Adriana Aparecida de Souza Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN Resumo Esta pesquisa tem o propósito de analisar a preferência de meninos e meninas por determinados brinquedos e brincadeiras em uma escola pública municipal em Natal/RN. Partindo do pressuposto que tais elementos habitam o imaginário infantil, bem como, mantêm uma estreita relação com o brincar, objeto central da pesquisadora. Entendemos também que estas escolhas estejam diretamente ligadas à tradição, à cultura e ao gênero, portanto importante (re) significá-las e discuti-las no contexto escolar. Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa que se encontra em andamento e utilizará como metodologia o estudo exploratório. Acredita-se na necessidade de espaços e tempos para a brincadeira e o brincar na escola, bem como, a desconstrução de mitos, que determinam e reforçam com apoio da cultura e da sociedade quais são as brincadeiras e brinquedos adequados para meninos e/ou para meninas. Pensar o brincar como um elemento fundamental na formação da criança e por isso, deve estar presente na sua escolarização. Questiona-se sobre a diminuição do tempo e espaço para o brincar e as brincadeiras no cenário escolar, e sua substituição por outras atividades, que privilegiam apenas o desenvolvimento da cognição e a aprendizagem de conteúdos específicos. Palavras-Chave: Menino. Brincadeira. Menina. Escola. Contextualização Partindo do pressuposto de que brincar faz parte do universo infantil e permeia – ou deveria – a infância, nos deparamos com lembranças da família e da escola, instituições que ocupam um espaço significativo e importante. Com o advento da modernidade a infância conquistou espaço e atualmente é objeto de estudos, nas mais diversas áreas do conhecimento como a educação, a psicologia, a sociologia, a história etc. 1 Acredito que falar de infância nos remeta a lembrar do brincar, da brincadeira, do jogo, elementos presentes e necessários para um desenvolvimento saudável. Este artigo é um recorte de uma pesquisa maior, na qual discuto o brincar, dialogando com os demais sujeitos que compõem o universo no qual o brincar está inserido como a família, a escola e a cultura, pois assim como o sonho, o brincar foi ao longo da história do mundo, considerado coisa sem importância. Brinquedo e brincadeira são usados no vocabulário corrente para definir coisas sem seriedade. Este texto tem o propósito de analisar a preferência de meninos e meninas, alunos do 2º ano do Ensino Fundamental, por determinados brinquedos e brincadeiras. A Escola Municipal Professor Ulisses de Góes, campo dessa pesquisa, situa-se no bairro de Nova Descoberta na cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte. Atende crianças da Educação Infantil, do Ensino Fundamental, e também possui turmas de Ensino de Jovens e Adultos (EJA). A escola foi criada oficialmente pelo ato nº 1902 de 03 de abril de 1977, e seu funcionamento autorizado pela Portaria nº 719/80, publicada no Diário Oficial do Estado em 30 de outubro de 1980. A escolha de determinado brinquedo ou brincadeira configura uma questão de gênero, bem como, aponta a necessidade de desconstrução de alguns mitos, que determinam e reforçam com apoio da cultura e da sociedade quais são as brincadeiras e brinquedos adequados para meninos e/ou para meninas. Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa que se encontra em andamento e utilizará como metodologia o estudo exploratório e como técnicas de pesquisa a observação e entrevista semi-estruturada com alunos e professoras. Para fundamentar as escolhas das técnicas de pesquisa optei por Maria Cecília de Souza Minayo que afirma que: [...] a observação participante, permite que o investigador combine o afazer de confirmar ou infirmar hipóteses com as vantagens de uma abordagem não-estruturada. Colocando interrogações que vão sendo discutidas durante o processo de trabalho de campo, ela elimina questões irrelevantes, dá ênfase a determinados aspectos que surgem empiricamente e reformula hipóteses iniciais e provisórias. (MINAYO, 1999, p. 96) 2 A autora informa a necessidade de o pesquisador tomar algumas decisões no momento que antecede a observação propriamente dita. “[...] observação livre ou realizada através de roteiro específico? Abrangerá o conjunto do espaço e do tempo previsto para o trabalho de campo ou se limitará a instantes e/ou aspectos da realidade, dando ênfase a determinados elementos na interação?” (MINAYO, 1999, p.100). Ainda segundo a autora todos os registros oriundos desta observação são realizados no Diário de Campo, tais como: falas, comportamentos, hábitos, usos, costumes, celebrações e instituições que compõem o quadro das Representações Sociais. Definimos observação participante como um processo pelo qual se mantém a presença do observador numa situação social, com a finalidade de realizar uma investigação científica. O observador está em relação face a face com os observados e, ao participar da vida deles, no seu cenário cultural, colhe dados. Assim o observador é parte do contexto sob observação, ao mesmo tempo modificando e sendo modificado por este contexto. (Minayo, apud Schwartz & Schwartz 1999, p. 135) As entrevistas semi-estruturadas permitem o uso de perguntas estruturadas ou não, permitindo ao entrevistado se colocar diante do tema proposto de maneira livre e espontânea, pois o pesquisador não oferece respostas ou condições anteriores às perguntas realizadas. Acredito na possibilidade do uso desta técnica, pois oferece uma maior aproximação entre observador e observado, uma vez que tal fato contribua para o esclarecimento e aprofundamento do tema pesquisado. Uma vez que [...] permanece o princípio geral que reconhece a importância indiscutível de cada entrevista, mas nos diz que é o conjunto delas e a partir do caleidoscópio das informações que o pesquisador compõe seu quadro [...] a experiência nos mostra que, como o pesquisador trabalha com vivências e com as representações correlatas, por mais que estimule a explicitação de determinados temas, se eles não constituem relevâncias para os informantes, dificilmente emergirão. (MINAYO, 1999, p. 132) Desenvolvimento: 3 Num processo histórico e cultural foram determinadas as brincadeiras destinadas aos meninos e às meninas. Assim, brincar de futebol, bolinha de gude, pipa, dentre outras são atividades destinadas aos meninos, enquanto brincar de boneca, de casinha, pular corda, dentre outras são ocupações das meninas. A cultura, a tradição e a sociedade reforçam e valorizam essa separação, rotulando como diferentes ou fora do padrão os que não seguem tal separação. No entanto, como toda regra tem sua exceção, observamos meninos que gostam e participam das brincadeiras ditas de meninas, como pular corda, e meninas que gostam de jogar futebol. Entendo que mais importante do que separar o que é destinado a um ou outro, seja realmente oferecer o espaço para o brincar, pois em dúvida é possível destacar o lugar do brincar para além de uma atividade determinada apresentando a forte presença dos processos subjetivos que o brincar envolve. Um jeito de refazer, de viver o impossível. Brincando a criança aprende a ser, se humaniza, subjetiva seus desejos, comunica, situa-se e é situada pelo outro, apropria-se do seu fazer, agindo, atuando. O brincar sempre fez parte do universo infantil. Sabemos que é brincando que a criança experimenta situações e emoções do seu próprio entorno, bem como, do mundo dos adultos. No brincar a criança estabelece e vive relações, cria regras, se estrutura, reconhece o outro, enfim começa a se colocar no mundo, ou melhor, através do brincar a criança se apropria do mundo e de tudo que está envolvido nele. Acredito que a ausência do brincar na vida da criança prejudica sua estruturação e desenvolvimento. Assim não é possível pensar a infância sem o lúdico, pois através dele acontece a ligação entre a aprendizagem, o desenvolvimento, por isso sua importância. Existe certo comprometimento do brincar em virtude das condições da modernidade: a rapidez, o interesse cada vez maior pela antecipação do futuro, esquecendo-se do presente; é a cultura do progresso a qualquer custo. Dessa forma, nos deparamos com crianças que já não querem mais fazer de conta, que não tem tempo para entrar em outro tempo, o tempo do brincar, do elaborar, do buscar sentido para suas descobertas, do conhecer-se, enfim tudo está dado, pronto e acabado. 4 No mundo do faz-de-conta as crianças colocam a forma com que hoje se situam diante dos pais, dos semelhantes, da sexualidade, da escola, dos objetos, dos ideais, do simbólico. [...] o brincar é um dos pilares da constituição de culturas da infância, compreendidas como significações e formas de ação social específicas que estruturam as relações das crianças entre si, bem como, os modos pelos quais interpretam, representam e agem sobre o mundo. Essas duas perspectivas configuram o brincar ao mesmo tempo como produto e prática cultural, ou seja, como patrimônio cultural, fruto das ações humanas transmitidas de modo inter intrageracional, e como forma de ação que cria e transforma significados sobre o mundo. (BORBA, 2007, p. 33) No desenrolar da pesquisa de campo realizei entrevistas com as crianças observadas na pesquisa. Dentre as questões uma estava direcionada às brincadeiras preferidas. Estiveram envolvidas nessa ação 42 crianças, sendo 23 meninas e 19 meninos. As meninas citaram como brincadeiras preferidas: Tica-tica, na modalidade ticatrepa e tica-fruta; Amarelinha, Boneca, Pular corda, Esconde-esconde, Passa-anél e jogar bola. Os meninos elegeram como as brincadeiras mais realizadas: Tica-tica, também na modalidade tica-fruta e tica-trepa), futebol, esconde-esconde e dono da rua. No diálogo com as crianças observei que as meninas se interessam por uma maior variedade de brincadeiras; que existem brincadeiras, como o tica-tica e o esconde-esconde que fazem parte do universo masculino e feminino; que as meninas também gostam de brincar com bola. Um aspecto chamou a atenção e aponta para outra questão de gênero, além daquela que contempla as preferências de meninos e meninas por determinada brincadeira. A maioria das respostas apontam para uma separação efetiva nas brincadeiras por sexo, ou seja, os meninos brincam os meninos e as meninas com as meninas, apenas 02 crianças afirmaram que brincam com todos os amigos da sala. Neste sentindo, teríamos então além da separação de gênero em relação às escolhas desta ou daquela brincadeira, a separação de gênero por sexo, aproximando os meninos dos meninos e meninas de meninas. Reforçando padrões culturais estabelecidos há muito tempo e reforçados pela tradição, pela sociedade. Porém, acredito na possibilidade de meninos e meninas brincarem juntos, numa troca de 5 saberes, na partilha de experiências adquiridas e acumuladas na família e na escola. Pois certamente os meninos podem ensinar muitas coisas para as meninas, bem como, as meninas podem ensinar várias coisas para os meninos. Considerações Finais Em muitas escolas ainda predomina uma visão dicotômica do ensino que privilegia as ações cognitivas em detrimento das atividades corporais. Não se trata de hierarquizar o conhecimento cognitivo e o conhecimento corporal, colocando um ou outro em primeiro lugar, mas sim de deflagrar a enação, acreditando que toda cognição depende da experiência que acontece na ação corporal. Walter Benjamin acredita ser preciso considerar o diálogo cultural, sem o qual o lúdico não poderia ser viabilizado. Assim o processo educativo, tanto formal, quanto informal, busca a transmissão da herança cultural, para a continuidade. Por isso nossa sociedade vinculou o lúdico à criança, faixa etária caracterizada pela “improdutividade” e pela movimentação constante, mas mesmo na infância cada vez mais o lúdico é negado. [...] Se, partindo de tudo isso, fizermos algumas reflexões sobre a criança que brinca poderemos falar então de uma relação antinômica. De um lado o fato coloca-se assim: nada é mais adequado à criança do que irmanar em suas construções os materiais mais heterogêneos – pedras, plastilina, madeira, papel. Por outro lado, ninguém é mais sóbrio em relação aos materiais do que crianças: um simples pedacinho de madeira, uma pinha ou uma pedrinha reúne em sua solidez, no monolitismo de sua matéria, uma exuberância das mais diferentes figuras. (BENJAMIN, 1984, p. 69) O tempo veloz da urgência atravessa qualquer atividade da criança e claro, na prática educativa, tem incidência fundamental. Pais e profissionais exigem resultados cada vez mais rápidos, em um tempo sempre breve e encurtado pelas inúmeras exigências. Urgências para que fale bem, para que desenhe e escreva as letras, para que leia, para que passe de série, para que não se atrase, para que esteja sempre atento, para que domine o inglês e a computação... e até exigências para que seja feliz. A preparação para um futuro vencedor, a necessidade e/ou a utilização de mãode-obra infantil, não apenas furtam o brincar da vida das crianças, como exigem uma 6 nova postura quanto à aplicabilidade do termo infância, uma vez, que o brinquedo, o jogo e o divertimento passam a ser vivenciados desde muito cedo quase que somente por oposição a essas obrigações. Penso no brincar como experiência humana onde os aspectos da subjetividade encontram-se como elementos da realidade possibilitando uma experiência criativa na construção do eu-social. Nessa perspectiva torna-se imprescindível e necessário oportunizar as crianças possibilidades para vivenciar o brincar no contexto escolar, pois quando brinca, a criança coloca em jogo os recursos que adquiriu. A criança que brinca em liberdade, podendo decidir sobre o uso de seus recursos para resolver os problemas que surgem no brinquedo, sem dúvida alguma desenvolverá habilidades solicitadas para outras aprendizagens (aprender a ler, escrever, contar, relacionar etc). Em virtude da diminuição dos espaços para o brincar, as casas tornaram-se menores, a rua ficou perigosa, etc. O único espaço que ainda se mostra seguro, seja a escola. No entanto, apesar do pouco tempo destinado ao brincar na escola, ficando reduzido apenas ao momento do recreio, as crianças vivem nesse espaço-tempo, atividades que contribuem para o seu crescimento, que estreita laços e cria vínculos. O recreio torna-se o momento especial não só para saciar a fome do corpo, bem como, alimentar a alma, que no caso da criança se nutre com a brincadeira, por que: “Brincar é muito bom, é divertido, é legal.” (Fala das crianças entrevistadas) Referências AGAMBEN, Giorgio. Infância e história. Destruição da experiência e origem da história. Trad. Henrique Burigo. Belo Horizonte, Editora UFMG, 2005. ARIÈS, Philippe. História social a criança e da família. Tradução Dora Flaksman. Rio de Janeiro: LTC, 2006. BENJAMIN, Walter. Reflexões Sobre: A criança, o brinquedo a educação. São Paulo: Summus, 1984. ______ O narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. In: Obras escolhidas: magia e técnica, arte e política. São Paulo: Brasiliense, 1994. 7 BORBA, Ângela Meyer. O brincar como um modo de ser e estar no mundo. In: BRASIL, Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Ensino Fundamental de nove anos: Orientações para a inclusão de crianças de seis anos de idade. 2. ed. Brasília, 2007, p. 33-45. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/ensifund9anobasefinal.pdf,> Acesso em: 10 out 2007 BRASIL, Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Ensino Fundamental de nove anos: Orientações para a inclusão de crianças de seis anos de idade. 2. ed. Brasília, 2007, p. 33-45. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/ensifund9anobasefinal.pdf,> Acesso em: 10 out 2007 BROUGÈRE G. Brinquedo e cultura. São Paulo: Cortez, 1995. BRUNER, J. L'éducation entrée dans la culture. Paris: Retz, 1996. CAMBI, Franco. História da Pedagogia. Tradução de Álvaro Lorencini. São Paulo: UNESP, 1999. FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. Saberes necessários à prática educativa. 2ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 1997. GADOTTI, Moacir. História das Idéias Pedagógicas. 8ª ed. São Paulo: Editora Ática, 2005 HUINZIGA, Johan. Homo ludens. São Paulo: Perspectiva, 2001. KORCZAK, Janusz. Quando eu voltar a ser criança. São Paulo: Círculo do Livro, 1989. ______ Como amar uma criança. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997 LEVIN, Esteban. A infância em cena. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997. MATURANA Humberto R.; VERDEN-ZÖLLER, Gerda. Amar e Brincar: Fundamentos esquecidos do humano. São Paulo: Palas Athena, 2004. 8 MIGUEZ, Fátima. Brasil-menino. 1.ed. – São Paulo: DCL, 2005. MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 6. Ed. São Paulo: Hucitec, 1999. OLIVEIRA-FORMOSINHO, Júlia; KISHIMOTO, Tizuko Morshida; PINAZZA, Mônica Appezzato (Orgs). Pedagogia(s) da infância: dialogando com o passado: construindo o futuro. Porto Alegre: Artmed, 2007. PAULA, Elaine. Crianças e Infâncias: Universos a Desvendar. Disponível em: ced.ufsc.br/~zeroseis/elaine.doc Acesso em 25 Jul 08. PRIORE, Mary Del. Criança e crianças: história e memória em quinhentos anos de Brasil. Disponível em: http://www.tropicologia.org.br/conferencia/1999crianca.html Acesso em 28 Jul 08 SILVA, L.S.P; GUMARÃES, A.B.; VIEIRA, C.E.; Franck, L.N.S.; HIPPERT, M.I.S.O brincar como portador de significados e práticas sociais. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010480232005000200007&script=sci_abstract&t lng=pt> Acesso em 28/05/2009 VYGOTSKY, L. Pensamento e linguagem. 3.ed. São Paulo: M. Fontes, 1991. WINNICOTT, D.W. O Brincar e a Realidade. Rio de Janeiro: Imago Editora. 1975. 9
Download