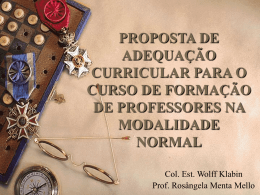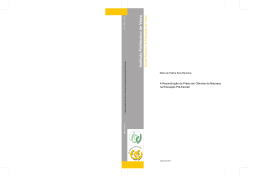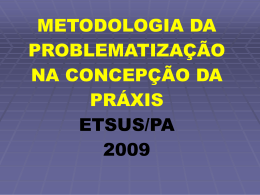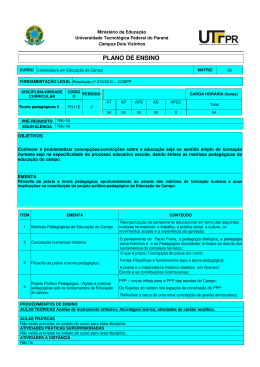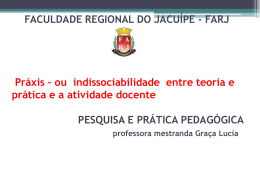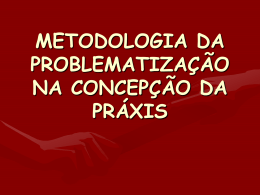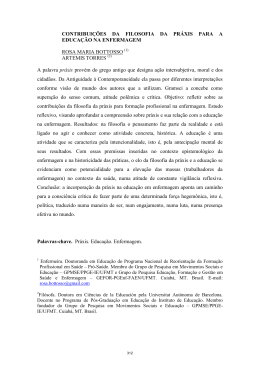Projeto Vivencial 2.2. O trabalho do gestor na escola: dimensões, relações, conflitos, formas de atuação De acordo com Cury (2001), a palavra gestão provém do verbo latino gero, gessi, gestum, gerere e significa: “levar sobre si, carregar, chamar a si, executar, exercer, gerar. Trata-se de algo que implica o sujeito. Isto pode ser visto em um dos substantivos derivado desse verbo. Trata-se de gestatio, ou seja, gestação, isto é, o ato pelo qual se traz em si e dentro de si algo novo, diferente: um novo ente”. Resgatamos a origem etimológica da palavra gestão considerarmos por que a mesma traz duas implicações importantes para nossa discussão sobre o trabalho do gestor na escola: a) a gestão, em qualquer dimensão, implica sempre a Sugerimos que você retome o conceito de gestão, no texto Gestão Democrática da Escola Pública: implicações legais e operacionais da Sala Ambiente Políticas e Gestão na Educação. Aos significados lá apresentados, vamos acrescentar aqueles vinculados à origem etimológica da palavra, retirando daí outras pistas para discutirmos o trabalho do gestor na escola. presença do outro e b) se gestão pode significar conservação e manutenção de estruturas autoritárias, como é comum nas relações de subordinação em empresas, traz também em si possibilidades de mudança, de rupturas com o instituído. No que se refere à primeira dimensão apontada – o contexto relacional do trabalho do gestor –, observamos que, muitas vezes, no cotidiano das escolas, os diretores mencionam que uma das principais dificuldades enfrentadas em seu trabalho cotidiano é a sua relação com os “outros”: queixam-se das dimensões conflitivas dessa relação, das dificuldades com os consensos, com o comprometimento e engajamento do grupo. De modo contraditório, expressam também que o principal fator motivador de seu trabalho é 1 Projeto Vivencial justamente poder atuar com os “outros”. Movidos por essas contradições, os diretores, com freqüência, expressam atitudes ambivalentes com relação ao coletivo da escola, atitudes que podem variar entre dois extremos: Tolerar a existência do outro, e permitir que ele seja diferente, ainda é muito pouco. Quando se tolera, apenas se concede e essa não é uma relação de igualdade, mas de superioridade de um sobre o outro. Deveríamos criar uma relação entre as pessoas, da qual estivessem excluídas a tolerância e a intolerância. (José Saramago) atitudes de condescendência, de paternalismo (o que dá origem a uma participação consentida, tutelada do autoritárias, coletivo escolar), reproduzindo as ou relações atitudes entre prepostos e comandados. Em ambos os “modelos”, com todas as variantes que possam apresentar, o fato básico é a negação do Outro como um Igual. Sabemos que numa relação “entre iguais” o outro não é apenas um objeto para o sujeito. Não se trata apenas de fazer para o outro aquilo que gostaria que fosse feito a mim; mais do que isso, é importante que a presença do outro conduza a minha atitude para com ele. Dentro dos parâmetros apontados pela gestão democrática na/da escola, refuta-se a imagem do dirigente tecnocrático, que apenas assume o lugar de comando de seus subordinados. Ao invés disso, tem-se a figura do dirigente que encontra no trabalho com o coletivo da escola os meios mais eficazes para a sua intervenção. Aqui, duas observações são importantes: primeiro, ao se afirmar a necessidade da gestão colegiada na escola, do partilhamento de poder, não se está negando a existência de especificidades hierárquicas no seu interior. A gestão democrática da escola não as anula, mas convive com elas. Conforme bem lembra Cury (2001, p. 205), a relação posta na transmissão do ensino público implica a hierarquia de funções (mestre/estudante) e isto não quer dizer nem hierarquia entre pessoas nem quer dizer que o estudante jamais chegue à condição de mestre. Pelo contrário, a relação do conhecimento existente na transmissão pedagógica tem como fim, não a perpetuação da diferença entre saberes, mas a parceria entre sujeitos. Outro aspecto a ser lembrado é que quando falamos em “coletivo da escola” não tomamos como pressuposto a existência de um “todo homogêneo”, harmônico e consensual. Ao contrário, o cotidiano da escola é feito de homens e mulheres, de crianças, de jovens, 2 Projeto Vivencial cada qual com diferentes percursos de vida, com diferentes expectativas em relação à escola, ao seu futuro. Ainda, manifestam diferentes níveis de compromisso com relação ao trabalho, expressam insatisfações que tomam a forma de conflitos, têm vivências culturais diversas. Todos esses aspectos se tecem e entretecem em graus diferenciados de complexidade, constituindo o que aqui designamos de “coletivo escolar”. Pensar e trabalhar com e no coletivo da escola significa, necessariamente, considerar a diversidade e as diferenças entre os sujeitos e em suas implicações e posicionamentos com o trabalho coletivo. Como mostra Cury (2005), gestão implica a presença do outro, de interlocutores com os quais se dialoga e com os quais se produzem respostas para a superação de conflitos: “pela arte de interrogar e pela paciência em buscar respostas que possam auxiliar no governo da educação, segundo a justiça. Nesta perspectiva, a gestão implica o diálogo como forma superior de encontro das pessoas e solução dos conflitos” (CURY, 2005). Muitas perguntas e grandes desafios logo se colocam para o dirigente escolar: como articular e mobilizar tanta diferença em torno de um projeto comum? Como fazer para, a partir das diferenças, construir um projeto coletivo que retenha a “identidade” da escola? Como construir “sentidos” compartilhados por todos, de modo que se possa alcançar uma unidade em termos de ação? A superação dos obstáculos que dificultam, mas ao mesmo tempo são elementos que constituem o próprio processo de gestão democrática na escola, implica a compreensão do trabalho do gestor escolar como práxis. Para melhor exemplificar o que queremos dizer, recorreremos aos conceitos desenvolvidos por Adolfo Sanches Vazquez (1977) de práxis1 criadora, práxis reiterativa ou imitativa1, práxis reflexiva e práxis espontânea1. Tomando as categorias de práxis propostas por Vazquez (1977), podemos melhor analisar o trabalho do gestor escolar. Certamente que numa perspectiva democrática, em que a gestão da escola é partilhada, esta adquire um caráter processual; não está “pronta”, não há “fórmulas mágicas”, não há modelos a serem seguidos. Isso gera, sem dúvida, muita tensão no coletivo escolar, muita ansiedade com o “tempo do processo”, com o tempo 3 Projeto Vivencial que as coisas levam para “acontecer”. Assim, muitas vezes, parece-nos muito mais fácil e plausível a adoção de práticas já realizadas por outras escolas ou de modelos, de “ferramentas”, de técnicas de gestão criados em outros espaços sociais. Sabemos que a dimensão contextual transversaliza todo o trabalho do gestor escolar. Seu trabalho implica uma complexidade de ações que vão desde o conhecimento sobre a função social da escola até as formas mais adequadas de condução do trabalho pedagógico, passando por questões relacionadas às dimensões administrativo-financeiras decorrentes da vinculação da escola com os sistemas de ensino. Obstáculos ao trabalho da gestão democrática na escola Realizar a gestão colegiada na escola implica a participação de todos os segmentos da comunidade escolar em todos os âmbitos da gestão: planejar, executar, acompanhar e avaliar são atividades que exigem a participação plena de todos. No entanto, como já dissemos anteriormente, avançar na direção de um projeto coletivamente produzido implica considerar que esse será um processo em permanente construção, dinâmico, marcado pela diversidade e pelos distintos modos de compreender a escola, suas finalidades, a organização do trabalho pedagógico, os currículos e as metodologias, enfim, cada escola tem sua “cultura”2. Dizendo de outro modo, cada escola é expressão de um processo histórico, por isso que, mesmo “imersa em um processo histórico de amplo alcance, é sempre uma versão local e particular desse movimento” (EZPELETA e ROCKWELL, 1989, p. 11). A “cultura de escola”, ou esse modo particular de ser de cada escola, revela correlações de força, dinâmicas interpessoais, representações e crenças nas quais são ancorados seu trabalho pedagógico, concepções e valores a partir dos quais se estabelecem as prioridades pedagógicas e administrativas; a esses determinantes associam-se as condições concretas em que os estudantes aprendem e os professores trabalham. Enfim, trata-se da “trama real” em que se realiza a educação. Portanto, reconhecer a escola em suas “tramas cotidianas” significa também compreender que os problemas, as dificuldades, os obstáculos são únicos e que, embora possam se assemelhar em alguns 4 Projeto Vivencial aspectos, diferenciam-se em muitos outros. Discutindo as dificuldades que podem ser enfrentadas pelos dirigentes escolares, especialmente as concernentes à participação, condição necessária à gestão democrática, Paro (2002) classifica-as de acordo com a origem dos fatores que as determinam: teríamos, então, dificuldades ou obstáculos decorrentes de determinantes internos3 à própria escola; e dificuldades produzidas por determinantes externos3 à mesma: Determinantes internos Determinantes externos * condicionantes materiais * condicionantes econômico-sociais * condicionantes institucionais * condicionantes culturais * condicionantes político-sociais * condicionantes institucionais * condicionantes ideológicos Esses determinantes conjugam-se de modo variado, conforme a particularidade de cada escola, assumindo graus variados de importância e de prioridade nas ações. O que é comum a todos esses determinantes é o envolvimento da comunidade escolar, que poderá ser potencializado ou minimizado, dependendo das articulações, das mobilizações, ou seja, da sua capacidade interna de construir seu próprio projeto de mudança. Essa capacidade interna, porém, não está dada, mas precisa ser construída e, nesse processo, o papel de coordenador, de articulador, desempenhado pelo diretor da unidade escolar, pode fazer a diferença. É preciso, então, lembrar que todo e qualquer processo de mudança gera ansiedades, temores, insatisfações e resistências. As mudanças, para serem efetivas, precisam ser assimiladas pelas pessoas, pelos grupos que criam e recriam o cotidiano da escola. Por isso, antes de qualquer iniciativa de mudança, é preciso ter uma “escuta”, ou seja, ouvir de modo qualificado todas as vozes da escola: pais, professores, estudantes, funcionários. Sem esse processo partilhado, as mudanças tendem a se tornar inócuas; “aterrissam” na escola e, dado seu caráter impositivo, tornam-se “estranhas” ao coletivo, negando a esse 5 Projeto Vivencial a possibilidade política de construir uma escola justa e democrática para todos. Como já discutimos anteriormente, trabalhar em grupo, coletivamente, não é tarefa fácil. Por isso, uma das queixas mais freqüentes dos diretores escolares diz respeito à articulação entre os interesses pessoais, particulares e aqueles de cunho coletivo; nesse terreno, manifestam-se diferentes expectativas que podem se expressar como conflitos. Esses conflitos, todavia, não devem ser ignorados ou reprimidos; ao contrário, devem ser reconhecidos como expressão das contradições que constituem a realidade escolar. Nessa perspectiva, as diferenças podem ser discutidas e negociadas em favor de um projeto coletivo. Pensar o trabalho coletivamente significa construir mediações capazes de garantir que os obstáculos não se constituam em imobilismos, que as diferenças não sejam impeditivas da ação educativa coerente, responsável e transformadora. Esse contexto relacional implica relações pautadas em uma ética que não convive com interesses competitivos e individualizados. No seu trabalho cotidiano os diretores: ¾ Administram tensões que podem tanto ser decorrentes de exigências burocráticoadministrativas advindas das instâncias superiores do sistema, como das próprias necessidades decorrentes do processo educativo desenvolvido no interior da escola ¾ Exercitam a negociação procurando conciliar interesses, expectativas, criar uma “unidade na diversidade” em função de um projeto coletivo de escola. Para isso, necessitam compreender que, numa época de apologia aos individualismos, as pessoas tendem a sobrepor seus interesses pessoais em detrimento daqueles coletivos ¾ Relacionam-se com as instâncias colegiadas das escolas (onde essas já estão organizadas). Para imprimir um caráter democrático ao seu trabalho, devem, então, tomá-las não como “instâncias auxiliares”, mas como necessárias à prática democrática da co-gestão 6 Projeto Vivencial ¾ Engajam-se nos processos da escola, sejam esses de caráter pedagógico ou administrativo; engajam-se em práxis criadoras ou reiterativas ¾ Interagem com os diferentes grupos sociais4 que participam da escola, coordenando a criação de condições objetivas que facilitem a participação dos mesmos. Cada grupo tem sua própria particularidade, o que significa, muitas vezes, a criação de modos singulares de interação Enfim, no campo das relações não há fórmulas prontas, acabadas. Os caminhos que também vão sendo coletivamente construídos podem funcionar como “bússolas” no trabalho do diretor da escola. Interação com as famílias A participação das famílias, consideradas como destinatários da escola, tem sido enfatizada por diversos estudiosos como uma das condições necessárias para a superação dos graves problemas que marcam a educação brasileira. Diante da retração do Estado no que tange ao atendimento das necessidades educativas da população, cabe às famílias o importante papel de pressão social, no sentido de exigir aquilo que lhes é de direito: educação pública, gratuita, com qualidade social. Além desse aspecto, a participação na gestão colegiada da escola torna-se também um espaço de aprendizagem para as famílias, na medida em que ali podem praticar o exercício da autonomia, da livre expressão de suas idéias e seus interesses. Os Retirantes – por Portinari Lembramos, todavia, que as iniciativas em prol da efetiva participação das famílias no interior da escola não devem ocorrer no sentido da substituição do Estado naquilo que lhe compete fazer. Aliás, iniciativas nesse sentido (chamar as famílias para os serviços de limpeza, cantina, substituição de professores, vigilância de pátio) podem muito bem produzir efeitos contrários: ao invés da presença, fomentar a ausência pela recusa das mesmas em assumir funções ou tarefas que não são suas. Como a própria palavra indica, “co-laborar” significa trabalhar juntos, mas não trabalhar pelo outro. 7 Projeto Vivencial Algumas dificuldades aparecem com freqüência no trabalho com as famílias: ¾ Representações, imagens desvalorizadas construídas pelos professores, dirigentes e funcionários com relação às famílias e sua legitimidade para participar das instâncias de decisão. A família é muitas vezes vista como incapaz, “inculta”, sem conhecimento para compreender as questões da escola ¾ As condições concretas de vida das famílias nem sempre são consideradas nas suas ausências ou dificuldades de participação – decorrentes de fadiga, horários de trabalho, duplas jornadas (no caso das mães). Os familiares são vistos como desinteressados, pouco comprometidos com a educação de seus filhos ¾ Os horários propostos para a participação, na maioria das vezes, são inadequados às condições de trabalho e de vida da maioria das famílias. Quando podem participar das reuniões, essas quase sempre se relacionam à apresentação de “queixas” com relação aos seus filhos e com pedidos para auxílio em casa, tarefa nem sempre possível devido às baixas taxas de escolaridade dos pais ¾ Nem sempre a participação das famílias é efetivamente possibilitada e valorizada pela escola. Sem espaços democráticos para se fazerem ouvir, sem disposição da escola para partilhar decisões e responsabilidades com as mesmas, as famílias acabam caindo no desalento, e num aparente comodismo, numa espécie de desistência da possibilidade da mudança. Reafirmam-se, assim, no cotidiano da escola, preceitos do senso comum de que “nada muda, nada pode ser mudado” Poderíamos levantar muitas outras dificuldades que cercam o trabalho com as famílias. Os exemplos acima expressam, em linhas gerais, os principais aspectos mencionados por professores, diretores e famílias quando o tema é sua participação na escola5. Sabemos que essa participação pode assumir diferentes formas: desde uma participação apenas para a execução até uma participação para o partilhamento de decisões. Superar a participação tutelada, concedida, em direção àquela efetivamente democrática, é também 8 Projeto Vivencial um aprendizado para a escola. Vejamos algumas ações que podem facilitar a relação com as famílias: * Realização de reuniões em horários compatíveis com aqueles das famílias, ainda que isso signifique repetir a mesma pauta de reunião em horários alternativos * Criar um clima amistoso nas reuniões: se essas ocorrerem nas salas de aula, mudar a disposição espacial da mesma, por exemplo, mudando a disposição das cadeiras, de forma a romper com as posições de “professores e estudantes” * Dialogar com os pais nas reuniões – ouvi-los considerando que todas as opiniões, discordâncias, interesses manifestados são legítimos * Criar condições concretas para que os pais possam participar efetivamente das instâncias deliberativas da escola * Auxiliar os pais em sua organização, fornecendo-lhes o apoio necessário à divulgação de informações, mobilização da comunidade; facilitar sua interlocução com outras instâncias do sistema educacional, se necessário Interação com/entre os professores e funcionários Se as relações com as famílias são fundamentais para a democracia da escola, igualmente importantes são as relações estabelecidas entre o dirigente escolar e o grupo de efetivos da escola – professores e funcionários. Dada a sua presença na maioria das vezes diária na escola, os professores tendem a estabelecer fortes vínculos entre si, criando aquilo que alguns autores denominam de “cultura profissional”, que tanto se deriva da trajetória na profissão, com seus habitus6 próprios, como também das relações construídas no cotidiano da escola. Essas relações grupais, muitas vezes mais estáveis e permanentes do que aquelas existentes entre as famílias, e destas com a escola, podem se manifestar na forma de interesses contraditórios, já que a consciência dos interesses mais amplos envolvendo as finalidades da escola em um projeto coletivo e transformador nem sempre ocorrem de forma imediata. 9 Projeto Vivencial Outro aspecto que pode se fazer presente como tensão no ambiente escolar diz respeito às relações entre diretor e professores, sendo que as resistências ao trabalho do primeiro podem ser ascendentes quando o provimento dessa função se dá de forma impositiva, em especial quando ocorre por indicação política. Resistências dessa natureza também podem ocorrer entre funcionários, cujo tempo de trabalho da escola pode torná-los profundos conhecedores da sua dinâmica e seu funcionamento. O tipo de polarização que esses conflitos assumem pode resultar em imobilismos quando tomam a forma de impasses, de dilemas; ou, podem ser fonte de crescimento para todo o coletivo da escola, quando são problematizadas e explicitadas as contradições que os movem. Não se trata, portanto, de considerar os conflitos e as tensões oriundos dos grupos de professores e funcionários apenas como expressão de “corporativismos” alheios aos interesses da escola. Esse é o discurso fácil que desconsidera, muitas vezes, quão justas são as reclamações, as intenções e as lutas dos professores e funcionários da escola. Está claro que a participação dos professores nas atividades coletivas da escola implica uma outra forma de organização do tempo-espaço da vida escolar. É necessário que o professor participe da vida escolar, o que inclusive lhe é colocado como direito e dever pela LDB 9394/96. É mister A construção dos tempos coletivos de trabalho, condição necessária às atividades de planejamento, de acompanhamento, de avaliação do trabalho, além daquele destinado à participação nos órgãos colegiados da escola, é condição necessária à implementação de uma educação pautada pela qualidade social reconhecer que essa participação é também trabalho, reconhecimento este que contraria os discursos em prol do voluntarismo, do tempo de trabalho “fora do horário do trabalho”. Cabe a toda a comunidade escolar – direção, pais, professores, funcionários — empenhar-se na luta, junto aos sistemas de ensino no qual atuam, pela efetivação do tempo de trabalho docente coletivo na escola. Muitos podem argumentar que algumas redes de ensino já tiveram essa experiência e que seu mau uso provocou sua extinção. Tal como a participação da comunidade na escola é um aprendizado, a construção dos tempos coletivos de trabalho na escola também é. 10 Projeto Vivencial Nesse processo de trabalho coletivo, os grupos de professores e funcionários devem ter acesso às condições necessárias à produção do conhecimento – sobre a realidade da escola, conhecimentos didáticos, de áreas específicas etc. – o que implica acesso a uma formação profissional de qualidade e a fontes de informações variadas (jornais, livros, revistas, Internet). Implica também acesso e Os professores não são anjos nem demônios. São apenas pessoas (e já não é pouco!). Mas pessoas que trabalham para o crescimento e a formação de outras pessoas. O que é muito. São profissionais que não devem renunciar à palavra, porque só ela pode libertá-los de cumplicidades e aprisionamentos. É duro e difícil, mas só assim cada um pode reconciliar-se com sua profissão e dormir em paz consigo mesmo (NÓVOA, 1999). possibilidade de realização de eventos tais como debates, seminários para troca de experiências, socialização de resultados (o que poderia incluir as famílias). O tempo-espaço de trabalho coletivo no interior da escola constitui-se também em importante espaço de formação em serviço. Para isso é preciso, no entanto, que se rompa quer seja com os espontaneísmos que muitas vezes caracterizam essas atividades, quer seja com as imposições, na forma de “cursos”, de “capacitações” tão comuns nas formações continuadas, raramente vinculadas às necessidades reais dos professores e/ou outros profissionais da escola. Fomentar o potencial transformador da ação docente e da atividade dos funcionários implica estabelecer um novo tipo de relação com ambos os grupos: a criação de condições de trabalho condizentes com suas necessidades profissionais, culturais e sociais não é tarefa apenas do diretor, embora esse possa, ancorado no coletivo da escola, ser um mediador importante junto às instâncias superiores do sistema. Outro aspecto que cabe ainda ressaltar é a posição ambivalente ocupada pelos professores nos discursos proferidos nos mais diversos segmentos sociais. Nesses discursos, parcela importante da responsabilidade pela educação tem sido atribuída aos professores, que se viram assim alçados ora a “culpados” pela crise educacional, ora a “salvadores” da mesma. 11 Projeto Vivencial Poderíamos fazer um longo texto falando das dificuldades e dos obstáculos que cercam o trabalho do professor na escola, sua relação com os dirigentes escolares, a desvalorização crescente da profissão, associada à crescente precarização do seu trabalho. Pensando, todavia, que as dificuldades também podem se constituir em alavancas para a mobilização e mudanças, o que poderíamos fazer no coletivo da escola, para garantir condições de trabalho coletivo e participação efetiva dos professores na gestão: * Criar, em comum acordo com as famílias, os tempos de trabalho coletivo dos professores na escola. Muitas atividades poderiam incluir a participação das famílias * Planejar processos de formação continuada, pautados nas reais necessidades dos professores e funcionários * Articular, apoiar, mediar mudanças nas instâncias superiores dos sistemas educacionais, de modo que sejam previstas horas de trabalho coletivo no interior das escolas * Criar condições efetivas à participação dos professores nas instâncias colegiadas da escola, favorecendo suas práticas organizativas * Incluir na formação continuada dos professores e funcionários atividades de cunho cultural – visitas técnicas, visitas a museus, inserção em espaços culturais * Articular e procurar garantir condições efetivas de trabalho para os professores e funcionários, o que inclui acesso a materiais, fontes variadas de informação, equipamentos e serviços de apoio, infra-estrutura física adequada às necessidades do processo ensino-aprendizagem Os estudantes, autonomia e participação Sem dúvida, as relações envolvendo a participação dos estudantes nas instâncias deliberativas das escolas têm sido uma das mais negligenciadas, sobretudo se considerarmos aqui as crianças pequenas. Consideradas como “infantes sem voz”, longe estamos de atribuir legitimidade às falas infantis, embora se reservássemos um tempo a escutá-las talvez mudássemos de opinião. Vejamos o que dizem um grupo de crianças sobre sua escola, quando indagadas sobre o que mudariam nela: 12 Projeto Vivencial “Colocaria um tempo para brincar depois do almoço, até um tempo para dormir” (3a série). “Eu mudaria a porta da sala, tá feia, e colocaria uma fechadura, a porta não fecha!” (1a série). “Eu mudaria os computadores, eu dava um pro Mateus e outro pra JH. E assim todos teriam computadores” (1a série). “Arrumar a quadra, fechar... é perigosa. Cortar a goiabeira, é perigoso” ( 2a série) “Mudaria na quadra, trocava a internet, parava aquela bagunça na sala e mudaria as janelas, as que estão quebradas” (2a série). “Eu mudaria o horário e as carteiras, elas estão ruins, na P. M. era muito ruim, aqui não! Tiraria a escola da tarde e só faria de manhã! A gente poderia brincar mais!” (3a série). Com os excertos acima, extraídos de uma pesquisa com crianças que freqüentam escolas em tempo integral de uma cidade de Santa Catarina (Pereira, 2006), podemos observar que as crianças não apenas fazem um “diagnóstico” da situação da escola como também oferecem sugestões. Se retirássemos as indicações de autoria, certamente essas falas poderiam ser atribuídas aos pais, aos professores etc. O que falta então para que as crianças possam ser consideradas também como partícipes qualificados da gestão da escola? Claro que precisamos reconhecer e aceitar que as crianças têm suas formas próprias de expressão, socialização, com especificidades e heterogeneidades que caracterizam sua forma de ser criança e o modo como vivem suas infâncias. Kramer (1999) alega que o processo pelo qual pessoas se tornam indivíduos e singulares se dá, exatamente, neste reconhecimento do outro e de suas diferenças, numa experiência crítica de formação humana. A desvalorização que observamos com relação às crianças pequenas também se verifica com relação aos jovens. A escola parece, de um modo geral, desconhecer que crianças e jovens precisam ser valorizados por aquilo que são hoje e não pelo que serão no futuro. Precisam ser respeitados em suas necessidades e especificidades não apenas de aprendizagem, mas de seu desenvolvimento como um todo. 13 Projeto Vivencial No caso dos jovens, esta situação agrava-se pelos já conhecidos problemas relacionados à violência ou à indisciplina. Não é negada, porém, a existência desses graves problemas que, produzidos por processos sociais cada vez mais excludentes, expressam-se com vigor também dentro das escolas, levando a atos e atitudes de violência simbólica e física contra colegas, professores, funcionários, patrimônio etc. Precisamos não esquecer, todavia, que a violência não tem “mão única”; exerce-se, também, de modo simbólico em muitas práticas educativas promovidas pela própria escola. Como já falamos anteriormente, o processo educativo escolar pressupõe diferenciações hierárquicas – a relação professor-estudante é uma dessas diferenciações, sendo inclusive condição para que o aprendizado ocorra. Reconhecer isso não significa afirmar ou concordar que a mesma se paute em condutas autoritárias, disciplinares e de poder, por parte dos professores. Ou seja, a condição para se construir uma convivência democrática e participativa dentro das escolas passa por atitudes que respeitem tanto a autoridade dos professores, dirigentes, quanto a dignidade e a autonomia dos estudantes. Precisamos ainda combater, no interior das escolas, o preconceito muito presente, ainda que dissimulado, que associa pobreza e violência. Tal crença alimenta falsas expectativas com relação aos jovens oriundos de famílias pobres, tornando-os por antecipação objeto de suspeição. Reproduzem-se ainda, como decorrência desse preconceito, velhas práticas sociais que entendem a educação das classes pobres como disciplinarização, como negação de autoria e de autonomia, fortalecendo condutas que legitimam o exercício do poder e do arbítrio. São comuns ainda em nossas escolas práticas pedagógicas centradas no paradigma de poder: “eu mando e você obedece”. Nesse tipo de relação, a não obediência é vista como delinqüência, passível de pena regimental que muitas vezes transcende a efetiva gravidade do ato. Não estamos aqui a desconsiderar a necessidade do estabelecimento de “limites”, de regras de convivência a serem observadas pelos estudantes, posto ser essa uma condição para a convivência coletiva em qualquer tipo de instituição social. A 14 Crianças Brincando – por Portinari Projeto Vivencial colocação de limites é uma das tarefas primordiais de todo educador. Todavia, não se trata de estabelecer uma lista de proibições e negações, mas de garantir o bem-estar e a segurança de todos. Os limites precisam ser claros, objetivos, lógicos, justos e coerentes. Precisam também ser negociados com a comunidade e compreendidos por todos. A construção da autonomia dos estudantes, sejam esses pequenos ou jovens, incluindo aqui a autonomia moral, tem como lugar, por excelência, para o seu desenvolvimento, o vínculo pedagógico que se estabelece entre educador e educando. Quando essa relação torna-se fonte de respeito, dignidade, diálogo, mútuo reconhecimento, torna-se também fonte de crescimento para todos os envolvidos. O que poderíamos fazer, em nossas escolas, para mobilizar a participação dos estudantes em suas instâncias deliberativas, criando novas pautas de comportamento e atitudes, não apenas entre os estudantes, mas também nos outros segmentos da comunidade escolar? O quadro a seguir nos apresenta algumas sugestões: * Criar formas de participação direta, utilizando estratégias adequadas às crianças de “pouca idade”, garantindo-se por esse meio que sejam ouvidas e legitimadas em suas opiniões, expectativas e sugestões * Fomentar e apoiar instâncias colegiadas de representação estudantil, tais como os grêmios, facilitando e auxiliando em sua organização * Articular e mobilizar a comunidade escolar para a construção de espaços culturais no interior da escola que possam ser acessíveis aos jovens em diferentes momentos de seu percurso escolar; lembramos que tanto os jovens como as crianças também são “produtoras de cultura” e não apenas consumidores * Discutir, negociar e estabelecer consensos com relação às regras de convivência, ao regimento da escola, que deve primar por regras que tenham de fato “sentido” para a comunidade escolar, e não apareçam apenas como mera repetição ou prescrição 15 Projeto Vivencial * Procurar garantir que os serviços de apoio existentes na escola, tais como bibliotecas, laboratórios, internet, possam ficar disponíveis para os estudantes não apenas nos horários de aula, mas também nos horários extraclasse. O direito à educação inclui iniciativas desse porte, pois podem se constituir em importantes mecanismos de inibição da evasão escolar * Favorecer, mobilizar e apoiar iniciativas organizativas dos estudantes, incluindo sua participação em movimentos sociais mais amplos, como a luta pelo “passe livre”, acesso diferenciado em todos os âmbitos e espaços culturais, etc. Referências CURY, C. R. J. O Conselho Nacional de Educação e a Gestão Democrática. In: OLIVEIRA, D. A. (org.) Gestão democrática da educação. 3 ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2001. _____. O princípio da gestão democrática na educação. Disponível em: www.tvebrasil.com.br/salto, 2005. EZPELETA, J. ; ROCKWELL, E. Pesquisa participante. São Paulo: Cortez: Autores Associados, 1989. KRAMER, S. et al. Infância, formação e cultura: uma trajetória de pesquisa (1999). Disponível em: www.maxwell.lambda.ele.puc-rio.br. PARO, V. Administração escolar: introdução crítica. São Paulo: Cortez, 2002. PEREIRA, P. S. A criança pela criança na escola pública integrada. Monografia. Joinville: Faculdade de Psicologia de Joinville, 2006. SANTOS, B. S. Uma concepção multicultural de direitos humanos. Lua Nova. Revista de Cultura e Política. no 39, São Paulo: 1997). VAZQUEZ, A. S. Filosofia da práxis. 2 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977. 16 Projeto Vivencial Anexos Anexo A 1 Práxis A palavra práxis é comumente utilizada como sinônimo ou equivalente ao termo “prático”. Todavia, se recorrermos à acepção marxista de práxis, observaremos que “práxis” e “prática” são conceitos diferentes. No sentido que lhe atribui o marxismo, práxis diz respeito à “atividade livre, universal, criativa e auto-criativa, por meio da qual o homem cria (faz, produz) e transforma (conforma) seu mundo humano e histórico a si mesmo” (Dicionário Marxista). Já o conceito de prática se refere a uma dimensão da práxis: a atividade de caráter utilitário-pragmático, vinculada às necessidades imediatas. Nesse sentido, em nossa vida cotidiana, tomamos as atividades práticas como dadas em si mesmas, sem questionarmos, para além das formas como aparecem, aquilo que constitui sua essência. Segundo Vazquez (1977, p. 10), “a consciência comum pensa os atos práticos, mas não faz da práxis – como atividade social transformadora – seu objeto; não produz – nem pode produzir, como veremos, uma teoria da práxis”. Compreendida então como atividade social transformadora, Vazquez (1977, p. 185) afirma que “toda práxis é atividade, mas nem toda atividade é práxis”. Nesse sentido, a práxis é uma atividade conscientemente orientada, o que implica não apenas as dimensões objetivas, mas também subjetivas da atividade. Dizendo de outro modo, a práxis não é apenas atividade social transformadora, no sentido da transformação da natureza, da criação de objetos, de instrumentos, de tecnologias; é atividade transformadora também com relação ao próprio homem que, na mesma medida em que atua sobre a natureza, transformando-a, produz e transforma a si mesmo. Se a atividade prática por si só não é práxis, tampouco a atividade teórica, por si só, é práxis. “A atividade teórica proporciona um conhecimento indispensável para transformar a realidade, ou traça finalidades que antecipam idealmente sua transformação, mas num e noutro caso, fica intacta à realidade” (VAZQUEZ, 1977, p. 203). Assim, se a teoria não 17 Projeto Vivencial transforma o mundo, “pode contribuir para sua transformação, mas para isso tem que sair de si mesma e, em primeiro lugar, tem que ser assimilada pelos que vão ocasionar, com seus atos reais, efetivos, tal transformação” (p. 207). Das afirmações acima, depreendemos que práxis, compreendida como prática social transformadora, não se reduz ao mero praticismo, tampouco à pura teorização. Nessa compreensão, a relação teoria e prática é indissociável. A compreensão da realidade, sustentada na reflexão teórica, é condição para a prática transformadora, ou seja, a práxis. A atividade transformadora é, então, atividade informada teoricamente. Nesse sentido, colocam-se em questão posições rotineiramente afirmadas em nível de senso comum, de refutação da teoria e de centralidade da prática, ou seja, de contraposição teoria-prática. Como bem afirma Vazquez (1977, p. 207): entre a teoria e a atividade prática transformadora se insere um trabalho de educação das consciências, de organização dos meios materiais e planos concretos de ação; tudo isso como passagem indispensável para desenvolver ações reais, efetivas. Nesse sentido uma teoria é prática na medida em que materializa, através de uma série de mediações, o que antes só existia idealmente, como conhecimento da realidade ou antecipação ideal de sua transformação. Em síntese, a relação entre teoria e prática implica um constante vaivém entre esses dois planos – teórico e prático. A atividade prática se sujeita, conforma-se à teoria, do mesmo modo que a teoria se modifica em função das exigências e necessidades do próprio real. Esse fenômeno entre teoria e prática só pode ocorrer se a consciência se mostrar ativa ao longo de todo processo prático. Resulta daí que é certo que a atividade prática, sobretudo como práxis individual, é inseparável dos fins que a consciência traça, estes fins não se apresentam como produtos acabados, mas sim num processo que só termina quando a finalidade ou resultado ideal, depois de sofrer as mudanças impostas pelo processo prático, já é um produto real (VAZQUEZ, 1977, p. 243). Diferentes níveis de práxis Considerando a práxis como ação transformadora do homem sobre o mundo, o que significa não apenas atividade prática, mas atividade prática sustentada na reflexão, na teoria, Vazquez (1977) postula a existência de diferentes níveis de práxis, dependendo do 18 Projeto Vivencial grau de consciência do sujeito no curso da prática, e com o grau de criação com que transforma a matéria, convertendo-a em produto de sua atividade prática. Com base nesses critérios – grau de consciência e de criatividade –, distingue, de um lado, a práxis criadora e a reiterativa ou imitativa e, de outro, a práxis reflexiva e a espontânea. Comecemos com o que o autor denomina de práxis criadora. Segundo Vazquez (1977), esta é determinante, já que nos possibilita enfrentar novas necessidades ou situações, criando permanentemente novas soluções. Todavia, uma vez encontrada, esta nova solução não se pereniza, pois a própria vida, com suas necessidades sempre renovadas, coloca a condição de transitoriedade de tudo aquilo que nos parece, por vezes, como permanente. Isso significa que entre os problemas e as suas soluções é preciso um diálogo permanente. Assim, em nossa ação sobre o mundo, alternamos a criação com a permanência, pois a própria dinâmica da atividade humana faz conviver o ato criador com o imitativo, criação com reiteração. A práxis criadora supõe uma íntima relação entre as dimensões subjetivas e objetivas – entre aquilo que planejamos e realizamos. Criar significa idealizar e realizar o pensado. Todavia esse processo é simultâneo, pois, sendo indissociáveis, não se conhecem de antemão seus caminhos, seus resultados. Assim, o projeto e a sua realização sofrem mudanças, correções, ao longo de seu caminho. Por isso afirmamos que é um “processo”. Ao contrário da práxis criadora, que é única e não se repete, temos a práxis reiterativa ou imitativa, que se caracteriza exatamente por sua “repetibilidade”, ou seja, por seu caráter de repetição. Nesse caso, opera-se uma ruptura entre o “pensado” e o “realizado”, entre o objetivo e o subjetivo. Essa ruptura se expressa pela repetição de um processo e de um resultado obtidos por meio da práxis criadora. Atua-se aqui a partir de “modelos” previamente construídos, em outras situações diversas daquela que originaram sua criação. Nesse caso, fazer é repetir ou imitar outra ação. Dizendo-se de outro modo, separa-se, aqui, planejamento de execução, e a ação torna-se mecânica. Se há um aspecto positivo nessa práxis – a possibilidade de generalização ou transposição de modelos, de ampliar o já criado –, por outro lado, essa mesma qualidade pode ser inibidora, impeditiva de ações criadoras, pois ela não produz mudanças qualitativas na realidade, não a transforma criativamente. 19 Projeto Vivencial Toda atividade prática humana exige algum tipo de consciência. Todavia, a complexidade, a qualidade e os graus de consciência implicados na atividade prática variam. Por exemplo, a práxis criadora exige um elevado grau de consciência com relação à atividade realizada, na medida em que não há modelos a priori, o que exige de nós uma capacidade maior de “dialogar”, problematizar, intervir, corrigir nossa própria ação. O contrário se observa na práxis reiterativa, em que o grau de consciência declina e quase desaparece quando a atividade assume um caráter mecânico. Considerando esses aspectos, Vazquez (1977) defende ainda que práxis humana – de acordo com o grau de consciência envolvido – pode ser distinguida em “práxis espontânea” e “práxis reflexiva”. Com isso o autor não estabelece uma relação linear entre “práxis reflexiva e práxis criadora” e, em oposição, “práxis espontânea e práxis reiterativa”. Ao contrário, negando essa linearidade, o autor afirma a possibilidade de existência da consciência reflexiva em atividades mecânicas. Por exemplo, um operário na linha de produção: o seu trabalho é mecânico, repetitivo, práxis reiterativa, todavia, pode possuir um grau de consciência elevado sobre o seu processo de trabalho e as condições em que ocorre. Nesse caso, observa-se uma elevada “consciência reflexiva”. Ou seja, uma elevada “consciência da práxis”. Assim, podemos dizer que a “práxis espontânea” implica o grau de consciência que se faz necessário à execução de qualquer tarefa – podendo ser aquela quase inexistente. De sua prática, o sujeito não extrai os elementos que possam propiciar uma reflexão sobre a mesma. Por isso, a práxis espontânea não é transformadora, ao passo que a “práxis reflexiva”, por implicar uma “reflexão sobre a práxis”, contém em si as possibilidades de transformação. 20 Projeto Vivencial Quadro comparativo entre os diferentes conceitos de práxis, conforme proposto por Vazquez (1977) Práxis criadora Práxis reiterativa Opera a partir da É determinante, pois “reiteração”, da “imitação” possibilita enfrentar e não da criação novas necessidades, situações, criando novas soluções Estabelece-se pelo diálogo constante entre o “problema” e suas soluções; não implica modelos prévios, o “caminho se constrói ao andar”; seu caráter é processual Supõe uma íntima relação entre as dimensões subjetivas e objetivas; entre o “planejado”, “pensado” e o “executado”, “realizado” É sempre única, irrepetível Supõe a transposição de modelos forjados na práxis criadora; a adoção de modelos implica ruptura, todavia com o contexto de sua criação, daí que essa práxis pode assumir um caráter mecânico, repetitivo, desprovido de sentido Supõe uma ruptura entre as dimensões subjetivas e objetivas; entre o “pensado” e o “realizado” Práxis espontânea Relaciona-se ao grau de consciência envolvida na atividade prática Práxis reflexiva Refere-se a um elevado grau de consciência envolvido na atividade prática Na práxis espontânea, a consciência envolvida na atividade é pequena, quase inexistente Supõe a “reflexão sobre a prática” Todavia, nem sempre em uma atividade repetitiva, mecânica, podemos dizer que há predomínio da práxis espontânea Tem caráter transformador É consciência da práxis É reiteração, imitação, por isso repetível Por implicar a generalização do já criado, pode funcionar tanto positivamente – multiplicação deste, como negativamente, como inibição da criação Referências BOTTOMORE, T. Dicionário do pensamento marxista. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997. VAZQUEZ, A. S. Filosofia da práxis. 2 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977. 21 Projeto Vivencial Anexo B 2 Cultura escolar O conceito de cultura escolar passou a integrar a pesquisa educacional recentemente. Tem sido vinculado aos estudos da sociologia da educação e, de modo particular, a uma nova vertente dentro desse campo de estudos, denominada de sociologia dos estabelecimentos escolares ou sociologia da organização escolar. Para os teóricos dessa área, as investigações educacionais, além de concentrarem-se sobre os aspectos mais amplos, relacionados à contextualização social e política educacional, precisam voltar-se também para os fatores intra-escolares – as escolas, nessa perspectiva, constituem-se em territorialidade espacial e cultural, “onde se exprime o jogo dos actores educativos internos e externos; por isso, a sua análise só tem verdadeiro sentido se conseguir mobilizar todas as dimensões pessoais, simbólicas e políticas da vida escolar [...] (NÓVOA, 1999, p. 16)”. Na perspectiva desses estudos, a escola é vista como um entre-dois, como uma dimensão meso, pois se coloca como um território intermediário entre o macrossistema e o microuniverso, este relacionado ao jogo dos sujeitos sociais em presença. Assim, centrase a análise sobre os fatores internos da escola – relações de poder, processos decisórios, clima da escola, cultura da escola etc. Enfim, trata-se de abordar, além das dimensões política, pedagógica, também a dimensão simbólica da escola. De acordo com Nóvoa (1999), o conceito de “cultura organizacional”, originado no mundo das empresas, foi transposto para a educação na década de 1970, tendo se originado daí muitos trabalhos de investigação. O pressuposto é que as escolas, mesmo integradas em contextos socioculturais mais amplos, também produzem sua cultura interna que exprime os valores, as representações, as expectativas, as crenças de seus membros. Duas distinções são feitas aqui: a) diferencia-se cultura interna de cultura externa e b) distingue-se cultura de estrutura organizacional. Com relação a este último aspecto, quer- 22 Projeto Vivencial se enfatizar que os aspectos estruturais, formais de uma organização e, nesse caso de uma escola, não evidenciam totalmente sua dinâmica cultural interna. No que se refere à cultura organizacional da escola, Nóvoa (1999) se refere a dois planos: uma “zona de invisibilidade”, caracterizada pela presença de bases conceituais e pressupostos invisíveis, e uma “zona de visibilidade”, constituída pelas manifestações verbais e conceituais, manifestações visuais e simbólicas e manifestações comportamentais. a) Bases conceituais e pressupostos invisíveis: referem-se aos valores, às crenças e às ideologias dos membros da escola. Essas dimensões se expressam no cotidiano da escola, ainda que não de forma clara ou explícita. Os valores, por exemplo, vinculam-se aos significados atribuídos às ações sociais e “constituem-se em um quadro de referência para as condutas individuais e para os comportamentos grupais”; já as crenças e ideologias são fatores decisivos nos processos de mobilização, de tomada de posição e decisão, podendo ser motivos de consensos ou conflitos. Para Nóvoa, esses “fatores invisíveis” são elementos-chave na dinâmica das instituições e nos processos de institucionalização de mudanças organizacionais b) Manifestações verbais e conceitos: fazem parte da “zona visível” da escola; aparecem no Projeto Político-Pedagógico, no organograma, nos objetivos e nas metas. Integram também, nesse sentido, as diferentes linguagens utilizadas pelo coletivo da escola; as imagens e metáforas veiculadas como elementos de mobilização ou de referência para as ações da escola. Trata-se aqui das teorias, dos valores, dos posicionamentos explícitos, divulgados, difundidos na e pela escola c) Manifestações visuais e simbólicas: tudo aquilo que tem forma material e que pode ser identificado visualmente. Como exemplo, citamos a arquitetura do prédio escolar – sua forma de organização, os ambientes que propõe, os equipamentos e materiais e sua disposição, as cores; incluem-se aqui aspectos relacionados também aos professores e estudantes – uniforme, se é obrigatório ou facultativo; 23 Projeto Vivencial logotipos, lemas, murais, muros ou paredes da escola com frases escritas (seu significado) etc. d) Manifestações comportamentais: incluem-se nessa categoria todos os fatores que podem influenciar os comportamentos dos sujeitos que compõem o coletivo da escola: prática pedagógica, avaliação, reuniões, escolha de diretores etc. As normas e regimentos, procedimentos operacionais (rotinas administrativas), rituais e cerimônias (festas, interações com os pais e a comunidade) também são aqui incluídas Essas categorias, tais como propostas por Nóvoa (1999), constituem a totalidade dos elementos da cultura escolar; o conhecimento e a análise dos mesmos ajudariam a compreender melhor os fatores intra-escolares; os elementos diferenciadores de uma escola para outra, por exemplo, no que se refere ao êxito ou fracasso escolar; a implementação de inovações ou de políticas. Em síntese, cultura escolar se refere aos modos particulares de interagir, de trabalhar, de agir e de pensar que se consolidam nas práticas cotidianas e expressam o “modo de ser particular” da escola; constitui o que alguns autores denominam a sua identidade. Os elementos culturais, ideológicos, as crenças e as expectativas vinculados aos sujeitos e aos grupos presentes no cotidiano da escola podem tanto fortalecer, consolidar, como expressar resistências aos processos que nela se desenvolvem. As diferenças entre as culturas das escolas explicariam por que certos processos despertam em algumas unidades pronta adesão, ao passo que em outras, grande resistência. Desprezar esses aspectos pode fazer com que as mudanças sejam inócuas, pois as mesmas, para serem efetivas, necessitam ser apropriadas pelos sujeitos por ela atingidos. Assim, apropriandose dos novos elementos, as antigas práticas podem ser re-significadas e transformadas ou modificadas. Referência NÓVOA, A. (org.). As organizações escolares em análise. Lisboa: Portugal: Dom Quixote, 1999. 24 Projeto Vivencial Anexo C 3 Determinantes internos e externos Paro (2002) considera a participação da comunidade escolar na gestão da escola como uma prática social, portanto, um processo que em seu curso encontra obstáculos e conflitos, assim como encerra potencialidades significativas de aprendizagem e cidadania. Compreender adequadamente os obstáculos que se apresentam nos processos de democratização das escolas é fundamental para que os dirigentes escolares possam criar condições para sua superação e para a implementação efetiva da comunidade nas instâncias decisórias da escola. Para tratar dessa questão, o autor menciona que a participação na gestão escolar é condicionada por duas ordens de determinantes: aqueles que têm origem na própria dinâmica interna da escola (condicionantes internos) e aqueles que são produzidos por fatores externos à escola (condicionantes externos). Dentre os determinantes internos, Paro indica quatro tipos de condicionantes: materiais, institucionais, político-sociais e ideológicos. Já nos determinantes externos, menciona: a) condicionantes relacionados às reais condições de vida da população; b) condicionantes culturais; c) condicionantes institucionais. Faremos a seguir uma breve exposição de cada um destes condicionantes. Determinantes internos: a) condicionantes materiais: referem-se às condições objetivas de trabalho e de relação presentes nas escolas. Se, por um lado, condições ótimas não são garantia, a priori, de relações democráticas, por outro lado, sabe-se que as estruturas materiais precarizadas dificultam a participação. A preocupação com a recuperação de infra-estrutura, com aquisições de materiais, equipamentos etc., necessários a um trabalho pedagógico, pode levar à secundarização de outros aspectos igualmente importantes na gestão. Por outro lado, alerta-nos o autor, é preciso tomar cuidado para que a precariedade material não se torne uma desculpa pra nada fazer b) condicionantes institucionais: são de grande importância, vinculando-se a aspectos como organização formal da escola – hierarquias, formas de provimento do cargo de direção, existência de mecanismos de participação coletiva, como os conselhos escolares, grêmios etc. Sabemos que as estruturas dos sistemas educacionais e das unidades escolares no Brasil constituem-se de forma verticalizada, favorecendo relações de mando e submissão, em detrimento de relações “horizontais”, mais simétricas e participativas. Igualmente, as formas de acesso aos cargos de direção nem sempre resultam da vontade do coletivo da escola, sendo muito freqüentemente resultado de indicação política. A isso se soma a fragilidade na 25 Projeto Vivencial implementação e conservação dos mecanismos de participação coletiva. Para superar esses obstáculos é preciso que as escolas procurem construir e manter mecanismos institucionais que viabilizem a participação de seu coletivo c) condicionantes político-sociais – interesses dos grupos dentro das escolas: ao mencionar esse aspecto, Paro atenta para a necessidade de se reconhecer a legitimidade da diversidade de interesses dos grupos que compõem o coletivo da escola. Isso quer dizer que as relações dentro da escola nem sempre são harmoniosas e sem conflitos, pois a consciência desses interesses não se dá de forma imediata nem espontânea; daí a necessidade não da sua negação, mas da superação dos particularismos em favor de um projeto coletivo. Segundo o autor: “na perspectiva da uma participação dos diversos grupos na gestão da escola, parece que não se trata de ignorar ou minimizar a importância desses conflitos, mas de levar em conta a sua existência, bem como as suas causas e suas implicações na busca da democratização da gestão escolar” (PARO, 2002, p. 47) d) condicionantes ideológicos: sendo a participação uma prática social, é mediatizada por concepções, crenças, “sedimentadas, historicamente, na personalidade de cada pessoa e que movem suas práticas e seus comportamentos no relacionamento com os outros”. Promover a participação implica considerar essa dimensão – o modo de pensar e de agir das pessoas – como um aspecto que pode facilitar /incentivar ou dificultar/ impedir a participação dos sujeitos na escola. Por outro lado, é importante que se considere tanto a “visão da escola a respeito da comunidade, quanto sua própria postura diante da participação popular” (p. 47). Com freqüência encontramos posturas ambivalentes da escola com relação aos pais – do paternalismo ao autoritarismo, da tutela ao abandono. Também, vale registrar as visões preconceituosas produzidas no interior da escola, em especial com relação àquelas famílias mais humildes, de origem mais popular. Essa visão depreciativa, segundo Paro, pode levar as comunidades a diminuírem seu autoconceito, afastando-se da escola. Outro aspecto que o autor menciona diz respeito ao próprio conceito de participação partilhado por aqueles que trabalham na escola. Participar pode ser compreendido como colaborar (em festas, bailes, promoções), pode ser entendido como acompanhar o filho em suas tarefas escolares. Em ambos os casos, participar não implica decidir Determinantes externos: a) condições objetivas de vida da população: esse pode ser um fator que dificulta a participação das famílias na escola: falta de tempo e cansaço, devido às jornadas longas e pesadas de trabalho, falta de condições de transporte até a escola, reuniões organizadas em horários de trabalho dos pais etc. Se essa ordem de fatores vincula-se mais às condições de pobreza em que vive a maioria da população, fugindo, portanto, à ação imediata da escola, conforme ressalta Paro, “isto não deve ser motivo para se proceder de forma a ignorar completamente providências que a escola pode tomar no sentido não de superar os problemas, obviamente, mas de contribuir para a diminuição de seus efeitos sobre a participação na escola” 26 Projeto Vivencial b) condicionantes culturais: referem-se à visão que a população tem sobre a escola e sobre sua participação na mesma. De acordo com Paro, há uma visão disseminada, no interior das escolas, de que as famílias não gostam de participar, pouco se interessando pela educação de seus filhos. Muitos estudos já mostraram que essa é uma visão preconceituosa e equivocada, desmentida pelos vários movimentos em prol de mais vagas nas escolas, pelas extensas filas nos dias de matrícula, pelas atitudes de valorização do sucesso dos filhos etc. De fato, se a importância da participação não se evidencia de modo espontâneo nas falas e atitudes das famílias, isso pode ser compreendido, de acordo com o autor, pela tradição autoritária da sociedade brasileira e fragilidade dos mecanismos e instâncias de participação social. Alude ainda o autor a que esse aparente comodismo das famílias parece relacionar-se também à ausência de perspectiva de participação, nas diferentes esferas do cotidiano das pessoas. Outros aspectos podem ainda ser considerados como o “medo que os pais das camadas populares experimentam diante da instituição escolar” [...], os constrangimentos de se “relacionar com pessoas de escolaridade, nível econômico e status social acima dos seus”, “medo do desconhecido”, quando se trata das questões pedagógicas e modos de relacionar-se no interior da escola e, por fim, pode ocorrer “receio, por parte dos pais, de represálias que possam ser cometidas contra seus filhos” (PARO, 2002, p. 61) c) condicionantes institucionais da comunidade: dizem respeito à presença de movimentos sociais organizados na comunidade em que está inserida a escola e suas relações com eles. Esses movimentos que podem variar de acordo com suas origens e métodos de atuação podem assumir formas mais democráticas, de participação popular ou clientelistas, o que implica também diferentes formas de participação no seu interior e de legitimação comunitária. Essas diferentes características medeiam também a compreensão das relações e articulações entre suas lutas e aquelas relacionadas à educação – muitas vezes, o caráter focal e imediatista das reivindicações faz ignorar a participação na escola como espaço também potencial de mudança. Assinala ainda Paro que lideranças populares podem apresentar posturas contraditórias com relação à participação na escola pública: “militantes que exibem posições bastante afirmativas na busca da concretização de seus direitos de cidadania [...] mostram-se de certa forma apáticos diante da questão da participação na escola pública. Por outro lado, a participação em movimentos sociais organizados pode também aumentar a consciência com relação à luta e participação na construção de uma escola democrática” Referência PARO, V. H. Gestão democrática da escola pública. São Paulo: Ática, 2002. 27 Projeto Vivencial Anexo D 4 Grupos sociais Os grupos sociais são objetos de estudos de campos de conhecimentos como a sociologia, a psicologia e a antropologia. Encontramos nessas áreas diversas definições, dependendo do enfoque priorizado pelo pesquisador. No entanto, em que pesem as diferenças, encontramos também pontos de convergência entre os estudiosos dessas áreas. De uma maneira genérica, podemos dizer que grupo é um conjunto de pessoas que interagem entre si, movidas por interesses ou objetivos comuns. Todo grupo tem uma estrutura mais ou menos durável, implica o desempenho de papéis e compartilhamento de normas e/ou valores. Dependendo de suas características, os grupos são classificados em espontâneos ou formais, primários (família) ou secundários (grupos institucionalizados). Os autores diferenciam ainda grupo de agrupamento. Neste último, não há processos duráveis de interação; podem incluir muitas pessoas, sem objetivos compartilhados de forma mais permanente; exemplificando: uma torcida em um campo de futebol pode ser apenas um agrupamento – interagem durante um tempo determinado e compartilham, apenas durante esse tempo, um objetivo comum – no caso, assistir ao jogo. Já uma torcida organizada constitui um grupo. Os estudos sobre grupos têm priorizado o foco em pequenos grupos – os chamados grupos de interação face-a-face: esse é o caso dos grupos presentes na escola. Dentre os autores desse campo de estudo, o mais referenciado é Kurt Lewin, psicólogo americano que no período do pós-guerra desenvolveu estudos focalizando aspectos relacionados às dinâmicas grupais. O autor analisa os grupos em termos de “espaços topológicos” e de sistemas de forças que configuram as relações entre seus membros. Ou seja, procura captar o que ocorre quando as pessoas estabelecem uma interdependência, observando o que ocorre entre elas com relação à realização dos objetivos propostos, ou com relação aos próprios membros do grupo – atração, afeição, rejeição, resistências etc. Dos estudos 28 Projeto Vivencial de Lewin derivam-se conceitos como coesão, liderança, pressão de grupo, para citar alguns (LANE, 1985). Lane (1985) critica os estudos de Lewin argumentando que eles trazem implícitos valores que visam reproduzir o individualismo, a harmonia e a manutenção. Na concepção de Lewin, a função social de um grupo é definir os papéis e a identidade dos indivíduos, garantindo a sua integração e a sua produtividade social. Lewin tem uma visão de grupo como algo acabado, coeso, “como se os indivíduos envolvidos estacionassem e os processos de interação pudessem se tornar circulares. Em outras palavras, o grupo é visto como a-histórico, numa sociedade também a-histórica” (LANE, 195, p. 79). Numa perspectiva contrária à de Lewin, temos a teoria de Pichon-Rivière1. O autor buscou no materialismo dialético e na psicanálise subsídios para elaborar uma teoria dialética de grupo. Para Pichon-Rivière, “grupo é um conjunto restrito de pessoas, ligadas entre si por constantes de tempo e espaço, articuladas por sua mútua representação interna, que se propõe de forma explícita ou implícita uma tarefa a qual constitui sua finalidade, interatuando através de complexos mecanismos de atribuição e de assunção de papéis” (PICHON-RIVIÈRE, 1988). Nessa concepção, todo grupo é marcado por tensões ou contradições, geradas por ansiedades, que podem constituir obstáculos para a sua ação, dificultando os processos de comunicação e de aprendizagem. O autor desenvolveu uma técnica de intervenção grupal denominada “técnica de grupos operativos”. Essa técnica visa uma análise sistemática das contradições que emergem no grupo, a partir da análise das ideologias e dos estereótipos que emergem tanto em nível individual como grupal. O objetivo é levar os integrantes do grupo à construção e/ou re-significação de valores, crenças, expectativas, etc. Em suma, sua proposta de intervenção toma como ponto de partida a análise das situações cotidianas do grupo para chegar à compreensão das pautas sociais internalizadas, que se expressam nas formas concretas de relações sociais entre os sujeitos envolvidos. 1 Enrique Pichon-Rivière (1907-1977) nasceu na Suíça e viveu na Argentina desde os três anos de idade, onde desenvolveu toda sua obra. Foi médico psiquiatra, sendo reconhecido por seus estudos e sua intervenção social. 29 Projeto Vivencial A identidade do sujeito constitui-se assim nas e pelas relações estabelecidas nos grupos sociais a que se vincula; o sujeito diferencia-se como resultado dessas relações. É interessante atentar para a discussão do autor acerca dos papéis que os indivíduos tendem a assumir no grupo, sempre considerando a relação destes com a tarefa proposta. Pichon-Rivière menciona cinco papéis: líder da mudança, líder da resistência, bode expiatório e porta-voz. Esses diferentes papéis não são estáticos, ao contrário, são móveis. O que quer dizer que não se tratam de características da personalidade dos sujeitos, mas são posições assumidas por esses diante da tarefa do grupo, das expectativas dos outros, de suas próprias expectativas. Incluem-se aqui aspectos de sua história pessoal, bem como da história do grupo. Assim, em um grupo podemos ter pessoas que assumem o papel de “líderes da mudança”, que são aqueles que tendem a “puxar” o grupo para frente, levar adiante sua tarefa, buscando soluções, mobilizando os demais; já, contrariamente, o “líder da resistência” manifesta atitudes de “puxar o grupo para trás”, evidenciando comportamentos que tendem a dificultar os avanços do grupo. Ambos os papéis são necessários, na medida em que criam certo equilíbrio na dinâmica grupal. O “porta-voz” do grupo, como o próprio termo já diz, manifesta comportamentos de “falar pelo grupo”, de expor as tensões, as ansiedades, verbalizar, dar forma aos sentimentos e conflitos do grupo; o “bode expiatório”, expressão popular conhecida, coincide em termos de grupo com aquelas pessoas que concentram sobre si as tensões do grupo; tendem a aparecer como “culpados” por situações que são, de fato, grupais. Em sua teoria, Pichon-Rivière reserva importante papel para o coordenador do grupo, a quem cabe perceber, analisar, criar condições para que os conflitos ou contradições do grupo possam ser discutidos e superados; cabe-lhe procurar fazer do grupo um espaço de aprendizagem para todos. Lane (1985) observa que a teoria de Pichón-Rivière é a que mais se aproxima de uma concepção dialética de grupos, contudo, também esta teoria carece ainda de um referencial metodológico mais firmemente enraizado na compreensão do grupo como processo social e histórico. Discorda do autor com relação à dicotomia proposta entre “interno” e “externo”; ou entre implícito/explícito (conceitos em sua teoria derivados da psicanálise) e do papel reservado ao coordenador do grupo – encarregado de tornar 30 Projeto Vivencial explícito aquilo que está implícito, não consciente no grupo. Para a autora, esse processo de conscientização pode ocorrer apenas em nível individual, não necessariamente implicando um processo de conscientização social no qual “as determinações históricas de classe e as especificidades da história individual se aclaram e se traduzem em atividade transformadora” (LANE, 1985, p. 94). Para a autora, não podemos esquecer que: a) “o significado da existência e da ação grupal só pode ser encontrado dentro de uma perspectiva histórica que considere a sua inserção na sociedade, com suas determinações econômicas, institucionais e ideológicas” e b) “o próprio grupo só poderá ser conhecido enquanto um processo histórico, e nesse sentido talvez fosse mais correto falarmos em processo grupal e não em grupo” (p. 81). Para finalizar, é importante ressaltar que o grupo social é condição para o próprio processo de constituição subjetiva dos sujeitos sociais. As relações que se desenvolvem em seu interior são historicamente engendradas, como o são as formas ou configurações grupais: papéis, expectativas, modos de relacionar-se são datados e situados historicamente, dependem da relação dos grupos com o contexto social mais amplo. Referências LANE, S. T. M. O processo grupal. In: CODO, W. e LANE, S. T. M. (org.) Psicologia Social: o homem em movimento. 2 ed. São Paulo: Brasiliense, 1985. PICHON-RIVIÈRE, E. O processo grupal. 3 ed. São Paulo: Martins Fontes, 1988. FREIRE, M. O que é um grupo? In: GROSSI, E. P. e BORDIN, J. (org.) Paixão de aprender. 2 ed. Petrópolis: Vozes, 1992. Anexo E 5 Participação Os discursos atuais, não apenas aqueles produzidos no campo da educação, têm sido povoados por uma infinidade de novos termos quase sempre relacionados à idéia de inovação. Um desses termos é “participação”, que, embora não sendo novo, vem sendo re-significado de acordo com o discurso que o incorpora, adquirindo, assim, diferentes 31 Projeto Vivencial conotações e sentidos, de acordo com as intenções e práticas sociais às quais é vinculado. Da esfera empresarial aos movimentos sociais, das instâncias governamentais às organizações de tipo associativo, cada vez mais somos solicitados a participar. Sendo, então, não apenas um conceito, mas também uma prática social, o conceito de participação sofre modificações que se vinculam também aos diferentes contextos históricos e às forças sociais em presença, o que pode implicar, por sua vez, diferentes modos de inclusão ou de relação entre Estado e sociedade civil. Gohn (1998), referindo-se a esse caráter histórico, destaca que, na década de 1970, os fortes movimentos populares pela democratização do país exigiam a abertura de espaços de representação popular – nesse contexto, participação vincula-se à idéia de cidadania e à pressão pela abertura de espaços de representação popular na esfera pública. Já nos anos de 1980, os movimentos em prol da participação centraram-se na consolidação e na conquista de novos espaços de participação na esfera do Estado. Esses movimentos ficaram fortalecidos pela Constituição Federal, aprovada em 1988, que, apoiada no princípio da democracia participativa, prevê o estabelecimento de conselhos de co-gestão nas diferentes esferas de atuação do Estado (conselhos de educação, de saúde, de assistência social, em nível dos estados federados e dos municípios). Na década de 1990, observamos uma ascensão da idéia de participação vinculada, em nível da esfera estatal, a uma nova concepção de gestão do Estado; governança, empowerment, poder local, accountability, etc., são alguns termos que começam a aparecer associados. Procura-se o estabelecimento de novas relações entre o Estado e a sociedade civil, mediante novos formatos institucionais de participação. Nesse novo contexto, vimos surgir as organizações não-governamentais, o chamado Terceiro Setor. Experiências sociais variadas, de cunho mais ou menos popular, inauguram diferentes dispositivos de participação da sociedade civil, na elaboração, execução ou avaliação das políticas públicas. Enfim, como podemos perceber, participação, em termos dos movimentos políticos, esteve sempre vinculada à idéia de partilhamento de poder, que, por sua vez, foi mais ou menos efetivo, dependendo da correlação de forças presentes em cada momento histórico. 32 Projeto Vivencial Mas, o que significa a palavra “participação”? A origem etimológica de participação encontra-se em “participatio”, do latim, que significa “ter parte na ação”, o que torna necessário ter acesso ao agir, bem como às decisões que orientam o agir (BENINCÁ, 1995). Na mesma direção, Bordenave (1992) destaca que participação – derivada da palavra “parte” – significa fazer parte, tomar parte ou ter parte. Esses três termos são apenas trocadilhos com a palavra parte ou expressam coisas diferentes? Para o autor, essas três expressões se referem a três modos distintos de participação, com implicações diferentes para aqueles que nela estão envolvidos. Veja no exemplo abaixo essas diferenças: “Bulhões faz parte de nosso grupo, mas raramente toma parte das reuniões”. “Fazemos parte da população do Brasil, mas não tomamos parte nas decisões importantes”. “Edgar faz parte de nossa empresa, mas não tem parte alguma no negócio” (BORDENAVE, 1992). Como podemos ver, participação não se vincula apenas aos movimentos políticos, faz parte da própria história da humanidade “participar”. Desde que nascemos, participamos de um grupo social – a família. Ingressamos depois em outros grupos de socialização secundária – escola, amigos, clube, trabalho. Analisando as diferentes formas de participar, Bordenave (1992) propõe a seguinte tipologia: 1) participação de fato: refere-se às primeiras atividades de participação do homem, realizadas no seio do grupo familiar ou do clã; estão associadas às suas necessidades de subsistência 2) participação espontânea: diz respeito às formas de participação em grupos sociais de amigos, de vizinhança; geralmente esses grupos são fluídos, sem organização estável e objetivos claramente definidos. A participação, nesse caso, vincula-se à necessidade de satisfações psicológicas, expressivas etc. 3) participação imposta: o indivíduo é obrigado a fazer parte do grupo e a fazer atividades consideradas indispensáveis. Exemplo: eleição obrigatória 4) participação voluntária: o grupo é criado pelos próprios participantes, que definem a organização, os objetivos e as formas de atuação do grupo. Exemplo: associações profissionais, ONGs. Nesta categoria, pode-se incluir uma 33 Projeto Vivencial subcategoria, a “participação provocada”: situação em que a formação do grupo é induzida por agentes externos, com a finalidade de realizarem objetivos que não aqueles do próprio grupo 5) participação concedida: relaciona-se com participação do indivíduo em instâncias que não foram criadas por ele. Mas sua presença, em termos de poder ou de influência, é considerada legítima tanto pelos subordinados como pelos superiores. Embora essa não seja ainda uma participação democrática, pode ser potencialmente transformadora Estes diferentes tipos de participação implicam, por sua vez, aos diferentes níveis de controle e de poder; por exemplo, o controle dos membros de um coletivo sobre as decisões e a importância destas últimas, podem resultar em maior ou menor possibilidade de partilhamento de poder e de relações igualitárias. No caso da escola, por exemplo, a participação da comunidade escolar pode ocorrer tanto em nível apenas de recepção de informações até como práticas efetivas de co-gestão. Podemos encontrar ainda variações entre esses dois extremos: a participação compreendida como consulta – indaga-se, pergunta-se, solicita-se à comunidade escolar sugestões, críticas etc. A consulta pode ser facultativa ou obrigatória (todos sejam obrigados a responder). Pode ocorrer também a elaboração de propostas, de recomendações da comunidade escolar para a direção da escola, que se reserva a opção de acatá-las ou não; nesse caso, temos um grau de participação mais elevado do que o anterior. Já a co-gestão implica o partilhamento da administração por meio de mecanismos de co-decisão e de colegialidade. Discutindo também a questão da participação, Gandin (2000) chama-nos a atenção para a ascensão do discurso da participação e sua generalização, destacando três aspectos preocupantes: a) pode servir de manipulação das pessoas pelas “autoridades”, através de um simulacro de participação; b) pode haver a utilização de metodologias participativas inadequadas pode levar a um desgaste das idéias e c) pode haver desgaste dos próprios processos participativos. Como base nessa análise, o autor ressalta os diferentes níveis em que a participação pode ser exercida: a) participação como colaboração; b) participação como decisão e c) participação como construção. 34 Projeto Vivencial a) Participação como colaboração: é o nível mais freqüente. As pessoas são chamadas a contribuir, porém a decisão já foi tomada por uma “autoridade”. Nesse caso, apela-se ao trabalho, apoio, ou mesmo silêncio, para que os resultados previstos sejam cumpridos. Nesse nível de participação, não há discussão sobre objetivos e/ou resultados; muitas vezes, solicitam-se sugestões, porém estas são acatadas ou não dependendo do pensamento do “chefe”. Leva à descrença sobre o processo, em especial pelo reconhecimento, dos participantes, de que sua presença é apenas secundária b) Participação como decisão: nesse nível, a participação vai além da colaboração, manifestando uma aparência mais democrática. Todavia, em geral são decididos aspectos menores, pouco relacionados com uma proposta mais ampla; as decisões são geralmente entre termos já preestabelecidos, sem influenciar os aspectos mais importantes c) Participação como construção: na prática é pouco freqüente e se refere a uma construção conjunta das pessoas. Há partilhamento de poder, assentando-se na idéia de igualdade entre as pessoas. Cada um, com seu saber próprio, com suas expectativas, suas crenças, seus ideais, converge para a construção de uma proposta comum Sendo a participação uma prática social, seu exercício é também facilitado ou dificultado de acordo com os condicionantes externos ou internos às instâncias ou aos grupos participativos. A estrutura social – e seus condicionantes de classe social –, a presença ou ausência de instâncias governamentais democráticas; as formas de organização social e as correlações de força estabelecidas em cada momento histórico podem também se relacionar com condicionantes internos aos grupos: partilhamento de teorias ou crenças, atuação dos dirigentes, expectativas com relação a objetivos estabelecidos etc. Enfim, muitas dificuldades podem surgir para a implementação da participação social efetiva e, de modo particular, no interior da escola. Contudo, acreditamos que a participação é uma construção democrática e um espaço de aprendizagem, pois se é certo que já se nasce inserido em um grupo (“fazer parte de”), aprende-se a “tomar parte” dele. 35 Projeto Vivencial Para sua reflexão... “Observa-se que o processo brasileiro de descentralização da educação não descentralizou, de fato, o poder no interior das escolas. Usualmente, esse poder continua nas mãos da diretora ou gestora, que o monopoliza, faz a pauta das reuniões dos conselhos e colegiados escolares, não a divulga com antecedência etc. A comunidade externa e os pais não dispõem de tempo e, muitas vezes, nem avaliam a relevância de participar ou de estar presentes nas reuniões. Além disso, usualmente, esses pais não estão preparados para entender as questões do cotidiano das reuniões, como as orçamentárias. Só exercem uma participação ativa nos colegiados aqueles pais com experiência participativa anterior, extra-escolar, revelando a importância da participação dos cidadãos(ãs) em ações coletivas na sociedade civil. O caráter educativo que essa participação adquire, quando ela ocorre em movimentos sociais comunitários, organizados em função de causas públicas, prepara os indivíduos para atuarem como representantes da sociedade civil organizada. E os colegiados escolares são uma dessas instâncias. Muitos funcionários das escolas são membros dos conselhos e dos colegiados escolares mas, usualmente, exercitam um pacto do silêncio, não participando de fato e servindo de “modelo passivo” para outros setores da comunidade educativa que compõem um colegiado. Por que eles se comportam assim? Porque, na maioria dos casos, estão presentes para referendar demandas corporativas, ou para fortalecer diretorias centralizadoras. Como elo mais fraco do poder, eles participam para ‘compor’, para dar número e quórum necessários aos colegiados, contribuindo com esse comportamento para não construir nada e nada mudar. Por que isso ocorre? Porque, embora os colegiados sejam espaços legítimos e de direito, e uma conquista para o exercício da cidadania, até por serem previstos em lei, essa cidadania tem que ser qualificada e construída na prática. Os projetos políticos dos representantes dos diferentes segmentos e grupos, seus valores, suas visões de mundo etc. interferem na dinâmica desses processos participativos. Para terem como meta projetos emancipatórios, eles devem ter como lastro de suas ações os princípios da igualdade e da universalidade. Os colegiados devem construir ou desenvolver essa sensibilidade por meio de um conjunto de valores que venham a ser refletidos em suas práticas. Sem isso, temos uma inclusão excludente: aumento do número de alunos nas escolas e estruturas descentralizadas que não ampliam de fato a intervenção da comunidade na escola. Temos setores que pretensamente estão representando o interesse público, mas que, na realidade, defendem o interesse de grupos e corporações, ou a manutenção do poder tradicional, cujo papel é exercer o controle, a vigilância, em razão de uma falsa participação ordeira, voltada para a responsabilização da comunidade (pais, mães e outros) nas ações em que o Estado se omite (SILVA, 2003)”. 36 Projeto Vivencial Referências BORDENAVE, J. E. D. O que é participação. 7 ed. São Paulo: Brasiliense, 1992 (Coleção Primeiros Passos, no 95). GANDIN, D. A prática do planejamento participativo. 8 ed. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2000. GOHN, M. G. Educação não-formal, participação da sociedade civil e estruturas colegiadas nas escolas. Ensaio: aval. pol. públ. Educ. Rio de Janeiro, v.14, no50, p. 2738, jan./mar. 2006. [Disponível em: www.scielo.org] Leitura recomendada GOHN, M. G. Educação não-formal, participação da sociedade civil e estruturas colegiadas nas escolas. Ensaio: aval. pol. públ. Educ. Rio de Janeiro, v. 14, no 50, p. 27-38, jan./mar. 2006. [Disponível em: www.scielo.org] Anexo F 6 Habitus O conceito de habitus, embora de origem antiga nos estudos das ciências humanas (já foi utilizado por Aristóteles e, posteriormente, por Durkheim), tornou-se conhecido na pesquisa educacional pelos estudos de Pierre Bourdieu. De acordo com Setton (2002), Bourdieu desenvolveu esse conceito a partir da necessidade de “apreender as relações de afinidade entre o comportamento dos agentes e as estruturas e condicionantes sociais” (SETTON, 2002, p. 62). Se há consensos que o homem “é sempre social”, porém, a compreensão das relações entre indivíduo e sociedade, mais especificamente, sobre como a “estrutura social” condiciona nossa subjetividade “ou nossa forma de ser”, sempre foi matéria de controvérsia entre diferentes estudiosos. Para Bourdieu (2002), habitus diz respeito às disposições incorporadas pelos sujeitos sociais em seu processo de socialização; integra experiências passadas, atua como uma matriz de percepções, de apreciações, de ações. Essa “matriz”, ou conjunto de disposições, nos fornece os esquemas necessários para a nossa intervenção na vida diária. Conforme trata o autor, essas disposições não são fixas, não são a personalidade nem a identidade dos indivíduos: 37 Projeto Vivencial “habitus é um operador, uma matriz de percepção e não uma identidade ou uma subjetividade fixa” (BOURDIEU, 2002, p. 83) Assim, conforme explicita o autor: Sendo produto da história, o habitus é um sistema de disposições aberto, permanentemente afrontado a experiências novas e permanentemente afetado por elas. Ele é durável, mas não imutável (BOURDIEU, 2002, p. 83). Baseando-se nas contribuições de Bourdieu (2002), Setton (2002), assim formula o conceito de habitus: Concebo o conceito de habitus como um instrumento conceptual que me auxilia pensar a relação, a mediação entre os condicionamentos sociais exteriores, e a subjetividade dos sujeitos. Trata-se de um conceito que, embora seja visto como um sistema engendrado no passado e orientando para uma ação no presente, ainda é um sistema em constante reformulação. Habitus não é destino. Habitus é uma noção que me auxilia a pensar as características de uma identidade social, de uma experiência biográfica, um sistema de orientação ora consciente ora inconsciente. Habitus como uma matriz cultural que predispõe os indivíduos a fazerem suas escolhas. Embora controvertida, creio que a teoria do habitus me habilita a pensar o processo de constituição das identidades sociais no mundo contemporâneo. (SETTON, 2002, p. 61). Referências SETTON, M. G. J. A teoria do habitus em Pierre Bourdieu: uma leitura contemporânea. Revista Brasileira de Educação, no 20, maio/jun/jul/ago, 2002. BOURDIEU, P. Entrevistado por Maria Andréa de Loyola. Rio de Janeiro: EDUERJ, 2002. Leitura recomendada SETTON, M. G. J. A teoria do habitus em Pierre Bourdieu: uma leitura contemporânea. Revista Brasileira de Educação, no 20, maio/jun/jul/ago, 2002. 38
Download