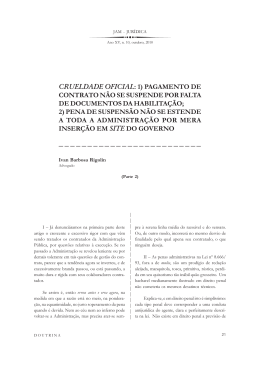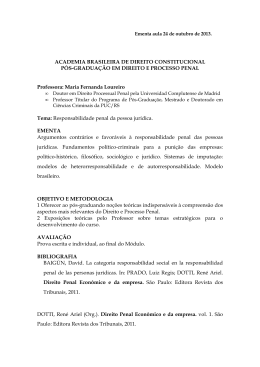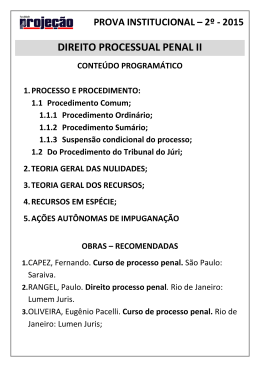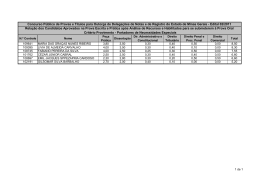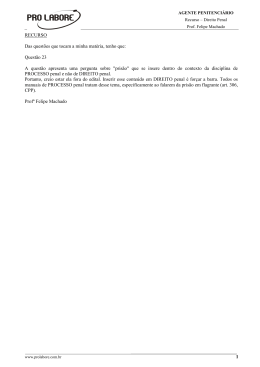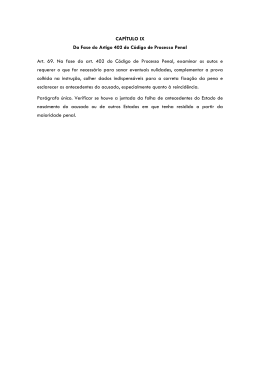Revista Justiça e Sistema Criminal Modernas Tendências do Sistema Criminal FAE Centro Universitário Rev. Justiça e Sistema Criminal Curitiba v. 4 n. 6 p. 1 - 276 2012 Associação Franciscana de Ensino Senhor Bom Jesus Presidente Frei Guido Moacir Scheidt, ofm Diretor-Geral Jorge Apóstolos Siarcos Centro Universitário Franciscano do Paraná Reitor da FAE Centro Universitário e Diretor-Geral da FAE São José dos Pinhais Pró-Reitor Acadêmico Frei Nelson José Hillesheim, ofm Diretor Acadêmico André Luis Gontijo Resende Pró-Reitor Administrativo Régis Ferreira Negrão Diretor de Campus – FAE Centro Universitário, Campus Prédio I Antonio Lazaro Comte Diretor de Campus – FAE Centro Universitário, Campus Prédio II Carlos Roberto de Oliveira Almeida Santos Diretor Acadêmico da Faculdade FAE São José dos Pinhais Wagner Rodrigo Weber Coordenador dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu Gilberto Oliveira Souza Coordenador dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu José Henrique de Faria Secretário-Geral Eros Pacheco Neto Diretor do Instituto de Ciências Jurídicas Sérgio Luiz da Rocha Pombo Ouvidoria Samar Merheb Jordão Diretor de Relações Corporativas Paulo Roberto Araújo Cruz Editor Paulo César Busato Editoração FAE Amália Patricia Valle Brasil (Diagramação) Ana Maria Oleniki (Diagramação) Braulio Maia Junior (Diagramação) Edith Dias (Normalização) Eliel Fortes Barbosa (Diagramação) Maristela Ferreira de Andrade Gomes da Silva (Coordenação) Marcela Narvaéz Botero (revisão de linguagem espanhol) Mariana Bordignon Strachulski de Souza (revisão de texto) Priscilla Zimmermann Fernandes (revisão de texto) Coordenadora do curso de Direito Aline Fernanda Pessoa Dias da Silva Coordenador do Grupo de Estudos Modernas Tendências do Sistema Criminal Paulo César Busato Pesquisadores do Grupo de Estudos Modernas Tendências do Sistema Criminal Alex Wilson Duarte Ferreira Alexandre Ramalho de Farias Alexey Choi Caruncho Almério Vieira de Carvalho Júnior Aysha Sella Claro de Oliveira Bibiana Caroline Fontella Camila Rodrigues Forigo Carolina de Freitas Paladino Clara Moura Masiero Danyelle da Silva Galvão Décio Franco David Denise Luz Emília Merlini Giuliani Fábio André Guaragni Fábio da Silva Bozza Fernando Antônio Carvalho Alves de Souza Gabriel Ribeiro de Souza Lima Jacson Luiz Zilio João Paulo Arrosi Júlia Flores Schütt Leandro Ayres França Márcio Soares Berclaz Mariana Andreola de Carvalho Silva Marlus Heriberto Arns de Oliveira Michelangelo Cervi Corsetti Odoné Serrano Júnior Paulo César Busato Regina Lúcia Alves Carneiro Rodrigo Jacob Cavagnari Rodrigo Régnier Chemim Guimarães Silvia de Freitas Mendes Stella Maris Piegel Stephan Nascimento Basso Tatiana Sovek Oyarzabal Conselho Editorial e Consultivo Alfonso Galán Muñoz, Dr. (Universidad Pablo de Olavide) Ana Cláudia Pinho, Msc (UFPA) Carlos Roberto Bacila, Dr. (UFPR) Carmen Gomez Rivero, Dra. (Universidad de Sevilla) Cezar Roberto Bitencourt, Dr. (PUC - Porto Alegre) Eduardo Sanz de Oliveira e Silva, Msc (FAE, Unicuritiba) Elena Nuñez Castaño, Dra. (Universidad de Sevilla) Fábio André Guaragni, Dr. (Unicuritiba) Francisco Muñoz Conde, Dr. (Universidad Pablo de Olavide) Geraldo Prado, Dr. (UERJ) Gilberto Giacóia (Fundinopi) Jacinto Nélson de Miranda Coutinho (UFPR) Juarez Cirino dos Santos (UFPR) Luiz Henrique Merlin, Msc (FAE) Marcus Alan de Melo Gomes, Dr. (UFPA) Mauricio Stegemann Dieter, Msc (FAMEC) Paulo César Busato, Dr. (FAE, UFPR) Rodrigo Régnier Chemim Guimarães, Msc (FAE, Unicuritiba) Sérgio Cuarezma Terán, Dr. (INEJ) Distribuição Comunidade científica: 300 exemplares Revista Justiça e Sistema Criminal. v. 1, n. 1, jul./dez. 2009 Curitiba: FAE Centro Universitário, 2009 v. ilust. Semestral ISSN 2177 - 4811 1. Direito penal - Periódicos. I. FAE Centro Universitário CDD 341.5 Os artigos publicados na Revista Justiça e Sistema Criminal são de inteira responsabilidade de seus autores. As opiniões neles emitidas não representam, necessariamente, pontos de vista da FAE Centro Universitário. A Revista Justiça e Sistema Criminal tem periodicidade semestral e está disponível em www.sistemacriminal.org. Endereço para correspondência: FAE Centro Universitário Rua 24 de Maio, 135 – 800230-080 – Curitiba – PR – Tel.: (41) 2105-4098. Apresentação Eis o sexto volume da Revista Justiça e Sistema Criminal. É possível dizer que alcançamos certa maturidade na composição do volume. Hoje as seções são fixas e contamos com inúmeros artigos enviados e selecionados dentro de uma produção que transcende em muito, não apenas a pesquisa realizada no Grupo de Estudos Modernas Tendências do Sistema Criminal, mas os próprios limites de tempo e espaço. O espaço, pelo permanente crescimento de trabalhos oriundos de autores estrangeiros; e o tempo, pela adição da já consagrada resenha de clássicos. A produção do grupo, ademais, ultrapassou os limites da revista, ingressando na seara intrincada da composição dos manuais, com o lançamento do primeiro volume da trilogia do Direito Penal baseado em casos. Isso, porém, não afastou o foco na produção vertical e cuidadosa de mais uma revista. Alcançamos, neste ano de 2012, o ajuste de periodicidade que estávamos buscan do, para no passo seguinte nos ajustar aos requisitos exigidos pelo Qualis. O artigo que abre o volume seis é o Paternalismo, de Gerald Dworkin. Trata-se da primeira, mas certamente não a última, contribuição do autor com nossa revista sobre o tema, mediante a precisa tradução de João Paulo Orsini Martinelli. No texto, parte-se do conceito de paternalismo de Stuart Mill, e se analisam, em seguida, vários exemplos de medidas paternalistas do Estado, concluindo-se por uma defesa contundente da autonomia individual. O tema tem sido objeto de constante atenção dos penalistas como uma opção em face da teoria do bem jurídico. Em seguida, aparece a contribuição sempre ajustada às tendências mais recentes do Direito Penal de Alfonso Galán Muñoz, tratando da recente reforma do Direito Penal espanhol, na qual se adotou a responsabilidade penal de pessoas jurídicas. Fechando o leque das contribuições internacionais, aparece a brilhante pena de Ricardo Rabinovich-Berkman, da Universidad de Buenos Aires, que transita entre a filosofia e a poesia para expor as raízes dos preconceitos, colocando o Direito Penal no banco dos réus quanto ao avanço na superação desse ranço. A seção nacional é aberta com Cezar Roberto Bitencourt, apresentando um dos seus trabalhos mais recentes incorporados na atualização de suas didáticas obras de parte especial, consistente em comentários sobre a advocacia administrativa nos crimes licitatórios. Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, jan./jun. 2012 Segue, então, trabalho de minha lavra, que constitui a última versão de uma análise a respeito da política criminal relacionada às Unidades de Polícia Pacificadora que iniciei há mais de um ano e meio, para livros-homenagens a importantes criminólogos brasileiros. O tema recobra importância pelas recentes manifestações de repúdio às instituições persecutórias recentemente ocorridas em São Paulo e Santa Catarina. No plano das reflexões processuais, recebemos pela primeira vez a contribuição dos mestrandos em Ciências Criminais da PUC do Rio Grande do Sul Bernardo de Azevedo e Souza e Daniel Kessler de Oliveira, tratando da iniciativa probatória do juiz com a marcante verve crítica daquela escola. O elo entre a PUC/RS e o Grupo de Estudos Modernas Tendências do Sistema Criminal é histórico e muito bem representado por um dos autores que pertence a ambos, Leandro França. Acompanhado de Nádia Gabriele Rudnick, apresenta interessante interseção entre o Direito Penal e a Medicina, abordando as questões relacionadas às implicações da transmissão do HIV/AIDS. A seguir aparece uma contribuição da nova geração da escola paulista de Direito Penal, na pessoa de João Paulo Orsini Martinelli, quem, além de já nos ter oferecido a tradução de Dworkin, ainda apresenta, vinculado ao tema do utilitarismo, uma interessante análise da perspectiva político criminal de um Direito Penal mínimo. De Goiás vem a contribuição de Nataly Evelin Konno Rocholl, retomando um tema ao mesmo tempo político e jurídico, atrelado ao Direito Penal e ao Direito Internacional, que é a questão da extradição, tecendo um vasto comentário técnico sobre o conhecido Caso Battisti. Demonstrando concretamente que o Grupo Modernas Tendências do Sistema Criminal mantém a preocupação de abertura de espaço para novos pesquisadores, aparece a profunda discussão teórica a respeito da restrição da liberdade de expressão proveniente do Grupo PET, da Universidade Federal do Paraná. Trata-se de um trabalho coordenado pelo Prof. Abili Lázaro Castro de Lima, com a colaboração dos acadêmicos Daniel Fauth Martins e Guilherme Milkevicz. Fecha o volume a resenha de clássicos a cargo de Michelângelo Corsetti, apresentando, desta vez, a obra Sobre la necesidad de una lesión de Derechos para el concepto de delito, o clássico multicitado de Johann Michael Franz Birnbaum, que praticamente funda a discussão sobre a teoria do bem jurídico. Curitiba, dezembro de 2012. Paulo César Busato Editor e coordenador do Grupo de Estudos Modernas Tendências do Sistema Criminal Índice Paternalismo (Gerald Dworkin _ Tradução de João Paulo Orsini Martinelli)______________________________________7 La Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica tras la Reforma de la lo 5/2010: entre la Hetero-y la Autorresponsabilidad (Alfonso Galán Muñoz)_____________________________________________________________________27 Amanhece, o que não é Pouco (Ricardo D. Rabinovich-Berkman _ Tradução de Paulo César Busato)_______________________________75 Advocacia Administrativa nos Crimes Licitatórios (Cezar Roberto Bitencourt)_________________________________________________________________85 As UPPS e a Territorialização como Código de Exclusão: Mais um Exemplo de Direito Penal do Inimigo (Paulo César Busato)_______________________________________________________________________101 Entre Justiceiros e Samambaias: Reflexões Constitucionais sobre a Iniciativa Probatória do Juiz no Processo Penal (Bernardo de Azevedo e Souza, Daniel Kessler de Oliveira)_______________________________________131 Transmissão do HIV/AIDS: Revolução Médico-Terapêutica e Aspectos Jurídico-Penais (Leandro Ayres França, Nádia Gabriele Rudnick)________________________________________________145 Uma Leitura Utilitarista do Direito Penal Mínimo (João Paulo Orsini Martinelli)________________________________________________________________185 A Extradição e o Ordenamento Jurídico Brasileiro – Estudos sobre o “Caso Battisti” (Nataly Evelin Konno Rocholl)_______________________________________________________________205 Contribuições Teóricas para a Restrição à Liberdade de Expressão (Abili Lázaro Castro de Lima, Daniel Fauth Martins, Guilherme Milkevicz)____________________________245 Resenha dos Clássicos sobre la Necessidad de uma Lesión de Derechos para el Cconcepto de Delito (Johann Michael Franz Birnbaum) (Michelangelo Corsetti)____________________________________________________________________269 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, jan./jun. 2012 PATERNALISMO PATERNALISM Gerald Dworkin* (Tradução de João Paulo Orsini Martinelli) RESUMO No presente artigo, o autor discorre sobre o conceito de paternalismo, suas características e as hipóteses em que é legítimo. Parte-se do conceito exposto por Stuart Mill, para o qual paternalismo é a intervenção na liberdade de alguém para seu próprio bem. Após conceituar e dar exemplos de medidas paternalistas do Estado, o autor defende a autonomia individual e conclui que, por muitas vezes, há necessidade de intervenção na liberdade individual por razões utilitaristas, tendo em vista a coletividade. Palavras-chave: Utilitarismo. Paternalismo. Liberdade. Stuart Mill. ABSTRACT In this article the author discusses the concept of paternalism, its characteristics and the situations on which it is legitimate. He starts from the concept that was exposed by Stuart Mill, for whom paternalism is intervention in the freedom of someone for their own good. After conceptualizing and giving examples of paternalistic measures from State, the author defends the individual autonomy and concludes, many times, that it’s necessary the intervention in individual freedom for utilitarian reasons in view of the collectivity. Keywords: Utilitarianism. Paternalism. Freedom. Stuart Mill. * Professor Emérito do Departamento de Filosofia da Universidade da Califórnia (UC Davis). Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 7-26, jan./jun. 2012 7 Nenhuma pessoa, ou grupo de pessoas, está autorizada a dizer a outra criatura humana, em idade madura, que esta não deve fazer aquilo que escolheu para sua vida porque não haverá nenhum benefício. (Mill) Eu não quero seguir um princípio voluntário. Eu acho que um companheiro deveria ser compelido a se tornar melhor e não deixá-lo usar sua liberdade de decisão se ele quiser ser mais esperto, mais saudável ou mais honesto. (General Hershey) Eu tomo como meu ponto de partida “um princípio muito simples” proclamado por Mill em On Liberty: Este é o princípio segundo o qual o único fim para o qual os homens estão autorizados, individual ou coletivamente, a interferir na liberdade de ação de alguma pessoa é a auto-proteção. O único propósito para o qual a força pode ser usada legitimamente sobre os membros de uma comunidade civilizada, contra sua vontade, é a prevenção de lesões a terceiros. Ninguém pode ser legitimamente compelido a fazer ou abster-se de algo porque isso seria o melhor a si mesmo, ou porque isso o faria mais feliz, já que, na opinião dos outros,1 fazer isso seria mais sábio ou mais correto. Esse princípio não é “único” nem “muito simples”. Há, na verdade, dois princípios: um afirma que a autoproteção ou a prevenção de lesão a terceiros estão suficientemente autorizadas, e outro alega que o bem do próprio indivíduo nunca é uma garantia suficiente para se exercer a coação sobre a sociedade, como um todo, ou sobre seus membros individualmente. Eu entendo que ninguém, com prováveis exceções de pacifistas extremos ou anarquistas, questiona que a primeira metade do princípio é correta. Este ensaio é um exame da pretensão negativa incorporada no princípio de Mill – a objeção a interferências paternalistas sobre a liberdade humana. (N. do T.) Outros são terceiros observadores que não a própria pessoa que sofre a restrição. O autor quis dizer que a própria pessoa que sofre a restrição não enxerga o que é melhor a si mesma e, por isso, aquele que interfere em sua liberdade de escolha imagina saber qual o comportamento mais apropriado. 1 8 FAE Centro Universitário I Por paternalismo eu compreendo, superficialmente, a interferência sobre a liberdade de ação de alguém justificada por razões referentes exclusivamente ao bem-estar, ao benefício, à felicidade, às necessidades, aos interesses ou aos valores da pessoa coagida. Sempre é melhor ilustrar as definições com exemplos, mas não é fácil encontrar exemplos “puros” de interferências paternalistas. Para a maioria, qualquer parcela do ordenamento está justificada por razões dos mais diversos tipos; e mesmo que, historicamente, essa parcela do ordenamento possa parecer ter sido introduzida por motivos puramente paternalistas, pode-se argumentar a seu favor com um aspecto antipaternalista, com fundamentos suficientes que a justifiquem sem recorrer àqueles que foram originalmente aduzidos para sustentá-la. Desse modo, por exemplo, pode ser que a legislação original que requer dos motoristas o uso do capacete tenha sido introduzida por razões paternalistas. No entanto, a Corte de Rhode Island, recentemente,2 confirmou tal norma, reconhecendo que “não se convencera de que o legislador fosse incompetente para proibir os indivíduos de traçarem um curso em seu comportamento que poderia, concebivelmente, resultar em prováveis encargos públicos”, introduzindo, assim, razões indiscutivelmente de naturezas diferentes. Agora, eu considero essa decisão baseada em raciocínio de natureza dúbia, mas isso ilustra o tipo de problema que alguém terá ao procurar exemplos. A seguir, eis uma lista de hipóteses de interferências que eu considero paternalistas. II 1.Leis que exigem dos motociclistas o uso de capacete de segurança quando conduzem suas motocicletas. 2.Leis que proíbem as pessoas de nadar em praias públicas quando os salva-vidas não estiverem em serviço. 3.Leis que fazem do suicídio problema de ordem criminal. 4.Leis que tornam ilegais alguns trabalhos para mulheres e crianças. 5.Leis que regulamentam certos tipos de comportamento sexual, por exemplo, a homossexualidade consentida entre adultos em lugares privados. 6.Leis que regulamentam o uso de drogas que podem trazer consequências ao usuário sem, no entanto, levá-lo a condutas socialmente nocivas. (N. do T.) O artigo foi publicado originalmente em 1971, portanto, o termo “recentemente” já perdeu sua atualidade. 2 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 7-26, jan./jun. 2012 9 7.Leis que exigem uma licença para exercer algumas profissões e impõem penas de prisão ou de multa para quem as exerce sem possuí-la. 8.Leis que obrigam as pessoas a gastar uma parte de seus rendimentos na aquisição de um plano de previdência e garantir uma aposentadoria (Seguridade Social). 9.Leis que proíbem várias formas de jogo (frequentemente justificadas pela maior probabilidade de que, nessas atividades, os pobres desperdicem mais seu dinheiro do que os ricos, que possuem melhores condições). 10. Leis que regulamentam as taxas máximas de juros nos empréstimos. 11. Leis contra o duelo. Além dessas que atribuem sanções civis e criminais a certos tipos de comportamentos, há leis, regras, regulamentos e decretos que dificultam ou tornam impossíveis os planos das pessoas, os quais são justificados por questões paternalistas. Exemplos disso são: 1.Leis que regulamentam os tipos de contratos que serão considerados válidos pelas cortes, por exemplo (um exemplo de Mill ao qual retornarei adiante), nenhuma pessoa pode celebrar um contrato válido colocando-se em servidão perpétua. 2.Não permitir que se utilize o risco criado pelo ofendido como defesa num processo baseado na violação de uma lei que impõe comportamentos seguros. 3.Não permitir, como argumento de defesa, o consentimento da vítima em um homicídio ou em um roubo. 4.Exigir que os seguidores de certos segmentos religiosos recebam transfusão de sangue compulsoriamente. Isso se dá ao não permitir ao paciente recorrer às instâncias judiciais para alegar eventual crime contra sua integridade física. 5.Procedimentos de interdição civil3 quando estes estão justificados especificamente para prevenir a pessoa interditada de lesar a si mesma. O Ato de Hospitalização dos Doentes Mentais do Distrito de Columbia4 estabelece a hospitalização voluntária da pessoa que “é mentalmente doente e, por causa dessa doença, é provável que provoque lesões em si mesma ou em terceiros, se for permitido que permaneça em liberdade”. O termo “lesão”, nesse contexto, aplica-se tanto a comportamentos intencionais quanto àqueles sem intenção. Todos os meus exemplos são de restrições existentes sobre a liberdade dos indivíduos. Obviamente, podemos pensar em interferências que ainda não foram impostas. (N. do T.) A expressão traduzida é “civil commitment”, que se aproxima dos institutos da interdição ou da medida de segurança. Na realidade, civil commitment é o procedimento no qual o juiz decide se a pessoa a quem se imputa doença mental deve ser encaminhada a um hospital psiquiátrico ou a outro tipo de tratamento. Não é um procedimento de condenação criminal nem consta como antecedentes criminais da pessoa interditada. Mais informações em <http://www.oregoncounseling.org>. Acesso em: 23 dez. 2009. 3 (N. do T.) O D.C. Hospitalization of the Mentally Ill Act, de 1965. 4 10 FAE Centro Universitário Nesse sentido, pode-se banir a venda de cigarros ou exigir que as pessoas utilizem o cinto de segurança nos automóveis (diferentemente de apenas tê-los instalados); obrigando tais comportamentos, o motorista estará impedido de processar alguém por lesões sofridas, mesmo quando causadas por outros condutores, caso o mesmo motorista não estivesse usando o cinto de segurança no momento do acidente. Eu não vou me preocupar com atividades que, apesar de serem defendidas em níveis paternalistas, não são interferências na liberdade das pessoas, como, por exemplo, dar subsídios em espécie, em vez de dinheiro, sob a alegação de que os beneficiários não gastariam o dinheiro com bens realmente necessários, ou não incluir uma provisão dedutível de mil dólares num seguro para automóvel alegando que as pessoas que a escolhessem não poderiam suportá-la. Tampouco vou me preocupar com medidas como leis que imponham propagandas sinceras ou legislação sobre alimentos e drogas puras, que frequentemente são atacadas como paternalistas, apesar de não poderem ser consideradas como tal. Nesses casos, tudo o que se exige – é verdade que pelo uso da coerção – são informações que, por presunção, as pessoas racionais têm interesse em adquirir para tomar decisões sábias. Não há interferência na liberdade do consumidor, a menos que alguém queira ir além do bom senso e dizer que essa liberdade de contrair o empréstimo sem saber a verdadeira taxa de juros é reduzida. É verdade que às vezes há um sentido de se ir além de fornecer informação, por exemplo, quando leis contra a usura destinam-se a prevenir de fazê-lo aqueles que aceitam contrair empréstimos com altas taxas de juros; essas medidas, corretamente, podem ser consideradas paternalistas. III Tendo esses exemplos em mente, deixe-me retornar à caracterização do paternalismo. Eu disse anteriormente que compreendo o termo, superficialmente, como interferência sobre a liberdade de alguém para seu próprio bem. Entretanto, como alguns dos exemplos mostram, a classe de pessoas que sofrem restrição nem sempre coincide com a classe de pessoas cujos bens estão em jogo. Por isso, no caso da licença profissional, quem sofre a restrição é o sujeito que pratica a conduta, entretanto, os interesses tutelados pertencem ao eventual paciente.5 Não permitir o consentimento do ofendido como (N. do T.) No Brasil, algumas profissões exigem a inscrição do profissional na entidade competente para sua regulamentação. Apenas dois exemplos: o médico precisa estar inscrito no Conselho Regional de Medicina (CRM) de sua área de atuação e o advogado tem que possuir inscrição regular na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) do respectivo Estado. Essa restrição ao exercício irregular da profissão interfere na liberdade de alguém com o intuito de proteger outras pessoas que possivelmente poderiam sofrer algum tipo de prejuízo por confiar um tratamento ou uma demanda a quem não seja, pelo menos em tese, qualificado para tal. 5 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 7-26, jan./jun. 2012 11 argumento de defesa em certos tipos de crimes afeta, primariamente, o eventual agressor, mas é o interesse da vítima que se pretende proteger. Algumas vezes, o indivíduo pode incidir nas duas classes de pessoas, como acontece no caso de se banir a fabricação e o comércio de cigarros e um determinado fabricante também ser um fumante. Desse modo, podemos dividir as interferências paternalistas em casos “puros” e “impuros”. No paternalismo puro, a classe de pessoas que sofrem a restrição é idêntica à classe de pessoas cujos benefícios se pretende alcançar com tal restrição. Exemplos: considerar o suicídio um crime, exigir dos passageiros de automóveis o uso do cinto de segurança, requerer que um seguidor da “Christian Science” receba a transfusão de sangue.6 No caso do paternalismo impuro, na tentativa de proteger o bem-estar de uma classe de pessoas, entendemos que o único meio de se atingir tal objetivo envolve a restrição da liberdade de outras pessoas diferentes das beneficiadas. Poder-se-ia pensar, agora, que não há casos de paternalismo “impuro” se considerarmos que tais casos podem ser justificados em termos não paternalistas, isto é, em termos de prevenir lesões a terceiros. Assim, deveríamos impedir que os fabricantes de cigarros manufaturem seu produto sob a alegação de que estaríamos prevenindo-os de causar doenças às pessoas, no mesmo sentido em que impediríamos outros fabricantes de despejarem poluentes na atmosfera, para que não causassem perigo aos membros de uma comunidade. A diferença é, entretanto, que no primeiro caso, mas não no segundo, a lesão é de tal natureza que poderia ser evitada pelos indivíduos afetados se assim optassem. A causalidade da lesão exige, podemos assim dizer, a cooperação ativa da vítima. Seria teoricamente um erro e uma hipocrisia, na prática, afirmar que nossa interferência, em tais casos, é como a interferência em casos padrões de proteção contra lesões. Pelo menos, alguém que sofreu uma intervenção nesse caso poderia responder que ninguém estava reclamando de suas atividades. Poderá acontecer de o paternalismo impuro exigir argumentos ou razões mais fortes para ser justificado, desde que haja pessoas que estejam perdendo parte de sua liberdade e não tenham o conforto de sofrer tais restrições “para o seu próprio bem”. É claro que em algum sentido, se as justificações paternalistas estiverem sempre corretas, então estaríamos protegendo outros, estaríamos evitando que alguns causem lesões a terceiros, mas é importante enxergar a diferença entre este e o caso padrão. Paternalismo, portanto, sempre envolverá limitações à liberdade de alguns indivíduos, em seu próprio interesse, mas também poderá estender essas interferências à liberdade de sujeitos cujos interesses não estejam em questão. (N. do T.) A expressão “Christian Science” refere-se ao dogma segundo o qual a experiência divina pode ser vivida no presente, sem precisar esperar o futuro, cuja obra a ser seguida são os escritos “Science and Health with Key to the Scriptures”, elaborados por Mary Baker Eddy. Mais informações em <http://christianscience.com>. 6 12 FAE Centro Universitário IV Finalmente, em sede de mais alguma análise preliminar, gostaria de distinguir interferência paternalista com liberdade de um tipo relacionado com o qual é confundido com frequência. Consideremos, por exemplo, a legislação que proíbe os empregados de trabalhar mais de, digamos, quarenta horas por semana. Argumenta-se, algumas vezes, que tal legislação é paternalista, pois, se os empregados desejassem tal restrição em suas horas de trabalho, os próprios teriam feito um acordo e restringido o horário voluntariamente. No entanto, por não tê-lo feito, a sociedade impõe sua própria concepção de melhor interesse aos trabalhadores por meio da coerção. Realmente, isso é paternalismo. Pode ser que alguma legislação dessa natureza seja, de fato, motivada paternalisticamente. Não estou negando isso. Tudo o que quero mostrar é que existe outro caminho possível de justificar tais medidas que não seja de natureza paternalista. Não é paternalista, pois, como Mill colocou num contexto similar, tais medidas são “requeridas não para desprezar o juízo dos indivíduos a respeito de seus próprios interesses, mas para efetivar esse juízo: eles são incapazes de executá-las exceto por um ajuste; esse ajuste não produz efeitos até que receba validade e sanção da lei” (Princípios de Economia Política). A linha de argumentação aqui é familiar, primeiramente encontrada em Hobbes, e desenvolvida com grande sofisticação por economistas contemporâneos na última década, aproximadamente. Há restrições que são de interesse de uma classe de pessoas consideradas coletivamente, porém, são tais que o interesse de cada indivíduo é atingido pela violação de regras quando outros aderem a elas. Em tais casos, os indivíduos envolvidos podem precisar do uso da coerção para dar efeito à decisão coletiva de seu próprio interesse, garantindo-se a concordância individual pelos demais. Nesses casos, a imposição não é utilizada para alcançar algum benefício que não seja reconhecido pelos envolvidos, mas, acima de tudo, porque esse é o único meio provável de atingir um benefício que seja assim reconhecido por todos os envolvidos. Essa forma de enxergar os problemas nos fornece outro retrato do paternalismo em geral. O paternalismo pode ser concebido como o uso da coerção para alcançar um bem que não seja reconhecido como tal pelas pessoas para as quais o bem é dirigido. Novamente, enquanto essa formulação captura o essencial da questão – a isso certamente Mill opõe-se em On Liberty –, ela não é absolutamente sempre desse jeito. Por exemplo, quando forçamos motociclistas a usar capacetes, estamos tentando promover um bem – a proteção da pessoa contra lesões – que é certamente reconhecido pela maioria dos indivíduos envolvidos. Não é que o motociclista não valorize sua integridade física; antes de tudo, como um partidário dessa norma poderia supor, ele ou coloca, talvez irracionalmente, outro valor ou bem (liberdade de não usar o capacete) sobre o bem-estar físico, ou, talvez, mesmo reconhecendo o perigo em abstrato, não o compreende completamente, ou subestima a probabilidade da ocorrência do dano. Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 7-26, jan./jun. 2012 13 Mas agora estamos nos aproximando das questões referentes a possíveis justificações das medidas paternalistas, e o resto deste ensaio será destinado a esse tema. V Eu começarei pelos objetivos dialéticos, discutindo as objeções de Mill ao paternalismo e, em seguida, continuarei a discorrer sobre propostas mais positivas. Um traço inicial que impressiona é a natureza absoluta das proibições de Mill ao paternalismo. São muito diferentes as advertências cuidadosamente qualificadas por Mill e seus seguidores utilitaristas em outras questões morais. Ele se refere à autoproteção como o único fim que garante a coerção e que os próprios objetivos do indivíduo nunca são uma garantia suficiente. Vamos comparar isso com sua discussão sobre a proibição de mentir em Utilitarianism: “Ainda que esta regra, sagrada como é, reconheça uma possível exceção, é aceito por todos os moralistas que o principal é até que ponto a supressão de um fato [...] poderia salvar o indivíduo [...] de um grande mal desmerecido”. A mesma hesitação se faz presente quando discorre sobre a justiça: É confessadamente injusto quebrar a confiança de alguém: violar um compromisso, seja expresso ou implícito, ou desapontar expectativas provocadas por nosso próprio comportamento, principalmente quando nós mesmos criamos essas expectativas, consciente e voluntariamente. Como todas as obrigações da justiça já discutidas, esta não é considerada absoluta, mas capaz de ser rejeitada por uma obrigação de justiça mais forte do outro lado. Essa anomalia clama por algumas explicações. A estrutura do argumento de Mill é a que segue: 1.Considerando que a restrição seja um mal, o ônus da prova recai sobre quem propõe tal restrição. 2.Desde que a conduta considerada diga respeito apenas à própria pessoa, não se pode apelar à proteção dos interesses dos outros. 3.Por essa razão, devemos considerar se as razões referentes ao bem, à felicidade, ao bem estar ou aos interesses do próprio indivíduo são suficientes para superar o ônus da justificação. 4.Tampouco podemos tentar buscar o benefício do indivíduo pela coerção se essa tentativa implicar mal superior ao benefício que se busca. 5.De fato, a promoção dos interesses do próprio indivíduo coagido não configura uma garantia suficiente para o uso da coerção. 14 FAE Centro Universitário Claramente, a premissa mais significativa aqui é a (4), e isso é reforçado quando se apela ao status do indivíduo como julgador e avaliador do seu bem-estar, interesses, necessidades etc. Em relação aos seus próprios sentimentos e circunstâncias, o homem e a mulher mais comuns têm meios de conhecimento imensuravelmente mais eficazes do que qualquer outra pessoa. Ele é a pessoa mais interessada em seu próprio bem-estar: o interesse que qualquer outra pessoa possa ter, exceto nos casos de forte apego pessoal, não é importante, comparando-se com aquele que a própria pessoa tem. Essas afirmações são usadas para sustentar as generalizações seguintes a respeito da utilidade da coerção pelos propósitos paternalistas. As interferências da sociedade que desconsideram o julgamento e os propósitos da pessoa sobre aquilo que interessa apenas a si devem ser consideradas em presunções genéricas; as quais podem ser todas erradas, e mesmo que sejam corretas, é provável que sejam mal aplicadas aos casos individuais. Mas o mais forte de todos os argumentos contra a interferência do público sobre condutas meramente pessoais é que, quando há a interferência, esta ocorre de forma errada e no lugar errado. Todos os erros que o indivíduo provavelmente venha a cometer por não acatar conselhos e advertências são menos reprováveis que o mal de permitir aos outros constrangê-lo a fazer aquilo que entendem ser o seu bem. Ao realizar o cálculo utilitarista, considerando as vantagens e desvantagens, encontramos o seguinte: “Os seres humanos ganham mais quando sofrem por viverem da forma como entendem melhor para si próprios do que compelindo os outros a viverem como o resto das pessoas entende ser o melhor”. Assim diz o enunciado (4). Esse clássico caso de argumento utilitarista com todas as premissas explicadas detalhadamente não é a única linha de raciocínio presente na discussão de Mill. Existem outras à parte que são muito diferentes desta, as quais irei analisar mais adiante. Mas esse raciocínio é, sem dúvidas, o principal caminho do pensamento de Mill e foi objeto de ataques vigorosos desde o momento em que surgira – com mais frequência por partidários do utilitarismo. O vínculo do qual eles têm consciência é, segundo Fitzjames Stephen colocou em Liberty, Equality, Fraternity, a ausência de prova de que “a massa de adultos seja tão consciente de seus próprios interesses e tão disposta a buscá-los que a ausência de coerção ou restrições impostas por Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 7-26, jan./jun. 2012 15 outros, com o propósito de promover-lhes seus interesses, possa, efetivamente, promovê-los”. Mesmo assim, um crítico solidário como H. L. A. Hart é obrigado a concluir que: No capítulo 5 de seu ensaio [On Liberty] Mill eleva seus protestos contra o paternalismo a níveis que agora podem nos parecer fantásticos... Sem dúvidas, se não nos simpatizamos mais com suas críticas, isso se deve, em parte, à maior desconfiança de que os indivíduos conhecem realmente seu melhor interesse. Mill dota o indivíduo mediano com “muito da estrutura psicológica de um homem de meia idade, cujos desejos estão relativamente estabilizados, que provavelmente não seja estimulado artificialmente por influências externas, que sabe o que quer e o que lhe dá satisfação e felicidade; e que possa ir atrás destes interesses quando quiser”. É interessante notar que o próprio Mill estava consciente das limitações da doutrina de que o indivíduo é o melhor julgador dos seus próprios interesses. Em seu discurso sobre a intervenção do governo em geral (mesmo quando não há interferência na liberdade, mas sim o oferecimento de opções alternativas às disponíveis), após invocar alegações como as discutidas acima, como, por exemplo, “pessoas entendem de seus próprios negócios e interesses e se importam com eles mais do que o governo, ou pelo menos é o que podemos esperar”, o autor continua a discorrer a respeito das “grandes e notórias exceções” com a seguinte máxima: “A maioria das pessoas possui uma visão mais justa e mais inteligente de seus próprios interesses, e do significado de promovê-los, do que uma norma universal, imposta pelo legislador, ou do que a análise do caso concreto feita por um agente público”. De fato, existem coisas cuja utilidade não consiste em orientar tendências, nem em servir ao uso diário da vida, e o anseio a elas é menos sentida onde a necessidade é maior. É peculiarmente verdadeiro que essas coisas são principalmente profícuas para a elevação do caráter humano. Os que não cultivam não podem julgar corretamente o cultivo. Aqueles que mais precisam se fazer mais sensatos e melhores seriam incapazes de encontrar o caminho para sua própria luz. [...] a segunda exceção à doutrina de que os indivíduos são os melhores julgadores de seus próprios interesses é o caso do sujeito que decide, no momento atual, de forma irrevogável, o que será melhor ao seu interesse num tempo futuro e distante. A presunção a favor do julgamento do indivíduo somente é legítima quando este juízo é fundado numa experiência real e pessoal; não onde ela é formada antecedentemente à experiência, e não tenha sofrido para ser revertido mesmo após uma experiência que o tenha condenado. 16 FAE Centro Universitário O desfecho dessas exceções é que Mill não declara que não deva haver interferência do governo na economia, mas sim que [...] em todas as instâncias, o ônus de compreender um caso extremo não deveria ser imputado àqueles que resistem, mas àqueles que recomendam a interferência do Estado. Permitir, em resumo, deveria ser a prática geral: todo tipo de interferência, exceto quando envolver um grande benefício, contém um certo mal. Em poucas palavras, nós temos uma presunção, não uma proibição absoluta. A pergunta é: por que o argumento contra o paternalismo não segue da mesma maneira? Eu sugiro que a resposta encontra-se em enxergar que, em complemento a um argumento puramente utilitarista, Mill utiliza outro argumento. Como um utilitarista, Mill deve demonstrar, assim como nas palavras de Fitzjames Stephen, que: “Autoproteção à parte, nenhum bem pode ser alcançado por uma coerção que não seja, em si mesma, um mal maior que a abstinência do objeto que se obtém com a coerção”. Para mostrar que isso é impossível, um argumento que não é verdadeiro. Proibir um sujeito de se vender como um escravo (uma medida paternalista que Mill aceita como legítima), ou de ingerir heroína, ou de conduzir um veículo sem usar o cinto de segurança, pode constituir um mal não tão grande como permitir qualquer uma dessas condutas. Um utilitarista consistente somente pode arguir contra o paternalismo considerando que isso (como um problema de fato) não maximiza o benefício. Isso é sempre uma questão contingente que pode se voltar pela evidência. Mas há sempre um argumento não contingente que permeia On Liberty. Quando Mill afirma que “há uma parte da vida de todas as pessoas em que se atinge o discernimento, dentro do qual a individualidade dessa pessoa deve reinar sem controle de qualquer outra pessoa ou da coletividade”, ele está dizendo alguma coisa sobre o que significa ser uma pessoa, um sujeito autônomo. É porque coagir uma pessoa para seu próprio bem nega seu status de uma entidade independente, o que Mill rejeita absolutamente, de forma veemente. Estar capacitado para escolher é um bem que independe da sabedoria daquilo que se escolhe. “A maneira como um homem planeja sua existência é a melhor, não porque seja melhor em si mesma, mas porque é à sua própria maneira”. Isso é um privilégio e uma condição própria do ser humano, que repousam na maturidade de suas faculdades, de usar e interpretar a experiência de seu próprio jeito. Como mais uma prova dessa linha de raciocínio em Mill, consideremos essa exceção à proibição do paternalismo. Nos países mais civilizados, por exemplo, um compromisso pelo qual alguém possa vender-se a outrem, ou permitir que seja vendido, como um escravo poderia ser nulo e inócuo; nem obrigado por lei ou por opinião. O motivo para limitar seu poder de dispor de sua sorte em vida é aparente, e muito claramente perceptível nesse caso extremo. A razão Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 7-26, jan./jun. 2012 17 para não interferir, exceto por causa de outros, sobre a conduta de alguém é a consideração por sua liberdade. Sua escolha voluntária é evidência de que aquilo que o sujeito escolheu é o desejável ou, pelo menos, suportável a si próprio, e seu bem é, de maneira geral, mais bem sustentado por permitir-lhe buscar seus próprios meios de alcançá-lo. No entanto, vendendo-se como escravo, o sujeito abdica de sua liberdade; ele abre mão de usá-la no futuro por causa desse simples ato. Ele, por isso, derruba o próprio argumento que justifica a disposição de sua liberdade. Ele não é mais livre; mas está, de agora em diante, numa posição que não se presume a seu favor. O princípio da liberdade não pode sustentar que alguém seja livre para optar por não ser livre. Não se permite a liberdade para alienar sua liberdade. Agora, deixando de lado o significado distorcido de liberdade visto acima, está claro que parte desse argumento é incorreta. Enquanto é verdade que escolhas futuras do escravo não são razões para pensar que aquilo que escolhe adiante seja desejável para ele, o que está em discussão é limitar sua escolha imediata; e desde que sua escolha seja feita livremente, o indivíduo poderá estar correto em pensar que seus interesses seriam mais bem atendidos ao aderir a esse contrato. Mas a principal consideração para não permitir tal contrato é a necessidade de se preservar a liberdade da pessoa de fazer escolhas futuras. Isso nos traz um princípio – muito restrito – pelo qual se justificam algumas interferências paternalistas. O paternalismo é justificado somente para preservar um maior alcance da liberdade do indivíduo em questão. Resta discutir o quanto esse princípio pode ser estendido e se ele pode justificar todos os casos nos quais estamos propensos a aceitar as medidas paternalistas. Tentei mostrar, por enquanto, que há dois estilos de argumentos em Mill – um é uma linha de raciocínio diretamente utilitarista, e outro não considera os bens a que a escolha livre conduz, mas sim o valor absoluto da escolha em si. O primeiro não pode estabelecer qualquer proibição absoluta, quando muito uma presunção e, de fato, um dado bastante frágil sobre suposições plausíveis a respeito da psicologia humana; o segundo, enquanto uma linha mais forte de argumento, parece-me permitir em suas próprias razões um maior alcance do paternalismo que poderia ser suspeito. Eu me volto agora às considerações desses temas. 18 FAE Centro Universitário VI Nós devemos começar procurando por princípios que orientem o uso aceitável de força paternalista nos casos em que, em geral, existe um acordo quanto à sua legitimidade. Até mesmo Mill entende que seus princípios são aplicáveis apenas aos adultos com maturidade, não àqueles que ele considera “deficientes”. O que justifica a interferência sobre crianças? O fato de que lhes faltam algumas capacidades emocionais e cognitivas requeridas para fazer escolhas completamente racionais. Essa é uma questão empírica segundo a qual crianças possuem uma concepção adequada de seus próprios interesses presentes e futuros, entretanto, não há dúvidas de que existem deficiências. Por exemplo, é muito difícil uma criança fazer durar algo prazeroso por um período de tempo considerável. Dadas essas deficiências e dados os perigos reais e permanentes que podem ocorrer à criança, torna-se não apenas permissível mas uma obrigação dos pais restringir a liberdade infantil de diversas maneiras. Há, entretanto, uma importante limitação moral para o exercício desse poder familiar, que vem da noção que o filho tem sobre a correição da intervenção dos pais. O paternalismo parental pode ser concebido como uma aposta que os pais fazem por um reconhecimento posterior da criança sobre a sabedoria da intervenção. Existe uma veemência sobre aquilo que poderia ser chamado de consentimento orientado ao futuro – pelo qual a criança vai reconhecer posteriormente aquilo que ainda não reconhece. A essência dessa ideia foi incorporada por filósofos idealistas entre vários tipos de teorias da “vontade real”, como as aplicadas a pessoas completamente adultas. Extensões do paternalismo são contestadas por várias vertentes; em diversos aspectos, indivíduos maduros compartilham com as crianças as mesmas deficiências em conhecimento, capacidade para pensar racionalmente e habilidade de tomar decisões. De fato, interferindo sobre tais pessoas, nós estaremos fazendo aquilo que fariam se fossem completamente racionais. Certamente nós não estamos nos opondo à sua vontade, não estamos interferindo em sua liberdade. Os perigos dessa opinião foram suficientemente expostos por Berlin em sua obra Two Concepts of Liberty. Não vejo ganhos em uma claridade teórica, nem uma vantagem prática, na tentativa de ignorar a real natureza das intervenções sobre a liberdade dos outros. Ainda, a noção essencial de consentimento é importante e parece-me a única maneira aceitável de tentar delimitar uma área de paternalismo justificável. Deixe-me começar considerando um caso em que o consentimento não é hipotético em sua natureza. Sob certas condições, é racional para um indivíduo concordar com que outros pudessem forçá-lo a agir de certa maneira que, ao tempo da ação, não poderia tê-la como desejável. Se, por exemplo, um homem sabe que está sujeito a quebrar suas convicções quando a tentação estiver presente, ele pode pedir a um amigo que se recuse a atender às suas solicitações em último caso. Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 7-26, jan./jun. 2012 19 Um exemplo clássico nos é dado na obra Odisseia, de Homero, quando Ulisses ordena a seus comandados que o amarrem ao mastro e recusem qualquer ordem futura para libertá-lo, pois ele conhece o poder das Sirenas de encantar os homens com suas canções. Aqui estamos diante de um fundamento seguro para recusar os pedidos posteriores de Ulisses. Ele até pode alegar que tenha mudado de ideia, porém, considerando que foi por causa dessa mudança de ideia que pedira proteção, estaremos propensos a ignorá-la. Um processo análogo a esse pode ter lugar em fundamento mais social que individual. Um eleitorado pode conceder o mandato a seus representantes para elaborarem determinada legislação que, quando aprovada, pode ser desagradável. Eu poderia acreditar que o aumento de um tributo seja necessário para segurar a inflação, embora ficasse ressentido com a diminuição dos meus rendimentos a cada mês. Entretanto, tanto nessa situação como no caso de Ulisses, a medida a ser adotada é especificamente requerida pela parte envolvida e, em algum momento, há um consentimento genuíno e a concordância de uma porção dessas pessoas cuja liberdade é atingida. Não é esse o caso para as medidas paternalistas das quais falamos. O que se deve envolver aqui não é o consentimento para medidas específicas, mas o consentimento para um sistema de governo, conduzido por representantes eleitos, com o entendimento de que eles podem agir para defender nossos interesses dentro de certos limites. Eu sugiro que, desde que estejamos conscientes de nossas propensões irracionais, deficiências nas capacidades cognitiva e emocional, e inevitável ignorância, é racional e prudente para nós levarmos a efeito “políticas de seguro social”. Podemos arguir favorável e contrariamente a medidas paternalistas propostas em termos de que indivíduos completamente racionais poderiam aceitá-las como forma de proteção. Agora, de forma mais clara, desde que o acordo inicial não seja sobre medidas específicas, nós estamos manuseando um cheque mais ou menos em branco e, por isso, deverá haver limites cuidadosamente definidos. O que estou procurando são certos tipos de condições que tornem plausível supor que os homens racionais poderiam alcançar um acordo para a limitação de sua liberdade mesmo quando os interesses de outros não sejam afetados. É claro que como em qualquer tipo de acordo existem grandes dificuldades em decidir o que indivíduos racionais aceitariam ou não. Particularmente, em áreas sensíveis da liberdade pessoal, existe sempre o perigo da disputa sobre acordo e racionalidade disfarçada de uma versão de desacordo avaliativo e normativo. Deixe-me sugerir tipos de situações nas quais parece plausível supor que indivíduos completamente racionais concordariam em experimentar restrições paternalistas impostas sobre si. É razoável supor que existem “bens”, como a saúde, que qualquer pessoa gostaria de ter em ordem para buscar seu próprio bem-estar – não importa como esse bem é concebido. Há um argumento usado em conexão com a educação compulsória de crianças, 20 FAE Centro Universitário mas me parece que pode ser estendido a outros bens que tenham o mesmo caráter. Assim, alguém poderia concordar que a obtenção desses bens poderia ser promovida mesmo quando não reconhecidos como tal, no momento, pelos indivíduos envolvidos. Uma dificuldade imediata surge pelo fato de que os homens estão sempre de frente com bens conflitantes e que poderá haver razões pelas quais mesmo um valor como a saúde – ou a vida – poderá ser superado pelos valores com os quais conflita. Nesse sentido, o problema com um seguidor da “Christian Science” e as transfusões de sangue. Poderá ser mais importante para ele rejeitar “substâncias impuras” que continuar a viver. O problema difícil que deve ser encarado é se alguém pode dar sentido à noção de uma pessoa que atribui irracionalmente pesos aos valores em conflito. Considere uma pessoa que conhece os dados estatísticos sobre a probabilidade de ser lesionado quando não utiliza o cinto de segurança de um automóvel e também conhece os tipos e gravidades das várias lesões. Essa pessoa também insiste que o incômodo de colocar e tirar o cinto toda vez que entrar e sair do veículo é mais significativo que os riscos para si própria. Nesse caso, estou propenso a pensar que tal consideração é irracional. Dados seus planos de vida – os que estamos assumindo são aqueles da pessoa mediana, seus interesses e compromissos já acometidos –, entendo que é seguro prever que podemos encontrar inconsistências em seus cálculos em algum ponto. Estou considerando que esse não é um homem que, por algumas razões conscientes e inconscientes, está tentando lesionar a si mesmo nem que simplesmente goste de “viver perigosamente”. Estou considerando que ele é como nós em todos os aspectos relevantes, no entanto, atribui um enorme valor negativo à inconveniência – o que não parece compreensível ou razoável. É sempre possível, claramente, assimilar essa pessoa como criatura semelhante a mim mesmo. Eu também negligencio em usar o cinto de segurança e considero tal comportamento irracional, mas não porque pondero os inconvenientes diferentemente daqueles que utilizam o cinto. Isso se dá apenas porque fazendo o mesmo cálculo (superficial) como todo mundo, eu o ignoro em minhas açõe _ nota: um caso muito melhor de fraqueza da vontade do que aqueles geralmente utilizados em textos sobre ética. Uma explicação plausível para esse hábito deplorável é que, apesar de eu saber, em certo sentido intelectual, quais são os riscos e probabilidades, não os aprecio completamente de uma maneira emocionalmente genuína. Existem dois tipos distintos de situações nas quais um homem age de forma irracional. Em um caso, ele atribui um peso incorreto a alguns de seus valores; no outro, ele é negligente em agir de acordo com seus valores e preferências reais. Claramente, existe um argumento mais forte e mais persuasivo para o paternalismo na última situação. Aqui não estamos realmente – por presunção – impondo um bem a outra pessoa. Mas por que não podemos estender nossa interferência àquilo que deveríamos denominar ilusões Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 7-26, jan./jun. 2012 21 de avaliação? Depois de tudo, no caso de ilusões cognitivas, estamos preparados, com frequência, a agir contra a vontade expressa da pessoa envolvida. Se um homem acredita que, ao pular pela janela, começará a voar – exemplo de Robert Nozick –, nós não o deteríamos, forçadamente, se necessário? A resposta será que esse homem não deseja ferir-se e, se pudermos convencê-lo de que está errado sobre as consequências de seus atos, ele não desejaria praticar tal conduta. Mas parte do que está envolvido em acreditar que o homem que não utiliza o cinto de segurança está atribuindo um valor incorreto para a inconveniência de utilizá-lo é que, se ele estivesse envolvido num acidente e fosse severamente ferido, olharia para trás e admitiria que o incômodo não era tão ruim. Então há um sentido em que, se eu pudesse convencê-lo das consequências de seus atos, o sujeito também não desejaria continuar no curso da ação. Agora, a noção de consequência aqui utilizada está mais abrangente. Num caso está sendo usada para indicar o que acontecerá ou poderá acontecer como resultado de um curso da ação e, no outro, está fazendo uma previsão sobre a avaliação futura das consequências – no primeiro sentido – de curso da ação. E qualquer que seja a diferença entre fatos e valores – seja isso difícil e rápido ou fácil e devagar –, nós somos genuinamente mais relutantes em consentir nas intervenções em que a questão são as diferenças avaliativas. Deixe-me agora considerar outro fator que entra em jogo em algumas dessas situações, que pode fazer uma importante diferença em nossa disposição para consentir em restrições paternalistas. Algumas decisões que tomamos são de tal caráter que produzem mudanças, de um jeito ou de outro, irreversíveis. São criadas situações nas quais é difícil ou impossível retornar àquilo que era no estágio inicial, quando a decisão foi feita. Em particular, algumas dessas mudanças tornarão impossível continuar com escolhas racionais no futuro. Eu penso especificamente em decisões que envolvem consumir drogas, que são física e psicologicamente viciantes, e aquelas que são destrutivas à capacidade mental e física da pessoa. Eu sugiro que pensemos na imposição de interferências paternalistas nas situações desse tipo como uma forma de política de segurança que adotamos contra a tomada de decisões que são graves, potencialmente perigosas e irreversíveis. Cada um desses fatores é importante. Claramente, tomamos muitas decisões que são relativamente irreversíveis. Ao decidir por aprender a jogar xadrez, eu poderia prever que, por causa do meu interesse por jogos, uma porção do meu tempo livre estaria preenchida e que não seria fácil desistir do jogo, uma vez adquirida certa competência. Entretanto, meu estilo de vida como um todo não seria prejudicado de uma forma extrema. Além disso, poder-se-ia arguir que mesmo com as drogas viciantes, como a heroína, os planos normais de vida de alguém não sofreriam sérias restrições se houvesse fornecimento barato e adequado prontamente disponível. Então, esse tipo de argumento deve ter um escopo mais estrito do que parece ser o primeiro caso. 22 FAE Centro Universitário Uma segunda classe de casos envolve decisões que são tomadas sob pressões psicológica e sociológica extremas. Não estou pensando aqui em situações em que alguém é pressionado a decidir algo – por exemplo, uma boa razão para considerar o duelo ilegal é que muitas pessoas teriam que manifestar sua coragem e integridade de forma que prefeririam não fazer –, mas sim em decisões tais como cometer o suicídio, que geralmente são tomadas em situações em que o sujeito não está pensando clara e calmamente sobre a natureza da escolha. Além disso, é claro, isso vem sob a chancela de decisões completamente irrevogáveis. Agora, há etapas práticas que uma sociedade pode seguir se pretende reduzir a possibilidade de suicídio – por exemplo, não pagando os benefícios de seguridade social aos sobreviventes ou, como as instituições religiosas fazem, não permitindo que essas pessoas sejam veladas da mesma maneira que aquelas que sofrem morte natural. Eu entendo que devemos considerar essas medidas como interferências na liberdade das pessoas para combater o suicídio, e a questão é se tais medidas seriam justificáveis. Utilizando meu esquema de argumento, a questão é se os indivíduos racionais consentiriam para tais limitações. Não vejo razão para o consentimento sobre uma proibição absoluta, porém, acho que seria razoável concordar com algum tipo de período de espera forçado. Desde que estejamos todos conscientes da possibilidade de estados temporários, tais como um grande medo da depressão, que são prejudiciais na elaboração de decisões bem-informadas e racionais, seria prudente para todos nós se houvesse algum tipo de organização institucional pela qual seríamos restringidos de decidir algo que fosse irreversível. O que isso seria na prática é difícil prever e pode ser que, se nenhum arranjo prático fosse viável, teríamos que concluir que não poderia haver qualquer tipo de restrição desse tipo de ação. No entanto, devemos ter um período de “calmaria”, semelhante ao que se exige dos casais que iniciam o divórcio, de quem se espera um período de reflexão. Ou, de uma maneira mais rebuscada, devemos imaginar um “conselho de suicídio”, composto por um psicólogo e outro membro escolhido pelo requerente. O conselho seria solicitado para encontrar e conversar com a pessoa, propondo-lhe que poupe sua vida, embora sua aprovação não seja exigível. A terceira classe de decisões – essas classes não são supostamente desconexas – envolve perigos que não são suficientemente compreendidos ou apreciados pelas pessoas envolvidas. Deixe-me ilustrar, utilizando o exemplo de fumar cigarro, uma série de possíveis casos: 1. Um homem pode não conhecer os fatos – por exemplo, não saber que fumar de um a dois maços de cigarro ao dia diminui sua expectativa de vida em 6,2 anos –, pode desconhecer os custos e a dor das doenças causadas pelo fumo etc. 2. Um homem pode conhecer os fatos, desejar parar com o cigarro, mas não ter a força de vontade suficiente. Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 7-26, jan./jun. 2012 23 3. Um homem pode conhecer os fatos, mas não tê-los aplicado corretamente nos seus cálculos porque, digamos, ele desconta o perigo psicologicamente por ser remoto no tempo ou supervaloriza os atrativos de outras consequências de sua decisão que considera como benéficas. No caso 1, o que se busca é educação, colocação de avisos etc. No caso 2, não há problema teórico. Não estamos impondo um bem a alguém que o rejeita. Estamos simplesmente usando da coerção para permitir que as pessoas busquem seus próprios objetivos – nota: há obviamente uma dificuldade em que apenas uma subclasse de indivíduos afetados deseja ser prevenida de fazer aquilo que estão fazendo. No caso 3, há um sentido no qual estamos impondo um bem a alguém que, segundo sua avaliação dos fatos, não deseja sofrer a restrição. Mas, em outro sentido, não estamos impondo um bem desde que o que se requer – e o que deve ser mostrado ou, pelo menos, discutido – é que uma conta precisa de sua parte o levaria a rejeitar o atual curso de sua ação. Agora todos nós sabemos que tais casos existem, que somos propensos a desconsiderar os perigos que são apenas possibilidades, que os prazeres imediatos são frequentemente ampliados e distorcidos. Se, além disso, os perigos forem severos e de grande extensão, poderíamos concordar em permitir ao Estado certo grau de poder para interferir em tais situações. A dificuldade está em especificar, com antecedência, mesmo vagamente, a classe de casos nos quais a intervenção será legítima. Há dificuldades relacionadas em impor limites de modo a não se privar de todas as atividades ultraperigosas, como, por exemplo, a escalada de montanhas, os rodeios, corridas de carros esportivos etc. Há certos riscos – mesmo muito grandes – que a pessoa tem o direito de assumir em sua vida. Uma boa medida depende da natureza da privação – por exemplo, se previne a pessoa de engajar-se completamente na atividade ou meramente limitar sua participação – e do quanto é importante à natureza da atividade a ausência de restrição quando esta é avaliada em relação ao papel que essa atividade exerce na vida da pessoa. No caso do cinto de segurança dos automóveis, por exemplo, a restrição é trivial por natureza, não interfere como um todo na utilidade ou no usufruto da atividade e reduz, eu assumo, consideravelmente os altos riscos de uma lesão séria. Ao passo que, por exemplo, tornar ilegal a escalada de montanhas previne completamente a pessoa de engajar-se numa atividade que pode exercer um papel importante em sua vida e sua concepção sobre a pessoa que é. Em geral, os casos mais fáceis para lidar são aqueles que podem ser discutidos nos termos em que Mill considera importantes – a preocupação não apenas com a felicidade ou o bem-estar do indivíduo, num sentido amplo, mas sim a preocupação com 24 FAE Centro Universitário sua autonomia e sua liberdade. Eu entendo que nós provavelmente consentiríamos com o paternalismo nesses casos nos quais se preserva e melhora a habilidade individual de considerar racionalmente e levar adiante suas próprias decisões. Eu sugeri neste ensaio alguns tipos de situações nas quais parece plausível que os homens racionais concordem em admitir poderes da sociedade ao legislador para impor restrições sobre condutas que Mill chamou de autorreferentes. Entretanto, homens racionais, que reconhecem alguma possibilidade de ignorância, das deficiências da vontade e a estupidez dos legisladores de uma sociedade – um bom caso em questão é a história da legislação de drogas nos Estados Unidos –, ficarão preocupados em limitar a intervenção ao mínimo. Eu sugiro uma aproximação de dois princípios projetados para alcançar esse fim. Em todos os casos de legislação paternalista deve haver um ônus da prova claro e evidente por parte das autoridades em demonstrar a exata natureza dos efeitos lesivos (ou consequências benéficas) a serem evitados (ou alcançados) e a probabilidade de sua ocorrência. O ônus da prova aqui é dobrado – o que os juristas distinguem entre ônus de prosseguir e ônus de convicção. Terem as autoridades o ônus de prosseguir significa que é sua opção levantar a questão e trazer evidências do mal a ser evitado. Diferentemente do caso de novas drogas, em que o produtor deve demonstrar alguma evidência de que a droga foi testada e não foi encontrado qualquer malefício, nenhum cidadão tem que mostrar, com respeito à conduta autorreferente, que sua conduta não lhe seja prejudicial ou que produza seu melhor interesse. Além disso, a natureza e a força da evidência da lesividade do curso de uma ação devem alcançar um alto nível. Para parafrasear uma formulação do ônus da prova para procedimentos criminais: melhor dez homens ruírem a si próprios do que um homem ser privado de sua liberdade. Finalmente, eu sugiro um princípio da alternativa da menor restrição. Se houver um caminho alternativo de acoplar o fim desejado sem restringir a liberdade, mesmo que isso envolva um alto custo, inconveniência etc., a sociedade deve adotá-lo. Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 7-26, jan./jun. 2012 25 LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA TRAS LA REFORMA DE LA LO 5/2010: ENTRE LA HETERO- Y LA AUTORRESPONSABILIDAD* THE CRIMINAL LIABILITY SYSTEM FOR LEGAL PERSON AFTER THE REFORM OF THE L.O. 5/2010: BETWEEN THE HETERO AND THE AUTORESPONSABILITY Alfonso Galán Muñoz** RESUMEN En el presente artículo se analizan los múltiples problemas y retos que afronta el nuevo sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas introducido por la LO 5/2010, para buscar una interpretación que lo dote de un fundamento seguro y permita además responder a las exigencias político-criminales que dichos entes plantean al moderno Derecho penal, sin sacrificar en el empeño las garantías que ha de observar cualquier sistema de imputación de responsabilidad penal de un verdadero Estado democrático y de Derecho. Palabras claves: Persona jurídica. Responsabilidad penal. Política criminal. Programas de cumplimiento. Criminalidad de la empresa. Moderno Derecho Penal. ABSTRACT In this article are analysed the multiple problems and challenges arose by the introduction of the new criminal liability system for legal person created by the LO 5/2010, with the intention of looking for an interpretation which gives a safe ground to the system and also allows to respond to the necessities of criminal policy which those entities pose to the modern criminal law, without sacrificing in the attempt the guaranties that must be observed by any system of imputation of criminal responsability a real democratic State and of Rights. Keywords: Legal person. Criminal liability. Criminal policy. Compliance programs. Economic crimes. Modern criminal law. * El presente trabajo es una versión ampliada y corregida de las conferencias impartidas en las Universidades de Las Palmas de Gran Canaria y La Laguna los días 18 y 19 de noviembre de 2010 respectivamente. ** Profesor Titular de Derecho penal - Universidad Pablo de Olavide. Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 27-74, jan./jun. 2012 27 INTRODUCCIÓN Si ha habido un tema objeto de controversia en los últimos tiempos en el seno de la doctrina española, éste ha sido el referido al reconocimiento de la posibilidad de imputar responsabilidad penal a las personas jurídicas. Pocas cuestiones han suscitado tantas y tan enfrentadas opiniones como ésta, encontrándonos con algunas que se manifiestan radicalmente en contra de dicho reconocimiento y otras que, sin embargo, entienden que su implantación no solo sería conveniente, sino que resulta absolutamente imprescindible y prácticamente inevitable en una sociedad postindustrial como la actual. Quienes defendían el tradicional principio penal recogido en el aforismo Societas delinquere non potest sostenían que el reconocimiento de la responsabilidad penal de entes colectivos chocaba frontalmente con la ausencia en ellos de algunas de las capacidades que dotarían de contenido a las categorías básicas configuradoras de la teoría general del delito como sistema de imputación de la responsabilidad jurídico-penal. Así, se afirmaba que al no ser las personas jurídicas entes autoconscientes dotados de capacidad de formar una verdadera y autónoma voluntad, no podían realizar conductas propias que pudiesen dar lugar a la apreciación de las acciones u omisiones que se requieren para iniciar el camino que llevaría a la imputación de responsabilidad penal conforme a la citada teoría, con lo que su carencia de capacidad de acción impediría que se les pudiesen atribuir los injustos típicos de los delitos de los que se les tratasen de responsabilizar1. En esta misma línea, se afirma que si las personas jurídicas realizan contratos e intervienen en el tráfico jurídico es gracias a las decisiones y actuaciones de algunas personas físicas (sus representantes, administradores, etc.), con lo que lo lógico será pensar que deben ser éstos últimos y no aquéllas, quienes tendrían que recibir cualquier responsabilidad penal que se pudiese derivar de la realización de tales actividades cuando llegasen a ser delictivas. Imputar a la persona jurídica responsabilidad por algo que habría hecho de forma completamente autónoma un ser autoconsciente diferente supondría hacerle responsable de un hecho ajeno. De un hecho que en realidad habría cometido un tercero, lo que llevaría a que dicha imputación violase una de las exigencias básicas derivadas del irrenunciable principio penal de culpabilidad, como es la exigencia de la personalidad de las penas2. Pero la posibilidad de imputar responsabilidad penal a las personas jurídicas no sólo se enfrenta a estos problemas. El hecho de que se las considerase como entes Así, por ejemplo, GRACIA MARTÍN, L. La cuestión de la responsabilidad penal de las propias personas jurídicas. En: CARRASCOSA LOPES, V. (Ed.). Dogmática penal, política criminal y criminología en evolución. Laguna: Centro de Estudios Criminológicos; Granada: Comares, 1997. p. 197 y ss. 1 MIR PUIG, S. Derecho penal: parte general. Barcelona: Reppertor, 2005. p. 194, el mismo autor en Una tercera vía en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas, RECPC, 06-01-2004. Disponíblel em: <http://criminet.ugr.es/recpc/06/recpc06-01.pdf>. Acesso em: 12 jul. 2011. p. 1-9. 2 28 FAE Centro Universitário carentes de voluntad propia también lleva a que se niegue que gocen de verdadera capacidad de culpabilidad. Las normas penales tratan de motivar a los ciudadanos para que realicen o no realicen determinados comportamientos, siendo precisamente el hecho de que decidan no cumplir con lo que las normas les exigen, pese a haber podido ser motivados de una forma suficiente por ellas, lo que permite considerarles culpables del injusto que habrían realizado al incumplirlas3. Sin embargo, las personas jurídicas no se pueden motivar por las normas que se les dirijan, con lo que, incluso si se les llegase a poder imputar algún injusto, resultaría imposible considerarlas culpables del mismo al carecer de capacidad de culpabilidad que se necesitaría para poder hacerlo4. Pese a todo, tampoco ha sido éste el último argumento técnico sustentado contra el reconocimiento de su responsabilidad penal. También se ha afirmado que el hecho de que estas entidades supongan meras ficciones jurídicas que permiten imputar derechos y obligaciones a un conjunto de activos patrimoniales unificados y dotados de personalidad jurídica, impediría que las penas que se les pudiesen llegar a imponer pudiesen alcanzar los efectos que preventivos tienen que cumplir, incluso por exigencia constitucional. Así, por ejemplo, ¿cómo se intimidaría a una persona jurídica si no se la puede motivar? Y lo que es incluso más importante, ¿cómo se la reeducaría? ¿Cómo se articularía su proceso de reinserción social expresamente exigido por nuestra Constitución española para todas las penas? La persona jurídica mostraría así una nueva incapacidad. Carecería de capacidad de punibilidad y con ello, se volvería a demostrar la vigencia del viejo principio de que las Sociedades, como tales, no solo no pueden delinquir, sino que además tampoco pueden ser penadas5. Frente a esta postura se alzaban, sin embargo, las voces de quienes afirmaban que el Derecho penal no podía permanecer ajeno a la importancia que estas entidades tienen en la sociedad actual. Sobre este concepto de culpabilidad y sus consecuencias véase lo señalado por MUÑOZ CONDE, F.; GARCÍA ARÁN, M. Derecho penal: parte general. Valencia: Tirant lo Blanch, 2010. p. 352 y ss. 3 Así, entre otros, LÓPEZ PEREGRÍN, C. La discusión sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas y las consecuencias accesorias del art. 129 CP, once años después. En: MUÑOZ CONDE, FRANCISCO (Dir.). Problemas actuales del derecho penal y de la criminología. Estudios penales en memoria de la profesora Dra. María del Mar Díaz Pita. Valencia: Tirant lo Blanch, 2008. p. 568. 4 GARCÍA ARÁN, M. Algunas consideraciones sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En: CEREZO MIR, José, et al. El nuevo código penal: presupuestos y fundamentos, libro homenaje al profesor Doctor Don Ángel Torio López. Granada: Comares, 1999. p. 326 5 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 27-74, jan./jun. 2012 29 Las personas jurídicas constituyen, a día de hoy, el grupo más nutrido, importante y poderoso de los actores económicos. La cada vez mayor exigencia de acumulación de capitales y recursos para realizar actividades económicas, lleva necesariamente a que éstos se agrupen a través de la constitución de numerosas y cada vez más grandes y complejas entidades colectivas. Actividades tales, como al energética, la financiera, la química o la farmacéutica, entre otras muchas, serían difícilmente realizables en el mundo actual de no mediar la utilización de este tipo de entidades, hecho que las convierte en agentes esenciales de la economía no solo nacional sino mundial, pero también les otorga el papel de titulares y responsables de muchos de los más importantes focos de grandes riesgos de las sociedades postindustriales6. Parece innegable que riesgos tales como los medio-ambientales, los relativos a la salud pública, los referidos a la energía atómica o incluso la mayoría de los que pueden llegar a poner jaque a grandes e importantes sectores del sistema económico actual (sistema financiero, bolsa, etc.) proceden de actividades realizadas por personas jurídicas, circunstancia que llevó hace ya algún tiempo a Schünemann a afirmar que el Derecho penal estaba obligado a dar una respuesta preventiva adecuada a su existencia e importancia, dejando a un lado los posibles problemas técnico-dogmáticos que la implantación de dicha respuesta le pudiese plantear, ya que existiría un verdadero estado de necesidad político-criminal que justificaría tal sacrificio7. 6 En este sentido, señala Heine, G. que la aparición de los nuevos y enormes riesgos propios de estas sociedades, unida al hecho de que el Estado haya ido perdiendo el monopolio sobre la protección de bienes jurídicos, la distribución de riesgos y la planificación de estrategias, por carecer de los conocimientos y las competencias necesarias para ejercerlos, obliga a incrementar la autorresponsabilidad de las empresas que son las únicas entidades dotadas de los conocimientos y de las competencias necesarias para poder controlarlos. HEINE, G. Modelos de responsabilidad jurídico-penal originaria de la empresa. En: GÓMEZ JARA DIEZ, Carlos (Ed.). Modelos de autorresponsabilidad penal empresarial. Propuestas globales contemporáneas. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi, 2006. p. 30 y ss. En similares términos se manifiesta también, NIETO MARTÍN, A. La responsabilidad penal de las personas jurídicas: un modelo lesgislativo. Madrid: Iustel, 2008. p. 64 y ss; ZUÑIGA RODRIGUEZ, L. Bases para un modelo de imputación de responsabilidad penal a las personas jurídicas. Cizur Meno (Navarra): Aranzadi, 2009. p. 77 y ss. En concreto, Schünemann, B. señala que el debilitamiento de la eficacia preventiva del Derecho penal en el ámbito de la criminalidad de la empresa da lugar a un estado de necesidad de protección del bien jurídico (Rechtsgüternotstand) que legitimaría dicho sacrificio. (SCHÜNEMANN, B. Unternehmenskriminalität und Strafrecht: eine Untersuchung der Verantwortlichkeit der Unternehmen und ihre Führungskräfte nach geldentem und replanten Straf - und Ordnungswiedrigkeitenrecht. Köln: Heymnann, 1979. p. 236), manteniendo su postura en múltiples trabajos posteriores, como por ejemplo, SCHÜNEMANN, B. La punibilidad de las personas jurídicas desde la perspectiva europea. Hacia un DERECHO PENAL ECONÓMICO EUROPEO, Madrid: BOE, 1995. p. 589 y ss, o más recientemente en: La responsabilidad penal en el marco de la empresa: dificultades relativas a la individualización de la imputación. ADPCP, v. 55, 2002. p. 22 y en La responsabilidad penal de las empresas y sus órganos directivos en la Unión europea. In: BAJO FERNÁNDEZ, Miguel (Dir.). Constitución europea y derecho penal económico. Madrid: Ramón Areces, 2006. (Mesas redondas Derecho y economía, v. 2005). p. 151. 7 30 FAE Centro Universitário A su juicio, el Derecho penal no podía permanecer de espaldas a una realidad como la de la existencia de las personas jurídicas que podía llegar a actuar como factor criminógeno de primer orden, ya que, por una parte, podría servir para establecer verdaderas estructuras organizadas de irresponsabilidad penal individual, donde la distribución y dispersión de las funciones y toma de decisiones entre las personas físicas integradas en su organización harían que nunca se pudiese llegar a encontrar a uno en el que se diesen todos los elementos objetivos y subjetivos que permitirían considerarle responsable penal del daño producido por la empresa8; mientras que, por otra, también podría ser utilizada como paraguas impermeabilizador frente a la motivación de las normas penales que serviría para neutralizar la capacidad de influencia que éstas tratan de ejercer sobre tales individuos, gracias a la implantación de una cultura empresarial que, directa o indirectamente, les alentaría a cometer delitos o actividades arriesgadas y peligrosas, premiando incluso su realización por considerarlas como muestras del espíritu emprendedor y atrevido que se requiere para conquistar el éxito económico9. Solo hace falta ver los últimos acontecimientos económicos producidos en Estados Unidos y en el resto del mundo como consecuencia de la cultura empresarial de la especulación, para ver hasta que punto eran correctas y premonitorias las palabras del citado profesor, siendo la dimensión mundial de estos acontecimientos, por otra parte, la que nos pone sobre la pista de otro de los argumentos que parecen respaldar la necesidad político criminal del reconocimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ya que si hay una característica que defina a este tipo de entidades en la economía actual es la que nos viene dada por el hecho de que superan con enorme facilidad las fronteras nacionales gracias a su fácil deslocalización10. En efecto, una persona jurídica puede tener su sede central en Europa, su producción en Asia y realizar la comercialización de sus productos en América, sin que nada le impida cambiar dichas localizaciones con asombrosa rapidez atendiendo a sus propios intereses y necesidades. Las empresas no conocen de fronteras nacionales, pero las normas penales sí y es por ello, por lo que la existencia de diferentes posicionamientos nacionales respecto al cuestionado tema de su posible responsabilidad penal de las personas jurídicas puede SCHÜNEMANN, B. La punibilidad de las personas jurídicas… Op cit., p. 573. 8 Ibidem, p. 580. 9 Sobre este fenómeno, véase BECK, U. ¿Qué es la globalización? Barcelona: Paidos, 2008. p. 21 y ss y sobre los problemas de todo tipo que el mismo plantea a la concepción tradicional del ius puniendi estatal, lo apuntado por NIETO MARTÍN, A. Op. cit., p. 56 y ss. 10 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 27-74, jan./jun. 2012 31 llevar a que éstas opten por implantarse en aquellos países que tengan un régimen más benévolo o “tolerante” ante sus actuaciones más peligrosas o cuestionables, provocando de este modo un efecto de llamada de estos países menos severos en el tratamiento de la responsabilidad penal de las empresas, que podría dar lugar a un verdadero efecto “Delaware”11 que llevase a que los Estados con menos escrúpulos utilizasen el no reconocimiento de su responsabilidad penal precisamente como instrumento jurídico que les permitiría practicar una suerte de “competencia desleal” con respecto a aquellos otros que sí lo hiciesen. La necesidad de erradicar posibles paraísos para la criminalidad de las empresas en un mercado globalizado es por sí misma un argumento de peso para afrontar una armonización mundial en esta materia, pero cobra aún mayor valor cuando se pone en relación con una realidad como la de la Unión Europea, donde la existencia de un mercado único hace que el hecho de que algunos de sus Estados miembros reconozcan dicha responsabilidad mientras que otros sigan sin hacerlo suponga una cuestión de primer orden que tiene que ser resuelta con urgencia. No debe sorprender, por tanto, que haya sido desde instancias comunitarias, desde donde más insistentemente se ha pedido a España que reconozca y habilite un sistema para reconocer la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ni que la Ley Orgánica 5/2010, que ha venido a modificar el actual Código penal en esta materia, aluda expresamente a las demandas internacionales de incriminación de dichas entidades, y especialmente a las comunitarias, como a uno de los referentes básicos de la reforma realizada12. Como acabamos de ver, parece que en este tema se produce un claro enfrentamiento entre las exigencias político-criminales de la sociedad actual y los rígidos criterios delimitadores de la tradicional teoría general del delito que se ha ido desarrollando como sistema de imputación de responsabilidad penal específicamente dirigido hacia las personas físicas. Nadie discute el hecho de que la teoría general del delito actual no se ajusta a los parámetros que definen y caracterizan a las personas jurídicas. Es una teoría desarrollada atendiendo a las características y peculiaridades de la persona física, con lo que no puede responder a las que definen a las jurídicas como entes colectivos diferentes de aquéllos; hecho que ha llevado a que la mayor parte de quienes propugnan la necesidad de atribuirles VOGEL, J. Estado y tendencias de la armonización del Derecho penal material en la Unión Europea. RP, n. 10, p. 116, 2002. 11 Así, se dice expresamente en el preámbulo de la citada Ley Orgánica “[…] Se regula de manera pormenorizada la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Son numerosos los instrumentos jurídicos internacionales que demandan una respuesta penal clara para las personas jurídicas, sobre todo en aquellas figuras delictivas donde la posible intervención de las mismas se hace más evidente [...]”. 12 32 FAE Centro Universitário una verdadera responsabilidad penal a proponer que se cree un nuevo sistema de imputación, distinto del aplicable a las personas físicas y que atienda específicamente a las características y peculiaridades propias de estos nuevos sujetos activos del Derecho penal, para que se les pueda imputar dicha clase de responsabilidad sin sacrificar en el intento los principios y garantías que la caracterizan e incluso la diferencian de otras que ya se le atribuyen sin mayores dificultades. Veamos algunas de las propuestas realizadas en esta línea. 1 POSIBLES SISTEMAS DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL A LAS PERSONAS JURÍDICAS Como se comprenderá, resulta absolutamente imposible analizar en este trabajo las peculiaridades que presentan todos y cada uno de los sistemas de imputación de responsabilidad penal a las personas jurídicas que se han propuesto o se han llegado a crear en los países nuestro entorno jurídico más cercano. Sin embargo, creemos que todos ellos podrían ser agrupados, a groso modo, en dos grandes grupos. Por una parte estarían los sistemas de heterorresponsabilidad; mientras que, por otra, estarían los denominados sistemas de autorresponsabilidad13. El primer grupo de sistemas, los de heterorresponsabilidad, parten de la comisión de un hecho delictivo realizado por una persona física, considerando que dicho hecho será imputable o atribuible a una persona jurídica cuando se den determinados requisitos de carácter formal o material. Así, por ejemplo, nos encontramos con que se propone atribuir responsabilidad penal a la persona jurídica por los hechos delictivos que hubiesen cometido quienes actuasen en su nombre o representación (criterio formal de atribución) o por aquellos que realizasen quienes, pese a no ostentar su representación legal, si ostentasen y ejerciesen competencias de decisión o de control sobre su actividad (criterio material de atribución). Se afirmaría entonces que las personas jurídicas responderían por los delitos que cometiesen las personas físicas que fuesen, de una u otra forma, quienes decidiesen su actuación en el mercado. Es decir, responderían por los delitos que cometerían quienes actuasen como su alter ego físico frente a terceros, sistema que se ajusta perfectamente a lo sostenido por otras ramas del ordenamiento jurídico, pero que plantearía serios problemas al Derecho penal. Mantenemos, por tanto, la clasificación que en su día realizó GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. en Autoorganización empresarial y autorresponsabilidad empresarial. RECPC, 08-05, 2006. Disponible em: <http://criminet. ugr.es/recpc/08/recpc08-05.pdf>. Acesso em: 02 jul. 2011. p. 5-21. 13 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 27-74, jan./jun. 2012 33 Así, por ejemplo, parece evidente que estos sistemas se enfrentarían a graves problemas a la hora de responder a las exigencias derivadas del principio de culpabilidad, ya que, no solo parecen establecer un sistema de responsabilidad objetiva para dichas entidades, sino que además resulta evidente que, al fin y al cabo, las harían responder por un hecho que habría cometido un tercero y no por uno propio, lo que contrariaría de forma flagrante la exigencia penal de responsabilidad personal14. Tampoco parece que los criterios delimitadores de la atribución de responsabilidad a la persona jurídica característica de estos sistemas resulten del todo convincentes y seguros. ¿Por qué limitar la responsabilidad de la persona jurídica a los delitos cometidos por sus representantes o por quienes las administran de hecho? Es decir, ¿por qué limitar el círculo de personas que pueden generar la responsabilidad de dichos entes a los representantes o a sus administradores de hecho o de derecho? ¿Es que acaso no hay otras personas integradas en el seno de dichas entidades que sin tener dichas cualidades podrían cometer delitos al amparo o incluso auspiciados por la cultura empresarial reinante en ellas? En esta misma línea, también se ha señalado que la implantación de este tipo de sistemas resultaría completamente ineficaz, al tener una escasa o incluso una nula eficacia preventiva. Muchos son los reproches en este aspecto. No es solo que estas propuestas no afronten el fenómeno de la criminalidad de empresa teniendo en cuenta la enorme complejidad organizativa que presentan muchas de estas entidades al olvidarse de los escalones intermedios e inferiores de sus organizaciones15, sino también que al partir de una atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas por los delitos cometidos por un circulo más o menos amplio BAJO FERNÁNDEZ, M.; BACIGALUPO SAGGESE, S. Derecho penal económico. Madrid: Ramón Areces, 2010. p. 171, MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C. Derecho penal económico: parte general. Valencia: Tirant Lo Blanch, 1999. p. 239; GÓMEZ TOMILLO, M. Introducción a la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el sistema español.Valladolid: Lex Nova, 2010. p. 101; GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. El modelo constructivista de autorresponsabilidad penal empresarial. In:____. (Ed.). Modelos de autorresponsabilidad penal empresarial: propuestas globales contemporáneas. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi, 2006.p. 116 o FEIJOO SÁNCHEZ, B. La responsabilidad penal de las personas jurídicas. En: DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO, Julio (Dir.). Estudios sobre las reformas del Código penal: operadas por las LO 5/2010de 22 de junio y 3/2011 de 28 de enero. Madrid: Civitas, 2011. p. 81 entre otros. 14 Así, por ejemplo, Nieto Martín, A. reprocha a algunos de estos sistemas que solo permitan atribuir responsabilidad a la persona jurídica por las actuaciones de sus órganos directivos superiores, es decir, aquellos que tienen una capacidad de decisión autónoma y no sometida a supervisión, lo que determinará que las conductas delictivas de los cargos intermedios, realizadas incluso por expresa delegación de sus superiores, no puedan nunca llegar a reportar responsabilidad penal a la persona jurídica, mientras estos últimos sujetos se reserven alguna capacidad de supervisión respecto a su actuación. Op. cit. ant. p. 92. Precisamente, este problema es el que nos lleva a no compartir el concepto estricto de administrador defendido respecto al sistema español por Feijoo Sánchez, B., conforme al cual no se podría considerar por tal a los cargos intermedios que estuviesen sometidos al control o ala autoridad de otros superiores, por muy grande e importante que fuese su nivel y capacidad de decisión. En La responsabilidad penal de las personas jurídicas… Op. cit., p. 97. 15 34 FAE Centro Universitário de personas físicas sin establecer mayores exigencias, parecerían estar transmitiendo un mensaje hacia tales entidades que podría llevar a pensar a quienes la integran que hagan lo que hagan siempre tendrán que responder por los posibles desvaríos que cometan sus representantes o directivos, lo que privará a la amenaza de su posible sanción penal de cualquier clase de efecto preventivo que las motive para establecer medidas controladoras y neutralizadoras de sus posibles actuaciones delictivas. Pese a la importancia de las críticas anteriores tal vez el mayor reproche político-criminal que se haya dirigido a estas propuestas sea aquel que señala que las mismas no responderán a una de las principales exigencias preventivas que se han utilizado como argumento en favor del establecimiento de los sistemas de responsabilidad penal para las personas jurídicas, por cuanto, al ser sistemas que exigen, siempre y necesariamente, que se impute la comisión de un delito a una persona física para poder atribuir responsabilidad penal a la jurídica, no permitirán que el Derecho penal pueda responder de forma adecuada a los supuestos en que ésta se haya organizado como una verdadera estructura de irresponsabilidad penal individual, donde la responsabilidad de la persona física quede completamente difuminada o resulte imposible de concretar16. Así, por ejemplo, nos encontraríamos con que el Derecho penal de la persona jurídica creado conforme a estos sistemas continuaría dejando sin sanción los casos de management defectuoso, en los que el daño generado no procediese de la conducta dolosa o imprudente de una única persona física inserta en la estructura empresarial, sino de sucesivas y no concertadas actuaciones y/u omisiones de varios sujetos diferentes que habrían realizado conductas inocuas o permitidas desde un punto de vista individual, pero que, al haberse realizado de forma acumulada en el seno de su estructura, habrían provocado la afección lesiva que el Derecho penal debería tratar de impedir. Pero es que además, y en el mismo sentido, este tipo de sistemas tampoco brindaría una adecuada respuesta penal al problema que plantean aquellos otros supuestos en los que habiéndose constatado la comisión de una conducta individual penalmente relevante por parte de una o varias de las que actuaban en el seno de la empresa, no se pudiese concretar o determinar quien o quienes habrían sido éstas, como sucedería, por ejemplo, cuando el efecto lesivo que el Derecho penal quería evitar se hubiese producido como consecuencia Así, por ejemplo, Silva Sánchez, J. M. reprocha a estos sistemas el que no solucionen precisamente los problemas preventivos que plantea el sistema de responsabilidad individual y que justificaban la necesidad político-criminal de la creación de uno colectivo. (2001. p. 324 y ss. En el mismo sentido, GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. El nuevo artículo 31.2 del Código penal: cuestiones de lege lata y de lege ferenda. En: ____. (Ed.). Modelos de autorresponsabilidad penal empresarial: propuestas globales contemporáneas. Cizur Menor (Navarra): Thomson-Aranzadi, 2006. p. 293. 16 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 27-74, jan./jun. 2012 35 de un acuerdo adoptado en una votación secreta y no unánime realizada en el seno de un órgano colegiado; caso en el que el sistema de responsabilidad penal individual mostraría su absoluta inutilidad a la hora de enfrentarse a las actuaciones de entes colectivos, ya que nunca permitiría que se pudiese imputar responsabilidad a ninguno de los intervinientes en dicha decisión, al no poder saberse con certeza y más allá de toda duda razonable quienes votaron a favor del acuerdo y quienes, sin embargo, lo hicieron en contra17. Todos estos problemas llevaron a parte de la doctrina a buscar nuevos caminos a la hora de crear un sistema de imputación penal de las personas jurídicas. El punto de partida común a todos estas propuestas vendría dado por el hecho de que todas ellas tratarían de buscar un sistema que permitiese fundamentar la responsabilidad penal de la persona jurídica en su propia actuación y no en la de una persona física que tuviese algún tipo de relación con la misma, dando lugar a la aparición de los denominados sistemas de autorresponsabilidad. Pese a las diferencias existentes entre los distintos sistemas de autorresponsabilidad propuestos, todos ellos parecen asentarse, en mayor o en menor medida, en el hecho de que la persona jurídica podrá y tendrá que responder cuando se constate que fue su defectuosa organización y/o funcionamiento, la que permitió o favoreció la comisión del delito cometido por una o varias de las personas físicas que actuaban en su seno. El origen de estas teorías se encuentra en los trabajos inicialmente realizados por el profesor Tiedemann, quien trató de sustentar la imputación de responsabilidad de las empresas previstas en la Ley de contravenciones alemana en la propia culpabilidad que dichas entidades tendrían por su propia organización18; propuesta que posteriormente ha sido desarrollada, matizada e incluso criticada en algunos aspectos por otros autores de la doctrina alemana (como HEINE19, entre otros) y española (como GÓMEZ-JARA DÍEZ20 Compartimos, por tanto, la postura sostenida por Núñez Castaño, E. cuando señala que en el caso de votaciones secretas adoptadas por mayoría “[...] no se sabe cuáles son las manifestaciones de volutad individuales que conforman la coluntad común”, con lo “que [...] será imposible determinar la imputación objetiva individual, sobre la basee de lo que cada administrador, en concreto, realizó. Por consiguiente el delito queda impune”. En: Responsabilidad penal en la empresa. Valencia: Tirant lo Blanch, 2000. p. 160. En contra de esta postura se manifiestan, sin embargo, Bajo Fernández, M. / Bacigalupo Saggese, S. quienes consideran que la existencia de un deber de garante en todos los miembros del órgano determinaría que se les pudiese imputar a todos la decisión adoptada, por más que se hubiese tomado mediante una votación secreta. Op. cit., p. 138. 17 TIEDEMANN, K. Die “Bebussung” von Unternehmen nach dem z. Gesetz zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität, NJW Heft, n. 19, 1998. p. 1173. 18 HEINE, G. Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Unternehemen, Von individuallen Fehlverhalten zu kollektiven Fehlenwircklungen inbesodnere bei Grossrisiken. Baden Baden: NOMOS, 1995. 19 GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. La culpabilidad penal de la empresa. Madrid: M. Pons, 2005. 20 36 FAE Centro Universitário o NIETO MARTÍN21) que han tratado de perfeccionarla para que respondiese de la mejor forma posible a las exigencias preventivas que plantea la existencia e importancia de este tipo de entidades en una realidad social como la actual. Pese todo, tampoco parece que los desarrollos realizados por todos los defensores de las teorías de la autorresponsabilidad hayan conseguido solucionar los problemas a los que se enfrenta el reconocimiento y establecimiento de un verdadero sistema de responsabilidad penal para las personas jurídicas. Así, y en primer lugar, este tipo de sistemas plantea graves problemas a la hora de concretar cuando se producirán los defectos organizativos que pueden generar la responsabilidad penal de tales entidades. ¿Cuándo se dará realmente uno de los defectos organizativos que pueden dar generar la responsabilidad penal de los entes corporativos? ¿Cuando dicho defecto es lo suficientemente grave como para determinar su responsabilidad? ¿Es indiferente dónde se dé el defecto? ¿Cualquier defecto será suficiente para hacer automáticamente responsable a la persona jurídica de los delitos que cometan personas físicas en su seno? Es más, ¿se podría suponer que siempre que se dé un delito en el seno de una empresa se deberá a que ésta no se había organizado correctamente?22 En definitiva, ¿como se determina el nivel de vigilancia que la persona jurídica ha de respetar al organizarse para quedar exenta de cualquier posible imputación de responsabilidad penal por los delitos que las personas físicas puedan cometer en su seno? ¿Dónde está la frontera del riesgo organizativo permitido que dichas entidades no deben traspasar?23 La pregunta, como se comprenderá, está lejos de ser intrascendente y hasta el momento sólo ha encontrado una respuesta dotada de una cierta seguridad jurídica por parte de aquellos autores que, importando a nuestro sistema parámetros de imputación de responsabilidad penal propios del ámbito anglosajón, consideran que tales defectos existirán cuando la persona jurídica en cuestión no tenga implantados programas de cumplimientos NIETO MARTÍN, A. La responsabilidad penal de las personas jurídicas: un modelo lesgislativo. Madrid: Iustel, 2008. 21 Así, lo hace, por ejemplo, Gómez Tomillo, M. quien considera que una vez constatada la tipicidad y antijuridicidad de la acción u omisión imputable a la persona jurídica, su culpabilidad basada en un defecto organizativo interno se podrá afirmar y presumir de una forma iuris tantum, lo que obligará a la persona jurídica a demostrar que se dotó de una organización preventiva eficiente, si es que quiere quedar exenta de cualquier sanción penal por el hecho antijurídico que se le fuese a atribuir. Op. cit., p. 131 y ss. 22 Este problema es destacado por Gómez-Jara Díez, C. quien señala que tendrán que ser la dogmática y la jurisprudencia quienes tendrán que definir cuales habrían de ser los deberes de supervisión que se habrían de respetar. En La responsabilidad penal de las personas jurídicas en la reforma del Código penal. LA LEY, n. 7534, 2010. Disponible en em: <www.laley.es>. Acesso em: 01 maio 2011. 23 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 27-74, jan./jun. 2012 37 normativos (Compliance program) que traten de implantar una cultura empresarial de respeto al Derecho en su organización ni establezca sistemas de control y prevención adecuados, tendentes a evitar la realización de delitos en su seno24; planteamiento que, sin embargo, ha sido criticado por otro importante sector doctrinal que considera que tales programas son meros parapetos que tratan de vender una imagen maquillada de la empresa como ente comprometido con la prevención de delitos, sin ser en modo alguno eficaces a la hora de evitar que tales entidades se utilicen o incluso incentiven su comisión, como lo demuestra el hecho de que muchos de los mayores casos de delincuencia empresarial producido en los últimos años en los Estados Unidos se hayan dado, precisamente, en empresas que alentaron y fomentaron la comisión de delitos por parte de sus directivos, pese a tener férreos programas de cumplimiento que supuestamente tendían a evitarlos (p. ej. ENRON)25. Por otra parte, los sistemas analizados también tienen serias dificultades a la hora de justificar por qué razón la pena de la persona jurídica no se impone atendiendo solo a la existencia de dicho defecto y a la gravedad del mismo, sino que va a depender, siempre y en todo caso, de que una persona física cometa un delito en su seno y va a tener además una gravedad acorde a la del delito que ésta última cometa. Los sistemas de autorresponsibilidad no consiguen fundamentar y establecer el nexo de conexión que debería existir entre el defecto organizativo de la persona jurídica y la Así, entre otros, GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en la reforma… Op. cit., o ALONSO GALLO, J. Los programas de cumplimiento. En: DÌAZ-MAROTO y VOLLAREJO, Julio (Dir.). Estudios sobre las reformas del código penal operadas por las LO 5/2010 de 22 de junio y 3/2011 de 28 de enero.] Madrid: Civitas, 2011. p. 147 y ss. 24 Véase en este sentido lo comentado respecto a este caso por CARBONELL MATEU, J. C.; MORALES PRATS, F. Responsabilidad penal de las personas jurídicas. En: ÁLVAREZ GARCÍA, F. X. (Dir.) Comentarios a la reforma penal de 2010. Valencia: Tirant lo Blanch, 2010. p. 67 y ss. En línea con lo anterior, señala Schunemann, B. que existe un notable desencanto en los Estados Unidos respecto a los programas de cumplimiento de normas, por cuanto se ha constatado que los mismos en muchas ocasiones solo sirven de mascara externa que no logra cambio alguno en la verdadera cultura empresarial sostenida por la persona jurídica, ya que “[...] Los mejores programas Compliance no poseen valor cuando el management intermedio es obligado con un guiño de ojo de los órganos de dirección para que cometa delitos en interés o ganancia empresarial”. En La responsabilidad penal de las empresas... Op. cit., p. 154. En este mismo sentido, señala Nieto Martín, A. que el caso ENRON ha sido el detonante de toda una serie de críticas referidas a este sistema, ya que se la tenía como empresa módelo en lo que se refiere a la implantación de programas de cumplimineto y prevención, lo que llevó a que se tildase de mera cosmética a estos programas que parecían actuar como un mero seguro frente al riesgo de imputación penal y a que se destacase el hecho de que además habían dado lugar a todo un deslizamiento de la imputación penal hacia las personas físicas integradas en los escalones inferiores de la entidad que estarían dispuestos a asumir la responsabilidad del hecho cometido, de forma incluso voluntaria y restribuidad, con lo que se convertirían en verdaderos chivos expiatorios que eximirían a la entidad. op. cit. p. 207 y ss. 25 38 FAE Centro Universitário conducta delictiva efectuada por la persona física que va a dar lugar a su responsabilidad26, entendiendo algunos autores, como Tiedemann que dicha conexión se habría de sustentar acudiendo a teoría de la actio libera in causa, ya que la conducta defectuosa empresarial se habría producido con antelación el hecho delictivo individual en el que vino a concretarse27; mientras que otros, como Heine, afirman que lo que en estos casos se produce es una defectuosa conducción de la actividad empresarial prolongada en el tiempo que permitiría castigar a la persona jurídica por los delitos que se cometiesen en su seno y durante su mantenimiento, ya que al ser tales delitos resultado de la acumulación de procesos empresariales defectuosos se justificará que desencadenen la responsabilidad de la empresa actuando como meras condiciones objetivas de su punibilidad28. No parece que ninguna de estas soluciones sea del todo convincente, máxime cuando las dos parecen querer sustentar la responsabilidad de las personas jurídicas atendiendo no a como actuaron u omitieron en el supuesto de hecho concreto del que se le quiere hacer responsable, sino a como desempeñaron su actividad empresarial con anterioridad a su producción, lo que presenta evidentes similitudes con la vieja y denostada teoría de la culpabilidad por la conducción de vida predicada en su día respecto a las personas físicas y que, como sucedió entonces, podría alejar al Derecho penal de las personas jurídicas del entorno del garantista Derecho penal del hecho para acercarlo al inaceptable Derecho penal de autor29. Por otra parte, algunos autores señalan que resulta realmente difícil sustentar que la existencia del defecto organizativo pueda ser el fundamento último de la culpabilidad de la empresa, ya que si lo fuese, ello tal vez permitiría fundamentar la apreciación de una culpabilidad propia de la entidad, pero también y al mismo tiempo estaría haciendo desaparecer el injusto del que se la trataría de responsabilizar, al tratar de fundamentarlo en una actuación (la realizada por algunos de sus órganos) que volvería a resultarle completamente ajena30. No parece que se pueda fundamentar la culpabilidad de la persona jurídica sin atribuirle previamente un injusto propio y ello podría llevar a pensar que ese injusto se La ausencia de nexo jurídico entre la actuación empresarial y el delito cometido por el individuo es criticado, entre otros, por ROBLES PLANAS, R. En ¿Delitos de personas jurídicas? Indret, n. 344, p. 15-19, 2006. Disponible en:<http://www.indret.com/pdf/344.pdf>. Acesso em: 12 mar. 2011. 26 TIEDEMANN, K. op. cit. p. 1173. 27 HEINE, G. Modelos de responsabilidad jurídico-penal… Op. cit. p. 47 y 51. 28 En este sentido, se manifestaba SILVA SÁNCHEZ, J. M. La responsabilidad penal de las personas jurídicas… Op. cit., p. 337-338. 29 MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C. Op. cit., p. 240, entre otros. 30 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 27-74, jan./jun. 2012 39 habría de derivar precisamente de su defectuosa organización31. Sin embargo, tampoco esta aparente solución permitiría establecer un sistema de responsabilidad realmente paralelo al previsto para las personas físicas, por cuanto, si bien justificaría la existencia del injusto imputable a la entidad, también dejaría sin ningún contenido su juicio de culpabilidad, lo que llevaría a que las sanciones a aplicarle se sustentasen tan solo en la peligrosidad que habría manifestado con dicho hecho y, en consecuencia, haría que las sanciones o medidas que se le impusiesen tuviesen que ser consideradas como meras medidas de seguridad de naturaleza netamente inocuizadora y no como las auténticas penas que deberían acompañar al verdadero reconocimiento de su responsabilidad penal32. Es más, incluso si se admitiese, atendiendo a la existencia del estado de necesidad preventivo de que hablaba Schünemann, que lo que se aplicarían a estos entes serían verdaderas penas sin culpabilidad33, nos encontraríamos con que las normas que prohibirían la creación del estado cuya vulneración supuestamente daría lugar a su aplicación, se dirigirían y se vulnerarían por sujetos individuales y no por tales entidades, con lo que al fin y al cabo volveríamos a sancionar a las personas jurídicas por hechos cometidos por un tercero diferente de ellas, siendo además evidente que su sanción se fundamentaría en la infracción de una norma de conducta (la que supuestamente les obliga a organizarse de forma correcta) distinta a la norma prohibitiva establecida en el tipo delictivo por el que se la vendría a sancionar, con lo que vulneraríamos el principio de legalidad al subsumir “[...] en la norma penal supuestamente infringida, una acción lesiva referida a otra norma, que es la norma de organización”34. Como se puede comprobar tras este breve resumen, las propuestas de creación de un sistema de responsabilidad penal propio de las personas jurídicas realizadas a lo largo del todavía inacabado debate doctrinal han sido numerosas y enriquecedoras, si bien hay que admitir que aún no han llegado a plasmarse en ninguna que responda a todos los problemas preventivos planteados en la sociedad actual, respetando al mismo tiempo las garantías materiales y procesales mínimas (principio de legalidad, inexistencia de la responsabilidad objetiva, responsabilidad por hecho propio, presunción de inocencia, Así lo entendía GRACIA MARTÍN, L. La cuestión de la responsabilidad penal de las propias personas jurídicas. Op. cit., p. 132-133. 31 SILVA SÁNCHEZ, J. M. La responsabilidad penal de las personas jurídicas… p. 338. En similares términos se manifiesta también FEIJOO SÁNCHEZ, B. La responsabilidad penal de las personas jurídicas… Op. cit., p. 88. 32 Véase lo señalado a este respecto en la nota al pie nº 7. 33 SCHÜNEMANN, B. La responsabilidad penal de las empresas y sus órganos… Op. cit., p. 148 y ss. En el mismo sentido, se manifestaba ya el mismo autor en Responsabilidad penal en el marco de la empresa... Op. cit., p. 29. 34 40 FAE Centro Universitário etc.) que han de caracterizar cualquier sistema de imputación de responsabilidad penal de un verdadero Estado. Pese a todo, nuestro legislador ha decidido atender a los incesantes requerimientos internacionales referidos a la necesidad de ampliar el campo de la posible responsabilidad penal de las personas jurídicas y ha optado por establecer un nuevo y más complejo sistema de imputación para dichas entidades mediante la aprobación de la todavía reciente LO 5/2010; con lo que parece querer dejar al margen cualquier polémica doctrinal relativa a esta cuestión, optando por mantener la misma postura que en su día manifestó su predecesor el legislador Suizo cuando afirmó, precisamente en relación a esta materia, que a la hora de “[...] regular adecuadamente una situación que se reconoce como problemática, no s la dogmática, sino la voluntad del legislador la que decide si dicha regulación resulta permitida”35. 2 LA PERSONA JURÍDICA ANTE EL DERECHO PENAL TRAS LA LEY ORGÁNICA 5/2010 Como hemos apuntado, la reforma del sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica efectuada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, trata de responder a las exigencias político criminales que llevaron a un importante sector de la doctrina nacional a recomendar y a múltiples normas inter- y supranacionales a exigir que nuestro ordenamiento estableciese un sistema de responsabilidad penal para dichos entes mucho más amplio y elaborado que el que aparecía contemplado en el ya derogado artículo 31.2 de nuestro Código penal36. La todavía reciente reforma de nuestro Código penal realizada por la citada Ley Orgánica ha supuesto una auténtica revolución en lo que se refiere al sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas previsto en nuestro país, ya que no sólo ha ampliado la posibilidad de imputarles responsabilidad sacándola del encajonamiento en que la había mantenido el anterior artículo 31.2 CP, que sólo permitía que se pudiese apreciar HEINE, G. Modelos de responsabilidad jurídico-penal… Op. cit., p. 44. 35 De hecho, hablamos de reforma y no introducción de un sistema de responsabilidad penal por considerar que nuestro Código penal ya contemplaba dicha responsabilidad en el, afortunadamente ya derogado, art. 31.2 CP; precepto que venía a establecer la responsabilidad directa y solidaria de la persona jurídica respecto al pago de las multas impuestas a la persona física que actuase en su nombre y representación en la comisión de delitos especiales propios y que ya tuvimos ocasión de comentar y criticar en un trabajo anterior. En concreto: GALÁN MUÑOZ, A. ¿Societas delinquiere nec puniere potest? algunas consideraciones críticas sobre el artículo 31.2 CP, RDPC, n. 18, 2006. p. 229 y ss. 36 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 27-74, jan./jun. 2012 41 respecto a la comisión de delitos especiales propios sancionados con penas de multa, sino que además les ha otorgado un complejo sistema de imputación de responsabilidad penal (art. 31 bis CP) y las ha dotado de un catálogo propio de penas (art. 33.7 CP) y de unas reglas autónomas de determinación de las mismas (art. 66 bis CP); novedades todas ellas que además se han visto acompañadas por una reforma importante de las reglas de determinación de su posible responsabilidad civil derivada de delito (art 116.3 CP) y de una redefinición de las funciones y el ámbito de aplicación que habrán de tener a partir de ahora las denominadas consecuencias accesorias del art. 129 CP, que dejarán de resultar aplicables a la persona jurídica para serlo solo respecto a entes colectivos carentes de personalidad jurídica. La reforma, por tanto, es de calado y afecta a numerosas cuestiones referidas al tratamiento que el Derecho penal español dará a las personas jurídicas. Pese a lo importante y a lo interesante que resultan todos estos cambios, en el presente trabajo tan solo vamos a tratar de concretar y de fijar los parámetros que nuestro legislador ha establecido a la hora de fijar cuándo y bajo qué condiciones se podrá imputar responsabilidad penal a dichas entidades. Es decir, vamos a tratar de definir los criterios delimitadores del nuevo sistema de imputación de responsabilidad penal de las personas jurídicas; sistema que, como ya hemos apuntado, aparece contemplado en el nuevo artículo 31 bis de nuestro Código penal y que distingue dos posibles y diferentes niveles de imputación para dichas entidades. Por una parte, el comentado artículo establece en su apartado primero que “[...] En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su provecho, por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho”. Como se puede comprobar el legislador español ha optado por establecer un sistema de numerus clausus a la hora de fijar los delitos por los que habrán de responder penalmente las personas jurídicas37, si bien también ha dejado claro que dichos delitos En concreto, se prevé su posible responsabilidad respecto a los siguientes delitos tráfico ilegal de órganos humanos (art. 156 bis); trata de seres humanos (art. 177 bis); prostitución y corrupción de menores (art. 189 bis); descubrimiento y revelación de secretos (art. 197); estafa (art. 251 bis); insolvencias punibles (art. 261 bis); daños informáticos (art. 264); delitos contra la propiedad intelectual, el mercado y los consumidores (art. 288); lavado de dinero (art. 302); delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social (art. 310 bis); delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (art. 318 bis); delitos urbanísticos (art. 319); delitos contra los recursos naturales y medio ambiente (art. 327 y 328); delitos relativos a la energía nuclear y las radiaciones ionizantes (art. 343); delitos relativos a las sustancias que pueden causar estragos (art. 348); delitos contra la salud pública (art. 369 bis); falsificación de tarjetas y cheques (art. 399 bis); cohecho (art. 427); tráfico de influencias (art. 430); corrupción de funcionarios públicos extranjeros e internacionales (art. 445); y terrorismo (art. 570 quáter y 576 bis). 37 42 FAE Centro Universitário habrán de ser materialmente cometidos por una persona física para poder generar la responsabilidad de tales entidades, lo que demuestra, a juicio de algunos autores, que se parte de un sistema de heterorresponsabilidad que impute normativamente a la persona jurídica un hecho de referencia realizado por un sujeto diferente, por una persona física38. En concreto, la imputación del delito cometido en este primer nivel por la persona física a la jurídica se producirá cuando se den una serie de requisitos que podemos agrupar en personales y materiales. Así, y en cuanto a los primeros, resulta evidente que el legislador ha limitado el circulo de personas que pueden generar responsabilidad a la personas jurídicas en este primer nivel de imputación al establecer que éstas tan solo responderán por los delitos cometidos por sus representantes legales o por sus administradores de hecho o de derecho; mientras que por lo que se refiere a lo que hemos calificado como requisitos materiales se condiciona su imputación a que tales actuaciones se hubiesen realizado “en nombre o por cuenta de ellas” y “en su provecho”. Ahora bien, este primer nivel de responsabilidad parece verse notablemente ampliado conforme a lo dispuesto en el segundo nivel contemplado en el mismo artículo donde se establece que […] En los mismos supuestos, las personas jurídicas serán también penalmente responsables de los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en provecho de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por no haberse ejercido sobre ellos el debido control atendidas las concretas circunstancias del caso. 38 ZUGALDÍA ESPINAR, J. M. Fundamentos de derecho penal: parte general. Valencia: Tirant lo Blanch, 2010. p. 581, en idénticos términos, se manifiesta el mismo autor en “Societas delinquere potest (Análisis de la reforma operada en el Código Penal español por la LO 5/2010, de 22 de junio)”, en La Ley Penal, n. 76, 2010. Disponible en: <www.laley.es>. Acesso em: 10 jul. 2011. Así también, lo han entendido, entre otros, MUÑOZ CONDE, F.; GARCÍA ARÁN, M. quienes expresamente afirman que “[…] en el Código penal español la persona jurídica responde por el hecho de otro”. Op. cit., p. 631; GÓMEZ MARTÍN, V. Comentarios al código penal: reforma LO 5/2010. Valencia: Tirant lo Blanch, 2011. p. 131; ORTS BERENGUER, E.; GONZÁLEZ CUSSAC, J. L. Compendio de derecho penal: parte general. Valencia: Tirant lo Blanch., 2010. p. 238; ZUÑIGA RODRÍGUEZ, L. Responsabilidad penal de las personas jurídicas y criminalidad organizada. En: MUÑOZ CONDE, Francisco. Un derecho penal comprometido. Libro homenaje al Prof. Dr. Gerardo Landrove Díaz. Valencia: Tirant lo Blanch, 2011. p. 1171; Dolz Lago, M-J. que señala que el sistema es un modelo de transferencia o vicarial en “Sobre el estatuto penal de la persona jurídica como sujeto responsable. A propósito sobre la circular de la fiscalía general del Estado 1/2011. LA LEY, n. 7665, 2011. Disponible en:<www.laley.es>. Acesso em: 10 jul. 2011, al igual que SÁNCHEZ REYERO, D. G. Estudio sobre la responsabilidad de la persona jurídica, el doloso dependiente y el corporate compliance. LA LEY, n. 7663, 2011. Disponible en: <www.laley.es>. Acesso em: 10 jul. 2011. CARBONELL MATEU, J. C.; MORALES PRATS, F. Quienes precisamente echan a faltar en este nuevos sistema la atribución de una responsabilidad por hecho propio de la persona jurídica. Op. cit., p. 71. Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 27-74, jan./jun. 2012 43 De nuevo nos encontramos con que el legislador prevé la posibilidad de imputar determinados delitos a la persona jurídica cuando concurran ciertos requisitos personales y materiales. Así, y por lo que se refiere a los requisitos personales nos encontramos con que los sujetos que pueden cometer conductas delictivas imputables a las personas jurídicas, conforme a este segundo nivel, se caracterizan por el mero hecho de estar subordinados a la autoridad de las nombradas en el primero, es decir, por ser subordinados de los representantes legales y de los administradores de hecho o de derecho de tales entidades, lo que supone una significativa ampliación del grupo de sujetos que van a poder generar su responsabilidad al cometer delitos. Sin embargo, esta ampliación del grupo de sujetos que pueden convertir a la persona jurídica en responsable de las conductas delictivas que cometan, se va a ver en cierta medida compensada por el incremento de los requisitos materiales que se van a exigir para que ello suceda. Aquí no bastará con que dichos sujetos actúen por cuenta y en provecho de la persona jurídica en cuestión, sino que además también tendrán de hacerlo actuando en el ejercicio de las actividades sociales propias de dichas entidades y habiendo cometido el hecho gracias a que sus superiores no hubiesen ejercido el control que deberían haber empleado sobre sus conductas atendiendo a las concretas circunstancias del caso. Sea como fuese, y con independencia de lo que cada uno de estos requisitos de imputación conlleve, con lo hasta aquí comentado tendríamos que afirmar que el sistema de responsabilidad penal de nuestro Código penal para las personas jurídicas se enfrentaría en principio a todos los problemas que caracterizan a cualquier sistema de heterorresponsabilidad y entre ellos, de forma destacada, a aquel que se deriva de que, al condicionar la posible responsabilidad penal de la persona jurídica a la constatación de la de una persona física, dejaría sin respuesta todos aquellos casos en los que no fuese posible encontrar a una persona física a la que se pudiese procesar o considerar culpable del hecho delictivo producido, con lo que no solventaría muchos de los principales problemas preventivos que estas entidades plantean como posibles estructuras organizadas de irresponsabilidad penal. El legislador fue plenamente consciente de esta situación y para solucionarla introdujo dos preceptos que tratan de resolverla o cuando menos de paliarla. Así, y en primer lugar, estableció en el apartado 2 del art. 31 bis CP que [...] la responsabilidad penal de las personas jurídicas será exigible siempre que se constate la comisión de un delito que haya tenido que cometerse por quien ostente los cargos o funciones aludidas en el apartado anterior, aun cuando la concreta persona física responsable no haya sido individualizada o no haya sido posible dirigir el procedimiento 44 FAE Centro Universitário contra ella; mientras que, inmediatamente a continuación, en el apartado 3 del mismo artículo afirmó que [...] La concurrencia, en las personas que materialmente hayan realizado los hechos o en las que los hubiesen hecho posibles por no haber ejercido el debido control, de circunstancias que afecten a la culpabilidad del acusado o agraven su responsabilidad, o el hecho de que dichas personas hayan fallecido o se hubieren sustraído a la acción de la justicia, no excluirá ni modificará la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sin perjuicio de lo que se dispone en el apartado siguiente. Es evidente que ambos preceptos tratan de corregir algunas de las carencias que se derivarían del establecimiento de un sistema de heterorresponsabilidad puro, introduciendo el primero de ellos una regla que permitiría responder a los casos de indeterminación de la persona física responsable del delito (p. ej. los derivados de votaciones secretas); mientras que el segundo independizaría la responsabilidad penal de la persona jurídica de la posible inexistencia de culpabilidad penal en dichas personas cuando se la pudiese localizar. La responsabilidad penal de las personas jurídicas deja así de ser totalmente dependiente de la responsabilidad imputable a la persona física y pasaría a convertirse en una responsabilidad directamente predicable respecto de ella misma39, hecho que ha llevado a otro sector de la doctrina a considerar que, en realidad, no nos encontramos ante un verdadero sistema de heterorresponsabilidad, sino ante uno mixto “[...] que parte de la heterorresponsabilidad penal empresarial (responsabilidad por el hecho ajeno) y se encamina hacia la autorresponsabilidad (responsabilidad penal por el hecho propio)”40. Podría pensarse que esta combinación de criterios propios de los sistemas de autoy heterorresponsabilidad trataría de instaurar uno nuevo e hibrido que aunase todas las virtudes y eludiese todos los defectos que acompañaban a ambos modelos por separado. Sin embargo, y como vamos a ver, no parece que lo consiga, ya que a poco que lo analicemos con algo de detenimiento, nos daremos cuenta de que el art. 31 bis CP continúa enfrentándose a muchos y a muy graves problemas. Así, por ejemplo, nos encontramos con que el supuesto sistema mixto contemplado en dicho precepto continuaría sin dar una clara y adecuada razón del porqué la existencia y la gravedad de la responsabilidad penal de las personas jurídicas va a depender, siempre Así lo señalan MUÑOZ CONDE, F.; GARCÍA ARÁN, M. Quienes consideran la responsabilidad de la persona jurídica en el nuevo sistema como independiente de la de la física, precisamente, por poder predicarse incluso sin la condena de este último sujeto, op. cit. ant. p. 630. En esta misma línea se pronuncian también ZUGALDÍA ESPINAR, J. M. Fundamentos de Derecho penal… Op. cit., p. 582; SILVA SÁNCHEZ, J. M. La reforma del código penal: una aproximación desde el contexto. LA LEY, n. 7465, p. 201. Disponible en: <www.laley.es>. Acesso em: 10 jul. 2011; CARBONELL MATEU, J. C.; MORALES PRATS, F. Op. cit., p. 72; GÓMEZ MARTÍN, V. Op. cit., p. 131 o SÁNCHEZ REYERO, D. G. Op. cit., entre otros. 40 GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en la reforma… Op. cit., En el mismo sentido, FEIJOO SÁNCHEZ, B. La responsabilidad penal de las personas jurídicas… Op. cit., p. 85. 39 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 27-74, jan./jun. 2012 45 y en todo caso, de la actuación que realicen determinadas personas físicas. ¿Qué justifica que estas entidades tengan que responder, por ejemplo, por el delito de vertidos realizado por uno de sus representantes o empleados? ¿Cuál es el fundamento material que permite considerarla como responsable de un hecho que, al fin y al cabo, habría cometido un tercero? ¿Por qué podrían y tendrían que responder tanto de los delitos dolosos como de los imprudentes que cometiesen dichos sujetos? ¿Es que el legislador ha optado por reconocer la responsabilidad objetiva de la persona jurídica en determinados ámbitos delictivos? ¿No sería esto contrario al principio de culpabilidad? Pero los problemas y cuestiones referidas a este nuevo sistema no acaban aquí. También se enfrenta a graves dificultades internas como las que se derivan de la propia coordinación de los dos niveles de imputación que, como hemos visto, contempla el vigente art. 31 bis.1 CP. Si nos fijamos, en el primer nivel se hace a la persona jurídica responsable de las actuaciones delictivas realizadas por las personas que ejercen cargos superiores en su seno y tienen capacidad de decisión y competencia para comprometer a la empresa en el tráfico jurídico. Sin embargo, en el segundo se permite que se les pueda atribuir responsabilidad por el mero hecho de que dichos sujetos no hubiesen ejercido el debido control sobre sus subordinados, lo que supone que la realización de una conducta que podría resultar incluso individualmente irrelevante a efectos penales por parte de dichos superiores también podría abrir las puertas a la responsabilidad de toda la entidad. La pregunta es inmediata. Si estamos ante un sistema que en principio es de atribución de responsabilidad, ¿no debería ser más grave la responsabilidad de la persona jurídica respecto a los delitos cometidos dolosamente por sus administradores y representantes que la que se le tendría que imputar por sus actuaciones meramente imprudentes o incluso permitidas?41 Pero es que además, ¿no parecería lógico pensar que si la pena aplicable a la persona jurídica va a depender de la gravedad del delito cometido por la física, cuanto más cerca de los órganos directivos de la persona jurídica se cometa el delito a imputar mayor habría de ser su responsabilidad por el En este sentido afirma Silva Sánchez, J. M. que “[…] se observa una contradicción entre los delitos cometidos por acción de los administradores y representantes y los cometidos por la omisión de vigilancia de éstos sobre personal subordinado. Mientras que los primeros se ven como delitos, en general, dolosos, en los segundos, los cometidos por inferiores jerárquicos por no haberse ejercido sobre ellos el debido control, parece contemplarse una conducta imprudente de la persona física controladora. Ahora bien, entonces resulta discutible que lo transferido a la persona jurídica sea una «omisión del debido control» — en principio, imprudente — y ello dé lugar a una responsabilidad dolosa de la persona jurídica.” La reforma del Código penal: Una aproximación desde el contexto. Op. cit. 41 46 FAE Centro Universitário mismo?42 ¿Cómo justificar entonces que el legislador no haya distinguido a efectos punitivos supuestos de hecho dotados de una gravedad tan aparentemente diferente?43 ¿No resulta esto contrario al principio de proporcionalidad? Pero los problemas no acaban aquí. La aparente mezcla de sistemas contenida en el art. 31 bis 1 CP lleva a que se nos plateen otras aparentes intrasistémicas. Así, por ejemplo, y como hemos visto, el nuevo sistema trata de huir de los problemas que la heterorresponsabilidad plantea, desligando la responsabilidad de las personas jurídicas de la de las físicas al establecer que no va a ser necesario que se individualice o que se pueda perseguir penalmente a la persona física que cometió el delito para que se pueda imputar responsabilidad por su realización a la jurídica (art. 31 bis. 2 CP) y afirmando que las circunstancias que afecten a la culpabilidad de aquellas no incidirán en modo alguno en la posible responsabilidad imputable a éstas (art. 31 bis, 3 CP). Todo parece indicar entonces que el Derecho penal quiere distinguir y separar a dos sujetos, a dos destinatarios diferentes de sus normas y de las responsabilidades que se podrían derivar de sus incumplimientos. A dos sujetos que, de hecho, estarían dotados cuando menos de una culpabilidad y una punibilidad distintas y propias. Sin embargo, toda esta construcción parece tambalearse desde el momento en que el propio art. 31 bis 2 CP afirma que “[…] Cuando como consecuencia de los mismos hechos se impusiere a ambas la pena de multa, los jueces o tribunales modularán las respectivas cuantías, de modo que la suma resultante no sea desproporcionada en relación con la gravedad de aquéllos.” De nuevo nos asaltan las dudas. ¿No estábamos ante dos sujetos diferentes, dotados de una culpabilidad y responsabilidad diferentes? ¿Qué problema de proporcionalidad puede derivarse entonces de la posible acumulación de dos sanciones de multa a dos sujetos distintos Así, por ejemplo, Nieto Martín, A. señal que el nivel jerárquico del autor individual del delito es un indicador bastante fiable del grado de culpabilidad de la empresa, ya que ésta aumenta “[...] a medida que crece el grado jerárquico de la persona individual responsable, por lo que los deberes de auto organización son mayores en relación con los comportamientos delictivos que realiza la cúspide empresarial que los de los subodrinados.“ Op. cit., p. 163. 43 En este sentido, señala Zugaldía Espinar, J. M. que la distinción en dos niveles de la imputación de responsabilidad tenía su fundamento en el Derecho Comunitario que los diferenció precisamente para distinguirlos a efectos de pena, cosa que no hizo el régimen penal establecido para las personas jurídicas por la LO 5/2010, lo que a su modo de ver haría que dicho dualismo careciese de sentido. En: Fundamentos de serecho penal… Op. cit., p. 590. 42 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 27-74, jan./jun. 2012 47 incluso si responden por un mismo hecho?44 ¿Acaso no sucede algo similar en los supuestos de coautoría sin que se aprecie infracción alguna del principio de proporcionalidad?45 De hecho, y en sentido contrario, ¿hacer depender la magnitud de la pena de multa aplicable a cada uno de estos sujetos de la predicable respecto al otro, no supone determinar la pena propia conforme al merecimiento de pena predicable respecto de un tercero? Es más, e incluso admitiendo que se diesen problemas de proporcionalidad en estos casos, ¿por qué la proporción se reestablecería tan solo en el caso de la multa? ¿Por qué no se afirma respecto a otras posibles penas aplicables a estos entes? ¿Cómo se reestablecerá la proporcionalidad? ¿Se rebajará la pena de la persona jurídica? ¿La de la física? ¿La de ambas?46 A juicio de algunos autores, lo que aquí sucede es que el legislador ha partido de una incorrecta y contraproducente visión de la aplicación del principio de ne bis idem a estos supuestos. Por más que se empeña en separar y en afirmar que nos encontramos ante dos sujetos penales diferentes, no ha podido evitar seguir concibiendo a la persona jurídica como una vulgar entelequia, como una mera ficción, que oculta tras su personalidad jurídica a una o varias personas físicas que podrían llegar a ser doblemente sancionadas por el mero hecho de haber cometido sus delitos en el seno de las empresas que dirigían o gestionaban47, lo que le ha llevado de nuevo a tratar a la persona jurídica como a un mero instrumento de la comisión de delitos de las físicas y no como a un verdadero sujeto activo y responsable de su realización al que se podrá imputar una responsabilidad penal directa, propia y perfectamente acumulable con la que se le podría atribuir a aquéllos. De hecho, y como señala Gómez Tomillo, el legislador parece manifestar una cierta mala conciencia respecto a esta posible acumulación de sanciones pecuniarias, pensando sobretodo en aquellas situaciones en las que la personas jurídica sancionadas son pequeñas y presentan un carácter familiar; supuestos en los que le cuesta sostener que estemos ante dos sujetos activos diversos, con lo que se demuestra que, pese a su muchas manifestaciones Así lo señala ZUGALDÍA, quien manifiesta que incluso cuando se sostuviese que se sanciona a ambos por un mismo hecho y con un mismo fundamento continuaríamos encontrándonos ante dos personas (incluso patrimonios) diferentes, con lo que la posible acumulación de sanciones nunca se plantearía problema de proporcionalidad, ya que la pena a imponer a cada una de ellas, al ser individual y personal, no podría depender de la que se impusiera a ningún tercero. En: Fundamentos de Derecho penal…” Op. cit., p. 591 y ss. También considera incomprensible esta prescripción BACIGALUPO, S. Los criterios de imputación de la responsabilidad penal de los entes colectivos y de sus órganos de gobierno (art. 31 bis y 129 CP) (1). LA LEY, n. 7541, 201. Disponible en: <www.laley.es>. Acesso em: 10 jul. 2011. 44 CARBONELL MATEU, J. C.; MORALES PRATS, F. Op. cit., p. 75. 45 Cfr. MATA BARRANCO, N. La responsabilidad penal de las personas jurídicas. In: JUANES PECES, Ángel (Dir.). Reforma del código penal: perspectiva económica tras la entrada en vigor de la ley orgánica 5/2010 de 22 de junio. Situación jurídico-penal del Empresario. Madrid: El Derecho, 2010. p. 83. 46 ZUGALDÍA ESPINAR, J. M.; Fundamentos de Derecho penal… Op. cit , p. 592 y ss. 47 48 FAE Centro Universitário en sentido contrario, sigue sin asumir plenamente que las personas jurídicas responden por su propio injusto y tienen su propia culpabilidad48. El legislador estaría así dando constantes pasos hacia delante y hacia atrás. Establece un sistema de heterorresponsabilidad por atribución de hecho ajeno e introduce criterios correctores propios de los sistemas de autorresponsabilidad. Fija una responsabilidad directa y acumulada para las personas jurídicas e inmediatamente a continuación implanta una regla que relativiza dichas características de la responsabilidad de tales entidades. Parece concebir a la persona jurídica como posible sujeto activo de determinados delitos, diferente y autónomo de la persona física que materialmente lo comete y, a renglón seguido, afirma que la sanción acumulada de ambos puede dar lugar a problemas de proporcionalidad obligando a los tribunales a tenerla en cuenta a la hora de concretar la pena de multa aplicable a cada uno de dichos sujetos. Es este constate vaivén el que ha llevado a algunos autores, como a Bacigalupo, a afirmar que en realidad […] el legislador no ha elaborado un modelo de imputación en sentido estricto – como se explica en la Exposición de Motivos _, sino que simplemente ha descrito […] la determinación de unos hechos que permitirán la atribución de éstos a las personas jurídicas, lo que resulta inaceptable, [...] ya que de ser suficiente para la responsabilidad penal de las personas jurídicas o entes colectivos la existencia exclusiva de un hecho de conexión, ello constituiría un modelo de responsabilidad objetiva incompatible con los principios del Derecho Sancionador49. ¿Es esto cierto? ¿No existe ningún sistema definido de imputación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas tras las prescripciones contenidas en el nuevo artículo 31 bis de nuestro Código penal? ¿Realmente estamos ante un caso excepcional y más que cuestionable de reconocimiento de una responsabilidad penal objetiva por hechos ajenos? GÓMEZ TOMILLO, M. Op. cit., p. 171 y ss. En similares términos se manifiesta también, GÓMEZ MARTÍN, V. Op. cit., p. 134; CARBONELL MATEU, J. C.; MORALES PRATS, F. Op. cit., p. 75. 48 BACIGALUPO, S. Op. cit. 49 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 27-74, jan./jun. 2012 49 3 FUNDAMENTO Y NATURALEZA DEL SISTEMA DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL ART. 31 BIS CP Como acabamos de ver, la reforma realizada por la LO 5/2010 ha introducido una serie de preceptos referidos a la aplicación de penas a las personas jurídicas, sobre cuyo concreto fundamento y naturaleza discute la doctrina. Para unos, dicha reforma ha establecido un verdadero sistema de heterorresponsabilidad. Otros, sin embargo, consideran que ha creado uno que presenta algunos elementos propios de los sistemas de autorresponsabilidad, lo que les lleva a defender que su naturaleza mixta, aunque tampoco faltan voces que simplemente niegan que tras la citada reforma exista un verdadero sistema de imputación que se pueda tener por tal, lo que determina que se cuestione la propia legitimidad y constitucionalidad de todo lo establecido en dicha reforma con respecto a dichas entidades. El indiscutible punto de partida de la posible responsabilidad de las personas jurídicas, conforme a lo establecido en nuestro Código penal tras la citada reforma es la comisión por parte de determinadas personas físicas de un hecho que resulte típicamente antijurídico conforme a lo establecido en alguno de los delitos respecto a los que se prevé la posibilidad de imputar responsabilidad penal a las personas jurídicas50. Es evidentemente que esta premisa no debe ni puede suponer derogación alguna del principio de culpabilidad ni del de personalidad de las penas; principios que proscriben cualquier posibilidad de que el Derecho penal pueda atribuir una responsabilidad objetiva a un sujeto por un hecho que le resulte completamente ajeno, al haber sido realizado por otro sin su intervención. El problema se centrará entonces en buscar qué fundamentaría la responsabilidad de la persona jurídica cuando se produzca alguno de dichos hechos. Es decir tenemos que buscar qué justificará que la persona jurídica pueda y tenga que responder por el injusto delictivo que habría cometido una persona física distinta de ella; cuestión para la que se han propuesto diferentes posibles respuestas por parte de nuestra doctrina. Un sector de la misma ha considerado que lo que hace que la conducta antijurídica de la persona física en cuestión pueda llegar a generar responsabilidad a la jurídica es el En efecto, como bien señala Mata Barranco, N. aun cuando el art. 31 bis 2 CP permita imputar responsabilidad a la persona jurídica en los casos en los que no se haya podido individualizar la persona física que cometió el delito o en los que no se haya podido actuar contra ella, ello no supone que no se tenga que acreditar la existencia de la acción típicamente antijurídica de la que se le va a hacer responsable. La actuación individual que de lugar al injusto individual ha de existir, ya que si éste no concurre “[…] no cabe hablar de una responsabilidad de la persona jurídica; porque se estaría exigiendo la misma por algo que no es ilícito” (2010, p. 82-83. En el mismo sentido se manifiestan Carbonell Mateu, J. C. e Morales Prats, F. quienes señalan que “[...] no parece explicable que el hecho típico, perpetrado por persona física, declarado además justificado (no antijurídico) acabe siendo antijurídico al ser proyectado al plano de la responsabilidad de la persona jurídica”, 2010, p. 76. En el mismo sentido, FEIJOO SÁNCHEZ, B. La responsabilidad penal de las personas jurídicas… Op. cit., p. 90. 50 50 FAE Centro Universitário simple hecho de que tal comportamiento se hubiese realizado por determinados sujetos en el contexto empresarial, societario o asociativo propio de la entidad, ya que éste sería el dato que determinaría que el denominado hecho de referencia o de conexión (Anknüpfungstat) se le pueda y se le deba atribuir o imputar normativamente51 al ser considerado como un producto de “[...] la conjunción, de la sinergia de la actuación de la persona física con las especiales posibilidades estructurales y medios de la personas jurídica”52. Sin embargo, y frente a esta postura, otro sector doctrinal ha entendido que la constatación de la realización de uno de estos hechos en tales ámbitos por parte de alguna de las personas físicas mencionadas en el art. 31 bis CP no resulta en modo alguno suficiente para considerar al injusto producido como propio de la persona jurídica y niegan también que el hecho de que se hubiesen realizado además en su nombre, por su cuenta y en su provecho o interés puedan cambiar tal consideración. A su modo de ver, estos comportamientos ajenos son [...] presupuestos de la responsabilidad de las personas jurídicas, pero no son su verdadero fundamento, pues […] si se exige algún tipo de hecho propio de la persona física representada para que la actuación de su representante le genere responsabilidad, lo mismo debe exigirse respecto a la persona jurídica en estos casos53. No bastará, por tanto, con constatar el injusto típico de la persona física para trasladarlo sin más a la persona jurídica. Ésta también tendría que haber realizado un injusto típico propio; injusto que, en opinión de algunos de estos autores, habría de fundamentarse en la constatación de la existencia de un fallo o defecto en la organización empresarial que sería el que permitiría que la persona jurídica pudiese ser tenida por responsable del delito finalmente producido54. En este sentido, Zugaldía Zugaldía Espinar, J. M. considera que se cumplirá este requisito cuando se haya actuado en ejercicio de unas competencias sociales que se posean, en el seno de la persona jurídica y dentro de su marco estatutario. Societas delinquere potest… Op. cit. Mata Barranco, N. por su parte, afirma en esta línea que la exigencia normativa de que la actuación delictiva de la persona física se haya realizado “en nombre o por cuenta de” la persona jurídica cuya responsabilidad va a generar “[…] no puede significar otra cosa que una actuación que asuma las directrices de comportamiento de la persona jurídica, que no se oponga a sus normas de conducta o protocolos de cumplimiento, interpretando “ en nombre o por cuenta de” en el sentido de plasmando la voluntad de”, de modo tal que pueda entenderse que aunque estemos hablando de responsabilidades diversas, la de la persona jurídica sólo tendrá sentido si la persona física actúa como prolongación de la anterior, como brazo ejecutor de las decisiones de la persona jurídica […]” (2010, p. 76); mientras que Gómez-Jara Díez, C. señala que se deben desechar criterios exclusivamente civilistas y entender que se da una de estas conductas cuando “[…] la acción del representante constituya la implementación de un a política empresarial – no siendo por tanto necesaria una autorización expresa de la persona jurídica”, en La responsabilidad penal de las personas jurídicas en la reforma… Op. cit. 51 GÓMEZ TOMILLO, M. Op. cit., p. 52-53. 52 GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en la reforma… Op. cit. 53 Ibid. 54 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 27-74, jan./jun. 2012 51 Como se puede comprobar, las dos posturas comentadas no son sino una nueva manifestación más del evidente enfrentamiento que existe entre las dos principales propuestas doctrinales referidas a la posibilidad de atribuir responsabilidad penal a las personas jurídicas ya que tuvimos ocasión de diferenciar y comentar al comienzo de este trabajo. Por una parte estarán quienes defienden que la persona jurídica ha de responder por el mismo injusto que cometa la persona física que actuó en por su cuenta y en su provecho, lo que supone reconocer que nuestro Código contiene un sistema de heterorresponsabilidad en el que se darán todos los problemas que resultan propios a dicha clase de sistemas; mientras que por otra se encontrarían aquellos que tratan de buscar un fundamento autónomo y propio para el injusto de la persona jurídica acercando el sistema del art. 31 bis CP a los de autorresponsabilidad y, por tanto, también a los problemas que les son propios. El enfrentamiento entre ambas propuestas era previsible y casi inevitable, máxime si se tiene en cuenta que el tenor literal del art. 31 bis CP recoge y mezcla, como hemos visto, elementos propios de a ambos posibles modelos de imputación. Se parte de la necesidad de la comisión de un hecho injusto por parte de un tercero para imputarle responsabilidad a la persona jurídica, pero al mismo tiempo se afirma que la responsabilidad penal de esta última es autónoma e independiente de la predicable respecto a aquél, hasta el punto de que se le podrá atribuir responsabilidad aún cuando no se pueda concretar qué concreto sujeto lo cometió o incluso, si pudiendo hacerlo, no se le pudiese considerar culpable o procesar por ello. Se delimita a determinados sujetos físicos (los representantes, los administradores de hecho o de derecho), cuyas actividades delictivas podrán dar lugar a la responsabilidad penal de las personas jurídica, pero a reglón seguido se cita a otros cuyos delitos sólo generarán su responsabilidad si se constata que los pudieron cometer porque no se ejerció sobre ellos el debido control, lo que parece aludir a la existencia de un defecto de organización de la propia persona jurídica como fundamento último su propia responsabilidad55. Así lo afirman CARBONELL MATEU, J. C.; MORALES PRATS, F. Op. cit., , p. 73; MUÑOZ CONDE, F.; GARCÍA ARÁN, M. Op. cit., p. 630 o BACIGALUPO, S. entre otros, si bien esta última autora considera que “[...] El defecto de organización no sólo debe ser requisito de la responsabilidad por infracción del deber de vigilancia de los administradores sobre sus subordinados, sino el presupuesto general que legitima la aplicación de una pena a una persona jurídica”, lo que la llevó a considerar tal defecto como fundamento de la culpabilidad de la personas jurídica y no como sustento de su injusto propio. Op. cit. Una postura similar es mantenida también por Gómez Tomillo, M. quien considera que también respalda dicha consideración el hecho de que el art. 31 bis 4.c) CP permita atenuar la pena de las personas jurídicas cuando establezca medidas eficaces para prevenir y descubrir futuros delitos cometidos con sus medios o bajo su cobertura. Op. cit., p. 141 y ss. 55 52 FAE Centro Universitário ¿Cómo articular todas estas prescripciones normativas aparentemente enfrentadas sin incurrir en una aparente contradicción? Quienes abogan, conforme a la corriente actualmente mayoritaria, por considerar al art. 31 bis.1 CP como un precepto fundamentador de un verdadero sistema de heterorresponsabilidad de las personas jurídicas, entienden que lo establecido en su segundo nivel de imputación no resulta óbice alguno para mantener su postura, ya que, a su modo de ver, estamos ante una norma que establece un claro deber de vigilancia para los directivos y representantes respecto a las personas físicas que están bajo su autoridad (los subordinados), entendiéndose entonces que cuando los superiores omiten sus deberes de supervisión de alguna manera será la propia entidad la que los habría omitido, al constituir “los directivos el alter ego de la persona jurídica”56. Sin embargo, con ello continuaría sin explicarse porqué razón la persona jurídica habría de responder por una conducta que, pese a ser una omisión, seguiría resultándole ajena ni se daría tampoco solución a los graves problemas de proporcionalidad interna que, como vimos, tendría que afrontar este supuesto nuevo sistema de heterorresponsabilidad, que permitiría que en el primer nivel de imputación del art. 31 bis.1 CP se hiciese responder a la persona jurídica por las acciones y omisiones delictivas y mayoritariamente dolosas cometidas por sus directivos y en el segundo, sin embargo, se les pudiese atribuir la misma responsabilidad por unas omisiones de dichos sujetos que podrían ser consideradas, todo lo más y no siempre, como meramente imprudentes57. En este mismo sentido, la comentada postura también daría lugar a situaciones de descoordinación normativa extrasistémicas difícilmente justificables. Así, por ejemplo, resultaría llamativo que precisamente en el único supuesto en que nuestro Código parece reconocer, de forma general, la responsabilidad penal omisiva de los directivos de las personas jurídicas con respecto a conductas delictivas realizadas por terceros subordinados a su autoridad que pudieron evitar (el delito del art. 318 CP), sea precisamente uno de los supuestos en los que la ausencia de previsión de la posible incriminación de las personas jurídicas por tales conductas se eche más en falta por parte de la doctrina58. ¿Como es posible que el ejemplo más grave de omisión respecto a conductas delictivas de terceros de quienes supuestamente actúan como alter ego de la persona jurídica no pueda generarle responsabilidad y actuaciones que podrían ser completamente atípicas sí lo pudiesen hacer? GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en la reforma… Op. cit. 56 En similares términos, SILVA SÁNCHEZ, J. M. La reforma del código penal: una aproximación desde el contexto. La Ley, n. 7465, 2011. 57 Así, por ejemplo, Muñoz Conde, F.; García Arán, M. llegan a atribuir dicha ausencia a un “olvido” del legislador. Op. cit., p. 629. 58 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 27-74, jan./jun. 2012 53 Alguna respuesta a todo este sinsentido podemos encontrar, sin embargo, si prestamos un poco más de atención a lo establecido en el propio art. 31 bis 1 CP. Si lo hacemos nos percataremos de que, en realidad, el deber legal de control contenido en su segundo nivel de imputación, no obliga a evitar que las personas sometidas a la autoridad de los representantes y administradores de la persona jurídica (los subordinados) realicen delitos, sino solo a impedir que los cometan “en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en provecho de las mismas”, es decir, en el ámbito del giro empresarial propio de la empresa, lo que dota a la exigencia normativa de que el delito que se vaya a imputar a la persona jurídica se cometa por dichas personas físicas de una dimensión completamente diferente. Esta delimitación no está tratando de concretar qué sujetos individuales habrán de realizar la infracción del deber de control que daría lugar a la responsabilidad del ente colectivo. Lo que se pretende es precisar y concretar hasta donde llegará la obligación de control de riesgos de la persona jurídica, extendiéndola hasta aquellas conductas que supongan la ejecución de actividades sociales llevadas a cabo por personas físicas, incluso ajenas a su organigrama (p. ej. autónomos, directivos o empleados de subcontratas, etc.)59, pero que se habrían llevado a cabo gracias a la estructura y recursos de la empresa y bajo el control y la supervisión de quienes tendrían la capacidad legal o fáctica necesaria para poder haberlo impedido (los administradores de hecho o de derecho y los representantes). Se establecería así un deber de supervisión o control que compele a vigilar lo que se efectúa al amparo del ejercicio de su propia actividad empresarial; deber que, por otra parte, si bien aparece expresamente contemplado en el segundo nivel de imputación del art. 31 bis.1 CP, también está recogido y reflejado, a nuestro juicio, en las reglas que perfilan el primero, como lo demuestra el hecho de que también en ellas se deje claro que las personas jurídicas solo responderían de los delitos que cometan los administradores o representantes actuando “en nombre” o “por cuenta” y “en provecho” de dichas entidades; expresiones que demuestran que no se las podrá responsabilizar por el cargo que ostentase También consideran que la responsabilidad de la persona jurídica podría derivarse de las actuaciones realizadas por estos sujetos no vinculados de forma permanente a la estructura empresarial, pero que si desarrollarían una actividad por su cuenta y bajo el control de quienes la gestionan o representan, GÓMEZ TOMILLO, M. Op. cit., p. 67 y GÓMEZ MARTÍN, V. Op. cit., p. 133. En contra de la postura aquí defendida, se manifiesta Feijoo Sánchez, B. que entiende que solo podrán tener relevancia a estos efectos las actuaciones realizadas por personas “[…] que tengan una relación laboral o de Alta Dirección con la persona jurídica”, en La responsabilidad penal de las personas jurídicas… Op. cit., p. 100-101, lo que, a nuestro juicio, no se corresponde con el fundamento material que se defiende en este trabajo con respecto a la responsabilidad de tales entidades y olvida el hecho de que cada vez es más frecuente que éstas actúen utilizando los servicios de sujetos que, si bien podrían ser autónomos o incluso estarían adscritos a otras entidades, estarían realizando actividades propias de su giro empresarial, por su cuenta, en su provecho y bajo la autoridad de aquellos que la representaban y dirigían, con lo que entrarían de lleno en el grupo de sujetos contemplados en el segundo nivel de imputación del art. 31 bis.1 CP. 59 54 FAE Centro Universitário el concreto autor de tales delitos, sino por el hecho de que éste los hubiesen cometido en un ámbito que la persona jurídica podría y debería haber controlado, el de la actividad empresarial desarrollada al amparo de su nombre y/o con la ayuda de sus recursos. También resulta significativo, en este sentido, que en ambos niveles de imputación se exija que los delitos imputables a las persona jurídicas se hayan de cometer “en provecho de las mismas”; expresión que, a nuestro modo de ver, determina que el deber de control que se les impone tampoco esté referido a cualquier forma de criminalidad que las personas físicas nombradas en el art. 31 bis CP pudiesen realizar desde su seno o aprovechándose de sus estructuras y medios, sino tan sólo a aquella que se hubiese efectuado para beneficiarla de alguna forma, lo que supone que los citados entes colectivos no tendrán que controlar ni deberán responder por la criminalidad que simplemente se venga a dar en su seno (criminalidad en la empresa), ni tampoco por aquella que se pueda efectuar contra sus intereses (criminalidad contra la empresa), sino tan solo por la que se integren dentro del concepto de lo que la doctrina ha llamado “criminalidad de la empresa” y que podrían y deberían haber evitado60. Parece, por tanto, que por fin podríamos haber encontrado un posible fundamento normativo de la responsabilidad de la persona jurídica común a los dos niveles de imputación contemplados en el artículo 31 bis CP y diferente del que sustentaría la de la persona física que hubiese cometido el delito que la viniese a generar. También conecta la interpretación de este elementos del art. 31 bis CP con el concepto de criminalidad de empresa ZUGALDÍA ESPINAR, J. M. Societas delinquere potest… Op. cit.; concepción que, conforme a lo aquí sostenido, nos lleva a entender que estamos ante un nuevo elemento objetivo delimitador del deber y, por tanto, también del ámbito de posible responsabilidad omisiva de la entidad y no ante una exigencia de naturaleza subjetiva referida al autor del delito generador de responsabilidad, como sostienen GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, N.; JUANES PECES, A. La responsabilidad penal de las personas jurídicas y su enjuiciamiento en la reforma de 2010; medidas a adoptar antes de su entrada en vigor. LA LEY, n. 7541, 2011. Disponible en:<www.laley.es>. Acesso en: 10 jul. 2011. Sobre esta cuestión véase también lo comentado por GÓMEZ TOMILLO, M. Op. cit., p. 84 y ss. Lo importante, a nuestro juicio, es que la actividad delictiva se haya efectuado por una persona física que ejerza competencias sociales cuando lo realice y que además las utilice de una forma que objetivamente tienda a aportar beneficios económicos, competitivos o de cualquier otra clase a la empresa que se las otorgó, no para obtener un beneficio particular para sí mismo o para otro, perjudicando a terceros o incluso a la propia entidad. Mantienen esta concepción objetiva, amplia y no meramente económica del elemento “en provecho”, el propio GÓMEZ TOMILLO, M. Op. cit. p. 86-87; ZUGALDÍA ESPINAR, J. M. Societas delinquere potest… Op. cit.; FEIJOO SÁNCHEZ, B. La responsabilidad penal de las personas jurídicas… Op. cit., p. 98-99 o GÓMEZ MARTÍN, V. Op. cit., p. 133; En contra se manifiesta, por ejemplo, Gómez-Jara Díez, C. quien considera que esta expresión obliga a la efectiva consecución del provecho, para apreciar su concurrencia La responsabilidad penal de las personas jurídicas en la reforma… Op. cit. Sobre la interesante diferenciación entre la criminalidad de la empresa y en la empresa, desarrollada en el seno de la doctrina alemana por el profesor Shünemann, B. véase su trabajo titulado Strafredogmatische und Kriminalpolitische Grundfragen der Unternehmenskriminalität. In: Zeitschrifr für Wirtschaft-Steur-und Strafrecht,Wistra 2, 1982, p. 41 y ss, traducido y publicado en español bajo el título Cuestiones básicas de dogmática jurídico-penal y de política criminal acerca de la criminalidad de empresa. Anuario de Derecho Pelal y Ciencias Penales, Madrid, v. 41, n. 1, p. 529-558, enero/abr. 1988.; o lo comentado la respecto por MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C. Op. cit., p. 67 y ss o BAJO FERNÁNDEZ, M.; BACIGALUPO SAGGESE, S. Op. cit., p. 148. 60 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 27-74, jan./jun. 2012 55 La responsabilidad penal de la persona jurídica se fundamentaría en la infracción del deber colectivo de control de riesgos que el citado precepto dirigiría a todos los entes dotados de personalidad jurídica. Así lo indicaría también el hecho de que el establecimiento de medidas preventivas, posteriores a la comisión de los delitos por los que se las condene, permita atenuar su responsabilidad con independencia del nivel de imputación que hubiese utilizado para imputársela (art. 31 bis 4. d)61. Sin embargo, para poder afirmar que esto es realmente así, y que en consecuencia, todo el sistema de responsabilidad de las personas jurídicas se sustenta en la posible infracción del referido deber, se hace necesario comprobar si tal fundamento se ajusta realmente al tenor literal del resto de preceptos que conforman dicho sistema y, sobretodo, si permite responder a todos los problemas y aparentes contradicciones a los que éste parecía enfrentarse. 4 PROBLEMAS CON RESPUESTA EN EL NUEVO SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Como acabamos de ver, es el propio tenor literal del artículo 31 bis CP el que nos indica cual podría ser el pilar básico del nuevo sistema de responsabilidad penal de la persona jurídica, ya que es precisamente en dicho precepto en donde se condiciona su posible responsabilidad al hecho de que el delito del que se le haga responsable se haya realizado en su beneficio, dentro de su ámbito de actividad y por personas que gocen de las competencias necesarias para ejercitarla, con lo que entendemos que se deja claro que lo que se impone es un mandato de control de los recursos tanto personales, como materiales e inmateriales que conforman la propia persona jurídica, para impedir que puedan ser utilizados en la comisión de tales delitos. La persona jurídica, como concentración de recursos que es, es vista como una posible fuente de riesgos penalmente relevantes que puede facilitar o incluso incentivar la comisión de delitos, consideración que lleva al Derecho penal a obligar a quienes están implicados en su actividad y tienen el control último sobre dicha fuente generadora de peligros a que lo ejerzan de forma responsable y no se desentiendan totalmente de lo que puedan hacer con ella aquellos en los que hubiesen delegado o depositado la capacidad de poder utilizarla total o parcialmente. De hecho, algunos autores, como GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en la reforma… Op. cit., ALONSO GALLO, J. Op. cit., p. 155 o FEIJOO SÁNCHEZ, B. La responsabilidad penal de las personas jurídicas… Op. cit., p. 130 y 135 señalan que la existencia de esta atenuante, apreciable cuando se implanten medidas de control después de la comisión del delito, lleva a que se tenga que entender que si dichas medidas se hubiesen implantado antes deberían haber llevado a su irresponsabilidad penal. 61 56 FAE Centro Universitário El punto de partida del sistema sería por tanto la existencia de un mandato dirigido a la persona jurídica como ente colectivo para que realice aquellas conductas y establezca aquellas medidas que estando a su alcance podrían impedir que se pudiesen cometer delitos en el desarrollo de su actividad, con lo que se la convierte en garante y en posible responsable, no de la conducta delictiva o no cometida por la persona física incardinada en su estructura organizativa o sometida al control o autoridad de sus administradores o representantes, sino de la omisión que ella misma habría cometido al no haber controlado de forma adecuada el ámbito de actividad que se encontraba bajo su dominio y que estaba obligada a vigilar. Ahora bien, una vez que se sustenta la responsabilidad del ente colectivo en la existencia de una posible omisión por su parte, resulta necesario, como no podía ser de otra forma, comprobar que dicho ente puede realmente cumplir con el deber que le obligaba a actuar, ya que, como es sabido, solo existe una omisión cuando no se efectúa la acción que la norma penal exige que se haga, existiendo, sin embargo, la posibilidad real de ejecutarla62. Este requisito básico y común a toda omisión nos enfrenta de nuevo a un viejo y conocido problema; el referido a la vieja y nunca cerrada cuestión de si las personas jurídicas gozarían de una capacidad propia de acción o si, por el contrario, carecerían ella, con lo que no solo no podrían actuar, sino que tampoco podrían omitir. ¿Puede una persona jurídica, un ente colectivo, evitar activamente delitos y, por tanto, también omitir dicha evitación si le es exigida por el ordenamiento jurídico? No compartimos, por tanto, en modo alguno la postura defendida en su día por RODRÍGUEZ RAMOS, L. cuando afirmó que pese a que es “[...] la acción en sentido propio -comisión- es impensable que la protagonice una persona jurídica, separada de la conducta de las personas físicas que la componen, porque aquélla carece realmente de capacidad de acción por sí misma [...]”, ello no supone que no pueda realizar omisiones, ya que “[...] La omisión, en cambio tienen una naturaleza ideal, hipotética, pues consisten en un “no hacer”, “en la nada”, en algo inexistente solo presente en a mente de quien la piense [...]”. En ¿Cómo puede delinquir una persona jurídica en un sistema penal antropocéntrico? (La participación en el delito de orto por omisión imprudente: pautas para su prevención). LA LEY, n. 7561, 2011. Disponible en:<www. laley.es>. Acesso em: 08 jun. 2011. A nuestro juicio, sin embargo, la omisión parte de dos premisas. Por una parte de la existencia de un mandato u orden normativa de actuar, sin el cual la omisión no existiría. Por otra de la posibilidad real del sujeto al que se exige que actúe de realizar lo que se le pide, ya que en caso de que ésta no existiese no podría decirse que haya omitido conducta alguna ni que haya incumplido el mandato normativo que le afectaba, hecho que nos lleva entender que para poder afirmar que a persona jurídica puede omitir, se tiene que reconocer que también podrá actuar. En esta línea, Muñoz Conde, F.; García Arán, M. señalan que “[…] La omisión en sí misma no existe. La omisión es la omisión de una acción que se puede hacer y, por eso mismo, está referida siempre a una acción determinada, cuya realización constituye su esencia. […] De aquí se desprende que el sujeto autor de la omisión debe estar en condiciones de poder realizar la acción, si no existe tal posibilidad de acción, por las razones que sean, no puede hablarse de omisión” (2010, p. 238). 62 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 27-74, jan./jun. 2012 57 Como ya vimos, esto fue negado, entre otros por SCHUNEMANN, quien señalaba que aún cuando llevásemos la infracción normativa generadora de la responsabilidad de la persona jurídica a una norma de conducta que la obligase a organizarse correctamente, nos encontraríamos con que dicho mandato tampoco podría ser incumplido por la entidad, puesto que, al final, solo podría ser infringido por la actividad que realizasen una o varias personas físicas63. Nada se puede objetar a dicha observación, si bien creemos que la misma parte de una premisa equivocada, como es la de volver a tratar de aplicar criterios de imputación propios del sistema penal de responsabilidad individual a una imputación de naturaleza netamente colectiva, que por definición ha de responder a parámetros diferentes y, en su caso, paralelos a los de aquél. Aquí, a nuestro modo de ver, no estamos ya ante una norma de determinación individual que obligue a los sujetos individuales a actuar de una concreta manera, permitiendo considerarles responsables si no lo llegasen a hacer. Aquí estamos ante una norma colectiva dirigida a la persona jurídica como ente diferente de los concretos individuos que la integran o trabajan para ella y que solo los vinculará en la medida en que actúen en el seno o al amparo de alguna de sus destinatarias iniciales; es decir, al amparo de alguna de las personas jurídicas a las que el art. 31 bis CP se dirige64. En efecto, estamos ante una verdadera norma de determinación o de conducta que a diferencia del resto de las que configuran el Derecho penal, no estaría ya dirigida exclusivamente a orientar el comportamiento de un sujeto individual, sino que intentaría Vid. supra. 63 En este sentido, se ha de destacar que tampoco todas las personas jurídicas son destinatarias de las prescripciones establecidas en el art. 31 bis CP conforme a lo establecido en el apartado 5 de dicho artículo, donde se establece que “Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán aplicables al Estado, a las Administraciones Públicas territoriales e institucionales, a los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades Públicas Empresariales, a los partidos políticos y sindicatos, a las organizaciones internacionales de derecho público, ni a aquellas otras que ejerzan potestades públicas de soberanía, administrativas o cuando se trate de Sociedades mercantiles Estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general. En estos supuestos, los órganos jurisdiccionales podrán efectuar declaración de responsabilidad penal en el caso de que aprecien que se trata de una forma jurídica creada por sus promotores, fundadores, administradores o representantes con el propósito de eludir una eventual responsabilidad penal”. Sobre el cuestionable fundamento de esta limitación y los problemas que su efectiva aplicación planteará, véase lo comentado por MUÑOZ CONDE, F.; GARCÍA ARÁN, M. Op. cit., p. 628-629; GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en la reforma… Op. cit.; GÓMEZ MARTÍN, V. Op. cit., p. 131-132; ZUÑIGA RODRÍGUEZ, L. Responsabilidad penal de las personas jurídicas… p. 1173; GÓMEZ TOMILLO, M. Op. cit., p. 35 y ss; ORTS BERENGUER, E.; GONZÁLEZ CUSSAC, J. L. Op. cit., p. 239 o CARBONELL MATEU, J. C.; MORALES PRATS, F. Op. cit., p. 78 o FEIJOO SÁNCHEZ, B. La responsabilidad penal de las personas jurídicas… Op. cit., p. 75 y ss, entre otros. 64 58 FAE Centro Universitário dirigir el de todos aquellos que se integran simultánea o sucesivamente en entes de naturaleza colectiva, como las personas jurídicas y gozan además de la capacidad de incidir en su organización y actuación. En concreto, sería una norma de determinación, y no una meramente valorativa de la situación en la que se encuentra la persona jurídica como algunos han sostenido65, que obligaría de forma colectiva, acumulativa e incluso sucesiva a todas las personas físicas que individual o colectivamente gozasen de la capacidad de controlar y de decidir sobre la posible actividad de la jurídica, a que hiciesen lo que estuviese en su mano para evitar que dicha actividad pudiese dar amparo y/o sustentar la comisión de delitos, siendo, por tanto, una norma que les obligaría a organizarse y actuar de forma coordinada con el resto de los que gozaban o gozaron de dichas capacidades, para tratar de conseguirlo. El nuevo art. 31 bis CP intentaría convertir a las personas jurídicas, como estructuras organizativas diferentes y que pueden llegar a trascender a los concretos individuos que las conforman, en colaboradoras obligatorias de la tarea preventiva de delitos propia del Derecho penal, para lo cual obligará colectivamente a todas las personas físicas que tienen capacidad real de poder intervenir en la dirección de sus actividades (desde los socios fundadores o no, hasta los administradores y sus representantes que podrían ejercen dicha competencia, total o parcialmente, por delegación), a hacer cuanto esté en su mano para evitar que tales actividades puedan amparar y facilitar delitos. No estamos ya, por tanto, ante un mandato individualmente dirigido a cada una de dichas personas físicas en concreto, sino ante uno que se dirige de forma colectiva a todas a la vez y que les obliga a controlar y a responder no solo por lo que ellas mismas hacen, sino también por lo que dejasen hacer a aquellas otras con las que compartían o en las que delegaron su dominio social. El Derecho penal atiende así al carácter colectivo, desconcentrado y difuso del dominio que caracteriza a la estructura empresarial como posible fuente de peligros, que tantos problemas ha dado a su sistema de imputación individual, creando una norma de determinación colectiva que obliga a las personas individuales que la integran y dominan, aunque sea parcialmente, a controlar no solo lo que ellas hacen, sino también lo que realizan u omiten quienes (co-)dominan con ellas la actividad social o lo hacen por su delegación, con lo que se las convierte en garantes no solo de sus conductas sino también de las ajenas que podrían haber evitado, para conseguir que la unión de sus respectivas acciones y omisiones individuales no puedan llegar a amparar o facilitar Cfr. SILVA SÁNCHEZ, J. M. La responsabilidad penal de las personas jurídicas… p. 344 y ss. 65 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 27-74, jan./jun. 2012 59 la realización de delitos, precisamente como consecuencia del desapego y desinterés que algunos o todos ellos podrían mostrar por la forma en la que se decidiese dirigir la actividad empresarial. Los accionistas o los socios, como colectivo, no pueden ya invertir y desentenderse de lo que haga el resto de socios o sus administradores o representantes con lo invertido, esperando cómodamente y sin ningún temor los beneficios que las decisiones, incluso delictivas, de dichos sujetos les podrían reportar. Tienen que involucrarse en el control del uso que sus delegados hagan de sus recursos, ya que si no lo hiciesen, puede que no puedan llegar a ser considerados individualmente responsables del delito que su desidia favoreció, pero sí podrían llegar a padecer los efectos que la imposición de una pena a la entidad podría tener sobre sus propios patrimonios o derechos66. Ahora bien, una vez que hemos determinado quienes y porque pueden generar la responsabilidad penal de las personas jurídicas como entes colectivos, aún tendríamos que determinar cómo deberían actuar dichos sujetos para poder quedar a salvo de cualquier posible responsabilidad penal. Es decir, tenemos que determinar donde se encuentra el nivel de riesgo permitido establecido para las personas jurídicas en nuestro Código penal y donde comienza, por tanto, su posible responsabilidad. Alguna pista al respecto podemos volver a encontrar en el propio tenor literal del art. 31 bis.1 CP. En concreto, la encontramos cuando se afirma que se podrá imputar responsabilidad penal a la persona jurídica si se constata que quienes cometieron el delito estando bajo la autoridad de quienes ejercían el dominio social instrumental, lo pudieron realizar “[...] por no haberse ejercido sobre ellos el debido control atendidas las concretas circunstancias del caso”. En efecto, estamos ante una norma que establece un mandato y fija nivel de riesgo permitido diferente y paralelo para los entes colectivos del establecido para los concretos sujetos individuales que los integran o dirigen, por lo que, no será extraño que la conducta que infrinja dicho mandato, sea una acción u omisión que si bien no superaría por sí misma el umbral de lo penalmente permitido para el concreto individuo que la realizó, sí permita entender que superó el nuevo límite marcado por el mandato colectivo; como tampoco lo será que la posible conducta o defecto preventivo que permitiese apreciar la infracción del mandato colectivo pueda ser producto de varias actuaciones y/u omisiones de personas físicas que consideradas individualmente serían penalmente irrelevantes o incluso resultarían perfectamente lícitas. Sin embargo, tanto en uno como en otro supuesto se habría dado una infracción del nuevo mandato colectivo de vigilancia establecido por el art. 31 bis CP para las personas jurídicas, siendo precisamente dicha infracción la que permitiría imputarle responsabilidad penal a toda la entidad como ente colectivo jurídicamente responsable de su producción. 66 60 FAE Centro Universitário A nuestro modo de ver, con dicha expresión se está estableciendo un claro referente a la hora de fundamentar la tipicidad subjetiva del ente colectivo. Se habla del ejercicio del “debido control” y con ello se está fijando al deber objetivo de cuidado como referente fundamentador del injusto subjetivo de dichas entidades67, al tiempo que se afirma que dicho deber se ha de fijar “atendiendo a las circunstancias concretas del caso”, lo que supone que no existe una modalidad única de conducta diligente o permitida, sino que, como sucede en todos los delitos imprudentes, dicha conducta se ha de definir atendiendo a todas las circunstancias, tanto objetivas como subjetivas, que se den en el caso concreto. Parece evidente entonces que no se podrá exigir el mismo nivel de diligencia preventiva a una gran multinacional que disponga de múltiples recursos materiales y personales para evitar delitos que a una pequeña empresa familiar que carezca de ellos, del mismo modo que tampoco se podrá exigir que establezca las mismas medidas preventivas de delitos medioambientales una empresa destinada al tratamiento de residuos altamente contaminantes que una que no ejerza dicho tipo de actividades, por más que su giro empresarial alguna vez pueda llegar a ocasionar alguna afección delictiva del medio ambiente. No existen parámetros generales que sirvan para definir el nivel de lo permitido para las personas jurídicas, ni parece, por tanto, que el establecimiento de programas de cumplimiento o de códigos de conductas generales o estándar resulte suficiente para garantizar la impunidad de dichas entidades68. Cada una tiene que fijar programas preventivos adecuados a sus concretas circunstancias, tamaño, actividad, etc., lo que hará que tanto los tribunales como, sobretodo, las propias entidades hayan de fijar los concretos niveles de lo permitido atendiendo a criterios de exigibilidad y razonabilidad, En similares términos, GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en la reforma. 67 Compartimos, por tanto, las palabras de QUINTERO OLIVARES, G. cuando señalaba que “[...] La idea de un código de conducta interno puede obrar como escudo protector está totalmente fuera de lugar. El control debido y los reglamentos o códigos de conducta de una empresa son cuestiones que circulan por vías diferentes, por cercanas que estén en su sentido último”, en “Personas jurídicas, entes, grupos, y sus individuos. Su responsabilidad penal tras la reforma de la Ley Orgánica 5/2010” en El Cronista del Estado Social y democrático de Derecho nº 22, 2011. p. 9. Incluso los defensores de la implantación de los programas de cumplimiento, como Alonso Gallo, J. aceptan que “[…] Los programas de cumplimiento efectivos no garantizan que la empresa no incurrirá en responsabilidad penal. Esta eventualidad dependerá de las circunstancias del caso concreto y de la valoración que hagan los Tribunales sobre la diligencia de la empresa y la eficacia del programa. Esta valoración implicará siempre, inevitablemente, un juicio ex post del Tribunal, por mucho que la valoración del cumplimiento de las exigencias de cuidado debido teóricamente deba hacerse, como destaca la teoría general del delito, a partir de criterios ex ante […]” (2011, p. 159). 68 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 27-74, jan./jun. 2012 61 obligándolas así a tener que preocuparse por aplicar medidas realmente preventivas y no unas que solo aparenten serlo69. Nos encontraríamos, por tanto, ante una responsabilidad penal colectiva de la persona jurídica que, conforme a los parámetros utilizados para la personas físicas, tendría que ser considerada como de naturaleza imprudente70; naturaleza que, a nuestro modo Evidentemente, y como señala Nieto Martín, A. se corre el riesgo de que se establezcan estandar de exigibilidad preventiva demasiado bajos por parte de nuestros tribunales como consecuencia de su inexperiencia en esta materia, lo que podría afectar a la efectividad preventiva del propio sistema (2008), pero esto puede suceder en casos aislados y en los momentos iniciales de implementación del sistema, ya que en la mayoría de las actividades realmente peligrosas existen protocolos y reglas preventivas extrapenales que los jueces podrán tener en cuenta a la hora de fijar el concreto nivel de riesgo permitido de cada entidad y donde ello no suceda, serán las propias exigencias de los socios de las entidades, tendentes a minimizar el riesgo de cualquier posible merma patrimonial, incluso de las derivadas de delitos, las que llevaran a que se concreten unos niveles de riesgos preventivos colectivos permitidos adecuados, realistas y especializados por sectores de actividad que permitirán iniciar el único camino que consideramos factible para establecer programas preventivos realistas y eficaces. 69 En este mismo sentido se manifiesta, por ejemplo, RODRÍGUEZ RAMOS, L. Op. cit., si bien, hemos de señalar que calificamos la conducta de la persona jurídica como imprudente por analogía con la tradicional diferenciación imprudencia/dolo del Derecho penal individual no estrictamente aplicable al de las personas jurídicas. Como hemos visto, lo que fundamentaría la tipicidad subjetiva del injusto de estas entidades sería el hecho de que habrían infringido el deber objetivo de cuidado colectivo que les correspondería sin concurrir ninguno de los elementos psíquicos que se exigirían para poder apreciar una conducta de su parte que pudiese ser tenida como dolosa, siendo precisamente esta delimitación de su tipicidad subjetiva la que acercará su injusto al propio de los delitos imprudentes cometidos por las personas físicas. En las conductas de las personas jurídicas, a diferencia de lo que sucede con las de las personas físicas, no pueden concurrir los elementos psicológicos que configuran al dolo como forma de imputación subjetiva diferente y más grave que la imprudencia, con lo que se deben rechazar todos los intentos realizados hasta la fecha que han tratado precisamente de encontrar una especie de dolo colectivo en la entidad partiendo de la concurrencia en su seno de un supuesto e inexistente conocimiento colectivo, de una representación colectiva del peligro o, lo que es peor, de una mera imputación funcional basada en la concepción social del hecho realizado que incluso permitiría prescindir de forma completa del conocimiento real del autor. No le falta razón, por tanto, a Nieto Martín, A. cuando señala que “[...] El intento de buscar el dolo de la corporación muestra con claridad el peligro existente al intentar hormar la responsabilidad colectiva con los criterios del derecho penal individual: la degradación de los conceptos de imputación subjetiva tradicionales con el fin de que puedan acomodarse a ambos tipos de responsabilidad“ (2011, p. 161-162). En efecto, las personas jurídicas del art. 31 bis CP nunca podrán actuar con un verdadero dolo colectivo. Esta forma de dolo no existe realmente y su búsqueda lo único que puede conseguir es que se llegue a desvirtuar esta modalidad de imputación propia de las personas físicas hasta hacerla prácticamente irreconocible. De hecho, incluso si todos los miembros e integrantes de la entidad cuya conducta tuviésemos que valorar hubiesen actuado con un verdadero dolo de cometer delitos, parece que lo más lógico sería pensar que nos tendríamos que salir del ámbito de aplicación de este precepto para adentrarnos en el de aquellos otros que se ocupan de las asociaciones ilícitas o de las organizaciones y grupos criminales; delitos cuya concurrencia con el sistema de responsabilidad general de la persona jurídica planteará múltiples y muy difíciles problemas, como señala QUINTERO OLIVARES, G. ) 2011. Op. cit., p. 10 y ss), que, sin embargo, no podemos analizar en este concreto momento, ya que su estudio requeriría de un trabajo prácticamente monográfico que, como fácilmente se comprenderá, sobrepasa con mucho el objeto de estudio del presente trabajo. En cualquier caso, y para tener una visión global sobre las distintas propuestas realizadas sobre el “dolo de las personas jurídicas” véase, lo comentado por Nieto Martín, A. (2011, p. 155 y ss) o por Gómez-Jara Díez, C. El modelo constructivista de autorresponsabilidad penal empresarial, p. 141 y ss, entre otros. 70 62 FAE Centro Universitário de ver, se ajusta perfectamente a los dictados de nuestro Código penal y consigue que el sistema adquiera unos niveles de coherencia interna desconocidos hasta el momento. Así, y en primer lugar, dicha naturaleza responde perfectamente al hecho de que el nuevo art. 31 bis CP haya establecido un sistema de numerus clausus a la hora de fijar los delitos respecto a los que se podría aplicar, ya que ello se corresponde con la opción adoptada por nuestro legislador en el artículo 12 CP con respecto al resto de delitos imprudentes71. Pero es que además, y por otra parte, tal naturaleza también se coordina perfectamente con que el sistema del art. 31 bis CP sea un sistema que solo se podrá activar cuando se haya llegado a producir aquel resultado que vendría a completar su injusto; es decir, cuando se haya llegado a materializar la contribución delictiva imprudente que la entidad podía y estaba obligada a evitar. En efecto, en nuestra opinión, el delito cometido por la persona física supone la materialización de la contribución delictiva que la entidad estaba obligada a evitar. La persona jurídica, como ya vimos, no está obligada a impedir que ciertas personas físicas cometan determinados delitos. Lo que tiene que evitar es que dichos delitos se puedan cometer al amparo de su estructura y/o aprovechándose de sus recursos, con lo que resulta lógico pensar que solo si no lo hace y de su omisión se deriva la producción de un delito cometido gracias a los medios que dejó indebidamente de controlar, se podrá entender que se ha completado el injusto típico imprudente del que se la tendría que responsabilizar72. No existiría entonces desconexión alguna entre el injusto de la persona jurídica y el delito cometido por la física (bastará con demostrar la imputación objetiva entre la omisión efectuada y la contribución delictiva producida), ni tampoco habrá ya problema a la hora Consideramos, por tanto, que el art. 31 bis 1 CP contempla y describe una modalidad específica y muy delimitada de comportamientos imprudentes colectivos, lo que determina que si bien todos los elementos delimitadores de dicha conductas aparezcan generalmente contemplados en el referido precepto, también obliga a que su posible sanción tenga que aparecer expresamente contemplada en aquellos delitos en los que resulte viable, ya que solo así se responderá adecuadamente a la exigencia general establecida por el art. 12 CP. No existirá, por tanto, problema alguno de incompatibilidad entre lo establecido en este último artículo y lo contemplado en el nuevo 31 bis de nuestro Código penal, frente a lo que sostenían Mata Barranco, N. (2010, p. 76) o Gómez Martín, V. (2011, p. 134) y por ello resultará, perfectamente viable castigar conforme al mismo conductas de naturaleza meramente imprudente. 71 Consideramos, por tanto, a diferencia de lo que hace Quintero Olivares, G. (2011, p. 8), que la persona jurídica no responde por no haber impedido los delitos, en la mayoría de supuestos dolosos, cometidos por la física, sino por haber contribuido de forma omisiva e imprudente a su producción, lo que nos permite eludir las aparentes contradicciones y problemas que el citado autor encontraba en el sistema español, ya que ni se tendría que admitir que se pueda generar un delito doloso como consecuencia de un mero descontrol, ni se tendría que fundamentar la supuesta responsabilidad dolosa de la persona jurídica en la mera infracción de normas de cuidado que, por definición, estarían ideológicamente orientadas hacia la prudencia y la prevención. 72 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 27-74, jan./jun. 2012 63 de justificar porque la mayor gravedad de dicho delito tendrá que redundar en una mayor responsabilidad de la entidad colectiva en que se cometió (mientras más grave sea el delito cometido mayor desvalor de resultado tendrá el injusto imputable a la entidad), con lo que la propuesta de interpretación aquí sostenida resolverá algunos de los reproches que más frecuentemente se han planteado a los sistemas de autorresponsabilidad empresarial, dotando al sistema español de una cierta preeminencia sobre los mismos. Sin embargo, las ventajas de esta interpretación no acaban aquí. Como fácilmente se puede deducir, partimos de una interpretación que hace responsable a la persona jurídica de un injusto que le es propio, lo que obliga a entender cuando se la condene conforme a los parámetros contemplados en el art. 31 bis CP también se la tenga que condenar como (co-)responsable civil del daño ocasionado junto con las personas físicas que también pudieran llegar a ser condenadas por los hechos que generaron su responsabilidad (no se olvide que no siempre será necesaria dicha condena para generar la responsabilidad penal de la persona jurídica), con lo que se justificará que el artículo 116.3 CP las convierta en responsables civiles solidarias del daño ocasionado junto a tales personas físicas, sin que, a nuestro modo de ver y frente lo que señala parte de la doctrina73, puedan reclamar o repercutir sobre ellas todo lo pagado, ya que al ser la persona jurídica también (co-)causante y (co-)responsable del daño producido, siempre le corresponderá una cuota propia de responsabilidad cuyo reintegro nunca podrá reclamar al resto de condenados74. Por otra parte, la interpretación propuesta también serviría para evitar la aparente infracción del principio de proporcionalidad que, a juicio de algunos autores, se daría entre los dos niveles de imputación contemplados en el art. 31 bis CP. No es que en el primer nivel se castigue a la persona jurídica por algunos delitos dolosos y en el segundo por la mera realización de conductas imprudentes o no diligentes. En realidad, en ambos niveles se sanciona a la persona jurídica por una omisión propia de naturaleza imprudente referida al control sobre los riesgos derivados de su Así, Gómez Tomillo, M. (2010, p. 195) que señala que los socios podrían reclamar las perdidas sufridas contra los administradores como consecuencia de su gestión deficitaria, lo que supondría olvidar que también ellos, como colectivo, serían corresponsales de tal gestión 73 74 64 Resulta necesario, por tanto, determinar la cuota correspondiente a la persona jurídica, hecho que, por otra parte y diferencia de lo que señala Gómez Tomillo, M, (2010, p. 194 y 195) nos lleva a considerar que no se producirá la disminución del efecto preventivo que la responsabilidad civil ex delicto tendría sobre las personas físicas a la que el mismo alude, ya que el que se permita que la víctima pueda dirigirse directamente contra la persona jurídica exigiéndole el pago de la indemnización total, no impedirá que ésta pueda posteriormente repercutir la parte que no le corresponda sobre la física, haciendo así efectiva también su responsabilidad. FAE Centro Universitário actividad, con lo que no debe sorprender que ambos niveles se asimilen a efectos de pena, ni que el único referente de entre los contemplados en el art. 66 bis 1º CP que parezca aludir a la gravedad del hecho realizado por dichas entidades a la hora de determinar su pena, sea aquel que se refiere a la valoración del puesto que ocupó en ella la persona física que infringió el deber de control y no al que ocupaba quien efectivamente cometió el delito individual que daría lugar a su responsabilidad. Lo que determina la gravedad subjetiva del injusto de la persona jurídica es la intensidad de la infracción del deber de cuidado que se ha de ejercer al dirigir su actividad75, infracción que será más grave, entre otras cosas y como apunta el referido precepto, cuanto mayor sea el dominio o capacidad de control que tengan sobre su estructura la persona o el grupo de personas físicas que dejaron de vigilar adecuadamente el riesgo que la misma generaba. Pero es que además y en esta misma línea, la interpretación propuesta también nos permitirá dar adecuada respuesta a otro de los problemas de proporcionalidad a los que parecería enfrentarse el nuevo art. 31 bis CP. En concreto, nos servirá para dotar de sentido y de justificación al mandato legislativo que obliga a los jueces a modular las penas de multa simultáneamente impuestas a las personas físicas y jurídicas responsables de un delito, ya que al fundamentar la responsabilidad empresarial en la infracción de un deber difuso y, en su caso, colectivo de impedir delitos, tendremos que entender que el injusto omisivo producido por dicha infracción resultará inherente y se verá completamente absorbido por el que se habría de imputar al sujeto que lo incumplió precisamente por ser autor individual del delito que debería haber evitado como integrante de la entidad. Resulta evidente que no se puede castigar a los responsables de un delito por su comisión y por la infracción del posible deber de impedirlo que le pudiese corresponder sin infringir el principio de ne bis in idem y esto es precisamente lo que trata de evitar la previsión contenida en el art. 31 bis 2 de nuestro Código penal cuando establece que el Entendemos en tal sentido, que la gravedad de la infracción del deber de cuidado realizada por la persona jurídica en la omisión del deber de control de riesgos que se le atribuye, habrá de influir en la responsabilidad que se le impute y consecuentemente también en la pena que se le aplique. Es por ello, por lo que consideramos acertada la postura sostenida por Rodríguez Ramos, L. (2011) según la cual se deberá de fijar en la imprudencia grave la frontera mínima de la responsabilidad penal de la persona jurídica, ya que, como bien afirma el referido autor, ello responderá al carácter excepcional de la responsabilidad de tales entidades y también al hecho de que solo se predique respecto a delitos del libro II del Código penal, donde sólo se prevé el castigo de dicha modalidad de imprudencia, quedando la leve adscrita a ciertas faltas. También se decanta por exigir la constatación de la infracción grave del deber correspondiente a la empresa, para apreciar su responsabilidad evitando que la misma se generé por cualquier pequeña carencia organizativa, HEINE, G. Modelos de responsabilidad jurídico-penal… p. 64. 75 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 27-74, jan./jun. 2012 65 juez ha de modular las cuantías de las penas de multa correspondientes a las personas físicas y jurídicas cuando éstas se impongan como consecuencia de los mismos hechos. Trata de evitar que la acumulación de estas sanciones pueda llegar a infringir el principio de proporcionalidad, como sucedería, por ejemplo, cuando el administrador y socio único de una persona jurídica unipersonal que hubiese cometido un delito, pudiese ver duplicada o multiplicada la sanción pecuniaria que le correspondería pagar por el mero hecho de haberlo efectuado utilizando los medios de la entidad que le pertenecía. Cierto es que a efectos civiles nos encontramos ante dos patrimonios jurídicamente separados y diferenciados76, pero no lo es menos que en supuestos como el comentado el sujeto en cuestión vería como la merma patrimonial que tendría que sufrir como consecuencia de su actuación se podría ver notablemente incrementada con respecto a la que pagaría cualquier otra persona que hubiese realizado el mismo delito que él, por el mero hecho de haberlo efectuado utilizando unos elementos y mecanismos que le pertenecían, pero a los que había otorgado personalidad jurídica independiente, lo que no parece de recibo y determina que el artículo 31 bis 2 CP obligue al juez a tener en cuenta este tipo de situaciones para que la aplicación acumulada de los dos sistemas de responsabilidad penal contemplados en nuestro Código (el individual y el colectivo) no dé lugar a incrementos punitivos injustificados y, por tanto, desproporcionados para los individuos que se encontrasen en este tipo de situaciones. 5 LAS SOMBRAS DEL SISTEMA Hasta el momento hemos tratado de dar una interpretación adecuada y coordinada al que sin lugar a dudas supone el más decidido, valiente, y desarrollado intento de dar respuesta al siempre cuestionado tema de la posible responsabilidad penal de las personas jurídicas realizado en nuestro ordenamiento jurídico. Por fin estamos ante una declaración clara e incuestionable de su posible responsabilidad y ante un sistema que, como hemos visto, aporta nuevas e interesantes propuestas para dotar de una respuesta político criminal adecuada al reto que dichas entidades presentan al Moderno Derecho penal. ZUGALDÍA ESPINAR, J. M. en Fundamentos de derecho penal, p. 591 y el mismo autor Societas delinquere potest… Op. cit. 76 66 FAE Centro Universitário Ahora bien, no todo son luces en este nuevo sistema. También existen muchas sombras que deben ser eliminadas lo antes posible por el bien de la efectividad del propio sistema. Así, por ejemplo, resulta absolutamente inexplicable que la entrada en vigor del completo sistema de responsabilidad de las personas jurídicas introducido en nuestro Código por la LO 5/2010 no se haya visto acompañada por una paralela reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que otorgue una carta de naturaleza adecuada y dote de las debidas garantías al nuevo papel que tales entidades están llamadas a desempeñar en el proceso penal77. Menos cuestionable nos parece, sin embargo, el hecho, criticado por algunos autores , de que el sistema de responsabilidad de dichos entes sea un sistema de numerus clausus, dado que, a nuestro modo de ver, el reconocimiento de dicha responsabilidad supone una importante reducción del riesgo penalmente permitido que solo se puede legitimar en casos excepcionales79, lo que, sin embargo y por otra parte, no impide que consideremos que tal vez sería conveniente replantearse la elección de los concretos delitos en los que se prevé la aplicación del comentado sistema, ya que parece obvio que nuestro legislador ha optado, en dicha elección, más por tratar responder a las exigencias comunitarias que por intentar atender a las verdaderas necesidades preventivas a las que se enfrenta nuestra sociedad, lo que, por ejemplo, le ha llevado a contemplar dicha forma de responsabilidad en delitos como los de descubrimiento y revelación de secretos y no en otros como los delitos contra los derechos de los trabajadores, los de vertidos medioambientales imprudentes y otros muchos en los que parece que su utilización no 78 La necesidad de una reforma procesal paralela a la penal ha sido puesta de manifiesto por la mayor parte doctrina como, por ejemplo, ZUGALDÍA ESPINAR, J. M. Fundamentos de derecho penal, p. 593; CARBONELL MATEU, J. C.; MORALES PRATS, F. Op. cit., p. 85; MATA BARRANCO, N. Op. cit., p. 77; BACIGALUPO, S. Op. cit.; ZUÑIGA RODRÍGUEZ, L. Responsabilidad penal de las personas jurídicas… p. 1178 y ss. En este sentido, parece que dicha deficiencia puede ser pronto paliada con la aprobación y entrada en vigor de la ley de medidas de agilización procesal, cuyo artículo primero modifica varios preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para dar un primer tratamiento procesal penal (tal vez no el más adecuado, pero por lo menos uno) al nuevo papel que las personas jurídicas están llamadas a jugar en el proceso. Por otra parte, también compartimos las palabras de Feijoo Sánchez, B. (2011, p. 125) cuando reprochaba a la reforma el hecho de que no hubiese venido acompañada de una correcto desarrollo reglamentario respecto a la ejecución de algunas de las penas que podría imponerse a las personas jurídicas, como la intervención judicial del art. 33.7 g) CP, ausencia que dificultará o incluso impedirá su posible aplicación. 77 RODRÍGUEZ RAMOS, L. Op. cit. 78 En esta línea Heine, G. (2006, p. 63) quien considera que no resulta recomendable un deber empresarial de responsabilizarse en general y, pese a partir inicialmente de que dicha responsabilidad debería limitarse a los riesgos medioambientales y los derivados de los procesos tecnológicos, admite que se debería extender también a delitos graves económicos y tributarios, sobretodo, respecto a aquellos a los que el Derecho penal individual no ha podido dar una adecuada y satisfactoria respuesta. 79 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 27-74, jan./jun. 2012 67 solo resultaría mucho más legítima, sino que además, podría jugar un importante papel preventivo80. Tampoco nos parece adecuado que el sistema creado haya hecho depender la responsabilidad de las personas jurídicas siempre y en todo caso de la constatación de un hecho injusto realizado por una persona física, aunque no se le tenga que identificar, ya que este requisito impide que el sistema de responsabilidad colectiva español pueda aplicarse a aquellos casos, perfectamente imaginables, en los que los daños para bienes jurídicos que el Derecho penal debería intentar de evitar (p. ej. el vertido lesivo del medioambiente) no se hubiesen producido como consecuencia de una actuación individual, sino precisamente por la existencia del management colectivo defectuoso derivado de una acumulación de decisiones empresariales, individualmente permitidas, pero que al sumarse habrían llevado a su causación. Otro aspecto que también resulta criticable, a nuestro juicio, es que el nuevo sistema solo permita imputar responsabilidad penal a las personas jurídicas por los delitos que cometan las personas físicas que fuesen sus directivos o representantes o aquellas otras que estuviesen sometidas a la autoridad de estos últimos sujetos, olvidándose así de que pueden y de hecho existen muchas formas de agrupación de personas jurídicas que podrían ser utilizadas para limitar la eficacia represora y, por tanto, también la preventiva de este nuevo sistema aprovechándose de tal restricción. Así, por ejemplo, bastaría con crear una pequeña sociedad dotada de poco capital y administrada directamente por su matriz (una filial), a la que se le atribuirían todas las actividades peligrosas que se quisiesen realizar, para estar seguro de que si alguna de ellas llegase a generar un delito, éste nunca podría determinar la responsabilidad penal de quienes realmente ampararon o incluso fomentaron su realización, los dominadores de la referida matriz, al quedar dicha sociedad y sus integrantes, conforme a lo establecido en el art. 31 bis CP, al margen de cualquier posible responsabilidad penal que se pudiese derivar del delito producido. Entendemos, en tal sentido, que el sistema nace ya con un grave problema, como es el de partir de una concepción puramente formal de las empresas que se sustenta exclusivamente en el criterio de la personalidad jurídica. Mucho más adecuado habría sido, a nuestro juicio, que se mantuviese una concepción material y sustantiva de la empresa fundamentada en su carácter de conjunto de recursos materiales y personales que se dirigen coordinadamente a la realización de una actividad También cuestionan la elección de delitos realizada por el legislador MUÑOZ CONDE, F.; GARCÍA ARÁN, M. Op. cit., p. 629; GÓMEZ MARTÍN, V. Op. cit., p. 130; ZUGALDÍA ESPINAR, J. M. Fundamentos de derecho penal… p. 590-591; GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en la reforma…; SOLÉ RAMÓN, A. La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Hacia una nueva regulación de la persona jurídica como sujeto activo del Derecho penal y procesal penal. RGDP, n. 13, 2010. Disponible em: <www. Iustel.com>. Acesso em: 10 maio 2011. p. 23, entre otros. 80 68 FAE Centro Universitário económica; concepción que seguiría la estela de lo ya sostenido por el TEJ con respecto a la imputación de responsabilidad administrativa a tales entidades81, se correspondería con el fundamento material que, a nuestro juicio, sustenta su sistema de responsabilidad (empresa como fuente de peligros)y que además permitiría solucionar el problema que le plantean las agrupaciones de empresas dotadas de varias y diferentes personalidades jurídicas. De hecho, esta concepción parece haber encontrado ya un cierto reflejo en algunas de las prescripciones que configuran el comentado sistema, como la contemplada en el art. 130.2 CP que permite transferir la responsabilidad penal de la persona jurídica inicialmente condenada, tras su disolución aparente, precisamente, a aquella o aquellas otras que heredasen sus recursos materiales y personales82, lo que demostraría que el mantenimiento de la concepción material y no meramente formal de la empresa aquí propuesto no vendría sino continuar el camino que dicho precepto ya habría iniciado. Finalmente, no podemos dejar de destacar el hecho de que el nuevo sistema de responsabilidad del art. 31 bis CP hay venido a oscurecer aún más la ya de por sí controvertida aplicación y naturaleza de las denominadas consecuencias accesorias, contempladas en el art. 129 CP. Antes de la ley Orgánica 5/2010 estas consecuencias eran tenidas por algunos como verdaderas penas83. Otros las concebían como medidas de seguridad84, mientras que no faltaban voces que las consideraban como consecuencias del delito de naturaleza diferente al resto de las que se contemplaban en nuestro ordenamiento penal85. La reforma podría haber servido para solucionar por fin tan controvertido tema. Sin embargo, solo ha venido a enturbiarlo aún más. Sobre este tema, véase lo comentado por HEINE, G. quien, partiendo de lo dispuesto por el Tratado de la Unión europea y de la interpretación que del mismo ha hecho el TEJ propone extender la responsabilidad penal más allá de los entes colectivos dotados de personalidad jurídica, llevándola hacia la empresa definida desde una óptica económica, mucho más amplia que aquella que se vincula y refiere al mero dato de su personalidad jurídica. En Modelos de responsabilidad jurídico-penal […]” Op. cit. p. 56-57. En nuestra doctrina, también se han mostrado partidarios de esta concepción material y económica de la empresa, superadora de su definición formal meramente vinculada a su personalidad jurídica, GÓMEZJARA DÍEZ, C. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en la reforma… y BACIGALUPO, S. Op. cit. Sobre el concepto de empresa mantenido por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y sus características, véase, por todos, lo apuntado por TIEDEMANN, K. Manual de Derecho penal económico. parte general y especial. Valencia: Tirant lo Blanch, 2010. p. 193-194. 82 También considera que este precepto mantiene una concepción económica y no meramente formal de la persona jurídica, FEIJOO SÁNCHEZ, B. La responsabilidad penal de las personas jurídicas… p. 137. 81 Así, por ejemplo, lo entendía ZUGALDÍA ESPINAR, J. M. “La responsabilidad criminal de las personas jurídicas en el derecho penal español. (Requisitos sustantivos y procesales para la imposición de las penas previstas en el art. 129 del Código penal)”, en El nuevo Derecho penal español: estudios penales en memoria al profesor José Manuel Valle Muñiz. Navarra: Aranzadi, 1991. p. 895. 84 Como medidas de seguridad las calificaba SILVA SÁNCHEZ, J. M. La responsabilidad penal de las personas jurídicas… p. 247-248. 85 En este sentido véase lo comentado en su día, por ejemplo, por MIR PUIG, S. Una tercerea vía en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas, Op. cit. 83 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 27-74, jan./jun. 2012 69 La nueva redacción del art. 129 CP permite imponer muchas de las medidas que el art. 33.7 de nuestro CP contempla como penas aplicables a las personas jurídicas a toda empresa, organización, grupo, entidad o agrupación de personas que no esté comprendida en el ámbito de aplicación del art. 31 bis CP precisamente por carecer de personalidad jurídica. Para unos esta declaración supone la ratificación definitiva de la naturaleza de verdaderas penas de tales medidas, ya que si son penas cuando se aplican a una persona jurídica, no parece que puedan dejar de serlo y pierdan dicha naturaleza por el mero hecho de que se apliquen a otra entidad colectiva no dotada de personalidad jurídica86. Sin embargo, y a nuestro modo de ver, este último planteamiento no resulta sostenible, ya que, si bien es cierto que las medidas impuestas conforme a lo establecido por el art. 129 CP son materialmente idénticas a las que se imponen conforme al comentado art. 31 bis CP, existen importantes diferencias en sus respectivos sistemas de aplicación que demuestran que ambas posibles consecuencias jurídicas del delito gozan de una naturaleza bien diferente. Así, por ejemplo, no parece que respalden la naturaleza de verdaderas penas de las consecuencias accesorias del art. 129 CP el hecho de que su imposición sea facultativa para los jueces, ni que su imposición no esté vinculada por ningún sistema reglado de graduación, ni tampoco que el legislador haya eliminado cualquier clase de referencia a criterios de imputación que puedan servir para fundamentar el juicio de reproche que respaldaría su calificación de penas. Más bien parece que el legislador considere a las agrupaciones no dotadas de personalidad jurídica como entidades carentes de capacidad para recibir reproche penal alguno, pero que pueden ser utilizadas como medios para cometer o facilitar la comisión de delitos, lo que las convierte en instrumentos peligrosos que han de ser neutralizados mediante la imposición de medidas exclusivamente inocuizadoras y que, consecuentemente, no conllevarán el reproche que dota de significado y fundamento a las verdaderas penas. Tal vez en el futuro y una vez que se dé el salto del sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas a un verdadero sistema global de responsabilidad penal colectiva, como el que se ha propuesto en este trabajo, se consiga terminar con la existencia de esta suerte de sistema dual de tratamiento penal de las entidades colectivas, pero lo cierto y verdad es que, a día de hoy y a pesar de los importantes avances introducidos por la LO 5/2010, no podemos sino reconocer que todavía nos queda mucho camino por andar hasta alcanzar un Derecho penal que verdaderamente responda de forma coordinada y adecuada a todos los retos que la existencia de agrupaciones y organizaciones colectivas de personas plantea a nuestra sociedad. Así, lo mantiene, por ejemplo, RODRÍGUEZ RAMOS, L. Op. cit.; BACIGALUPO, S. Op. cit. Frente a este planteamiento, sin embargo, destaca FEIJOO SÁNCHEZ, B. que al hablarse en su nueva redacción específicamente de “consecuencias accesorias a la pena que corresponda al autor del delito” se dejaría claro que dichas consecuencias serían diferentes de las verdaderas penas aplicables a las personas jurídicas. En “La reforma del art. 129 CP”. En: DÍAZ-MAROTO y VILLAREJO, Julio (Dir.). Estudios sobre las reformas del Código penal operadas por las LO 5/2010de 22 de junio y 3/2011 de 28 de enero. Madrid: Civitas, 2011. p. 247. 86 70 FAE Centro Universitário REFERENCIAS ALONSO GALLO, J. Los programas de cumplimiento. In: DÍAZ-MAROTO y VILLAREJO, Julio (Dir.). Estudios sobre las reformas del código penal: operadas por las LO 5/2010 de 22 de junio y 3/2011 de 28 de enero. Madrid: Civitas, 2011. BACIGALUPO, S. Los criterios de imputación de la responsabilidad penal de los entes colectivos y de sus órganos de gobierno (art. 31 bis y 129 CP) (1). LA LEY, n. 7541, 2011. Disponível em: <www.laley.es>. Acesso em: 10 jul. 2011. BAJO FERNÁNDEZ, M.; BACIGALUPO SAGGESE, S. Derecho penal económico. Madrid: R. Areces, 2010. BECK, U. ¿Qué es la globalización? Barcelona: Paidos, 2008. CARBONELL MATEU, J. C.; MORALES PRATS, F. Responsabilidad penal de las personas jurídicas. In: ÁLVAREZ GARCÍA, Francisco Javier (Dir.). Comentarios a la reforma penal de 2010. Valencia: Tirant lo Blanch, 2010. DOLZ LAGO, M-J. Sobre el estatuto penal de la persona jurídica como sujeto responsable. A propósito sobre la circular de la fiscalía general del Estado 1/2011. LA LEY, n. 7665, 2011. Disponível em: <www.laley.es>. Acesso em: 10 jul. 2011. FEIJOO SÁNCHEZ, B. La reforma del art. 129 CP. In DÍAZ-MAROTO y VILLAREJO, Julio (Dir.). Estudios sobre las reformas del código penal: operadas por las LO 5/2010de 22 de junio y 3/2011 de 28 de enero. Madrid: Civitas, 2011. _____. La responsabilidad penal de las personas jurídicas. In: DÍAZ-MAROTO y VILLAREJO, Julio (Dir.). Estudios sobre las reformas del código penal: operadas por las LO 5/2010 de 22 de junio y 3/2011 de 28 de enero. Madrid: Civitas, 2011. GALÁN MUÑOZ, A. ¿Societas delinquiere nec puniere potest? Algunas consideraciones críticas sobre el artículo 31.2 CP. RDPC, n. 18, 2006. GARCÍA ARÁN, M. Algunas consideraciones sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. In: CEREZO MIR, José et al. El nuevo código penal: presupuestos y fundamentos, libro homenaje al profesor Doctor Don Ángel Torio López. Granada: Comares, 1999. GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. Autoorganización empresarial y autorresponsabilidad empresarial. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 08-05, 2006. Disponível em: <http://criminet.ugr.es/recpc/08/recpc08-05.pdf>. Acesso em: 02 jul. 2011. _____. La culpabilidad penal de la empresa. Madrid: M. Pons, 2005. _____. El modelo constructivista de autorresponsabilidad penal empresarial. In: GÓMEZ JARA DIEZ, Carlos (Ed.). Modelos de autorresponsabilidad penal empresarial: propuestas globales contemporáneas. Cizur Menor (Navarra): Thomson-Aranzadi, 2006. _____. El nuevo artículo 31.2 del Código penal: cuestiones de lege lata y de lege ferenda. In: GÓMEZ JARA DIEZ, Carlos (Ed.). Modelos de autorresponsabilidad penal empresarial: propuestas globales contemporáneas. Cizur Menor (Navarra): Thomson-Aranzadi, 2006. Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 27-74, jan./jun. 2012 71 GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en la reforma del código penal. LA LEY, n. 7534, 2010. Disponível em: <www.laley.es>. Acesso em: 01 maio 2011. GÓMEZ MARTÍN, V. Comentarios al código penal: reforma LO 5/2010. Valencia: Tirant lo Blanch, 2011. GÓMEZ RIVERO, C.; MARTÍNEZ GONZÁLEZ, M. I.; NUÑEZ CASTAÑO, E. Crónica de derecho penal 2009. Crónica Jurídica Hispalense: revista de la Facultad de Derecho, n. 8, 2010. GÓMEZ TOMILLO, M. Introducción a la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el sistema español. Valladolid: Lex Nova, 2010. GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, N.; JUANES PECES, A. La responsabilidad penal de las personas jurídicas y su enjuiciamiento en la reforma de 2010: medidas a adoptar antes de su entrada en vigor. LA LEY, n. 7541, 2011. Disponível em: <www.laley.es>. Acesso em: 10 jul. 2011. GRACIA MARTÍN, L. La cuestión de la responsabilidad penal de las propias personas jurídicas. In: CARRASCOSA LOPEZ, Valentin et al. Dogmática penal, política criminal y criminología en evolución. Laguna: Centro de Estudios Criminológicos; Granada: Comares, 1997. HEINE, G . Modelos de responsabilidad jurídico-penal originaria de la empresa. In: GÓMEZ JARA DIEZ, Carlos (Ed.). Modelos de autorresponsabilidad penal empresarial: propuestas globales contemporáneas. Cizur Menor (Navarra): Thomson-Aranzadi, 2006. ______. Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Unternehemen, Von individuallen Fehlverhalten zu kollektiven Fehlenwircklungen inbesodnere bei Grossrisiken. 1. Aufl. Baden Baden: NOMOS, 1995. LÓPEZ PEREGRÍN, C. La discusión sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas y las consecuencias accesorias del art. 129 CP, once años después. In: MUÑOZ CONDE, FRANCISCO (Dir.). Problemas actuales del derecho penal y de la criminología: estudios penales en memoria de la profesora Dra. María del Mar Díaz Pita. Valencia: Tirant lo Blanch, 2008. MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C. Derecho penal económico: parte general. Valencia: Tirant Lo Blanch, 1999. MATA BARRANCO, N. La responsabilidad penal de las personas jurídicas. In: JUANES PECES, Ángel (Dir.). Reforma del código penal: perspectiva económica tras la entrada en vigor de la ley orgánica 5/2010 de 22 de junio; situación jurídico-penal del empresario. Madrid: El Derecho, 2010. MIR PUIG, S. Derecho penal: parte general. Barcelona: Reppertor, 2005. _____. Una tercera vía en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 06-01, 2004. Disponível em: <http://criminet.ugr.es/recpc/06/recpc06-01.pdf>. Acesso em: 12 jul. 2011. MUÑOZ CONDE, F.; GARCÍA ARÁN, M. Derecho penal: parte general. Valencia: Tirant lo Blanch, 2010. NIETO MARTÍN, A. La responsabilidad penal de las personas jurídicas: un modelo lesgislativo. Madrid: Iustel, 2008. 72 FAE Centro Universitário NÚÑEZ CASTAÑO, E. Responsabilidad penal en la empresa. Valencia: Tirant lo Blanch, 2000. ORTS BERENGUER, E.; GONZÁLEZ CUSSAC, J. L. Compendio de derecho penal: parte general. Valencia: Tirant lo Blanch, 2010. QUINTERO OLIVARES, G. Personas jurídicas, entes, grupos, y sus individuos: su responsabilidad penal tras la reforma de la Ley Orgánica 5/2010. El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, n. 22, 2011. ROBLES PLANAS, R. ¿Delitos de personas jurídicas? Indret, n. 344, abr. 2006. Disponível em: <http://www.indret.com/pdf/344>. Acesso em: 12 mar. 2011. RODRÍGUEZ RAMOS, L. ¿Cómo puede delinquir una persona jurídica en un sistema penal antropocéntrico? (La participación en el delito de orto por omisión imprudente: pautas para su prevención). LA LEY, n. 7561, 2011. Disponível em: <www.laley.es>. Acesso em: 08 jun. 2011. SÁNCHEZ REYERO, D. G. Estudio sobre la responsabilidad de la persona jurídica, el doloso dependiente y el corporate compliance. LA LEY, n. 7663, 2011. Disponível em: <www.laley.es>. Acesso em: 10 jul. 2011. SCHÜNEMANN, B. Cuestiones básicas de dogmática jurídico-penal y de política criminal acerca de la criminalidad de empresa. Anuário de Derecho Penal y Ciencias Penales, Madrid. 41, n.1, p. 529-558, enero/abr. 1988. _____. La punilidad de las personas jurídicas desde la perspectiva europea. Hacia un Derecho penal económico europeo. Madrid: Boletin Oficial del Estado, 1995. _____. Responsabilidad penal en el marco de la empresa. Dificultades relativas a la individualización de la imputación. ADPCP, v. 55, 2002. _____. La responsabilidad penal de las empresas y sus órganos directivos en la Unión Europea. In: BAJO FERNÁNDEZ, Miguel (Dir.). Constitución europea y derecho penal económico. Madrid: R. Areces, 2006. (Mesas redondas derecho y economía, v. 2005). _____. Strafrechtsdogmatische und kriminalpolitische Grundfragen der Unternehmenskriminalität“. In: Zeitschrift für Wirtschaft-, Steuer- und Strafrecht. Wistra, 1982/2. _____. Unternehmenskriminalität und Strafrecht: Eine Untersuchung der Verantwortlichkeit der Unternehmen und ihre Führungskräfte nach geldentem und replanten Straf- und Ordnungswiedrigkeitenrecht. Köln: Heymnann, 1979. SILVA SÁNCHEZ, J. M. La reforma del código penal: una aproximación desde el contexto. LA LEY, n. 7465, 2011. Disponível em: <www.laley.es>. Acesso em: 10 de jul. 2011. _____. La responsabilidad penal de la persona jurídica y las consecuencias accesorias del art. 129 del Código penal. Derecho penal económico. Manuales de formación continuada, 14. Madrid: CGPJ, 2001. Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 27-74, jan./jun. 2012 73 SOLÉ RAMÓN, A. Manual de derecho penal económico: parte general y especial. Valencia: Tirant lo Blanch, 2010. _____. La responsabilidad penal de las personas jurídicas: hacia una nueva regulación de la persona jurídica como sujeto activo del derecho penal y procesal penal. RGDP, n. 13, 2010. Disponível em: <www. Iustel.com>. Acesso em: 10 maio 2011. TIEDEMANN, K. “Die “Bebussung” von Unternehmen nach dem z. Gesetz zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität., NJW Heft, n. 19, 1998. _____. Mamual de derecho penal econômico: parte geral y especial. Valencia: Tirant lo Blanc, 2010. VOGEL, J. Estado y tendencias de la armonización del Derecho penal material en la Unión europea. RP, n. 10, 2002. ZUGALDÍA ESPINAR, J. M. Fundamentos de derecho penal: parte general. Valencia: Tirant lo Blanch, 2010. 74 FAE Centro Universitário AMANHECE, O QUE NÃO É POUCO DAWNS, WHAT IS NOT LITTLE Ricardo D. Rabinovich-Berkman* (Tradução de Paulo César Busato) RESUMO O presente artigo trata de preconceitos. Mostra especialmente o caminho histórico da exclusão do diferente, do estabelecimento de standards. Comenta, em seguida, o passo dado pela Argentina em direção ao recorte de preconceitos sexuais no campo do Direito Civil e protesta que, no campo penal, o mesmo avanço ainda tarda. Palavras-chave: Preconceitos. Reforma civil. Argentina contra homofobia. Preservação dos preconceitos no campo penal. ABSTRACT This article’s subject is about prejudice. It shows particularly the historical path of the different’s exclusion of the standards foundation. Afteruards, this article discusses about Argentina’s next step against sexual prejudice in Civil Rights and protests on the slow advancing in the Criminal field. Keywords: Prejudices. Argentina’s reform against homophobia. Preservation of the precepts on the criminal field. * Doutor da UBA. Professor titular de Cátedra das Universidades de Buenos Aires, de Belgrano e Salvador. Vogal do Conselho Acadêmico de Ética em Medicina (criado pela Academia Nacional de Medicina). Membro da Comissão Nacional de Bioética do Equador e membro correspondente da Academia Portuguesa de História. Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 75-84, jan./jun. 2012 75 The only way to erect such a common power, as may be able to defend them from the invasion of foreigners, and the injuries of one another, and thereby to secure them in such sort as that by their own industry and by the fruits of the earth they may nourish themselves and live contentedly, is to confer all their power and strength upon one man, or upon one assembly of men. (Thomas Hobbes, Leviathan, XVII) 1 O AMPARO DA AUTOCONSTRUÇÃO Não creio que existam realmente direitos naturais. Creio que cada cultura constrói, historicamente, um conjunto de regras de comportamento, que abarcam e excedem o propriamente jurídico. E que, dentro desse complexo instável e proteico, algumas respostas referem-se a fatores que o ser humano requer para poder se autoconstruir, em si mesmo e nos outros. Ou seja, elementos existenciais, sem os quais o existente não tem verdadeira possibilidade de projetar-se. Se esses elementos não são amparados pela comunidade a um humano, este não pode se autoconstruir. Pode viver, mas não existir, no sentido de projetar e fazer a si mesmo, ante si e ante os outros. Quanto maior seja esse amparo, tanto pela quantidade de aspectos da existência defendidos como pelo grau de proteção de cada um deles, maior será a potência de autoconstruir-se. Sou plenamente consciente de que “a comunidade”, quando é personalizada, e se põe como sujeito de verbos reflexivos ou ativos, é uma ideia, um ente imaginário. Na realidade, o que há são seres humanos concretos, que pensam, que deliberam, que ajustam acordos, que exercem seu poder. Normalmente, nas comunidades complexas, integradas por milhares ou milhões de pessoas, surgem setores, grupos ou classes que detêm um poder maior que outros. À medida que levam tempo possuindo e consolidando esse poder, a comunidade vai construindo respostas atuantes espontâneas que convêm aos interesses desse grupo poderoso. Essas respostas não estão baseadas no temor a uma repressão institucional (ainda que possível incidir o medo ao rechaço social), mas em crenças compartilhadas, normalmente referidas a um fator que é sentido como objetivo. Tal é a advertência que lança o filósofo Trasímaco na República, de Platão, com relação à dike e à dikaiosyne (que costumam, ambas, ser traduzidas como “justiça”, com pouca exatidão): Eu sustento que o díkaion não é outra coisa que a conveniência do mais forte […]. Estabelecidas as leis, os governantes demonstram que para os governados é díkaion o que convém àqueles. E se alguém as viola, o castigam como violador da lei e ádikos. Tal 76 FAE Centro Universitário é meu pensamento: em todas as cidades, o díkaion é isso: o conveniente ao governo estabelecido. E este, de uma ou outra maneira, é o que tem poder. De modo que para todo homem que raciocine corretamente, o díkaion é o mesmo em toda parte: é o que convém ao mais forte (338.c – 339.a). Coerente é a moral que se depreende de um episódio narrado pelo grego Plutarco, no século I da era cristã, em sua biografia de Alexandre Magno. Este, em um arrebato de ira, assassina seu companheiro Clito, e está desesperado. Fechou-se em sua tenda de campanha e parece querer se deixar morrer. Seus generais estão assustados: encontram-se em plena terra hostil, rodeados de perigosos inimigos. Mau momento para os remorsos do rei. Por sorte, o exército não só se movia com mercadores, sacerdotes e prostitutas. Também levava filósofos (afinal, eram gregos). Um destes, Anaxandro, parente de Aristóteles, é chamado a animar o macedônio, como última esperança. Senta-se com o monarca e lhe pergunta: “Não sabes que Zeus tem ao seu lado Dike, e Themis [deusa mãe de Dike, também vigilante do cosmos], para que todos os seus atos de governo sejam thémitos e díkaios?”. Ou seja: para que tudo de que disponha, pelo mero fato de sabê-lo ele disposto, seja considerado de acordo com Themis e com Dike. Em outras palavras: quando um rei legítimo mata, sempre mata corretamente. 2 CAVALHEIRO OU CARANGUEJO? PRINCÍPIOS OBJETIVOS E TANATOCRESE A ideia de justiça, assim como as de moral e de bons costumes, pode disfarçar esquemas de conduta esperados pelas classes dominantes por parte das classes exploradas ou submetidas, ou simplesmente mais pobres e com menores possibilidades reais de desfrutar da vida. Recordo o caso de uma senhora da oligarquia pecuarista argentina, cuja mucama, que não tinha onde cair morta e a quem mantinha a pagamento de fome, sacrificava estoicamente seus domingos para atendê-la quando estava ligeiramente indisposta, por “uma questão de nobreza”. Justamente, esse persistente uso de expressões como “cavalheiro”, “cavalheirismo”, “cavalheiresco”, “nobre”, “nobreza”, “sou uma dama” mostra a sobrevivência de standards completamente anacrônicos, mas que resultam da imposição secular de uma moral de classe. Moral, diga-se de passagem, que os integrantes dessa mesma classe quase nunca respeitavam em confronto com os integrantes dos sectores submetidos, e raras vezes honravam entre eles mesmos. Contudo, os ideais do “cavalheiro”, da “dama”, do “nobre” tiveram um êxito formidável. Mais além da suprema ironia de Cervantes Saavedra a seu Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 75-84, jan./jun. 2012 77 respeito, foram construções fictícias de grande êxito na Idade Média, e incrivelmente subsistem hoje, com frequência realimentadas por mitologias novas, desde os Cavaleiros Jedi de Star Wars até os próprios super-heróis (as capas os delatam, entre outras coisas). Em uma interessante passagem da extraordinária novela Da servidão humana, de William Somerset Maugham, o protagonista, um inglês, acusa seu amigo norte-americano de não atuar como um cavalheiro. “É evidente para mim que não sou um cavalheiro”, responde o ianque (Capítulo XXVII). Nisso está a chave. No prolongamento de standards culturais de conduta que respondem a contextos de predomínio de uma classe que desapareceu, ainda que possam ser empregados por outro grupo dominante, que os aproveita e adéqua aos seus próprios interesses, dissimulando o fato de que aquela classe anterior se extinguiu, e eles são algo muito distinto. O emprego de um esquema de respostas de condutas esperadas e critérios pseudo-objetivos que o sustentam, por outra classe dominante, quando aquela em cujo benefício se construiu esse esquema desapareceu, constitui um caso de tanatocrese cultural, porque recorda o caranguejo ermitão, que soluciona a debilidade de parte do seu exoesqueleto cobrindo-se com a concha de um caracol morto. 3 SAIR DE ATENAS, PASSAR POR ROMA, SEGUIR DIREITO Porém, sucede que nem todos compartilham esses critérios de sustento das condutas esperadas. A Juan disseram que é justo e bom respeitar a propriedade privada, ainda que na sociedade na qual vive, e dado o nicho socioeconômico que lhe tocou, por sorte, ocupar, jamais poderá ser proprietário nem de um milímetro de terra. Então, um dia, Juan se cansa e se pergunta por que deve tornar seu um esquema que em nada o beneficia, que o submete às mínimas baixezas, ele e seus entes queridos, enquanto deve suportar doridamente os excessos dos poderosos. E rouba, e saqueia, queima-a. E então chega a polícia. Nunca virá invocando o interesse das classes dominantes. Isso se calará sempre, cuidadosamente. Suas bandeiras serão aqueles critérios de sustento que Juan não compartilhou. Como diria Trasímaco, Juan não será condenado por incomodar aos que tem o poder, nem sequer por violar as leis, que eles moldaram como armas em seu benefício, mas por contradizer os grandes princípios pseudo-objetivos. A justiça, a moral, os bons costumes. Definitivamente, toda condenação dessas características é, como foi a do grande Sócrates, por asébeia, por faltar o respeito aos deuses. Não apenas aos do panteão venerado nos templos dos poderosos de turno. Aos deuses que simbolizam os princípios e critérios com os quais a permanência do esquema socioeconômico se identifica. 78 FAE Centro Universitário Nas comunidades antigas, como, por exemplo, algumas cidades autônomas gregas, os homens cidadãos constituíam uma minoria. Para esse grupo minoritário, o apoio dos direitos existenciais era bastante importante. Por sua vez, dentro estava um subconjunto integrado só pelos que eram, além de homens e cidadãos, ricos. Geralmente, proprietários de terras. Eram os aristoi, os “melhores”, os eupátrides, “de bons pais”. Estes eram os verdadeiros beneficiários das respostas de condutas esperadas e das restrições jurídicas de subsistência. Eles eram os que se reservavam mais potência de autoconstrução. As modernas democracias, já desde a adoção do termo, identificaram-se com a remota Atenas do século V a. C. Edificaram palácios com colunas jônicas e coríntias (as dóricas foram mais do gosto dos autoritarismos do século XX), com frontispícios triangulares, para recordar os templos helênicos, e colocaram neles seus parlamentos, suas casas de governo, seus tribunais. “Dali viemos”, pareciam dizer, “e dali retomaremos o caminho”. Contudo, por trás das colunas surgem com frequência as cúpulas. E as carruagens da vitória aparecem como ornamentos de edifícios. E dentro dos palácios públicos há bustos que recordam mulheres e homens ilustres, geralmente vinculados ao exercício do poder em épocas passadas. E isso é Roma. Muito presente, também, na terminologia: república, senado, comícios, sufrágios, et cetera. A democracia romana também foi masculina, ainda que com uma participação indireta das mulheres muito maior que a que se verificara em Atenas. Também era exclusiva dos cidadãos, mas esses eram muitos, e o acesso à cidadania era bastante aberto (e seguiu sendo cada vez mais). Considerando que toda democracia é restrita, forçoso é reconhecer que a romana era muito menos restrita que as helênicas. As modernas repúblicas pareceram querer dizer, pois: “viemos de Atenas, seguimos o caminho de Roma”. Em outras palavras: “cremos no exercício do poder por parte de todos os cidadãos, e trataremos de que a cidadania seja um grupo tão amplo como seja possível”. Parece que a única maneira de quebrar a equação de ferro da limitação dos direitos existenciais aos quais têm poder é dar poder a todos. Isso, realmente, só poderá ser conseguido quando os recursos econômicos se encontrem ao alcance da população inteira, em uma distribuição que, pelo menos, não exponha escandalosas diferenças, e quando os prejuízos sociais tenham sido erradicados por completo. O que fazer enquanto isso? Parece que uma boa medida transitória consistiria em reconhecer poder político pleno, e representatividade real, a todos os membros da sociedade, cuidando especialmente que possam exercer essas prerrogativas os setores mais vulneráveis. Ou seja, os que, por seu escasso poder efetivo, correm o risco de não ser respeitados pelas respostas culturais vigentes, jurídicas e não sociais. Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 75-84, jan./jun. 2012 79 Nessa tarefa transitória, mas imprescindível para uma verdadeira e progressiva democratização, porque o processo de construção da sociedade igualitária pode ser longuíssimo, é essencial a função dos juízes. 4 SER UM INSULTO Insultar, segundo o Diccionario de la lengua española, da Real Academia (22 ed.), é “ofender alguém provocando-o e irritando-o com palavras ou ações”. Um insulto, então, é aquela palavra ou ação que causa ou busca causar essa ofensa, essa provocação, essa irritação. Quando se trata de palavras, devem ser tais que realmente sejam suscetíveis de gerar uma alteração no ânimo do receptor. Humilhá-lo, envergonhá-lo, irritá-lo. Os insultos verbais deliberados são dardos codificados no cérebro do seu emissor, em forma de fonemas que transportem um sentido ofensivo, com a plena intenção de que, recebidos sensorialmente pela vítima, sejam decodificados e compreendida a ofensa. Isso requer que emissor e receptor do insulto compartilhem, para começar, o manejo de um idioma, ainda que não seja ele mesmo. Se um chinês me insulta em sua língua, privadamente, nem sequer perceberei que o fez. Não resultarei ofendido. Tampouco se, usando-se um idioma que conheço, ignoro o significado da palavra. Como se a alguém lhe chamam “ceporro”, que significa “pessoa torpe e ignorante”, mas que ninguém o emprega. Mas esse campo linguístico comum não basta. Também precisam ambas as partes compartilhar uma série de visões culturais. O insulto é uma construção cultural, e, como tal, surgiu de um contexto social. “Mongoloide”, por exemplo, é um insulto que expressa um profundo desprezo pelas pessoas que padecem da Síndrome de Down. Foi sumamente comum na Argentina de trinta ou quarenta anos atrás. Hoje, só em setores de muito baixa instrução se escuta, e cada vez menos, porque a consideração de quem tem essa condição mudou, afortunadamente. A referência ao judaísmo foi insultante desde a Idade Media. O insulto “circuncisado” aparece no Fuero juzgo (12.3.4): “Si algún ome dice á otro circuncido, ó sennalado, é non lo fuere, el qui lo denostó reciba C. é L. azotes antel iuez”. O contexto social, em uma Castilla onde os hebreus conviviam com os cristãos, mas em um clima de bastante desprezo e receio, no qual se lhes atribuía uma quantidade de taras e de maldades, não sendo a menor a da culpa pela crucificação de Jesus, gerava o sentido ofensivo do termo. Mesmo muito depois de expulsos os israelitas, “judeu” seguia sendo um insulto na Península. Assim, por exemplo, Pepeta, camponesa de La barraca, de Vicente Blasco Ibáñez, notava “os campos do tio Barret, ou melhor dito para ela, ‘do judeu don Salvador 80 FAE Centro Universitário e seus excomungados herdeiros’, eram uma mancha de miséria no meio da horta fecunda, trabalhada e sorridente” (Capítulo I). Nessa obra, como em muitas outras espanholas do século XIX, o emprego do vocábulo como injúria é usual. “Onde está o judeu ladrão que entrou sem minha permissão? Diabos! O parto ao meio!”, grita Segunda, em Fortunata y Jacinta, de Benito Pérez Galdós (6.5), por exemplo. Escutei o insulto ainda na Espanha atual (o verbo “judiar” segue sendo empregado muito no Brasil), e é muito normal que “jodido” se pronuncie de tal modo que soe “judio”1. Por que os insultos gerados em um contexto tendem a perpetuar-se, passando a outros contextos sociais muito diferentes? Quiçá o caso mais notório seja o medieval “filho da puta”, surgido em um esquema de rígidos estamentos, em que somente aquele que tinha por mãe uma meretriz pública não tinha uma posição social estabelecida. O judeu podia ser o mais baixo da sociedade, mas era algo. Estava nas leis, tinha uma forma característica de vestir, a ele se reconhecia uma série de direitos. Em compensação, o filho de uma meretriz era um pária, um fantasma social. O insulto podia afetar a mãe, sim, mas, além disso, buscava ferir, em sua própria pessoa, o destinatário. Trata-se de uma injúria de um êxito extraordinário. Leva um milênio gerando ofensas e replicações, e persiste em um cenário social completamente diferente do que o viu nascer. Antes se falou de Sócrates, de Platão e de Somerset Maugham. Esses três pensadores tinham muitas coisas em comum. Uma delas era a homossexualidade. Pelo menos, a aberta bissexualidade. Não eram heterossexuais típicos. Maugham, porém, teve que ocultar sua condição a maior parte de sua vida. Sócrates e Platão tiveram mais sorte: em Atenas era irrelevante que algum homem gostasse de homens, mulheres, ou ambos. A não heterossexualidade, porém, era fustigada duramente na cultura hebraica, e daí deriva o férreo rechaço que passou ao cristianismo. A relação sexual de um homem com outro foi pecado e delito (sodomia, crime nefando, et cetera) apenado com a morte na fogueira. A não heterossexualidade era uma feminização no homem. Portanto, uma degradação, na mentalidade de então. Em uma sociedade patriarcal, na qual todo o masculino era exaltado, a não heterossexualidade implicava covardia, debilidade. Ser um “marica”, uma “mariquinha”, um “maricão” (uma “mariconada” segue sendo, na Colômbia, uma grande estupidez). 1 N. T. Jodido, em espanhol, traduz-se por fodido, mas especialmente no sul da Espanha, é vício de linguagem a supressão de determinadas letras no final das palavras, de modo que jodido [fodido], por vezes, soa idêntico a judio [judeu]. Como a expressão perderia sentido traduzida, foi mantida no original no texto. Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 75-84, jan./jun. 2012 81 A homossexualidade só podia ser vivida, na visão predominante, como uma prostituição. Assim, o masculino de “puta”, o adjetivo verbal substantivado “puto”, não adquiriu o sentido de “homem prostituído” (por exemplo, com mulheres), mas sim de “homossexual”. E com uma carga ofensiva altíssima, que se mantém vigente em todo o mundo hispanoparlante até hoje. Deve ser terrível ser algo que é visto ao redor como um insulto. Sobretudo, quando é algo que não está tipificado como delito, nem causa dano a ninguém, ou à esfera da autoconstrução existencial. Graças a Deus, as coisas mudaram e seguem mudando. A Argentina não chegou à Lua, mas fez algo muito mais gerador de orgulho: foi o primeiro país da América, e um dos pioneiros do mundo, a destronar o impedimento da diferença sexual no matrimônio. Isso tem um orçamento muito menor que o programa Apolo, mas requer muito mais coragem. E traz felicidade a muito mais gente. 5 DEIXA QUE ENTRE O SOL Cada dia é menor o trauma de viver a própria não heterossexualidade em nossa sociedade. Cada dia os argentinos estão menos preocupados em ser machos e, por consequência, tornam-se menos homofóbicos. Vamos nos dando conta de que um homossexual pode ser tão valente, tão íntegro, como um heterossexual. Ou ambos, não sê-lo. Claro, no caminho, também nos demos conta, de uma vez, que as mulheres não eram inferiores. Ao conviver, nas ruas, nos trabalhos, nos clubes, com homens homossexuais que se autoconstroem livremente como tais, descobrimos que eles podem ou não prostituir-se, exatamente como os heterossexuais. Já quase ninguém usa o insulto “marica”, “maricão” baixou muito em seus decibéis ofensivos, e quiçá, em uma manhã não longínqua, deixe de ser ofensivo dizer “puto” (e também “puta” e “filho da puta”) do mesmo modo que já ninguém em seu juízo se irrita se o tratam por judeu. Está amanhecendo. O sol tarda horrores em despontar, a luz da aurora é mesquinha em decolar. Mas não há como detê-la. Cresce, chegará a iluminar até os cantos mais recônditos da triste obscuridade. Nesse novo contexto, temos que estabelecer como critério cultural compartilhado o de que cada pessoa, se é adulta juridicamente, se não se acha sujeita a uma interdição por patologias mentais, pode fazer com o seu corpo (ou seja, em si mesma) as modificações que queira, sem ter que pedir permissão a ninguém. Desgraçadamente, nosso sistema penal poderia levar ainda à condenação um médico que realizasse uma operação de ablação de pênis ou testículos sem a existência 82 FAE Centro Universitário de uma necessidade baseada em uma patologia física evidente, como pode ser um tumor maligno. Poderia ser necessário, ante uma imputação criminal, propor a transexualidade como condição patológica, para evitar o ingresso na espinhosa questão do dano autônomo heterógeno (decidido pela própria pessoa, causado por outra)2. Seria, desde todo ponto de vista, desejável uma reforma do Código Penal nesse sentido. Enquanto isso, ou em sua falta, decisões como “A., E. A. s/ autorização”, da Câmara Nacional de Apelações do Civil, Sala A, dada em 16 de junho de 2011 (que pena que não foi por unanimidade), vão liberando a tensão, aumentando a potência existencial das pessoas que vivem na Argentina, ampliando a cidadania efetiva de nossa república democrática, construindo um novo cenário cultural com menos discriminações e insultos. Em suma, adicionando luz ao amanhecer. 2 N. T. A discussão chegaria ao campo da heterolesão consentida, hoje discutida pelas teorias da imputação objetiva. Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 75-84, jan./jun. 2012 83 ADVOCACIA ADMINISTRATIVA NOS CRIMES LICITATÓRIOS ADMINISTRATIVE SPONSORSHIP IN BIDDING CRIMES Cezar Roberto Bitencourt* RESUMO Trata-se da apresentação estrutural do crime de advocacia administrativa em crimes licitatórios, em sua modalidade delimitada pelo Código Penal, abordando os elementos componentes dos tipos objetivo e subjetivo, o bem jurídico, os sujeitos ativo e passivo, a consumação e a tentativa, a pena e a ação penal. Palavras-chave: Crime. Advocacia administrativa. Comentário analítico. ABSTRACT This article is about administrative sponsorship in bidding crimes in its form described by the Penal Code, addressing the elements of the objective and subjective type, the legal interest, the active and passive subjects, the consummation, the attempt, the punishment and the criminal prosecution. Keywords: Crime. Administrative law. Analitic comentary. * Doutor em Direito Penal pela Universidade de Sevilha/Espanha. Advogado e Professor Universitário. Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 85-100, jan./jun. 2012 85 Lei nº 8.666/93 – Art. 91. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a Administração, dando causa à instauração de licitação ou à celebração de contrato, cuja invalidação vier a ser decretada pelo Poder Judiciário: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES A criminalização da denominada advocacia administrativa constitui inovação do Código Penal de 1940, na medida em que o Código Criminal de 1830 e o Código Penal de 1890 desconheciam essa figura típica, que não passava de simples infração administrativa. Relativamente aos crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, a advocacia administrativa é disciplinada pela Lei nº 8.137/90 (art. 3º, inc. III), que, por ser especial, afasta a geral (Código Penal). Por isso, o patrocínio de interesse privado ante a administração fazendária, em matéria tributária ou previdenciária, é criminalizado pela Lei de Sonegação Tributária (lex especialis derogat legi generali), que aplica, inclusive, a pesadíssima pena de reclusão de um a quatro anos. Na mesma balada, a Lei nº 8.666/93 – que regulamenta as licitações e os contratos da Administração Pública – também criou sua própria figura de advocacia administrativa (art. 91), punindo o patrocínio de interesse privado perante a Administração Pública. Tal como ocorre na hipótese dos crimes tributários, também na seara das licitações públicas, havendo advocacia administrativa, será aplicável a previsão contida nessa Lei, cuja pena cominada é de seis meses a dois anos de detenção e multa. Dispomos, como acabamos de constatar, de três modalidades de advocacia administrativa – uma geral e duas especiais – punindo, pela mesma conduta, com sanções absolutamente distintas, a despeito de tratar-se, basicamente, do mesmo bem jurídico tutelado, ignorando princípios básicos, como os da proporcionalidade e da humanidade da pena criminal. 1 BEM JURÍDICO TUTELADO Bem jurídico protegido é a Administração Pública, especialmente sua moralidade e probidade administrativa. Protege-se, na verdade, a probidade de função pública, sua respeitabilidade, bem como a integridade de seus funcionários, que é incompatível com o exercício de advocacia administrativa em favor de interesse privado. Como destaca Damásio de Jesus, “a lei penal protege o regular funcionamento da administração governamental, tutelando-a da conduta irregular de seus componentes que, em razão do cargo, procuram defender interesses alheios ao Estado, de particulares, lícitos ou ilícitos”. Com efeito, ao funcionário público, no exercício da função, não é permitido agir para a satisfação 86 FAE Centro Universitário de interesse privado, próprio ou de terceiro, ainda que não objetive conseguir alguma vantagem pessoal de qualquer natureza. Especificamente, o bem jurídico tutelado nesse art. 91 é a garantia da respeitabilidade, probidade, integridade e moralidade das contratações públicas, que são ofendidas com a conduta descrita nesse artigo. O dispositivo ora examinado visa, acima de tudo, proteger a lisura, transparência e igualdade de tratamento na contratação pública, impedindo que a interferência de interesses estranhos – mesmo patrocinados por outros funcionários públicos – possam interferir na retidão no processo licitatório, que, certamente, comprometeria a isonomia concorrencial. O administrador público deve, para bem desempenhar suas funções, despir-se de interesses ou sentimentos pessoais, priorizando o cumprimento pronto e eficaz de suas atribuições de ofício, que deve ser realizado escrupulosa e tempestivamente sem a intervenção de ninguém. Em outros termos, como destacou Basileu Garcia, a tutela penal, nessa hipótese, objetiva “robustecer a obrigação de extrema imparcialidade dos funcionários em face das pretensões dos particulares perante o Estado, veiculadas pelas repartições públicas”.1 O sentimento do administrador público, enfim, não pode ser outro senão o de cumprir e fazer cumprir o processo licitatório com toda transparência e correção, observando estritamente as disposições legais pertinentes à matéria, sem sofrer influências externas de quem quer que seja. A criminalização constante do art. 91 pretende, enfim, impedir procedimento que ofenda ou dificulte o tratamento isonômico dos concorrentes, ou que, por qualquer razão, dificulte ou impeça a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública. 2 SUJEITOS ATIVO E PASSIVO DO CRIME Sujeito ativo somente pode ser o funcionário público, tratando-se, por conseguinte, de crime próprio, que exige essa condição especial do agente, da qual deve prevalecer-se para patrocinar interesse privado perante a Administração Pública, a despeito de não constar expressamente na descrição típica. É da essência dessa infração penal a característica de ser um crime funcional, na medida em que o particular não sofre essa mesma vedação legal. É indiferente que não fosse funcionário quando iniciou a conduta criminosa, desde que nela tenha persistido após sua nomeação. A fase inicial podia ser lícita, mas não sua sequência depois de ter adquirido a condição especial exigida pelo tipo. No mesmo sentido, é o magistério de Vicente Greco Filho, que pontifica: “O sujeito ativo é o funcionário público GARCIA, Basileu. Dos crimes contra a administração pública. Rio de Janeiro: Forense, 1944. p. 443. 1 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 85-100, jan./jun. 2012 87 que patrocina interesse privado perante a Administração. Se o agente não era funcionário e patrocinava interesse privado, mas, posteriormente, vem a ser nomeado agente público e prossegue na intermediação, incide na infração”.2 Enfim, autor desse crime é somente o funcionário público, enquanto funcionário, como funcionário e nessa condição, pois sua característica principal, repetindo, é ser um crime funcional, tratando-se, por conseguinte, de crime próprio, que não pode ser praticado por qualquer particular, sem essa condição ou qualidade. O simples fato de o agente ser servidor público, por si só, não é suficiente para caracterizar essa infração penal, ainda que pratique conduta semelhante. É indispensável, como destaca o texto legal, que o agente se valha dessa condição (funcionário público) para obter alguma vantagem perante a Administração Pública em favor do interesse privado. Nesse sentido, merece ser destacada a primorosa lição de Cretella Junior, in verbis: Valer-se dessa qualidade é desempenhar o serviço público não de modo objetivo, mas subjetivo, favorecendo um, em detrimento de outro, infringindo, assim, o princípio de igualdade do administrado perante a Administração. O funcionário age como se a res publica fosse sua ou age como se fosse o advogado do interessado, patrocinando-lhe o interesse, perante a Administração.3 A prática criminosa pode ser direta ou indireta, isto é, por interposta pessoa, expressamente admitida na descrição da conduta típica. O particular, individualmente, não pratica esse tipo de crime, não lhe sendo vedado defender ou patrocinar interesse privado perante a Administração Pública, aliás, pelo contrário, a este é assegurado constitucionalmente esse direito (art. 5º, inc. XIII). Afora esse aspecto, admite-se a possibilidade do concurso eventual de pessoas, ou seja, o particular (sem reunir a condição especial típica), o extraneus, pode concorrer para o crime, na condição de partícipe, auxiliando o intraneus, induzindo-o ou instigando-o à prática delituosa. Sujeito passivo é o Estado (União, estados, Distrito Federal e municípios), bem como suas respectivas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas pelo Poder Público. Convém destacar, no entanto, que será sujeito passivo somente o ente público no âmbito do qual a licitação foi instaurada ou o contrato público celebrado. Se houver prejuízo a terceiro – o que, aliás, é bastante provável, considerando-se a existência de concorrentes –, este, certamente, também poderá figurar como sujeito GRECO FILHO, Vicente. Dos crimes da lei de licitações. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 81-82. 2 CRETELLA JÚNIOR, José. Das licitações públicas. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 413. 3 88 FAE Centro Universitário passivo, considerado pela doutrina majoritária como secundário. O prejuízo sofrido pela inviabilização do certame licitatório torna-o também sujeito passivo dessa infração penal, legitimando-o, inclusive, a propor eventual ação penal subsidiária. 3 TIPO OBJETIVO: ADEQUAÇÃO TÍPICA O nomen juris – advocacia administrativa – talvez não seja o mais adequado, pois, a priori, dá uma ideia de que a ação seja privativa de advogado, o que não corresponde à realidade, pois o verbo nuclear utilizado “patrocinar” deixa claro que seu significado é defender, proteger, postular, que, teoricamente, pode ser cometido por qualquer pessoa, desde que reúna a condição de funcionário público. Pelo menos, o Anteprojeto da Reforma Penal mudou o nomen juris dessa figura penal para patrocínio indevido, eliminando, dessa forma, os inconvenientes que acabamos de apontar. A ação incriminada consiste em patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado (de particular) perante a Administração Pública. Patrocinar é defender, pleitear, advogar, proteger, auxiliar ou amparar o interesse privado de alguém. Contrariamente à previsão do Código Penal (art. 321), não consta expressamente que se trate de funcionário público que se valha dessa qualidade, ou seja, aproveitando-se da facilidade de acesso junto a seus colegas e da camaradagem, consideração ou influência de que goza entre estes. No entanto, o crime de advocacia administrativa é, por excelência, um crime funcional, exigindo, consequentemente, que o sujeito ativo ostente a condição especial de funcionário público, e, no caso, mais que isso, que o agente se valha dessa condição para obter facilidades para o patrocinado. Não basta, portanto, ser funcionário público, é necessário que se utilize dessa situação para patrocinar interesse privado. Equivocado, venia concessa, o entendimento em sentido contrário de Guilherme Nucci, quando sustenta que: “o art. 91 da Lei 8.666/93 dispensa essa condição. Logo, para a configuração do crime, basta que o servidor público – conhecido ou não dos outros funcionários; fazendo uso de informes privilegiados ou não – busque beneficiar terceiros perante os interesses estatais”.4 Na verdade, a condição de funcionário público é uma elementar implícita do crime de advocacia administrativa, até porque não há qualquer proibição de o particular poder patrocinar interesses privados perante a Administração Pública. Nesse sentido, Greco Filho destaca: NUCCI, Guilherme. Leis penais e processuais penais comentadas. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 819. 4 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 85-100, jan./jun. 2012 89 porque não tem cabimento apenar o particular que patrocina os seus interesses ou os de terceiros perante a Administração, porque seriam criminosos todos os advogados que requererem, em nome de seus clientes, perante a Administração ou, mesmo, cada um de nós que pleitear qualquer coisa perante ela. A infração é funcional, portanto, e assim será tratada.5 Com efeito, o que esse tipo penal proíbe não é que ocorra patrocínio de interesse privado perante a Administração Pública, mas que esse patrocínio seja realizado por funcionário público valendo-se dessa sua condição. O que se pretende punir é a atitude do funcionário que comprove o seu animus de “advogar” interesses alheios, utilizando-se de sua condição e de sua influência de funcionário público para beneficiar o patrocinado, justa ou injustamente. Com o prestígio que tem no interior das repartições públicas e a facilidade de acesso às informações ou troca de favores, a interferência de um funcionário público, patrocinando interesse privado de alguém, retira a neutralidade e a isenção que a Administração Pública deve manter na administração de interesse público. Interesse privado, por sua vez, é qualquer finalidade, meta, vantagem ou objetivo a ser alcançado pelo particular perante a Administração Pública. Contrapondo-se ao interesse público, o interesse privado é vantagem ou proveito que o particular pretende alcançar ou obter perante a Administração Pública. É irrelevante, para esse diploma legal, a legitimidade ou a ilegitimidade do interesse privado patrocinado. Para a caracterização do crime, no entanto, é insuficiente a simples informação dos interesses postulados. Não se trata, por outro lado, de “mero interesse” de algum funcionário no andamento mais ou menos rápido de determinados papéis, pedidos ou expedientes, atendendo ao pedido de algum amigo ou conhecido. Todo cidadão tem ou pode ter interesse privado a postular perante a Administração Pública, por si ou por interposta pessoa, legitimamente. O particular que se dirige à Administração Pública, na maioria das vezes, objetiva postular direitos ou interesses, próprios ou de terceiros (várias pessoas postulam, inclusive, interesses dos familiares, de amigos e até de vizinhos). Certamente, não é desse interesse privado que se ocupa o dispositivo legal que ora se examina. Com efeito, a locução “interesse privado”, lato sensu, como elementar típica, é mais abrangente e pode compreender “simples interesse” (stricto sensu), que se esgota no plano administrativo, como também “um direito”, o qual, insatisfeito na esfera administrativa, pode ser postulado no plano judicial. Em ambos os casos – interesse ou direito –, a pretensão privada pode ser, ilegalmente, patrocinada por funcionário público, valendo-se dessa condição, incorrendo na proibição constante do art. 91 da Lei GRECO FILHO, Vicente. Dos crimes na lei de licitações... p. 79. 5 90 FAE Centro Universitário nº 8.666/93. Repetindo, é necessário, no entanto, que o funcionário púbico se valha dessa sua condição para postular o interesse privado, influenciando ou pretendendo influenciar com o seu prestígio (ou pretenso prestígio) a solução satisfatória de sua demanda. O objeto material da proteção penal é o patrocínio de interesse privado perante a Administração Pública, independentemente de ser ou não legítimo, na medida em que, ao contrário do Código Penal, esse aspecto não foi nem limitado nem distinguido pelo legislador. A ilegitimidade do interesse privado, que na figura similar do Código Penal (art. 321) qualifica o crime, não recebe tratamento diferenciado nessa figura especial. Alguns autores, no entanto, sustentam que, na hipótese desse dispositivo legal, o interesse privado patrocinado é sempre ilegítimo, como Paulo José da Costa Jr, que afirma: “o interesse patrocinado é sempre ilegítimo, porquanto o contrato celebrado deverá ser invalidado pelo Judiciário”. No mesmo sentido, Greco Filho: “Isso significa que a licitação provocada pela atuação do funcionário deve corresponder a uma pretensão ilegítima, porque reconhecida como tal pelo Poder Judiciário”.6 Em sentido semelhante, referindo-se à necessidade da decisão judicial, também se manifesta, Diógenes Gasparini: “não sendo suficiente para esse fim a anulação administrativa da licitação instaurada ou do contrato celebrado”.7 Na verdade, constata-se que referidos autores incorrem em duplo equívoco: em primeiro lugar, o art. 91 não faz qualquer referência à legitimidade ou ilegitimidade do interesse privado, como imaginam. O Código Penal distingue-as tão somente para punir mais severamente a ilegitimidade do interesse. Por isso, nessa lei especial, para efeitos de tipicidade, é indiferente que o interesse privado seja legítimo ou ilegítimo. Em segundo lugar, é irrelevante que a invalidação deva ser decretada pelo Poder Judiciário para efeitos de aferir a natureza do interesse privado. Com efeito, a invalidação pode ser decretada não pela natureza legítima ou ilegítima do interesse, mas pelo modus operandi de sua defesa ou patrocínio. Dito de outra forma, o interesse privado pode ser legítimo, mas não a forma de seu patrocínio ou defesa, por funcionário público, e, por isso, deve ser invalidado pelo Poder Judiciário, pois sua invalidade não decorre somente da ilegitimidade do interesse, mas fundamentalmente da “ilegitimidade” do patrocínio em si. Aspectos meramente formais podem, inclusive, ser suficientes para gerar a invalidação de iniciação de licitação ou mesmo de celebração de contrato. Não quer dizer, por outro lado, que, para outros fins, a ilegitimidade não possa ser reconhecida no âmbito administrativo, ao contrário do que afirmam Costa Junior e Greco Filho. Em outros termos, o que torna inválida a licitação ou o contrato celebrado GRECO FILHO, Vicente. Dos crimes da lei de licitações... p. 80. 6 GASPARINI, Diogenes. Crimes na licitação. 2. ed. São Paulo: NDJ, 2001. p. 109. 7 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 85-100, jan./jun. 2012 91 não é a ilegitimidade do interesse privado, mas do patrocínio levado a efeito pelo funcionário público. O patrocínio pode ser direto, isto é, sem interposta pessoa, ou indireto, quando se utiliza terceiro para atingir seu desiderato. Pode ser, ainda, formal e explícito (petições, requerimentos etc.) ou dissimulado e implícito, seja acompanhando o andamento de processos ou pressionando, de alguma forma, para apurar a decisão ou, ainda, tomando conhecimento das decisões adotadas etc. Em qualquer das hipóteses, é importante que o agente aja aproveitando-se das facilidades que sua condição de funcionário público lhe proporciona. Nesse sentido, já pontificava Hungria: “o patrocínio pode ser exercido direta ou indiretamente, isto é, pelo próprio funcionário ou servindo êste (sic), como intermediário, de alguém que se sabe agir à sombra do seu prestígio (ex.: um seu filho), e que será copartícipe do crime”. Ademais, no patrocínio ou advocacia administrativa, não se exige a contrapartida de vantagem econômica ou de qualquer outra natureza; pode ser usado, por exemplo, para satisfazer interesse pessoal, prestar um favor a alguém etc. A motivação da conduta, enfim, é irrelevante para a caracterização do crime. 3.1 CAUSAR A INSTAURAÇÃO DE LICITAÇÃO OU CELEBRAÇÃO DE CONTRATO Esta modalidade de advocacia administrativa, além de ser especial, é bem mais restrita que aquela geral prevista no Código Penal (art. 321), exatamente pela presença dessas elementares normativas, inexistentes na previsão do Código Penal. É especial porque está limitada ao âmbito daqueles entes públicos diretamente vinculados aos procedimentos licitatórios; e é, ao mesmo tempo, duplamente restringida pela existência dessas elementares, quais sejam: (i) “dando causa à instauração de licitação ou à celebração de contrato, (ii) cuja invalidação vier a ser decretada pelo Poder Judiciário”. Examinaremos cada uma delas em tópicos separados, por razões puramente didáticas. Constata-se, de plano, que a tipificação do crime de advocacia administrativa, no âmbito licitatório, é bem mais complexa que a daquele genérico, previsto em nosso diploma codificado. Em outros termos, para a sua configuração, é insuficiente que determinado funcionário público, valendo-se de sua condição funcional, patrocine interesse privado no âmbito de entidade pública, encarregada de um procedimento licitatório; é necessário muito mais que isso, ou seja: exige o tipo penal que a conduta incriminada (patrocinar interesse privado) dê “causa à instauração de licitação ou à celebração de contrato”, ou seja, é indispensável que a instauração da licitação ou a celebração de contrato tenham sido causadas diretamente pela conduta do agente. Mais que isso, significa dizer que a 92 FAE Centro Universitário advocacia administrativa, neste âmbito, não se exerce sobre licitação em andamento, e nem mesmo em licitação que tenha sido iniciada sem a ação do agente. Da mesma forma ocorre com a hipótese de celebração de contrato, que, necessariamente, deve decorrer da ação incriminada do funcionário público. Por isso, venia concessa, é absolutamente equivocado o seguinte exemplo citado por Cretella Junior: “Se o funcionário, prevalecendo do seu status, dá preferência em uma licitação pública, a uma das partes, que não ofereceu o menor preço ou melhor serviço, temos aqui a advocacia administrativa”.8 Constata-se que, nesse exemplo, o funcionário público, com sua ação, não deu “causa à instauração da licitação”, pois ela já estava em andamento, e tampouco o exemplo mencionou que ela foi anulada por decisão judicial. Embora pareça um pouco paradoxal, essa é a única interpretação que se pode tirar do presente texto legal. Constata-se que estamos diante de um crime material vinculado, ou seja, para sua tipificação, é indispensável que a ação do agente – patrocinar interesse privado – seja o móvel gerador da instauração da licitação ou da celebração de contrato, numa relação de causa e efeito. Em outros termos, ainda que tenha havido a atuação do agente, valendo-se de sua condição de funcionário, se sua ação não foi determinante na instauração da licitação ou na celebração do contrato, ela não se revestirá da tipicidade aqui descrita. Assim, nesses termos, ainda que se trate de funcionário público, patrocinando interesse privado perante pessoa jurídica de direito público, responsável por determinada contratação pública, valendo-se de sua condição funcional, dita conduta será atípica se não der causa à instauração de licitação e tampouco celebração de contrato. Ou seja, quando outras razões determinarem a instauração do procedimento licitatório ou a celebração de contrato, não terá sido , por consequência, determinante a conduta do agente para a produção de tais resultados. Não há, na verdade, a indispensável relação de causa e efeito entre a conduta do agente e o resultado, qual seja, a instauração de licitação ou celebração de contrato; e, como se trata de elementares normativas do tipo, a ausência de suas ocorrências (de uma ou de outra) impede a configuração típica. CRETELLA JUNIOR, José. Das licitações públicas. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 414. 8 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 85-100, jan./jun. 2012 93 3.2 INVALIDAÇÃO DE LICITAÇÃO OU DE CONTRATO DECRETADA PELO PODER JUDICIÁRIO Ainda que a conduta tipificada tenha se realizado nas condições que destacamos acima, inclusive “dando causa à instauração de licitação ou à celebração de contrato”, a adequação típica dessa advocacia administrativa especial continua incompleta. Com efeito, esse tipo penal, tal como foi estruturado, exige ainda, simultaneamente, uma espécie sui generis9 de “condição objetiva de punibilidade”, qual seja: cuja invalidação vier a ser decretada pelo Poder Judiciário. No entanto, não se pode esquecer que se trata de uma elementar típica, e como tal deve ser examinada. Sem a invalidação decretada pelo Poder Judiciário, não se pode falar em “crime de advocacia administrativa especial”, e muito menos em ação penal decorrente desse crime. A exigência dessa decisão judicial, contudo, tem recebido de setores significativos da doutrina especializada a interpretação de que se trata de “condição objetiva de punibilidade”, a nosso juízo, equivocadamente. Para Guilherme Nucci,10 A invalidação, por óbvio, depende de terceiro, fora da alçada do agente e, justamente por tal razão, é uma condição objetiva de punibilidade. O mesmo se dá, por comparação, no contexto dos crimes falimentares, em que a sentença,11 decretando a falência, é condição para a punição do agente, embora não dependa deste, mas de terceira parte, no caso, do Judiciário. (Grifo nosso) Referindo-se à necessidade da invalidação judicial, Tavares de Freitas conclui: Antes da satisfação dessa condição, o agente já terá praticado esse crime, porém, não poderá ser punido enquanto não observada a condição. Por conseguinte, entendemos que é condição objetiva de punibilidade a futura e eventual invalidação a ser decretada pelo Poder Judiciário.12 (Grifo nosso) Com esta expressão estamos indicando, desde logo, que não se trata de condição objetiva de punibilidade, ao contrário de alguns entendimentos, que refutaremos logo adiante. 9 NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 819. 10 São coisas completamente diferentes, neste exemplo da Lei de Falências, a sentença que a decreta está fora do tipo penal, aliás, em outro artigo (art. 180), e ainda, define-a expressamente como tal. A comparação, portanto, é absolutamente equivocada. 11 FREITAS, André Guilherme Tavares de. Crimes na lei de licitações. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 115. Na mesma linha, é o entendimento de GASPARINI, Diogenes. Crimes na licitação... p. 110. 12 94 FAE Centro Universitário Diversamente se manifestam, no entanto, outros penalistas, tais como Vicente Greco Filho, para quem: Na hipótese do crime comentado, o evento futuro, invalidação pelo Poder Judiciário, está expresso no tipo, de modo que é dele elemento, não se podendo reduzi-lo a mera condição de punibilidade. Se esse fato é elemento do tipo, estará consumada a infração somente quando ele ocorrer, com sentença transitada em julgado [...].13 Paulo José da Costa Jr., igualmente, a despeito de Tavares de Freitas atribuir-lhe outro entendimento, sustenta, in verbis: “A sentença judicial, invalidando uma ou outra, vale dizer, anulando a licitação instaurada ou o contrato celebrado, é um prius com relação à apuração do ilícito descrito no presente tipo. Um seu pressuposto indispensável, elemento integrante do tipo”14. A solução dessa desinteligência sobre a natureza jurídica da elementar normativa do tipo – cuja invalidação seja decretada pelo Poder Judiciário – somente poderá ser encontrada com o exame dogmático e hermenêutico da estrutura do tipo penal sub examen. A interpretação de que se trata de condição objetiva de punibilidade, venia concessa, não se sustenta, pois ignora fundamentos básicos da teoria geral do delito, especialmente a estrutura do tipo penal e seus elementos constitutivos, os quais devem ser completamente abrangidos pelo dolo do agente. Com efeito, as condições objetivas de punibilidade são alheias à estrutura do crime, isto é, não o integram e, por conseguinte, não são objetos do dolo ou da culpa15. Elementares constitutivas da descrição típica – como a que estamos examinando – não são condições objetivas de punibilidade, e tampouco podem ser como tais consideradas, pois, como elementares típicas, devem ser, necessariamente, abrangidas pelo dolo ou pela culpa, sob pena de autêntica responsabilidade penal objetiva. As condições objetivas de punibilidade, por sua vez, são exteriores à ação, isto é, não integram a descrição da conduta típica, mas delas depende a punibilidade do crime, por razões de política criminal (oportunidade, conveniência).16 Aliás, exemplo disso é exatamente a sentença declaratória da falência, que é absolutamente diferente da elementar que ora se examina, pois é exterior à descrição do tipo penal, localizando-se, em apartado, no art. 180 da Lei de Falências. 13 GRECO FILHO, Vicente. Dos crimes da lei das licitações... p. 83. 14 COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Direto penal das licitações. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 126-127. v. 2. Veja, nesse sentido, nosso entendimento sobre a natureza jurídica da morte e das lesões corporais graves no crime descrito no art. 122 do CP. 16 Para aprofundar o estudo sobre as condições objetivas de punibilidade, ver: BITTAR, Walter Barbosa. Condições objetivas de punibilidade e causas pessoais de exclusão de pena. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. 15 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 85-100, jan./jun. 2012 95 Consequentemente, o entendimento adotado por Vicente Greco Filho e Paulo Jose da Costa Jr, por nós antes destacados, ainda que sucintos, são dogmaticamente incensuráveis. Na verdade, essa elementar normativa – invalidação decretada pelo Poder Judiciário –, como integrante do tipo penal, deve ser, necessariamente, abrangida pelo dolo do agente, sob pena de não se configurar subjetivamente o tipo penal. A eventual dificuldade de o agente, no momento da ação, ter consciência da configuração dessa elementar não é fundamento idôneo para afastá-la de sua verdadeira função dogmática. A utilização de péssima técnica legislativa, responsável por dificultar a adequação típica de alguma conduta, in concreto, não autoriza interpretação equivocada, infundada e dogmaticamente insustentável na tentativa de salvar o texto legal. É inadmissível sacrificar os fundamentos dogmáticos para tentar suprir ou salvar a ignorância do legislador que, praticamente, inviabiliza a tipificação de alguma conduta correspondente a esse dispositivo legal, como pretende, por exemplo, Tavares de Freitas.17 Por fim, a inadequação típica da conduta humana, por não satisfazer alguma elementar, não autoriza sua desclassificação para a advocacia administrativa prevista no art. 321 do Código Penal, ao contrário do entendimento de alguns pensadores.18 Sem nos alongarmos, venia concessa, dois fundamentos básicos impedem que se adote essa orientação: em primeiro lugar, a previsão constante do art. 321 do Código Penal não constitui crime subsidiário, como se fora um soldado de reserva; em segundo lugar, não se pode ignorar que o princípio da especialidade afasta, por completo – e não apenas condicionalmente –, a aplicação daquela previsão geral constante no dispositivo do Código Penal. Na verdade, esse princípio afasta a aplicação do Código Penal, pois, no âmbito licitatório, somente a conduta que satisfizer as elementares constantes do art. 91, que ora examinamos, será criminosa. Em outros termos, as normas incriminadoras do Código Penal são inaplicáveis nos crimes licitatórios, sob pena de violentar inexoravelmente o conflito aparente de normas. 4 TIPO SUBJETIVO: ADEQUAÇÃO TÍPICA O tipo subjetivo é constituído de um elemento geral – dolo –, que, por vezes, é acompanhado de elementos especiais – intenções e tendências –, que são elementos acidentais, conhecidos como elementos subjetivos especiais do injusto ou do tipo penal. Os elementos subjetivos que compõem a estrutura do tipo penal assumem transcendental importância na definição da conduta típica, pois é por meio do animus agendi que se consegue identificar e qualificar a atividade comportamental do agente. FREITAS, Andre Guilherme Tavares. Crimes na lei de licitações... p. 115-116. 17 GASPARINI, Diogenes. Crimes na licitação. 2. ed. São Paulo: NDJ, 2001. p. 109; GRECO FILHO, Vicente. Dos crimes da lei das licitações... p. 80. 18 96 FAE Centro Universitário O elemento subjetivo da conduta descrita neste art. 91 da Lei de licitações é o dolo, constituído pela vontade consciente de patrocinar interesse privado perante a Administração Pública, valendo-se o agente de sua condição de funcionário público. É desnecessário que o agente vise à vantagem pessoal ou aja por interesse ou sentimento pessoal, basta que o faça conscientemente de estar defendendo interesse privado perante o Poder Público. É necessário, ademais, que a vontade consciente abranja todos os elementos constitutivos do tipo, independentemente de sua natureza ou função dogmática. É indispensável que o agente tenha consciência de que com sua ação estará dando causa à instauração de licitação ou à celebração do contrato respectivo. Em outros termos, a ação de patrocinar interesse privado perante a Administração Pública deve ser praticada voluntariamente consciente pelo sujeito ativo, isto é, conhecendo todos os elementos constitutivos do tipo penal. O dolo, puramente natural, constitui o elemento central do injusto pessoal da ação, representado pela vontade consciente de ação dirigida imediatamente contra o mandamento normativo. A complexidade estrutural deste tipo penal exige, de certa forma, uma espécie de exercício de futurologia para que o agente possa ter consciência da decretação da invalidade, pelo Poder Judiciário, da instauração da licitação ou mesmo da celebração do contrato. A inegável dificuldade operacional da concretização desse conhecimento do agente, não autoriza sua dispensa, sob pena de consagrar-se autêntica responsabilidade penal objetiva. Com efeito, a previsão, isto é, a consciência deve abranger correta e completamente todos os elementos essenciais e constitutivos do tipo penal, sejam eles descritivos, normativos ou subjetivos. Enfim, a consciência (previsão ou representação) abrange a realização dos elementos descritivos e normativos, do nexo causal e do evento (delitos materiais), da lesão ao bem jurídico, dos elementos objetivos das circunstâncias agravantes e atenuantes que supõem uma maior ou menor gravidade do injusto e dos elementos acidentais do tipo objetivo. Por isso, quando o processo intelectual volitivo não atinge um dos componentes da ação descrita na Lei, o dolo não se aperfeiçoa, isto é, não se completa. Finalmente, não há previsão de modalidade culposa, como a imensa maioria, quase totalidade, dos crimes contra a Administração Pública. 4.1 (DES)NECESSIDADE DE ELEMENTO SUBJETIVO ESPECIAL DO INJUSTO Não se vislumbra nas elementares objetivas e subjetivas constantes do art. 91 da Lei extravagante a exigência do denominado elemento subjetivo especial do tipo ou do injusto (segundo a terminologia dominante). Contudo, segundo Rui Stoco e Vicente Greco Filho,19 STOCO, Rui. Leis penais e sua interpretação jurisprudencial. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. p. 2560 v. 3; GRECO FILHO, Vicente. Dos crimes da lei de licitações. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 63. 19 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 85-100, jan./jun. 2012 97 pode-se vislumbrar a presença do elemento subjetivo especial de concorrer para a ilegalidade com o fim de celebrar contrato com o Poder Público. No entanto, preferimos interpretar essa elementar como se fora uma espécie sui generis de condição objetiva de punibilidade (a despeito de integrar, como elementar, o tipo penal),20 pois consideramos que a conduta incriminada somente se consuma com a efetiva contratação do agente com o Poder Público, embora reconheçamos ser bem razoável a interpretação de Greco e Stoco. Na verdade, concebemos essa infração penal como crime material, que somente se consuma com a efetiva contratação pública, e, se for considerada aquela elementar, como elemento subjetivo especial do injusto, essa concretização seria desnecessária, pois bastaria que integrasse da finalidade pretendida pelo agente. As elementares subjetivadoras especiais – configuradoras do especial fim de agir – são, normalmente, representadas por expressões como “a fim de”, “para o fim de”, “com a finalidade de”, “para si ou para outrem”, “com o fim de obter”, “em proveito próprio ou alheio”, entre outras, indicadoras de uma finalidade transcendente, além do dolo natural configurador do tipo subjetivo. Com efeito, pode figurar nos tipos penais, ao lado do dolo, uma série de características subjetivas que os integram ou os fundamentam. Na realidade, o especial fim ou motivo de agir, embora amplie o aspecto subjetivo do tipo, não integra o dolo nem com ele se confunde, uma vez que, como vimos, o dolo esgota-se com a consciência e a vontade de realizar a ação com a finalidade de obter o resultado delituoso, ou na assunção do risco de produzi-lo. O especial fim de agir que integra determinadas definições de delitos condiciona ou fundamenta a ilicitude do fato, constituindo, assim, elemento subjetivo do tipo de ilícito, de forma autônoma e independente do dolo. A denominação correta, por isso, é elemento subjetivo especial do tipo ou elemento subjetivo especial do injusto, que se equivalem, porque pertencem, ao mesmo tempo, à ilicitude e ao tipo que a ela corresponde. 5 CONSUMAÇÃO E TENTATIVA Consuma-se o crime de advocacia administrativa com a realização do primeiro ato que caracterize o patrocínio, ou seja, com a prática de um ato inequívoco de patrocinar interesse privado perante a Administração Pública, sendo – ao contrário da figura similar do Código Penal – indispensável o sucesso do patrocínio, ou seja, dar causa à instauração 20 Embora, como demonstramos acima, não se trata de condição objetiva de punibilidade, mas de verdadeira elementar típica que precisa ser abrangida pelo dolo, ao contrário das verdadeiras condições objetivas de punibilidade. 98 FAE Centro Universitário de licitação ou à celebração de contrato, cuja invalidação venha a ser decretada pelo Poder Judiciário. Não é necessário, contudo, que o funcionário público atue como verdadeiro patrono do indivíduo, pois advogado não é, e tampouco é necessária a existência de contrato ou instrumento de mandato para caracterizar a conduta incriminada. A tentativa é admissível, embora de difícil ocorrência. Como se trata de crime material, senão ocorrer o resultado do patrocínio, ou seja, dar causa à instauração de licitação ou à celebração de contrato, cuja invalidação venha a ser decretada pelo Poder Judiciário, o crime será tentado. 6 CLASSIFICAÇÃO DOUTRINÁRIA Trata-se de crime próprio (que exige qualidade ou condição especial do sujeito ativo, no caso, que seja funcionário público, sendo, portanto, crime funcional); material (consuma-se somente se causar a instauração de licitação ou celebração de contrato, cuja invalidação venha a ser decretada pelo Poder Judiciário, ao contrário do crime de advocacia administrativa previsto pelo Código Penal, que é formal e, consequentemente, não exige resultado naturalístico para sua consumação); de forma livre (que pode ser praticado por qualquer meio ou forma pelo agente); instantâneo (não há demora entre a ação e o resultado); unissubjetivo (que pode ser praticado por um agente apenas); plurissubsistente (crime que, em regra, pode ser praticado com mais de um ato, admitindo, em consequência, fracionamento em sua execução). 7 PENA E AÇÃO PENAL As penas cominadas, cumulativamente, são de detenção, de seis meses a dois anos de detenção e multa, não havendo figura qualificada, ao contrário da previsão similar do Código Penal (art. 321), que considera qualificado o crime se o interesse for ilegítimo. Constata-se, como frequentemente ocorre na legislação extravagante, promulgada após a redemocratização do País, que há uma desproporcional exacerbação punitiva: na figura do Código Penal, a pena cominada, alternativamente, é de três meses a um ano de detenção, ou multa; para a figura qualificada – quando o interesse é ilegítimo –, a cominação é cumulativa, mas ainda assim detenção de três meses a um ano e multa. A ação penal é pública incondicionada, a exemplo do crime similar previsto no Código Penal (art. 321), sendo desnecessária qualquer manifestação do ofendido ou seu representante legal. Por outro lado, também aqui se trata de infração penal de menor potencial ofensivo, sendo da competência do Juizado Especial Criminal. Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 85-100, jan./jun. 2012 99 REFERÊNCIAS BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 2 v. BITTAR, Walter Barbosa. Condições objetivas de punibilidade e causas pessoais de exclusão de pena. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Direto penal das licitações. 2. ed. São Paulo, Saraiva, 2004. CRETELLA JÚNIOR, José. Das licitações públicas. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. FREITAS, André Guilherme Tavares de. Crimes na lei de licitações. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. GARCIA, Basileu. Dos crimes contra a administração pública. Rio de Janeiro: Forense, 1944. GASPARINI, Diogenes. Crimes na licitação. 2. ed. São Paulo: NDJ, 2001. GRECO FILHO, Vicente. Dos crimes da lei de licitações. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. JESUS, Damásio E. Direito penal. São Paulo: Saraiva, 2001. NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. STOCO, Rui; FRANCO, Alberto Silva (Coord.). Leis penais e sua interpretação jurisprudencial. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. TAVARES, Juarez. Teoria do injusto penal. Belo Horizonte: Del Rey, 2000. 100 FAE Centro Universitário AS UPPS E A TERRITORIALIZAÇÃO COMO CÓDIGO DE EXCLUSÃO: MAIS UM EXEMPLO DE DIREITO PENAL DO INIMIGO THE UPPS AND TERRITORIALIZATION AS AN EXCLUSION CODE. ANOTHER EXAMPLE OF THE ENEMY’S CRIMINAL LAW Paulo César Busato* RESUMO Este artigo comenta a fórmula das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) inseridas no Rio de Janeiro e em outros estados de formas similares, mostrando que a iniciativa copia outros modelos anteriormente criados que produziram um resultado de incremento de violência. Associa-se esse resultado nocivo ao código de exclusão derivado da territorialização. Identifica-se a pauta comum entre tal iniciativa e um modelo de Direito Penal do Inimigo. Palavras-chave: Unidades de Polícia Pacificadora. Territorialização. Exclusão. Direito Penal do Inimigo. ABSTRACT This article explains the implementing of the Pacifying Police Units (UPPs) in Rio de Janeiro and other several states which possess a similar way of action, showing this initiative reproduces many mistakes already committed in the past that had as its results increasing violence rates. It is associated with this hideous result the exclusion code derivated from territorialization. It is identified a common subject between the UPPs initiative and the Enemy’s Criminal Law. Keywords: Pacifying Police Units. Territorialization. Exclusion. Enemy’s Criminal Law. * Professor de Direito Penal da UFPR e da FAE Centro Universitário. Doutor em Problemas Atuais do Direito Penal pela Universidad Pablo de Olavide, em Sevilha, Espanha. Promotor de Justiça no estado do Paraná. Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 101-130, jan./jun. 2012 101 INTRODUÇÃO Estudos históricos e sociológicos recentes 1 apontam que a humanidade tem permanentemente mantido um grupo de pessoas à margem da participação social. Aos membros desse grupo é destinada uma identificação com uma espécie de culpa atávica, que conduz à qualificação de inimigo. Essa postura corresponde diretamente a – e até quiçá derive de – uma fórmula de comportamento social repetitiva, tendencialmente maniqueísta, de divisão dual de todas as relações que passa pelas categorias morais (bom e mau), estéticas (belo e feio), históricas (ficção e verdade), de conteúdo (interno e externo) e filosóficas (ideal e real), e que conduz a uma idêntica fórmula de tratamento sociológico humano (turistas e vagabundos; cidadãos e inimigos)2. Esse conceito, clássico do modelo de guerra, tem se infiltrado, sem o mínimo receio ou pudor, nas discussões jurídico-penais. E as situações em que aparece sempre estão postas em face de uma emergência social. Neste momento, o Brasil tem presenciado um fenômeno concreto de utilização do aparato, da estratégia, da atitude e do discurso de guerra com o surgimento das chamadas Unidades de Polícia Pacificadora. Essas UPPs não apenas operam segundo a lógica de guerra, de exclusão, como também oferecem à população uma imagem concreta de territorialização, capaz de, por um lado, facilitar midiaticamente o discurso pela introdução da lógica do território como imagem de soberania do Estado e de cidadania nacional, e, por outro, ter minimizado o impacto negativo que pode causar o processo de exclusão a que são submetidos os indivíduos desterritorializados. A “retomada” do território se traduz na expulsão dos indesejáveis. A pretensão deste artigo será de demonstrar a relação direta entre o processo de invasão das comunidades do Rio de Janeiro e o processo de exclusão que transforma pessoas em vida matável, instaurando como regra um modelo jurídico de Estado de exceção, proclive a um Direito Penal do inimigo. Do mesmo modo, pretende-se discutir a atuação do aparato repressivo no Brasil, com a manifestação expressa de um Direito Penal de exclusão que pretende obter respaldo popular por meio de um instrumental de rotulagem de um inimigo a ser combatido e excluído definitivamente. Nesse sentido, veja-se extenso panorama traçado em FRANÇA, Leandro Ayres. Inimigo ou uma história ocidental da inconveniência de existir. Rio de Janeiro: Lumen Juris. No prelo. 1 Sobre o dualismo como traço característico do modelo científico moderno, veja-se o comentário de BAPTISTA, Isabelle de. A desconstrução da técnica da ponderação aplicável aos direitos fundamentais, proposto por Robert Alexy: uma reflexão a partir da filosofia de Jacques Derrida. Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, v. 77, n. 4, p. 96-112, out./dez. 2010. 2 102 FAE Centro Universitário Urge que se forme um discurso crítico dessa construção artificial de promoção de exclusão que instrumentaliza o aparato punitivo do Estado para a consecução de objetivos marcadamente discriminatórios. 1 A PROMESSA “E a polícia invadiu o morro...” – esta é a notícia que aparece e apareceu em algum momento em todos os meios de comunicação. Mas o que significa criminologicamente essa invasão? É realmente um fato novo? Quais são os efeitos reais da invasão? Que resultados provocam a curto, médio e longo prazo? Que discurso jurídico orienta essa prática? O que está por trás desse discurso jurídico? Por que esse discurso jurídico consegue, de algum modo, se sustentar? Todas essas questões merecem ser respondidas. É óbvio, no entanto, que pela extensão do presente trabalho esta seria uma tarefa impossível. A proposta, então, será mais modesta, apenas no sentido de firmar adequadamente essas perguntas e propor uma hipótese em torno da qual os intentos de formulação de respostas deverão ser formulados em outros estudos mais verticais. A hipótese de que se parte aqui é que existe uma relação direta sequencial entre o discurso jurídico que ampara o Direito Penal do inimigo, a ação de territorialização realizada por meio das UPPs e a aniquilação de pessoas em um esquema genocida. O elo metodológico que une tais quadros é a fórmula de supressão comunicativa da existência por meio da compressão do espaço de inter-relação como estágio prévio à destruição física. A territorialização e ocupação corresponde à uma espécie de aceleração do processo de criação da vida matável. As Unidades de Polícia Pacificadora prometeram cumprir uma antiga reivindicação dos moradores das áreas que acabaram sendo ocupadas, qual seja, a de constituir uma polícia confiável, capaz de prestar serviços aos moradores, em vez de amedrontá-los e torná-los vítimas de extorsão e medo3. Cf. MISSE, Michel. Os rearranjos de poder no Rio de Janeiro. Le Monde diplomatique Brasil. n. 48, p. 6, 01 jul. 2011. 3 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 101-130, jan./jun. 2012 103 Na verdade, o discurso das autoridades é que se pretende compor um cinturão de segurança para os eventos como a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos4. A realização dessa pretensão é proposta a partir de um procedimento que a polícia tem denominado “conquista de territórios”, e ocorre em vários locais da cidade do Rio de Janeiro5. 2 A QUESTÃO DA TERRITORIALIZAÇÃO A pergunta inicial deve ser: o que significa, de fato, a existência de territórios? O fato de que essas unidades, ditas de pacificação, estabeleçam territórios de dominação repete uma indesejável idiossincrasia já tradicional no Rio de Janeiro, que vem desde os territórios das maltas de capoeiras, no fim do Império, passando pelos territórios dos bicheiros, os territórios do tráfico, especialmente a partir dos anos 70 do século XX, da disputa dos territórios entre facções de traficantes e a polícia, o território das milícias, e agora o território “conquistado” pelas UPPs6. Essa fórmula discursiva não é obra do acaso. O “território” foi consagrado como um dos principais elementos identificadores do Estado-nação, que identificava ou marcava as diferenças entre nós e eles. Nós, que estamos neste território e eles que estão fora. A territorialização é uma marca de exclusão seletiva, quiçá a primeira que serve para reconhecer o Estrangeiro, na concepção de Camus, do estranho, o que está fora do padrão desejável. Essa fórmula de territorialização é também uma fórmula de dominação, de controle, de submissão, que mesmo dentro da atividade policial, não é nova. 3 UMA HISTÓRIA DE DOMÍNIO Outra experiência policial não tão longeva são os chamados GPAEs (Grupamentos de Policiamento em Áreas Especiais), criados no governo Garotinho no período de 1999 até 2002 as quais compuseram iniciativa semelhante à das atuais UPPs7. Cf. MISSE, Michel. Os rearranjos... Op. cit., p. 6. 4 “Alguns ícones da violência urbana do Rio, como a Cidade de Deus, na zona oeste, os morros da Babilônia e do Chapéu Mangueira, no Leme, a Ladeira dos Tabajaras e o Cantagalo/Pavãozinho em Copacabana e Ipanema, o pioneiro Dona Marta, em Botafogo, os tradicionais morros de São Carlos, no Estácio, Turano e Salgueiro, na Tijuca, as favelas de Santa Tereza, o antigo Borel da Muda, o Macacos, em Vila Izabel, e a célebre Mangueira, no Maracanã, são agora ‘territórios das UPPs’”. MISSE, Michel. Op. cit., p. 6. 5 Cf. MISSE, Michel. Op. cit., p. 6. 6 MISSE, Michel. Os rearranjos... Op. cit., p. 6-7. 7 104 FAE Centro Universitário A ideia era de que houvesse conquista dos territórios controlados por traficantes pelas forças especiais8. No início, as invasões deram certo no sentido de afastar, pelo menos, algumas operações violentas do tráfico. Com o tempo, porém, as atividades dos traficantes foram se infiltrando nesse território que permanecia sob o controle da polícia. A imprensa acabou descobrindo essa circunstância e trouxe ao conhecimento da população que não apenas a polícia, mas o próprio governo, estaria aceitando as operações do tráfico, desde que realizadas sem violência, nos locais sob seu “controle”9. É evidente que a partir dessa circunstância, todo o apoio político a esses grupamentos esvaiu-se, de modo que os batalhões remanesceram nos locais, sem reconhecimento, nem tampouco aproximação com as pessoas moradoras daqueles locais. Justamente nesse vácuo, surgiram as chamadas milícias10, que nada mais eram do que grupos reunidos de agentes públicos, agentes penitenciários, bombeiros, e até mesmo civis armados, que se reuniam em grupos que, teoricamente, deveriam cumprir o papel não desempenhado pelos batalhões de policiamento em áreas especiais. As atividades dessas milícias – algumas das quais contando inclusive com membros do legislativo, como aquela que ficou conhecida por “Liga da Justiça”11 –, com a desculpa de preservar a ordem, adotaram um comportamento violento, expulsando resistentes e opositores, espancando e assassinando12. Por vezes, esse comportamento violento se voltava, inclusive, contra aqueles que resistiam à imposição de uma contribuição financeira para sustentar as milícias. Pretendendo dar sustentação financeira a essa estrutura, os milicianos passaram a substituir algumas atividades de exploração financeira que eram exercidas pelos próprios grupos de traficantes, como a exploração de TV a cabo clandestino, a distribuição de gás, o transporte Ibidem. 8 Ibidem. 9 Ibidem, p. 7. 10 A denominada Liga da Justiça é uma das mais perigosas milícias da cidade do Rio de Janeiro. Foi criada pelos ex-parlamentares Natalino Guimarães e Jerônimo Guimarães, o Jerominho, ambos presos pela DRACO/IE (Delegacia de Repressão às Ações do Crime Organizado e Inquéritos Especiais). Segundo as informações que geraram a prisão de ambos, eles são suspeitos de participar de delitos graves como homicídios qualificados, extorsões, ameaças, posse e porte ilegal de armas de fogo, tudo com o objetivo de criar um esquema de poder que inclui a dominação territorial e econômica de uma ampla região do Rio de Janeiro, que compreende Campo Grande, Cosmos, Inhoaíba, Santíssimo, Paciência e Sepetiba, na zona oeste da cidade, por meio da exploração do transporte alternativo de passageiros (vans e mototáxis), de jogos de azar por meio de máquinas caça-níqueis, e o monopólio da venda de botijões de gás e água a preços superfaturados, cobrança à força taxa de segurança e mensalidade pela redistribuição ilícita de sinais de transmissão de canais de televisão e internet. Os dados de todo o problema foram apurados em CPI cujo relatório está disponível em: <http://www.marcelofreixo.com.br/site/upload/relatoriofinalportugues.pdf>. 11 MISSE, Michel. Os rearranjos... Op. cit., p. 7. 12 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 101-130, jan./jun. 2012 105 clandestino em veículos controlados e a extorsão para obtenção de contribuição mensal derivada dos seus serviços de proteção. A quem se opunha ao procedimento, reservaram espancamentos e assassinatos13. Luiz Eduardo Soares comenta haver um risco permanente de as polícias converterem-se em milícias, sendo necessária uma revisão completa da Instituição Policial no Brasil: “Milícia remete, em sua gênese, à segurança privada, à degradação de instituições políticas e policiais, a políticas de segurança desastrosas. Hoje, elas são o que há de pior, de mais bárbaro e mais grave. Constituem o que, tecnicamente, se chama crime organizado. São máfias formadas, sobretudo, por policiais. Elas já ocupam espaços políticos. As UPPs, no Rio, tão celebradas – as quais retomam nossa política antibelicista e comunitária dos Mutirões pela Paz (1999) e do GPAE (2000/2001) –, não sobreviverão se as polícias não forem transformadas radicalmente”14. A partir da operação das milícias, o volume de homicídios aumentou tanto que se passou a ocultar os cadáveres15, a ponto de que o volume de pessoas desaparecidas e de homicídios chegou a ficar equivalente. A atuação policial tem pautado sua conduta pelos mesmos padrões daqueles que combate, estabelecendo uma curiosa relação que permanece viva após os conflitos. Mesmo que saia de cena a unidade policial, sua postura de combate, de guerra, de dominação e eliminação do inimigo deixa no seu rastro um vácuo extenso o suficiente para que se instaure uma postura que preserva o formato instaurado. 4 A SIMBIOSE A territorialização não muda a postura das pessoas que seguem instaurando seus arranjos a partir das posições de poder que ocupam. Os casos recentes de flagrante de tentativa de ocultar as fugas de traficantes dos morros que se sabia que seriam ocupados são mostra disso. Existe, certamente, uma cifra negra enorme por trás dos eventos que foram apurados e divulgados. O próprio anúncio prévio das ocupações gera uma mercadoria negociável de cunho político criminal, que é a fuga, a permissão de transferência de instalações e outras tantas em sua esteira. A experiência passada demonstra que há décadas 13 Idem; TELLES, Vera. A conivência entre o crime e o poder. Le monde diplomatique Brasil. n .48, p. 5, jul. 2011. SOARES, Luiz Eduardo. Crime e preconceito. Le monde diplomatique Brasil., v. 3, p. 5, ago. 2010. 14 MISSE, Michel. Os rearranjos. Op. cit., p. 7. 15 106 FAE Centro Universitário os policiais preferem extorquir os traficantes a expulsá-los de seus territórios. É um arranjo de poder que interessa a ambas as partes. Fica estabelecida uma curiosa simbiose em que a existência e a atuação das unidades policiais dependem da existência e da atuação dos criminosos, e vice-versa. Trata-se de um mercado ilegal de atuação na prática de venda de drogas e de armas clandestinas, bem como da exploração de trabalho de ilegalidade formal, como a venda de CDs e DVDs piratas, exploração de caça-níqueis16 – institutos que constituem meros casos de mala prohibita17 –, em confluência com outro mercado ilegal que negocia as permissões dos que realizariam o esquema de repressão, operando nas dobras da legalidade-ilegalidade, consistente em “informações sobre operações policiais, soltura de presos, facilitação na chegada de armas e drogas, vista grossa no cotidiano da vigilância”18, e até mesmo coleta de provas tendenciosas para influenciar a atuação do Ministério Público e do Judiciário. Surge, assim, uma conexão estreita entre os gestores do controle social criminal e aqueles que são os destinatários do controle e turva-se completamente a fronteira do legal e do ilegal, convertendo, na expressão de Michel Misse19, a “ilegalidade em uma mercadoria negociável”, utilizando a soberania do Estado como instrumento de oferta privada de bens e serviços, compondo um verdadeiro “mercado político. Evidentemente, o equilíbrio dessa relação é absolutamente instável, sendo frequentes as situações de atrito que terminam em violência e morte. É claro que os bandos de traficantes de drogas são o alvo principal, contudo, é certo que a afetação social se esparrama pelo entorno. Com o pretexto de caça aos bandidos, ocorrem batidas policiais, invasões de domicílio, chantagens, extorsões, expropriações, extermínios, tudo sob o abrigo do termo “invasão de território”20. Já não é possível saber a exata diferença entre o legal e o ilegal, entre o que está dentro e o que está fora da lei. Passa a haver uma disputa de poder já não apenas entre os grupos de criminosos que pretendem estabelecer o seu espaço, mas também entre estes e os próprios grupamentos do Estado fiscal de tal intervenção. O panorama de ilegalidade formal é apontado por TELLES, Vera. A conivência... Op. cit., p. 4. 16 Sobre os limites legítimos da incriminação e o que constitui um mal apenas porque é proibido, veja-se DIAS, Augusto Silva. Delicta in se e Delicta mere prohibita. Coimbra: Coimbra, 2008, passim. 17 MISSE, Michel. Os rearranjos... Op. cit., p. 7. 18 Id. Trocas ilícitas e mercadorias políticas: para uma interpretação de trocas ilícitas e moralmente reprováveis cuja persistência e abrangência no Brasil causam incômodos também teóricos. Anuário Antropológico, p. 101, 2009-2, 2010. 19 Cf. TELLES, Vera. A conivência... Op. cit., p. 5. 20 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 101-130, jan./jun. 2012 107 5 A CRISE QUE EXIGE UM DIREITO Uma vez que não é possível fazer qualquer diferenciação entre a atuação criminosa daqueles que são perseguidos pelo aparato estatal e daqueles que realizam essa persecução, torna-se necessária a presença de um instrumental discursivo que faça a representação simbólica da separação entre o lícito e o ilícito. Essa diferenciação opera a partir do discurso do medo. Vemos uma realidade cruenta que assusta e que compele a pedir por proteção. Historicamente, o modelo contratualista nos ensinou, com Hobbes, o omni omni lupus, como consequência, corremos para os braços do Leviatã e pedimos que exclua do nosso âmbito aquilo que teima em voltar, infiltrando-se pelas frestas das nossas vidas. Pedimos levianamente pela intervenção do Estado para afastar aqueles que tememos, de modo a aplacar nosso medo da violência. No entanto, essa violência, que é endêmica, se vê multiplicada pela relação de poder instaurada, infiltrando-se nos espaços criados pela própria dominação, de tal modo que não apenas preserva a violência a qual se pretendia combater, mas também cria uma nova classe de violência ainda mais incontrolável, porque inclui como ator aquele que estaria encarregado de sua cessação. É importante perceber que a questão não é unicamente institucional. Não se trata simplesmente de um problema de corrupção policial, como aparece no discurso míope das autoridades. A questão é cultural e engloba a postura da própria vítima da violência. Aquele que se choca com a corrupção policial é o mesmo que sonega impostos, que oferece dinheiro ao policial de trânsito para que não o multe, que ilide impostos em compras além do limite de importação no Paraguai. Na verdade, a questão é mais profunda. Não há nenhuma possibilidade de seleção segundo a atitude, daí a necessidade de rotulagem. É nesse exato ponto que surge como bastante apropriado o discurso do Direito Penal do inimigo. É imprescindível desqualificar pessoalmente aquele que deve ser perseguido pelo sistema, já que a conduta de perseguidores e perseguidos, vista desde um ponto de vista de sua realidade ontológica, por si só, não pode oferecer tal diferenciação. Ou seja, uma vez que os que representam a lei e os que estão fora dela agem de modo exatamente igual, a imagem dessa atuação não permite a identificação do âmbito do que deve ser perseguido criminalmente. É preciso a instauração de um discurso jurídico de identificação de pessoas, já não de fatos. 108 FAE Centro Universitário 6 UMA COINCIDÊNCIA INSIDIOSA? Parece ser muito mais do que apenas uma coincidência o fato de que o surgimento da estrutura violenta do aparato estatal apareça insidiosamente, de modo disfarçado, e que isso também seja o método empregado pela instauração de um discurso penal do inimigo. Porquanto a formulação de uma estrutura discursiva que justifica a atuação com um método de seletividade pessoal, surge também de maneira insidiosa, disfarçada de crítica, para converter-se na expressão mais nua e crua de perseguição pessoal. É sabido que no Congresso de Professores de Direito Penal, ocorrido em Frankfurt no ano de 1995, o professor Günther Jakobs apresentou um trabalho no qual comentava que algumas normas penais tinham características específicas de incriminar aspectos prévios à lesão de bens jurídicos, de incrementar desproporcionalmente as penas, e de relativizar as garantias processuais. Nesse caso, elas eram apontadas como normas que não tratam o incriminado como cidadão, mas como inimigo. Nesse primeiro momento, o professor Jakobs discursava com aparência de um tom crítico a respeito da existência de tais normas21. Mais tarde, em um novo evento, realizado em 1999, sob o título “A ciência do Direito Penal ante as exigências do presente”22, ampliava o estudo sobre a situação do inimigo, oferecendo quatro critérios de identificação das normas, que tinham a característica de tratar o sujeito não como cidadão, mas como inimigo, a saber: a ampla antecipação da punibilidade; a inexistência de uma redução da pena proporcional à antecipação; a transição de uma legislação própria do Direito Penal para uma legislação combativa; e a supressão de garantias do processo penal. Nesse momento, o professor Jakobs afirmava existirem circunstâncias em que o Direito Penal não possui alternativas a não ser tratar o inimigo como uma não pessoa, quando surge a famosa frase: Feind sind aktuell Unpersonen. Aqui, o professor Jakobs parece já não estar convencido de que esse Direito Penal do inimigo deva ser realmente rechaçado. No ano de 2003, o professor Jakobs publica um trabalho que aparece com o título de Direito Penal do cidadão e Direito Penal do inimigo, o qual veio acompanhado de estudo Veja-se, para fins de constatação do referido, a publicação JAKOBS, Günther. Criminalización en el estadio previo a la lesión de un bien jurídico. In: Estudios de derecho penal. Traducción de Enrique Peñaranda Ramos, Madrid: Civitas, 1997. p. 293-323. 21 Cf. JAKOBS, Günther. La ciencia del derecho penal ante las exigencias del presente. Traducciónn: Teresa Manso Porto. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2000. p. 29-33. 22 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 101-130, jan./jun. 2012 109 do seu discípulo, Manuel Cancio Meliá23. Neste trabalho, ao afirmar claramente que o Direito Penal do inimigo nem sempre é simplesmente atribuído por quem o aplica, mas, por vezes, é provocado também pelo seu próprio destinatário. Afirma que há pessoas que se desviam do seguimento da norma e merecem pena como cidadãos, mas há outras que simplesmente renunciam por completo a seguir a norma, e elas devem ser tratadas como inimigos. Com essas afirmações, Jakobs deixa clara sua concordância com o emprego dessa fundamentação para a atuação do sistema penal; e, com essa postura, legitima o Direito Penal do inimigo. Aliás, para Jakobs a postura do inimigo justificaria que o Direito Penal fizesse com ele a guerra e que, ao não fazê-lo, mas sim, aplicar o direito, tem inclusive uma faceta positiva! Mais recentemente, retomando o tema em seu escrito Staatliche Strafe: Bedeutung und Zweck, muito bem traduzido e comentado por Manuel Cancio Meliá e Bernardo Feijoo Sánchez24, o Prof. Jakobs, de modo aparentemente contraditório, em certa medida, inclusive paradoxal, defende, ao mesmo tempo, uma taxativa separação entre o Direito Penal do inimigo e o Direito Penal do cidadão, ao mesmo tempo em que prescreve que deve ser mantida a duplicidade de forma de enfrentamento da questão penal. Ou seja, reclama legitimidade ao Direito Penal do inimigo e, concomitantemente, contrariando sua posição anterior, quer vê-lo completamente cindido da tratativa ofertada ao cidadão. Nesse sentido, chega a afirmar que do mesmo modo que resulta desonesto evitar a difícil legitimação do Direito Penal do inimigo introduzindo-o (mais precisamente, escondendo-o) do modo mais ou menos clandestino, no Direito Penal do cidadão – em vez de situá-lo em uma posição autônoma – resulta desonesto abusar do caráter evidente do Direito Penal do cidadão declarando cidadãos aos inimigos, o que, porém, ocorre com certa freqüência nos tempos modernos, como se pretende demonstrar por último25. Em conclusão, é possível dizer que Jakobs foi progressivamente identificando, desenhando e defendendo a autonomia de um direito diferenciado segundo quem é o autor da ofensa praticada ao ordenamento jurídico. Como se nota, há uma evidente infiltração insidiosa na seara de discussão jurídica de um discurso de exclusão. Cf. JAKOBS, Günther. Derecho penal del ciudadano y Derecho penal del enemigo. In Derecho penal del enemigo. Traducción de Manuel Cancio Meliá. Madrid: Civitas, 1997. 23 O escrito foi traduzido para o espanhol e publicado como JAKOBS, Günther. La pena estatal: significado y finalidad. Traducción de Manuel Cancio Meliá, Bernardo Feijóo Sánchez. Madrid: Thompson-Civitas, 2008. 24 JAKOBS, Günther. La pena estatal: significado y finalidad... Op. cit., p. 180. 25 110 FAE Centro Universitário 7 CAI O PANO _ OS BASTIDORES DE UM DISCURSO FALACIOSO Não obstante ser insidioso o ingresso do discurso do inimigo na seara jurídica, já é consistente a crítica a esse modelo, que não apenas é político criminalmente incorreto, como também é acusado de importantes falhas estruturais e discursivas que convém resumir. Tais incongruências estão dentro da própria seara dos fundamentos propostos para o amparo de tal discurso, no âmbito da lógica filosófica e da dogmática jurídico-penal. São várias as críticas pertinentes nesse sentido. A primeira delas, e mais evidente, é a fórmula circular de raciocínio muito bem identificada por Manoel Salvador Grosso García26. A estrutura discursiva que justifica a intervenção contra o inimigo parte de um ponto de partida que é a afirmação de que existe um Direito Penal do inimigo diferente do Direito Penal do cidadão. Essa diferença, entretanto, se dá pela identificação do perfil normativo de um grupamento de regras do sistema que não respeitam as garantias convencionais. Acontece que a existência dessas regras parece justificar-se pela existência de pessoas que se recusam a atuar como cidadãos e respeitar as próprias regras. É fácil observar que existe aqui um raciocínio circular no sentido de que somente existe um Direito Penal do inimigo porque existe um inimigo; e este só pode ser identificado a partir do rompimento com as regras de direito que o incriminem diretamente. Ou seja, a conclusão é de que as regras diferenciadas de tratamento do inimigo só existem por causa de sua presença, mas sua presença apenas pode ser identificada a partir da contraposição com essas regras27. A segunda questão diz respeito ao emprego distorcido do conceito de pessoa, entendido por Jakobs como o indivíduo incorporado ao sistema social. Ou seja, Jakobs afirma reconhecer como pessoa àquela que participando de um sistema social em que figuram expectativas de caráter normativo, poderá atendê-las ou não. O não atendimento dessas expectativas gera a situação que o desnatura como pessoa. Sustenta Jakobs que tal perspectiva encontra amparo teórico em um modelo sociológico dos sistemas de Luhmann. Acontece que no modelo luhmanniano, os sistemas psíquicos não fazem parte dos sistemas sociais, não são inseridos neles, mas sim constituem o seu entorno, relacionando os ecossistemas sociais em forma de inputs e outputs. Pessoas são sujeitos incorporados nas relações sociais comunicacionais. Dessa forma, para Luhmann, GROSSO GARCÍA, Manuel Salvador. ¿Qué es y qué puede ser el “Derecho penal del enemigo?” una aproximación crítica al concepto. In: CANCIO MELIÁ ; GÓMEZ-JARA DÍEZ, C. (Coord.). Derecho penal del enemigo: el discurso penal de la exclusión. Buenos Aires: BdeF, 2006. p. 1 e ss. v. 2. 26 Cf. GROSSO GARCÍA, Manuel Salvador. ¿Qué es y qué puede ser… Op. cit., p. 9-10. 27 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 101-130, jan./jun. 2012 111 sujeitos são diferentes de pessoas, pelo que, quem deixa de ser pessoa, não deixa de ser sujeito, indivíduo ou humano. Fica claro que Jakobs oferece uma visão absoluta e reducionista da teoria de Luhmann28, e que confunde pessoa e sujeito, retirando os direitos fundamentais de que goza cada sujeito, por sua condição humana, em razão de uma postura de rompimento com o sistema que somente o afastaria das relações interpessoais confeccionadas em redes de expectativas. Ou seja, o que se faz é transcender a importância do sistema normativo, atribuindo a este a fonte única dos direitos e garantias fundamentais relacionados à humanidade. A terceira questão é uma incongruência discursiva que visa à imposição do direito para além dele próprio. Como é possível reconhecer o sujeito como inimigo, e, concomitantemente, aplicar um instrumento de cidadania tal como é o direito? Ora, se o sujeito perde seu caráter de pessoa e, com isso, sua condição de cidadão, não seria possível, nem admissível, aplicar qualquer instrumental do sistema jurídico que é por ele negado e do qual ele se desliga completamente. A situação seria de aplicação de uma regra jurídica para fora do ambiente em que essa regra jurídica tem validade. Seria a atuação do Estado para além do Estado, a atuação desbordante do poder. Apenas existe uma circunstância em que isso pode ser identificado, que é o caso da situação do Estado de exceção. A atuação para fora dos limites permitidos pela legitimação do poder reconhecido somente é possível pela imposição de uma decisão em situação de Estado de exceção, uma vez que, no sentido expresso por Carl Schmitt, soberano é quem decide o Estado de exceção29. É a instância política, que é o núcleo de composição do Estado, que define quem é o amigo e quem é o inimigo tanto no aspecto do Jus belli quanto internamente, ou seja, quanto à definição de quem deve ser considerado inimigo interno30. Quando é feito para além do Estado, instaura-se o Estado de exceção. No Estado de exceção, a necessidade de autoconservação pela lei excepcional exige a supressão das Para uma comparação entre o reducionismo de Jakobs e a postura de Luhmann, compare-se o que diz o primeiro, ao distinguir inimigo e pessoa em JAKOBS, Günther. La pena estatal: significado y finalidad... Op. cit. p. 167 e ss, com as proposições distintivas entre sistema psíquico e pessoa oferecidas pelo segundo em LUHMANN, Niklas. Sistemas sociales: lineamientos para una teoría general. Traducción de Sílvia Pappe, Brunhilde Erker, Rubí (Barcelona) — Mexico-Santafé de Bogotá: Anthropos-Universidad IberoamericanaCEJA, 1998. p. 236 e ss. Nesse sentido também concorre a crítica de GROSSO GARCÍA, Manuel Salvador. ¿Qué es y qué puede ser… Op. cit. p. 41. 28 SCHMITT, Carl. Teologia política. Tradução: Elisete Antoniuk. Belo Horizonte: Del Rey, 2006. Especialmente p. 11-14. 29 30 112 Cf. SCHMITT, Carl. O conceito do político: teoria do Partisan. Tradução de Geraldo de Carvalho. Belo Horizonte: Del Rey, 2008. p. 49. FAE Centro Universitário garantias31. Portanto, o Estado de exceção é uma forma legal daquilo que não pode ter a forma legal, e é exatamente aí que se localiza o chamado Direito Penal do inimigo. Vale dizer: o Direito Penal do inimigo é não mais do que a expressão jurídica penal da atuação persecutória de um Estado de exceção. Pretender que sua atuação seja permanente é o mesmo que pretender a instauração permanente de um Estado de exceção. Daí que coincida perfeitamente o discurso de Jakobs com o discurso de Carl Schmitt. Ainda que não queira admitir, o professor Jakobs convoca ao seu raciocínio jurídico as bases teóricas e políticas que embalaram o berço do nacional-socialismo, propondo nada mais do que um totalitarismo moderno e a instauração de uma guerra civil legal por meio de um Estado de exceção32. Em quarto lugar, percebe-se que o conceito de um inimigo padece de uma insuperável fluidez. Acontece que a identificação do inimigo deveria transcender o direito e permitir o reconhecimento empírico, coisa que não ocorre, em especial mais situações como a tratada aqui em que existe uma ocupação de território onde se instalam poderes paralelos, estabelecendo uma zona cinzenta a respeito do que é legal ou ilegal33. É bem verdade que tais contradições e paradoxos são característicos da chamada sociedade do risco ou modernidade reflexiva34. O problema é que se não vai ser possível identificar quem comete crimes, como seria possível pretender sustentar a aplicação do Direito Penal, como mecanismo de controle estruturado sobre uma categoria tão instável. Se isso não destrói o próprio Direito Penal, certamente esgota sua legitimidade. Para os detalhes sobre essa aparente contradição interna da própria expressão Estado de Exceção, veja-se AGAMBEN, Giorgio. Estado de exceção. Tradução de Iraci Poleti. São Paulo: Boitempo, 2004, passim. 31 A opinião coincide com o estudo de MÜSSIG, Bernd. Derecho penal del enemigo: concepto y fatídico presagio; algunas tesis. Traducción de Cancio Meliá. In: CANCIO MELIÁ; GÓMEZ-JARA DÍEZ (Coord.). Derecho penal del enemigo: el discurso penal de la exclusión. Buenos Aires: BdeF, 2006. p. 381 e ss. v. 2. 32 Comenta Vera Telles, “No coração da economia urbana de nossas cidades, são práticas e dispositivos políticos que terminam por engendrar uma ampla e hoje expansiva zona cinzenta que torna incertas, quando não indiferenciadas, as diferenças entre o legal e o extralegal, entre o dentro e o fora da lei, também entre a ordem e seu avesso quando as práticas de extorsão ultrapassam os limites de aceitabilidade pelos atores envolvidos e se desdobram em disputas ferozes”. TELLES, Vera. A conivência... Op. cit. p. 4-5. 33 A respeito do conceito de modernidade reflexiva, veja-se BECK, Ulrich. La sociedad del riesgo. Barcelona: Paidós, 1998 e GIDDENS, Anthony; BECK, Ulrich; LASH, Scott. Modernização reflexiva. Tradução de Magda Lopes. São Paulo: Unesp, 1997. Especialmente p. 209-212. 34 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 101-130, jan./jun. 2012 113 8 AS RAZÕES DO ESPAÇO PARA A ESTÉTICA DO INIMIGO Se é tão vasta assim a crítica pertinente ao discurso do inimigo, a pergunta passa a ser: por que ele consegue infiltrar-se e instaurar-se em nosso entorno? Esse êxito demanda, por certo, alguma explicação. Parece que a possibilidade de instauração discursiva de um modelo penal proclive à estética do inimigo se apoia em dois pilares básicos: o medo e a inconsistência do discurso crítico. Já é por demais sabido que o período em que vivemos, a chamada modernidade reflexiva, gera medo a partir da imposição da convivência com certo nível de risco que é inerente às atividades sociais e que, não obstante isso, gera medo35. O medo faz com que a população peça pela intervenção do Estado para que o aplaque. Porém, como o risco é inerente às relações sociais e o Estado é igualmente produto dessas relações e não seu gerador, as instâncias de controle que ele pode manipular não aplacam o medo social intrínseco. A resposta da instância penal se resume à rotulagem e prisionização. Para usar as expressões consagradas por Hassemer36, o discurso público do Estado responde à ânsia por segurança convertendo o modelo de controle social do intolerável em um modelo intolerável de controle social, e no afã de cumprir com uma tarefa efetiva de realização da segurança “tem deixado cair a bagagem democrática, a qual é um obstáculo na realização das novas tarefas”. Por outro lado, espera-se que o advento de um discurso crítico de contenção, ou seja, a postura libertária de esquerda, não ocorre, ou, ao menos, não apresenta uma orientação única e sólida de cunho crítico. A questão foi muito bem identificada por Prittwitz: “tenho freqüentemente a impressão de que aqueles que por assim dizer querem inverter o Direito Penal, querendo voltá-lo principalmente contra os poderosos, também mostram uma perigosa tendência ao Direito Penal do inimigo, tendo apenas trocado de inimigo”37. Veja-se, a respeito, GIDDENS, Anthony; BECK, Ulrich; LASH, Scott. Modernização reflexiva... Op. cit, p. 12. Mais especificamente a respeito dos reflexos penais da situação sociológica, MACHADO, Marta Rodríguez de Assis. Sociedade do risco e direito penal. São Paulo: IBCCrim, 2005. especialmente p. 29-32. 35 HASSEMER, Winfried. Características e crises do moderno direito penal. Revista de Estudos Criminais, Porto Alegre: Notadez, n. 8. p. 59, 2003. 36 PRITTWITZ, Cornelius. O direito penal entre direito penal do risco e direito penal do inimigo: tendências atuais em Direito Penal e política criminal. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 12, n. 47, p. 31-45, mar./abr. 2004. 37 114 FAE Centro Universitário A pretensão de uma orientação político criminal de punibilidade máxima dirigida aos poderosos é tão nociva às garantias mal firmadas do discurso iluminista quanto à maquiagem oferecida pela igualdade meramente formal perante a lei, e não corresponde a um legítimo discurso de esquerda. Maria Lúcia Karam atribui a falha do discurso à perda de um referencial socia lista concreto: Sempre me assustou muito essa fantasia de querer usar o sistema penal contra as classes dominantes. Mas a esquerda foi avançando, não parou aí. Por perder esta perspectiva do socialismo, com a derrocada do socialismo real, todo mundo ficou perdido, sem um modelo de socialismo. [...] A esquerda ficou perdida e sem essa perspectiva de futuro. [...] eu continuo de esquerda. Os outros é que não são. Eles têm um discurso igual ao da direita, não há a menor diferença. Antes, só queriam criminalizar a conduta das classes dominantes, que o sistema penal fosse igualitário, algo ímpar na sociedade capitalista, que é toda desigual. A partir da perda da visão de futuro – não há mais socialismo, não há mais revolução – a esquerda tornou-se eleitoreira. Ao viver a perspectiva de ocupar espaços de governo, ajusta seu discurso ao que diz a mídia, ao que se chama de opinião pública, e que gosto de dizer que não é pública e sim opinião publicada38. Comenta Prittwitz que o processo de expansão do Direito Penal atende aos anseios de duas vertentes que, em princípio, não deveriam coincidir. Assim, quem quer usar o Direito Penal [...] principalmente para reprimir, vai receber de bom grado um Direito Penal mais rígido e mais abrangente, considerando-o, numa aliança peculiar, da mesma forma legítimo que aqueles que, ao contrário, querem atingir, com o Direito Penal, os poderosos da economia e da política39. Por outro lado, também identifica Prittwitz outra aliança que ele qualifica de “igualmente grotesca”, no discurso daqueles “que criticam e transformam em escândalo um Direito Penal ainda repressor e aqueles que temem – justa ou injustamente – que o Direito Penal se volte contra eles, os poderosos: ambos clamarão por menos Direito Penal e por mais direitos civis”40. Esse aparente paradoxo nos coloca diante de uma encruzilhada: o clamor por mais Direito Penal reúne os que alvitram proteção contra os excluídos, e aqueles que pretendem vingança contra os poderosos. O discurso por menos Direito Penal, por outro lado, leva 38 KARAM, Maria Lúcia. A esquerda punitiva. Revista de Estudos Criminais, Porto Alegre, v. 1, n. 1, ap. 11-18, 2001. 39 PRITTWITZ, Cornelius. O Direito Penal... Op. cit., p. 36. 40 Ibid., loc. cit. Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 101-130, jan./jun. 2012 115 à união de interesses entre os que querem evitar a violação de direitos fundamentais e os poderosos que querem prevenir a possibilidade de que finalmente o canhão do Direito Penal se proponha a disparar contra eles. 9 A HIPÓTESE MANIQUEÍSTA A hipótese de onde se parte aqui é a de que a rotulagem é uma fórmula de indução ao maniqueísmo para salvar do medo. A prisão é para Eles, e não nós, não interessando quem são Eles. Daí que a divisão dual de todas as relações cria literalmente, o oposto, o inimigo, aquele que está fora, contaminando todos os discursos, inclusive a crítica mais rasa. O padrão de diferenciação em categorias morais (bom e mau), estéticas (belo e feio), históricas (ficção e verdade), de conteúdo (interno e externo), filosóficas (ideal e real), conduz a uma idêntica fórmula de tratamento sociológico humano (turistas e vagabundos; cidadãos e inimigos)41. Não é, portanto, a identificação de determinado grupo como inimigo o problema. Não é o fato de que a invasão se deu no morro do Alemão e não em Copacabana o problema. O problema é a existência de um inimigo e a existência de uma invasão, seja ele quem for, seja ela onde for. Bem vislumbrado, figuras de referência tanto do discurso de direita quanto o de esquerda adotaram a ética do inimigo. A fórmula de Carl Schmitt do inimigo total, a quem se nega a própria medida do “ser”. Basta para tanto, o exemplo de alguns discursos já de todos conhecidos. Confira-se a poderosa crítica ao “falibilismo pragmático”, consistente na adoção de uma mentalidade contaminada por conceitos absolutos, certezas morais e dicotomias simplistas, proferida por Bernstein em BERNSTEIN, Richard J. El abuso del mal: la corrupción de la política y la religión desde el 11/9. Buenos Aires: Katz, 2009, especialmente p. 10-11. 41 116 FAE Centro Universitário Edmund Mezger, em seu projeto de lei relativa aos “Estranhos à Comunidade”, com o qual propunha a eliminação de pessoas, em 1943, justificava a iniciativa do seguinte modo: No futuro, haverá dois (ou mais) Direitos penais: Um Direito Penal para a generalidade (no qual em essência seguirão vigentes os princípios que vigeram até agora), e Um Direito Penal (completamente diferente) para grupos especiais de determinadas pessoas, como, por exemplo, os delinqüentes por tendência. O decisivo é em que grupo se deve incluir a pessoa em questão...Uma vez que se realize a inclusão, o “Direito especial” (ou seja, a reclusão por tempo indefinido) deverá ser aplicado sem limites. E desde este momento carecem de objeto todas as diferenciações jurídicas [...] Esta separação entre diversos grupos de pessoas me parece realmente novidade (estar na nova Ordem, nela reside um “novo começo”)42. A mesma estética de eliminação do inimigo, até de modo mais direto era a proposta do revolucionário Ernesto Guevara: O ódio como fator de luta, o ódio intransigente ao inimigo, que impulsiona para além das limitações naturais do ser humano e o converte em uma efetiva, violenta e fria máquina de matar. Nossos soldados têm de ser assim; um povo sem ódio não pode triunfar sobre um inimigo brutal. Há que levar a guerra até onde o inimigo a leve: à sua casa, a seus lugares de diversão, torná-la total. Há que impedi-lo de ter um minuto de tranquilidade, de ter um minuto de sossego fora dos quartéis, e mesmo dentro deles: atacá-lo onde quer que se encontre; fazê-lo sentir-se uma fera acossada onde quer que seja43. Essas “inspirações” seguem contaminando os discursos políticos até hoje pelo padrão de exclusão do alter. Assim, enquanto o discurso de direita for igual ao de esquerda, desde o ponto de vista do estabelecimento de diferenças da existência de um inimigo, sempre existirá espaço para a instauração de um discurso jurídico de eliminação. Ou seja, de modo geral, o espaço público, que é o espaço de viabilização do exercício da participação cidadã, pela via do debate, do exercício da democracia MUÑOZ CONDE, Francisco. Edmund Mezger y el derecho penal de su tiempo. 4. ed. Valencia: Tirant ló Blanc, 2003. p. 242 e ss. 42 GUEVARA, Ernesto “Che”. Textos políticos. 4. ed. São Paulo: Global, 2009. p. 39. 43 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 101-130, jan./jun. 2012 117 e cultivo das liberdades políticas44, que se dá apenas por meio da inter-relação, da convivência, da interferência mútua, converte-se em um espaço privado e imposição pela força, de uma vontade privada, que se vale, para sua viabilização, do instrumental público de realização de uma guerra contínua e não declarada, impondo efeitos para toda a sociedade. O espaço público é o pressuposto fundamental da existência do regime democrático45 e sua realização somente é possível pela via da dissipação das fronteiras que impõem diferenças. 10OS RESULTADOS DA INTERVENÇÃO: GERAÇÃO DE VIDA “MATÁVEL” A situação é de domínio privado do espaço público separando as pessoas entre a polícia e narcotráfico nas favelas, do mesmo modo que sistemas de segurança privada impedem o acesso aos condomínios de luxo e aos shopping centers. A compressão do espaço, expulsando pessoas de uma determinada área, que é a retórica que ampara a atuação das UPPs, é apenas um dos passos na cadeia de eliminação. Na verdade, o contexto em que se insere o processo de territorialização é o de um verdadeiro genocídio. Modernamente, “o genocídio é entendido como o aniquilamento sistemático de um grupo de população enquanto tal”46. É exatamente o processo de aniquilamento sistemático de um grupo de pessoas que vem ocorrendo, do qual, o processo de invasão dos morros e instauração das UPPs é apenas uma etapa que pode perfeitamente ser reconhecida como uma prática genocida. Feierstein explica que: Uma prática social genocida é tanto aquela que tende e/ou colabora no desenvolvimento do genocídio, quanto aquela que o realiza simbolicamente, através de modelos de representação ou narração de tal experiência. Esta idéia Para Hannah Arendt (ARENDT, Hannah. A condição humana. 10. ed. Tradução de Roberto Raposo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001), “a distinção entre uma esfera de vida privada e uma esfera de vida pública corresponde à existência das esferas da família e da política como entidades diferentes e separadas, pelo menos desde o surgimento da antiga cidade-estado” (p. 37) e “o ser político, o viver numa polis, significava que tudo era decidido mediante palavras e persuasão, e não através da força e da violência” (p. 29). 44 “Sem espaço público não há democracia, e o espaço público é também uma construção associada à construção do próprio Estado, que necessita se abrir para o controle social para produzir políticas que universalizem direitos”. BAVA, Sílvio Caccia. As muitas violências. In: Le monde diplomatique Brasil. ago. 2010. p. 3. 45 FEIERSTEIN, Daniel. El genocidio como práctica social: entre el nazismo y la experiencia argentina. Mexico: Fundo de Cultura Económica, 2007. p. 33. 46 118 FAE Centro Universitário permite conceber o genocídio como um processo, o qual se inicia muito antes do aniquilamento, e se conclui muito depois47. E é justamente isso o que está representado no fenômeno das UPPs. Elas são precisamente uma etapa quase inicial do processo de aniquilamento que se dá a partir da supressão da inter-relação pessoal. Se a inter-relação pessoal é o pressuposto da existência, posto que o que existe depende de um processo de comunicação48, a anulação completa da inter-relação equivale à aniquilação do ser. Essa anulação se dá, porém, em uma fórmula progressiva de compressão do espaço em que pode ocorrer a inter-relação, da qual faz parte, sem dúvidas, o processo de territorialização. A supressão dos processos de comunicação que validam o ato de existir compõem a fórmula jurídica de anulação do outro, e isso opera em passos sucessivos. O primeiro passo para a conversão de uma classe de pessoas em Homo Sacer49 tem por foco o condenado. Trata-se da supressão do Zoon Politikon50. Existe uma vedação constitucional (art. 15, inc. III51) que prevê a vedação do voto para o condenado, é a cassação dos direitos políticos enquanto dura a condenação. Se a vida pública tem participação na seara política, a supressão dos direitos políticos exclui da decisão social e, logo, da dimensão pública do ser. Não é à toa que as condições dos presídios são de total abandono e que não existe uma política humanitária em favor do condenado. O condenado não vota, não participa da política, não exige, perde a condição de credor do Estado, a ponto deste se sentir livre a flagelá-lo em sua própria condição humana. FEIERSTEIN, Daniel. El genocidio como práctica social... op. cit., p. 36. 47 Wittgenstein sustentou que “os limites da minha linguagem significam os limites do meu mundo” (No original: “Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt”). Cf. WITTGENSTEIN, Ludwig. Tractatus Logico-Philosophicus. Tradução de Jacobo Muñoz, Isidoro Reguera. Madrid: Alianzal, 2003. p. 5.6, 111, querendo traduzir a ideia de que o significado comunicativo determina a condição do ser. 48 Cf. AGAMBEN, Giorgio. Homo sacer: o poder soberano e a vida nua. Tradução de Henrique Burigo. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002. Especialmente p. 79 e ss. 49 (Em grego, ζooν: animal, y πoλίτικoν: social ou político). A referência é de Aristóteles, no livro 1, da 50 Política. O significado da expressão é “animal social” ou “animal político”, e trata de diferenciar a condição humana a partir da capacidade de relacionar-se politicamente. Cf. ARISTÓTELES. A política. 15. ed. Tradução de Nestor Silveira Chaves. São Paulo: Ediouro, 1988. p. 13. Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de: 51 [...] III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos. Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 101-130, jan./jun. 2012 119 Pior ainda, existe uma associação completa entre a condição de submetido ao sistema carcerário e o afastamento da possibilidade de interferência política, o que leva a se distender a condição de excluído político àquele sobre quem sequer paira a afirmação de culpa. O preso provisório, de regra, é também alijado do direito ao voto. A ponto de que, mesmo diante da existência de uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral determinando a instalação de urnas nas unidades de detenção provisória alegando as mais diversas razões, os Tribunais Regionais Eleitorais – com raríssimas exceções – têm descumprido, impunemente, tal determinação. Desse modo, é possível dizer que toda a pessoa colocada na condição de suspeita de crime já é automaticamente afastada da participação política, sendo anulada a parte pública de sua existência, pela impossibilidade de manifestação de voto. Os suspeitos de crime são politicamente indesejáveis e tolhidos de exprimir sua vontade. O segundo passo na anulação do sujeito que é rotulado de suspeito, mesmo que não tenha contra si provada qualquer prática delitiva – como, de resto, não tem ainda o preso provisório – é sua exclusão no espaço, do qual a territorialização é evidentemente uma parte, é a formação dos guetos52. São demarcados lugares aos quais o acesso é permitido para uma classe determinada de pessoas e esse acesso é negado a outras. Isso começa na própria seleção discriminatória de migração. Basta que se observem os critérios para a concessão de vistos e a admissão do ingresso de estrangeiros nos Estados Unidos da América ou na Europa. O fenômeno de compressão do espaço se multiplica para o acesso a determinados condomínios, restaurantes, shopping centers e tantos outros espaços de acesso público que são vedados a pessoas suspeitas, mesmo que não se saiba exatamente de quê. A elas é reservado o espaço das periferias das grandes cidades, onde se formam guetos. Em um círculo vicioso, a partir daí, as pessoas são excluídas exatamente por viverem em determinados locais que são rotulados como “perigosos” ou “habitados por pessoas perigosas”, refletindo em todo o seu cotidiano. Ou seja, as pessoas são banidas de determinados espaços por critérios sociais baseados em indicadores de consumo, aparência ou qualquer classe de preconceito, em geral, associado à condição econômica e, em seguida, são estigmatizadas exatamente porque são pessoas que pertencem ao espaço excedente, para onde foram remetidas. A artificialidade da concepção é perfeitamente identificada por De Giorgi: El reclutamiento de la población carcelaria tiene lugar sobre la base de la identificación (aunque mejor sería decir «invención») de clases de sujetos considerados como productores de riesgo, con una propensión potencial a la desviación y peligrosas para el Sobre a formação deliberada dos guetos, veja-se WACQUANT, Löic. Los condenados de la ciudad. Traducción de Marcos Mayer. Buenos Aires: Siglo XXI, 2007. Especialmente p. 201 e ss. 52 120 FAE Centro Universitário orden constituido. Ya no son tanto las características individuales de los sujetos las que constituyen el presupuesto (y al mismo tiempo el objeto) de las estrategias de control, sino más bien los indicios de probabilidad que permiten clasificar determinados sujetos como pertenecientes a clases peligrosas específicas. Concretamente, esto significa que categorías completas de sujetos dejan virtualmente de cometer crímenes. Mas bien se transforman en el propio crimen53. Evidentemente, esse processo começa com a demarcação de territórios, independentemente de como eles se caracterizem. Basta observar, por exemplo, que se antes das ocupações das UPPs o estigmatizado era o que vivia na Favela da Rocinha ou no Morro do Alemão, agora, o estigmatizado é aquele que de lá tenha saído, independente de suas razões. A questão da territorialização não é nociva apenas quando marca um local como indesejável, quando demarca um gueto onde devem confinar-se os indesejáveis sociais. É também nociva quando faz o contrário, quando exclui o acesso de determinadas pessoas tanto a um condomínio fechado quanto a um shopping center, um bairro ou uma favela. Essa demarcação de território é nociva em si, endemicamente porque estará sempre separando as pessoas entre nós e eles, sendo eles os indesejáveis, para quem o espaço é comprimido. A territorialização é, portanto, o início da compressão do espaço, como forma de contrair ainda mais o existir. Se as pessoas somente existem mediante um processo de inter-relação, sendo essa comprimida pela redução do espaço, a consequência é a supressão de uma parcela do existir. O terceiro passo da compressão da existência e conversão do sujeito em vida matável centra fogo justamente na reação contra a compressão do espaço. A compressão de qualquer matéria no espaço conduz a um adensamento que pode provocar explosão. O confinamento de qualquer animal produzirá, certamente, uma reação agressiva. Não deixa de ser curioso como diante da similitude para com os conhecimentos mais comezinhos de Física ou Biologia, a humanidade siga crendo que o confinamento do espaço das pessoas, potencializando-lhes, em contrapartida, o tempo54, não produza uma reação explosiva no ser humano, que busque justamente o acesso às áreas do espaço que DE GIORGI, Alessandro. El gobierno de la excedencia: postfordismo y control de la multitud. Traducción de José Ángel Brandariz García y Hernán Bouvier. Madrid: Mapas, 2006. p. 129. 54 A expressão “vagabundos” é utilizada por Bauman ao comentar a divisão das pessoas no mundo segundo a ideia de movimento. Para ele, nossa sociedade busca o movimento incessante que é a característica central do consumo: a corrida permanente atrás de novos desejos, sempre crescentes e nunca satisfeitos. Com isso, a sociedade termina por “engajar seu membros pela condição de consumidores”, em um esquema em que se cogita “se é necessário consumir para viver ou viver para consumir”. Entretanto, o espaço não é de todos. Na verdade, apenas alguns têm efetivo acesso e podem efetivamente consumir, são os que Bauman denomina turistas, os demais, são lançados na moda do consumo, sem possibilidade alguma de efetivá-lo, estes são os que Bauman classifica de vagabundos. BAUMAN, Zygmunt. Globalização. Tradução de Marcus Penchel. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1999. p. 87-94. 53 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 101-130, jan./jun. 2012 121 lhe são vedadas. Como, de regra, essas são medidas por padrões capitalistas de consumo, resulta óbvio que uma boa parcela dos que são socialmente comprimidos exploda em revolta à compressão com a prática de crimes, especialmente os crimes contra o patrimônio, ou aquelas atividades ilícitas que, de algum modo, possam proporcionar mecanismos de inclusão pelo consumo. Entretanto, nesse momento, surge o terceiro passo da compressão do espaço que é aquele pelo qual responde o sistema punitivo: a prisão. Para o autor de crime, que não soube permanecer confinado em seu espaço no gueto, o resultado é uma compressão ainda maior do espaço, com a imposição do cárcere. E não termina aí. Junto ao cárcere vai a exigência de compromisso e submissão para com a penitência, pois aquele que reage contra isso, vai para o quarto passo da compressão da existência e conversão em Homo Sacer: o regime disciplinar diferenciado. O art. 52 da Lei de Execuções Penais traz a seguinte redação: Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasione subversão da ordem ou disciplina internas, sujeita o preso provisório, ou condenado, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características: I - duração máxima de trezentos e sessenta dias, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie, até o limite de um sexto da pena aplicada; II - recolhimento em cela individual; III - visitas semanais de duas pessoas, sem contar as crianças, com duração de duas horas; IV - o preso terá direito à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol. Ou seja, aquele que não se conforma com a ordem e tenta subvertê-la por novas práticas consideradas criminosas tem uma compressão ainda maior do espaço de modo a compor um isolamento que conduz à cessação quase completa da intercomunicação. Aqui, a própria lei ainda apresenta uma fórmula de aceleração e ampliação do espectro de anulação das pessoas nos §§ 1o e 2o do mesmo artigo de lei: § 1º O regime disciplinar diferenciado também poderá abrigar os presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros, que apresentem altos riscos para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. § 2º Estará igualmente sujeito ao regime disciplinar diferenciado o preso provisório ou condenando sob o qual recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organizações criminosas, quadrilhas ou bandos. 122 FAE Centro Universitário Nota-se, pois, que o regime disciplinar diferenciado pode incluir presos provisórios, sobre o qual caiam suspeitas de envolvimento em quadrilhas, bandos ou crime organizado. Ou seja, novamente a condição de suspeito é bastante para aniquilar a possibilidade de inter-relação comunicativa do sujeito pela promoção do seu isolamento. Trata-se, obviamente, de um atalho para a supressão da existência. No limite, a situação dos regimes de segurança máxima conduz a situações como a narrada por Bauman, ao comentar a situação dos condenados na prisão de Palican Bay, na Califórnia: [a prisão] É ‘inteiramente automatizada e planejada de modo que cada interno praticamente não tem qualquer contato direto com os guardas ou outros internos’. A maior parte do tempo os internos ficam em ‘celas sem janelas, feitas de sólidos blocos de concreto e aço inoxidável [...] Eles não trabalham em indústrias de prisão; não têm acesso a recreação; não se misturam com outros internos’. Até os guardas ‘são trancados em guaritas de controle envidraçadas, comunicando-se com os prisioneiros através de um sistema de alto-falantes’ e raramente ou nunca vistos por eles. A única tarefa dos guardas é cuidar para que os prisioneiros fiquem trancados em suas celas – quer dizer, incomunicáveis, sem ver nem ser vistos. Se não fosse pelo fato de que os prisioneiros ainda comem e defecam, as celas poderiam ser tidas como caixões55. Com isso, se alcança o objetivo central de impedir a existência por meio da cessação dos processos comunicativos. A redução do espaço se traduz na compressão do ser. Na verdade, prisões como Pelican Bay são programadas segundo o propósito único de eliminação. No dizer de Bauman, “o que os internos de Pelican Bay fazem em suas celas solitárias não importa. Importa é que fiquem ali. A prisão de Pelican Bay não foi projetada como fábrica de disciplina ou do trabalho disciplinado. Foi planejada como fábrica de exclusão e de pessoas habituadas à sua condição de excluídas”56. Eis a motivação central do encarceramento. A partir daí, aqueles que foram rotulados pelo sistema como perigosos, quer porque já passaram pelo sistema e foram rotulados como criminosos, quer porque reagem à compressão econômica do seu espaço social mediante instrumentos considerados ilegais, quer porque estão no cárcere, em situação de segurança máxima, quer porque ostentam a mera condição dúbia de suspeitos, podem todos simplesmente ser eliminados. Essa postura é bem identificada por Luciano Filizola da Silva, quando comenta: Hoje a nossa preocupação é com a grande massa de negros, pardos, pobres, feios e, principalmente, favelados cujo olhar nos incomodam, estragam a paisagem, andam de BAUMAN, Zygmunt. Globalização... Op. cit., p. 116. 55 Ibid., p.121. 56 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 101-130, jan./jun. 2012 123 pés descalços no asfalto quente, usam roupas sujas e são todos integrantes de uma terrível seita que possui um pacto de sangue com o mais terrível dos demônios dos círculos do inferno: as drogas ilícitas, e por isso merecem ser controlados, vigiados, trancafiados, mortos e exorcizados, pois não fazem parte de nós, homens brancos e civilizados, são, na verdade, nossos inimigos e não merecem perdão57. A última etapa da compressão da existência é a eliminação física daquele que já não conta sequer como número. É nesse ponto que aparece uma verdadeira a autorização para matar, sem que isto seja considerado crime. O desprezo olímpico com que certos resultados criminosos é visto pelas instâncias de controle persecutório, faz denotar o verdadeiro desprezo à vida das pessoas que se situam em um limbo, em uma zona de indeterminação entre a lei e o que está fora da lei, em um terreno onde se transformam em “vida matável”58, o verdadeiro “homo sacer” a que refere Agamben59. Um exemplo desse desprezo das instâncias persecutórias que impressiona, não apenas pelo caráter horrendo de seu próprio enunciado descritivo, mas mais ainda pela sua origem, que deriva de um representante legal encarregado da defesa do regime democrático, é a manifestação do Promotor de Justiça Rogério Leão Zagallo, pelo arquivamento do feito, na arguição de incompetência do Juízo da Vara do 5° Tribunal do Júri de São Paulo, nos autos do Inquérito Policial nº 887/10, capital, em março de 2011. O arquivamento refere-se ao inquérito que investigava as circunstâncias em que o policial civil Marcos Antônio Teixeira Marins havia disparado em um homem que, em concurso com outro, teria tentado roubar o carro que aquele dirigia. Ao pleitear o arquivamento do inquérito por não vislumbrar necessidade de persecução, no caso concreto, afirmou textualmente que: “bandido que dá tiro para matar tem que tomar tiro para morrer. Lamento, todavia, que tenha sido apenas um dos rapinantes enviado para o inferno. Fica aqui o conselho para Marcos Antônio: melhore sua mira [...]” (fls. 362 dos autos), ao referir ao fato de que a vítima, ao repelir uma abordagem em um assalto, matou apenas um dos autores do crime. Em outro trecho, o agente ministerial chegou a afirmar que “o agente matou um fauno que objetivava cometer assalto contra ele, agindo absolutamente dentro da lei” (fls. 361-362 dos autos), comparando o suspeito morto ao ser da mitologia romana meio homem meio animal. SILVA, Luciano Filizola da. A falácia do sistema penal: A gênese de uma criminalização desviada. Boletim do IBCCrim, São Paulo: Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, n. 165, p. 2, ago. 2006. 57 A expressão “vida matável”, bem como a referência a Agamben aparece em TELLES, Vera. A conivência... Op. cit., p. 5. 58 Cf. AGAMBEN, Giorgio. Homo sacer: o poder soberano e a vida nua... Op. cit., especialmente p. 79 e ss. 59 124 FAE Centro Universitário Não obstante, o arquivamento tenha sido acolhido e quiçá possa até responder a alguma razão técnico-jurídica, sobre a qual, sem uma concreta vista do feito, é temerário fazer qualquer ilação, uma coisa é certa. A postura do defensor do regime democrático é evidentemente proclive a um modelo de exclusão pessoal baseada no frágil binômio legalidade-ilegalidade, pregando a existência de uma classe de Homo Sacer. São vários os dados publicados em matérias na imprensa e que revelam situações concretas de desprezo pela vida de determinadas pessoas. Trata-se do que comumente é denominado nos registros policiais de “resistência seguida de morte”. Importa ressaltar que não existe tal instituto jurídico, mas a expressão figura com impressionante frequência nos procedimentos judiciais, operando como uma espécie de autorização para matar, que acaba sendo avalizada pelas instâncias de estatais judiciais. Na verdade, trata-se de execução de pessoas em que o reconhecimento de que as vítimas participavam de disputas entre quadrilhas ou bandos, trocas de tiros ou resistência à prisão. O que existe é o verdadeiro assassinato em massa de suspeitos pela polícia o qual figura disfarçado sob o título de resistência60. Consta que de 2001 a 2011 foram mortos cerca de 10 mil suspeitos de roubo e tráfico, a maior parte sem que se saiba exatamente em que condições e quase nenhum desses casos foi apreciado pelo Tribunal do Júri. Aponta-se que, de 2008 a 2010, foram assassinadas mais de 140 mil pessoas no Brasil, uma média de 47 mil por ano; 25 assassinatos ao ano a cada 100 mil pessoas, um índice considerado de violência epidêmica. Isso porque, o índice, segundo dados do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), no ano 2000, estava na casa dos 26,7, em 2001, de 27,8 e em 2002 e 28,45. Como se nota, o Pronasci, que era um programa que pretendia reduzir em 50% os assassinatos no ano de 2010, não teve êxito61. Para que se estabeleça um comparativo, nos três anos do auge da Guerra do Iraque, ou seja, de 2005 a 2007, foram assassinados por atos de guerra 80 mil civis. Uma média de 27 mil mortes por ano62. Mas a situação é ainda mais grave, porque a fórmula da territorialização, da instalação das UPPs, que seria apenas um degrau no processo de aniquilação do ser pela compressão do espaço, oferece, por vezes, um atalho. Michel Misse comenta que “há um dado sombrio e incontornável, que marcou os dez anos que antecederam a criação das UPPs: o assassinato em massa de suspeitos pela polícia, os tristemente famosos autos de resistência. Nesse período, foram mortos cerca de 10 mil suspeitos de roubo e tráfico (dados oficiais), a maior parte dos quais sem que se saiba exatamente em que condições. Quase nenhum desses homicídios foi a júri”. MISSE, Michel. Os rearranjos... Op. cit., p. 7. 60 Os dados são de conhecimento público, noticiado nos jornais e aparecem compilados em BAVA, Sílvio Caccia. As muitas violências... Op. cit., p. 3. 61 Cf. BAVA, Sílvio Caccia. As muitas violências... Op. cit., p. 3. 62 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 101-130, jan./jun. 2012 125 Foi vista, em transmissão televisiva, boa parte das invasões. Em uma ocasião, mostrou-se como um grupo de pessoas não identificadas fugia correndo do local à medida que a polícia chegava, enquanto era perseguido a tiros. A não identificação pública dessas pessoas, caso estas sejam mortas, certamente conduz a que elas somem-se como um número mais nas estatísticas, afinal, a territorialização é um processo que cobra seu preço. No entanto, caso fosse identificada uma pessoa qualquer entre aquelas eliminadas pelo processo de territorialização, a praxis tem demonstrado que surge um processo de identificação pessoal de um responsável, uma peça fungível da engrenagem persecutória, a quem se responsabilizará pessoalmente, conduzindo-a ao expurgo pelo qual passam aqueles que por ele próprio foram perseguidos, como fórmula de imolação do indivíduo em homenagem à preservação da instituição e de seu método. A MODO DE CONCLUSÃO A única saída para a aniquilação permanente e progressiva de pessoas é a quebra do processo de compressão do ser pela supressão comunicativa. Essa deve ocorrer em todas as etapas do processo. No que refere especificamente às UPPs, a única saída para evitar a separação maniqueísta e equivocada do espaço é a sua completa supressão e conversão em uma atividade policial unificada, humanizada, prestadora do serviço de organização social que lhe cabe, e principalmente, idêntica em todos os lugares do Rio de Janeiro, sem demarcação, sem ocupação63. A verdade é que, enquanto tomado como um ponto de identidade de pessoas diferenciadas, sejam pelas circunstâncias que forem, sempre se estará autorizando uma intervenção diferente em função da identificação de uma diferença. É justamente a separação, a demarcação do espaço e a identificação das pessoas com este espaço, que os torna alvo de uma tratativa diversa. A territorialização é discriminatória, qualquer que seja a sua fórmula. “Favela ou comunidade, não importa o eufemismo, o que se faz é reificar no território relações sociais de segregação e estigma, de desigualdade e repressão”64. A opinião, correta, é de Michel Misse, que afirma que “O desafio da permanência agora não é, como se supõe, o de levar políticas públicas para os territórios, mas – por paradoxal que pareça – desterritorializá-los, isto é, integrá-los como bairros normalizados à cidade, dissolvê-los enquanto territórios, inclusive territórios de UPPs”. MISSE, Michel. Os rearranjos... Op. cit., p. 7. 63 MISSE, Michel. Os rearranjos... Op. cit., p. 7. 64 126 FAE Centro Universitário A única fórmula legítima de recuperação e a devolução do espaço público democrático depende do afastamento da demarcação, com a supressão da diferença que é imposta artificialmente. Esse perfil, de caráter holístico e inclusivo, tomado como via de orientação, poderá lograr uma conscientização de caráter jurídico e sociológico que leve, por um lado, à minimização dos efeitos deletérios produzidos pelo sistema penal e, por outro, à diluição da figura do inimigo e com ela, dos discursos de legitimação do recrudescimento e do desprezo a uma parte da humanidade. O reconhecimento do outro no projeto de autoafirmação, reclama a integração. A única possibilidade de dar legitimidade à sequência da atividade estatal, a essa altura, consiste em diluir por completo a ideia de territorialização, acabando com os territórios, sejam eles demarcados por forças formais e legitimadas, ou não. Enquanto persista uma leitura sociológica e filosófica de caráter dual em que se separam, para efeitos de inclusão e exclusão nos vários aspectos das relações sociais, os cidadãos dos inimigos, não será possível nem minimizar os efeitos perniciosos da intervenção penal nem se desviar das tendências teóricas que visam legitimar o perfil excludente. O outro lado da moeda, expressa um evidente risco. A manutenção de um Direito Penal de duas velocidades, que do excluído ceifa inclusive a vida, para manter a fórmula de exclusão, com acréscimo de dois efeitos colaterais: um mercado ilegal que oferece drogas a varejo e outro mercado ilegal que oferece mercadorias políticas65. É preciso um resgate do espaço público para o público. Espaço público, aqui, significa participação democrática, direito à convivência e integração. Onde o Estado só aparece como repressão, capaz de identificar e qualificar a certas vidas de desprezíveis, quando o objetivo primordial passa a ser de imposição da força, independentemente da justificativa que a embale, desaparece o interesse comum o espaço público de conveniência democrática. Para que haja luz no fim do túnel, e para que se evite uma seleção de destruição da vida, é preciso o reconhecimento de que nossa própria existência só é possível na validação da existência do outro. Todo o projeto de existir é essencialmente intersubjetivo, devendo afastar de quem quer que seja o direito a selecionar quem deve eu não deve estar em determinado espaço, ou quem deve ou não deve ter direito à vida e à dignidade em determinado tempo. A realização da inclusão do outro no projeto de realização da vida não implica, hoje, como se poderia pensar, o simples afastamento do mecanismo de controle social. MISSE, Michel. Os rearranjos... Op. cit., p. 7. 65 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 101-130, jan./jun. 2012 127 É certo que ainda não nos é dado viver o vaticínio de Radbruch66. Como bem referiu Luiz Eduardo Soares em entrevista ao Le Monde Diplomatique, “a polícia é e será uma instituição indispensável enquanto indispensáveis forem o Estado e o monopólio legítimo dos meios de coerção”67. Somente quando a humanidade lograr conviver em respeito mútuo autogestionado será possível o afastamento do controle social estatal68. Entrementes, é fundamental que o ponto de partida do respeito advenha das instituições públicas, preservando a condição básica e geral de humanidade de cidadania, especialmente quando está em jogo o controle social exercido contra aqueles que figuram marcados como excluídos, e que acabam convertidos em descartáveis ou alvejáveis69. Radbruch propunha, já em 1932, no seu escrito Rechtsphilosophie, que “o desenvolvimento do Direito Penal está destinado a dar-se, um dia, para além já do próprio Direito Penal. Nesse dia a sua verdadeira forma virá a consistir, não tanto na criação de um Direito Penal melhor que o actual, mas na dum direito de melhoria e de conservação da sociedade: alguma coisa de melhor que o Direito Penal e, simultaneamente, de mais inteligente e mais humano do que ele”. Cf. RADBRUCH, Gustav. Filosofia do Direito. 6. ed. Tradução de L. Cabral de Moncada. Coimbra: A. Amado, 1979. p. 349. 66 SOARES, Luiz Eduardo. Crime e preconceito... Op. cit., p. 5. 67 “Quando os seres humanos conseguirem conviver em paz, respeitando-se mutuamente, em plena liberdade autogestionária, a partir de normas consensuais em bases de efetiva equidade, quando e se um dia esse sonho se realizar, não haverá mais Estado, classes, nem as instituições do Estado, inclusive a polícia. Mas, até lá, conviveremos com a necessidade de dispor de meios públicos de defesa contra violações, para que não recuemos ao tempo anterior às polícias, tempo de linchamentos e milícias locais, baronatos que faziam suas leis e se regiam pela vendetta”. SOARES, Luiz Eduardo. Crime e preconceito... Op. cit., p. 5. 68 As expressões são utilizadas por Luiz Eduardo Soares em SOARES, Luiz Eduardo. Crime e preconceito... Op. cit., p. 5. 69 128 FAE Centro Universitário REFERÊNCIAS AGAMBEN, Giorgio. Estado de exceção. Tradução de Iraci Poleti. São Paulo: Boitempo, 2004. _____. Homo sacer: o poder soberano e a vida nua. Tradução de Henrique Burigo. Belo Horizonte: UFMG, 2002. ARENDT, Hannah. A condição humana. 10. ed. Tradução de Roberto Raposo. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 2001. ARISTÓTELES. A política. 15. ed. Tradução de Nestor Silveira Chaves. São Paulo: Ediouro, 1988. BAPTISTA, Isabelle de. A desconstrução da técnica da ponderação aplicável aos direitos fundamentais, proposto por Robert Alexy: uma reflexão a partir da filosofia de Jacques Derrida. Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, v. 77, n. 4, p. 96-112, out./dez. 2010. Belo Horizonte: Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, 2010. BAUMAN, Zygmunt. Globalização. Tradução de Marcus Penchel. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1999. BAVA, Sílvio Caccia. As muitas violências. Editorial do Le monde diplomatique Brasil, ago. 2010. BECK, Ulrich. La sociedad del riesgo. Barcelona: Paidós, 1998. BERNSTEIN, Richard J. El abuso del mal. La corrupción de la política y la religión desde el 11/9. Buenos Aires: Katz, 2009. DE GIORGI, Alessandro. El gobierno de la excedencia: postfordismo y control de la multitud. Traducción de José Ángel Brandariz García y Hernán Bouvier. Madrid: Mapas, 2006. DIAS, Augusto Silva. Delicta in se e Delicta mere prohibita. Coimbra: Editora Coimbra, 2008. FEIERSTEIN, Daniel. El genocidio como práctica social. Entre el nazismo y la experiencia argentina. Ciudad de Mexico: Fundo de Cultura Económica, 2007. FRANÇA, Leandro Ayres. Inimigo ou uma história ocidental da inconveniência de existir. Rio de Janeiro: Lumen Juris. No prelo. GIDDENS, Anthony; BECK, Ulrich; LASH, Scott. Modernização Reflexiva. Tradução de Magda Lopes. São Paulo: Unesp, 1997. GROSSO GARCÍA, Manuel Salvador. ¿Qué es y qué puede ser el derecho penal del enemigo? una aproximación crítica al concepto. In: CANCIO MELIÁ, Manuel; GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos (Coord.). Derecho penal del enemigo. El discurso penal de la exclusión. Buenos Aires: BdeF, 2006. v. 2. GUEVARA, Ernesto “Che”. Textos políticos. 4. ed. São Paulo: Global, 2009. HASSEMER, Winfried. Características e crises do moderno direito penal. Revista de Estudos Criminais, Porto Alegre, n. 8, 2003. JAKOBS, Günther. La ciencia del derecho penal ante las exigencias del presente. Traducción de Teresa Manso. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2000. _______. Criminalización en el estadio previo a la lesión de un bien jurídico, In: Estudios de Derecho penal. Traducción de Enrique Peñaranda Ramos. Madrid: Civitas, 1997. Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 101-130, jan./jun. 2012 129 JAKOBS, Günther. Derecho penal del ciudadano y derecho penal del enemigo. In: CANCIO MELIÁ, Manuel. Derecho penal del enemigo. Madrid: Civitas, 1997. _____. La pena estatal: significado y finalidad. Traducción de Manuel Cancio Meliá, Bernardo Feijóo Sánchez. Madrid: Thompson-Civitas, 2008. KARAM, Maria Lúcia. A esquerda punitiva. Revista de Estudos Criminais, Porto Alegre, v. 1, n. 1, p. 11-18, 2001. LUHMANN, Niklas. Sistemas sociales. Lineamientos para una teoría general. Traducción de Sílvia Pappe, Brunhilde Erker, Rubí. Mexico, Santafé de Bogotá: Anthropos-Universidad Iberoamericana-CEJA, 1998. MACHADO, Marta Rodríguez de Assis. Sociedade do risco e direito penal. São Paulo: IBCCrim, 2005. MISSE, Michel. Os rearranjos de poder no Rio de Janeiro. Le Monde Diplomatique Brasil, n. 48, jul. 2011. _____. Trocas ilícitas e mercadorias políticas: para uma interpretação de trocas ilícitas e moralmente reprováveis cuja persistência e abrangência no Brasil causam incômodos também teóricos. Anuário Antropológico, 2009-2, p. 89-107, 2010. 010. MUÑOZ CONDE, Francisco. Edmund Mezger y el derecho penal de su tiempo. 4. ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 2003. MÜSSIG, Bernd. Derecho penal del enemigo: concepto y fatídico presagio. Algunas tesis. CANCIO MELIÁ, Carlos; GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos (Coord.). Derecho penal del enemigo: el discurso penal de la exclusión. Buenos Aires: BdeF, 2006. v. 2. PRITTWITZ, Cornelius. O Direito Penal entre Direito Penal do Risco e Direito Penal do inimigo: tendências atuais em direito penal e política criminal. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 12, n. 47, p. 31-45, mar./abr. 2004. RADBRUCH, Gustav. Filosofia do direito. 6. ed. rev. Tradução de L. Cabral de Moncada. Coimbra: A. Amado, 1979. SCHMITT, Carl. O conceito do político. Teoria do partisan. Tradução de Geraldo de Carvalho. Belo Horizonte: Del Rey, 2008. ______. Teologia política. Tradução de Elisete Antoniuk. Belo Horizonte: Del Rey, 2006. SILVA, Luciano Filizola da. A falácia do sistema penal: a gênese de uma criminalização desviada. Boletim do IBCCrim, São Paulo, n. 165, ago. 2006. SOARES, Luiz Eduardo. Crime e preconceito. Le Monde Diplomatique Brasil, v. 3, ago. 2010. TELLES, Vera. A conivência entre o crime e o poder. Le Monde Diplomatique Brasil, n. 48, jul. 2011. WACQUANT, Löic. Los condenados de la ciudad. Traducción de Marcos Mayer. Buenos Aires: Siglo Vientiuno, 2007. WITTGENSTEIN, Ludwig. Tractatus logico-philosophicus. Traducción de Jacobo Muñoz e Isidoro Reguera. Madrid: Alianza, 2003. 130 FAE Centro Universitário ENTRE JUSTICEIROS E SAMAMBAIAS: REFLEXÕES CONSTITUCIONAIS SOBRE A INICIATIVA PROBATÓRIA DO JUIZ NO PROCESSO PENAL BETWEEN PUNISHERES AND BRACKENES: CONSTITUTIONAL REFLECTIONS ABOUT THE INITIATIVE PROBATIVE OF THE JUDGE IN CRIMINAL PROCEDURE Bernardo de Azevedo e Souza* Daniel Kessler de Oliveira** RESUMO O presente ensaio analisa as principais alterações trazidas pela Lei nº 11.690/08 no que tange à iniciativa probatória do juiz no processo penal. Sob uma perspectiva crítica, contrapõe, de um lado, a figura de um juiz que corre incessantemente atrás da prova, no intuito de fazer justiça com as próprias mãos (dito justiceiro), e, de outro, a de um magistrado que permanece inerte ante a produção probatória (dito samambaia). Busca-se demonstrar que, entre tais extremos, existe um juiz ciente de sua função, que atue em consonância aos ideais consagrados pela Constituição Federal. Palavras-chaves: Prova. Processo Penal. Lei nº 11.690/08. Juiz justiceiro. Juiz samambaia. ABSTRACT The present article analyses the main changes brought by the Law 11.690/08 on the judge’s will of proof finding on criminal processes. Under a critical perspective, on one side there’s the figure of a judge who’s desperately chasing after the proof, a judge who is doing so to satisfy his will of justice with his own hands (also called punisher) and, on the other side, it is the figure of a judge who stays inert faced with the proof finding (also called Bracken). This article is willing to show that between these two extremes there’s a judge aware of his importance, and who acts in harmony with the enshrined ideals of the Federal Constitution. Keywords: Proof. Penal Processes. Law 11.690/08. Punisher Judge. Bracken Judge. * Advogado. Especialista em Ciências Penais (PUCRS). Mestrando em Ciências Criminais (PUCRS). ** Advogado. Especialista em Ciências Penais (PUCRS). Mestrando em Ciências Criminais (PUCRS). Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 131-144, jan./jun. 2012 131 INTRODUÇÃO Quando se busca tratar da problemática das provas no processo penal, inúmeras questões podem ser levantadas, tais como o ônus probatório pertencente à acusação, a possibilidade de o Ministério Público e a defesa produzirem provas e, até mesmo, a busca pela “verdade real”. No entanto, é no papel do julgador e na postura que este assume perante as provas que se inflamam os debates mais profundos e polêmicos. A relevância se justifica pelo fato de estar centrada nesta temática o que de melhor forma pode ilustrar um processo penal como autoritário ou democrático. Diante disto, o presente estudo irá se dedicar a analisar o papel do juiz frente às provas, enfrentando a função jurisdicional e concebendo-a para efeitos acadêmicos, numa perspectiva simplificada, sem a pretensão de exaurir o debate sobre o tema. Com o fito de validar o sistema, é inafastável o dever de respeitar as regras processuais constitucionalmente estabelecidas a partir da compreensão principiológica fundante da própria Democracia “Plena”. Por isso a importância de se efetivar a filtragem constitucional das disposições legais, uma vez que a norma processual, ao lado de sua função de aplicação do Direito Penal, tem a missão de tutelar os direitos individuais contemplados nas constituições e nos tratados internacionais. Partindo-se da lógica de que o processo penal de um país o identifica como Estado totalitário ou democrático,1 a questão se torna até mesmo mais política do que técnico-processual, eis que a escolha do sistema processual decorre do próprio modelo de Estado que o instituiu e das relações deste Estado com os seus cidadãos, sendo a relação processual penal uma relação entre Estado e indivíduos (ou, mais especificamente, entre autoridade e liberdade).2 O debate do (real) papel do juiz frente às provas num processo penal em conformidade constitucional inflama-se a cada reforma na legislação, em que se pretende aproximar o modelo processual ora vigente ao princípio acusatório. Ocorre que tais reformas acabam cedendo em alguns pontos, haja vista a resistência de alguns segmentos em adotar medidas garantidoras de direitos fundamentais. Isto veio à tona quando da reforma processual penal de 2008, com o advento das Leis nos 11.689/08, 11.690/08 e 11.719/08, em que, entre inúmeras alterações, se MOREIRA, Rômulo de Andrade. O processo penal como instrumento de democracia. Disponível em: <www.amab.com.br>. Acesso em: 20 jan. 2011. 1 BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 106. 2 132 FAE Centro Universitário buscou a substituição de um sistema presidencialista para um novo modelo, no qual o juiz deve quedar-se inerte frente à produção de provas, sendo impossibilitado de inquirir diretamente as testemunhas, ficando a seu cargo tão somente algum esclarecimento sobre ponto relevante. Sobrevieram daí ferrenhas críticas à reforma, albergando-se no argumento de que, ao conferir ao julgador uma atuação subsidiária, estaria ele tornando-se uma verdadeira “samambaia” na sala de audiências, ou seja, um elemento meramente ilustrativo na realização da solenidade. Como pretendemos aqui demonstrar, tal entendimento não merece prosperar, até mesmo porque nesta mesma reforma processual não somente se manteve a possibilidade de iniciativa probatória do julgador, como esta ainda restou reforçada, com a autorização de produção de provas mesmo antes do início da ação penal. Portanto, se, de um lado, a reforma trouxe um juiz inerte, de outro, apresentou um julgador ativo, desencadeando assim críticas de todos os lados: seja daqueles que não aceitam o juiz como mero adorno na sala de audiências ou daqueles que defendem que a postura ativa do julgador vai de encontro aos basilares princípios ordenadores de nosso processo penal. A presente discussão tornou a ocupar ainda mais espaço no âmbito acadêmico com a sobrevinda do PLS 156/09, que vem no intuito de realizar uma ampla reforma em nosso sistema processual penal. Entre os ideais traçados pela comissão responsável pela elaboração do projeto está a adequação do processo penal aos ditames constitucionais, buscando a aproximação deste ao sistema eleito pela nossa Constituição: o acusatório. A própria exposição de motivos do PLS 156/09 já sinalizou nesse sentido, quando, em seu item III, referiu que: “seja do ponto de vista da preservação do distanciamento do julgador, seja da perspectiva da consolidação institucional do parquet, não há razão alguma para permitir qualquer atuação substitutiva do órgão da acusação pelo juiz do processo”.3 Assim, o legislador primou pela consagração do sistema acusatório, consubstanciada na separação das partes no processo, estando as atividades de cada uma delas delimitadas pelos preceitos constitucionais. Sob esse prisma, haja vista que no campo do processo penal a discussão gira em torno de bens jurídicos de extrema relevância e é onde o poder punitivo colide com as garantias individuais, imprescindível se faz que a postura do juiz se harmonize aos ideais consagrados pelo texto constitucional. Item II da Exposição de Motivos do Projeto de Código de Processo Penal. 3 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 131-144, jan./jun. 2012 133 Isso porque, à medida que o Estado encerra a autodefesa e assume o monopólio da justiça frente à violação de um bem juridicamente tutelado, não mais lhe cabe outra atividade que não invocar a tutela jurisdicional. Portanto, o processo como instituição estatal é a única estrutura que se reconhece legítima para a imposição de uma pena.4 Assim, concebendo tal discussão e mensurando os efeitos prático-teóricos que exsurgem desta análise, propõe-se o presente estudo a demonstrar que o papel do julgador frente às provas deve ser lido à luz da Constituição e em pleno respeito às garantias fundamentais, o que não comporta um juiz totalmente inerte, a ponto de ser comparado a uma samambaia, e tampouco um julgador ativo na busca das provas, vindo a adquirir ares de justiceiro. 1 DO JUIZ SAMAMBAIA Entre as inovações trazidas pela Lei nº 11.690/08, merece destaque a que diz respeito ao procedimento de inquirição de testemunhas, previsto no art. 212 do Código de Processo Penal. Anteriormente à reforma, o Brasil adotava o sistema presidencialista, no qual as partes deveriam dirigir as perguntas ao magistrado e este, por sua vez, direcionava-as às testemunhas. Todavia, com a nova redação do art. 212, o nosso sistema esposou o modelo estadunidense do cross examination. O caput do novel dispositivo dispõe que as partes poderão formular perguntas diretamente às testemunhas, sem necessitar da figura do juiz para tal ato, colocando-o, portanto, distante da produção da prova. Caberia ao magistrado apenas admitir ou não os questionamentos que possam induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra pergunta já respondida e complementar pontos não esclarecidos pelas partes, ou seja, pontos já colocados, sobre os quais já houve atividade probatória, mas restaram duvidosos.5 Nesse sentido, anota Greco Filho6 que: Postas as questões relevantes, o juiz pode ultrapassar a iniciativa das partes determinando prova não requerida, mas não pode tornar-se acusador ou defensor, sob pena de violar o chamado sistema acusatório do processo penal, que é garantia do julgamento justo e a própria essência da jurisdição, que consiste no julgamento por órgão não interessado e não envolvido na atividade de acusação ou de defesa. LOPES JÚNIOR, Aury. Introdução crítica ao processo penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 3. 4 GRECO FILHO, Vicente. Manual de processo penal. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 206. 5 Ibidem. 6 134 FAE Centro Universitário Sem embargo da importante contribuição ora verificada, o art. 212 vem sendo alvo de severas críticas. Isso porque a doutrina e a jurisprudência têm interpretado a redação do aludido dispositivo dubiamente, ora entendendo que o juiz deveria inquirir as testemunhas já no início da audiência, participando ativamente na colheita da prova, ora afirmando que ele teria somente um papel supletivo ao final da solenidade, complementando pontos não esclarecidos pelas partes. Sobre esta controvérsia, Busato7 analisa o Acórdão lavrado no Agravo Regimental crime n° 413.084-9/01, que recebera destaque no sítio eletrônico da Associação dos Magistrados do Estado do Paraná ao ser definido como paradigma de interpretação do art. 212 do Código de Processo Penal. No referido Acórdão, julgado pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Relator Desembargador Leonardo Lustosa, sustentou-se que o juiz deve prevalecer no comando das provas, ficando a seu cargo a realização das perguntas às testemunhas. Às partes incumbiria tão somente realizar eventuais questionamentos. Esse voto socorreu-se do que o Relator cunhou de uma “lição precisa” lançada por Guilherme de Souza Nucci, no qual foi referido que “só restaria ao juiz assistir à audiência, indeferindo uma pergunta aqui e outra acolá, podendo, ao final, apenas complementar a inquirição, concluindo, então, que os defensores dessa tese querem transformar os juízes em samambaias de sala de audiências”. No sentir do autor mencionado, estaria o magistrado transfigurando-se num elemento meramente decorativo, quase um vegetal, cabendo-lhe apenas presenciar a audiência, indeferindo as perguntas realizadas (quando necessário), e, ao final, complementar a inquirição. Com a devida deferência, ousamos discordar de Nucci, bem como do voto do aludido Desembargador. Isso porque o fato de estar o juiz afastado da produção probatória não significa, necessariamente, que assume a condição de uma samambaia, muito pelo contrário, como leciona Busato8: [...] é justamente este afastamento, esta isenção, que permite o real controle sobre a realização das provas pertencentes às partes, pois somente uma prudente distância dos interesses debatidos na causa permite que o juiz exerça sua função de garantir os BUSATO, Paulo César. De magistrados, inquisidores, promotores de justiça e samambaias: um estudo sobre os sujeitos no processo em um sistema acusatório. In: COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda; CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de (Org.). O novo processo penal à luz da constituição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 112. 7 BUSATO. Op. cit., p. 113. 8 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 131-144, jan./jun. 2012 135 direitos fundamentais do acusado. A ele incumbirá justamente evitar a realização de pressão sobre a testemunha, controlando o deferimento ou indeferimento de perguntas. A distância entre o juiz e a prova garante àquele a isenção no ato de julgar, respeitando o modelo acusatório de processo penal. Ademais, este afastamento evita o risco de figurar o magistrado como substituto do órgão de acusação, o que não pode ser admitido num sistema constitucional como o nosso, sob pena de jogar por terra toda a necessária e imprescindível imparcialidade que cabe ao julgador na hora de proferir sua decisão final.9 O juiz não pode ser enxergado, portanto, na “diminuta condição de vegetal decorativo”,10 uma vez que a ele incumbirá a devida apreciação do conteúdo trazido pelas partes, o que não significa que é ele quem deve produzir ou buscar as provas. No momento em que o julgador desce de sua posição constitucionalmente estabelecida, de terceiro, equidistante e imparcial, inúmeras garantias são vilipendiadas, pois ao diligenciar na busca de uma prova, obviamente estará inclinando-se para um dos lados, o que fere a constitucional garantia de um juiz imparcial. Nesse sentido, nunca é demais lembrar que o juiz é um sujeito imperfeito, pois se trata, em verdade, de um homem normal como qualquer outro, e, como tal, está sujeito à história de sua sociedade e à sua própria história.11 Ao gerir a prova, poderia o juiz estar decidindo antes e, depois, saindo “em busca do material probatório suficiente para confirmar a ‘sua’ versão”.12 É somente assumindo sua condição equidistante da iniciativa probatória que o juiz preservar-se-á, evitando eventual contaminação com a prova, o que o tornaria parcial quando do julgamento do feito. Não se pretende, pois, um julgador omisso, mas um julgador ciente da relevância de seu papel, devendo, acima de tudo, preservar sua imparcialidade. Em se tratando a relação processual de uma tríade, composta por um juiz, um acusador e um réu, é imprescindível que o órgão julgador se desinteresse por ambas as partes, isto é, o Estado-juiz deve interessar-se apenas pela busca da verdade processual, esteja ela com quem estiver, sem sair de sua posição supra partes.13 SILVA JÚNIOR, Délio Lins e. Sistema acusatório: pode o juiz produzir provas na fase pré-processual? Disponível em: <www.ibccrim.org.br>. Acesso em: 31 jan. 2011. 9 BUSATO, loc. cit. 10 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. O papel do novo juiz no processo penal. In: COUTINHO, Jacinto Nelson Miranda. Crítica à teoria geral do direito processual penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 15. 11 Ibid., p. 32. 12 RANGEL, Paulo. Direito processual penal. 6. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002. p. 19. 13 136 FAE Centro Universitário Ao abordar a questão da imparcialidade como pressuposto de um processo válido, Thums14 aduz que “a quebra da confiança no julgador, representada pela ausência de imparcialidade, constitui-se na ilegitimidade do próprio poder jurisdicional”. A imparcialidade do julgador é, portanto, uma garantia não só às partes do processo, mas também ao próprio juiz e ao exercício da prestação jurisdicional. Vale referir que um magistrado totalmente inerte, a ponto de ser comparado a um ornamento da sala de audiências, fere as diretrizes impostas pela Constituição Federal e afronta a própria legitimidade da prestação jurisdicional. Até mesmo por que, em decorrência da cada vez maior aproximação das instituições, Polícia, Ministério Público e juiz – o que é de suma importância para a manutenção de uma democracia –, por vezes o julgador se torna, sim, um simples enfeite, eis que o processo acaba ficando concentrado nas mãos do Ministério Público, que, dada a proximidade com o julgador, é quem de fato decide por uma condenação ou absolvição. Fazendo a analogia do processo penal com um jogo, em que as garantias dos jogadores somente serão impostas pelo resguardo das regras por parte do juiz, é possível afirmar que alguns casos penais se transformam em verdadeiras “peladas processuais”, nas quais o Ministério Público é o “dono da bola” e a figura do juiz simplesmente não existe.15 Assim, o que se busca é que o julgador atente às diretrizes constitucionais, que se demonstre ciente de seu relevante papel enquanto juiz, sem que para isso tenha de se alocar na posição de uma das partes. 2 DO JUIZ JUSTICEIRO Ao tratar da iniciativa probatória do juiz, sempre se deve fazer menção à mitológica “verdade real”, por mais “batido” que pareça o tema. Isto se justifica porque é em busca desta “verdade” – inatingível, impalpável e indefinida – que se fundamentam as correntes defensoras de um juiz ativo na produção de provas. Há, inclusive, aqueles que elevam a tal “verdade real” ao patamar de um princípio do processo penal, que deve ser buscada a todo custo pelo julgador. THUMS, Gilberto. Sistemas processuais penais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 285. 14 GERBER, Daniel; MAYORCA, Marcelo. Do jogo à “pelada” processual: o processo penal sem juiz. Boletim IBCCRIM, São Paulo, v. 16, n. 194, p. 16, jan. 2009. 15 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 131-144, jan./jun. 2012 137 Mirabete16 preleciona que com o princípio da verdade real se procura estabelecer que o jus puniendi somente pode ser exercido contra aquele que praticou a infração penal e nos exatos limites de sua culpa, numa investigação que não encontra limites na forma ou na iniciativa das partes. Comungando desse entendimento, Nucci refere que: em homenagem à verdade real, que necessita prevalecer no processo penal, deve o magistrado determinar a produção das provas que entender pertinentes e razoáveis para apurar o fato criminoso. Não deve ter preocupação de beneficiar, com isso, a acusação ou a defesa, mas única e tão-somente atingir a verdade.17 Ao legitimar a busca por esta verdade inalcançável, na realidade se autoriza ao magistrado uma postura ativa frente ao processo, olvidando-se que num processo penal justo somente interessa a verdade processualmente possível de ser obtida – possibilidade esta que, vale dizer, está umbilicalmente ligada ao respeito às garantias fundamentais e às regras processuais legal e constitucionalmente estabelecidas. Se assim não fosse, estaríamos permitindo ao julgador a busca e, ao mesmo tempo, a valoração do meio de prova e sua metodologia de busca como lícitas. No modelo inquisitorial, a desenfreada busca pela verdade nos remete a cenários autoritários, nos quais a tortura era o meio usual e legítimo para se extrair a “verdade” do processo. Portanto, sendo as regras determinadas pelo magistrado, é evidente que, quanto menos regras, menos limites à atuação estatal.18 A análise do fundamento de uma decisão judicial sempre passa pela discussão sobre que “verdade” foi buscada e alcançada no ato decisório. Daí a relevância de se desconstituir este mito da verdade real, ao passo que é uma artimanha engendrada nos meandros da inquisição para justificar o substancialismo penal e o decisionismo processual (utilitarismo) típicos do sistema inquisitório.19 Assim, mesmo que o julgador se agarre à concepção realista da verdade (crendo ser de fato alcançável esta verdade real, capaz de traduzir com exatidão os fatos ocorridos), não terá como assegurar-se da própria isenção, ao idealizar o objeto de conhecimento.20 MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo penal. 13. ed. São Paulo. Atlas, 2002. p. 44. 16 17 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. 8. ed. São Paulo:Revista dos Tribunais, 2008. p. 346. GIACOMOLLI, Nereu José. Reformas (?) do processo penal: considerações críticas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 6. 18 LOPES JÚNIOR. Op. cit., p. 272. 19 BAPTISTA, Francisco das Neves. O mito da verdade real na dogmática do processo penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 37. 20 138 FAE Centro Universitário Mister salientar que não se está aqui a negar que um processo deve ter como objeto a verdade, mas tão somente a demonstrar que não pode servir a busca pela chamada “verdade real” um elemento autorizador de excessos por parte do Estado. Ademais, é sob esta justificativa – qual seja, a de se buscar a tal “verdade real” – que se verificam os maiores resquícios inquisitoriais em nosso sistema e, consequentemente, as maiores afrontas ao processo penal condizente com os ideais de nossa Constituição. Prova disso foi a recente alteração do art. 156 do Código de Processo Penal pela Lei nº 11.690/08. A redação anterior deste dispositivo preceituava que o juiz poderia, no curso da instrução ou antes de proferir a sentença, determinar, de ofício, diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante. O novel diploma legal, no entanto, intensificou os poderes instrutórios do juiz, criando a possibilidade de este ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. O legislador, ao contrário do que se esperava, optou por “manter o caráter inquisitivo do Código de Processo Penal em total dissonância com o sistema acusatório de índole constitucional”.21 Ora, o magistrado que faz uso do permissivo legal do art. 156 para legitimar eventuais excessos na busca da “verdade real” evidentemente estará agindo como se um justiceiro fosse, o que significa o atropelo das garantias fundamentais, que acabarão sendo soterradas completamente. Nucci adverte que o magistrado não pode vestir o manto de justiceiro, crendo ser “o salvador dos bons costumes e o moralizador da pátria, pois é humano e, se assim pensar, nem mesmo enxerga sua própria falibilidade”.22 Cego pelo “sentimento de justiça” e com o fim de supostamente proteger a sociedade, esse juiz justiceiro acabará elegendo o réu como seu arqui-inimigo, que deve ser derrotado a todo e qualquer custo, comportamento típico de um inquisidor.23 EBERHARDT, Marcos. Reformas processuais penais no âmbito da produção probatória. In: NUCCI, Guilherme de Souza (Org.). Reformas do processo penal. 2. ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2009. p. 106. 21 NUCCI, Guilherme de Souza. Provas no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 27. 22 Alexandre Morais da Rosa cunhou tal comportamento de “Complexo de Nicolas Marshall”. Nicolas Marshall era o protagonista de um seriado de televisão americano denominado Dark Justice, que foi exibido durante três anos (1991-1993). Tratava-se da história de um juiz que cumpria as leis durante o dia e, à noite, longe dos tribunais, decidia “fazer justiça com as próprias mãos”. Nesse sentido, vide ROSA, Alexandre Morais da. O juiz e o complexo de Nicolas Marshall. Disponível em: <www.ibccrim.org.br>. Acesso em: 20 jun. 2011 23 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 131-144, jan./jun. 2012 139 Este mesmo juiz, também herói, acredita que sua função é proteger a sociedade e, por pensar assim, superintende investigações policiais e assessora o Ministério Público em sua atuação processual penal. Assim, dá-se conta de que todo herói precisa de um vilão e o elege na figura do réu, o que faz com que este heroísmo tenda a ocupar espaço com autoritarismo, haja vista seu convencimento já estar previamente formado.24 Tal modelo de gestão da prova, de ofício, pelo juiz, assumido e ampliado pela redação dada ao art. 156 do Código de Processo Penal, favorece tal postura heroica, buscando, a todo e qualquer custo, a verdade. Todavia, “ao lançar o Juiz nas tramas de buscar as provas, obrigatoriamente, contracena com os demais atores do processo, troca de posições, identifica-se com estes, ficando, ao mesmo tempo, ao lado de um e diante do outro”.25 É nesse momento que sairá de sua posição equidistante e imparcial, deixando de ser juiz para ser parte “que tem o poder de dizer a verdade que tanto buscou e que finalmente encontrou para o bem da sociedade”.26 Ao indicar o réu para protagonizar a figura do vilão, olvida-se o magistrado de que a função de proteger a sociedade não é sua, pois a Carta Magna atribui tal responsabilidade ao Ministério Público e à Polícia (arts. 129 e 144, respectivamente). Ora, como se não bastasse ao réu figurar no polo mais fraco da relação jurídica, teria agora também de se defrontar com o Ministério Público, a Polícia e o Judiciário (na pessoa do magistrado), em comunhão de esforços na produção probatória e unidade de desígnios para combatê-lo? Evidente seria o prejuízo resultante dessa colisão. Nesse sentido, refere THUMS27 que, no momento em que o magistrado busca a prova, as funções de acusar e julgar acabam por se confundir, o que desfiguraria o sistema acusatório adotado no Brasil. É inconcebível, portanto, “que num Estado Democrático de Direito, onde há um órgão oficial, a quem são atribuídas funções de extraordinária relevância, na fiscalização do cumprimento das leis, tenha de haver outro órgão oficial coadjuvante na produção da prova”.28 24 CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de; DEPAOLI, Solon Bittencourt. Por que o juiz não deve produzir provas: a nova redação do artigo 156 do CPP (Lei 11.690/2008), Boletim IBCCRIM, São Paulo, v. 16, n. 190, p. 6-7, set. 2008. Id. 25 CARVALHO, loc. cit. 26 THUMS. Op. cit., p. 292. 27 Ibid., p. 293. 28 140 FAE Centro Universitário Quando o julgador vai à caça de elementos para justificar sua decisão, está exercendo um papel que não lhe pertence, uma vez que não lhe cabe a realização da “justiça” – esta sempre vista como uma condenação –, pois, se o desfecho fosse o absolutório, bastaria a dúvida, sendo desnecessária qualquer produção probatória. Se o réu é inocente até prova em contrário, conforme preceitua o art. 5º, inc. LVII, da Constituição Federal, conclusão lógica é de que, na ausência de provas, a absolvição deve ser imposta. Ao correr atrás das provas, o julgador age com postura absolutamente diversa da imposta pela Carta Magna, estando bem próximo de agir com uma postura supletiva ao órgão ministerial. Sendo assim, o poder de iniciativa probatória, estando centrado nas mãos do julgador, fere, por óbvio, a paridade de armas no processo penal, colocando o órgão incumbido de julgar como operador da acusação, o que suprime a possibilidade de uma apreciação imparcial (e, por conseguinte, justa) dos fatos e coloca o réu na condição de mero objeto, despido de quaisquer garantias. CONSIDERAÇÕES FINAIS O julgador contemporâneo deve estar ciente de que seu papel, seu atuar frente a um processo, deve se apresentar sempre em total e absoluta consonância com os preceitos constitucionais. Quando se fala em Estado contemporâneo, remete-se à acepção de Estado Constitucional e, consequentemente, de Estado Democrático, diante da íntima relação entre estes. Isto se verifica, outrossim, pela inegável (e perceptível aos olhos de quem busca enxergar) relação entre a Constituição e os ideais democráticos de um Estado, haja vista que, ao se referir a Estado de Direito, subtende-se, no ponto de vista das garantias, um Estado Constitucional de Direito.29 Sob esse prisma, o Estado Constitucional de Direito é reconhecidamente o único modelo de Estado habilitado a oferecer suporte ao projeto garantista. O Estado Constitucional de Direito e garantismo são realidades autorreferentes, apontando, em conjunto, para a formulação de técnicas e garantias idôneas destinadas a assegurar o máximo grau de efetividade aos direitos fundamentais.30 Portanto, a salvaguarda dos direitos fundamentais exige do julgador uma atuação pautada pelas diretrizes constitucionais, sendo esta a postura condizente com os ideais GIACOMOLLI, Nereu José. O processo penal contemporâneo. In: GAUER, Ruth Maria Chittó (Org.). Criminologia e sistemas jurídico-penais contemporâneos. Porto Alegre: Edipucrs, 2008. p. 257. 29 FELDENS, Luciano. Direitos fundamentais e direito penal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. p. 67. 30 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 131-144, jan./jun. 2012 141 democráticos de nosso País. Daí a inegável relação entre as garantias fundamentais, a manutenção e a estruturação da democracia com o papel do julgador frente ao processo penal, pois se o juiz não mais pode ser visto como um órgão cego da lei, tampouco pode ser concebido como senhor do Direito, operando a Constituição como um limite entre essas duas situações extremas.31 É esta limitação constitucional o pressuposto para um processo penal democrático, que somente será alcançado quando o juiz, ciente de sua função, aplicar e respeitar os preceitos constitucionalmente impostos. Uma constituição somente será boa se os magistrados forem, de igual forma, bons, isto é, souberem respeitá-la e defender sua aplicação. Do contrário, teremos direitos apenas positivados sujeitos a uma prática judiciária revestida de atrocidades. Assim, a razão da Constituição é justamente definir as regras do jogo, não para impedir o desenvolvimento deste, mas para garantir que serão os próprios jogadores os titulares da ação de jogar, sabedores das circunstâncias, das garantias e dos riscos que este jogo envolve.32 Sob esta perspectiva, deve o julgador ter ciência de seu relevante papel, mas que o seu atuar nada mais é do que operar como um garantidor das regras do jogo e do processo, em respeito aos limites estabelecidos pelos direitos fundamentais consagrados pela nossa Constituição. Portanto, o magistrado, em sua íntima relação com as provas, não pode desejar a determinação ou produção destas, sob pena de, além de não estar defendendo as regras do jogo, estar desrespeitando-as, tornando desigual o “jogo processual”. Nessa esteira, não se pode olvidar que a todo jogo que se atribui regras deverá haver, necessariamente, um juiz com a função de zelar pela aplicação delas, pois somente assim será possível alcançar um desfecho justo. No processo penal, de igual forma, não se pode permitir um julgador diferente disto, ou seja, não se pode permitir um juiz inerte e tampouco um demasiadamente ativo, que ocupe a função de um dos jogadores (no caso uma das partes). Enfim, nossa Constituição, há mais de duas décadas, já definiu qual é o papel do julgador frente às provas no processo penal. E é em respeito a tal determinação que se deve dar a atividade do julgador – entre justiceiros e samambaias –, visto que somente assim poderemos vislumbrar um processo mais justo e democrático, pressuposto este de estruturação de nossa democracia. FELDENS. Op. cit., p. 21. 31 MORAIS, José Luis Bolzan de. As crises do estado e da constituição e a transformação espacial dos direitos humanos. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. p. 68. 32 142 FAE Centro Universitário REFERÊNCIAS BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Ônus da prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. BAPTISTA, Francisco das Neves. O mito da verdade real na dogmática do processo penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. BUSATO, Paulo César. De magistrados, inquisidores, promotores de justiça e samambaias: um estudo sobre os sujeitos no processo em um sistema acusatório. In: COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda; CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de (Org.). O novo processo penal à luz da constituição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de; DEPAOLI, Solon Bittencourt. Por que o juiz não deve produzir provas: a nova redação do artigo 156 do CPP (Lei 11.690/2008). Boletim IBCCRIM, São Paulo, v. 16, n. 190, p. 6-7, set. 2008. COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. O papel do novo juiz no processo penal. In: _______. Crítica à teoria geral do direito processual penal. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. EBERHARDT, Marcos. Reformas processuais penais no âmbito da produção probatória. In: NUCCI, Guilherme de Souza (Org.). Reformas do processo penal. 2. ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2009. FELDENS, Luciano. Direitos fundamentais e direito penal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. GERBER, Daniel; MAYORCA, Marcelo. Do jogo à “pelada” processual: o processo penal sem juiz. Boletim IBCCRIM, São Paulo, v. 16, n. 194, p. 16, jan. 2009. GIACOMOLLI, Nereu José. O processo penal contemporâneo. In: GAUER, Ruth Maria Chittó (Org.). Criminologia e sistemas jurídico-penais contemporâneos. Porto Alegre: Edipucrs, 2008. _____. Reformas (?) do processo penal: considerações críticas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. GRECO FILHO, Vicente. Manual de processo penal. São Paulo: Saraiva, 2010. LOPES JÚNIOR, Aury. Introdução crítica ao processo penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo penal. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2002. MORAIS, José Luis Bolzan de. As crises do estado e da constituição e a transformação espacial dos direitos humanos. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. MOREIRA, Rômulo de Andrade. O processo penal como instrumento de democracia. Disponível em: <www.amab.com.br>. Acesso em: 20 jan. 2011. Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 131-144, jan./jun. 2012 143 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. _____. Provas no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. RANGEL, Paulo. Direito processual penal. 6. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002. ROSA, Alexandre Morais da. O juiz e o complexo de Nicolas Marshall. Disponível em: <www. ibccrim.org.br>. Acesso em: 20 jan. 2011 SILVA JÚNIOR, Délio Lins e. Sistema acusatório: pode o juiz produzir provas na fase préprocessual? Disponível em: <www.ibccrim.org.br>. Acesso em: 31 jan. 2011. THUMS, Gilberto. Sistemas processuais penais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. 144 FAE Centro Universitário TRANSMISSÃO DO HIV/AIDS: REVOLUÇÃO MÉDICO-TERAPÊUTICA E ASPECTOS JURÍDICO-PENAIS HIV/AIDS TRANSMISSION: THERAPEUTIC REVOLUTION AND LEGAL ASPECTS RESUMO Leandro Ayres França* Nádia Gabriele Rudnick** A partir do julgamento do Habeas Corpus nº 98.712-SP, pelo Supremo Tribunal Federal, este artigo expõe a absoluta divergência entre a realidade patológica e terapêutica do HIV/ AIDS e as produções jurisprudenciais e doutrinárias sobre a questão. Com o pressuposto de que a contaminação por HIV/AIDS configura uma enfermidade crônica, não mais uma doença fatal, demonstra-se como a dogmática penal mantém-se presa a concepções de imputação inadequadas à realidade contemporânea. Parte-se da revisão das teorias do causalismo e do finalismo, passa-se pela proposta da teoria da imputação objetiva e se alcança a recém-desenvolvida teoria da ação significativa. Nessa revisão histórica, demonstra-se que é equivocado adequar a transmissão do HIV/AIDS aos tipos penais de homicídio ou de lesões corporais, em quaisquer de suas modalidades. Palavras-chaves: Transmissão de HIV/AIDS. Terapêutica. Direito penal. Imputação. Teorias do injusto penal. ABSTRACT From the 98.712-SP Habeas Corpus case of the Brazilian Supreme Court, this paper exposes the utter discrepancy among the HIV/AIDS pathological and therapeutic reality and the jurisprudential and doctrinal production upon the issue. Assuming the HIV/AIDS contamination consists no longer in a fatal illness but a chronic disease, it’s demonstrated how Theories of Crime have been stuck to imputation conceptions unsuitable to the contemporary world. Starting from causal and finalism theories’ review and going through the objective imputation proposal, this study reaches the recently developed communicative theory of action. In this historical review it’s evidenced that it’s been a mistake to understand the HIV/AIDS transmission as homicide or grievous bodily harm, of any kind. Keywords: HIV/AIDS transmission. Treatment. Criminal law. Imputation. Theories of crime. Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Pesquisador do Grupo de Pesquisa Modernas Tendências do Sistema Criminal. Advogado e escritor. E-mail: [email protected]. * ** Graduada pela Universidade Federal do Paraná. Médica. E-mail: [email protected]. Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 145-184, jan./jun. 2012 145 1 ANTECÂMARA OPORTUNA Quando Marcellus pronuncia que “algo está podre no reino da Dinamarca” (Hamlet, 1.4.100)1, sua reação denuncia um seu desejo irrequieto de seguir Hamlet na confidência que terá com o fantasma de seu pai e, também, cumpre o papel de anunciar, sem explicitar, que algo trágico constitui a causa de todo enredo autofágico da corte dinamarquesa. Essa tragédia, ainda desconhecida, impõe ao leitor um mistério que só é resolvido no virar das páginas da peça. A decisão proferida pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 98.712-SP2 remete àquela sentença de Marcellus: comunica um juízo importante, porém não o deixa esclarecido. Ao debater sobre a tipicidade da transmissão da AIDS, os Ministros decidiram por definir um denominador comum (afastaram a ideia de tentativa de homicídio), sem definir a que tipificação deveria ser desclassificada a imputação do caso concreto, o que deveria ser definido pelo juiz de direito competente. Se os eventos na peça shakespeariana respondem ao desassossego primeiro de quem a lê, talvez as páginas deste estudo complementem o importante meio passo dado pela corte suprema ao assumir inédita interpretação sobre a questão da transmissão do HIV/AIDS. 2 O PRECEDENTE DO HABEAS CORPUS Nº 98.712-SP J. G. J. foi denunciado como incurso no art. 121, § 2º, inc. III, c/c o art. 14, inc. II (tentativa de homicídio qualificado), por duas vezes, e art. 121, caput, c/c o art. 14, inc. II (tentativa de homicídio simples), todos do Código Penal. Da peça acusatória extrai-se que, no ano de 2001, o acusado, ciente da doença que portava e com “manifesto ânimo homicida”, aproveitou que sua namorada D. R. A. dormia e com ela manteve relações sem preservativo; no ano seguinte, em novo relacionamento amoroso, o acusado novamente omitiu a doença e conseguiu convencer C. G. S. C. a abdicar de qualquer precaução; em 2006, a nova namorada A. G. S. O., sabedora da condição soropositiva do parceiro e sempre exigente quanto ao uso de preservativo, foi ameaçada e agredida pelo acusado, que tentava fazer sexo sem preservativo, o que a fez dele se desvencilhar e romper o SHAKESPEARE, William. The tragedy of Hamlet, prince of Denmark. New York, London: Simon & Schuster Paperbacks, 2009. p. 55. 1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 98.712-SP. Relator Min. Marco Aurélio. Primeira Turma. Julgamento: 05/10/2010. 2 146 FAE Centro Universitário relacionamento. A denúncia foi recebida ao final de 2008 e a sentença de pronúncia foi proferida seis meses mais tarde, com pleno acolhimento dos requerimentos ministeriais. Foram impetrados dois habeas corpus com pedidos de revogação da prisão preventiva e de desclassificação do delito para o tipo previsto no art. 131 (perigo de contágio de moléstia grave) do Código Penal. O Tribunal estadual denegou o primeiro e não conheceu do segundo. Na instância do Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Og Fernandes não concedeu a liminar requerida no HC nº 131.480-SP, sob o argumento de que o pleito alusivo à desclassificação do delito se confundia com o próprio mérito da impetração. Contra esse ato, foi impetrado o HC nº 98.712-SP perante o Supremo Tribunal Federal. Em seu voto, o Ministro Marco Aurélio concedeu parcialmente a ordem para imprimir a desclassificação do delito: “Descabe cogitar de tentativa de homicídio na espécie, porquanto há tipo específico considerada a imputação – perigo de contágio de moléstia grave.”3 Do debate entre os magistrados, percebeu-se certo incômodo do Ministro Ayres Britto em aceitar a desclassificação para o art. 131: O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO - Senhor Presidente, estou lendo aqui o 131 e, de fato, o eminente Relator entende que o delito tem uma previsão legal específica, que é o perigo de contágio de moléstia grave. Vou acompanhar Sua Excelência, embora fique um pouco inquieto com o fato de que, ao nível atual da medicina, a AIDS não é uma moléstia grave, é mais do que grave, é letal. A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - É, mas ela já tem tratamento. O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) - Já não tanto como foi no passado. [Resposta ao Min. Ayres Britto] O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI - A sífilis também e outras doenças venéreas, inclusive, podem causar a morte. O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) - A vontade consciente de levar à morte. Interessante que nos relacionamentos, que perduraram dois, três anos cada qual, ele sempre utilizou o preservativo, mas, se valendo de que a companheira estava dormindo, aí praticou sexo sem o preservativo. [...] O SENHOR SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA - Só uma questão de fato: esse assunto está para ser julgado lá na Suprema Corte, salvo engano, Americana, envolvendo uma tentativa de homicídio. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 98.712-SP. Relator Min. Marco Aurélio. Primeira Turma. Julgamento: 05/10/2010, p. 65. 3 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 145-184, jan./jun. 2012 147 O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO - Estou vendo aqui isso, como tentativa de homicídio. Vou pedir vista, Excelência, desse processo. Eu me reposiciono. O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) - Não é para aguardar a decisão da Suprema Corte Americana? O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO – Não é não. Avançarei meu ponto de vista. Estou confirmando aqui: nos países europeus também essa modalidade pode ser considerada tentativa de homicídio. O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Lá eles não têm o tipo específico que nós temos. O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO – É, nós temos um tipo. Em seu voto vista, o Ministro Ayres Britto acatou a desclassificação, porém sem aderir à proposta do Ministro Relator. Esclareceu: “Se me fosse dado desclassificar o delito, eu desclassificaria para ‘lesão corporal qualificada pela enfermidade incurável’”.4 O Ministro Ricardo Lewandowski acompanhou esse entendimento. Diante da controvérsia hermenêutica, o Ministro Marco Aurélio propôs um denominador comum quanto ao afastamento da tentativa de homicídio, deixando ao magistrado da vara criminal comum competente para o caso o julgamento definitivo quanto à correta tipificação. 3 AS INTERPRETAÇÕES JURISPRUDENCIAL E DOUTRINÁRIA A preocupação do Ministro Ayres Britto é compartilhada pela jurisprudência e pela doutrina brasileiras. Isso porque em nossa legislação inexiste figura delituosa que trate, exclusivamente, da transmissão – acidental ou não – do HIV/AIDS. Assim, tal como ocorre no Direito comparado – inventariado pelo Ministro –, os magistrados e doutrinadores comungam apenas na constatação de que se trata de dolo de dano (a vontade do agente visa a lesionar o bem jurídico tutelado)5, a divergirem, todavia, quanto à tipicidade adequada, BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 98.712-SP. Relator Min. Marco Aurélio. Primeira Turma. Julgamento: 05/10/2010., p. 83. Voto do Min. Ayres Britto. 4 Bitencourt parece dissentir neste ponto: “As circunstâncias fáticas, por vezes, apresentam singularidades de difícil solução, na medida em que, para a definição da conduta punível, é fundamental que se conheça o elemento subjetivo que a orientou. A vontade consciente do agente pode dirigir-se não a um resultado de dano, mas a um resultado de perigo, e, nesse caso, em vez de constituir homicídio, o crime assumirá outra conotação”. No entanto, adiante, ao tratar do crime de perigo de contágio de moléstia grave, dita que se está “diante de um crime de perigo com dolo de dano, que só se caracteriza quando o agente pratica a ação e quer transmitir a moléstia”. BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal 2. Parte especial: dos crimes contra a pessoa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 43-207. 5 148 FAE Centro Universitário evidenciando-se quatro categorias de imputabilidade distintas: homicídio, lesões corporais gravíssimas, perigo de contágio de moléstia grave ou perigo para a vida e a saúde de outrem. Em amostra de 28 julgamentos colhidos nos Tribunais de Justiça6, prevalece a concepção de que a transmissão de HIV/AIDS se enquadra na figura típica do homicídio tentado (42,87%). A isso, seguem decisões que entenderam semelhantes atos como Os acórdãos foram pesquisados nas bases de dados de jurisprudência de todos os Tribunais de Justiça do país. Foram selecionados somente aqueles que discutiram a adequação típica da transmissão do HIV/ AIDS. Entenderam constituir-se homicídio tentado os julgados: TJRS – Apelação Crime nº 70031589831, Rel. Marlene Landvoigt, data do julgamento: 31/05/2011; TJSP – Recurso em Sentido Estrito nº 000625364.2008.8.26.0150, Rel. José Raul Gavião de Almeida, data do julgamento: 24/06/2010; TJRS – Recurso em Sentido Estrito nº 70025708710, Rel. Jaime Piterman, data do julgamento: 20/08/2009; TJRS – Recurso em Sentido Estrito nº 70023063266, Rel. Jaime Piterman, data do julgamento: 16/10/2008; TJRS – Recurso em Sentido Estrito nº 70023063100, Rel. Jaime Piterman, data do julgamento: 16/10/2008; TJRS – Recurso em Sentido Estrito nº 70018855551, Rel. Vladimir Giacomuzzi, data do julgamento: 26/04/2007; TJSP – Apelação Criminal nº 9192926-79.2005.8.26.0000, Rel. Mário Devienne Ferraz, data do julgamento: 13/03/2007; TJSP – Apelação Criminal nº 9059892-42.2004.8.26.0000, Rel. Pereira da Silva, data do julgamento: 20/06/2006; TJSP – Recurso em Sentido Estrito nº 9190260-13.2002.8.26.0000, Rel. Nuevo Campos, data do julgamento: 12/01/2005; TJSP – Revisão Criminal nº 0058781-26.1997.8.26.0000, Rel. Luzia Galvão Lopes da Silva, data do julgamento: 14/09/2000 (Neste curioso caso, o réu foi condenado a dezesseis anos, seis meses e cinco dias de reclusão por ter “enterrado” a agulha de uma seringa hipodérmica com sangue contaminado na perna de uma criança e por ter beijado de maneira agressiva uma adolescente.); TJRS – Apelação Crime nº 70000012872, Rel. Marco Antônio Barbosa Leal, data do julgamento: 09/11/1999; TJRS – Recurso Crime nº 698485232, Rel. Marcelo Bandeira Pereira, data do julgamento: 17/12/1998. Por lesões corporais gravíssimas: TJSC – Apelação Criminal nº 2011.030246-5, Rel. Marli Mosimann Vargas, data do julgamento: 13/12/2011; TJRJ – Apelação Criminal nº 0001087-55.2006.8.19.0008, Rel. Marcia Perrini Bodart, data do julgamento: 14/12/2010; TJES – Apelação Criminal nº 48060126975, Rel. Catharina Maria Novaes Barcellos, data de julgamento: 13/10/2010; TJSP – Apelação nº 0011600-91.2005.8.26.0309, Rel. Teodomiro Méndez, data do julgamento: 23/08/2010; TJRS – Apelação Crime nº 70028856680, Rel. Elba Aparecida Nicolli Bastos, data do julgamento: 30/04/2009; TJSP – Apelação Criminal nº 008178359.2003.8.26.0050, Rel. Mário Devienne Ferraz, data do julgamento: 15/01/2008; TJMG – Apelação Criminal nº 1.0000.00.342300-1/000, Rel. José Antonino Baía Borges, data do julgamento: 30/10/2003. Por perigo de contágio de moléstia grave: TJSC – Apelação Criminal nº 2010.064575-7, Rel. Tulio Pinheiro, data do julgamento: 02/06/2011; TJRJ – Apelação Criminal nº 0001038-47.2002.8.19.0010 (2005.050.05627), Rel. Manoel Alberto, data do julgamento: 18/04/2006. Por perigo para a vida ou saúde de outrem: TJRJ – Apelação Criminal nº 0084256-58.2006.8.19.0001 (2007.050.06001), Rel. Ricardo Bustamante, data do julgamento: 18/03/2008; TJRJ – Apelação Criminal nº 0000124-05.2002.8.19.0035 (2005.050.00286), Rel. Sergio de Souza Verani, data do julgamento: 04/07/2006. Por homicídio culposo: TJSC – Apelação Criminal nº 2001.015338-6, Rel. Jânio Machado, data do julgamento: 13/10/2004; TJMS – Apelação Criminal nº 2001.000303-4, Rel. João Carlos Brandes Garcia, data do julgamento: 12/06/2002. Por lesões corporais seguidas de morte: TJRJ – Apelação Criminal nº 0000689-11.2006.8.19.0008 (2007.050.04105), Rel. Jose Augusto de Araujo Neto, data do julgamento: 19/02/2008. Por violência doméstica e familiar contra a mulher: TJDFT – Conflito de Competência nº 20110020097394CCP, Rel. João Timoteo de Oliveira, data do julgamento: 08/08/2011. Por crime impossível: TJSP – Apelação Criminal nº 9124012-94.2004.8.26.0000, Rel. Xavier de Souza, data do julgamento: 16/01/2008. Não foram encontrados acórdãos que enquadrassem a transmissão da doença como lesões corporais culposas ou como homicídio doloso consumado. Um acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo (Apelação Criminal n° 9192926-79.2005.8.26.0000, Rel. Mário Devienne Ferraz, data do julgamento: 01/12/2008.) também pôs em xeque a adequação típica como homicídio tentado; contudo, tal como a manifestação da Corte Suprema, não indicou a correta tipificação da conduta – motivo pelo qual este julgado não compôs a amostra analisada. Proferidos entre os anos de 1998 e 2011, nota-se maior concentração da discussão dessa questão entre os anos mais recentes (2006 a 2011). Os Tribunais de Justiça de São Paulo e do Rio Grande do Sul destacaram-se com oito decisões cada, seguidos pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (cinco casos) e de Santa Catarina (três casos). 6 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 145-184, jan./jun. 2012 149 lesões corporais gravíssimas (25%) e, na sequência decrescente de incidência, como perigo de contágio de moléstia grave, perigo para a vida e a saúde de outrem ou homicídio culposo (7,14% cada). Somente um julgado condenou o agente por lesões corporais seguidas de morte (3,57%). Único acórdão (3,57%) classificou a transmissão da doença como um ato de violência doméstica e familiar – com fulcro na disposição com o art. 5º da Lei nº 11.340/06.7 E uma decisão (3,57%) asseverou tratar-se de crime impossível um assombroso caso em que uma mulher infectada – cujo comportamento agressivo e descontrolado derivava de profunda dependência de drogas –, após irritar-se com o seu filho por ele ter esfregado uma barra de chocolate em seu carrinho, espancou-o e, cortando a si própria – pulsos, braços e abdômen –, encheu a mão em concha de sangue e tentou fazer com que o filho bebesse o sangue contaminado (fez o mesmo com sua mãe, esfregando sangue em suas roupas); não tendo ocorrido ingestão de sangue por qualquer das vítimas – e caso tivesse ocorrido, seria questionável a eficácia do meio –, o crime tornou-se impossível e assim foi reconhecido pelo órgão colegiado. A discórdia jurisprudencial se aproxima do dissenso doutrinário e até mesmo o reflete. Para Fernando Capez, trata-se de homicídio, tentado ou consumado, quando há dolo; se a transmissão do vírus é culposa, responde o agente pelo crime de lesão corporal culposa ou por homicídio culposo.8 Guilherme de Souza Nucci segue o mesmo entendimento.9 “Art. 5o Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: [...]”. 7 CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal; volume 2: parte especial - dos crimes contra a pessoa e dos crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos (arts. 121 a 212). 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 5-6, 165. 8 NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 576-578. 9 150 FAE Centro Universitário Parcela maior da doutrina (Bitencourt, Jesus, Delmanto, Mirabete, Pierangeli e Prado), contudo, posiciona-se de modo diverso: se identificada a intenção de morte, aplica-se o art. 121 (homicídio), em suas modalidades tentada ou consumada; se se intenta causar dano, defende-se a tipificação pelo art. 129, § 2º (lesão corporal gravíssima) e, ocorrendo óbito da vítima por causa da transmissão, pelo § 6º do mesmo artigo (lesão corporal seguida de morte); se a finalidade é transmitir a moléstia, tem-se o art. 131 (perigo de contágio de moléstia grave); por fim, se o agente atua culposamente, defendem esses doutrinadores que a ele deve ser imputado o art. 121, § 3º (se resulta morte) ou o art. 129, § 6º (se resulta lesão).10 Em artigo de destaque, publicado há exatos dez anos, Andrei Zenkner Schmidt demonstrou a equívoca comum abordagem da questão. Apesar de localizado na seção de Criminologia da Revista Brasileira de Ciências Criminais nº 37,11 seu estudo pode ser caracterizado como uma responsável revolução no modo de se operar a dogmática penal, fundamentalmente porque Schmidt reassumiu a análise de um injusto – que parecia consensualmente conformado – a partir da leitura da teoria da imputação objetiva. Em seu texto, o autor venceu as interpretações causal-finalistas, que influenciaram a redação de nosso Código Penal e se disseminaram nas penas doutrinárias por meio da teoria da equivalência dos antecedentes causais (conditio sine qua non),12 e, para a complexa realidade em que o Direito Penal se encontra inserido, propôs uma interpretação capaz de limitar a responsabilidade jurídico-penal já no setor do tipo de injusto objetivo, em caso de corrente causal anormal e consequências danosas atípicas. Suas inéditas conclusões demonstraram a necessidade de se apreciar se a conduta do imputado possui, per se, a potencialidade de ocasionar o resultado pretendido como certo (processo causal controlável pela vontade do agente). Depois desse artigo, reinou o silêncio doutrinário. 10 BITENCOURT, C. R. Tratado de direito penal; volume 2: parte especial - dos crimes contra a pessoa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 213; JESUS, Damásio E. Direito penal. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 161; DELMANTO, Celso et al. Código penal comentado. 7. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. p. 350, 390-391; MIRABETE, Julio Fabbrini. Código penal interpretado. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005. p. 1030; MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de direito penal. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2005. p. 65 e 126; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: parte especial (arts. 121 a 234). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 154; PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro; volume 2: parte especial arts. 121 a 183. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 171-173. Fernando Galvão não estabelece distinções entre as possíveis adequações típicas, porém defende a imputação de homicídio nos casos em que ocorrer a morte da vítima, mesmo que o evento tarde a ocorrer (GALVÃO, Fernando. Direito penal: parte geral. 4. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 342). SCHIMIDT, Andrei Zenkner. Aspectos jurídico-penais da transmissão da AIDS. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 10, n. 37, p. 209-234, jan./mar.2002. 11 12 “Art. 13 – O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido.” Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 145-184, jan./jun. 2012 151 4 A RESOLUÇÃO DO PROBLEMA POR MEIO DA AVALIAÇÃO DA ADEQUAÇÃO TÍPICA DA TRANSMISSÃO DO HIV/AIDS CONFORME AS TEORIAS DO INJUSTO PENAL Quando nos deparamos com o descompasso das interpretações jurisprudenciais e doutrinárias com a terapêutica contemporânea do HIV/AIDS, pensamos, primeiramente – e talvez influenciados por aquilo a que se detiveram os Ministros do Supremo Tribunal –, em analisar a questão sob o viés do conflito aparente de normas. No entanto, a hipótese de concorrência de variados tipos penais a um único e determinado fato delituoso pareceu-nos mais um vício de má compreensão do que exige um tipo para sua imputação a um evento, do que um aparente defeito sistêmico a ser solucionado pelos princípios do concurso aparente de tipos. De fato, entre as previsões típicas à nossa disposição – homicídio, lesões corporais gravíssimas ou perigo de contágio de moléstia grave –, não encontramos quaisquer relações de especialidade (em que o tipo especial derroga o geral por meio da relação entre continente e conteúdo: o tipo especial contém o tipo geral; este, porém, não contém aquele), de consunção (em que um tipo consome ou exaure o conteúdo proibitivo de outro) ou de subsidiariedade (quando há uma interferência por progressão, na qual a conduta típica mais avançada mantém subsidiárias as tipicidades das etapas anteriores).13 Da ideia de tratar o tema sob a teoria da norma penal, apresentou-se outra possibilidade: passamos a buscar uma solução na teoria do delito. Ao nos concentrarmos em avaliar a adequação típica da transmissão do HIV/AIDS, id est, o vínculo entre a conduta punível e o conteúdo normativo do tipo, mais especificadamente a partir dos conceitos de ação, das teorias da causalidade e das regras de imputação, permitiu-se a exposição da genealogia das variações teóricas sobre o conteúdo do injusto penal para demonstrar a inadequação do tratamento oferecido, revelando-se como os fundamentos imputadores encontram-se presos a estruturações dogmáticas já ultrapassadas. Para isso, foi necessário investigar a dimensão global da doença. 13 152 Os autores encontraram conflito aparente de normas somente entre o art. 131 (perigo de contágio de moléstia grave) e o art. 132 (perigo para a vida e a saúde de outrem), ambos do Código Penal. Esse conflito poderia ser facilmente resolvido pelo princípio da especialidade, cuja aplicação tornaria correta a tipificação pelo art. 131. Não incluímos essa discussão no corpo do texto porque somente dois acórdãos, que pensamos estarem absolutamente equivocados, decretaram condenações com fulcro no art. 132. FAE Centro Universitário 5 DIMENSÕES DA PANDEMIA Em 1981, foram publicadas as primeiras suspeitas de que uma nova enfermidade estaria surgindo. O Centers for Disease Control and Prevention (CDC), órgão norte-americano, publicou, naquele ano, a descrição de cinco casos de pneumonia por Pneumocystis carinii ou pneumocistose entre homens homossexuais em Los Angeles,14 doença conhecida atualmente como oportunista, ou seja, que somente se desenvolve em situações de baixa imunidade. Após curto período, novos casos de doenças oportunistas ameaçadoras à vida, e uma neoplasia, o Sarcoma de Kaposi15 (doença já conhecida na época, entretanto infrequente),16 foram relatados. A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), durante seus primeiros relatos, recebeu pouca atenção por parte da mídia, dos órgãos políticos e do público em geral, como indica a denominação usual de praga gay, utilizada por muitos naquela época.17 A preocupação, e até mesmo o pânico, começou a aumentar ao final de 198218 com a identificação da doença entre usuários de drogas injetáveis de ambos os sexos e, na sequência, em receptores de transfusões sanguíneas e hemofílicos, indicando seu possível modo de transmissão por meio de algum micro-organismo: pelo contato sexual (homo ou heterossexual) e pelo sangue ou hemoderivados.19 CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION. Pneumocystis pneumonia – Los Angeles, Morbidity and Mortality Weekly Report, Atlanta, GA, n. 30, p. 1-3, 1981. 15 Id. Kaposi’s sarcoma and Pneumocystis pneumonia among homosexual men – New York City and California, Morbidity and Mortality Weekly Report, Atlanta, GA,, n. 30, p. 305-308, 1981. 16 Id. AIDS: the early years and CDC’s response Morbidity and Mortality Weekly Report, Atlanta, GA,, n. 60, supl., p. 64-69, 2011. 17 Ibid, p. 64-69. Susan Sontag analisou, à época, as razões pelas quais praga se tornou a principal metáfora para a compreensão da epidemia de AIDS. Primeiro, há o elemento de que a praga, invariavelmente, vem de outro lugar: a epidemia de sífilis do final do século XV, por exemplo, era alcunhada de french pox pelos ingleses, de morbus germanicus pelos parisienses, de moléstia de Nápoles pelos florentinos, de doença chinesa pelos japoneses. Com relação à epidemia de AIDS, isto também foi absolutamente inquestionável: ela surgira no continente negro. No entanto, há mais do que um mero exercício de chauvinismo nessas reações. Há uma relação entre a projeção da doença e a projeção do outro (estrangeiro), há aquela arquetípica concepção do errado como algo que nos é externo, forasteiro, alienígena: hostis eoriaênc. É inegável o temor que a poluição do outro, sua corrupção física e moral, pode nos contaminar. Em segundo plano, mas não menos importante, há também a característica de que a praga é sempre associada a julgamentos sociais, em especial quando portam configurações venéreas e contagiosas. Desde que a saúde reuniu em si a representação da virtude, da pureza religiosa e do valor mercantil, a doença, como seu oposto, passou a representar o vício, a corrupção moral e a transgressão do normal. Se a lepra, a peste negra e a sífilis foram interpretadas, por muitos, como vingança de um deus justiceiro, a epidemia da AIDS, para outros muitos, veio a calhar como freio a uma geração que se aventurara em novas experiências pelo sexo livre, pelo uso de entorpecentes e pela negação das expectativas e estruturas sociais. Para mais, vide SONTAG, Susan. Illness as metaphor & AIDS and its metaphor. New York: Anchor Books, Doubleday, 1990. p. 135-136, 142-143. 18 CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION. AIDS, op. cit., p. 64-69. 19 KASPER, Dennis L. et al. Harrison medicina interna. 16. ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 2006. p. 1130-1196. 14 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 145-184, jan./jun. 2012 153 Em 1983, foi isolado e descrito o vírus da imunodeficiência humana (HIV) pelos pesquisadores Barre-Sinoussi, Montagnier e seus colegas do Instituto Pasteur francês,20 premiados em 2008 com o Prêmio Nobel de Medicina.21 A descoberta foi confirmada por Gallo e colaboradores, em 1984.22 Após 1985, com a aprovação pelo U.S. Food and Drug Administration (FDA) de um teste sensível para o diagnóstico da doença (ELISA – ensaio de imunoabsorção ligada à enzima),23 começaram a ser delineadas as dimensões da evolução da epidemia do HIV, a qual atualmente possui proporções pandêmicas. A AIDS é, pois, uma doença infectocontagiosa causada pelo vírus HIV (formado por RNA, por isso denominado também retrovírus), o qual se apresenta em dois tipos: 1 e 2, sendo o mais prevalente no mundo o tipo 1.24 Ao penetrar no organismo pelas diversas vias de transmissão (sexual, parenteral – sangue e hemoderivados –, vertical – mãe para filho durante a gestação/o parto – e por meio do leite materno), causa, ao longo do tempo, grave disfunção imunológica pela destruição dos linfócitos T CD4+ (células-chaves do sistema imunológico humano), cuja quantificação é utilizada também como principal marcador da evolução da doença.25 A história natural da infecção pelo HIV-1 apresenta três fases distintas: infecção primária ou aguda pelo HIV-1 (pode surgir semanas após a infecção inicial, com sintomas variados e autolimitados que podem se assemelhar a um quadro gripal); fase assintomática ou de latência clínica (na qual há queda lenta e progressiva da contagem dos linfócitos T CD4+, com duração variável); e doença sintomática (na qual a AIDS é a manifestação mais BARRE-SINOUSSI, F. et al. Isolation of a T-lymphotropic retrovirus from a patient at risk for acquired immune deficiency syndrome (AIDS), Science, n. 220, p. 868-871, 1983. 20 The NOBEL Prize in Physiology or Medicine 2008. Disponível em: <http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/ medicine/laureates/2008/>. Acesso em: 20 nov. 2011. 21 GALLO, R. C. et al. Frequent detection and isolation of cytopathic retroviruses (HTLV-III) from patients with AIDS and at risk for AIDS, Science, n. 224, p. 500-503, 1984. 22 US FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. HIV/AIDS historical time line 1981-1990. Disponível em: <http://www.fda.gov/ForConsumers/ByAudience/ForPatientAdvocates/HIVandAIDSActivities/ucm151074. htm>. Acesso em: 21 nov. 2011. 23 24 KASPER, D. L. et al. Harrison medicina interna, op. cit. p. 1130-1196. O diagnóstico da infecção é realizado com a detecção dos anticorpos anti-HIV após a exposição ao vírus. Os exames de triagem utilizados no Brasil são aqueles denominados ELISA e os exames confirmatórios utilizados são a Imunofluorescência indireta, o Imunoblot e o Western blot (BRASIL. Secretaria de Vigilância em Saúde. Programa Nacional de DST e AIDS. Recomendações para terapia anti-retroviral em adultos infectados pelo HIV. 7. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2008.). Já para o diagnóstico de um caso de AIDS, são utilizados critérios que analisam a contagem de linfócitos T CD4+ e a presença de doenças denominadas definidoras de AIDS, conforme os critérios do CDC adaptado ou do Rio de Janeiro/Caracas, detalhados no Guia de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde (BRASIL. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Guia de vigilância epidemiológica. 7. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2009). 25 154 FAE Centro Universitário grave da imunodepressão; definida por diversos sinais e sintomas, como diarreia crônica, perda considerável de peso, sudorese noturna, fraqueza generalizada, aumento do tamanho de linfonodos, uma variada gama de doenças oportunistas – tuberculose, pneumonia por Pneumocistis carinii, toxoplasmose cerebral, candidíase oral/esofágica, meningite criptocócica, entre outras – e tumores – sarcoma de Kaposi e linfomas não Hodgkin).26 A transmissão do vírus pode ocorrer em todas as fases (inclusive durante a chamada janela imunológica, na qual ainda não são detectáveis os anticorpos anti-HIV), porém é superior durante os primeiros meses da infecção (maior risco), nos últimos meses próximos ao falecimento e quando associada a doenças ulcerosas sexualmente transmissíveis.27 Uma metanálise de 43 publicações a respeito de 25 populações distintas demonstrou uma taxa média de transmissão do vírus de 0,04% (da mulher para o homem), 0,08% (do homem para a mulher) por coito vaginal em países desenvolvidos (em países subdesenvolvidos as taxas foram maiores: 0,38% e 0,30%, respectivamente), e 1,7% por coito anal receptivo entre heterossexuais.28 A partir da última atualização da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Programa das Nações Unidas em HIV/AIDS (UNAIDS)29, podemos ter ideia das proporções da pandemia. Estima-se que havia aproximadamente 33,4 milhões de pessoas vivendo com HIV em 2008 (31,3 milhões de adultos: 50,16% mulheres), número 20% superior ao do ano 2000 e três vezes superior ao de 1990. A África Subsaariana revelou-se a região mais atingida, responsável por 71% (1,9 milhões) de novos infectcados para aquele ano. Segundo os mesmos dados, a América Latina possuiu em torno de 1,6 milhões de pessoas infectadas, sendo 170.000 o número de casos novos (incidência) em 2008, mantendo sua epidemia estável, com um percentual regional de portadores de HIV de 0,6% (prevalência). 26 BRASIL. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Doenças infecciosas e parasitárias: guia de bolso. 6. ed. rev. Brasília: Ministério da Saúde, 2005. p. 41-51; BRASIL. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de DST, AIDS e hepatites virais. Protocolo de assistência farmacêutica em DST/HIV/Aids: recomendações do Grupo de Trabalho de Assistência Farmacêutica. Brasília: Ministério da Saúde, 2010. WAWER, M. J . et al. Rates of HIV-1 transmission per coital act, by stage of HIV-1 infection, in Rakai, Uganda. The Journal of Infectious Diseases, Cary. NC, n. 191, p. 1403-1409, 2005; BOILY, M. C.. et al. Heterosexual risk of HIV-1 infection per sexual act: systematic review and meta-analysis of observational studies [Review]. Lancet Infect Dis, n. 9, p. 118-129, 2009. 27 BOILY, M. C. et al. Heterosexual risk of HIV-1 infection per sexual act, op. cit. p. 118-129. 28 JOINT UNITED NATIONS PROGRAMME ON HIV/AIDS (UNAIDS) AND WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). AIDS epidemic update: November 2009. Geneva: UNAIDS, 2009. 29 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 145-184, jan./jun. 2012 155 No Brasil, segundo dados do último Boletim Epidemiológico publicado pelo Ministério da Saúde em 2010,30 a infecção pelo HIV prevalece na população com faixa etária entre 15 e 49 anos (0,4% entre mulheres e 0,8% entre os homens). Quando analisamos a população considerada de maior risco para a aquisição da doença, encontram-se prevalências mais elevadas em relação à população em geral: 5,9% em usuários de drogas ilícitas, 10,5% em homossexuais masculinos e 5,1% em mulheres que se prostituem. Segundo a mesma fonte de dados, foram identificados 592.914 casos de AIDS de 1980 a 2010, sendo destes, 58% concentrados na região sudeste e 19,5% na região sul, seguidos pelas regiões nordeste (12,5%), centro-oeste (5,7%) e norte (4,2%). Quando realizamos a proporção, notamos que a prevalência da AIDS no Brasil é de 20,1 casos/100.000 habitantes, sendo liderado, desta vez, pela região sul (32,4 casos) e seguida pela região sudeste (20,4 casos).31 Quanto à proporção entre os gêneros, existem ainda mais casos de AIDS no sexo masculino, porém, nota-se uma queda dessa ao longo dos anos, a qual permanece estável desde 2002 em 1,5:1. A exposição sexual prevalece com a principal forma de aquisição da doença em ambos os sexos (em indivíduos com 13 anos ou mais). No sexo masculino, 63,6% dos contágios relacionam-se a esta, sendo distribuídos em heterossexuais (31,2%), homossexuais (20,6%) e bissexuais (11,8%). No sexo feminino, os casos de AIDS estão relacionados majoritariamente (91,2%) à categoria de exposição heterossexual. Observa-se também uma tendência ao aumento da escolaridade entre os indivíduos notificados no país, sendo que 30% possuem de 8 a 11 anos de estudo e 25,1% possuem de 4 a 7 anos de estudo. 6 A IMPUTAÇÃO CONFORME A PROPOSTA DO CAUSALISMO NATURALISTA A transmissão da AIDS não foi uma preocupação dos juristas do final do século XIX – o temor à sífilis e à correspondente figura das femmes fatales pôde tê-lo sido, conforme BRASIL. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de DST, AIDS e hepatites virais. Boletim epidemiológico: AIDS e DST. Brasília, v. 7, n. 1, jan./jun. 2010. 30 Esses dados foram obtidos a partir da notificação compulsória dos casos de AIDS e das gestantes infectadas pelo HIV utilizando o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), o Sistema de Controle de Exames Laboratoriais (SISCEL) e o Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (SICLOM). Devemos ter em mente, entretanto, que os dados de portadores do vírus são subestimados, uma vez que a notificação compulsória pelos profissionais da saúde se dá apenas nos casos de AIDS (ou seja, fase avançada da doença) e em gestantes portadoras de HIV (bem como em seus recém-natos, os quais poderão ou não, adquirir a doença). 31 156 FAE Centro Universitário testemunham as novelas vampirescas do período. Porém, a questão seria facilmente resolvida por eles se se valessem da teoria, a eles contemporânea, do causalismo. Formatada pela estrutura científica positivista, o conceito de ação delitiva era ontológico, naturalista e causal, puramente objetivo-descritivo, alheio a valorações filosóficas, psicológicas e sociológicas. A ação era compreendida, então, como o movimento corpóreo voluntário32 (causa) capaz de produzir uma modificação perceptível no meio externo (resultado). Esse conceito causal de ação, tomado de empréstimo das ciências da natureza e de suas interpretações mecanicistas,33 adequou as circunstâncias abstratas caracterizadoras do delito às expectativas de objetividade e neutralidade do dogma causal. Do mesmo modo, a relação de causalidade formava-se na explicação do delito como um acontecimento natural: como um fenômeno das ciências naturais, o crime podia ser apreendido cognitivamente pela causalidade objetiva (no exame da tipicidade) e subjetiva (no exame de culpabilidade).34 Assim, se uma pessoa transmitisse a outra o vírus HIV e esta falecesse em decorrência da baixa imunidade provocada pela AIDS, aquele agente responderia por homicídio. Elementar! Contudo: e se a segunda pessoa já fosse portadora do vírus? E se o agente transmissor não tivesse conhecimento de que estava contaminado? E se quem transmitiu o vírus o tivesse feito como vítima de um crime sexual, evento em que não haveria a realização de movimento corpóreo voluntário seu e do qual resultasse a contaminação e posterior morte do agressor? Por fim, seriam punidos aqueles transmissores anteriores e equivalentes que não poderiam ser excluídos do extenso nexo causal sem levarem consigo o resultado, num regressus ad infinitum? Ainda que possa ter contribuído para a construção “A voluntariedade, nessa elaboração, restou concebida como mera capacidade de estímulo muscular” (GALVÃO, F. Direito penal, op. cit., p. 176). 32 Paulo César Busato explica a influência cartesiana no discurso jurídico-penal da época: “Particularmente no campo do Direito Penal, a insatisfação científica do positivismo com os conceitos meramente formais e materiais de delito, levou à formulação de um conceito analítico, próprio do caráter científico das ciências naturais, cujos contornos pretendeu-se dar ao direito. Na teoria geral do delito, Von Liszt acolheu a formulação de Ihering, estabelecida no campo do Direito Civil, de uma antijuridicidade absolutamente objetiva. Percebeu-se, então, a necessidade de distribuir o injusto entre, de um lado, um processo causal externo (objetivo), e de outro, o conteúdo da vontade interna (subjetiva). Também no que pertine ao método, de acordo com a influência do pensamento científico da época, adotou-se a perspectiva analítica de divisão do objeto de estudo em partes distintas e cujo decifrar permitiria in thesis a melhor compreensão do todo. Resultou indubitável que o estudo do delito não podia ficar restrito a uma consideração unitária e que aspectos didáticos também apontam no sentido do estudo individual dos elementos que o compõem” (BUSATO, Paulo César. Direito penal e ação significativa: uma análise da função negativa do conceito de ação em direito penal a partir da filosofia da linguagem. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 3). 33 GALVÃO, F. Direito penal, op. cit., p. 178. 34 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 145-184, jan./jun. 2012 157 de um conceito classificatório e dicotômico35 do delito, exigindo-se o complemento da ação com suas qualidades (tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade) – o que permitiu, pelo menos, identificar o momento a partir do qual se inicia a análise do delito (quando concorresse a causa de um resultado) –, a interpretação causal-naturalista não pôde resolver questionamentos diversos que lhe foram propostos. Antes de ingressar na discussão que sucedeu a essa proposta, é fundamental compreender a revolução pela qual passou a terapêutica da AIDS. 7 A DOENÇA E A SUA REVOLUÇÃO TERAPÊUTICA Antes da introdução de um tratamento eficaz, o contágio pelo HIV era considerado inevitavelmente fatal, estimando-se em dez anos o tempo médio entre o contágio e o aparecimento da AIDS.36 No ano de 1987, o FDA aprovou o primeiro medicamento que seria usado para o tratamento da AIDS: a zidovudina (mais conhecida como AZT),37 a qual, utilizada isoladamente, não alcançou os resultados esperados, principalmente devido à resistência viral e ao acúmulo de mutações. Atualmente, infelizmente, ainda não foi conseguida a cura da doença; porém, conseguiu-se maior controle com a combinação de classes diferentes de medicamentos antirretrovirais (os conhecidos coquetéis da AIDS). Com a aprovação da Lei nº 9.313, em 13 de novembro de 1996, garantiu-se acesso universal e gratuito ao tratamento antirretroviral no Brasil, bem como, ao longo do tempo, acesso da população aos exames de monitoramento laboratorial da infecção pelo HIV e aos insumos e às ações de prevenção. Atualmente, cerca de 197.000 pacientes estão em tratamento com os 19 antirretrovirais, pertencentes às três classes de medicamentos disponíveis, distribuídos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).38 35 “Estabeleciam-se divisões claramente dicotômicas, formais, selecionando, de um lado, os aspectos objetivos do delito (tipo e antijuridicidade) e, de outro lado, os aspectos subjetivos (culpabilidade); de um lado, os aspectos valorativos (antijuridicidade) e, de outro, os meramente descritivos (tipicidade e culpabilidade)” (BUSATO, Paulo César. Modernas teorias do delito: funcionalismo, significado e garantismo. In: ____. Reflexões sobre o sistema penal do nosso tempo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 182.). BRASIL. Programa Nacional de DST e AIDS. Recomendações para Terapia Anti-retroviral em adultos infectados pelo HIV, op. cit. 36 US FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. HIV/AIDS historical time line 1981-1990, op. cit. 37 BRASIL. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de DST, AIDS e hepatites virais. Protocolo de assistência farmacêutica em DST/HIV/Aids, op. cit. 38 158 FAE Centro Universitário A história natural da síndrome foi alterada dramaticamente após a introdução da terapêutica antirretroviral de alta potência (Highly Active Antiretroviral Therapy (HAART), a qual consiste em uma combinação de pelo menos três medicamentos), revolucionando o manejo clínico dos pacientes39 e resultando em diminuição do número total de óbitos no Brasil de 1980 a 2004 – ano este em que o coeficiente estabilizou, tornando-se de 6,2 óbitos por 100.000 habitantes, em 2009.40 Aqui, há algo fundamental: vários estudos em diversos países (desenvolvidos e subdesenvolvidos) são unânimes em afirmar a diminuição da morbidade e da mortalidade nos pacientes portadores do vírus após a introdução da HAART,41 a qual depende de ótima adesão ao tratamento (superior a 95%),42 início precoce,43 além da administração dos medicamentos profiláticos para algumas infecções oportunistas iniciada de acordo com Ibid. BRASIL. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de DST, AIDS e hepatites virais. Boletim epidemiológico, loc. cit. 39 40 KRENTZ, H. B.; KIEWER, G.; GILL, M. J. Changing mortality rates and causes of death for HIV-infected individuals living in Southern Alberta, Canada from 1984 to 2003. HIV Medicine, n. 6, p. 99-106, 2005; JAIN, M. K.; SKIEST, D. J.; CLOUD, J. W. et al. Changes in mortality related to human immunodeficiency virus infection: comparative analysis of inpatient deaths in 1995 and in 1999-2000. Clinical Infectious Diseases, n. 36, p. 1030-1038, 2003; MOCROFT, Aet al. Changing patterns of mortality across Europe in patients infected with HIV-1. The Lancet, n. 352, p. 1725-1730, 1998; PALELLA JR, F.J. et al. Declining morbidity and mortality among patients with advanced Human Immunodeficiency Virus infection. New England Journal of Medicine, n. 338, p. 853-860, 1998; LIMA, V. D. et al. Continued improvement in survival among HIV-infected individuals with newer forms of highly active antiretroviral therapy. AIDS, n. 21, p. 685-692, 2007; CRUM, N. Fet al. Comparisons of causes of death and mortality rates among HIV-infected persons: analysis of the pre-, early, and late HAART (Highly Active Antiretroviral Therapy) eras. J Acquir Immune Defic Syndr, n. 41, p. 194-200, 2006; STERNE, J. A. C.; et al. Long-term effectiveness of potent antiretroviral therapy in preventing AIDS and death: a prospective cohort study. The Lancet, n. 366, p. 378-384, 2005; JENSEN-FANGEL, SC. et al. Low mortality in HIV-infected patients starting highly active antiretroviral therapy: a comparison with the general population. AIDS, n. 18, p. 89-97, 2004; BHASKARAN, K. et al. Changes in the risk of death after HIV seroconversion compared with mortality in the general population. JAMA, n. 300 (1), p. 51-59, 2008; MARTÍNEZ, E. et al. Incidence and causes of death in HIV-infected persons receiving highly active antiretroviral therapy compared with estimates for the general population of similar age and from the same geographical area. HIV Medicine, n. 8, p. 251-258, 2007; MZILENE, M. O.; LONGO-MBENZA, B.; CHEPHE, T. J. Mortality and causes of death in HIV-positive patients receiving antiretroviral therapy at Tshepang Clinic in Doctor George Mukhari Hospital. Pol Arch Med Wewn, n. 118 (10), p. 548-554, 2008; KOHLI, R.;. et al. Mortality in an urban cohort of HIV-infected and at-risk drug users in the era of highly active antiretroviral therapy. Clinical Infectious Diseases, n. 41, p. 864-872, 2005; PALELLA, F. J.; et al. Mortality in the highly active antiretroviral therapy era: changing causes of death and disease in the HIV outpatient study. J Acquir Immune Defic Syndr, n. 43, p. 27-34, 2006; YANG, C. H. et al. Trends of mortality and causes of death among HIV-infected patients in Taiwan, 1984-2005. HIV Medicine, n. 9, p. 535-543, 2008. 42 BRASIL. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de DST, AIDS e hepatites virais. Protocolo de assistência farmacêutica em DST/HIV/Aids, op. cit. 43 JENSEN-FANGEL, S. et al. Low mortality in HIV-infected patients starting highly active antiretroviral therapy, op. cit.; THE ANTIRETROVIRAL THERAPY COHORT COLLABORATION. Mortality of HIV-infected patients starting potent antiretroviral therapy: comparison with the general population in nine industrialized countries. International Journal of Epidemiology, n. 38, p. 1624-1633, 2009; MZILENE, M. O.; LONGO-MBENZA, B.; CHEPHE, T. J. Mortality and causes of death in HIV-positive patients receiving antiretroviral therapy... op. cit. 41 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 145-184, jan./jun. 2012 159 o nível da imunodepressão. Um estudo realizado nos Estados Unidos encontrou redução de 80% na mortalidade de 1990 a 2003, além de diminuição significativa dos óbitos por doenças oportunistas e aumento da proporção de óbitos não relacionados ao HIV-1.44 O estudo CASCADE, realizado em vários países da Europa, além do Canadá e da Austrália, evidenciou uma diminuição de 94% no excesso de mortalidade quando comparada à era pré-HAART (anterior a 1996) e à era pós-HAART (2004-2006); a maior taxa de mortalidade ocorreu nos pacientes em que o uso de drogas injetáveis foi o modo de transmissão do vírus45 (sendo considerável parcela daquela atribuída à coinfecção pelos vírus das hepatites B/C e à maior incidência de mortes acidentais46), quando comparado à população em geral. A expectativa de vida dos portadores do vírus ainda permanece inferior à da população em geral, porém houve aumento considerável em vários trabalhos analisados,47 sendo comparável inclusive com a de pacientes portadores de doenças crônicas – como diabetes mellitus insulino-dependente48 e portadores de câncer que obtiveram sucesso em seus tratamentos49 –, sendo encontrados inclusive pacientes que faleceram por variadas causas sem sequer atingirem o estágio AIDS.50 Em um estudo realizado em 14 centros na Europa e na América do Norte, realizado pela The Antiretroviral Therapy Cohort Collaboration, CRUM, N. F. et al. Comparisons of causes of death and mortality rates among HIV-infected persons, op. cit. 44 BHASKARAN, K. et al. Changes in the risk of death after HIV seroconversion compared with mortality in the general population, op. cit. No mesmo sentido: MARTÍNEZ, E. et al. Incidence and causes of death in HIV-infected persons…, op. cit.; THE ANTIRETROVIRAL THERAPY COHORT COLLABORATION. Mortality of HIV-infected patients starting potent antiretroviral therapy, op. cit. p. 1624-1633; KOHLI, R.; LO, Y.; HOWARD, A. A. et al. Mortality in an urban cohort of HIV-infected and at-risk drug users in the era of highly active antiretroviral therapy, op. cit.; KRENTZ, H. B.; KIEWER, G.; GILL, M. J. Changing mortality rates and causes of death for HIV-infected individuals…, op. cit.; THE ANTIRETROVIRAL THERAPY COHORT COLLABORATION. Life expectancy of individuals on combination antiretroviral therapy in high-income countries: a collaborative analysis of 14 cohort studies. The Lancet, n. 372 (9635), p. 293-299, jul. 2008; VAN-SIGHEM, A.;. et al. Mortality in patients with successful initial response to highly active antiretroviral therapy is still higher than in non-HIV-infected individuals. J Acquir Immune Defic Syndr, n. 40, p. 212-218, 2005; PALELLA, F. J. et al. Mortality in the highly active antiretroviral therapy era, op. cit., p. 27-34. 45 YANG, C. H. et al. Trends of mortality and causes of death…, op. cit. 46 THE ANTIRETROVIRAL THERAPY COHORT COLLABORATION. Life expectancy of individuals on combination antiretroviral therapy in high-income countries, op. cit., p. 293-299; LIMA, V. D. et al. Continued improvement in survival among HIV-infected individuals…, op. cit.; MILLS, E. J. et al. Life expectancy of persons receiving combination antiretroviral therapy in low-income countries: a cohort analysis from Uganda. Ann Intern Med, n. 155, p. 209-216, 2011; MAY, M. et al. Impact of late diagnosis and treatment on life expectancy in people with HIV-1: UK Collaborative HIV Cohort (UK CHIC) Study. BMJ, n. 343:d6016, 2011. 47 JENSEN-FANGEL, S.;. et al. Low mortality in HIV-infected patients… op. cit. 48 JAGGY, C. et al. Mortality in the Swiss HIV Cohort Study (SHCS) and the Swiss general population. The Lancet, n. 362, p. 877-878, 2003. 49 LEWDEN, C.; SALMON, D.; MORLAT, P. Causes of death among human immunodeficiency virus (HIV)infected adults in the era of potent antiretroviral therapy: emerging role of hepatitis and cancers, persistent role of AIDS. International Journal of Epidemiology, n. 34, p. 121-130, 2005. 50 160 FAE Centro Universitário mostrou-se um aumento da expectativa de vida aos exatos 20 anos de idade de 36,1 para 49,5 anos (1996 vs. 2005), o que significa em torno de dois terços da expectativa da população em geral para aquelas regiões. Importante lembrarmos também que a incidência de usuários de drogas e de tabagistas é superior em pacientes portadores do HIV-1 quando comparados à população em geral.51 As causas de óbito também se modificaram na era pós-HAART, evidenciando-se diminuição dos óbitos relacionados ao HIV-1 e aumento dos óbitos não relacionados à doença de base (neoplasias – linfoma Hodgkin e pulmonar –, hepatites virais – B e C –, falência hepática, doença cardiovascular, diabetes mellitus, morte acidental, doença renal, sepse).52 Com fundamento nessas pesquisas e com os avanços tecnológicos que constantemente ocorrem, não há mais como se considerar a infecção pelo HIV como uma doença letal, porém, sim, como uma doença crônico-degenerativa que permite o envelhecimento da população, a qual demanda, além do manejo da sua doença de base (apoio à adesão, manejo dos variados efeitos colaterais das medicações, profilaxias, orientação sexual), a devida atenção para com a prevenção e detecção precoce de neoplasias relacionadas ou não ao HIV, a avaliação e o cuidado com o risco cardiovascular, o planejamento familiar (o direito reprodutivo está garantido a todos pela Constituição da República53), bem como, e de suma importância, a melhoria da qualidade de vida dos pacientes infectados. 51 KRENTZ, H. B.; KIEWER, G.; GILL, M. J. Changing mortality rates and causes of death…, op. cit.; GREEN, T. C. et al. Patterns of drug use and abuse among aging adults with and without HIV: a latent class analysis of a US Veteran cohort. Drug Alcohol Depend, v. 110, n. 3, p. 208-220, aug. 2010. LEWDEN, C.; SALMON, D.; MORLAT, P. Causes of death among human immunodeficiency virus (HIV)infected adults in the era of potent antiretroviral therapy, op. cit.; KRENTZ, H. B.; KIEWER, G.; GILL, M. J. Changing mortality rates and causes of death…, op. cit.; JAIN, M. K.; SKIEST, D. J.; CLOUD, J. W. et al. Changes in mortality related to human immunodeficiency virus infection, op. cit.; PACHECO, A. G.; TUBOI, S. H.; FAULHABER, J. C.; HARRISON, L. H.; SCHECHTER, M. Increase in non-AIDS related conditions as causes of death among HIV-infected individuals in the HAART era in Brazil. PLoS ONE, v. 3, n. 1:e1531, 2008; CRUM, N. F.; RIFFENBURGH, R. H.; WEGNER, S. et al. Comparisons of causes of death and mortality rates among HIV-infected persons, op. cit.; MARTÍNEZ, E.; MILINKOVIC, A.; BUIRA, E. et al. Incidence and causes of death in HIV-infected persons..., op. cit.; PALELLA, F. J.; BAKER, R. K.; MOORMAN, A. C. et al. Mortality in the highly active antiretroviral therapy era, op. cit.; YANG, C. H.; HUANG, Y. F.; HSIAO, C. F. et al. Trends of mortality and causes of death... op cit. 52 53 BRASIL. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de DST, AIDS e hepatites virais. Protocolo de assistência farmacêutica em DST/HIV/Aids... Op. cit. Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 145-184, jan./jun. 2012 161 8 A IMPUTAÇÃO CONFORME A PROPOSTA DO FINALISMO A revisão da compreensão causal coube à teoria finalista da ação, a qual teve como principal expoente Hans Welzel (primeiramente proposta no artigo Kausalität und Handlung, publicado em 1931) e foi enriquecida por diversos outros importantes doutrinadores, tais como Reinhart Maurach, Günther Stratenwerth e Armin Kaufmann.54 Welzel destacou-se pela defesa de estruturas lógico-objetivas pré-jurídicas, derivadas da natureza das coisas e representadas por dados ontológicos fundamentais, as quais deveriam limitar o legislador, ao normatizar as ações, e a ciência penal, ao interpretar o seu objeto.55 Para ele, a causalidade era cega. A ação humana seria, pois, um exercício de atividade final: o homem é capaz de prever, dentro de certos limites, as possíveis consequências de sua atividade; por isso, pode ele traçar fins diversos e dirigir suas atividades, conforme seus planos, para a obtenção daqueles fins. A ação, pois, “não é só conduzida por uma vontade qualquer, mas uma vontade específica, dirigida a um objetivo previamente considerado pelo homem”.56 Essa interpretação permitiu o rearranjo do conteúdo do sistema do crime, deslocando o dolo e a culpa – anteriormente sediados na culpabilidade –, para o tipo penal. Afinal, se a ação final é sempre ação voluntária que contém uma finalidade, os elementos psicológicos dolo57 e culpa não poderiam estar compreendidos em outro local senão no próprio tipo. Essa transposição formatou três tipos gerais de delito: delitos dolosos, bipartidos em tipo objetivo (a manifestação exterior de vontade) e tipo subjetivo (dolo – como elemento subjetivo geral – e tendências, atributos do autor, motivos do agir); delitos BUSATO, P. C. Direito penal e ação significativa, op. cit., p. 13. 54 Exemplificação feita pelo próprio Welzel: “nenhuma norma, nem moral nem jurídica, pode preceituar às mulheres que dêem à luz filhos viáveis aos seis meses, ao invés de nove, como tampouco podem proibir a um aviador que se precipita ao solo que ultrapasse os trinta quilômetros por hora” (WELZEL, Hans. Introducción a la filosofía del dferecho apud BUSATO, P. C. Modernas teorias do delito: funcionalismo, significado e garantismo, op. cit. p. 184). Sobre essa nova abordagem de Welzel, vide também ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A ilusão de segurança jurídica: do controle da violência à violência do controle penal. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003. p. 147-148. 55 BUSATO, P. C. Direito penal e ação significativa, op. cit. p. 16. Na sequência (p. 17), lê-se: “O finalismo parte da consideração que o homem é geralmente capaz de prever, dentro de certos limites, as consequências de suas ações e assim, também é capaz de conduzir sua atuação externa a fins previamente concebidos. Toma como expressão natural da ação o movimento corpóreo, a relação de causa e efeito mecânica, mas dota de conteúdo a vontade, que deixa de ser mera voluntariedade para consistir em uma consciência voltada a um objetivo”. 56 Finalidade e dolo não se confundem: a finalidade que orienta a ação é extraída do sentido natural, sem a necessária atribuição de valor jurídico; o dolo nasce da identificação da conduta juridicamente proibida e se constitui na valoração do legislador sobre a vontade natural. 57 162 FAE Centro Universitário culposos, no qual há uma ação contrária às normas de cuidado, sem que haja vontade de realização; e delitos omissivos, caracterizados pela infração ao dever de agir ou de impedir o resultado proibido. Se o sentido do comportamento é determinado pelo resultado produzido pela conduta tal como pela finalidade (direção da vontade) que a orienta, a nova relação de causalidade se estabelece sobre a capacidade de previsão das consequências de uma intervenção no curso causal (a vontade consciente do fim) e a direção do acontecer causal rumo àquele objetivo. Por isso, pôde-se sustentar que a direção final de uma ação realiza-se em duas fases: subjetiva, na esfera intelectiva, caracterizada pela antecipação mental do fim pretendido, seleção dos meios adequados para tanto e consideração dos efeitos; e objetiva, no mundo real, resumida à execução material da ação com os meios e formas previstos. No que importa à imputação delitiva da transmissão do HIV, as interpretações jurisprudencial e doutrinária pátrias, conforme visto no item 3, seguem esse método geral de compreensão do injusto: se identificada a intenção de morte, imputa-se à conduta o crime de homicídio; se se intenta causar dano, vislumbra-se o delito de lesão corporal gravíssima e, em ocorrendo óbito da vítima por causa da transmissão, lesão corporal seguida de morte; se a finalidade é transmitir a moléstia, tipifica-se a ação pelo perigo de contágio de moléstia grave; se o agente atua culposamente, defendem esses doutrinadores que a ele deve ser imputado o homicídio ou a lesão corporal, em suas modalidades culposas. Porém, conforme retratado acima, no atual estágio da terapêutica da AIDS, em que a doença transfigurou-se de letal a crônica, se uma pessoa transmite a outra o vírus, com finalidade e dolo de morte, cabe àquela a imputação de homicídio, sendo-lhe impossível garantir o curso causal conforme previsto e planejado? A execução material em conformidade com o fim pretendido pode ser sustentada pela baixa probabilidade média da transmissão do vírus (item 5)? Se efetivamente contaminada, qual a correta imputação da conduta do autor para a hipótese de a vítima recusar o tratamento médico adequado? Em outra ponta, é cabível a imputação culposa, se o resultado (morte) se estende indefinidamente e pode ser evitado com o uso de medicamentos? No julgamento do Habeas Corpus nº 98.712-SP, os Ministros acordaram em afastar o crime de homicídio para a adequação típica. E, ao fazerem isso, iniciaram o primeiro passo para superar o conceito finalista do injusto penal. Se não o concluíram, se mantiveram a passada suspensa, foi porque aquela conclusão talvez bastasse à decisão do Habeas Corpus, ou porque a escolha da correta adequação típica demandaria o ingresso vertical nas teorias do crime mais contemporâneas. Se não o fizeram, fazemos nós. Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 145-184, jan./jun. 2012 163 9 A IMPUTAÇÃO CONFORME A PROPOSTA DO FUNCIONALISMO A incapacidade das teorias causalistas e finalistas em responder a algumas questões que se apresentaram resultou na reestruturação da teoria do delito, substituindo-se a primazia da ação pelo da tipicidade como eixo do sistema.58 Afinal, padeceram ambas na coincidência de se apoiarem no conceito ontológico de ação. E padeceram também por terem estruturado sistemas extremamente formalistas e classificatórios. O dogmatismo exacerbado proporcionou conflitos entre os fundamentos de aplicação do sistema penal e os fins da pena, uma vez que o injusto se formava na mera realização da norma e na sua contrariedade ao ordenamento, o que permitia a punição de condutas que não representavam a criação ou o incremento de risco a um bem jurídico penalmente relevante.59 Por essa razão, Claus Roxin, na década de 1970,60 anunciou que [q]uase todas as teorias do delito que se deram até a data são sistema de elementos, isto é, desintegram a conduta delituosa numa pluralidade de características concretas (objetivas, subjetivas, normativas, descritivas, etc.) que se incluem nos diferentes graus da estrutura do delito e que se reúnem, deste modo, como mosaico para a formação do fato punível.61 Sua crítica voltou-se ao abuso do formalismo e, por efeito, ao divórcio entre a dogmática penal (aprisionada à lógica sistêmica do dever ser) com a realidade social. Contra isso, propôs a reformulação do conceito de delito e de seus componentes essenciais (tipicidade, ilicitude, culpabilidade) a partir das respectivas funções político-criminais.62 Sua importante contribuição foi a de aliviar a dogmática penal de suas aporias teóricas, reduzindo-lhe as contradições com a política criminal, a partir do seu enfoque sistêmicofuncional: a configuração do Direito Penal não resumido mais a um sistema de imputação cujo único objetivo consistia em enquadrar o fato no sistema, porém, sim, uma construção afinada às missões que a ele se atribuíam ou que se pretendiam que fossem alcançadas.63 Ou seja, repensar as categorias do delito sob a perspectiva de suas respectivas funções político-criminais.64 Afinal, escreveu Roxin, BUSATO, P. C. Modernas teorias do delito: funcionalismo, significado e garantismo, op. cit., p. 189. 58 Ibid, p. 190. 59 “Claus Roxin estabeleceu as bases do que hoje se pode denominar de sistema funcionalista ou sistema racionalfinal em palestra proferida no dia 13 de maio de 1970, em Berlim, cujo teor foi posteriormente publicado no livro Política criminal e sistema jurídico-penal” (GALVÃO, Fernando. Direito penal, op. cit. p. 193.). 60 ROXIN, Claus apud ANDRADE, V. R. P. de. A ilusão de segurança jurídica, op. cit. p. 151. 61 Num sentido semelhante, Knut Amelung afirmou que a função da teoria do injusto não seria a de identificar condutas proibidas, porém aquelas condutas merecedoras de penas (apud TAVARES, Juarez. Teoria do injusto penal. Belo Horizonte: Del Rey, 2000. p. 155). 62 BUSATO, P. C. Modernas teorias do delito: funcionalismo, significado e garantismo, op. cit. p. 191. 63 Idem. Direito penal e ação significativa, op. cit. p. 80. 64 164 FAE Centro Universitário [o] Direito penal é muito mais a forma, através da qual as finalidades político-criminais podem ser transferidas para o modo da vigência jurídica. Se a teoria do delito for construída neste sentido, teleologicamente, cairão por terra todas as críticas que se dirigem contra a dogmática abstrata-conceitual, herdada dos tempos positivistas.65 Essa sua concepção foi alcunhada de funcionalismo teleológico. De acordo com esse perfil funcionalista, o tipo cumpre uma função delimitadora negativa da intervenção jurídico-penal, a tipicidade penal já não se configura como simples adequação do fato à previsão típica e a antijuridicidade assume a função de resolução de conflito entre os interesses sociais e interesses individuais (superando, pois, a noção de contrariedade entre o ordenamento e a ação finalisticamente realizada, sem causa de justificação).66 O outro perfil da corrente funcionalista foi chamado de funcionalismo sistêmico e encontrou em Günther Jakobs o seu grande expoente. Para Jakobs, o tipo de injusto “seria representado pelo conjunto de caracteres que assinalam legalmente a intolerabilidade social de determinada atividade, que só pode ser descartada com a incidência de uma norma permissiva.”67 Fundamentado na concepção de Niklas Luhmann do direito como instrumento de estabilização social, garantidor do cumprimento de expectativas, Jakobs desenvolveu sua teoria da prevenção-integração pela qual atribuiu à pena a função imediata (manifesta) de assegurar a própria manutenção da identidade social, por meio da proteção da vigência da norma.68 A proteção dos bens jurídicos persiste; porém, como resultado mediato.69 Imediatamente, a missão do direito penal torna-se a manutenção da estrutura básica da sociedade, em sua concepção autopoiética.70 No plano sociológico, sua doutrina não foi inédita: Luigi Ferrajoli assinalou que a teoria sistêmica de Jakobs nada acrescentou à teoria de deviance de Èmile Durkheim, quem já havia concebido a pena como um fator de estabilização social, reafirmando os sentimentos coletivos e solidificando a solidariedade contra os desviantes;71 no mesmo ROXIN, Claus. Política criminal e sistema jurídico-penal. Tradução de Luís Greco. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. p. 82. 65 Id. Ibid. p. 30; BUSATO, P. C. Modernas teorias do delito: funcionalismo, significado e garantismo, op. cit. p. 193. 66 TAVARES, J. Teoria do injusto penal, op. cit. p. 145. 67 JAKOBS, Günther. Sociedade, norma e pessoa: teoria de um direito funcional. Tradução de Maurício Antonio Ribeiro Lopes. Barueri: Manole, 2003. p. 3-4. (Coleção Estudos de Direito Penal). 68 DIP, Ricardo; MORAES JR., Volney Corrêa Leite de. Crime e castigo: reflexões politicamente incorretas. Campinas: Millennium, 2002. p. 51. 69 70 BUSATO, P. C. Direito penal e ação significativa, op. cit. p. 167. FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. Tradução de Ana Paula Zomer, Fauzi Hassan Choukr, Juarez Tavares e Luiz Flávio Gomes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 222. 71 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 145-184, jan./jun. 2012 165 sentido, Juarez Cirino dos Santos nos recorda de que Hegel já havia descrito, dois séculos antes, o “crime como negação do direito e [a] pena como negação da negação”, ou seja, como reafirmação do direito;72 Manuel Cancio Meliá lembra que a fundamentação sociológica de Jakobs quanto à finalidade da pena em muito se aproxima à concepção de Francesco Carrara.73 O fato de não se constituir uma novidade teórica não representou, contudo, motivo para preocupação tais quais outros fatores. As críticas à doutrina jakobsiana enfrentam sua defesa de um direito penal radicalmente funcionalizado para a prevenção geral positiva. Luigi Ferrajoli já mostrou que doutrinas como a de Jakobs confundem direito com moral ao promoverem o conformismo das condutas e ao conferirem às penas funções de integração social por meio do reforço geral da fidelidade ao Estado.74 E nessa confusão sistêmica – coesão do sistema político-social –, despercebida pelos autores funcionalistas radicais, corroem-se seus fundamentos teóricos. As críticas enfrentam também a tendência de um tal discurso conduzir o sistema jurídico-penal a legitimar e se submeter a um Estado total, em descompasso com ao almejado modelo democrático defendido, majoritariamente, pelos Estados de hoje. Muñoz Conde já alertou: com o entendimento da pena como prevenção integradora pretende-se, em última instância, alcançar um consenso da maioria que, como a experiência histórica demonstra, pode desembocar em claro processo de facistização social, que o indivíduo desaparece devorado por essa máquina terrível que é o leviatã estatal.75 Anos mais tarde, essa tendência se transformou em evidência, quando Jakobs, ao argumentar pelo direito penal do inimigo, buscou fundamentação dos discursos de Jean-Jacques Rousseau, cujas intenções contrarrevolucionárias levaram-no ao rascunho de um contrato social total.76 SANTOS, Juarez Cirino dos. Teoria da pena: fundamentos políticos e aplicação judicial. Curitiba: ICPC; Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 4-5. 72 “O fim da pena não é que se faça justiça; nem que o ofendido seja vingado; nem que seja ressarcido o dano por ele sofrido; nem que o delinqüente expie seu delito; nem que se obtenha sua correção. Todas essas coisas – adverte Carrara, na mesma linha que agora Jakobs – podem ser conseqüências acessórias da pena e podem ser, algumas delas, desejadas; mas, a pena seria também incriticável ainda que faltassem todos esses resultados. O fim primário da pena seria, melhor, o restabelecimento da ordem externa da sociedade” (PEÑARANDA RAMOS, Enrique; SUÁREZ GONZÁLEZ, Carlos; CANCIO MELIÁ, Manuel. Un nuevo sistema del derecho penal: consideraciones sobre la teoría de la imputación de Günther Jakobs. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, Centro de Investigaciones de Derecho Penal y Filosofia del Derecho, 1999. p. 31-33). 74 FERRAJOLI, L. Direito e razão, op. cit. p. 221. 75 MUÑOZ CONDE, Francisco. Direito penal e controle social. Tradução de Cíntia Toledo Miranda Chaves. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 28-29. 73 FRANÇA, Leandro Ayres. Inimigo ou a inconveniência de existir. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. p. 188-204. 76 166 FAE Centro Universitário Dispensados, porém, alguns excessos da proposta funcionalista, é inegável que o sistema valorativo-funcional defendido por seus autores parece bem atender às demandas contemporâneas, em especial pelo seu compromisso com a prática da justiça social e pelo seu dinamismo em atendê-la conforme suas reformulações. Esta reorientação científica refletiu-se na teoria da imputação objetiva. 10 A TEORIA DA IMPUTAÇÃO OBJETIVA De forma simples, pode-se definir a imputação objetiva como a vinculação entre a conduta de uma determinada pessoa e a violação da norma jurídica, no plano estritamente objetivo.77 A preocupação quanto a ela é antiga, tendo já Platão e Aristóteles trabalhado com o viés filosófico desta questão. No entanto, sua introdução nas discussões jurídicopenais deveu-se a Karl Larenz, quem, em 1926, reassumiu o tema na sua dissertação que aproximou a imputação na teoria de Georg W. F. Hegel do Direito Penal. E o seu maior desenvolvimento científico verificou-se no campo doutrinário que, derrocando a ideia de realidades ontológicas absolutas, concentrou-se em submeter a dogmática penal a parâmetros normativos de valoração político-criminal: o funcionalismo. A teoria que dela nasceu, em suas peculiares vertentes,78 não pretendeu impor um conceito jurídico de imputação sobre o conhecido conceito natural da causalidade; porém, seus teóricos acrescentaram a esta critérios limitadores,79 i.e., a teoria da imputação objetiva configurou-se como o reforço normativo da atribuição de um resultado penalmente relevante a uma conduta.80 Isso porque a mera relação de causalidade material não satisfaz plenamente todos os requisitos objetivos do tipo incriminador. A legitimidade da adequação típica exige que a imputação GALVÃO, F. Direito penal, op. cit. p. 269. 77 Os variados aspectos da imputação objetiva, defendidos por muitos e diferentes autores, “não faz deles um conglomerado arbitrário de perspectivas heterogêneas de solução de problemas, eis que tais critérios dizem, em seu conjunto, que características deve ter o vínculo entre o comportamento e o resultado, para que se esteja diante de uma ação de matar, lesionar ou danificar que realize o tipo objetivo” (ROXIN, Claus. Estudos de direito penal. 2. ed. Tradução de Luís Greco. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 130-131.). E prossegue: “Estes pontos de vista, que ainda poderiam ser complementados por outros, não resultam do acaso, mas fundam-se nos princípios político-criminais de uma proteção de bens jurídicos dentro dos limites do estado de direito, que é aquilo para que serve o nosso direito penal” (p. 131.). 78 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral, 1. 17. ed. rev., ampl. e atual. de acordo com a Lei n. 12.550, de 2011. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 320. 79 Id. Ibid. p. 320. 80 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 145-184, jan./jun. 2012 167 objetiva seja enriquecida com considerações explicitamente normativas, de modo a selecionar, na realidade material, apenas o que possa interessar ao direito penal.81 Essa é a razão de se formular a imputação objetiva em dois requisitos: a relação causal de uma conduta com seu resultado (primeira exigência, referente ao juízo de desvalor de ação) e a verificação da relevância jurídica dessa relação causal material (segunda exigência, referente ao juízo de desvalor de resultado). No que toca a essa relevância jurídica, é importante destacar que ela é o produto de uma operação restritiva da incidência proibitiva:82 não é a ideia de attributio como a ação de dar ou de distribuir uma responsabilidade, como a etimologia de atribuição confere; as melhores propostas teóricas da imputação objetiva comungam no estabelecimento de requisitos para o exercício de uma imputatìo mais limitado, preciso e adequado. Roxin, destacado autor nessa construção teórica, prescreveu três requisitos básicos: (i) a criação ou a majoração de um risco jurídico-penal relevante, não coberto pelo risco permitido; (ii) a realização desse risco proibido no resultado; (iii) o ingresso desse resultado no âmbito de proteção da norma penal. A partir dos dois primeiros, podem ser extraídos os seguintes critérios negativos de imputação: a) Atuação dentro dos limites do risco permitido:83 se o agente atua dentro das balizas do risco socialmente tolerado, não se legitima a imputação objetiva. A exclusão da imputação decorre da inexistência de desvalor da conduta do autor. Se, ao contrário, a conduta do agente cria ou incrementa a probabilidade de ocorrência do resultado, extrapolando os limites do risco permitido para a situação concreta, a imputação torna-se legítima. Aqui se insere a discussão quanto aos princípios da adequação social e da confiança: o primeiro permite que condutas que se movem nos limites da ordem ético-social, ainda que formalmente se enquadrem na previsão típica, não se subsumam a ela; o segundo prevê que as pessoas organizam suas atividades sobre o pressuposto de que todos atuam de maneira adequada ou expectada, o que é bastante evidente na dinâmica do trânsito de automóveis, na divisão do trabalho e na ação dolosa de terceiro. b) Diminuição de um risco não permitido: na hipótese de um acidente com várias vítimas no qual uma delas, ciente de possuir o vírus HIV, realiza procedimentos de GALVÃO, F. Direito penal, op. cit. p. 272. 81 TAVARES, J. Teoria do injusto penal, op. cit. p. 222-223. O risco permitido deriva de uma situação de perigo relevante ao bem jurídico que, de modo geral e independentemente do caso concreto, é socialmente tolerado. A permissão decorre do reconhecimento de que a proibição traria consequências desvantajosas à sociedade; tomem-se estes exemplos de atividades sociais que se realizam sobre riscos permitidos: trânsito motorizado, produção industrial, operações financeiras, prática de esportes radicais, intervenções médicas, pesquisas científicas. 82 83 168 FAE Centro Universitário salvamento de outros feridos, o que acarreta em vários contatos sanguíneos, não lhe pode ser imputado qualquer delito. Aqui, porém, exige-se a avaliação razoável do caso concreto, pois não poderia invocar este critério o agente que, após ter transmitido a doença a outrem, tenha verificado ter-lhe preservado a vida, quando a vítima, v.g., ao ser impedido de ingressar nas Forças Armadas em razão da doença evitou também ser convocado à guerra. c) Alteração de risco existente: a mera modificação do risco permitido existente não constitui comportamento penalmente relevante que justifique a imputação. Se, por razões lícitas e bem intencionadas, um médico sugere a seu paciente que realize a cirurgia eletiva no hospital X em vez de no hospital Y e a intervenção cirúrgica do hospital X contamina o paciente, não pode ser também imputada ao médico a transmissão do HIV. d) Consentimento do ofendido: o consentimento pode ocorrer na dispensa do uso de preservativo por alguém que sabe que o seu parceiro sexual porta o vírus HIV. Em geral, admite-se que a concordância do titular do bem jurídico com a conduta ilícita que lhe atinge impede a imputação objetiva. No entanto, exige-se que o bem lhe seja disponível (na tradição paternalista do Direito Penal, a vida, e.g., permanece indisponível) ou que, na ponderação dos bens em conflito, sacrifique-se o bem de menor valor.84 e) Autocolocação em perigo: enquanto no consentimento o perigo decorre da conduta de terceiro, na autocolocação em perigo é a própria vítima quem exerce o domínio sobre a produção de lesão ao bem jurídico. É o caso do compartilhamento de seringas para uso de drogas ou das festas de barebacking.85 Entendemos serem atípicas essas condutas. Assim, arrolados os mais importantes critérios negativos de imputação, se um agente atua fora dos limites do risco permitido e cria ou incrementa um risco não permitido, tal como o caso de J. G. J., réu do processo que iniciou este estudo, resta apenas verificar em que âmbito de proteção da norma penal ingressa o resultado a que deu causa. Sem a pretensão de repetir os argumentos já apresentados por Schmidt, em seu artigo,86 é válido 84 GALVÃO, F. Direito penal, op. cit. p. 318-319, 323. 85 Bareback é uma expressão inglesa que descreve o ato de montar um cavalo sem sela. O termo foi emprestado para representar a escolha consciente e deliberada de dispensar o uso de preservativos para a penetração sexual. Ganhou destaque na indústria pornográfica de filmes gays e nas ofertas de serviços de prostituição como fator distinto e ousado. Também foi ungido com uma carga lendária: há relatos de festas em que os convidados, ansiosos por maior prazer combinado com adrenalina dos riscos, fazem sexo com vários parceiros e sem preservativos, em que “os organizadores convidam portadores de HIV que não são identificados para os outros participantes” (COUTINHO, Leonardo. A roleta-russa da AIDS: nas festas do chamado barebacking, o risco de contrair a doença ajuda a aumentar o prazer. Veja, n. 1.767, 04 set. 2002). A sugestão desses comportamentos autodestrutivos, no entanto, revela ser menos uma constatação sanitária real do que fruto de percepções estereotipadas e preconceituosas das relações homossexuais. 86 SCHIMIDT, A. Z. Aspectos jurídico-penais da transmissão da AIDS, op. cit. p. 221. Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 145-184, jan./jun. 2012 169 apontar os critérios de Johannes Wessels com os quais aquele autor trabalhou para resolver a imputação típica ao agente que transmite o HIV/AIDS: a dominabilidade do acontecer causal e a previsibilidade objetiva e evitabilidade do resultado típico. 11 O DOMÍNIO DA AÇÃO PELO AUTOR A etimologia latina do termo auctor traz a peculiaridade de demandar a esse agente um complemento de ação: autor é quem gera, origina, faz nascer, funda, causa, inventa, compõe, produz, pratica.87 Não por outra razão escreveu Zaffaroni que autor é uma expressão relacional e que requisita um complemento (autor de quê?).88 Essa indissociação torna impensável um autor (em alemão, Täter) sem seu ato (Tat), o que nos conduz a uma conjectura óbvia de que não se pode falar em autoria se o autor não tiver o domínio da ação (Tatherrschaft). Assim, se a dominância constitui pressuposto objetivo de uma autoria, somente nos é admissível imputar a alguém uma ação dolosa quando lhe for possível o governo (Herrschaft) de um curso causal suscetível de ser orientado até “a mutação mais ou menos determinada do mundo físico”.89 A previsibilidade, ainda que seja condição inerente ao deliberado governo do curso causal, é insuficiente para cumprir plenamente o controle de eventos capazes de produzir o resultado desejado: aquele que deseja a morte de outrem e traça o plano mental de que poderá concretizar seu intento transmitindo HIV/AIDS à eventual vítima cumpre com a previsibilidade natural de sua deliberação, porém não tem a si garantido o domínio do curso causal para o fim desejado. Não nos adiantemos, porém. Já vislumbramos que a integridade da tipicidade objetiva (adequação da conduta ao tipo penal) depende, pois, de um sujeito que dispõe da possibilidade objetiva de dominar o fato.90 Todavia, é necessária uma compreensão mais vertical dessa questão, que pode ser executada a partir do resgate de quatro regras que equacionam o domínio da ação:91 1ª Nos cursos causais que, no estado das ciências e das tecnologias disponíveis, não podem ser dominados por iniciativa humana, o dolo pode ser excluído – sendo HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss de língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. 87 ZAFFARONI, Eugénio Raul et al. Direito penal brasileiro: teoria do delito: introdução histórica e metodológica, ação e tipicidade. Rio de Janeiro: Revan, 2010. v. 2, p. 252. 88 Id. Ibid. p. 251. 89 Id. Ibid. p. 253. 90 Id. Ibid. p. 253-257. 91 170 FAE Centro Universitário desnecessária a sua apreciação no tipo subjetivo –, pois não se apresenta, no próprio tipo objetivo, uma direção causal capaz de ser governada pelo autor. À hipótese, acima citada, do agente que pretende matar outrem pela transmissão de HIV/AIDS, não cabe a adequação típica como crime de homicídio, pela impossibilidade daquele em garantir o curso causal conforme previsto e planejado, em um contexto terapêutico que transformou a doença em uma enfermidade crônica, não mais fatal. A imputação por homicídio também se exclui quando a pessoa contaminada recusa o tratamento médico adequado, porque aqui já há uma interrupção do nexo de causalidade iniciado pelo autor (art. 13, § 1º, do Código Penal92) ou, como preferem os funcionalistas, há um desvio essencial. Vamos um passo além: tampouco caberia a imputação por lesões corporais gravíssimas a quem tenciona ofender a integridade física de outro com enfermidade incurável (AIDS), uma vez que, conforme provam as pesquisas referidas no item 5, a probabilidade média de transmissão do vírus encontra-se abaixo de 2% em caso de coito anal receptivo entre heterossexuais e não ultrapassa 0,4% nos casos de coito vaginal. A reduzida incidência compromete o requisito de domínio do curso causal da ação pretendida. 2ª Quando o autor reúne as condições de conhecimento e de adestramento especiais necessárias para assumir o domínio do fato, o curso causal torna-se dominável pelo agente. Conforme essa regra, o médico ou o técnico hematologista que, ciente de que uma determinada bolsa de sangue se encontra contaminada, resolve transfundir seu conteúdo a um desafeto, em quantidade suficiente que aumente significativamente a probabilidade da infecção, pode ser responsabilizado por lesões corporais gravíssimas – aqui, tampouco se trata de homicídio – se, em decorrência dessa operação, a vítima desenvolver a enfermidade crônica da AIDS. Perceba-se a distinção entre essa hipótese (maior domínio do ato) e os casos que chegam aos tribunais, nos quais as contaminações decorrem de relações amorosas. 3ª Quando os meios são notoriamente inadequados para a obtenção dos fins com eles perseguidos, não há que se falar em domínio da ação. Diferentemente dos regramentos anteriores que trataram de causalidades não domináveis por qualquer agente ou daquelas que exigem conhecimento ou talento específico para seu domínio, esse terceiro preceito especifica a ausência de dominância decorrente da seleção de meios inidôneos para se “Art. 13 - O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. 92 Superveniência de causa independente § 1º - A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado; os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou.” Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 145-184, jan./jun. 2012 171 alcançar o resultado. Para não incidir nas envelhecidas exemplificações daqueles que rogam pragas e feitiços às suas vítimas, retomemos aquele caso julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em que uma mãe, em momento de delírio por abstinência ou uso de entorpecente, cortou-se, colheu o próprio sangue e forçou seu filho a tomá-lo, com a intenção de matá-lo. Já bem sabemos que o dolo homicida, ou mesmo o dolo lesivo, seria tipicamente inadequado pela impossibilidade de a agente dominar o fato que considerava certo; mas, nem mesmo se o dolo fosse colocar em perigo a saúde do filho (perigo de contágio de moléstia grave), não poderia se reconhecer a tipicidade objetiva de tal conduta pela grosseira inconsequência entre meio e fim. A conclusão não seria diferente, na hipótese de uma mulher contaminada com AIDS que, talvez inspirada na personagem de Hera Venenosa (Poison Ivy), distribui beijos nos lábios de seus amantes com a intenção de lhes transmitir essa enfermidade. 4ª A impossibilidade de imputação objetiva de um delito doloso por falta de dominância do fato não impede a possibilidade de tipicidade culposa do ato. Não por outra razão, passamos a analisar o elemento da capacidade de previsibilidade do resultado. 12A PREVISIBILIDADE DO RESULTADO A PARTIR DE STANDARDS SOCIAIS MÍNIMOS Se, de uma determinada ação, subtrairmos do agente o dolo, porém lhe preservarmos o domínio do fato, teremos a configuração de culpa temerária: uma percepção de criação de um perigo proibido tão vigorosa que a exterioridade da conduta do autor pode representar um plano criminal dirigido a um resultado predeterminado – o que somente não se confirma em análise subjetiva, vez que a culpa, como “programação defeituosa da causalidade por não responder ao cuidado devido”, apenas pode ser demonstrada quando se conhece a finalidade da previsão que acabou por causar o resultado.93 Se, de outra ação, subtrairmos do agente o dolo e também o domínio do fato, deparar-nos-emos com a hipótese de culpa simples (não temerária), consciente ou inconsciente. Culpa essa que já não mais corresponde, dogmaticamente, a um descompasso entre a previsibilidade e a causalidade, mas sim à violação do dever de cuidado, a qual faz nascer um perigo proibido.94 Assim, enquanto para a imputação dolosa se exigia o domínio do curso causal pelo autor, a imputação culposa demanda a análise da capacidade ZAFFARONI, E. R. et al. Direito penal brasileiro, op. cit. p. 323-325. 93 Id. Ibid. p. 325. 94 172 FAE Centro Universitário individual de previsão do resultado a partir standards mínimos empiricamente verificáveis de padrões sociais de prudência. Anteriormente, já descartamos a possibilidade de tipificar como homicídio doloso a conduta de transmitir o HIV, ainda que se alegasse o ânimo de assassínio. A imputação culposa tampouco prospera pela mesma razão de que se depende de um resultado (morte) cuja imprevisibilidade estende-se cronológica e indefinidamente, e pode ser evitável com o uso de medicamentos. Sobre a possibilidade de imputação por lesões corporais culposas, se o que nos interessa ponderar é a capacidade individual de previsão a partir standards mínimos de prudência, a possibilidade de uma tal imputação depende da coleção de elementos que o caso concreto pode fornecer ao terceiro observador-julgador. Parecia-nos acertada a proposta de que a um homem infectado que desconhecesse sua condição, apesar de sua vida “desregrada” lhe sugerir a possibilidade de soropositividade, poderia ser imputada culpa simples na transmissão do HIV.95 Como trataríamos, porém, o caso da cantora alemã Nadja Benaissa,96 se ele tivesse ocorrido em terras brasileiras? Se levado em conta o seu histórico profissional, tem-se uma jovem de 28 anos, que foi membro de uma importante banda pop europeia (No Angels) por uma década, tendo largado o grupo musical, entre outras relevantes razões, para dar mais atenção à filha. Se os bastidores de sua vida é o que nos interessa, Nadja será descrita como uma filha de imigrantes (pai marroquino, mãe sérvio-germânica), que perdeu a virgindade aos quatorze anos, fez uso de maconha, ecstasy, cocaína e crack durante sua adolescência, e, nesse mesmo período, engravidou. As duas descrições referem-se à mesma pessoa, quem até hoje desconhece de quem contraiu HIV (a AIDS ainda não se desenvolveu nela) e quem foi condenada por ter mantido relações sexuais com três homens, sabendo-se portadora do vírus, sem nada ter-lhes dito (reserva mental que é criminalizada na Alemanha). Somos levados a crer que à primeira descrição não haveria imputação; e que ao “desregramento” da segunda, a imputação culposa bem calharia. Por isso, é importante ressaltar a necessidade de extrema cautela para que não se desenvolva uma interpretação exclusivamente baseada no histórico e no comportamento do autor, sob pena de se preterir o fato injusto. Há outro caso que se adéqua à possibilidade de imputação por lesões corporais culposas: aquele de ocupantes de cargos diretivos ou de autoridades públicas que autorizam SCHIMIDT, A. Z. Aspectos jurídico-penais da transmissão da AIDS, op. cit. p. 231. 95 BOOTH, Hannah. “I knew I was HIV positive”: but Nadja Benaissa didn’t tell the men she slept with: and in Germany – where she was a member of the country’s most successful girl band – that is a crime: Hannah Booth on a very public downfall. The Guardian. 19 mar. 2011. 96 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 145-184, jan./jun. 2012 173 o uso de sangue que sabem – ou têm suficientes condições de o saber – contaminado. Em 1985, autoridades do governo francês, com o objetivo de formar um estoque autossuficiente e independente do mercado internacional (relata-se forte relutância em importar sangue de outros países, em especial dos Estados Unidos), descuidaram com a não adoção das melhores tecnologias de tratamento sanguíneo (razões de ordem econômica e de animosidade profissional) e com a seleção dos doadores (as autoridades incluíram a população carcerária, grupo social considerado de alto risco no que toca à probabilidade de contaminação por HIV). No mesmo período, escândalos de igual natureza – liberação de sangue contaminado – foram noticiados no Japão, no Canadá e nos Estados Unidos. Da década de 1990, relata-se o grave precedente de venda de sangue da província de Henan, na China: autoridades do governo chinês implantaram centros comerciais de coleta de sangue nessa região rural, os quais pagavam os agricultores por suas doações; com o fracionamento do sangue, coletava-se o plasma e o restante do conteúdo era reinjetado no doador, através de equipamento único. A epidemia de AIDS na região alcançou a casa das centenas de milhares em poucos anos e as autoridades pouco fizeram a esse respeito – ironicamente, uma das razões mais importantes dessa campanha do governo chinês foi o temor do sangue estrangeiro, no momento em que se revelavam casos de contaminação em todo o mundo. Com essas medidas, buscava-se um lucrativo empreendimento comercial e a proteção do sangue chinês da praga que vinha do exterior (vide nota 19). Questiona-se, caso burocratas ou autoridades públicas brasileiros adotem semelhante conduta de autorizar o uso de sangue contaminado ou que nada ou pouco façam a respeito quando tenham notícia da transmissão de enfermidade a inúmeras vítimas, se a imputação mais correta seria a de lesões corporais culposas. Ao que indicam os argumentos aqui traçados, somente a análise da capacidade individual e, também incluímos, funcional de previsão poderia imputar objetivamente esse crime ao autor da conduta. Inaplicável, por sua vez, qualquer imputação objetiva culposa por perigo de contágio de moléstia grave para quem, sem o devido cuidado, contamina outra pessoa, uma vez que inexiste sua previsão da forma culposa. 13 A TEORIA DA AÇÃO SIGNIFICATIVA A partir da ideia de humanização na reformulação do sistema de imputação, o professor Tomás Salvador Vives Antón recentemente propôs a estruturação da ação e da norma a partir de um inédito viés: o significado. Inspirado em duas revolucionárias orientações filosóficas – a filosofia da linguagem de Ludwig Wittgenstein e a teoria da ação comunicativa de Jürgen Habermas –, o seu conceito significativo de ação merece nossa 174 FAE Centro Universitário atenção porque é única a sua proposta metodológica. A superar o suporte cartesiano da tradicional dogmática penal, o qual reuniu no conceito de ação um fato físico (o movimento do corpo) e um mental (a vontade), a metodologia proposta por Vives Antón ocupa-se, em primeiro plano, da interpretação (de ordem social) e, em segundo plano, da intenção subjetiva (individual), o que destaca a dimensão social da atuação humana: a ação não é o que o autor faz (substrato), mas sim o significado do que ele faz (sentido).97 Para elucidar essa distinção, tome-se o exemplo trazido por Paulo César Busato, responsável por transportar a proposta da ação significativa às discussões dogmáticas latino-americanas, do indivíduo que estende a mão para cima: enquanto isso pode caracterizar mero movimento físico, o mesmo movimento, realizado por um guarda de trânsito, representa a ordem de que o fluxo de veículos deve se interromper. Por isso, fala-se na análise global do acontecimento: “A ação só pode ter sentido jurídico desde que interpretada em conjunto com seu entorno. Logo, as valorações jurídicas só podem considerar a ação dentro do marco de seu significado.”98 O conceito de ação significativa afasta-se tanto da ideia ôntica de ação (causalismo e finalismo) quanto da ideia normativa de ação (funcionalismo) para situar-se na compreensão, ou seja, na transmissão de sentido produzido pela inter-relação entre sujeito e objeto. Uma compreensão humanista da ação exige que abandonemos a ideia de uma explicação científica que conceba a ação como produto das forças causais, mas a compreensão de como os seres humanos atuam quando efetivamente o fazem. Esta diferenciação procede da filosofia alemã de princípios do século XX concretamente do filósofo alemão Dilthey que distinguiu entre verstehen (compreender) e erklären (explicar). A ideia é que a conduta humana – como algo oposto aos fenômenos naturais – só pode ser compreendida e não explicada em termos científicos.99 Há uma ressalva, porém: “só é possível dotar a ação de sentido jurídico-penal no Estado onde as figuras típicas tenham correspondência às aspirações sociais.”100 Isso porque a ação que interessa ao Direito Penal é a ação que, conforme orientações político-criminais, interessa ser coibida pela ameaça da pena – ameaça que se concretiza pelos tipos penais, protetores dos bens jurídicos escolhidos pelas próprias pretensões político-criminais. É um BUSATO, P. C. Direito penal e ação significativa, op. cit. p. 155-156. 97 Id. Ibid. p. 162. 98 FLETCHER, George Patrick. Conceptos básicos del derecho penal. Tradução de Francisco Muñoz Conde. p. 90 apud BUSATO, P. C. Direito penal e ação significativa, op. cit. p. 199-200. 99 BUSATO, P. C. Direito penal e ação significativa, op. cit. p. 190. 100 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 145-184, jan./jun. 2012 175 desenvolvimento dogmático dialético, pois o controle social exercido pelo Direito Penal é determinante da e determinado pela ação significativa: determinante porque a identificação socialmente desvalorada deriva do sentido jurídicopenal da ação e determinado porque a aspiração de estabelecimento de normas no sentido do exercício efetivo daquele controle social depende da existência prévia de um sentido, um significado como eixo da norma, do contrário se apresenta o fenômeno de ultrapassagem social da norma, relegando esta a um vazio de reconhecimento social, deixando de produzir o pretendido controle.101 Nutrida no campo político criminal, a proposta dogmática de Vives Antón demanda a análise do delito em quatro categorias:102 a) Na pretensão de relevância, demanda-se uma correta compreensão da fórmula linguística definidora da conduta no texto legal e também a comprovação de que os movimentos corporais realizados pelo sujeito sejam efetivamente aqueles que se acomodam à regra de ação seguida para tipificá-los (pretensão conceitual de relevância). Assim, importa saber quando podemos entender um processo determinado como uma conduta típica relevante para o Direito Penal; o que já nos sugere que não cabem, na concepção de Vives Antón, critérios gerais, senão somente práticas, interpretações e novas práticas. E mais: a conduta do agente deve cumprir com a periculosidade ou a danosidade que induziu o legislador a sancioná-la com penas criminais (pretensão de ofensividade). b) A pretensão de ilicitude, por sua vez, corresponde à análise da ação como a realização do proibido ou a não realização do mandado; ou seja, a verificação se a ação executada pelo sujeito infringe a norma ou se a intenção que rege a execução de uma ação ofensiva para um bem jurídico não se ajusta às exigências do ordenamento. Paulo César Busato explicita que a pretensão de ilicitude se concentra em verificar a existência ou não de um compromisso com a violação de um bem jurídico, que corresponde ao tipo subjetivo – assim entendido o dolo e a imprudência – e, de outro lado, a consideração a respeito da exclusão da ilicitude pela presença de permissividades do sistema, que podem ser permissões fortes (causas de justificação) ou permissões fracas (escusas ou causas de exclusão de responsabilidade pelo fato).103 Id. Ibid. p. 190. 101 Para uma responsável abordagem sobre a concepção de Vives Antón, vide MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, Carlos. La ‘concepción significativa de la acción’ de T. S. Vives y su correspondencia sistemática con las concepciones teleológico-funcionales del delito. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. 01-13, 1999. Este trabalho foi traduzido para a língua portuguesa pelo professor Dr. Paulo César Busato: MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, Carlos. A concepção significativa da ação. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. 102 BUSATO, P. C. Modernas teorias do delito: funcionalismo, significado e garantismo, op. cit. p. 200. 103 176 FAE Centro Universitário c) Na pretensão de reprovação encontra-se o juízo de culpabilidade, no qual se verifica se o agente possui a capacidade de ser reprovado (imputabilidade) e se tinha consciência de sua ação. d) A pretensão de necessidade de pena, por fim, concretiza o princípio da proporcionalidade da aplicação da pena, pela análise das condições objetivas de punibilidade e de causas pessoais de exclusão da pena. Assim, a imputação de transmissão do HIV a partir desta proposta se torna bastante simples: excluem-se os tipos de homicídio e de lesões corporais já na pretensão de relevância, uma vez que os movimentos executados pelo autor não são suficientes para, respectivamente, ofender o bem jurídico vida e cumprir certamente com a periculosidade de dano ao corpo e à saúde. CONSIDERAÇÕES FINAIS O somatório de maior atenção à revolução terapêutica do HIV/AIDS nos recentes anos com uma atualizada revisão das exigências dogmático-penais para a adequação típica da conduta de transmissão dessa enfermidade leva-nos a confirmar a hipótese inicial de que há absoluta divergência entre a realidade da doença e as composições jurisprudenciais e doutrinárias sobre a questão. Seja por pleno desconhecimento da patologia e de seu tratamento, seja pelo descaso com uma responsável análise da construção da tipicidade e das exigências para a correta imputação, seja até mesmo pelos constantes repetecos das produções jurídicas, fato é que há um grave descompasso que foi, inicial e parcialmente, corrigido pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal quando afastaram, na decisão que deu o pontapé a este estudo, a possibilidade de imputação por homicídio. A fórmula aqui depositada contou com o pressuposto – hoje, notório – de que a contaminação por AIDS não mais configura uma doença fatal, mas uma enfermidade crônica. A esse conhecimento, foram vencidas as teorias do causalismo e do finalismo – importantes, porém não mais adequadas – e, em seus lugares, foram invocadas as teorias da imputação objetiva e da ação significativa para a identificação das possíveis imputações típicas àquele que transmite o HIV/AIDS. E as conclusões – firmes, mas sempre reticentes – alcançadas foram: Primeiramente, a transmissão da AIDS pode configurar um crime impossível pela impropriedade do meio utilizado (quando Hera Venenosa beija os lábios de seus amantes querendo transferir-lhes a doença). Pode configurar uma conduta atípica: quando a atuação se dá dentro dos limites do risco permitido; quando há diminuição de um risco Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 145-184, jan./jun. 2012 177 não permitido; quando há alteração de risco já existente; quando há consentimento do ofendido ou autocolocação em perigo. Para a imputação objetiva de um delito doloso, exige-se a criação ou majoração de um risco não permitido, além de um curso causal passível de ser dominado pelo autor, conforme as condições de conhecimento e de adestramento especiais necessárias para o agente, a adequação dos meios por ele utilizados e um estado das ciências e das tecnologias disponíveis que permita esse governo da ação. Disso, excluem-se as possibilidades de imputação de homicídio doloso, de lesões corporais seguidas de morte e de lesões corporais gravíssimas (salvo, para estas lesões, aquela hipótese do médico ou técnico hematologista). No tocante à impossibilidade geral de imputação por lesões, divergimos da doutrina majoritária: quando o agente tenta transmitir a doença, porém se frustra no intento, ou quando omite a sua doença ou constrange a vítima, conseguindo transmitir a enfermidade, não vislumbramos tentativa de lesão corporal qualificada e lesão corporal qualificada, respectivamente; tal como o que ocorre com o dolo homicida, o resultado típico lesivo pretendido não é controlável pelo autor infectado e os estudos patológicos comprovam a reduzida probabilidade do governo do curso causal na execução de sua vontade. A imputação de um delito culposo, por sua vez, demanda a análise da capacidade individual de previsão do resultado, a partir de standards mínimos empiricamente verificáveis de padrões sociais. A hipótese de imputação por homicídio culposo afasta-se de pronto, porque aqui também a imprevisibilidade do resultado (morte) estende-se cronológica e indefinidamente, podendo ser evitável com o uso de medicamentos. Quanto à adequação típica por lesões corporais culposas, necessário ponderar sobre a capacidade individual de previsão, com a cautela de não se construir uma imputação com base exclusivamente em um direito penal de autor (a ideia de verificar o “desregramento” de vida do autor é uma postura incerta e, talvez, preconceituosa). Respeitadas as regras de domínio da ação, encontramos a única possibilidade de tipificar a conduta daquele que dolosamente transmite o HIV como perigo de contágio de moléstia grave. A imputação pelo crime do art. 132 (perigo para a vida ou saúde de outrem) parece-nos equivocada, por sua preterição na aplicação do princípio da especialidade (vide nota 15). Não se pretende, com essas conclusões, patrocinar a impunidade daqueles que, dolosa ou culposamente, transmitem o HIV a outrem. São outros os intentos: apresentar ao leitor as novidades terapêuticas, valorizar uma responsável abordagem dogmática da imputação penal e, muito importante, afastar qualquer possibilidade de se utilizar o Direito Penal como instrumento de estigmatização e moralização social. 178 FAE Centro Universitário REFERÊNCIAS ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A ilusão de segurança jurídica: do controle da violência à violência do controle penal. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003. BARRE-SINOUSSI, F. et al. Isolation of a T-lymphotropic retrovirus from a patient at risk for acquired immune deficiency syndrome (AIDS). Science, n. 220, p. 868-871, may 1983. BHASKARAN, K. et al. Changes in the risk of death after HIV seroconversion compared with mortality in the general population. JAMA, Chicago, III., n. 300 (1), p. 51-59, jul. 2008. BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal 1– parte geral. 17. ed. rev., ampl. e atual. de acordo com a Lei n. 12.550, de 2011. São Paulo: Saraiva, 2012. _____. Tratado de direito penal 2 – parte especial: dos crimes contra a pessoa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. BOILY, M. C. et al. Heterosexual risk of HIV-1 infection per sexual act: systematic review and meta-analysis of observational studies. Lancet Infect Dis, n. 9, 2009. BOOTH, Hannah. “I knew I was HIV positive”: but Nadja Benaissa didn’t tell the men she slept with: and in Germany – where she was a member of the country’s most successful girl band – that is a crime: Hannah Booth on a very public downfall. The Guardian, 18 mar 2011. BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 dezembro de 1940. Código Penal. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 31 dez. 1980 . _____. Lei nº 9.313, de 13 de novembro de 1996. Dispõe sobre a distribuição gratuita de medicamentos aos portadores do HIV e doentes de Aids. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 14 nov. 1996. _____. Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 8 ago. 2006. Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 145-184, jan./jun. 2012 179 BRASIL. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de DST, AIDS e hepatites virais. Boletim epidemiológico: AIDS e DST, Brasília, v. 7, n. 1, jan./jun. 2010. ______. ______. ______. Protocolo de assistência farmacêutica em DST/HIV/Aids; recomendações do Grupo de Trabalho de Assistência Farmacêutica. Brasília: Ministério da Saúde, 2010. (Série A. Normas e manuais técnicos). ______. ______. Departamento de Vigilância Epidemiológica. Doenças infecciosas e parasitárias: guia de bolso. 6. ed. rev. Brasília: Ministério da Saúde, 2005. ______. ______ . ______. Guia de vigilância epidemiológica. 7. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. ______. ______. ______. Programa Nacional de DST e AIDS. Recomendações para terapia anti-retroviral em adultos infectados pelo HIV. 7. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2008. ______. Supremo Tribunal Federal. Habeas corpus nº 98.712-SP. Relator Min. Marco Aurélio. Primeira Turma. Julgamento: 05/10/2010. ______. Habeas corpus nº 131.480-SP. Relator Min. Og Fernandes. Sexta Turma. Julgamento: 19/10/2010. BUSATO, Paulo César. Direito penal e ação significativa: uma análise da função negativa do conceito de ação em direito penal a partir da filosofia da linguagem. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. ______. Modernas teorias do delito: funcionalismo, significado e garantismo. In: _____. Reflexões sobre o sistema penal do nosso tempo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal; volume II - parte especial: dos crimes contra a pessoa a dos crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos (arts. 121 a 212). 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. CENTERS for disease control and prevention. AIDS: the early years and CDC’s response, Morbidity and Mortality Weekly Report, Atlanta, GA, v. 60, n. 2, supl. jan. 2011. ______. Kaposi’s sarcoma and Pneumocystis pneumonia among homosexual men — New York City and California, Morbidity and Mortality Weekly Report. Atlanta, GA, n. 30, 1981. ______. Pneumocystis pneumonia – Los Angeles, Morbidity and Mortality Weekly Report, Atlanta, GA, n. 30, 1981. COUTINHO, Leonardo. A roleta-russa da AIDS: nas festas do chamado barebacking, o risco de contrair a doença ajuda a aumentar o prazer. Veja, São Paulo, n. 1.767, 04 set. 2002. CRUM, N. F. et al. Comparisons of causes of death and mortality rates among HIV-infected persons: analysis of the pre-, early, and late HAART (Highly Active Antiretroviral Therapy) eras. J Acquir Immune Defic Syndr, v. 41, n. 2, p. 194-200, mar. 2006. 180 FAE Centro Universitário DELMANTO, Celso et al. Código penal comentado. 7. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. DIP, Ricardo; MORAES JR., Volney Corrêa Leite de. Crime e castigo: reflexões politicamente incorretas. Campinas: Millennium, 2002. FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. Tradução de Ana Paula Zomer, Fauzi Hassan Choukr, Juarez Tavares e Luiz Flávio Gomes. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. FRANÇA, Leandro Ayres. Inimigo ou a inconveniência de existir. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. ______; SAAVEDRA, Giovani Agostini. O tipo e o injusto. No prelo. GALLO, R. C. et al. Frequent detection and isolation of cytopathic retroviruses (HTLV-III) from patients with AIDS and at risk for AIDS, Science, n. 224, 1984. GALVÃO, Fernando. Direito penal: parte geral. 4. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. GREEN, T. C. et al. Patterns of drug use and abuse among aging adults with and without HIV: a latent class analysis of a US Veteran cohort. Drug Alcohol Dependence, Limerick, Irlanda, v. 110, n. 3, Aug. 2010. HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss de língua portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. JAKOBS, Günther. Sociedade, norma e pessoa: teoria de um direito funcional. Tradução de Maurício Antonio Ribeiro Lopes. Barueri: Manole, 2003. (Coleção Estudos de Direito Penal). JAGGY, C. et al. Mortality in the Swiss HIV Cohort Study (SHCS) and the Swiss general population. The Lancet, London, n. 362, p. 877-8, sept. 2003. JAIN, M. K. et al. Changes in mortality related to human immunodeficiency virus infection: comparative analysis of inpatient deaths in 1995 and in 1999-2000. Clinical Infectious Diseases, Chicago, III., n. 36, p. 1030-1038, apr. 2003. JENSEN-FANGEL, S. et al. Low mortality in HIV-infected patients starting highly active antiretroviral therapy: a comparison with the general population. AIDS, London, v. 18, n. 1, p. 89-97, jan. 2004. JESUS, Damásio E. Direito penal. São Paulo: Saraiva, 2001. JOINT UNITED NATIONS PROGRAMME ON HIV/AIDS (UNAIDS) AND WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). AIDS epidemic update. Geneva, 2009. KASPER, Dennis L. et al. Harrison medicina interna. 16. ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill Interamericana do Brasil, 2006. Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 145-184, jan./jun. 2012 181 KOHLI, R. et al. Mortality in an urban cohort of HIV-infected and at-risk drug users in the era of highly active antiretroviral therapy. Clinical Infectious Diseases, Chicago,.v.3, n. 41, p. 864-872, sept. 2005. KRENTZ, H. B.; KIEWER, G.; GILL, M. J. Changing mortality rates and causes of death for HIVinfected individuals living in Southern Alberta, Canada from 1984 to 2003. HIV Medicine, n. 6, p. 99-106, mar. 2005. LEWDEN, C.; SALMON, D.; MORLAT, P. Causes of death among human immunodeficiency virus (HIV)-infected adults in the era of potent antiretroviral therapy: emerging role of hepatitis and cancers, persistent role of AIDS. International Journal of Epidemiology, Oxford, England, v. 34, n. 11, p. 121-130, 2005. LIMA, V. D. et al. Continued improvement in survival among HIV-infected individuals with newer forms of highly active antiretroviral therapy. AIDS, London, v. 21, n. 6, mar. 2007. MARTÍNEZ, E. et al. Incidence and causes of death in HIV-infected persons receiving highly active antiretroviral therapy compared with estimates for the general population of similar age and from the same geographical area. HIV Medicine, n. 8, p. 251-258, 2007. MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, Carlos. A concepção significativa da ação. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. _____. La ‘concepción significativa de la acción’ de T. S. Vives y su correspondencia sistemática con las concepciones teleológico-funcionales del delito. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 01-13, 1999. MAY, M et al. Impact of late diagnosis and treatment on life expectancy in people with HIV-1: UK Collaborative HIV Cohort (UK CHIC) Study. British Medical Journal, London, n. 3 43, 2011. MILLS, E. J.; BAKANDA, C.; BIRUNGI, J. et al. Life expectancy of persons receiving combination antiretroviral therapy in low-income countries: a cohort analysis from Uganda. Annuals of International Medicine, Philadelphia, Pa, n. 155, 2011. MIRABETE, Julio Fabbrini. Código penal interpretado. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005. ______. Manual de direito penal. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2005. MOCROFT, A. L. et al. Changing patterns of mortality across Europe in patients infected with HIV-1. The Lancet, London, n. 352, 1998. MUÑOZ CONDE, Francisco. Direito penal e controle social. Tradução de Cíntia Toledo Miranda Chaves. Rio de Janeiro: Forense, 2005. MZILENE, M. O.; LONGO-MBENZA, B.; CHEPHE, T. J. Mortality and causes of death in HIVpositive patients receiving antiretroviral therapy at Tshepang Clinic in Doctor George Mukhari Hospital. Pol Arch Med Wewn, n. 118 (10), 2008. 182 FAE Centro Universitário NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. PACHE.CO, A. G et al. Increase in non-AIDS related conditions as causes of death among HIVinfected individuals in the HAART era in Brazil. PLoS ONE, San Francisco, CA, v. 3, n. 1, 2008. PALELLA, F. J.; BAKER, R. K.; MOORMAN, A. C. et al. Mortality in the highly active antiretroviral therapy era: changing causes of death and disease in the HIV outpatient study. Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes, Hagerstown, n. 43, 2006. PALELLA JR, F.J.; DELANEY, K. M.; MOORMAN, A. C. et al. Declining morbidity and mortality among patients with advanced Human Immunodeficiency Virus infection. New England Journal of Medicine, Waltham, Mass., n. 338, 1998. PEÑARANDA RAMOS, Enrique; SUÁREZ GONZÁLEZ, Carlos; CANCIO MELIÁ, Manuel. Un nuevo sistema del derecho penal: consideraciones sobre la teoría de la imputación de Günther Jakobs. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, Centro de Investigaciones de Derecho Penal y Filosofia del Derecho, 1999. PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: parte especial (arts. 121 a 234). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro; volume 2 - parte especial: arts. 121 a 183. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. ROXIN, Claus. Estudos de direito penal. 2. ed. Tradução de Luís Greco. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. ______. Política criminal e sistema jurídico-penal. Tradução de Luís Greco. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. SANTOS, Juarez Cirino dos. Teoria de pena: fundamentos políticos e aplicação judicial. Curitiba: ICPC; Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. SCHIMIDT, Andrei Zenkner. Aspectos jurídico-penais da transmissão da AIDS. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 10, n 37, p. 209-234, jan./mar. 2002. SHAKESPEARE, William. The tragedy of Hamlet, prince of Denmark. New York, London: Simon & Schuster Paperbacks, 2009. SONTAG, Susan. Illness as metaphor; and, AIDS and its metaphor. New York: Anchor Books, Doubleday, 1990. STERNE, J. A. C.; HERNÁN, M. A.; LEDERGERBER, B. et al. Long-term effectiveness of potent antiretroviral therapy in preventing AIDS and death: a prospective cohort study. The Lancet, London, n. 366, 2005. Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 145-184, jan./jun. 2012 183 TAVARES, Juarez. Teoria do injusto penal. Belo Horizonte: Del Rey, 2000. THE ANTIRETROVIRAL THERAPY COHORT COLLABORATION. Life expectancy of individuals on combination antiretroviral therapy in high-income countries: a collaborative analysis of 14 cohort studies. Lancet, n. 372 (9635), 26 jul. 2008. _____. Mortality of HIV-infected patients starting potent antiretroviral therapy: comparison with the general population in nine industrialized countries. International Journal of Epidemiology, Oxford, England, n. 38, 2009. THE NOBEL Prize in Physiology or Medicine 2008. Disponível em: <http://www.nobelprize.org/ nobel_prizes/medicine/laureates/2008/>. Acesso em: 20 nov. 2011. US FOOD AND DRUG ADMINISTRATION. HIV/AIDS historical time line 1981-1990 Disponível em: <http://www.fda.gov/ForConsumers/ByAudience/ForPatientAdvocates/ HIVandAIDSActivities/ucm151074.htm>. Acesso em: 21 nov. 2011. VAN-SIGHEM, A.; DANNER, S.; GHANI, A. C. et al. Mortality in patients with successful initial response to highly active antiretroviral therapy is still higher than in non-HIV-infected individuals. Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes,Hagerstown, MD, n. 40, 2005. WAWER, M. J.; GRAY, R. H.; SEWANKAMBO, N. K. et al. Rates of HIV-1 transmission per coital act, by stage of HIV-1 infection, in Rakai, Uganda. The Journal of Infectious Diseases, Cary, NC, n. 191, 2005. YANG, C. H.; HUANG, Y. F.; HSIAO, C. F. et al. Trends of mortality and causes of death among HIV-infected patients in Taiwan, 1984-2005. HIV Medicine, n. 9, 2008. ZAFFARONI, Eugénio Raúl et al. Direito penal brasileiro; volume 2 - teoria do delito; introdução histórica e metodológica, ação e tipicidade. Rio de Janeiro: Revan, 2010. 184 FAE Centro Universitário UMA LEITURA UTILITARISTA DO DIREITO PENAL MÍNIMO* AN UTILITARIANIST READING OF MINIMALIST CRIMINAL LAW João Paulo Orsini Martinelli** RESUMO O utilitarismo é o ramo da Filosofia que estuda a utilidade de uma ideia. Entre os ganhos e as perdas possíveis, o saldo deve ser positivo para chegar à utilidade pretendida. O Direito Penal é o ramo mais repressivo do ordenamento jurídico, portanto, deve ser aplicado com moderação pelo Estado. Sua utilidade deve ser a proteção de bens jurídicos e a mínima restrição da liberdade individual. Cabe ao legislador buscar a melhor forma de atingir essa utilidade com a escolha dos bens jurídicos mais relevantes e a busca por meios menos repressivos antes de apelar ao Direito Penal. Palavras-chave: Utilitarismo. Bem jurídico. Liberdade individual. Proporcionalidade. ABSTRACT Utilitarianism is the branch of Philosophy that studies the usefulness of an idea. Between the possible gains and losses, the balance must be positive to reach the intended utility. Criminal law is the most repressive branch of legal system and therefore should be applied sparingly by the State. Its usefulness should be the protection of legal interests and minimal restriction of personal liberty. The lawmaker should seek the best way to achieve this utility with the choice of most relevant legal interests and less repressive means before appealing to the Criminal Law. Keywords: Utilitarianism. Legal interests. Personal liberty. Proportionality. * Artigo originado a partir da pesquisa de doutoramento realizada na University of California, Davis, em 2009, que forma parte da tese defendida na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, em 2010. ** Professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Doutor e Mestre em Direito Penal pela Faculdade de Direito da USP. Pesquisador visitante na University of California (UC Davis, EUA). Pós-graduado em Direito Penal pela Universidade de Salamanca (Espanha). Especialista em estudos criminais pelo International Institute of Higher Studies in Criminal Sciences (Itália). Coordenador-chefe do Departamento de Internet do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCrim). Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 185-204, jan./jun. 2012 185 INTRODUÇÃO O presente estudo tem por objetivo fazer uma leitura utilitarista do Direito Penal mínimo e demonstrar que a utilidade da norma deve resultar na maior proteção do bem jurídico com a menor restrição da liberdade individual. Considerando como suas principais funções a limitação do poder punitivo do Estado e a proteção de bens jurídico-penais,1 antes de ser punitivo, o Direito Penal é instrumento de garantias do cidadão. Portanto, a lei penal restringe, simultaneamente, a liberdade das pessoas, ao proibir certas condutas, e o poder de punir do Estado, alinhando as normas ao Estado democrático de Direito na busca de um equilíbrio da proteção de interesses fundamentais da sociedade e o máximo de liberdade dos cidadãos.2 A filosofia utilitarista é importante para a análise crítica da lei penal, a partir do momento em que é classificada como racionalista.3 Racionalismo é o método de pensamento que independe de experiências para se chegar a uma conclusão, pois o raciocínio lógico de uma ideia é o meio para atingir uma conclusão. Ao racionalismo se contrapõe o empirismo, que depende da observação do fenômeno para concluir algo. O empirismo é um método tipicamente aplicado às ciências naturais que dependem da observação e da descrição do fato; os empíricos alegam que a experiência sensitiva é o recurso último para nossos conceitos e conhecimentos.4ODireito Penal, enquanto ciência normativa, não pode depender do empirismo: trabalha com normas e restrito a elas deve ficar para que suas conclusões sejam jurídicas. 1 FUNÇÃO DO DIREITO PENAL O principal motivo para recorrer ao utilitarismo é sua sinceridade para explicar determinadas incriminações. Alguns crimes não podem ser explicados unicamente com base na tutela de bens jurídicos, pois muitos desses bens são indeterminados e imprecisos. Assim, a melhor (mas não legítima) explicação para certos delitos é sua utilidade: evitar MIR PUIG, Santiago. Introducción a las bases del derecho penal. p. 68 e ss. 1 GOMES, Mariangela Gama de Magalhães. O princípio da proporcionalidade no direito penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 155 e ss. 2 PLAMENATZ, John. The English utilitarians. New York: Macmillan, 1949. p. 147. 3 MARKIE, Peter. Rationalism. In: STANFORD encyclopedia of philosophy. Disponível em: <http://plato. stanford.edu/entries/rationalism-empiricism/>. Acesso em: 20 mar. 2010. 4 186 FAE Centro Universitário que certos comportamentos sejam praticados. O Direito Penal é útil para proibir certos comportamentos indesejados pela sociedade ou por parcela desta, sendo muito difícil verificar seu grau de lesividade ou perigo de lesão. Somente assim justificam-se certos crimes que, aparentemente, não causam lesão direta ou cujo perigo ao bem não seja mensurável. Para o utilitarismo, a essência de um comportamento é o resultado produzido. Uma conduta é avaliada por sua utilidade, isto é, seu saldo final. O utilitarista faz o cálculo de tudo o que está envolvido num comportamento para valorá-lo conforme seu saldo. Pode-se sintetizar a visão utilitarista do Direito Penal da seguinte maneira: um comportamento deve ser proibido se for indesejado pela sociedade, sendo sua lesividade mero elemento do cálculo. A existência de bem jurídico tutelado está em segundo plano, uma vez que se quer impedir comportamentos preteridos por determinada comunidade, num determinado período histórico. O raciocínio utilitarista busca a conduta a ser evitada pelo Direito Penal com o fim de criminalizá-la. Se, por exemplo, o resultado a ser alcançado é uma sociedade dentro de padrões morais definidos, o utilitarista busca a proibição de condutas que entende ser imorais. Se o que se quer é uma sociedade em que todos paguem tributos para se evitar uma crise no orçamento do Estado, então, criminalizam-se a supressão e a omissão de tributos, e assim por diante. A discussão sobre o bem jurídico-penal parece ser secundária aos utilitaristas. Exemplificadamente, alguns autores liberais, como Dworkin,5 entendem que a autonomia pessoal pode ser protegida por meio de certas proibições a condutas autolesivas, para que o sujeito não perca sua capacidade futura de decidir por seus atos. Outros, de índole perfeccionista, como Chan6 e Dzur7, defendem a criminalização de certos comportamentos com base em critérios objetivos anteriormente estabelecidos como ideais para uma boa qualidade de vida, independentemente da autonomia e da vontade da pessoa. O foco da discussão, portanto, é o fim que se pretende atingir por meio das proibições criminais, que, necessariamente, implicam restrição à liberdade de comportamento de todos os componentes de uma sociedade. Pode-se interpretar o fim a ser atingido pela lei penal de duas maneiras. Restritivamente, considera a proteção de bens jurídicos e a limitação ao poder punitivo DWORKIN, Gerald. Paternalism: some second thoughts. In: _____ (Coord.). The theory and practice of autonomy. Cambridge (England), New York: Cambridge. 1988. p. 122. 6 CHAN, Joseph. Legitimacy, Unanimity and perfectionum. Philosophy and Public Affairs, Princeton, Ont., v. 29, n. 1, p. 5-42, 2000. 7 DZUR, Albert W. Liberal perfectionism and democratic participation. Polity, Staten Island (EUA), v. 30, n. 4, p. 674 e ss, Summer 1998. 5 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 185-204, jan./jun. 2012 187 do Estado; de forma ampla, a norma penal busca o bem-estar de uma determinada comunidade, a convivência harmônica entre as pessoas. Em relação à primeira concepção, a dogmática vem se preocupando há tempos com a teoria do bem jurídico, buscando os requisitos para a elaboração das normas penais com foco no interesse que se pretende tutelar8. São diversas as teorias que buscam legitimar a incriminação de condutas com base no bem jurídico tutelado.9 Quanto ao interesse social, ao incriminar uma conduta, o legislador precisa considerar o resultado final a ser atingido e como atingi-lo, pois existe um alto custo, que é a restrição da liberdade dos membros da sociedade.10 Toda lesão a um interesse individual atinge seu titular (ou titulares) diretamente e outras pessoas de forma indireta. Mas o prejuízo causado indiretamente, por si só, não pode ser fundamento da reprimenda penal. Há necessidade de outros critérios de incriminação. 2 A FILOSOFIA UTILITARISTA As normas penais possuem certas finalidades que são determinadas conforme o que se entende por Direito Penal, visto como instrumento de garantias e, portanto, sua finalidade é restringir o poder punitivo do Estado. Tal restrição se dá pela seleção de bens jurídicos que merecem sua tutela e das lesões significativas à repressão penal. Para tutelar um bem e protegê-lo de certos perigos, a norma proíbe alguns comportamentos. Portanto, quando se faz referência às consequências da norma, devem-se considerar as condutas proibidas (redução da liberdade das pessoas) e os bens tutelados (interesses que merecem proteção penal). O grande desafio da doutrina e da jurisprudência é conciliar os meios de proteção a bens jurídicos e a máxima liberdade da população subordinada do ordenamento legal. Difícil é encontrar um consenso para elaborar as normas, uma vez que elas recaem sobre todas as pessoas, indistintamente. Há certos comportamentos que, de fato, não encontram discordância quanto à sua proibição. A maioria das pessoas aceita que algumas regras devem ser impostas, que alguns comportamentos devem ser evitados, que certas condutas poderiam ocorrer com mais frequência ou que algumas coisas não poderiam Conferir, por exemplo: GRECO, Luis, TORTIMA, Fernanda Lara. O bem jurídico como limitação do poder estatal de incriminar? Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. 8 KUHL, Kristian. Strafrecht, allgemeiner Teil. Munique: Vahlen, 2005. p. 196 e ss. 9 MIR PUIG, Santiago. Introducción a las bases del derecho penal. p. 41 e ss. 10 188 FAE Centro Universitário acontecer no mundo.11 Por exemplo, o homicídio é reprovado por quase todas as pessoas, ao mesmo tempo em que se exige a honestidade dos administradores públicos. Nesse sentido, pode-se questionar: qual o bem a ser protegido pelo Direito Penal? Aglomerando todos os interesses merecedores de tutela penal numa única utilidade a ser buscada, afirma-se que a autonomia individual é o fim da norma penal. O legislador deve buscar a paz social, impedindo lesões a bens jurídicos, proibindo condutas, mas sem abusar na redução da liberdade das pessoas ou, resumidamente, proteger os bens relevantes interferindo minimamente na vida privada. Por isso, é fundamental analisar as normas penais racionalmente, sem confundi-las com questões meramente morais. 3 CONCEITO DE UTILITARISMO O utilitarismo é uma teoria ética desenvolvida, em sua versão clássica, por Jeremy Bentham, James Mill e John Stuart Mill, que responde a todas as questões sobre o que fazer, o que admirar ou como viver em termos de maximizar a utilidade ou a felicidade.12 Os utilitaristas adotam o princípio da utilidade, segundo o qual o prazer e a ausência de dor são, de fato, desejados por todos os seres humanos e cada pessoa busca seu próprio prazer. É a doutrina que afirma que alguém deve fazer aquilo que traz a máxima felicidade ao maior número de pessoas ou à comunidade como um todo.13 A doutrina utilitarista repercute na vida prática, não ficando restrita às ideias abstratas. Na observação de Rachels, os filósofos adoram imaginar que suas ideias podem transformar a sociedade, mas isso é uma esperança em vão. Os filósofos escrevem livros para poucos lerem, enquanto o resto do mundo não é afetado. No entanto, uma teoria filosófica pode profundamente alterar a forma como as pessoas pensam. [...] É o caso do utilitarismo.14 São enunciados da doutrina utilitarista: (1) alguém deve agir de forma a promover a máxima felicidade (ou prazer) ao maior número de pessoas, (2) o prazer é o único bem intrínseco e a dor é o único mal intrínseco, (3) um ato é moralmente certo (a) se trouxer o maior saldo de benefício sobre prejuízo que qualquer outra ação não poderia conseguir, MOORE, G. E. Ethics. London: Oxford University, 1912. p. 7. 11 BLACKBURN, Simon. OXFORD Dictionary of philosophy. New York: Oxford University, 2008. p. 375. 12 ANGELES, Peter A. The Harper Collins dictionary of philosophy. New Heprkoeke (EUA): Harper Collins, 1992. p. 326. 13 RACHELS, James. The elements os moral philosophy. New York: Random House, 1986. p. 79. 14 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 185-204, jan./jun. 2012 189 ou (b) se produzir o maior benefício ou o menor prejuízo ao mundo, em relação a outras condutas, nas mesmas circunstâncias, (4) em geral, o valor moral de uma ação é medido de acordo com o benefício ou o prejuízo de suas consequências.15 Quando alguém precisa escolher entre duas ações, e uma provocar mais prazer do que a outra, sempre será obrigação dessa pessoa escolher a primeira; dentro de um universo, aquela parte que proporciona mais prazer sempre será a melhor.16 A maior utilidade de uma ação é aquela que promove o maior prazer e, portanto, deve prevalecer sobre o menor prazer. Em poucas palavras, o utilitarista olha para o futuro,17 procurando as melhores consequências do seu ato (consequencialismo). Existe uma relação de utilidade entre a boa finalidade e uma conduta correta. Os utilitaristas afirmam que o maior prazer é a utilidade que define um comportamento como correto. Utilidade é o termo comumente usado para se referir aos efeitos de um ato na medida em que está relacionado direta ou indiretamente aos bens intrínsecos produzidos por esse ato.18 Apesar da aparente vagueza dos conceitos, a doutrina utilitarista oferece condições de estudar a norma penal por meio da relação de utilidade que se deve buscar entre a restrição de liberdade das pessoas e o eventual bem produzido. 4 PRINCÍPIO DA UTILIDADE Valendo-se das classificações das teorias éticas propostas por Diego Farrell, pode-se afirmar que o utilitarismo é uma teoria que se coloca antes do resultado, ou seja, parte-se da teoria para o fato, e não o contrário. Uma premissa utilitarista é capaz de modificar as instituições contrárias a ela, no entanto, as instituições não alteram as premissas. Se alguém entende que matar alguém é válido para salvar a vida de outras pessoas é porque aceita, antecipadamente, que o mais importante é a maior utilidade de um comportamento. Parte-se, pois, do princípio da melhor utilidade para comportar-se conforme o que se julga mais útil.19 O utilitarismo, em sua versão clássica, apresenta-se como monista, pois o único valor postulado é a felicidade. Entretanto, versões mais avançadas do utilitarismo mostram-se Ibid. p. 326-327. 15 MOORE, G. E. Op. cit, p. 39. 16 BRANDT, Richard B. The utilitarian theory of criminal punishment. In: ARTHUR, John (Coord.) Morality and moral controversies: readings in moral, social, and political philosophy. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hal, 1981. p. 415. 17 BIERMAN, A. K. Life and morals: an introduction to ethics. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1980. p. 397. 18 DIEGO FARRELL, Martín. Privacidad, autonomia y tolerancia. Buenos Aires: Hammurabi, 2000. p. 24-25. 19 190 FAE Centro Universitário pluralistas, uma vez que não apenas a felicidade é importante, como também a forma como é alcançada e se faz sua distribuição.20 No que tange o Direito Penal, a proteção de bens jurídicos deve ser a utilidade da norma, não obstante, essa norma não possa ser arbitrária, pois há parâmetros para definir os bens protegidos. Por fim, o utilitarismo carrega consigo o princípio da utilidade, a qual pode ser enunciada como a felicidade individual, a felicidade coletiva, a autonomia ou a perfeição do indivíduo.21 A utilidade da norma penal não pode ser a felicidade individual, porque é subjetiva: cada um sabe o que é melhor a si próprio. A felicidade coletiva como fim último da norma eleva o risco de imposição de valores que podem servir para uns e ser rejeitados por outros. Também a perfeição do indivíduo ignora a capacidade humana de escolher seu próprio caminho de vida. Por conseguinte, a autonomia é o valor a ser preservado pela norma penal, é a sua utilidade, pois o sujeito autônomo pode seguir o caminho que julgar melhor a si mesmo. O princípio da utilidade é a base do utilitarismo. O utilitarista, em princípio, aprecia a moral como algo corpóreo, palpável, próximo da pessoa. Quer dizer, a moral não pode mais ser compreendida com todas as referências a Deus ou um conjunto de regras escritas no paraíso, mas sim considerando a felicidade neste mundo, e nada mais.22 Assim, afirma-se que o utilitarismo possui uma característica mais pragmática que outras correntes da filosofia moral. A projeção utilitarista para o futuro considera a pessoa enquanto ser na Terra, merecedor da máxima felicidade. O próprio John Mill sintetiza o princípio: as ações são corretas na proporção em que tendem a promover a felicidade; são erradas na medida em que tendem a produzir o inverso da felicidade.23 A utilidade de um comportamento é medida pelo prazer que ele proporciona. A variação do princípio encontra-se na quantidade e na qualidade do prazer que se busca. Quando o objeto da utilidade é o resultado da imposição de uma norma penal, o que se quer é sua melhor utilização na busca do bem-estar social. Dentre todas as formas de resolução de um conflito social, o Direito Penal apresenta-se como a mais rigorosa e, por isso, sua utilidade deve compensar os desgastes provocados. Se houver outros meios menos gravosos para resolver um problema, o Direito Penal deve ser descartado, porque sua utilidade não será a melhor. 20 Ibid. p. 29. Ibid. p. 31. 21 RACHELS, James. op. cit. p. 81. 22 MILL, John Stuart. Utilitarianism. 2. ed. Indianapolis: Hackett Publishing, 2001, p. 7. 23 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 185-204, jan./jun. 2012 191 5 UTILITARISMO CLÁSSICO A doutrina aponta Bentham e Stuart Mill como os precursores do utilitarismo clássico que, a partir de suas obras, influenciaram os demais utilitaristas. Esses autores estavam preocupados com uma reforma legal e social, afirmando-se, inclusive, que “se alguma coisa pode ser identificada como motivo fundamental por trás do desenvolvimento do utilitarismo clássico era o desejo de ver mudanças nas práticas sociais e nas leis inúteis e corruptas”.24 O utilitarismo clássico é fortemente marcado por um viés consequencialista, doutrina segundo a qual um ato é correto conforme suas consequências. Não importam as circunstâncias desse ato ou sua natureza, nem o que acontece antes dele.25 A forma de pensar e desenvolver determinada ideia ganha importância de acordo com o que se atinge em momento posterior.26 O utilitarismo é a espécie mais influente de consequencialismo, “uma espécie tão influente que por vezes se confunde com o próprio gênero”.27 Visto que o consequencialismo fundamenta um ato nas suas consequências, pode-se afirmar que esse faz oposição à ética deontológica. Para a deontologia, o que faz uma escolha ser correta é sua conformidade a uma norma moral. As normas morais devem ser obedecidas apenas por existirem. O correto deve prevalecer sobre o bem, portanto, se uma conduta não está de acordo com o correto, não pode ser praticada, seja qual for o resultado que deixaria de produzir.28 Para a deontologia, portanto, certos atos são corretos ou incorretos em si mesmos. Por exemplo, quebrar uma promessa é um comportamento errado em si mesmo, independentemente de suas consequências. Para o consequencialista, a quebra de uma promessa pode ser correta ou não, dependendo do estado de bem-estar que possa promover.29 Quando alguém mentir para salvar a vida de outrem, sua conduta será reprovada pelo deontologistas e, por outro lado, aprovada pelos consequencialistas. DRIVER, Julia. The History of Utilitarianism. In: STANFORD encyclopedia of philosophy. Disponível em: <http://plato.stanford.edu/entries/utilitarianism-history/>. Acesso em: 10 jun. 2009. 25 SINNOTT-ARMSTRONG, Walter. Consequentialism. In: STANFORD encyclopedia of philosophy. Disponível em: <http://plato.stanford.edu/entries/consequentialism>. Acesso em: 4 ago. 2009. _____. An argument for consequentialism. Philosophical Perspectives, Oxford (Inglaterra), Caderno Ethics, v. 6, p. 399421, 1992. 24 BRONCANO RODRÍGUEZ, Fernando. Epistemología social y consenso en la ciência. Revista Hispanoamericana de Filosofía, Cidade do México, v. 31, p. 27, ago. 1991. 27 GALVÃO, Pedro. A teoria utilitarista de J. S. Mill: uma caracterização. Disponível em: <http://www. spfil.pt/trolei/tr01_galvao1.htm>. Acesso em: 4 ago. 2009; RIVERA LOPEZ, Eduardo. De la racionalidad a la razónabilidad: ¿Es posible una fundamentación epistemológica de una moral “política”? Revista Hispanoamericana de Filosofía, Cidade do México (México), v. 29, n. 86, p. 70, ago. 1997. 28 ALEXANDER, Larry; MOORE, Michael. Deontological ethics. In: STANFORD encyclopedia of philosophy. Disponível em: <http://plato.stanford.edu/entries/ethics-deontological>. Acesso em: 6 ago. 2009. 29 CRISP, Roger. Deontological ethics. In: HONDERICH, Ted (Org.). The Oxford guide to philosophy. Oxford (England): Oxford University, 2005. p. 200. 26 192 FAE Centro Universitário A principal diferença entre o deontologismo e o consequencialismo, de forma sumária, é a seguinte: para os deontologistas, uma conduta é errada se viola uma regra, enquanto para os consequencialistas, a conduta errada é aquela que não atinge o máximo de sua consequência.30 É permitido, assim, compreender a ética deontologista na ponderação de bens jurídicos. Para determinar se há bens jurídicos mais importantes que outros, e se há aqueles indisponíveis, é necessário aplicar critérios que permitam valorar um interesse por si só, sem interferências consequencialistas. Afirmar que a vida humana é bem indisponível, somente é possível pela ótica da deontologia, uma vez que o consequencialista permite a eliminação da vida em situações nas quais o bem a ser alcançado a justifique. A filosofia utilitarista, portanto, rechaça o deontologismo, pois é um método dirigido a se alcançar um resultado pretendido com fundamento no saldo final de um comportamento. Afirmase, assim, que o utilitarismo possui fundamento teleológico.31 5.1 JEREMY BENTHAM Considerado o pai do utilitarismo, com forte influência da filosofia de David Hume, Jeremy Bentham construiu seu pensamento baseando-se em quatro subprincípios: (1) consequencialismo: a qualidade moral de um comportamento deve ser avaliada de acordo com suas consequências; (2) hedonismo: a boa consequência é aquela que traz maior prazer, e a má consequência é a que proporciona dor e sofrimento; (3) agregacionismo: na avaliação de uma conduta, devemos somar as porções de felicidade e infelicidade para retirar o saldo final; (4) maximacionismo: devemos optar por aquele comportamento que trouxer o maior saldo de felicidade para o maior número de pessoas afetadas por nossas opções.32 A utilidade para Bentham é a propriedade de qualquer objeto segundo a qual este tende a produzir benefícios, vantagens, prazer, felicidade, ou prevenir o acontecimento de dor, sofrimento, insatisfação, infelicidade. Alguma coisa é correta dependendo de sua utilidade, que é medida pelas consequências que uma ação tende a produzir. Para Bentham, a legislação deve preservar ao máximo a liberdade das pessoas, pois essa é essencial para se buscar a felicidade. As intervenções na liberdade se fazem necessárias quando a segurança HOWARD-SNYDER, Frances. The heart of consequentialism. Philosophical Studies: an international journal for philosophy in the analytic tradition, v. 76, n. 1, p. 7-129, out. 1994 . 30 OMAR SELEME, Hugo. ¿Puede el utilitarismo ser deontológico? una respuesta a Kymlicka. Crítica: Revista Hispanoamericana de Filosofía, Cidade do México (México), v. 36, n. 107, p. 66, ago. 2004. 31 CARVALHO, Maria Cecília Maringoni de. Op. cit, p. 75. 32 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 185-204, jan./jun. 2012 193 da pessoa está ameaçada, diminuindo sua felicidade. Assim, a segurança, como meio de promover a maior felicidade, deve ser o objeto da lei.33 Bentham entendia, portanto, que é possível restringir a liberdade de alguém para maximizar sua felicidade. Em termos de Direito Penal, esse autor deu grande contribuição à teoria da pena. O princípio da máxima utilidade impede punições arbitrárias; ou seja, ninguém pode ser punido por uma conduta se esta não for lesiva a alguém. No mais, a punição deve ser severa o suficiente para se sobrepor aos ganhos do crime e demonstrar a certeza da punição. Defendia a punição com dupla finalidade: punir aquele que praticou a infração e prevenir que outros sejam infratores (funções retrospectiva e prospectiva).34 5.2 JOHN STUART MILL Talvez Mill seja o mais influente dos utilitaristas. Suas obras mais importantes são On Liberty e Utilitarianism. Pode-se dizer que um dos grandes méritos do autor foi a forma como se dirigiu ao público não especializado, munido de engenhoso talento filosófico, literário e retórico.35 Sua argumentação teve reflexos não apenas na Filosofia, mas também no Direito, na Política, na Bioética e em outros campos do conhecimento. Enfim, é de se admirar sua honestidade intelectual e seu domínio sobre a investigação do conhecimento humano.36 Ponto marcante de sua teoria é o consequencialismo. Para Mill, as ações devem ser consideradas de acordo com suas consequências. O homem deve agir de forma a maximizar o prazer. Por ser diferente dos outros animais, o ser humano tem faculdades mais elevadas e capacidade de raciocinar, considerando para sua felicidade nada mais do que uma gratificação. O conceito de prazer para os animais não satisfaz o conceito humano de felicidade. A consciência leva o homem a buscar o prazer em seu comportamento.37 Ao argumentar que a consequência que se busca numa conduta é a felicidade, Mill especifica que essa felicidade implica prazer e ausência de sofrimento e, a contrario sensu, infelicidade é o sofrimento e a privação de prazer.38 Na visão do autor, felicidade e prazer CRIMMINS, James E. Contending Interpretations of Bentham’s Utilitarianism. Canadian Journal of Political Science, Toronto, Ont, v. 29, n. 4, p. 751-577, dez. 1996. 33 34 BRANDT, Richard B. Op. cit., p. 80-81. GALVÃO, Pedro. Op. cit. [s.p.]. 35 SPARKS, Jared; EVERETT, Edward; LOWELL, James Russell. The North American Review, Boston (EUA), v. 97, n. 200, jul. 1863. p. 273. 36 MILL, John Stuart. Utilitarianism. p. 8. 37 Ibid, p. 7. 38 194 FAE Centro Universitário são conceitos intrínsecos, fortemente ligados e, em muitas partes de sua obra, parecem se confundir numa mesma coisa. Segundo Mill, a busca pelo prazer não era um mero hedonismo vulgar, diferenciando os prazeres em qualidade, não apenas em intensidade e duração, o que o afasta de Bentham, para quem “todos os prazeres possuem igual valor” e são equivalentes na intensidade e na duração.39 Mill indica que, quando houver dois prazeres, deve-se optar por aquele que se entende melhor por todos ou pela maioria das pessoas que os provaram e os experimentaram livres de qualquer imposição moral.40 O valor de uma experiência aprazível não depende apenas de sua duração e intensidade, mas também da sua qualidade.41 Não há uma quantidade suficiente de prazeres menores que possa superar um prazer maior.42 Enquanto ser racional, o homem possui as condições de agir com liberdade. Em princípio, cada um pode pensar e agir como bem quiser, e o Estado não pode interferir em suas escolhas, exceto quando alguma proteção aos mais fracos se fizer necessária.43 Seu discurso coloca a liberdade em primeiro plano, permitindo ao sujeito determinar seu próprio rumo na maximização da felicidade, desde que terceiros não sejam prejudicados, nem que o próprio se prejudique de forma inconsciente. A individualidade humana deve ser priorizada desde que a liberdade dos demais também o seja. Desse modo, as leis podem impedir que alguém abuse de sua liberdade para molestar outrem.44 Reconhecem-se duas dimensões da liberdade. Existem a liberdade positiva e a liberdade negativa. Por liberdade positiva compreende-se a área na qual o indivíduo é autodeterminado. O sujeito é livre positivamente quando tem controle sobre sua vida ou impõe regras próprias em seu comportamento. Dworkin diz que a liberdade positiva é algo muito semelhante à autonomia. A liberdade negativa, por sua vez, é a ausência de interferência de terceiros. Uma pessoa é livre no sentido negativo quando ninguém o impede de fazer algo por meio de coerção ou qualquer outra maneira que torne a atividade impossível de ser realizada.45 A liberdade plena deve ser alcançada tanto no sentido positivo quanto no negativo. Mill defende a proteção da liberdade quando o sujeito tiver condições de usá-la. A ausência de capacidade suficiente para entender o que é bom ou ruim permite ao Estado CARVALHO, Maria Cecília Maringoni de. Op. cit. p. 81 e 84. 39 MILL, John Stuart. Utilitarianism. p. 8. 40 BRINK, David O. Op. cit. p. 70 e ss.; GALVÃO, Pedro. Op. cit. [s.p.]. 41 MILL, John Stuart. Op. cit. p. 17. 42 MILL, John Stuart. On liberty. p. 59. 43 Ibid. p. 119-120. 44 DWORKIN, Gerald. Positive and negative freedom. In: AUDI, Robert (Org.). The Cambridge dictionary of philosophy. Cambrige (England): Cambridge University, 2006. p. 723. 45 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 185-204, jan./jun. 2012 195 intervir em suas escolhas. Há, portanto, exceções em que a autoridade estatal se faz legítima, especialmente em relação às crianças e aos adultos com problemas mentais. O bem-estar que se pode atingir com a liberdade, nesses casos, apenas pode ser alcançado com a interpelação por meio de normas de conduta.46 Por exemplo, o artigo 173 do Código Penal, que prevê o crime de abuso de incapazes, norma que impede a livre atividade de pessoas com algumas restrições mentais em razão das quais podem sofrer prejuízos. O autor traça uma relação entre individualidade e sociedade, que pode ser resumida em quatro preceitos: (1) cada um tem o direito de desenvolver o seu próprio “plano de vida”; (2) ninguém pode interferir nos direitos legais dos demais; (3) o sujeito pode optar por prejudicar o direito de outros; (4) ao escolher provocar um dano a terceiro, caberá a punição apropriada.47 Enfim, o homem é livre, inclusive, para optar por agir contrariamente à lei e ser punido por isso. Por essa razão, apenas o ser consciente pode ser punido, pois deve haver capacidade de interpretar a norma, compreender a lesividade da conduta e entender a punição proveniente da infração. 6 VARIAÇÕES DO UTILITARISMO Dentre as variações mais atuais, encontra-se o utilitarismo de regras (rule utilitarianism), que, em vez de observar as consequências de um ato particular ou de um conjunto de atos, determina se um ato é correto por um método diverso. Primeiramente, encontra-se a melhor regra de conduta. Isso é feito verificando o valor das consequências de se seguir uma regra particular. A regra que trouxer os melhores resultados para a coletividade é a mais indicada. Parte-se, assim, dos efeitos provocados quando as pessoas em geral seguem uma regra particular.48 Se essa regra trouxer os melhores benefícios, não apenas ao indivíduo, mas a todos, deve ser adotada. Aquele preceito individual, quando é benéfico à coletividade, deve ser o guia para uma ação determinada. Consideram-se, assim, os atos no plano abstrato da norma (dever-ser). A evolução do utilitarismo de regras alterou significativamente o princípio da utilidade, que passou a sobrepor-se ao utilitarismo simples: a promoção da felicidade deve estar no regramento da sociedade e não em condutas individuais. A utilidade que se quer será julgada como certa ou errada de acordo com a norma a ser obedecida. O foco do correto sai do plano individual e migra para o coletivo. Há uma restrição na escolha do sujeito, pois a utilidade de seu comportamento interessa não apenas a si mesmo, mas MILL, John Stuart. On liberty. p. 132. 46 SIMÕES, Mauro Cardoso. John Stuart Mill e a liberdade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008. p. 25. 47 48 BIERMAN, A. K. Op. cit. p. 297. 196 FAE Centro Universitário também a todas as pessoas (ou, pelo menos, ao maior número delas).49 O utilitarismo de regras impõe prescrições de comportamento que atraem maior utilidade ao meio social de quem as obedece. Vejamos o seguinte caso: há duas regras sobre mentir – (a) ninguém poderá mentir, em hipótese alguma; (2) ninguém poderá mentir, exceto para salvar um inocente. Os efeitos de seguir a segunda regra podem ser mais benéficos que os da primeira, mesmo que, em casos particulares, a primeira regra possa ser melhor.50 Ao Direito Penal interessa o utilitarismo de regras. As normas penais são expressas por meio de leis e essas são regras que incidem sobre o comportamento de todas as pessoas. A maximização da utilidade da norma penal é atingida por sua universalização51 pela qual as regras sociais de bem-estar resultam do comportamento do maior número possível de pessoas, indeterminadamente. Por isso, a utilidade da norma deve emergir do bem que se deseja alcançar à coletividade. E essa utilidade deve ser buscada com a menor restrição possível da liberdade das pessoas. 7 UTILITARISMO E DIREITO PENAL O Estado é ente soberano que impõe regras por meio das leis e, assim, procura determinar um padrão de comportamento. Um dos grandes conflitos do Direito é obrigar pessoas completamente diferentes a comportamentos semelhantes. Por exemplo, uma pessoa é mais calma e tolerante que outra, no entanto, ambas estão proibidas de praticar crimes; por outro lado, a lei não pode obrigar a pessoa mais nervosa a fazer tratamento para ser mais tolerante, pois seria uma invasão à sua privacidade. Muito importante conciliar as normas penais com a utilidade que elas podem trazer ao meio social. Entende-se que o utilitarismo de regras é perfeitamente aplicável ao Direito Penal desde que se tenha bem definida a utilidade que se deseja e os meios legítimos para alcançá-la. A utilidade deve estar estritamente ligada às finalidades e aos princípios do Direito Penal. O crime não pode ser punido por si mesmo, por sua essência, mas sim para alcançar uma utilidade: aumentar a expectativa na proteção dos interesses sociais.52 Diante de tais afirmações, divide-se a relação entre utilitarismo e Direito Penal nos seguintes pontos: (a) maior utilidade na proteção a bens jurídicos relevantes; e (b) maior FEINBERG, Joel. The forms and limits of utilitarianism. The Philosophical Review; Pittisburgh, v. 76, n. 3, p. 373, 1967. 50 BIERMAN, A. K. Op. cit. p. 298. 51 HARE, R. M. Freedom and reason. London, Oxford (England), New York (EUA): Oxford University, 1963. p. 118. 52 BRANDT, Richard B. The utilitarian theory of criminal punishment. p. 412. 49 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 185-204, jan./jun. 2012 197 utilidade como limite de interferência do Estado na vida particular da pessoa. A norma penal deve conciliar essas duas utilidades para ser justificada e legitimada. Como a lei penal limita o indivíduo em sua liberdade de agir, não se pode proibir mais do que seja necessário para que se alcance uma coexistência livre e pacífica.53 Trata-se, na verdade, de uma leitura utilitarista de dois princípios do Direito Penal, respectivamente: lesividade e subsidiariedade. A conjugação dessas duas utilidades é o núcleo do que se denominará “utilitarismo normativo-axiológico”. Em breves palavras, entende-se que o Direito Penal deve obedecer a critérios utilitaristas do melhor saldo na proteção de bens jurídicos e maior liberdade das pessoas, sem fixar-se em conceitos puramente moralistas. O utilitarismo deve ser normativo, porque implica elaboração e aplicação das normas, e axiológico à medida que há valores a ser considerados. O balanço entre a norma e os valores deve ser o mais próximo possível da segurança jurídica na tutela de bens e a liberdade individual. O Estado proíbe, obriga ou permite um comportamento considerando que todas as pessoas, ou quase todas, devem obedecer às regras estabelecidas para que, de um jeito ou de outro, seja alcançada uma utilidade de bem-estar social. As regras de comportamento são elaboradas por uma perspectiva de uniformização de comportamentos para atingir uma utilidade comum.54 7.1 PROTEÇÃO DE BENS JURÍDICOS RELEVANTES Conforme se discute exaustivamente pela doutrina, o Direito Penal deve se preocupar com bens jurídicos relevantes. Uma das utilidades do Direito Penal, portanto, é a proteção de bens jurídicos que não encontram outra forma eficiente de tutela no ordenamento. Assim, deve-se fazer um balanço daqueles interesses que o Direito em geral deve proteger e, no fim, destacar os mais relevantes que não podem ser protegidos de outra maneira. É o que aqui se denomina “utilitarismo da melhor proteção”. O Direito Penal deve ser a melhor proteção de um bem jurídico. E somente será a melhor proteção quando as outras formas não atingirem o objetivo. Além do Direito Penal, o mais repressivo, existem outros meios de controle social formal e informal. Na equação entre os benefícios de cada uma das possíveis proteções a um bem jurídico, o resultado final deve ser a maior eficácia do Direito Penal e a pouca ou nenhuma eficácia das demais formas de proteção. Um exemplo bem drástico é o homicídio. O tipo penal do homicídio possui maior eficácia de proteção à vida se comparado aos dispositivos do Código Civil que preveem a ROXIN, Claus. Que comportamentos pode o Estado proibir sob ameaça de pena? Sobre a legitimação das proibições penais. p. 33. 53 WARNOCK, G. J. The object of morality. London (England): Methuen Young Books. 1971. p. 31. 54 198 FAE Centro Universitário responsabilidade civil pela morte de alguém. Por outro lado, a sociedade conjugal é mais bem protegida pelo Direito Civil, que permite a separação judicial em caso de traição, em vez do revogado crime de adultério. O controle social formal é aquele exercido pelo conjunto de regras impostas pelo Estado. O exercício do controle social formal pertence às instituições oficiais, por meio das normas (Poder Judiciário, polícias, o sistema da justiça criminal, as prisões).55 Por controle social informal, compreende-se o conjunto de regras impostas por grupos não oficiais do Estado e que, de alguma maneira, impõem determinados comportamentos. Por exclusão, é permitido afirmar que as regras de conduta não estipuladas pelo Estado fazem parte do controle social informal. Os exemplos típicos são a família, a escola, as igrejas, as associações privadas etc. Regras, por conseguinte, podem ser estipuladas pelo Estado ou por outras instituições sempre à procura de uma utilidade consequente de seu cumprimento. A utilidade de uma incriminação passa pela eficácia da tutela penal perante um conflito social. A interferência em comportamentos autolesivos por meio do Direito Penal apenas terá utilidade quando o bem a ser protegido apresentar grande relevância. Por ser o meio mais rigoroso de resolução de conflitos, os gastos do Estado e os custos para os cidadãos gerados por um procedimento criminal devem ser compensados pelo valor do bem que se pretende proteger. E mesmo dentro do rol de interesses que merecem a tutela penal, é necessário que a gravidade da sanção seja proporcional à importância de cada um para as expectativas de bem-estar social.56 A utilidade da melhor proteção é o saldo positivo resultante do cálculo efetuado entre os custos provocados pelo Direito Penal e pelos demais ramos do Direito ou pelos meios de controle social informal. O valor do bem a ser preservado deve compensar o custo final do procedimento: desde a movimentação da máquina do Estado para investigar o caso até o final do processo com a decisão transitada em julgado. Dentre os custos, incluem-se não apenas as despesas, mas também o tempo e o desgaste decorrentes do tratamento criminal dado a um conflito. Se o Estado entender que o problema deve ser resolvido pelo controle formal, outros meios menos custosos estão disponíveis, como a reparação civil dos danos causados ou multas administrativas. Devem ser considerados todos os meios não penais antes de recorrer ao Direito Penal. O Direito possui outros ramos que também apresentam formas de resolução de conflitos. O Direito Administrativo e o Direito Civil são menos custosos, uma vez que a sanção cominada não priva o agente de sua liberdade nem o coloca na condição de acusado ou réu de um procedimento criminal. Em caso de aplicação da sanção, também não há 55 TAVARES DOS SANTOS, José Vicente. Violências e dilemas do controle social nas sociedades da “modernidade tardia”. São Paulo em Perspectiva, São Paulo, v. 18, n. 1. 2004. p. 6. BRANDT, Richard B. The utilitarian theory of criminal punishment. p. 411. 56 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 185-204, jan./jun. 2012 199 consequências drásticas como os antecedentes e a reincidência que serão carregados por longo tempo. Tem-se aqui a utilidade da maior eficácia. 7.2 A MAIOR LIBERDADE AOS CIDADÃOS Outro aspecto utilitarista do Direito Penal é a finalidade de se atingir a maior eficácia da tutela preservando a maior liberdade dos cidadãos. O Direito Penal restringe a liberdade de todos quando proíbe certas condutas e, por isso, num estado liberal, esse custo deve ser compensado. Assim, o cálculo a ser feito deve considerar a proteção do bem e a parcela de liberdade retirada dos destinatários da norma. As normas penais, em regra, são proibitivas. A proibição está compreendida pela sanção cominada àquele que praticar o fato descrito como crime. Quanto maior o rol de tipos penais num ordenamento, menor a liberdade de agir das pessoas daquela sociedade. Se elevado for o número de condutas proibidas, elevado também será o desconforto do cidadão por saber que há grande chance de incorrer num crime e ser penalmente responsabilizado. Se o processo de criminalização não for racional, de acordo com as diretrizes para aumentar a utilidade da norma, o Direito Penal terá um valor meramente simbólico e sua legitimação encontrar-se-á em crise.57 O saldo final da eficácia da norma e do seu nível de proibição deve ser a maior parcela de liberdade possível. Por conseguinte, a lei penal, por seu maior rigor, quanto mais utilizada pelo Estado, apresentará menor saldo. A reduzida liberdade dos cidadãos somente será justificada pela eficácia da tutela penal no caso aplicado. O raciocínio utilitarista, assim, considera a utilidade da proibição o maior grau de eficácia na proteção do bem jurídico. Se a eficácia da norma não superar o atentado à liberdade dos cidadãos, a proibição não terá utilidade sendo, dessa forma, ilegítima. É essa a utilidade da maior liberdade. 7.3 UTILITARISMO NORMATIVO-AXIOLÓGICO Dados os conceitos necessários, apresenta-se a proposta de um utilitarismo normativo-axiológico aplicável ao Direito Penal. Se sua função é proteger bens jurídicos relevantes preservando a maior liberdade possível das pessoas, sua utilidade depende do cálculo elaborado a partir de suas proibições e da eficácia obtida. Como não existe certeza sobre a real eficácia da lei, deve-se trabalhar com as probabilidades de que determinada proibição terá os efeitos desejados na defesa dos interesses pretendidos.58 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A ilusão de segurança jurídica. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 1997. p. 292 e ss. 57 NERI CASTAÑEDA, Hector. Acción abierta, utilidad y utilitarismo. Crítica: Revista Hispanoamericana de Filosofía, Cidade do México (México), v. 3, n. 9, p. 79, set. 1969. 58 200 FAE Centro Universitário O utilitarismo normativo-axiológico é a busca por uma utilidade do Direito Penal com base na defesa dos interesses de terceiros, quando atacados sem o consentimento de seus titulares, e dos interesses próprios, quando esses titulares prejudicarem o exercício da autonomia. O primeiro adjetivo – normativo – refere-se ao conjunto de normas de natureza penal, direcionadas às pessoas em geral, sem restrições. São regras de comportamento que têm o objetivo de evitar prejuízos aos interesses tutelados pelo Direito Penal. Todos devem, a rigor, agir conforme a norma para que a utilidade seja alcançada. O segundo adjetivo – axiológico – está relacionado aos valores intrínsecos aos interesses protegidos. A valoração tem por referencial a garantia da autonomia de decidir por um comportamento que diga respeito a si mesmo ou aos demais. A autonomia emerge como valor maior que o Direito Penal deve proporcionar a todas as pessoas. Quando não houver a autonomia em determinado momento, o Estado deve intervir para preservar o bem jurídico em questão, assumindo uma postura que provavelmente seria a escolhida pela pessoa. Ausente a autonomia, o Estado supre a lacuna como se o sujeito tivesse consentido hipoteticamente para a proteção de seu interesse. A utilidade de ordem axiológica parte do pressuposto de que a norma penal não pode exercer a proteção de qualquer bem jurídico. É necessário avaliar se a proteção pretendida atende à melhor preservação da autonomia de pessoa. Por isso, deve-se agregar valor à intervenção de acordo com os princípios fundamentais do Direito Penal (principalmente subsidiariedade, lesividade e proporcionalidade). A imposição de comportamentos está calcada nas atitudes que não atinjam a autonomia de terceiros ou do próprio titular do bem. Como o valor daquilo que é bom passa pelo crivo interno da própria pessoa, o único valor que pode ser objetivamente assimilado pelo legislador é a autonomia. A ética normativa e a ética axiológica exercem funções distintas na Filosofia. Nem sempre aquilo que deve ser feito confunde-se com aquilo que é bom. O Direito Penal deve assegurar a cada indivíduo o direito de avaliar sua própria vida e decidir o que seja melhor a si mesmo.59 Ao assegurar a autonomia individual, ao mesmo tempo em que o correto é dar o direito de decidir com base na avaliação subjetiva, o sujeito tem a deliberação de agir conforme sua vontade. A discussão sobre quais bens devem ser tutelados é muito ampla e repleta de problemas. O que é o correto para uns pode não ser para outros, e isso impede a elaboração de um rol de bens jurídicos tutelados que agrade a todos. O interesse próprio de cada pessoa não é suficiente para proibir ou ordenar condutas justamente pela falta de coincidência entre os interesses de todos os membros de uma sociedade.60 Por isso, DIEGO FARRELL, Martín. Op. cit. p. 141. 59 GAUTHIER, David P. Morality and rational self-interest. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1970. p. 3 e ss. 60 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 185-204, jan./jun. 2012 201 defende-se a autonomia como interesse fundamental do Direito Penal, para que cada um escolha o melhor a si próprio e não seja importunado por questões meramente morais. Cabe ao Estado buscar os meios menos gravosos de proteger os interesses individuais e apenas fazer uso do Direito Penal quando não houver outra solução. Se a interferência estatal for necessária, os outros instrumentos de proteção devem ter prioridade sobre a coerção. Caso medidas coercitivas sejam necessárias, elas não podem consistir em sanções. Por fim, se punições forem necessárias, as sanções do direito privado e do direito administrativo devem ter prioridade.61 CONCLUSÃO O utilitarismo é uma forma de pensamento e análise do fato que possui grande importância do Direito Penal. Mill foi um dos grandes pensadores a priorizar a utilidade do ato sobre seu valor. Se levarmos a fundo a ideia de Mill no Direito Penal, o bem jurídico perde seu valor na teoria do delito para dar lugar ao resultado pretendido pela proibição. Portanto, deve-se ter cautela na análise das consequências de uma proibição para não fundamentá-la apenas na inibição sem considerar o que se quer tutelar. As consequências de uma proibição penal, partindo de uma visão utilitarista, devem ter em conta duas vertentes: a melhor proteção ao bem jurídico e a menor restrição da liberdade. O conceito de bem jurídico, apesar da sua importância reduzida com o surgimento de novas formas criminosas, não pode ser descartado. Assim, seguindo a proposta de Mill, um bem jurídico deve estar diretamente ligado à preservação da autonomia da pessoa. Portanto, a proibição criminal deve ser eficaz na proteção da autonomia individual, tutelando os interesses mais importantes para o desenvolvimento humano. Ao mesmo tempo, as restrições à liberdade devem ser as menores possíveis, de preferência apenas quando não houver consentimento válido sobre lesão a interesse próprio (seja na autolesão, seja na lesão provocada por terceiro). A intervenção exacerbada do Estado, proibindo condutas e escolhendo o que é melhor ao indivíduo, contraria a preservação da autonomia proposta por Mill. JAREBORG, Nils. Op. cit. p. 524. 61 202 FAE Centro Universitário REFERÊNCIAS ALEXANDER, Larry; MOORE, Michael. Deontological ethics. In: STANFORD encyclopedia of philosophy. Disponível em: <http://plato.stanford.edu/entries/ethics-deontological>. Acesso em: 6 ago. 2009. ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A ilusão de segurança jurídica. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997. ANGELES, Peter A. The Harper Collins dictionary of philosophy. New York: Harper Collins, 1992. BIERMAN, A. K. Life and morals: an introduction to ethics. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1980. BLACKBURN, Simon. Oxford dictionary of philosophy. New York: Oxford University, 2008. BRANDT, Richard B. The utilitarian theory of criminal punishment. In: ARTHUR, John (Coord.). Morality and moral controversies: readings in moral, social, and political philosophy. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1981. BRONCANO RODRÍGUEZ, Fernando. Epistemología social y consenso en la ciência. Revista Hispanoamericana de Filosofía, México, v. 31, ago. 1991. CHAN, Joseph.Ligitimacy, unanimity and perfectionum. Philosophy and Public Affairs, Princeton, v. 29, n. 1, p. 5-42, 2000. CRIMMINS, James E. Contending interpretations of Bentham’s utilitarianism. Canadian Journal of Political Science, v. 29, n. 4, dic. 1996. CRISP, Roger. Deontological ethics. In: HONDERICH, Ted (Org.). The Oxford Guide to Philosophy. Oxford (England): Oxford University, 2005. DIEGO FARRELL, Martín. Privacidad, autonomia y tolerancia. Buenos Aires: Hammurabi, 2000. DRIVER, Julia. The History of utilitarianism. In: STANFORD encyclopedia of philosophy. Disponível em: <http://plato.stanford.edu/entries/utilitarianism-history/>. Acesso em: 10 jun. 2009. DWORKIN, Gerald. Paternalism: some second thoughts. In: _____. (Coord.). The theory and practice of autonomy. Cambridge (England); New York: Cambridge. 1988. _____. Positive and negative freedom. In: AUDI, Robert (Org.). The Cambridge dictionary of philosophy. Cambrige, England: Cambridge University, 2006. DZUR, Albert W. Liberal perfectionism and democratic participation. Polity, Staten Island, v. 30, n. 4, summer 1998. FEINBERG, Joel. The forms and limits of utilitarianism. The Philosophical Review, Pittisburgh, v. 76, n. 3, 1967. GALVÃO, Pedro. A teoria utilitarista de J. S. Mill: uma caracterização. Disponível em: <http://www.spfil.pt/trolei/tr01_galvao1.htm>. Acesso em: 4 ago. 2009. GAUTHIER, David P. Morality and rational self-interest. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1970. Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 185-204, jan./jun. 2012 203 GOMES, Mariangela Gama de Magalhães. O princípio da proporcionalidade no direito penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. GRECO, Luis; TORTIMA, Fernanda Lara. O bem jurídico como limitação do poder estatal de incriminar? Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. HARE, R. M. Freedom and reason. Oxford, England; New York: Oxford University, 1963. HOWARD-SNYDER, Frances. The heart of consequentialism. Philosophical Studies: an international journal for philosophy in the analytic tradition, v. 76, n. 1, p. 107-129, oct. 1994. KUHL, Kristian. Strafrecht, allgemeiner Teil. Munique: Vahlen, 2005. MARKIE, Peter. Rationalism. In: Stanford Encyclopedia of Philosophy. Disponível em: <http://plato.stanford.edu/entries/rationalism-empiricism/>. Acesso em: 20 mar. 2010. MILL, John Stuart. Utilitarianism, Edited by George Sher. Indianapolis: Hackett, 2001. ______. On liberty. Edited by David Brommvich, George Kaleb. New Haven: Yale University, 2003. MIR PUIG, Santiago. Introducción a las bases del derecho penal: concepto y método. Barcelona: Bosch, 1982. MOORE, G. E. Ethics. London: Oxford University, 1912. NERI CASTAÑEDA, Hector. Acción abierta, utilidad y utilitarismo. Crítica: Revista Hispanoamericana de Filosofía, México, v. 3, n. 9, set. 1969. OMAR SELEME, Hugo. ¿Puede el utilitarismo ser deontológico? una respuesta a Kymlicka. Crítica: Revista Hispanoamericana de Filosofía, México, v. 36, n. 107, ago. 2004. PLAMENATZ, John. The english utilitarians. New York: Macmillan, 1949. RACHELS, James. The elements os moral philosophy. New York: Random House, 1986. RIVERA LOPEZ, Eduardo. De la racionalidad a la razónabilidad: ¿es posible una fundamentación epistemológica de una moral “política”? Revista Hispanoamericana de Filosofía, México, v. 29, n. 86, ago. 1997. SIMÕES, Mauro Cardoso. John Stuart Mill e a liberdade. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2008. SINNOTT-ARMSTRONG, Walter. Consequentialism. In: Stanford Encyclopedia of Philosophy. Disponível em: <http://plato.stanford.edu/entries/consequentialism>. Acesso em: 4 ago. 2009. SINNOTT-ARMSTRONG, Walter. An argument for consequentialism. Philosophical Perspectives, v. 6, Ethics, p. 399-421, 1992. SPARKS, Jared; EVERETT, Edward; LOWELL, James Russell. The North American Review, Boston, v. 97, n. 200, jul. 1863. TAVARES DOS SANTOS, José Vicente. Violências e dilemas do controle social nas sociedades da “modernidade tardia”. São Paulo em Perspectiva, São Paulo, v. 18, n. 1, p. 3-12, jan./mar. 2004. WARNOCK, G. J. The object of morality. London: Methuen Young Books, 1971. 204 FAE Centro Universitário A EXTRADIÇÃO E O ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO – ESTUDOS SOBRE O “CASO BATTISTI” EXTRADITION AND THE BRAZILIAN LEGAL SYSTEM – STUDIES ABOUT THE “BATTISTI CASE” Nataly Evelin Konno Rocholl* RESUMO Trata-se de análise que tem por finalidade estudar a complexidade do pedido de extradição no ordenamento jurídico brasileiro e analisar o cumprimento dos tratados celebrados entre países, a Lei nº 6.815/80, a Constituição Federal e a Lei nº 9.474/97. Para isso, será feito um estudo de caso da extradição de Cesare Battisti, condenado pelo o Judiciário italiano à prisão perpétua por quatro homicídios. Há dúvidas em face dos ditames normativos que regem o instituto da extradição e da autoridade competente pelo julgamento do extraditando. Além disso, serão examinadas as hipóteses em que o instituto extradicional pode ser concedido, bem como quando é expressamente proibido. Palavras-chave: Tratados. Constituição Federal. Supremo Tribunal Federal. ABSTRACT This article will analyze the complexity when it comes to the request for extradition in the Brazilian legal system and analyze the fulfillment of treaties agreement between countries, the Law 6.815/80, the Federal Constitution and the Law 9.474/97. For that will be done a deep study of the case Cesare Battisti, who was extradited to be sentenced to live imprisonment for four years in his homeland, Italy. Other point is who will have the final word: the competence authority of the extradited, the President of Brazil or the Supreme Court. Besides, will be analyzed the hypotheses when the extradition institute may be granted, or when is expressly forbidden. Keywords: Treaties. Federal Constitution. Brazilian Supreme Court. * Advogada. Docente do Núcleo de Pós-graduação do Centro Universitário de Goiás Uni-ANHANGUERA. Mestre em Direito Internacional. Pós-graduada em Administração Pública, Auditoria Pública, Auditoria Fiscal e em Jurisdição e Estado. Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 205-244, jan./jun. 2012. 205 INTRODUÇÃO Com vistas a evitar a impunidade de criminosos que atravessam as fronteiras territoriais de um Estado, onde tenham cometido delito, o Direito Internacional vale-se de importante ferramenta para dirimir tal celeuma, qual seja, a extradição, que é um ato de cooperação internacional que consiste na entrega de uma pessoa, acusada ou condenada por um ou mais crimes, ao país que a reclama. Distingue-se de outras ferramentas de retorno compulsório reguladas pelo Direito Internacional, a saber, deportação e expulsão. Enquanto a primeira é processo de devolução obrigatória ao Estado de sua nacionalidade ou procedência de um estrangeiro que entra ou permanece irregularmente no território de outro Estado, a outra é ato administrativo que obriga o estrangeiro a sair do território de um Estado e o proíbe de retornar a tal território, respectivamente. A extradição é tradicionalmente regulamentada por tratados assinados entre os países. No Brasil, tal instituto encontra-se disciplinado tanto na Constituição Federal como no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Destarte, na falta de tratado com determinado país, o pedido extradicional será balizado pela Lei nº 6.815/80, Estatuto do Estrangeiro. O caso do italiano Cesare Battisti, ex-ativista, membro do grupo Proletários Armados pelo Comunismo (PAC), acusado por quatro assassinatos em seu país de origem, gerou grande polêmica. Este fora condenado à prisão perpétua em seu país, Itália. A fim de não cumprir tal sentença, foge para França, México e, por fim, Brasil, onde fora encontrado e preso. O Estado italiano pediu sua extradição, todavia, o Ministro da Justiça, Tarso Genro, concedeu-lhe o refúgio político. Nesta pugna entre Poder Judiciário e o Poder Executivo, em que a concessão do refúgio obsta a continuidade do pedido de extradição, ocorreu o presente caso. O Supremo Tribunal Federal, em análise do caso aqui esboçado, por votação majoritária, entendeu que o italiano deveria ser extraditado e, tendo o Presidente da República a palavra final quanto à sua entrega, negou a sua extradição, fato que acabou sendo confirmado pelo Supremo Tribunal Federal em recente e igualmente polêmico julgamento. Nesse conflito hermético, sobre qual dos poderes deve velar sobre tal caso, será feito o presente estudo. 206 FAE Centro Universitário 1 UMA BREVE EXPOSIÇÃO DO CASO BATTISTI A análise do caso Cesare Battitisti é de suma importância no estudo da extradição, assim como no direito dos refugiados. O ex-ativista do grupo Proletários Armados pelo Comunismo (PAC), organização de extrema esquerda, criada em 1976, na região de Lombardia, Itália, foi condenado à prisão perpétua, no mesmo país, em 1983, por quatro homicídios, cometidos contra um guarda carcerário, um agente de polícia, um militante neofascista e um joalheiro. Tais delitos teriam sido cometidos entre 1977 e 1979. Battisti alegou inocência negando a autoria dos crimes.1 Em 1979, foi preso em Milão, levado para uma penitenciária de segurança máxima, sob a acusação de subversão contra a ordem do Estado. Após dois anos, seu processo foi revisto e Battisti foi transferido para uma prisão comum, de onde conseguiu escapar graças à ajuda de Pietro Mutti, antigo companheiro do PAC, seguindo, em 1982, para o México, mesmo ano em que Mutti foi preso pela polícia italiana.2 A “Lei dos Arrependidos”, que beneficiava presos políticos com redução de suas penas caso denunciassem pessoas que fizessem parte de grupos de resistência, fez com que Mutti denunciasse vários militantes, tendo sua prisão perpétua reduzida a nove anos.3 Entre as diversas denúncias feitas por ele, estão os quatro homicídios de que Battisti é acusado. Em 1990, Battisti vai à França, onde a Doutrina Mitterrand, criada pelo presidente François Mitterand, assegurava aos militantes que largaram as armas proteção política. Tal doutrina foi definida durante um discurso no Palácio dos Desportos em Rennes, em 1 de fevereiro de 1985. No dia 21 de abril de 1985, no 65º Congresso de Direitos Humanos (League Human Rights), ele declarou que os criminosos italianos que rompessem com seus atos violentos poderiam ficar protegidos na França. Isso fez com que muitos italianos ligados a grupos terroristas se refugiassem no País, pois em troca não seriam extraditados. Battisti viveu em Paris, trabalhando como zelador do prédio em que morava e também como escritor de livros policiais, que denunciavam a Itália repressora. O governo italiano pediu sua extradição por duas vezes, contudo ambos os pedidos foram negados pela Corte de Acusação de Paris, até que, em fevereiro de 2004, O GLOBO. Caso Cesare Battisti. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/pais/mat/2009/09/09/ entendacasocesare-battisti-767531752.asp>. Acesso em: 11 set. 2010. 1 Ibid. Acesso em: 11 set. 2010. 2 Les réfugiés italiens [...] qui ont participé à l’action terroriste avant 1981 [...] ont rompu avec la machine infernale dans laquelle ils s’étaient engagés, ont abordé une deuxième phase de leur propre vie, se sont inséré dans la société française [...]. J’ai dit au gouvernement italien qu’ils étaient à l’abri de toute sanction par voie d’extradition [...]. 3 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 205-244, jan./jun. 2012. 207 o Conselho de Estado da França analisou novo pedido e, após catorze anos vivendo na França, Battisti é preso. Assim, para tornar o processo de extradição legal, o presidente Jacques Chirac revê a Doutrina Mitterrand. Battisti foi solto após três semanas, pois, em um primeiro momento, tanto a mídia francesa quanto a opinião pública estavam do seu lado e consideravam sua prisão como “uma afronta ao Estado de Direito Francês”. No entanto, logo após ter sido solto, o Tribunal francês decide então por sua extradição. Battisti mais uma vez foge, agora para o Brasil. O italiano estaria vivendo foragido no Brasil desde 2004. Em 18 de março de 2007, no Rio de Janeiro, Battisti foi preso e o governo italiano pediu sua extradição em maio do mesmo ano.4 Contudo, o Comitê Nacional para Refugiados (Conare), organismo público responsável em receber as solicitações de refúgio e principalmente analisar os fatos para determinar se o solicitante se enquadra nas condições necessárias para que seja considerado como refugiado, negou a condição de refugiado ao italiano.5 Assim, já em 2009, na noite da terça-feira de 13 de janeiro, o Ministério da Justiça anunciou que o Ministro da Justiça, Tarso Genro, decidiu pela concessão de refúgio político ao escritor italiano Cesare Battisti, de 52 anos, que se encontrava preso na Penitenciária da Papuda do Distrito Federal. Tarso Genro alegou que o italiano não teve direito à ampla defesa no seu País de origem e que seu retorno poderia causar risco à sua integridade física.6 Então, o Presidente da Itália, Giorgio Napolitano, surpreso com a decisão de Genro, apelou ao Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para que este revisse a decisão. Para o governo italiano, Battisti não teria cometido nenhum crime por motivações políticas, mas homicídios. Sem mais delonga, a concessão do refúgio político obstaria o processo de extradição e faria com que este perdesse sua validade. Por fim, o governo italiano ajuizou um mandado de segurança questionando a legalidade da decisão do Ministro. O Ministro Gilmar Mendes pediu a revisão da decisão do refúgio concedido ao Procurador-Geral da República no dia 16 de janeiro de 2009. O julgamento da extradição de Battisti começou no dia 9 de setembro de 2009, quando o Relator do processo, Cezar Peluso, decidiu que os crimes cometidos pelo italiano são crimes comuns, não políticos.7 O GLOBO. Caso Cesare Battisti. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/pais/mat/2009/09/09/ entendacasocesare- battisti-767531752.asp>. Acesso em: 11 set. 2010. 4 JUSBRASIL. Disponível em: <http: //www.jusbrasil.com.br/noticias/714699/refugio-ou-extradicaoespecialistasse- dividem-sobre-caso-battisti>. Acesso em: 11 set. 2010. 5 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticia Stf/ anexo/EXT1085GM.pdf>. Acesso em: 3 fev. 2010. 6 O GLOBO. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/pais/mat/2009/09/09/entenda-caso-cesarebattisti-767531752.asp>. Acesso em: 11 set. 2010. 7 208 FAE Centro Universitário Dos onze Ministros do Supremo, apenas nove votaram no caso Battisti. O Ministro Celso de Mello e o mais novo Ministro, Dias Toffoli, se declararam suspeitos para julgar o pedido de extradição. Coadunaram com o posicionamento do Relator os Ministros Ricardo Lewandowski, Carlos Britto e a Ministra Ellen Gracie, que votaram a favor da extradição. Já os Ministros Eros Grau, Joaquim Barbosa,e a Ministra Cármen Lúcia votaram no sentido de que o Supremo não pode reaver a concessão dada pelo Ministro Tarso Genro. Nesse mesmo dia, o julgamento do processo de extradição foi interrompido, pois o Ministro Marco Aurélio pediu mais tempo para avaliar o caso.8 A sessão teve continuidade na quinta feira, dia 12 de setembro, com a votação empatada, sob a alegação de que o ato de dar refúgio é prerrogativa do Poder Executivo e não cabe ao Judiciário analisá-lo. O voto de desempate foi dado pelo Presidente do STF, Gilmar Mendes, no dia 18 de novembro de 2009. Para ele, o simples fato de um crime ter motivação política não o transforma necessariamente em crime político. No julgamento, o STF considerou, por cinco a quatro, que o refúgio concedido pelo governo brasileiro a Battisti foi irregular. Todavia, apesar de o italiano ter sido condenado à prisão perpétua, Battisti poderá ficar preso em seu País por tempo não superior a 30 anos, pena máxima prevista pela legislação brasileira. Diante da complexidade do caso do ex-ativista italiano, várias questões polêmicas nasceram sobre extradição, como estabelecer qual a autoridade competente e definitiva para determiná-la. Para alguns Ministros, como Gilmar Mendes e Cezar Peluso, a decisão sobre extradição é exclusiva do Judiciário. Entretanto, para o Ministro Marco Aurélio, a decisão final é do Poder Executivo. Após extensa discussão, o Tribunal se dividiu. A Ministra Ellen Gracie, o Relator Cezar Peluso, o Ministro Ricardo Lewandowski e o Presidente do STF, Gilmar Mendes, sobre os mesmos trilhos, entendem que o presidente não pode descumprir a decisão do Supremo. Os Ministros se basearam no tratado de extradição entre os dois países, Brasil e Itália, assinado em 1989, e no Estatuto do Estrangeiro. Peluso ironizou, em meio ao debate, a possibilidade de o Presidente Lula se negar a extraditar Battisti, dizendo: “Isso transformaria os julgamentos de extradição pelo STF em uma brincadeira infantil e pura perda de tempo. Por que razão o Brasil pleiteia uma vaga no Conselho de Segurança da ONU se descumpre tratados internacionais?”.9 O GLOBO. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/pais/mat/2009/11/17/stf-autoriza-extradicao-decesarebattisti-914798301.asp>. Acesso em: 12 set. 2010. 8 UOL. Disponível em: <http://ultimainstancia.uol.com.br/noticia/LULA+DARA+PALAVRA+FINAL+ SOB RE+EXTRADICAO+DE+CESARE+BATTISTI_66705.shtml>. Acesso em: 24 nov. 2010. 9 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 205-244, jan./jun. 2012. 209 Ele deixou claro que, segundo o tratado bilateral, o Presidente da República não pode se recusar a entregar as pessoas que sejam procuradas pelas autoridades judiciárias da parte requerente. Está disciplinado no art. I do Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e a República Italiana, in verbis: Artigo I Cada uma das partes obriga-se a entregar à outra, mediante solicitação, segundo as normas e condições estabelecidas no presente tratado, as pessoas que se encontrem em seu território e que sejam procuradas pelas autoridades judiciais da parte requerente,para serem submetidas a processo penal ou para a execução de uma pena restritiva de liberdade pessoal. Contudo, o entendimento dos Ministros Marco Aurélio Mello, Cármen Lúcia, Joaquim Barbosa, Eros Grau e Carlos Ayres Britto defendeu que por ser o responsável pela política externa brasileira, é o Presidente da República quem dá a última palavra sobre a conveniência ou não da entrega de um estrangeiro procurado em outro país, fato que efetivamente ocorreu.10 Sobre esse placar, cinco votos a quatro, a Corte Maior decidiu no dia 18 de novembro de 2009 que a decisão final sobre a entrega do ex-ativista comunista deveria ser tomada pelo Presidente da República. Luiz Inácio Lula da Silva se pronunciou no seu último dia de mandato pela não concessão da extradição. Fato é que Battisti tampouco cumprirá no Brasil a pena imposta na sua condenação pelo Estado italiano.11 2EXTRADIÇÃO 2.1 CONCEITO E CLASSIFICAÇÃO A origem etimológica do vocábulo extradição tanto pode ter sua origem na expressão latina extraditione, que significa o retorno compulsório de uma pessoa reclamada ao seu soberano, como também no termo extraditio, este, por sua vez, não existia na língua latina, 10 O GLOBO. Caso Cesare Battisti. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/pais/mat/2009/09/09/ entendacasocesare- battisti-767531752.asp>. Acesso em: 13 set. 2010. JORNAL DA COMUNIDADE, Brasília, 12 a 18 de setembro de 2009, p. A2. 11 210 FAE Centro Universitário na qual se encontrava apenas o termo traditio, que significa transporte de pessoa ou coisa e sua respectiva entrega.12 Ora, a extradição é ato de entrega que determinado Estado realiza de um indivíduo procurado pela Justiça, para ser processado ou para a execução da pena, por ilícito cometido fora de seu território, a outro Estado que o reclama e que é competente para promover o julgamento e aplicar punição.13 Ainda, conceitua Kléber Oliveira Veloso sobre o instituto em tela, in verbis: “O método jurídico de Direito Comunitário por intermédio do qual um Estado solicita ao outro a recondução, ao território do primeiro, de uma pessoa acusada de infrigir a lei penal, para que possa ser processada e julgada pelo Estado reclamante”.14 Devido à interação e ao desenvolvimento dos meios de transporte e de comunicação, interessa dizer que a atividade criminosa intensificou sua atividade de modo espacial e mesmo sua mobilidade. Dessa necessidade internacional de combater a criminalidade, que agora, não como antes, não possui restrições territoriais, punge a necessidade de instrumentos jurídicos que coíbam ou que sejam úteis para a aplicação de sanções.15 Destarte, a extradição funciona como mecanismo pelo qual os Estados em cooperação lutam contra a criminalidade, compelindo a impunidade de transgressores que ultrapassem os limites territoriais de um Estado.16 Francisco Rezek conceitua a extradição como a entrega feita por um país a outro – mediante requisição – de indivíduo que deva cumprir pena ou responder a processo penal no território do país requerente. E ressalva: cuidar-se de uma relação executiva, com envolvimento judiciário de ambos os lados: o governo requerente da extradição só toma essa iniciativa em razão da existência de processo penal – findo ou em curso – ante sua Justiça; e o governo do Estado requerido não goza, em geral, de uma prerrogativa de decidir sobre o atendimento do pedido senão depois de um pronunciamento da Justiça local.17 Tal instituto comporta algumas segmentações, que visam classificá-lo adequadamente, pois ele pode se dar sob diversas formas. Entre as principais, destacam-se as extradições passiva e ativa; de fato e de direito; instrutória e executória e, também, a reextradição. 12 CARNEIRO, Camila Tagliani. A extradição no ordenamento jurídico brasileiro. São Paulo: Memória Jurídica, 2002. p. 17. Ibid., p. 18. 13 VELOSO, Kleber Oliveira. O instituto extradicional. Goiânia: AB, 1999, p. 22-23. 14 GOMES, Maurício Augusto. Aspectos da extradição no direito brasileiro, Justitia, São Paulo, v. 52, n. 152, p. 40-51, out./dez. 1990. 15 LISBOA, Carolina Cardoso Guimarães. A relação extradicional no direito brasileiro. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. p. 21 16 REZEK, José Francisco. Direito internacional público: curso elementar. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 33. 17 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 205-244, jan./jun. 2012. 211 Primeiramente sobre as modalidades passiva e ativa, uma é requerida ao Brasil por outro Estado, e outra é solicitada pelo Brasil, respectivamente. Ambas são regidas pelas disposições de tratados bilaterais sobre o assunto. Na inexistência destes, regulam a extradição as normas internas vigentes no país requerido e as normas de Direito Internacional.18 Cumpre, ainda, salientar a diferença entre a extradição de fato e de direito. Enquanto a primeira é a entrega do indivíduo sem que seja empregado qualquer procedimento jurídico, a outra segue os ditames normativos internos e internacionais. E assim, a extradição de fato não oferece as mesmas garantias da extradição de direito, pois não é considerada uma medida legal.19 Na modalidade instrutória, o instituto estudado nasce de solicitação que visa submeter determinado indivíduo a um processo criminal, já a executória tem por finalidade fazer com que o indivíduo cumpra a pena que lhe fora atribuída.20 Por derradeiro, a reextradição ocorre quando um Estado concede a extradição a outro e este a concede a um terceiro. As análises deste estudo serão as regras de extradição passiva (quando requerida ao Brasil por outro Estado) do Brasil, ou seja, as normas que regem os pedidos dirigidos ao Estado brasileiro. Em princípio, qualquer indivíduo que cometa ato criminoso é passível de extradição. No caso de Cesare Battisti, o governo italiano pediu sua extradição ao governo brasileiro para que se aplique a devida punição ao ex-ativista. Assim, no nosso ordenamento jurídico, a extradição é abordada na Constituição Federal de 1988, em seu art. 102, inc. I, alínea “g”, que estabeleceu que compete ao STF processar e julgar a extradição solicitada por Estado estrangeiro, conforme dispõe o artigo: Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I - processar e julgar, originariamente: [...] g) a extradição solicitada por Estado estrangeiro.21 Portanto, cabe ao STF o exame prévio de legalidade da extradição, mediante análise da presença de seus pressupostos arrolados na lei brasileira e nos tratados porventura aplicáveis. VELOSO, Kleber Oliveira. O instituto extradicional. Goiânia: AB, 1999, p. 53. 18 CASTRO, Joeliria Vey. Extradição: Brasil e Mercosul. Curitiba: Juruá, 2003. p. 23. 19 VELOSO, Kleber Oliveira. Op. cit., Goiânia: AB, 1999. p. 55. 20 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: <www.presidencia. gov.br>. Acesso em: 10 abr. 2010. 21 212 FAE Centro Universitário Esses tratados se fundamentam na norma pacta sunt servanda (os acordos devem ser cumpridos), que é um dos princípios constitucionais da sociedade internacional. De acordo com o art. 83 da Lei nº 6.815/80, nenhuma extradição será concedida sem prévio pronunciamento do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre sua legalidade e procedência, não cabendo recurso da decisão. Porém, autorizada a extradição pelo Supremo Tribunal Federal, inicia-se a segunda fase, em que o Poder Executivo decidirá sobre sua conveniência. No caso de Cesare Battisti, o refúgio concedido pelo Ministro da Justiça, Tarso Genro, impediria o Supremo Tribunal Federal de examinar o pedido do governo italiano, porém a Constituição reserva à Suprema Corte a competência originária de julgar e processar o pedido de extradição, o que obrigaria o Executivo a consultá-la antes de se pronunciar sobre tais pedidos. O art. 81 da Lei nº 6.815/80 diz que o Ministério das Relações Exteriores remeterá o pedido ao Ministério da Justiça, que ordenará a prisão do extraditando, colocando-o à disposição do Supremo Tribunal Federal. Assim como no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, encontra-se o art. 208, que diz a respeito do pedido de extradição: “Art. 208. Não terá andamento o pedido de extradição sem que o extraditando seja preso e colocado à disposição do Tribunal”.22 Sua prisão preventiva foi efetivada, de acordo com o art. 84 da Lei nº 6.815/80: Art. 84. Efetivada a prisão preventiva do extraditando(artigo 81), o pedido será encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. Parágrafo único. A prisão perdurará até o julgamento final do Supremo Tribunal Federal, não sendo admitidas a liberdade vigiada, a prisão domiciliar, nem a prisão albergue.23 Bem como seguindo o art. XIII do Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e a República Italiana: Art. 81. O Ministério das Relações Exteriores remeterá o pedido ao Ministério da Justiça, que ordenará a prisão do extraditando colocando-o à disposição do Supremo Tribunal Federal: Artigo XIII 1. Antes que seja entregue o pedido de extradição, cada parte poderá determinar, a pedido da outra, a prisão preventiva da pessoa, ou aplicar contra ela outras medidas coercitivas. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Disponível em: <www.stf.jus.br>. Acesso em: 2 maio 2010. 22 BRASIL. Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980. Estatuto do Estrangeiro. Disponível em: <www.planalto. gov.br>. Acesso em: 20 abr. 2010. 23 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 205-244, jan./jun. 2012. 213 2. No pedido de prisão preventiva, a parte requerente deverá declarar que, contra essa pessoa, foi imposta uma medida restritiva da liberdade pessoal, ou uma sentença definitiva de condenação à pena restritiva da liberdade, e que pretende apresentar pedido de extradição. Além disso, deverá fornecer a descrição dos fatos, a sua qualificação jurídica, a pena cominada, a pena ainda a ser cumprida e os elementos necessários para a identificação da pessoa, bem como indícios existentes sobre sua localização no território da parte requerida. O pedido de prisão preventiva poderá ser apresentado à parte requerida também através da Organização Internacional de Polícia Criminal – Interpol. Cesare Battisti ficou preso durante todo seu julgamento, ou seja, permaneceu na prisão de 2007 até 2009, quando o Supremo Tribunal Federal decidiu por sua extradição, e enquanto aguardava o pronunciamento final do STF após a negatória da extradição por parte do Presidente da República. 2.2 PRINCÍPIOS QUE REGEM A EXTRADIÇÃO A extradição reza sobre princípios que têm por objetivo conceder maior proteção ao extraditado. São eles o princípio da especialidade, o princípio da identidade e o princípio non bis in idem. Segundo o princípio da especialidade, o indivíduo extraditado não poderá ser julgado por crime diferente daquele descrito na justificativa do pedido de extradição. Conforme o art. 14 do Tratado-Modelo de Extradição, adotado pelas Nações Unidas, in verbis: 14- um indivíduo extraditado em razão do presente Tratado não poderá, no Território do Estado requerente, ser processado, condenado, detido ou reextraditado para um terceiro Estado, nem ser submetido a outras restrições a sua liberdade pessoal, por uma infração cometida antes da entrega, salvo: a) se se tratar de uma infração pela qual a extradição tenha sido concedida; ou b) se o estado reuqerido manifestar a sua concordância. 2- a demanda tendente a obter o consentimento do Estado requerido para os fins do presente artigo será acompanhada dos documentos referidos no §2º do art. 5º e de um termo judicial das declarações feitas pelo extraditando relativamente à infração. 3- o §1º este artigo não será aplicável se o indivíduo extraditado, tendo a possibilidade de deixar o território do Estado requerente, não o fizer dentro do prazo se (30/45) dias da data de sua liberação definitiva em razão da infração pelo qual foi extraditado, ou, se houver deixado o território, a ele retornar por espontânea vontade. 214 FAE Centro Universitário O mesmo princípio se encontra na Lei nº 6.815/80, art. 91: “Art. 91. Não será efetivada a entrega sem que o Estado requerente assuma o compromisso: [...] IV - de não ser o extraditando entregue, sem consentimento do Brasil, a outro Estado que o reclame”.24 De acordo com Veloso, em curtas palavras, esse teorema impede que a pessoa seja processada e julgada por infração penal divergente daquela que animou a pretensão extradicional. 25 Já o princípio da identidade impede que se conceda a extradição quando o crime descrito no pedido não for considerado crime no Estado de refúgio. E ainda prevê a impossibilidade de concessão do instituto quando for imposta ao extraditando pena não prevista do Estado requerido. Como exemplos mais comuns desta, cabe citar a pena de morte e a pena de prisão perpétua. Assim descreve esse princípio o art. 77, inc. II, da Lei nº 6.815/80: “Art. 77. Não se concederá a extradição quando: [...] II - o fato que motivar o pedido não for considerado crime no Brasil ou no Estado requerente”.26 Por fim, Kléber Oliveira Veloso ainda menciona o princípio non bis in idem. De acordo com esse princípio, caso uma extradição não tenha sido concedida, não poderá o Estado requerente solicitá-la novamente fundamentado no mesmo fato. Tal princípio se encontra previsto no art. 88 do Estatuto do Estrangeiro no Brasil, em que negada a extradição não se admitirá novo pedido baseado no mesmo fato. Sendo assim, não poderá o Estado requerente fazer um novo pedido alegando o mesmo fato a não ser que prove a existência de erro formal ou material que tenha viciado o pedido. Analisando-se sob o prisma do funcionalismo teológico de Roxin, tem-se que o fim do Direito Penal é assegurar bens jurídicos, valendo-se das medidas de política criminal. Nesse sentido, o Direito Penal está em função do quê? Para que serve? Na teoria funcionalista de Roxin, o Direito Penal e a análise da extradição estão em função da proteção de bens jurídicos. Leciona Roxin que o tipo tem três dimensões: objetiva (conduta, resultado...), subjetiva (dolo, entre outros). Não coloca mais a culpa aqui. A teoria da imputação objetiva (dimensão normativa ou valorativa) – significa três coisas: criação ou incremento de risco proibido relevante – é uma revolução na teoria da tipicidade. A conduta deve ser valorada nessa dimensão da tipicidade normativa ou valorativa. A conduta, mesmo formalmente típica, se praticada em contexto de risco permitido, não é típica e não é 24 CARNEIRO, Camila Tagliani. A extradição no ordenamento jurídico brasileiro. São Paulo: Memória Jurídica, 2002. p. 48 25 BRASIL. Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980. Estatuto do estrangeiro. Disponível em: <www.planalto. gov.br>. Acesso em: 20 abr. 2010. VELOSO, Kleber Oliveira. O instituto extradicional. Goiânia: AB, 1999. p. 69. 26 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 205-244, jan./jun. 2012. 215 crime. Riscos permitidos e riscos proibidos são a essência de Roxin. Quem atua dentro dos riscos permitidos, como fez Cesare Battisti, não responde. O risco proibido que se cria e o resultado causado devem ter um nexo, se não não há tipicidade, como se pode depreender. Essas ideias de Roxin são critérios para condenar ou absolver, e o resultado deve estar no âmbito de proteção da norma. 2.3 O PROCEDIMENTO DA EXTRADIÇÃO NO DIREITO BRASILEIRO Para se admitir a extradição, preliminarmente, deve haver o pedido formalmente entre os Estados. Tendo em vista que o Poder Executivo é a única autoridade que representa o Estado nas suas relações internacionais, tal pedido só poderá ser realizado por ele.27 O Brasil exerce um procedimento misto, ou seja, tem caráter tanto administrativo quanto judiciário. O processo extradicional brasileiro desenvolve-se em três etapas: administrativa – tem início com o recebimento do pedido e se conclui com o encaminhamento do processo ao Supremo Tribunal Federal, órgão competente para seu julgamento; judicial – fase destinada à verificação da legalidade do pedido, assim como ao seu julgamento; final – quando ocorre a entrega do extraditando.28 Com isso, primeiramente, vem o ato do requerimento da extradição, logo em seguida, a Suprema Corte irá analisar o pedido, e por fim o Chefe do Poder Executivo decidirá se haverá ou não a extradição, pois tem ato discricionário. A Lei nº 6.815, 19 de agosto de 1980, conhecida também como Estatuto do Estrangeiro, disciplina o procedimento da extradição. Nessa esteira, o art. 80, caput, do Estatuto deixa nítida a forma do requerimento: Art. 80. A extradição será requerida por via diplomática ou, na falta de agente diplomático do Estado que a requerer, diretamente de Governo a Governo, devendo o pedido ser instruído com a cópia autêntica ou a certidão da sentença condenatória, da de pronúncia ou da que decretar a prisão preventiva, proferida por juiz ou autoridade competente. Esse documento ou qualquer outro que se juntar ao pedido conterá indicações precisas sobre o local, data, natureza e circunstâncias do fato criminoso, identidade do extraditando, e, ainda, cópia dos textos legais sobre o crime, a pena e sua prescrição.29 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: <www.planalto.gov.br> Acesso em: 10 abr. 2010. 27 CARNEIRO, Camila Tagliani. A extradição no ordenamento jurídico brasileiro. São Paulo: Memória Jurídica, 2002. 28 BRASIL. Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980. Estatuto do estrangeiro. Disponível em: <www.planalto. gov.br>. Acesso em: 20 abr. 2010. 29 216 FAE Centro Universitário A primeira fase, portanto, consiste basicamente na formulação do pedido pelo Estado interessado, feita por meio diplomático e dirigida ao chefe do Poder Executivo. Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: VII - manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos; VIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional. O pedido de extradição deve ser apresentado em tempo hábil, acompanhado dos documentos necessários previamente definidos pelos Estados envolvidos, podendo o país requerido, dessa forma, averiguar se estão presentes as condições necessárias à concessão do instituto. Na ausência de tratado sobre o tema firmado entre os dois países, será observado o disposto nas leis internas de cada um deles. Com relação ao procedimento que poderá levar à concessão da extradição, cabe recordar que, segundo os arts. 81 e 82 da Lei nº 6815/80, o extraditando deverá permanecer preso durante o interstício em que o Supremo Tribunal Federal estiver apreciando a questão. Art. 81. O Ministério das Relações Exteriores remeterá o pedido ao Ministério da Justiça, que ordenará a prisão do extraditando colocando-o à disposição do Supremo Tribunal Federal. Art. 82. Em caso de urgência, poderá ser ordenada a prisão preventiva do extraditando desde que pedida, em termos hábeis, qualquer que seja o meio de comunicação, por autoridade competente, agente diplomático ou consular do Estado requerente. § 1º O pedido, que noticiará o crime cometido, deverá fundamentar-se em sentença condenatória, auto de prisão em flagrante, mandado de prisão, ou, ainda, em fuga do indiciado. § 2º Efetivada a prisão, o Estado requerente deverá formalizar o pedido em noventa dias, na conformidade do artigo 80. § 3º A prisão com base neste artigo não será mantida além do prazo referido no parágrafo anterior, nem se admitirá novo pedido pelo mesmo fato sem que a extradição haja sido formalmente requerida.30 Ainda, em conformidade com art. 80 do Estatuto dos Estrangeiros, efetivada a prisão preventiva, o Estado requerente deverá formalizar o pedido em 90 dias. Não fazendo o pedido nesse prazo, a prisão com base no art. 82, §2º não será mantida além 30 Ibid., loc. cit. Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 205-244, jan./jun. 2012. 217 do prazo referido, e não se admitirá novo pleito pelo mesmo fato sem que a extradição tenha sido formalmente requerida. A Corte Maior detém competência para julgar e processar extradição, como consta na Constituição e também no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 207: “Art. 207. Não se concederá extradição sem prévio pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a legalidade e a procedência do pedido, observada a legislação vigente”.31 Sendo assim, compete ao Supremo Tribunal Federal averiguar a procedência do pedido extradicional feito pelo Estado requerente. Recebido o pedido e sorteado o ministro relator, esse designará dia e hora, conforme o art. 85 do Estatuto do Estrangeiro, in verbis: “Art 85. Ao receber o pedido, o Relator designará dia e hora para o interrogatório do extraditando e, conforme o caso, dar-lhe-á curador ou advogado, senão o tiver, correndo do interrogatório o prazo de dez dias para a defesa”.32 Assim, nos termos do art. 212 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “junta a defesa e aberta vista por dez dias ao Procurador-Geral, o relator pedirá dia para julgamento”, de acordo com a Lei nº 6.815/80. De acordo com os parágrafos que seguem, a defesa do extraditando terá a oportunidade de defender e discutir a legalidade e a procedência do pedido. Não estando o processo devidamente instruído, o Tribunal poderá converter o julgamento em diligência para suprir a falta no prazo improrrogável no prazo de sessenta dias. Assim segue: § 1º A defesa versará sobre a identidade da pessoa reclamada, defeito de forma dos documentos apresentados ou ilegalidade da extradição. § 2º Não estando o processo devidamente instruído, o Tribunal, a requerimento do Procurador-Geral da República, poderá converter o julgamento em diligência para suprir a falta no prazo improrrogável, de sessenta dias, decorridos os quais o pedido será julgado independentemente da diligência. § 3º O prazo referido no parágrafo anterior correrá da data da notificação que o Ministério das Relações Exteriores fizer à Missão Diplomática do Estado requerente.33 Porém, negada a extradição, o art. 88 do Estatuto do Estrangeiro não permitirá novo pedido baseado no mesmo fato. É importante ressaltar que, caso o extraditando tenha BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Disponível em: <www.stf.jus.br>. Acesso em: 2 maio 2010. 31 BRASIL. Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980. Estatuto do estrangeiro. Disponível em: <www.planalto. gov.br> Acesso em: 20 abr. 2010. 32 Ibid. 33 218 FAE Centro Universitário praticado crime ou esteja respondendo a processo criminal no território nacional, ele só será entregue após o cumprimento efetivo da pena, porém há uma exceção se sua expulsão for conveniente ao interesse nacional. Nos termos dos arts. 89 e 67 do Estatuto, in verbis: Art. 89. Quando o extraditando estiver sendo processado, ou tiver sido condenado, no Brasil, por crime punível com pena privativa de liberdade, a extradição será executada somente depois da conclusão do processo ou do cumprimento da pena, ressalvado, entretanto, o disposto no artigo 67. Art. 67. Desde que conveniente ao interesse nacional, a expulsão do estrangeiro poderá efetivar-se ainda que haja processo ou tenha ocorrido condenação.34 No caso estudado, o ex-ativista italiano teve sua extradição deferida depois de longos debates. O acórdão sobre Battisti é publicado no Diário de Justiça Eletrônico do Supremo Tribunal Federal, no dia 16 de abril de 2010. Assim segue a ementa: PROCED.: REPÚBLICA ITALIANA RELATOR:MIN. CEZAR PELUSO REQTE.(S) :GOVERNO DA ITÁLIA EXTDO.(A/S) :CESARE BATTISTI EMENTAS: 1. EXTRADIÇÃO. Passiva. Refúgio ao extraditando. Fato excludente do pedido. Concessão no curso do processo, pelo Ministro da Justiça, em recurso administrativo. Ato administrativo vinculado. Questão sobre sua existência jurídica, validade e eficácia. Cognição oficial ou provocada, no julgamento da causa, a título de preliminar de mérito. Admissibilidade. Desnecessidade de ajuizamento de mandado de segurança ou outro remédio jurídico, para esse fim, Questão conhecida. Votos vencidos. Alcance do art. 102, inc. I, alínea “g”, da CF. Aplicação do art. 3º do CPC. Questão sobre existência jurídica, validez e eficácia de ato administrativo que conceda refúgio ao extraditando é matéria preliminar inerente à cognição do mérito do processo de extradição e, como tal, deve ser conhecida de ofício ou mediante provocação de interessado jurídico na causa. 2. EXTRADIÇÃO. Passiva. Refúgio ao extraditando. Concessão no curso do processo, pelo Ministro da Justiça. Ato administrativo vinculado. Não correspondência entre os motivos declarados e o suporte fático da hipótese legal invocada como causa autorizadora da concessão de refúgio. Contraste, ademais, com norma legal proibitiva do reconhecimento dessa condição. Nulidade absoluta pronunciada. Ineficácia jurídica conseqüente. Preliminar acolhida. Votos vencidos.Inteligência dos arts. 1º, inc. I, e 3º, BRASIL. Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980. Estatuto do estrangeiro. Disponível em: <www.planalto. gov.br> Acesso em: 20 abr. 2010. 34 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 205-244, jan./jun. 2012. 219 inc. III, da Lei nº 9.474/97, art. 1-F do Decreto nº 50.215/61 (Estatuto dos Refugiados), art. 1º, inc. I, da Lei nº 8.072/90, art. 168, § único, do CC, e art. 5º, inc. XL, da CF. Eventual nulidade absoluta do ato administrativo que concede refúgio ao extraditando deve ser pronunciada, mediante provocação ou de ofício, no processo de extradição.35 Contudo, mesmo sendo aprovada a extradição pelos Ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Cezar Peluso, Carlos Britto e pela Ministra Ellen Gracie, os Ministros Eros Grau, Joaquim Barbosa e a Ministra Cármen Lúcia não concordam com tal decisão pelo simples fato de não acharem que a Suprema Corte tem o direito de reaver uma concessão no curso do processo dada pelo Ministro Tarso Genro. Esse posicionamento foi mantido com relação ao caráter soberano da decisão presidencial que negou o pedido de extradição. E assim prossegue a ementa: 3. EXTRADIÇÃO. Passiva. Crime político. Não caracterização. Quatro homicídios qualificados, cometidos por membro de organização revolucionária clandestina. Prática sob império e normalidade institucional de Estado Democrático de direito, sem conotação de reação legítima contra atos arbitrários ou tirânicos. Carência de motivação política. Crimes comuns configurados. Preliminar rejeitada. Voto vencido. Não configura crime político, para fim de obstar a acolhimento de pedido de extradição, homicídio praticado por membro de organização revolucionária clandestina, em plena normalidade institucional de Estado Democrático de direito, sem nenhum propósito político imediato ou conotação de reação legítima a regime opressivo.4. EXTRADIÇÃO. Passiva. Executória. Pedido fundado em sentenças definitivas condenatórias por quatro homicídios. Crimes comuns. Refúgio concedido ao extraditando. Decisão administrativa baseada em motivação formal de justo receio de perseguição política. Inconsistência. Sentenças proferidas em processos que respeitaram todas as garantias constitucionais do réu. Ausência absoluta de prova de risco atual de perseguição. Mera resistência à necessidade de execução das penas. Preliminar repelida. Voto vencido. Interpretação do art. 1º, inc. I, da Lei nº 9.474/97. Aplicação do item 56 do Manual do Alto Comissariado das Nações Unidas – ACNUR. Não caracteriza a hipótese legal de concessão de refúgio, consistente e fundado receio de perseguição política, o pedido de extradição para regula execução de sentenças definitivas de condenação por crimes comuns, proferidas com observância do devido processo legal, quando não há prova de nenhum fato capaz de justificar receio atual de desrespeito às garantias constitucionais do condenado.5. EXTRADIÇÃO. Pedido. Instrução. Documentos vazados em língua estrangeira. Autenticidade não contestada. Tradução algo deficiente. Possibilidade, porém, de ampla compreensão. Defesa exercida em plenitude. Defeito irrelevante. Nulidade inexistente. Preliminar repelida. Precedentes. Inteligência do art. 80, § 1º, da Lei nº 6.815/80. Eventual deficiência na tradução dos documentos que, vazados em língua estrangeira, instruem o pedido de extradição, não o torna inepto, se não compromete a plena compreensão dos textos e o exercício do BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Extradição nº 1.085-9. Relator Ministro Cezar Peluso. Brasília, DF, 16 dez. 2009. DJe-067 de 15.04.2010, p. 1. Disponível em: <www.stf.jus.br>. Acesso em: 16 abr. 2010. 35 220 FAE Centro Universitário direito de defesa. 6. EXTRADIÇÃO. Passiva. Executória. Extensão da cognição do Supremo Tribunal Federal. Princípio legal da chamada contenciosidade limitada. Amplitude das questões oponíveis pela defesa. Restrição às matérias de identidade da pessoa reclamada, defeito formal da documentação apresentada e ilegalidade da extradição. Questões conexas sobre a natureza do delito, dupla tipicidade e duplo grau de punibilidade. Impossibilidade conseqüente de apreciação do valor das provas e de rejulgamento da causa em que se deu a condenação. Interpretação dos arts. 77, 78 e 85, § 1º, da Lei nº 6.815/80. Não constitui objeto cognoscível de defesa, no processo de extradição passiva executória, alegação de insuficiência das provas ou injustiça da sentença cuja condenação é o fundamento do pedido.36 Apesar dos reiterados pedidos da defesa de Battisti, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, considerou que a decisão administrativa do Ministro da Justiça não era suficiente para afastar a jurisdição do Supremo em um processo cuja competência lhe seria assegurada pela Constituição em seu art. 102, alínea “g”, e determinou o prosseguimento da ação. O Ministro Eros Grau escreve sobre o voto vencido na Extradição 1.085: Não vejo como compatibilizar a invalidação de ofício da concessão de refúgio, nos autos de extradição, com o disposto no artigo 5º, LV, da Constituição. Por isso estou sendo incisivo, respeitosamente, para confirmar o quanto afirmei na sessão de 9 de setembro passado: os fatos subjacentes à concessão de benefício sendo, no presente caso, os mesmos que fundamentam o pedido de extradição, o pedido de extradição resulta extinto. Ainda que tenha resultado vencido nesse ponto, minha convicção fica enfaticamente registrada a fim de que, no futuro, ninguém nada me cobre em razão do precedente instalado na admissão de que o tribunal pode examinar, de ofício, matéria que escapa ao seu controle.37 No final da ementa, além da extradição prevista, o caráter discricionário (a opção, a escolha entre duas ou mais alternativas válidas perante o Direito, entre várias hipóteses legais e constitucionalmente possíveis ao caso concreto) do ato do Presidente da República foi reconhecido, não ferindo o Direito Internacional Público e seus costumes. Assim segue: 7. EXTRADIÇÃO. Julgamento. Votação. Causa que envolve questões constitucionais por natureza. Voto necessário do Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal. Preliminar rejeitada. Precedentes. O Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal tem sempre voto no julgamento dos processos de extradição. 8. EXTRADIÇÃO. Passiva. Executória. Deferimento do pedido. Execução. Entrega do extraditando ao Estado requerente. Submissão absoluta ou discricionariedade do Presidente da República quanto à eficácia BRASIL, op. cit. 36 37 JUSPUBLISCISTA. Disponível em: <http://juspublicista.com/wordpress/wpcontent/uploads/2009/12/ voto_ministro_erosgrau_battisti.pdf.>. Acesso em: 29 abr. 2010. Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 205-244, jan./jun. 2012. 221 do acórdão do Supremo Tribunal Federal. Não reconhecimento. Obrigação apenas de agir nos termos do Tratado celebrado com o Estado requerente. Resultado proclamado à vista de quatro votos que declaravam obrigatória a entrega do extraditando e de um voto que se limitava a exigir observância do Tratado. Quatro votos vencidos que davam pelo caráter discricionário do ato do Presidente da República. Decretada a extradição pelo Supremo Tribunal Federal, deve o Presidente da República observar os termos do Tratado celebrado com o Estado requerente, quanto à entrega do extraditando.38 Dessa forma, sua extradição foi autorizada, o Presidente da República decidiu quanto à não entrega do extraditando, e o STF entendeu pela chancela do ato presidencial negando-se a extradição de Cesare Battisti. 2.4 FONTES DO DIREITO EXTRADICIONAL Fontes são meios para revelar a ordem na sociedade na qual se opera. Entre os advogados, existe algum conflito na definição das fontes de extradição, flutuando entre as fontes formais e materiais. O modelo que se utiliza é o de Andrew Mercier: a) tratados de extradição internacional; b) declarações de reciprocidade; c) jurisprudência internacional personalizada; d) leis em matéria de extradição. O dever moral de entregar ao Estado requerente cidadãos por meio da cooperação internacional, de modo que a Justiça criminal seja feita, só se torna um dever legal por intermédio dos tratados de extradição. Os tratados internacionais são a fonte mais comum da extradição e são definidos como acordos entre Estados, pelo qual se estabelecem as regras para a entrega mútua de criminosos que cometeram crimes no território de um e se refugiaram dentro das fronteiras do outro. Discutido no contexto dos tratados se eles trazem no seu conteúdo suposições restritivas, a posição da maioria dos internacionalistas é que o acordo é restritivo e deve ser extraditado o infrator que se enquadra em qualquer possibilidade do dispositivo bilateral. Caso contrário, compromete-se a soberania dos governos, que teriam a capacidade de proteger criminosos que se refugiem no seu território, uma vez que as declarações de reciprocidade surgem na ausência de tratados internacionais ou como um complemento necessário das convenções existentes sobre o assunto. A extradição, mesmo na ausência de qualquer acordo com o país requerente, não está condicionada à reciprocidade. No entanto, podemos falar que se trata de fonte de lei BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Extradição nº 1.085-9... Op. cit. 38 222 FAE Centro Universitário de extradição quando dois ou mais Estados entregam um ao outro os refugiados criminosos dentro de suas fronteiras depois de cometerem o crime no território, independentemente de qualquer tratado ou convenção. Como para as leis de extradição, são regras e regulamentos que regem as condições e as formas e processo de entrega de um Estado para outro. O conflito refere-se à coexistência de duas fontes principais de extradição pendentes de lei, as convenções e a legislação nacional. No entanto, não há uma solução pacífica, e cada Estado, por ser soberano, pode decidir entre os dispositivos internacionais ou o prevalecimento da lei interna. É certo que tratados podem derrogar leis, o inverso, no entanto, não é verdade. Esta é a lei entre as partes contratantes e só pode ser modificada por mútuo acordo.39 2.5 REQUISITOS DA EXTRADIÇÃO A Constituição Federal prevê no art. 22, inc. XV, a competência exclusiva da União para legislar sobre a extradição, e no art. 102, alínea “g”, a jurisdição do Supremo Tribunal Federal para apreciar o pedido de extradição do Estado estrangeiro. Apesar da divergência de bibliografias, podem-se presumir certas categorias distintas das condições gerais de extradição: requisitos para a concessão da extradição, o que pode determinar os crimes e as pessoas que estão sujeitas à extradição. 2.5.1 Requisitos para que a extradição seja concedida Reciprocidade O art. 76 da Lei nº 6.815/80 prevê que “a extradição será concedida se o governo requerente se basear em tratado ou promessa de reciprocidade no Brasil”. É verdade que os tratados e as promessas de reciprocidade são meios eficazes de garantir a segurança jurídica entre os Estados, impedindo que um indevidamente impeça a administração da justiça penal internacional. No entanto, a reciprocidade não pode ser aceita como uma condição absoluta para a extradição, como o instituto poder ser aplicado mesmo sem promessa adequada para o cumprimento da repressão da criminalidade internacional e a punição dos criminosos. VELOSO, Kléber Oliveira. O instituto extradicional. Goiânia: AB, 1999. p. 31. 39 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 205-244, jan./jun. 2012. 223 Lugar da infração Para que o crime seja passível de extradição, deve estar sujeito à jurisdição do país requerente. O mesmo acontece com o disposto no art. 78, incs. I e II, da Lei nº 6.815/80. São as condições para a concessão da extradição: I - ter sido o crime cometido no território do Estado requerente ou serem aplicáveis ao extraditando as leis penais desse Estado e II existir sentença final de privação de liberdade, ou estar a prisão do extraditando autorizada por Juiz, Tribunal ou autoridade competente do Estado requerente, salvo o disposto no artigo 82. E ainda, a disposição legal mencionada no art. 77, inc. III, segundo a qual a extradição não será concedida se: III - o Brasil for competente, segundo suas leis, para julgar o crime imputado ao extraditando. Além disso, o art. 79 reafirma a competência territorial: “quando mais de um Estado solicita a extradição da mesma pessoa, pelos mesmos fatos, terá preferência aquele em cujo território o crime foi cometido”. Em casos excepcionais, um país pode extraditar uma pessoa que cometeu um crime no seu território se incluído antes em um tratado concluído. Data da infração A retroatividade dos tratados e leis de extradição não deve ser admitida. Portanto, não poderá ser extraditado por crime cometido antes do tratado pela doutrina internacional, ainda que se discuta que há um princípio geral de Direito que impeça a aceitação de retroatividade. Sanção Há defensores do art. 77, inc. II, da Lei nº 6.815/80, que dispõe que “a extradição não será concedida se: II - o fato que motivar o pedido não for considerado crime no Brasil ou no Estado requerente”. A doutrina é pacífica no típico de dupla ação, caso contrário, na verdade, o instituto não teria fins de extradição e dificilmente um estado estará disposto a contribuir para a repressão de um ato que a lei não defina como crime. A regra da aplicação da lei é a prevalência da lei a partir do momento do evento em razão do princípio da legalidade (tempus regit actum). Portanto, o Direito Penal não é retroativo a considerar o fato de, até o momento atípico, típico. Inexistência da prescrição El instituto de la prescripción es la limitación que extingue el derecho de castigar, a causa de la pérdida del derecho a seguir deduciendo la reclamación en la sentencia judicial, o la pérdida del derecho a la ejecución de una pena impuesta por el juez, por el paso del 224 FAE Centro Universitário tiempo.40 Así, la ausencia del derecho a castigar y el derecho de hacer cumplir la sanción impuesta, sigue siendo obstaculo a la solicitud de extradición, ya que carece la motivación en afirmar que el delincuente será entregado. La claridad del marco jurídico exime de cualquier duda: artículo 77, fracción VI de la Ley nº 6.815/1980: “No se concederá la extradición donde: VI - se extingue por la prescripción punibles con arreglo a la legislación brasileña o la Solicitud de estado”. Non bis in idem Não se concederá a extradição quando a pessoa reclamada já tenha sido condenada ou absolvida no Brasil pelo fato em que se baseia o pedido. Nesse caso, como o indivíduo não pode ser processado, não haverá possibilidade de entrega ao Estado requerente, mas quando se trata de extradição por fatos diferentes, há apenas a entrega real após a conclusão do processo. Princípio da especialidade Também chamado de princípio que limita os efeitos da extradição, pois depois de feito o pedido de extradição, o extraditando será julgado pelas acusações presentes no pedido. 3 O DIREITO DOS REFUGIADOS Em razão de várias dificuldades envolvendo política e diversos problemas econômicos e sociais, o conceito de refugiado tem recebido mais importância e atenção hodiernamente. É fundamental definir o termo supramencionado para o alcance de sua influência nos complexos da atualidade. Após a Segunda Grande Guerra, muitos se afastaram de seus países a procura de algo melhor e mais justo para reconquistar a dignidade humana, que é de extrema importância no instituto do refugiado. A condição de refugiado já exerce uma violação de direitos humanos, fere a dignidade humana estabelecida no art. 1º, inc. III, da Constituição Federal de 1988, in verbis: Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] TELES, Ney Moura. Direito Penal I: parte geral. Atlas, 2006. p. 512. 40 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 205-244, jan./jun. 2012. 225 III - a dignidade da pessoa humana.41 Outrossim, na Declaração Universal de 1948, está previsto: Artigo XIV 1.Toda pessoa, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. 2. Este direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos propósitos e princípios das Nações Unidas.42 Muitos dos direitos dos refugiados são protegidos não só pela Convenção de 1951, como também assegurados pela Declaração Universal. Em resumo, cada refugiado é consequência de um Estado que viola os direitos humanos. Os refugiados são, assim, titulares de direitos humanos que devem ser respeitados em todo momento, circunstância e lugar.43 O artigo “O direito de asilo e a proteção internacional dos refugiados”, de Flávia Piovesan, cita que o encontro entre direitos humanos e refúgio se realiza em pelo menos quatro momentos fundamentais, que são: o anterior ao refúgio (no qual há uma ameaça de violação a direitos fundamentais); quando o indivíduo se sente na obrigação de abandonar seu país de origem (por perseguições de raça, religião, política); o período do refúgio (em que os direitos dos refugiados devem ser protegidos pelo país que os acolheu); e, por derradeiro, a solução quanto ao problema dos refugiados.44 A assistência aos refugiados foi formada e consolidada no decorrer das décadas de 50 e 60. A Convenção sobre refugiados de 1951, realizada em Genebra, uma Conferência de Plenipotenciários das Nações Unidas para redigir uma Convenção regulatória do status legal dos refugiados, o Protocolo de 1967, o Estatuto do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (UNHCR), de 1950, e algumas resoluções importantes da BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: <www.planalto.gov.br> Acesso em: 10 abr. 2010. 41 42 NAÇÕES UNIDAS. Assembléia Geral. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: <http:// portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm>. Acesso em: 8 abr. 2010. PIOVESAN, Flávia. O direito de asilo e a proteção internacional dos refugiados. In: ARAÚJO, Nádia; ALMEIDA, Guilherme Assis de (Coord.). O direito internacional dos refugiados: uma perspectiva brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 40. 43 Ibid., p. 44. 44 226 FAE Centro Universitário Assembleia-Geral das Nações Unidas são seus maiores instrumentos.45 Com isso, o direito dos refugiados foi crescendo de tal forma que soluções foram surgindo para aqueles que sofriam em seu país de origem. A Convenção deve ser aplicada sem discriminação por raça, religião, sexo e país de origem. Além disso, em suas cláusulas consideradas essenciais, há pouca objeção a ser feita. Entre esse conteúdo material, incluem-se a definição do termo “refugiado” e o chamado princípio de non-refoulement (“não devolução”), o qual define que nenhum país deve expulsar ou “devolver” um refugiado contra a vontade deste, em quaisquer ocasiões, para um território onde ele sofra perseguição.46 Tal princípio deve ser seguido por todos os Estados signatários, para que todos os refugiados recebam o que lhes é de direito. De acordo com o seu Estatuto, é de competência do Alto Comissariado das Nações Unidas promover instrumentos internacionais para a proteção dos refugiados e supervisionar sua aplicação. Ao ratificar a Convenção e/ou o Protocolo, os Estados signatários aceitam cooperar com o ACNUR (Agência da ONU para refugiados) no desenvolvimento de suas funções e, em particular, facilitar a função específica de supervisionar a aplicação das provisões desses instrumentos.47 Os Estados não signatários da Convenção ou do Protocolo buscam amparo em situações de refugiados no Estatuto do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados e em outras resoluções da Assembleia-Geral da ONU. Em matéria de refugiados, há diferentes tipos de deslocamento. Alguns destes referem-se não só a embates políticos, como também religiosos, e outros em virtude econômica, outros ainda, sobre fatos ambientais. Porém, o deslocamento por motivo ambiental não tem muita atenção, diferentemente do deslocamento devido a um confronto político, cujo refugiado se sente ameaçado por perseguições, de cunho ideológico, ao voltar a seu país de origem.48 Tais indivíduos se enquadram na definição do Alto Comissariado das Nações Unidas (ACNUR).49 Um refugiado é toda pessoa que, por causa de fundados temores de perseguição devido à sua raça, religião, nacionalidade, associação a determinado grupo social ou opinião política, encontra-se fora de seu país de origem e que, por causa dos ditos temores, não pode ou não quer regressar. O tema do refúgio no Brasil está disciplinado pela Lei CASELLA, Paulo Borba. Refugiados: conceito e extensão. Op. cit., p. 19. 45 Ibid. 46 Ibid. 47 LEÃO, Renato Zerbini. O instituto do refúgio no Brasil após a criação do Comitê Nacional para os Refugiados. Disponível em: <http://portal.mj.gov.br/>. Acesso em: 5 maio 2010. 48 Ibid. 49 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 205-244, jan./jun. 2012. 227 nº 9.474/97. A decisão do Ministro teria como base essa Lei, que reconheceria como refugiado todo indivíduo que sofre perseguição por motivo de raça, religião, grupo social ou opiniões políticas. 3.1 ASILO POLÍTICO E REFÚGIO POLÍTICO Asilo político é uma instituição jurídica que visa à proteção a qualquer cidadão estrangeiro que se encontre perseguido em seu território por delitos políticos, convicções religiosas ou situações raciais. Asilo origina-se da palavra grega “asylum”. Sylume significa violência, devastação, violação; “a” é prefixo negativo. Portanto, asylum significa sem violência, sem violação.50 Para o professor José Afonso da Silva: O asilo político consiste no recebimento de estrangeiros no território nacional, a seu pedido, sem os requisitos de ingresso, para evitar punição ou perseguição no seu país de origem por delito de natureza política ou ideológica. Cabe ao Estado asilante a classificação da natureza do delito e dos motivos da perseguição. É razoável que assim seja, porque a tendência do Estado do asilado é a de negar a natureza política do delito imputado e dos motivos da perseguição, para considerá-la comum. A Constituição prevê a concessão do asilo político, sem restrições, considerado como um dos princípios que regem as relações internacionais da República Federativa do Brasil.51 Em seu artigo, Geraldo Eulálio do Nascimento e Silva define o asilo territorial como a proteção dada por um Estado em seu território a uma pessoa cuja vida ou liberdade está ameaçada pelas autoridades de seu país, por ser acusado de violar a sua lei penal ou, o que é mais frequente, por ter deixado o seu país para se livrar de perseguição política.52 Tal instituto, assim como o direito de refúgio, tem as suas origens na antiguidade. Com fins de guerras e revoluções, o povo sai de seu país de origem em busca de novas oportunidades em diferentes Estados. A diferença é que o asilo é um instituto jurídico humanitário que visa acolher o estrangeiro perseguido em seu país de origem por questões 50 ALMEIDA, Guilherme de Assis. Asilo e não violência. In: O direito internacional dos refugiados: uma perspectiva brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 173. SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 341. 51 52 228 SILVA, Geraldo Eulálio do Nascimento. Os refugiados políticos e o asilo. In: ARAUJO, Nadia de; ALMEIDA, Guilherme Assis (Coord.). O direito internacional dos refugiados: uma perspectiva brasileira. Rio de Janeiro: Renovar 2001. p. 12. FAE Centro Universitário de ordem política. Sua concessão configura ato soberano do Estado. O CONARE tem competência para analisar o pedido e reconhecer a condição de refugiado em primeira instância, tal competência está disciplinada no art. 12 da Lei nº 9.474/97: Art. 12. Compete ao CONARE, em consonância com a Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951, com o Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados de 1967 e com as demais fontes de direito internacional dosrefugiados: I - analisar o pedido e declarar o reconhecimento, em primeira instância, da condição de refugiado:53 A Lei nº 9.474/97 define os mecanismos para a implementação da Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951 no Brasil e dá outras providências, como a criação do Comitê Nacional para os Refugiados, atuando na busca de soluções duradouras para os refugiados que tentam a proteção internacional em seu território.54 Dessa forma, o art. 1º da mesma Lei é claro ao dizer quem será reconhecido como refugiado: Art. 1º. Será reconhecido como refugiado todo indivíduo que: I - devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas encontre-se fora de seu país de nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se à proteção de tal país; II - não tendo nacionalidade e estando fora do país onde antes teve sua residência habitual, não possa ou não queira regressar a ele, em função das circunstâncias descritas no inciso anterior; III - devido a grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país. Com isso, um representante do Ministério da Justiça irá presidirá o órgão de deliberação coletiva.55 Se o pedido for aceito, o refugiado é registrado junto à Polícia Federal, SILVA, Geraldo Eulálio do Nascimento. Os refugiados políticos e o asilo. In: ARAUJO, Nadia de; ALMEIDA, Guilherme Assis (Coord.). O direito internacional dos refugiados: uma perspectiva brasileira. Rio de Janeiro: Renovar 2001. p. 12. 53 LEÃO, Renato Zerbini Ribeiro. O instituto do refúgio no Brasil após a criação do Comitê Nacional para os Refugiados. Disponível em: <http://portal.mj.gov.br/>. Acesso em: 5 maio 2010. 54 LEÃO, Renato Zerbini Ribeiro (Comp.). O reconhecimento dos refugiados pelo Brasil: comentários sobre decisões do CONARE. Brasília: CONARE, ACNUR BRASIL, 2007. p. 25. 55 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 205-244, jan./jun. 2012. 229 local em que presta compromisso de cumprir as normas de Direito Internacional e a lei brasileira. O Estado ao qual se pede asilo não tem a obrigação de deferir o pedido, pode negar-se a concedê-lo. Negando tal pedido, não terá que se explicar sobre sua decisão à comunidade internacional ou ao solicitante. O refúgio possui o objetivo de proteger o cidadão estrangeiro que por motivos religiosos, raciais ou políticos estava passando por perigo de vida em seu país. No Brasil, o estrangeiro que está sofrendo perseguições deve procurar a Polícia Federal no lugar onde se encontra. Conforme os arts. 17, 18 e 19 da Lei nº 9.474/97, a autoridade competente notificará o solicitante para prestar declarações. Art. 17. O estrangeiro deverá apresentar-se à autoridade competente e externar vontade de solicitar o reconhecimento da condição de refugiado. Art. 18. A autoridade competente notificará o solicitante para prestar declarações, ato que marcará a data de abertura dos procedimentos. Parágrafo único - A autoridade competente informará o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados – ACNUR sobre a existência do processo de solicitação de refúgio e facultará a esse organismo a possibilidade de oferecer sugestões que facilitem seu andamento. Art. 19. Além das declarações, prestadas se necessário com ajuda de intérprete, deverá o estrangeiro preencher a solicitação de reconhecimento como refugiado, a qual deverá conter identificação completa, qualificação profissional, grau de escolaridade do solicitante e membros do seu grupo familiar, bem como relato das circunstâncias e fatos que fundamentem o pedido de refúgio, indicando os elementos de prova pertinentes. Ao demonstrar sofrimento pela perseguição que sofre em seu país, o processo será encaminhado ao Ministério das Relações Exteriores, que irá emitir parecer. Ao pedir refúgio, todos os seus dados serão enviados para o Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE), órgão colegiado vinculado ao Ministério da Justiça, a quem cabe a decisão.56 No caso do estudo, Cesare Battisti teve seu refúgio negado pelo CONARE. Porém, em recurso administrativo, ele foi concedido pelo Ministro da Justiça. Assim como no caso de um iraquiano, em que a decisão do CONARE foi pelo indeferimento, no entanto, o Ministro acolheu em grau recursal e modificou a decisão.57 56 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: <www.presidencia. gov.br>. Acesso em: 10 abr. 2010. INFOJUS. Disponível em: <http://www.infojus.com.br/noticias/ignorar-tratado-de-extradicao-pode-geraracaocontra- lula-no-senado>. Acesso em: 4 fev. 2010. 57 230 FAE Centro Universitário É importante ressaltar a significância tanto do asilo político como do refúgio, pois ao conceder asilo a uma pessoa, assegurando-lhes direitos básicos, a atuação do Estado está absolutamente afinada com a concepção contemporânea de direitos humanos. E ao permitir aos refugiados reconstruir as suas vidas fora de seu país de origem, podem eles enriquecer a sociedade que os acolhe. A concessão de asilo político é um dos princípios fundamentais que regem o relacionamento internacional do Estado Brasileiro, conforme dispõe a Constituição Federal, em seu art. 4º, inc. X: “Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: X - concessão de asilo político”.58 Assim, ambos os institutos jurídicos se relacionam, embora o refúgio tenha um campo maior de aplicação, como leciona Gilmar Mendes: “fenômenos como as situações de guerra ou de graves perturbações internacionais resultaram no surgimento de normas internacionais de proteção aos refugiados, acabando por dar ao instituto do refúgio um caráter mais amplo que aquele do asilo”. Contudo, o modo como a lei brasileira trata o refúgio permite concluir que a sua concessão está constitucionalmente amparada pela concessão de asilo político como princípio regente de nossas relações internacionais. Transposta a diferenciação entre asilo e refúgio, passa-se à análise do caso Cesare Battisti, que requereu ao Estado brasileiro a concessão do refúgio político, na condição de refugiado, apresentando como fundamento o fato de ter integrado organização político-partidária em seu país, durante os chamados “anos de chumbo”, e ser perseguido por suas autoridades em decorrência das opiniões políticas professadas à época. Quando, nesse caso específico, se diz asilo político, é uma redundância, uma forma de vício de linguagem que deturpa e dificulta a manifestação de pensamento. De acordo com a Lei nº 9.474/97, o requerimento de refúgio é inicialmente analisado pelo CONARE (Comitê Nacional para os Refugiados), órgão colegiado vinculado ao Ministério da Justiça. Segundo o art. 28 dessa Lei, “no caso de decisão positiva, o refugiado será registrado junto ao Departamento de Polícia Federal, devendo assinar termo de responsabilidade e solicitar cédula de identidade pertinente”. Porém, o CONARE negou o pedido de Cesare Battisti, que se valeu da prerrogativa do recurso a que alude o art. 29 da Lei em comento, in verbis: Art. 29. No caso de decisão negativa, esta deverá ser fundamentada na notificação ao solicitante, cabendo direito de recurso ao Ministro de Estado da Justiça, no prazo de quinze dias, contados do recebimento da notificação. INFOJUS. Disponível em: <http://www.infojus.com.br/noticias/ignorar-tratado-de-extradicao-pode-geraracaocontra-lula-no-senado>. Acesso em: 4 fev. 2010. 58 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 205-244, jan./jun. 2012. 231 Tendo o devido direito de recurso, o Ministro Tarso Genro concedeu ao ex-guerrilheiro, Cesare Battisti, o status de refugiado. 3.2 REFÚGIO POLÍTICO OU EXTRADIÇÃO NO CASO DE CESARE BATTISTI Como mencionado, no dia 13 de janeiro de 2009, o Ministro Tarso Genro concedeu o asilo político a Battisti. Em nota divulgada, o Ministro decidiu pela concessão de refúgio por entender que existe o elemento de “fundado temor de perseguição”. O voto foi proferido depois de analisados os argumentos do recurso impetrado contra a negativa do Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE), em novembro passado.59 Decidida a concessão de refúgio em conformidade com a Lei nº 9.474/97, o processo de extradição não poderá ter continuidade à luz do art. 33: “Art. 33. O reconhecimento da condição de refugiado obstará o seguimento de qualquer pedido de extradição baseado nos fatos que fundamentaram a concessão de refúgio”.60 Igualmente, a Lei nº 6.815/80, em seu art. 77, inc. VII, não concederá a extradição quando o fato constituir crime político. No caso em tela, foi o que ensejou a concessão de refúgio por temor de perseguição política. “Art 77. Não se concederá a extradição quando: [...] VII - o fato constituir crime político”.61 Contudo, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Gilmar Mendes, em despacho aos autos, tendo em vista o recesso da Corte no mês de janeiro, determinou que o Procurador-Geral da República se manifestasse sobre o pedido da defesa de Cesare Battisti, que consiste na sua imediata liberação e soltura, por conta da condição de refugiado que lhe foi concedida pelo Ministro da Justiça. Assim segue o despacho: EXTRADIÇÃO 1.085-9 REPÚBLICA ITALIANA DESPACHO: Cuida-se de requerimento formulado pela defesa visando à imediata libertação de CESARE BATTISTI, cidadão italiano preso preventivamente, desde 18 de março de 2007, para fins da extradição solicitada pelo Governo da Itália. Em síntese, alega-se que o extraditando requereu a concessão de Refúgio perante o Comitê Nacional para os Refugiados – CONARE. Ante o indeferimento do pleito pelo colegiado, recorreu ao Ministro da Justiça, nos termos do art. 40 da Lei nº DIREITOS. Disponível em: <http://www.direitos.org .br/index.php?option=com_content &task =view&id=4862&Itemid=1>. Acesso em: 4 fev. 2010. 59 BRASIL. Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997. Lei dos Refugiados. Disponível em: <http://www.pge.sp.gov. br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/dh/volume%20i/reflei9474.htm>. Acesso em: 8 abr. 2010. 60 BRASIL. Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980. Estatuto do Estrangeiro. Disponível em: <www.planalto. gov.br>. Acesso em: 20 abr. 2010. 61 232 FAE Centro Universitário 9.474, de 22 de julho de 1997. O Ministro da Justiça deu provimento à manifestação de inconformismo e ao final reconheceu o status de refugiado, conforme extrato publicado no Diário Oficial da União de 15 de janeiro de 2008, p. 35, concluindo pelo caráter político da persecução penal em curso no país requerente. A defesa invoca o disposto no art. 33 da Lei nº 9.474/1997, afirmando que a concessão do refúgio tem o condão de obstar o seguimento do pedido de extradição, também indicando a incidência de seu art. 41, que estabelece a irrecorribilidade da decisão do Ministro da Justiça. De outro lado, o extraditando sustenta a pertinência temática entre os fatos ensejadores da concessão de refúgio e aqueles que fundamentam o presente pedido extradicional, razões pelas quais pleiteiam a revogação da ordem de encarceramento preventivo, com expedição de alvará de soltura e posterior extinção do processo. O eventual efeito obstativo do processo de extradição, ante o reconhecimento da condição de refugiado ao extraditando, foi recentemente analisado nesta Corte nos autos da Extradição nº 1.008 (DJ 17.8.2007), decidindo o Plenário, por maioria, pela extinção do processo e expedição do alvará de soltura. Naquele julgamento, ocorrido em 21 de março de 2007, a análise do Tribunal teve como pressuposto o reconhecimento da condição de refugiado político por decisão do próprio Comitê Nacional para os Refugiados – CONARE, situação diversa da que se verifica nestes autos. Com efeito, na espécie, a concessão de refúgio a Cesare Battisti foi inicialmente negada pelo CONARE, o que ensejou a apresentação de recurso ao Ministro da Justiça, o qual entendeu, finalmente, por deferir a medida. Essa nova situação, em que se observa a concessão de refúgio por ato isolado do Ministro da Justiça, contrariando a manifestação do CONARE, não foi debatida na Corte, também cabendo considerar que, em aludido precedente, ficou claramente indicada a necessidade de atestar a plena identidade entre os fatos motivadores do reconhecimento da condição de refugiado e aqueles que fundamentam o pedido de extradição, a requisitar análise mais aprofundada.62 Assim, Gilmar Mendes não arquivou o pedido de extradição até parecer da Procuradoria-Geral da República sobre o refúgio concedido pelo Ministro da Justiça. No caso, a Suprema Corte, após várias sessões, decidiu pela extradição do italiano, pois entenderam que não se tratava de crimes políticos, e sim crimes comuns. Outrossim, volta-se ao art. 77, § 1º, do Estatuto do Estrangeiro. que estabelece, in verbis: Art. 77. Não se concederá a extradição quando: § 1º A exceção do item VII não impedirá a extradição quando o fato constituir, principalmente, infração da lei penal comum, ou quando o crime comum, conexo ao delito político, constituir o fato principal. BRASIL. Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980. Estatuto do Estrangeiro. Disponível em: <www.planalto. gov.br>. Acesso em: 20 abr. 2010. 62 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 205-244, jan./jun. 2012. 233 § 2º Caberá, exclusivamente, ao Supremo Tribunal Federal a apreciação do caráter da infração.63 Compete ao Estado requerido definir se o delito praticado constitui crime político ou crime comum. Nos casos em que há mais complexidade, como neste analisado, compete ao Estado requerido decidir se o fato incriminado tem ou não caráter político. Aduz o jurista Francisco Rezek, ex-Ministro do Supremo, que o ineditismo do caso abre espaço para que o Tribunal ignore o status de refugiado político concedido pelo Ministro da Justiça, Tarso Genro: Há um pedido de extradição no STF e no meio deste processo o governo decide conceder asilo político ao extraditando. Não há uma previsão legal do que acontece neste caso. O Supremo não tem absolutamente o dever de interromper o processo. Ele pode ser levado a cabo e decidido pelo Tribunal. [...] O que o governo fez foi atropelar essa decisão do Supremo antecipando a conclusão sobre o caráter político ou comum dos crimes. E mais do que isso, atropelando, sobretudo, a decisão que cabe só e exclusivamente à Justiça italiana sobre se os fatos aconteceram ou não aconteceram.64 Coaduna com tal entendimento a doutora e professora do Departamento de Direito Internacional da Universidade de São Paulo, Maristela Basso, que leciona: Se ele tivesse pedido o refúgio antes, nem entraria um pedido de extradição no STF, porque é inútil. Nesse caso, já havia um pedido de extradição no STF, porque havia uma pessoa procurada na Itália, vivendo ilegalmente, clandestinamente no Brasil.65 Ao contrário, outros doutrinadores não discutem o fato de que, se houve a concessão do refúgio, não há possibilidade de extradição. Pedro Dallari, doutor em Direito, discorda do posicionamento do Ministro Gilmar Mendes: Se foi concedido o refúgio, extraditar alguém significa anular o refúgio e isso não pode ser feito incidentalmente, ou marginalmente. A não ser que se argumente que houve alguma ilicitude na concessão do refúgio, e até agora ninguém disse isso. Teria que haver procedimento legal específico, incidentalmente, numa ação de extradição, me parece inadequado. Todavia, no julgamento foi decidido pela extradição de Cesare Battisti, após exaustas sessões. Pelo mesmo placar que decidiu pela sua extradição (5 votos a 4), a Corte entendeu UOL. Disponível em: <http://ultimainstancia.uol.com.br/noticia/REFUGIO+OU+EXTRADICAO+ ESPECIALISTAS+SE+DIVIDEM+SOBRE+CASO+BATTISTI_61665.shtml>. Acesso em: 14 mar. 2010. 63 Ibid. 64 CARNEIRO, Camila Tagliani. A extradição no ordenamento jurídico brasileiro. São Paulo: Memória Jurídica, 2002. p. 48. 65 234 FAE Centro Universitário que a decisão final sobre a entrega do italiano deveria ser tomada pelo Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. 4 OS TRATADOS INTERNACIONAIS DE EXTRADIÇÃO A fonte mais comum, não a única, do Direito Extradicional é o tratado. No âmbito do instituto da extradição, constituem fontes formais: a) Os tratados internacionais de extradição; b) As declarações de reciprocidade; c) Os costumes internacionais; d) A jurisprudência internacional; e) As leis sobre extradição.66 A definição mais utilizada de tratado pela doutrina encontra-se na Convenção da ONU Sobre o Direito dos Tratados, de 1969, Convenção de Viena: 1. Para os fins da presente Convenção: a) “tratado” significa um acordo internacional concluído por escrito entre Estados e regido pelo Direito Internacional, quer conste de um instrumento único, quer de dois ou mais instrumentos conexos, qualquer que seja sua denominação específica.67 No Brasil, as fases de elaboração dos tratados são, normalmente, compostas pelas seguintes etapas: negociação, assinatura, ratificação, promulgação, publicação e registro.68 Os tratados são, geralmente, bilaterais, o que não impede sua celebração com três ou mais Estados. Suas condições de validade são as seguintes: capacidade das partes contratantes, habilitação dos agentes signatários, consentimento mútuo e objeto lícito e possível.69 Tais tratados se fundamentam na norma pacta sunt servanda, afirmando que as controvérsias relativas aos tratados, como outras internacionais, devem ser solucionadas por meios pacíficos e de conformidade com os princípios da Justiça e do Direito Internacional.70 CONVENÇÃO de Viena. Disponível em: < http://www2.mre.gov.br/dai/dtrat.htm>. Acesso em: 8 abr. 2010. ALMEIDA, Guilherme de Assis. Asilo e não violência. In: ARAUJO, Nádia. O direito internacional dos refugiados: uma perspectiva brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 68. 66 67 Ibid., loc. cit. 68 Ibid., p. 68. CONVENÇÃO de Viena adotada em 22 de maio de 1969. A Convenção entrou em vigor em 27 de janeiro de 1980. 69 70 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 205-244, jan./jun. 2012. 235 Um tratado internacional, para ser incorporado ao ordenamento jurídico pátrio, e, consequentemente, ter força obrigatória, ou seja, gerar direitos e obrigações, deverá necessariamente cumprir três fases distintas. A primeira é a celebração do tratado, pelo Presidente da República, em nome da República Federativa do Brasil (CF, art. 84, inc. VIII); a segunda é a aprovação definitiva pelo Congresso Nacional, por decreto legislativo (CF, art. 49, inc. I); a derradeira é a promulgação pelo Presidente da República, por decreto (CF, art. 84, inc. IV). Transpostos esses requisitos, o Tratado Internacional adquire executoriedade. Todo tratado em vigor obriga as partes e deve ser cumprido por elas de boa-fé, por isso, uma vez celebrados, eles estabelecem uma relação jurídica entre Estados. 4.1 TRATADO ENTRE BRASIL E ITÁLIA O Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e a República Italiana, assinado em Roma, em 17 de outubro de 1989, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 78, de 20 de novembro de 1992, ratificações trocadas em Brasília, em 14 de junho de 1993, promulgado pelo Decreto nº 863, de 9 de julho de 1993, deseja desenvolver a cooperação na área judiciária em matéria de extradição. O Tratado de Extradição foi assinado pelos governos brasileiro e italiano em 1989, mas entrou em vigor apenas quatro anos depois, após sua ratificação. O art. 1º do Tratado relata as obrigações das partes na entrega à outra, quando esta fizer o pedido. A seguir, as normas e condições do mencionado Tratado: Art. 1º Cada uma das partes obriga-se a entregar à outra, mediante solicitação, segundo as normas e condições estabelecidas no presente tratado, as pessoas que se encontrem em seu território e que sejam procuradas pelas autoridades judiciais da parte requerente, para serem submetidas a processo penal ou para a execução de uma pena restritiva de liberdade pessoal.71 TRATADO de Extradição entre a República Federativa do Brasil e a República Italiana. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/util/arquivo.asp?id=3020>. Acesso em: 8 abr. 2010. 71 236 FAE Centro Universitário 4.2 A ENTREGA DO EXTRADITANDO Nos moldes do art. 86 do Estatuto do Estrangeiro, o procedimento da entrega ocorrerá quando a decisão for pelo deferimento do pedido da extradição. Assim, dispõe o artigo: Art. 86. Concedida a extradição, será o fato comunicado através do Ministério das Relações Exteriores à Missão Diplomática do Estado requerente que, no prazo de sessenta dias da comunicação, deverá retirar o extraditando do território brasileiro. No entanto, é preciso obedecer ao que o art. 91 do Estatuto prevê: Art. 91. Não será efetivada a entrega sem que o Estado requerente assuma o compromisso: I - de não ser o extraditando preso nem processado por fatos anteriores ao pedido; II - de computar o tempo de prisão que, no Brasil, foi imposta por força da extradição; III - de comutar em pena privativa de liberdade a pena corporal ou de morte, ressalvados, quanto à última, os casos em que a lei brasileira permitir a sua aplicação; IV - de não ser o extraditando entregue, sem consentimento do Brasil, a outro Estado que o reclame; e V - de não considerar qualquer motivo político para agravar a pena.72 No caso em tela, Cesare Battisti já teve sua extradição indeferida, após a decisão do presidente Lula, que ocorreu após o acórdão de 686 páginas, que reunia os votos proferidos pelos Ministros e a decisão de não vincular o entendimento do Supremo à decisão do Presidente, ser analisado pela Advocacia-Geral da União (AGU), com entendimento pela negatória à extradição. O Presidente Lula decidiu não extraditar Battisti, dessa forma, ele poderá continuar vivendo no Brasil. No caso concreto, o que se pretendeu assegurar foi a aplicação do princípio do devido processo legal, que possui um âmbito de proteção alargado e que exige o fair trial não apenas entre aqueles que fazem parte da relação processual, ou que atuam diretamente no processo, mas de todo o aparato jurisdicional, o que abrange todos os sujeitos, instituições e órgãos, públicos e privados, que exercem, direta ou indiretamente, funções qualificadas, CORREIO Braziliense. Disponível em: <http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia182/ 2010/04/16/ brasil,i=186708/LULA+SO+DECIDIRA+SOBRE+EXTRADICAO+DE+BATTISTI+APOS+ANALISE+DA +AGU.shtml>. Acesso em: 22 abr. 2010. 72 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 205-244, jan./jun. 2012. 237 constitucionalmente essenciais à Justiça. E no contexto da extradição, o tema do juiz natural assume relevo inegável, uma vez que somente poderá ser deferida essa medida excepcional se o Estado requerente dispuser de condições para assegurar julgamento com base nos princípios básicos do Estado de Direito, garantindo que o extraditando não será submetido a qualquer jurisdição excepcional. Nessa linha, sustenta Roxin que o Direito Processual Penal é o sismógrafo da Constituição, uma vez que nele reside a atualidade política da Carta Fundamental.73 A essencialidade da cooperação internacional na repressão penal aos delitos comuns não exonera o Estado brasileiro – e, em particular, o Supremo Tribunal Federal – de velar pelo respeito aos direitos fundamentais do súdito estrangeiro que venha a sofrer processo extradicional instaurado por iniciativa de qualquer Estado estrangeiro. O extraditando assume, no processo extradicional, a condição indisponível de sujeito de direitos, cuja intangibilidade há de ser preservada pelo Estado a que foi dirigido o pedido de extradição. CONCLUSÃO O presente trabalho se propôs a mostrar a importância do instituto da extradição, dos direitos dos refugiados e seus conflitos no ordenamento jurídico. Para tanto, como norte, fora utilizado o caso concreto do italiano Cesare Battisti. Tal foi a complexidade e a singularidade processual do caso supramencionado que, por assim ser, mobilizou não só a comunidade jurídica, como também o meio político, especialmente o diplomático, que se deparou com evidente polêmica que concerne ao embate entre a concessão da extradição, não sendo resguardado o direito de refúgio. Nesse mesmo eixo, ainda gravita outro ponto controvertido, a saber, quem detém a competência da palavra final em matéria extradicional. Primeiramente, abordou-se, não exaustivamente, o arcabouço fático do referido estudo de caso. Cesare é ex-integrante de grupo armado, foi julgado e condenado pelo Judiciário italiano à prisão perpétua por quatro homicídios. Ele também procurou refúgio em solo francês, onde por certo tempo viveu sob a tutela da condição de refugiado, que em outro governo foi revogada. O italiano incorre em outra fuga e acaba sendo preso no Brasil, em 2007. Assim, o Estado italiano fez o pedido da extradição, que em sede de discussão no Supremo Tribunal Federal foi acatada como justa. Grosso modo, trata-se da vontade ROXIN, Claus. Derecho procesal penal. Buenos Aires: Editores del Puerto, 2000. p. 10. 73 238 FAE Centro Universitário de querer tutelar quem já foi julgado pelos Tribunais italianos, por incorrer na prática de quatro homicídios. O Estado Democrático de Direito italiano quer, em síntese, que um condenado cumpra pena que lhe foi legitimamente imposta pelo seu Poder Judiciário. Mais acertado é, nesses casos, o uso da ferramenta da extradição, que consiste na entrega do indivíduo, que se encontra no território do Estado solicitado, para responder a processo penal ou cumprir pena no Estado solicitante. Cesare pediu que lhe fosse concedida a condição de refugiado ao CONARE, o órgão negou-lhe tal condição, por considerar que seus crimes não têm natureza política. Todavia, em grau recursal, obteve a condição pelo Ministro da Justiça, Tarso Genro, sob a fundamentação de o italiano não ter tido um julgamento justo e por fundado temor de perseguição se retornasse à Itália, em virtude, especialmente, de seu posicionamento político. A partir dessa concessão de refugiado, alcançada por meio do Ministro, desencadeou-se enorme alvoroço diplomático entre Brasil e Itália, pois em virtude da concessão dessa condição, obsta-se a possibilidade de extradição. Desse modo, destaca-se ponto polêmico, qual seja, o que tange ao fato de a decisão ter sido emanada unicamente pelo Ministro da Justiça, e por assim ser, obedeceria a critérios pessoais na hora da concessão do refúgio. A dúvida orbitou sobre o núcleo da possível ausência de impessoalidade, pois tanto o Ministro quanto o italiano provêm de um grupo político de esquerda. Nesse matiz, outro transtorno concernente ao mesmo caso foi a revisão da concessão do refúgio pelo Supremo Tribunal Federal, que por votação majoritária autorizou a extradição do italiano. Esboçado o contexto fático do referido caso, o estudo se põe a analisar o instituto da extradição e seus ditames normativos, balizados não só constitucionalmente, por lei específica, Lei nº 6.815/80, como também por tratado específico entre as duas repúblicas e pelo regimento interno do Supremo Tribunal Federal, por se tratar de caso específico do ex-ativista julgado pela Corte Maior. Já o direito dos refugiados é disciplinado por lei específica, estabelecendo ao CONARE a atribuição de declarar o status de refugiado, em primeira instância. A posteriori, o estudo se voltou à explanação dos direitos dos refugiados e ao tratado internacional entre as duas repúblicas, bem como à entrega do extraditando. Delimitados tais contornos, foi possível adotar uma visão mais aguçada sobre o caso em comento. E, nesse diapasão, a extradição de Battisti, pelos contornos delineados, tornouse incompatível com os arts. III e V do Tratado de Extradição entre Brasil e Itália, o art. 33 da Lei nº 9.474/97, Lei dos Refugiados, e também com o art. 77, incs. III e VII. Essas normas são claras em disciplinar sobre a negação da extradição quando o refúgio político for concedido. E por derradeiro, havendo atos de perseguição política e a não obtenção do direito de defesa, a extradição não foi concedida conforme o tratado entre os Estados. Quanto à análise referente à imputação objetiva, resta a dúvida sobre o risco para o bem Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 205-244, jan./jun. 2012. 239 jurídico liberdade e para a estabilidade da norma. Citando-se Jacobs, que parte de Luhman, “tudo o que existe é um sistema, e todos estes visam a estabilidade pela autopoése”. A estrutura normativa não foi rompida? As normas valeram? E a pena que busca a estabilidade da norma demonstrando a continuação da validade da norma? Se a única solução possível é a aplicação da pena, não há a possibilidade de o sistema acomodar-se. Por sua vez, de acordo com Luhman, que transporta para as ciências sociais a teoria dos sistemas, a sociedade também é um sistema, no qual existem microssistemas que se relacionam entre si. Da desestabilização do sistema social pode haver várias reações e inclusive a acomodação. O problema da teoria dos sistemas (tudo o que existe é sistema e entorno) com relação às ciências sociais é o que existe pela exclusão do entorno, se tudo é um sistema, também o é a teoria dos sistemas, e ela só pode se mostrar existente se houver um entorno em relação a ela. A teoria dos sistemas é infinita nas ciências naturais. Ocorre que o conhecimento humano tem limite, é o limite. Como se prova válida então? A estrutura padece de ordem lógica, pois não consegue autodemonstrar-se. Quando se fala em missão do Direito Penal, fala-se em estabilidade da norma, portanto, os seus critérios quanto ao risco são afeitos ao risco da estabilidade da norma. Por isso as pessoas não são pessoas, mas subsistemas físicos, razão pela qual da análise do caso tem-se precedente sumamente profícuo. Resta saber se as ideias a partir de agora se coadunarão com Jacobs ou Luhman. Segundo o próprio Roxin, a pena não serve para nada, sendo apenas um fim em si mesma. Tem que ser assim para que a Justiça possa imperar. 240 FAE Centro Universitário REFERÊNCIAS ALMEIDA, Guilherme de Assis. Asilo e não-violência. In: ALMEIDA, Guilherme de Assis; ARAUJO, Nádia O direito internacional dos refugiados: uma perspectiva brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. BACHEGA, Hugo; SIMÕES, Eduardo. Entenda o caso Cesare Battisti. O Globo, Rio de Janeiro, 31 dez. 2010. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/politica/entenda-caso-cesarebattisti-2903197>. Acesso em: 26 out. 2012. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: <www. planalto.gov.br>. Acesso em: 10 abr. 2010. _____. Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980: Estatuto do Estrangeiro. Disponível em: <www. planalto.gov.br>. Acesso em: 20 abr. 2010. _____. Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997: Lei dos Refugiados. Disponível em: <http://www. pge.sp.gov.br/>. Acesso em: 8 abr. 2010. _____. Ministério da Justiça. Extradição. 3. ed. Brasília, 2004. _____. Supremo Tribunal Federal. Extradição nº 1.085-9. Relator Ministro Cezar Peluso. Brasília, DF, 16 dez. 2009. DJe-067 de 15.04.2010, p. 1. Disponível em: <www.stf.jus.br>. Acesso em: 16 abr. 2010. _____. Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Disponível em: <www.stf.jus.br>. Acesso em: 2 maio 2010. _____. Tratado de extradição entre a República Federativa do Brasil e a República Italiana. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/util/arquivo.asp?id=3020>. Acesso em: 8 abr. 2010. CARNEIRO, Camila Tagliani. A extradição no ordenamento jurídico brasileiro. São Paulo: Memória Jurídica, 2002. CASELLA, Paulo Borba. Refugiados: conceito e extensão. In: ARAUJO, Nadia de; ALMEIDA, Guilherme Assis (Coord.). O direito internacional dos refugiados: uma perspectiva brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 17-26 CASTRO, Joeliria Vey. Extradição: Brasil e Mercosul. Curitiba: Juruá, 2003. CONVENÇÃO de Viena. Disponível em: <http://www2.mre.gov.br/dai/dtrat.htm>. Acesso em: 8 abr. 2010. CORREIO BRAZILIENSE. Disponível em: <http://www.correiobraziliense.com.br/app/ noticia182/2010/04/16/brasil,i=186708/LULA+SO+DECIDIRA+SOBRE+EXTRADICAO+DE+ BATTISTI+APOS+ANALISE+DA+AGU.shtml>. Acesso em: 22 abr. 2010. DIÁRIO de Justiça Eletrônico do Supremo Tribunal Federal. Brasília, DF, 16 de abril de 2010. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2010-abr-16/acordao-julgamentoextradicao-cesarebattisti-publicado>. Acesso em: 10 abr. 2010. DIREITOS. Disponível em: <http://www.direitos.org.br/index.php?option=com_content&task=v iew&id=4862&Itemid=1>. Acesso em: 4 fev. 2010. Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 205-244, jan./jun. 2012. 241 DOLINGER, Jacob. Direito internacional privado: parte geral. 6. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. GOMES, Maurício Augusto. Aspectos da extradição no direito brasileiro. Revista dos Tribunais. São Paulo, v. 79, n. 655, p. 258, maio 1990. INFOJUS. Disponível em: <http://www.infojus.com.br/noticias/ignorar-tratado-deextradicaopode-gerar-acao-contra-lula-no-senado>. Acesso em: 4 fev. 2010. JORNAL DA COMUNIDADE, Brasília, 12 a 18 de setembro de 2009, p. A2. JUSPUBLISCISTA. Disponível em: <http://juspublicista.com/wordpress/wpcontent/uploads/2009/12/ voto_ministro_erosgrau_battisti.pdf.>. Acesso em: 29 abr. 2010. LEÃO, Renato Zerbini Ribeiro. O instituto do refúgio no Brasil após a criação do Comitê Nacional para os Refugiados. Disponível em: <http://portal.mj.gov.br/>. Acesso em: 25 abr. 2010. _____ (Comp.). O reconhecimento dos refugiados pelo Brasil: comentários sobre decisões do CONARE. Brasília: CONARE, ACNUR BRASIL, 2007. LISBOA, Carolina Cardoso Guimarães. A relação extradicional no direito brasileiro. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. LULA só decidirá sobre extradição de Battisti após análise da AGU. Correio Braziliense, Brasília, 26 out. 2012. Disponível em: <http://www.correiobraziliense.com.br/app/ noticia182/2010/04/16/brasil,i=186708/LULA+SO+DECIDIRA+SOBRE+EXTRADICAO+DE+ BATTISTI+APOS+ANALISE+DA+AGU.shtml.>. Acesso em: 10 abr. 2010. MACEDO, Ana Paula. Battisti é condenado e extradição esfria. Correio Braziliense, Brasília, 6 mar. 2010. Caderno de Justiça. MAIA, William. Refúgio ou extradição: especialistas se dividem sobre caso Battisti. Última Instância. 1 fev. 2009. Disponível em: <http://ultimainstancia.uol.com.br/conteudo/ noticias/5448/61665.shtml.shtml>. Acesso em: 11 set. 2009. MAIA, William. Lula dará palavra final sobre extradição de Cesare Battisti. Última Instância, 18 nov. 2009. Disponível em: <http://ultimainstancia.uol.com.br/noticia/LULA+DARA+PALAVRA+FIN AL+SOBRE+EXTRADICAO+DE+CESARE+BATTISTI_66705.shtml>. Acesso em: 24 nov. 2010. NAÇÕES UNIDAS. Assembleia-Geral. Declaração universal dos direitos humanos. Disponível em: <http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm>. Acesso em: 8 abr. 2010. _____. Assembleia-Geral. Resolução nº 428 de 14 de dezembro de 1950. Estatuto do Alto do Alto Comissariado das Nações Unidas para os refugiados. PIOVESAN, Flávia. O direito de asilo e a proteção internacional dos refugiados. In: O direito internacional dos refugiados: uma perspectiva brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. REZEK, José Francisco. Direito internacional público: curso elementar. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. ROXIN, Claus. Derecho procesal penal. Buenos Aires: Editores del Puerto, 2000. 242 FAE Centro Universitário SILVA, Geraldo Eulálio do Nascimento. Os refugiados políticos e o asilo. In: O direito internacional dos refugiados: uma perspectiva brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. TELES, Ney Moura. Direito Penal I: parte geral. São Paulo: Atlas, 2006. TRATADO de Extradição entre a República Federativa do Brasil e a República Italiana. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/util/arquivo.asp?id=3020>. Acesso em: 8 abr. 2010. UNE. Disponível em: <http://www.une.org.br/home3/opiniao/artigos/m_13889.html>. Acesso em: 25 set. 2009. VELOSO, Kleber Oliveira. O instituto extradicional. Goiânia: AB, 1999. Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 205-244, jan./jun. 2012. 243 CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS PARA A RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO* THEORETICAL CONTRIBUTIONS TO THE RESTRICTION ON FREEDOM OF EXPRESSION RESUMO Abili Lázaro Castro de Lima** Daniel Fauth Martins*** Guilherme Milkevicz**** O presente artigo trata, a partir de uma perspectiva filosófica, da possibilidade de restrição à liberdade de expressão. Para tanto, perpassa sua atual noção pluralística, aprofundando a problemática da tolerância pura, a fim de desvelar o discurso opressor imbricado nos atuais moldes ditos democráticos do discurso. Tomando por foco a questão da sexualidade, objeto de estudos do Grupo PET-Direito em 2010, busca demonstrar de que forma a ideia de uma total liberdade de expressão esconde, em seu bojo, a negação de sujeitos, seja pelo enunciado em si, seja pela distância entre enunciado e ato de enunciação, revelando-se sua restrição como operação imprescindível na luta contra a discriminação e, em última análise, a própria destruição do ser humano. Palavras-chave: Liberdade. Expressão. Restrição. Tolerância. ABSTRACT The present article discusses, from a philosophical perspective, the possibility of restriction to the freedom of expression. In order to do so, it pervades the present pluralistic notion of the concept, deepening the problematic of pure tolerance, so that the oppressive discourse within the called “democratics” speech. Focusing on the issue of sexuality, an object of study analyzed by the PET Group from the UFPR’s Law School, seeks to demonstrate that the idea of a complete freedom of expression hides the denial of subjects within itself, whether it is through the enunciation itself or through the distance between enunciation and the act of enunciating, revealing its restriction as a necessary operation on the struggle against discrimination and, the destruction of the human subject, though. Keywords: Freedom. Expression. Restriction. Tolerance. Artigo apresentado na XIII Jornada de Iniciação Científica da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. ** Professor Adjunto da Universidade Federal do Paraná. Coordenador do Programa PET Direito. *** Acadêmico do 4º ano do curso de Direito da Universidade Federal do Paraná e membro do grupo PET Direito. **** Acadêmico do 3º ano do curso de Direito da Universidade Federal do Paraná e membro do grupo PET Direito. * Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 245-268, jan./jun. 2012 245 “Toda mulher que eu vejo na rua reclamando que foi estuprada é feia pra caralho. Tá reclamando do quê? Deveria dar graças a Deus” (Rafinha Bastos, comediante).1 “Se posso mudar o comportamento de um filho agressivo ou desrespeitoso por que não poderia mudar o efeminado com a mesma atitude? Homossexualismo, como regra, é comportamento e não genética” (Jair Bolsonaro, deputado federal).2 “É muito difícil uma violência sem o consentimento da mulher, é difícil. [...]. Tem casos assim, do ‘ah, não queria, não queria, mas acabei deixando’ (Dom Luiz Gonzaga Bergonzini, bispo da diocese de Guarulhos, São Paulo).3 “Eu estava em uma viagem de trem de 24 horas de Nova Déli até Orissa. No entanto, após 72 horas, o trem ainda não havia chegado ao seu destino [...] e minha pele ficou suja e escura como a de vocês” (Maureen Chao, vice--cônsul dos Estados Unidos na Índia).4 INTRODUÇÃO Posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las.5 Comecemos com um problema: a visão da linguagem como mecanismo (ou melhor, ferramenta) de criação deliberada (discutida, ergo, democrática) de realidade parece ser a única a permear o que julgamos ser o processo de formação do Direito, deixando de lado algo que, há pelo menos meio século, vem sendo trabalhado no âmbito filosófico – a linguagem como constitutiva da realidade, como instância conformadora da totalidade, criadora daquilo que é tido como ontológico. A gravidade de tal afirmação revela-se quando tomamos a luta socialista e a sua inserção nos espaços dialógico-políticos, sua própria conformação ao discurso acerca do discurso. Se tomada a liberdade de expressão e, em última análise, a linguagem como fórmula estruturante, torna-se preocupante o prognóstico habermasiano acerca do controle formal da comunicação como fórmula ideal de atingirem-se deliberações materiais ótimas. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/926924-rafinha-bastos-encoraja-estupro-dizconselho-da-condicao-feminina.shtml>. Acesso em: 29 jul. 2011. 2 Disponível em: <http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI245890-15223,00.html>. Acesso em: 29 jul. 2011. 3 Disponível em: <http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,EMI246076-15230,00.html>. Acesso em: 16 ago. 2011. 4 Disponível em: <http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/14388/diplomata+dos+eua+causa+revolta+na+india+apos+dizer+%26%2339sem+banho+eu+fico+suja+e+escura+como+voces%26%2339shtml>. Acesso em: 16 ago. 2011. 5 Pensamento presente em: VOLTAIRE. Pseudônimo de AROUET, François-Marie. A princesa da Babilônia. São Paulo: Landy, 2006. cap. III. 1 246 FAE Centro Universitário E isso porque o abalizamento formal termina por imprimir sua própria materialidade à linguagem, de forma a perpetuar, em perversa lógica circular, a mesma mensagem e, nesse sentido, um único sentido, uma única ideia de mundo. A luta por uma mudança estrutural acaba por quedar-se prejudicada por um inimigo invisível, ou melhor, indizível, um condicionamento prévio que proíbe, sob a justificativa de ouvir todas as vozes, o inumano, o perverso, a verdadeira voz de subversão, negando-lhe realidade e rechaçando-o à marginalidade da não definição. O presente artigo visa, pois, à análise dessa faceta da linguagem, aqui exprimida pela liberdade de expressão esquecida pelo Direito, alijando-se o trabalho de uma perspectiva meramente positiva, dando-se ênfase a uma análise filosófica das implicações de tal visão dita “pluralista”. Tomar-se-á, como foco exemplificativo, e privilegiando os trabalhos coletivos já realizados pelo grupo PET Direito, a questão da sexualidade e do gênero, grupo de pesquisa realizado ao longo do segundo semestre do ano de 2010. 1 LIBERDADE PARA QUEM? DEMOCRACIA PARA QUÊ? Furtar-nos-emos a realizar uma notícia histórica acerca do instituto em tela, uma vez que a análise do panorama legal pátrio nos afigura como um limite desnecessário à reflexão almejada. Contentemo-nos, pois, com ideias profanas de liberdade de expressão e democracia. De uma maneira geral, a doutrina contempla a liberdade de expressão em seu caráter dual, como liberdade de expressão individual e liberdade de comunicação: Assim, com a locução liberdade de expressão e comunicação pretende-se aqui aludir a um direito fundamental de dimensão subjetiva (garantia da autonomia pessoal) e institucional (garantia da formação da opinião pública, da participação ativa de todos no debate público, do pluralismo político e do bom funcionamento da democracia), assegurado a todo cidadão. Direito este que consiste na faculdade de manifestar livremente os próprios pensamentos, idéias, opiniões, crenças, juízos de valor, por meio da palavra oral e escrita, de imagem ou de qualquer outro meio de difusão (liberdade de expressão), bem como na faculdade de comunicar ou receber informações verdadeiras, sem impedimentos nem discriminações (liberdade de comunicação).6 (Grifo nosso.) FARIAS, Edilsom. Liberdade de expressão e comunicação: teoria e proteção constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 54 e ss. 6 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 245-268, jan./jun. 2012 247 Malgrado essa dúplice forma de colocação da liberdade de expressão, sua principiologia traz um conteúdo de eminente oponibilidade, legitimando o discurso democrático a partir de sua pluralidade: O pluralismo na comunicação pode propiciar às pessoas conhecer as inúmeras concepções políticas, ideológicas e filosóficas existentes na sociedade democrática e com elas travar contacto. Dessa forma os cidadãos poderão tornar-se: (i) mais gabaritados para avaliar os assuntos em discussão na arena pública; (ii) mais instruídos para assumir as responsabilidades destinadas à soberania popular num regime constitucional; (iii) até mesmo mais preparados para fruírem adequadamente os seus direitos fundamentais.7 Iniciemos, ainda que brevemente, pela democracia. Pois bem, retomando o início destas contribuições, o conhecidíssimo discurso de Churchill designou a democracia como a pior forma de governo, excetuando todas as demais experiências históricas da humanidade. A democracia abduz para o âmago do seu próprio conceito a discutibilidade, em outras palavras, partindo de Platão, “a virtude de uma coisa [...] é aquele estado ou condição que lhe permite desempenhar bem a sua própria função”, a virtude da democracia é a tolerância pluralista (tema a ser discutido adiante).8 Destarte, a democracia traz para dentro de si a abertura e a imprecisão semânticas, é um conceito em gerúndio, jamais se finalizando, permanentemente se (re)fazendo, (re)construindo-se.9 A forma aceitável desse gerúndio é a discussão pública baseada em dois princípios elementares: reconhecimento do outro como igual falante e ausência de qualquer violência10 (Karl Otto Apel). Revela-se a imediata centralidade da liberdade de expressão como dado apriorístico para a manutenção do mecanismo de reconstrução permanente da democracia. Não é por outro motivo que Jónatas Machado, em Liberdade de expressão, logo na introdução, refere-se a esse direito como “um pressuposto para a própria construção e manutenção discursiva dos seus princípios estruturantes e dos direitos fundamentais em geral”.11 Ibid., loc. cit. 7 WOLFF, Robert Paul. Além da tolerância. In: MARCUSE, Herbert; MORRE JR., Barrington; WOLFF, Robert Paul. Crítica da tolerância pura. Rio de Janeiro: Zahar, 1970. p. 11-12. 8 AVRITZER, Leonardo. A moralidade da democracia: ensaios em teoria habermasiana e teoria democrática. Belo Horizonte: UFMG, 1996. p. 125-152. 9 10 HABERMAS, Jürgen. Notas programáticas para a fundamentação de uma ética do discurso. In: _____. HABERMAS, Jürgen. Consciência moral e agir comunicativo. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1989. p. 143-235. MACHADO, Jónatas E. M. Liberdade de expressão: dimensões constitucionais da esfera pública no sistema social. Coimbra: Coimbra, 2002. p. 9. 11 248 FAE Centro Universitário De fato, a liberdade de expressão passa por um processo histórico de sedimentação, o que, em decorrência da estruturação jurídica da sociedade, não poderia deixar de se consolidar em diplomas legislativos. Destaca-se, entre outros documentos jurídicos e jurígenos, sua presença na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão (art. 11º); na Declaração Universal dos Diretos Humanos (art. 19); na Convenção Americana sobre Direitos Humanos (art. 13 etc.), e na Constituição brasileira (entre outros relacionados, nos arts. 5º, inc. IV, e 220). Pois bem. Prevalece nos debates em torno da liberdade de expressão o aforismo de Voltaire: “Posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las”. Voltaire não esconde o contexto de gládios religiosos no qual os indivíduos promoviam chacinas ao discordar sobre parágrafos, em que “o que tivesse estripado vinte e quatro mulheres huguenotes grávidas deve ser glorificado em dobro em relação ao que só tivesse estripado doze”;12 o próprio Voltaire chegou a ser preso na Bastilha por suas ideias. Esse panorama o levou a redigir o Tratado sobre a tolerância. Nessa obra, o filósofo advoga pelos direitos de livre pensamento e expressão religiosos e demonstra a factibilidade da proposta ao rememorar os casos históricos de grande permissividade da diversidade de credo entre os gregos e os romanos. A interpretação corrente da célebre frase (supracitada) do filósofo francês, que tanto empolga o argumento liberal da liberdade de expressão quase irrestrita, não encontra respaldo pleno no Tratado. O escritor cita, entre a vastidão de exemplos, o imperador da China Yung-Ching, que “expulsou os jesuítas; mas não porque fosse intolerante, e sim porque os jesuítas, ao contrário, o eram”.13 Voltaire inclusive elogia com que tolerância os jesuítas foram expulsos. Encontramo-nos, pois, na contradição frontal entre a interpretação habitual de ampla liberdade que se dá ao aforismo de Voltaire e as considerações que o próprio filósofo realiza, indicando o caminho (possivelmente) contrário. Parece nos mostrar o pensador que reprimir é possível, destacadamente quando um grupo toma para si o direito de expressão como o direito de impor conceitos e ideias indemonstráveis, ou que decorrem da simples crença. Ora, hodiernamente, os religiosos católicos e evangélicos não agem exatamente como os jesuítas em relação aos homossexuais? Antes de iniciar as investigações, compartilhemos o questionamento impulsionador de Marcuse: “A lição, porém, é clara: a 12 VOLTAIRE. Tratado sobre a tolerância. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 67. Ibid., p. 25. 13 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 245-268, jan./jun. 2012 249 intolerância retardou o progresso e prolongou o massacre e a tortura de inocentes durante centenas de anos. Liquidará isso de uma vez por todas a justificação da tolerância ‘pura’?”.14 2 ENTRE A LIBERDADE E A RESTRIÇÃO A ditadura militar brasileira é um trauma social presente e contínuo, em grande medida porque a transição do regime autoritário para o democrático se pautou no esquecimento da ordem do recalque, e o recalcado sempre manifesta sintomas. A inexistência de um acerto de contas com o passado e a recusa de responsabilizar nominalmente atores eticamente responsáveis pelos atos cometidos têm como sintoma o trauma social presente. A recusa de punir e mesmo vingar baseada na defesa de que a Lei de Anistia foi “ampla, geral e irrestrita”, como interdição não à justiça jurídica, mas à divina justiça da divina violência,15 lega à contemporaneidade a onipresença fantasmática do ressentimento: A mágoa “irreparável” do ressentido indica que ele sabe, mas não quer saber, que aceitou se colocar em uma condição passiva diante dos abusos do mais forte; por covardia, por cálculo (“mais tarde ele há de reconhecer e premiar meu sacrifício”) ou por impotência autoimposta, o ressentido acaba por se revelar cúmplice do agravo que o vitimou.16 Nesse exato sentido, o recalcado sempre ameaça retornar ante a cumplicidade/ submissão do ressentido.17 Sempre que se pretende alçar ao debate público a questão MARCUSE, Herbert. Tolerância repressiva. In: MARCUSE, Herbert; MORRE JR., Barrington; WOLFF, Robert Paul. Crítica da tolerância pura. Rio de Janeiro: Zahar, 1970. p. 96. Adiantemos que o conceito de “tolerância pura” pode ser praticamente identificado com a interpretação liberal do pronunciamento de Voltaire, ou seja, a liberdade de expressão quase irrestrita, indiferenciados os conteúdos dos enunciados, os sujeitos enunciadores e as motivações subjacentes (e ideológicas) aos discursos. 14 Na explicação concisa de Žižek: “Quando aqueles que estão fora do campo social atacam ‘às cegas’, exigindo e praticando imediata justiça/vingança, isso é a ‘divina violência’”. Ou nas palavras de Maximilien Robespierre: “Os povos não julgam como as cortes judiciárias; não proferem sentenças, eles lançam o raio, não condenam os reis, eles os mergulham de novo no nada; e essa justiça é tão boa quanto a dos tribunais.” (Grifo nosso.) ŽIŽEK, Slavoj. Robespierre: virtude e terror. Rio de Janeiro: Zahar, 2008. p. 11 e 115 (respectivamente). 15 KEHL, Maria Rita. Tortura e sintoma social. In: SAFATLE, Vladimir; TELES, Edson. O que resta da ditadura, p. 123. 17 A inexistência de um acerto de contas com o passado torna-se evidente em inumeráveis casos atualmente. Em 2009 o Gal. Luiz Cesário da Silveira Filho declarou publicamente: “Vivemos atualmente dias de inquietude e incerteza. [...] Tenho a convicção de que o nosso Exército saberá, como sempre, contornar tão graves inquietações e continuará, a despeito de qualquer decisão, protegendo a nação do estrangeiro e de si mesma”. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u533380.shtml>. Acesso em: 28 ago. 2011. 16 250 FAE Centro Universitário da restrição de liberdade de expressão e de imprensa18 força-se – baseando-se no temor verídico do retorno do recalcado – o reconhecimento desse debate como se fosse também um sintoma do recalque autoritário, do acerto de contas usurpado. Nas sociedades “pós-ideológicas e pós-modernas” o único fator eficaz de agregação e de constituição de identidade é justamente esse: o medo.19 O medo da supressão da liberdade de expressão agrega o senso comum e os teóricos liberais no intuito de prevenir-se do retorno do autoritário.20 Os posicionamentos mais dogmáticos – “a liberdade de expressão é um direito natural inalienável” – revezam-se com outros mais conformados – “sabemos que a liberdade de expressão irrestrita pode ser problemática, mas não podemos arriscar ‘um retorno ao index’”. Nestas contribuições não almejamos balizarmo-nos com o dogmatismo irrefletido nem com o conformismo – para isso basta calar-se, porque calar é consentir, assim como ser imparcial é tomar parte do que já está estabelecido –, pretendemos, na contracorrente, destacar a importância da contenção à liberdade de expressão ampla e quase irrestrita, ou, melhor dizendo, do discurso que afirma tal possibilidade. Tomamos como ponto de partida que a conquista da liberdade requer esforço, o que nos faz negar a percepção de que basta o Estado não intervir para que haja liberdade de expressão ou qualquer outra forma de liberdade. Para a pequena e pobre Esparta, constantemente ameaçada por potências maiores, mais ricas e possuidoras de mais vastos exércitos,21 por exemplo, a liberdade requeria a eugenia, o assassinato imediato das crianças Para o debate entre liberdade de expressão e liberdade de imprensa: LIMA, Venício A. de. Liberdade de expressão X liberdade de imprensa: direito à comunicação e democracia. São Paulo: Publisher Brasil, 2010. 18 Endossamos Slavoj Žižek: “O único meio de introduzir paixão nesse tipo de política, o único meio de ativamente mobilizar o povo, é através do medo: o medo dos imigrantes, o medo do crime, o medo da depravação sexual ateia, o medo do Estado excessivo (com sua alta carga tributária e natureza controladora), o medo da catástrofe ecológica, assim como o medo do assédio (o politicamente correto é a forma liberal exemplar da política do medo)”. ŽIŽEK, Slavoj. Política anti-imigração: barbarismo com aparência humana. Disponível em: <http://boitempoeditorial.wordpress.com/2011/08/01/politica-anti-imigracao-barbarismocom-aparencia-humana/>. Acesso em: 08 ago. 2011. 19 Devemos fazer um mea culpa preventivo, essa política não agrega apenas liberais e senso comum, envolve ainda, pelo menos, os comunistas do PCO. Há um editorial no site do partido intitulado “Lei contra a homofobia: direito e censura” em que se pode ler: “Por que deveriam ser punidos os discursos? Todo cidadão deve ter direito de falar o que pensa, por mais que isso ofenda outras pessoas e por mais ofensivo que seja”. O que só demonstra a calamitosa medíocre e vergonhosa situação de boa parte da “esquerda” brasileira. Disponível em: <http://www.pco.org.br/conoticias/ler_materia.php?mat=29201>. Acesso em: 30 ago. 2011. 20 De acordo com o historiador Tom Holland: “No século V a.C., uma superpotência global esteve decidida a levar a verdade e a ordem a dois Estados considerados terroristas. A superpotência era a Pérsia, incomparavelmente rica em ambição, ouro e homens. Os Estados terroristas eram Atenas e Esparta, cidades excêntricas de uma região atrasada, pobre e montanhosa: a Grécia”. Excerto extraído de: ŽIŽEK, Slavoj. Em defesa das causas perdidas. São Paulo: Boitempo, 2011. p. 88. 21 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 245-268, jan./jun. 2012 251 fracas, pois “a liberdade não é algo dado, é reconquistada por meio de uma luta intensa, em que é preciso estar disposto a arriscar tudo”.22 Dessa forma orwelliana, para Esparta, disciplina era liberdade. Alicerçar horizontes éticos para a liberdade de expressão também exige que nos arrisquemos, e o desenvolvimento teórico é apenas o primeiro passo que devemos empreender. Enquanto os demagogos afirmam que a política é “a arte do possível”, nós defendemos que a política é justo o oposto, “es el arte de lo imposible, es cambiar los parámetros de lo que se considera ‘posible’ en la constelación existente en el momento”.23 Certamente é desejável que a sociedade se erija na tolerância, na aceitação de múltiplos cultos religiosos, na diversidade étnica, no debate acadêmico franco e amplo. Devemos agir assim, como regra geral, quanto à liberdade de expressão. A fórmula moral vulgar afirma que todos devem poder manifestar seus gostos e valores, desde que não ultrapassem a barreira que separa esses gostos e valores de outros indivíduos. Equacionar os termos dessa forma é muito simples, mas problemático: como podemos distinguir entre prejuízo real e preconceito disfarçado de prejuízo? O primeiro indicativo de resposta tende à insolubilidade. De acordo com essa tese, essa equação não pode ser resolvida porque cada indivíduo tem a própria e peculiar percepção da realidade, e o que parece prejuízo real para alguns parecerá, para outros, inelutavelmente, mero preconceito bárbaro. Essa nos parece uma resposta tipicamente capitalista em seu afã de converter o sujeito em indivíduo, simplesmente recusando o pertencimento a um campo simbólico sustentado coletivamente e individualizando-o, atomizando-o: alijando-o de sua classe e desnorteando sua compreensão de coletividade. Há que se questionar, no entanto, essa fórmula tão arraigada que propõe a idiossincrasia absoluta. Imaginemos um debate televisivo entre um militar conservador e um dissidente político preso e torturado. Não há qualquer dúvida que o militar saudaria a ditadura militar brasileira e acusaria os revoltosos de “terroristas”, enquanto o rebelde proporia que os militares deram um golpe ilegítimo que suspendeu a democracia e o sustentaram com a truculência do aparelho de Estado. Diante de um impasse radical como esse, o mediador do debate, um multiculturalista padrão, faria um fechamento “imparcial” ao mencionar que há distintas opiniões sobre o tema, que é nossa tarefa ouvir os dois lados, que é sempre salutar um debate respeitoso entre opiniões distintas e, enfim, que essa é uma bela demonstração da superioridade democrática. Um telespectador mais ŽIŽEK, Slavoj. Em defesa das causas perdidas. São Paulo: Boitempo, 2011, p. 89. 22 23 252 Ibid., p. 33. (Grifos no original.) FAE Centro Universitário ambicioso que o habitual não poderia deixar de questionar, ainda que em termos simples, “afinal, quem está certo?; eram terroristas os dissidentes?; foi golpe ou revolução?” etc.24 Aqui presenciamos uma situação em que a “tolerância imparcial” do mediador é o refúgio ideológico mais espúrio.25 Se o militar afirma A e o dissidente afirma não A, nós não podemos nos contentar com a absurda síntese A + não A. Não estamos num campo de irremediável subjetividade, como se estivéssemos discutindo se realmente são sete sacramentos, se Jesus era dono das sandálias que calçava ou se existe direito natural. Trata-se de um debate em que há muito mais objetividade do que parece, podemos provar os casos de tortura, podemos verificar historicamente que políticas públicas redistribucionistas defendidas pelo governo de João Goulart foram obstadas e revertidas pelos militares, podemos questionar os documentos sigilosos, os desaparecimentos forçados etc. Em suma, em determinadas ocasiões, a dificuldade não se encontra na elaboração de um discurso que se aproxime da verdade, encontra-se, ao revés, no “perigo” das implicações que as revelações provocariam. Concernindo diretamente à liberdade de expressão, devemos aceitar a manifestação pública de opiniões como a de Bolsonaro(?): “Vivemos um período de pleno emprego, segurança, liberdade e respeito entre 1964 e 1985”.26 Será mesmo aceitável que alguém venha, saudosistamente, a público lembrar “segurança, liberdade e respeito” da ditadura militar? Pensemos hipoteticamente, seria aceitável que atualmente um parlamentar nazista (ainda que não declaradamente) fosse a público lamentar: “bons tempos aqueles dos campos de concentração, pessoas de bem podiam circular livremente, os únicos perseguidos eram os serviçais bolcheviques traidores da pátria”? 24 As reflexões desenvolvidas aqui foram instigadas por: MOORE JR., Barrington. A tolerância e o ponto de vista científico. In: MARCUSE, Herbert; MORRE JR., Barrington; WOLFF, Robert Paul. Op. cit., p. 77. Para precisar o sentido do vocábulo “ideologia” adotado nessa situação: “Para que una ideología se imponga resulta decisiva la tensión, em el interior mismo de su contenido específico, entre los temas y motivos de los ‘oprimidos’ y los de los ‘opressores’. Las ideas dominantes no son NUNCA directamente las ideas de la classe dominante”. ŽIŽEK, Slavoj. En defensa de la intolerancia. Madrid: Sequitur, 2008. p. 21. Nesse sentido, o mediador coloca-se na suposta “imparcialidade democrática” justamente para sabotar qualquer possibilidade de conclusão crítica, como se todas as ideias possíveis tivessem sido contempladas. 25 O deputado Bolsonaro foi entrevistado pela Revista Época, além dessa frase ignominiosa, destacamos mais algumas: “Se lutar para impedir a distribuição do kit-gay nas escolas de ensino fundamental com a intenção de estimular o homossexualismo, em verdadeira afronta à família é ser preconceituoso, então sou preconceituoso, com muito orgulho. [...] A maioria dos homossexuais é assassinada por seus respectivos cafetões, em áreas de prostituição e de consumo de drogas, inclusive em horários em que o cidadão de bem já está dormindo”. Citemos apenas essas para evitar que o leitor encha o saco de vômito. Entrevista disponível em: <http:// revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,EMI245890-15223,00-JAIR+BOLSON ARO+SOU+PRECON CEITUOSO+COM+MUITO+ORGULHO.html>. Acesso em: 29 ago. 2011. 26 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 245-268, jan./jun. 2012 253 Nesse caso específico, por se tratar de um deputado, reivindica-se adicionalmente a imunidade parlamentar como ampliação da liberdade de expressão. Nos anos 30 do século XX, quando já havia diversas denúncias dos horrores stalinistas, uma frase foi atribuída a Bertolt Brecht referindo-se aos acusados de dissidência política na União Soviética: “Se são inocentes, merecem mais ainda ser fuzilados”. Essa frase é extremamente ambígua.27 Numa primeira leitura ela pode indicar a postura stalinista mais ortodoxa, ou seja, se estão sendo julgados é porque não seguiram a honradez da Nomenklatura, não se empenharam devidamente ao Partido e à Revolução (o grande Outro, a Causa), portanto foram egoístas e merecem a morte. Há, todavia, outra interpretação radicalmente distinta, que aponta para o antistalinismo, qual seja, se essas pessoas que estão sendo julgadas são suspeitas é porque elas estavam em uma posição de alguma maneira privilegiada que as permitiria conspirar contra Stalin, se elas são inocentes, ou seja, se elas se furtaram a conspirar contra Stalin quando deveriam estar fazendo isso, merecem ainda mais serem fuziladas por não livrar-nos dessa hecatombe dos gulags stalinistas. Enfim, por que fazer essa reflexão neste momento? Porque dela deveríamos metaforicamente extrair um imperativo ético, isto é, aqueles que se encontram em determinadas posições privilegiadas não devem ter menos, mas o exato inverso, devem ter mais responsabilidade pela sociedade. Nesse sentido proposto, um deputado não deve ser frouxamente responsabilizado (se é que o foi) por suas opiniões em virtude da imunidade parlamentar, mas, ao contrário, ser parlamentar deve ser encarado como um fardo. E nesse caso, a repreensão não incide tão somente naquele parlamentar que age preconceituosamente: a responsabilidade também recai sobre os “inocentes”, aqueles que nada fazem para interditar os fascismos contemporâneos. Sabemos que, teoricamente, para o bom desempenho da sociedade democrática, são necessários indivíduos extraordinários (que estudam candidatos, propostas, acompanham os mandados dos eleitos, reivindicam etc.), um idealismo que faz o rei filósofo de Platão parecer bastante factível, afinal de contas, visualiza-se mais facilmente uma sociedade em que haja um sujeito iluminado do que uma em que haja uma multiplicidade de luzes.28 27 Seguiremos a interpretação desenvolvida por Žižek em: ŽIŽEK, Slavoj. Em defesa das causas perdidas. São Paulo: Boitempo, 2011. p. 105. 28 Os católicos que creem na infalibilidade do papa declaram: “Nosotros, los católicos, al menos creemos en la infalibilidad de UNA, y solo una, persona; pero la democracia, no se basa en la idea bastante más peligrosa de la infalibilidad de la mayoría de la población, es decir, la infalibilidad de millones de personas?”. ŽIŽEK, Slavoj. En defensa de la intolerancia. Madrid: Sequeter, 2008. P. 76. 254 FAE Centro Universitário Apesar das dificuldades, se desejamos uma sociedade verdadeiramente tolerante, temos que forjá-la a partir de baluartes menos idealistas e admitindo possibilidades de restrição à liberdade de expressão. Um bom passo para isso é compreender o que entendemos pelo próprio conceito de tolerância. Já sublinhamos anteriormente que o entendimento comum de tolerância é o da admissão irrestrita do que quer que seja, de qualquer conteúdo expressado: trata-se da tolerância pura (abstrata, ou não partidária) na denominação a que nos filiamos, de Herbert Marcuse. No entanto, nas palavras do autor, “a tolerância que ampliou o escopo e o conteúdo da liberdade sempre foi partidária – intolerante para com os protagonistas do status quo repressivo”.29 É dessa forma orwelliana que a tolerância deve ser compreendida, tolerar é promover os discriminados e combater os discriminadores. Isso se converte em obviedade se partimos de um caso: tolerar (no sentido de respeitar, não de suportar) os homossexuais implica reprimir os discriminadores, desde as agressões nas ruas até os discursos discriminadores, porquanto ousamos afirmar que o discurso discriminatório está esposando o castigo físico. Tomemos como exemplo do que acabamos de declarar Anders Breivik, o assassino norueguês. Ele não é um lunático que num momento de completa insanidade mental cometeu uma atrocidade impensada. Muito pelo contrário, Breivik é o produto do populismo anti-imigração europeu: ele planejou o ataque e produziu manifestos reveladores (há cerca de 1500 páginas redigidas).30 O ato homicida de Breivik é a contraface de toda uma série de encadeamentos discursivos preconceituosos – e a guinada à direita é notória atualmente na Europa; inclusive diversos partidos políticos têm defendido exatamente as mesmas ideias que o norueguês –, o que nos dá um bom indicativo disso é o fato de que Breivik se autoproclamou defensor da Europa e disse que matou por amor. A partir desse caso, retomamos Marcuse: A tolerância, contudo, não pode ser indiscriminada e igual com respeito ao teor da expressão, nem em palavra, nem em ato. Não pode proteger falsas palavras e falsos atos que contradizem e combatem as possibilidades de libertação. Justifica-se a tolerância MARCUSE, Herbert. Tolerância repressiva. In: MARCUSE, Herbert; MORRE JR., Barrington; WOLFF, Robert Paul. Op. cit., p. 91. 29 Segundo Slavoj Žižek: “Uma chave nos é dada pelas reações da direita europeia ao ataque de Breivik, cujo mantra foi que, ao condenar seu ato homicida, não deveríamos nos esquecer de que ele abordava ‘preocupações legítimas sobre problemas legítimos’ [...] (A propósito, seria interessante ouvir uma apreciação semelhante em relação aos atos terroristas palestinos, algo do tipo ‘esses atos terroristas deveriam servir como uma oportunidade para reavaliar a política israelense’.)”. ŽIŽEK, Slavoj. Com amigos como Breivik, a Europa não precisa de inimigos. Disponível em: <http://boitempoeditorial.wordpress.com/2011/08/ 22/oslo-com-amigos-como-breivik-a-europa-nao-preci sa-de-inimigos/>. Acesso em: 26 ago. 2011. 30 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 245-268, jan./jun. 2012 255 indiscriminada nos debates inócuos, na conversação, na discussão acadêmica; é indispensável na empresa científica, na religião privada. A sociedade, porém, não pode ser indiscriminatória nos casos em que estão em perigo a pacificação da existência, e a própria liberdade e felicidade: nesse caso, certas coisas não podem ser ditas, certas idéias não podem ser expressadas, certas políticas não podem ser propostas, certa conduta não pode ser permitida sem transformar a tolerância num instrumento de continuação da servidão.31 Se Breivik manifestasse suas ideias preconceituosas privadamente entre um grupo de amigos em um bar enquanto bebessem cerveja, às mesmas ideias sequer se cogitaria a repressão, mas tão somente reprovação. Entretanto, no espaço público, não podemos aceitar quietamente a possibilidade de um líder carismático, por exemplo, instigar massacres: é necessário nos precavermos do retorno do recalcado que não cessa de ameaçar. “Se a tolerância democrática tivesse sido suspensa quando os futuros líderes se lançaram em campo, a humanidade teria evitado Auschwitz e uma Guerra Mundial”.32 3 O HIATO IRREDUTÍVEL ENTRE O CONTEÚDO ENUNCIADO E O ATO DE ENUNCIAÇÃO Até agora tentamos expor motivações à restrição da liberdade de expressão quando nos deparamos com discursos explicitamente ofensivos em seu conteúdo. Neste momento pretendemos cogitar a hipótese de restrição à liberdade de expressão independentemente do conteúdo proferido, porém pelas simples motivações subjacentes à própria enunciação. Žižek nos instiga a imaginar um evento acadêmico entediante em que, ao fim da conferência, por exemplo, um dos ouvintes, quando questionado pelo palestrante quanto à qualidade do evento, enuncia-lhe: “Foi interessante”. Essa é a expressão acadêmica elegante para quem se nega a dizer: “Isso foi entediante e estúpido”. No entanto, se o ouvinte se expressasse dessa maneira deveras incisiva, o palestrante poderia contestar: “Mas se você achou entediante e estúpido, por que não diz simplesmente que foi interessante?”. Esse exemplo de feições jocosas evoca “o hiato irredutível entre o conteúdo enunciado e o ato de enunciação que é próprio da fala humana”.33 31 MARCUSE, Herbert. Ibid., p. 93. Ibid., p. 113. 32 ŽIŽEK, Slavoj. Como ler Lacan. Rio de Janeiro: Zahar, 2010. p. 28-30. 33 256 FAE Centro Universitário Para enfatizarmos a problemática, teçamos outro exemplo. Os atos terroristas de 11 de setembro inauguraram (ou, talvez, apenas evidenciaram o já existente) uma exceção política e jurídica – mesmo sem a declaração formal do estado de exceção. Não tardou para que representantes do governo dos Estados Unidos, como Dick Cheney34, viessem a público reconhecer a necessidade de políticas de segurança pública “austeras”, como a tortura. Um indivíduo conhecedor dos porões democráticos poderia alegar contra todos aqueles que condenassem os EUA: “Hipocrisia! Todos os países torturam!”. A réplica poderia ser a seguinte: “Se vocês só querem torturar secretamente alguns suspeitos de terrorismo, então por que estão dizendo isso publicamente?. Ou seja, a pergunta que se deve fazer é: O que mais está oculto nessa declaração que fez o declarante enunciá-la?”.35 Esses dois casos aparentemente evasivos foram memorados para culminar em outro caso brasileiro atual. A Casa de Oração de Ribeirão Preto encomendou outdoors com trechos de textos bíblicos impressos, de seguinte conteúdo: “Assim diz DEUS: Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável [...]” (Levítico 20:13 (RA)” – além de outras duas citações de igual cunho pseudofascista. Após ajuizamento de ação civil pública pela Defensoria Pública, a 6ª Vara Cível determinou, sob alegação de homofobia, a retirada do outdoor.36 Obviamente isso virou uma hecatombe de condenações ao juiz. O raciocínio “lógico” dos leitores questionadores mais argutos baseia-se no seguinte: se os gays podem se manifestar, por que os religiosos não poderiam? Isso consistiria em flagrante violação dos direitos de livre manifestação do pensamento (CF, art. 5º, inc. IV), da liberdade de consciência e de crença (CF, art. 5º, inc. VI) etc. Tudo isso com um acréscimo gravíssimo: a justiça dos homens querendo sobrepor-se à justiça de Deus?, as palavras da sentença de um juiz censurando O Juiz? Nesse momento, apercebemo-nos da constituição virtual do grande Outro, que não existe como matéria, nem como fenômeno, já que: ele só existe na medida em que os sujeitos agem como se ele existisse [...] ele é a substância dos indivíduos que se reconhecem nele, o fundamento de toda sua existência, o ponto de referência que fornece o horizonte supremo do significado, algo pelo qual esses indivíduos Dick Cheney, então vice-presidente dos EUA, declarou em 2005: “também temos que trabalhar [...] um pouco no lado negro [...]. Muito do que terá de ser feito aqui terá de ser feito em silêncio, sem nenhuma discussão”. ŽIŽEK, Slavoj. Em defesa das causas perdidas. São Paulo: Boitempo, 2011. p. 67. Vale a pena citar outro excerto de Slavoj Žižek contido no artigo publicado em 22 de agosto de 2011 no blog da Boitempo: “Alguns prezam tanto a dignidade humana que estão prontos para legalizar a tortura – a suprema degradação da dignidade humana – para defendê-la […]”.Disponível em: <http://boitempoeditorial. wordpress.com/2011/08/22/oslo-com-amigos-como-breivik-a-europa-nao-preci sa-de-inimigos/>. Acesso em: 26 ago. 2011. 34 ŽIŽEK, Slavoj. Em defesa das causas perdidas, p. 67. 35 Disponível em: <http://www.direitolegal.org/noticias-gerais/apos-acao-civil-publica-da-defensoria-justicaem-ribeirao-preto-determina-retirada-de-outdoor-considera do-homofobico/>. Acesso em: 25 ago. 2011. 36 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 245-268, jan./jun. 2012 257 estão prontos a dar suas vidas; no entanto, a única coisa que realmente existe são esses indivíduos e suas atividades, de modo que essa substância é real apenas na medida em que os indivíduos acreditam nela e agem de acordo com isso.37 Da mesma forma que a administração dos EUA “só” queria torturar secretamente alguns suspeitos, mas ainda assim Dick Cheney foi a público declarar as intenções; se os crentes da Casa da Oração de Ribeirão Preto só queriam professar a sua fé particular (auto de fé?), por que construíram um outdoor exatamente nas vésperas da Parada do Orgulho Gay de Ribeirão Preto? Estamos inclinados a aceitar a advertência de Žižek: “não devemos esquecer de incluir no conteúdo de um ato de comunicação o próprio ato, já que o significado de cada ato de comunicação é também afirmar reflexivamente que ele é um ato de comunicação”.38 Os religiosos alegam que há uma “ditadura gay” em curso, guiando-nos para a heterofobia – mas se defender os oprimidos é solapar o domínio dos opressores, talvez uma dose homeopática de “heterofobia” seja uma das formas de dilapidar a homofobia. Esse não é o princípio da vacina? Inocular o vírus no corpo para que ele se reabilite imunizado? ŽIŽEK, Slavoj. Como ler Lacan, p. 18. 37 Ibid., p. 31. 38 258 FAE Centro Universitário Os textos destacados no outdoor eram apenas textos bíblicos? Tencionamos argumentar em contrário, porquanto além do conteúdo do texto, devemos levar em consideração o próprio ato de comunicação do texto.39 Em seu livro Novas Famílias: conjugalidade homossexual no Brasil contemporâneo, p. 174 e ss., Luiz Mello aponta um exemplo grotesco do discurso “oficial” da Igreja católica, cujo pastiche hoje impregna boa parte do discurso evangélico também. Trata-se do texto Algumas reflexões acerca da resposta a propostas legislativas sobre a não-discriminação das pessoas homossexuais, de 1992, cuja redação deve-se, entre outras pessoas, ao então cardeal Ratzinger, hoje sumo pontífice. A ideia dessas reflexões era instruir atores políticos engajados em frear o avanço das políticas afirmativas em prol da diversidade sexual. Por brevidade, colacionamos apenas os trechos mais apetitosos. A íntegra pode ser encontrada em <http:// www.vatican.va/roman_curia/congregations /cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19920724_homosexualpersons_po.html>: “[...] 12. As pessoas homossexuais, como seres humanos, têm os mesmos direitos de todas as pessoas, inclusivamente o direito de não serem tratadas de maneira que ofenda a sua dignidade pessoal (cf. Ibid., 10). Entre outros direitos, todas as pessoas têm o direito de trabalhar, de ter uma habitação, etc. Todavia, estes direitos não são absolutos. Podem ser legitimamente limitados por motivos de conduta externa desordenada. Isto, às vezes, é não só lícito, mas obrigatório. Além disso, não se trata apenas de casos de comportamento culpável, mas até mesmo de casos de acções de pessoas física ou mentalmente doentes. Assim, aceita-se que o Estado limite o exercício dos direitos, por exemplo, no caso de pessoas contagiadas ou mentalmente deficientes, para proteger o bem comum. 39 13. Incluir a ‘tendência homossexual’ entre as reflexões, na base das quais é ilegal discriminar, pode facilmente levar a afirmar que a homossexualidade é uma fonte positiva de direitos humanos, por exemplo, no que se refere aos chamados direitos de acção afirmativa ou ao tratamento preferencial no que se refere à admissão ao trabalho. Isto é ainda mais deletério se considerarmos que não existe um direito à homossexualidade (cf. Ibid., 10), o que não deveria, portanto, constituir a base para reivindicações jurídicas. A passagem do reconhecimento da homossexualidade como factor, na base do qual é ilegal discriminar, pode facilmente levar, se não de modo automático, à protecção legislativa e à promoção da homossexualidade. A homossexualidade de uma pessoa seria invocada em oposição a uma discriminação declarada e, assim, o exercício dos direitos seria defendido exactamente mediante a afirmação da condição homossexual, em vez de em termos de uma violação dos direitos humanos básicos. 14. A ‘tendência homossexual’ de uma pessoa não pode ser comparada com a raça, o sexo, a idade, etc., também por outro motivo, além do supracitado, que merece atenção. A tendência sexual de uma pessoa individualmente não é, de modo geral, conhecida pelos outros, a não ser que ela se identifique em público como alguém que tem esta tendência ou com a manifestação de comportamento exterior. Geralmente, a maioria das pessoas com tendências homossexuais, que procuram viver uma vida casta, não tornam pública a sua tendência sexual. Por conseguinte, o problema da discriminação, em termos de trabalho, de habitação, etc., normalmente não se apresenta. As pessoas homossexuais que manifestam a própria homossexualidade tendem a considerar o comportamento ou o estilo de vida homossexual ‘indiferente ou até mesmo bom’ (cf. n. 3) e, portanto, digno de aprovação pública. Muito provavelmente, é no âmbito destas pessoas que se encontram aqueles que tentam ‘manipular a Igreja, conquistando-se o apoio dos Pastores, frequentemente em boa fé, no esforço que visa mudar as normas da legislação civil’ (cf. n. 9), aqueles que usam a táctica de afirmar, em tom de protesto, ‘que qualquer crítica ou reserva às pessoas homossexuais... é simplesmente uma forma de injusta discriminação’ (cf. n. 9). Além disso, existe o perigo de a legislação, que faz da homossexualidade uma base para certos direitos, encorajar deveras uma pessoa tendencialmente homossexual a declarar a sua homossexualidade ou até mesmo a procurar um parceiro, aproveitando-se assim das disposições da lei. [...] 16. Por fim, quando a questão do bem comum entra em jogo, não é conveniente que as Autoridades eclesiásticas apoiem, nem que permaneçam neutrais perante legislações adversas, mesmo que elas admitam excepções às Organizações e Instituições da Igreja. A Igreja tem a responsabilidade de promover a vida familiar e a moralidade pública da sociedade civil inteira, com base nos valores morais fundamentais, e não unicamente de se defender a si mesma das aplicações de leis nocivas (cf. Ibid., n. 17)”. Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 245-268, jan./jun. 2012 259 Poderíamos questionar, mantendo-nos na teologia, o porquê desses excertos serem selecionados e não outros que poderiam demonstrar mais “respeito ao próximo”. Se os religiosos almejam tão somente o direito à liberdade de pensamento e de religião, por que se manifestam tão agressivamente, esmagando os homossexuais? A questão pode ser repensada em termos semelhantes aos da discussão entre os acadêmicos. Se o ouvinte descontente em vez de dizer “Foi interessante”, disser “Isso foi entediante e estúpido”, o palestrante teria plena razão ao perceber o hiato entre o conteúdo enunciado e o ato de enunciação, constatando que a afirmação tão direta e hostil é mais do que uma crítica à palestra proferida, mas uma crítica à própria pessoa, a ele (palestrante). Analogamente, os trechos bíblicos cuidadosamente selecionados pela Casa da Oração de Ribeirão Preto são mais que a profissão de fé, mas um ataque pessoal aos homossexuais, uma condenação, intolerância. Há que se observar que nunca um ato público de comunicação é neutro: é partidário no conteúdo – o que é óbvio no presente caso –, e também é parcial quanto à simples existência. 4 SOBRE A VIOLÊNCIA Um dos problemas conceituais com que nos deparamos ao longo de nossos trabalhos é a própria conceituação da violência. Ora, uma vez que a mera intervenção física ou psíquica sobre o outro possui gradações diferentes segundo a própria percepção do sujeito em questão (o mesmo se aplica aos limites entre dor e prazer, grosso modo), necessário se faz compreender de que violência se fala. Digna de nota, portanto, é a visão segundo a qual a violência não possuiria uma ontologia apriorística per se, mas seria antes uma determinada intensidade comunicativa capaz de fazer-se ver (ou melhor, sentir). E isso porque o discurso violento, uma vez albergado, recepcionado por suas estruturas balizantes e, em último caso, constitutivas, acaba por pacificar-se, ou melhor, invisibilizar-se ante a ordem. 260 FAE Centro Universitário Ora, se a violência deve ser sentida para que possa seu falante reivindicar o seu fim, elucidativas são as palavras de Žižek quando afirma: a obediência “externa” à Lei, portanto, não é a submissão à pressão externa, à chamada “força bruta” não ideológica, mas sim obediência ao Mandamento na medida em que ele é “incompreensível”, não compreendido, na medida em que conserva um caráter “traumático” irracional: longe de esconder sua autoridade plena, esse caráter traumático e não integrado da Lei é uma condição positiva dela.40 É apenas dessa forma que se constrói no imaginário coletivo uma noção profana de violência como algo desvinculado da aceitação da lei: violência como algo ameaçador e externo, violência como algo (somente e tão somente) visível. Porém, as mais vis formas de negação e destruição do sujeito passam despercebidas, ante a totalização do discurso opressor (quando parado) e repressor (quando provocado), enquanto as mais ínfimas formas de subversão se tornam insuportáveis aos olhos e ouvidos comuns.41 A manifestação da intolerância pela violência normalizante não se dá, porém, apenas num plano simbólico ou discursivo. Mesmo as manifestações físicas de violência, quando atreladas a contextos naturalizados como sadios ao “corpo social”, acabam por acarretar absoluta aceitação. A diferença entre o sequestro de alguma celebridade por alguns dias e a manutenção de determinado indivíduo (ou melhor, de um “bandido”, “traficante” ou, simplesmente, “vagabundo”) em regime de detenção diferenciado (vulgarmente conhecido como “solitária”) é não a violência em si, mas a estrutura que dá suporte a ela, que a justifica, no sentido de torná-la justa. Tal questão manifesta-se também no Direito, em que a conformidade a determinados padrões, absorvidos e criados pela própria lei, define arbitrariamente (mas de maneira E prossegue o autor, afirmando que “para que a Lei funcione ‘normalmente’, esse fato traumático de que ‘o costume é a eqüidade inteira’, pela simples razão de ser aceito [...] deve ser recalcado no inconsciente, através da experiência ideológica imaginária do ‘sentido’ da Lei, de sua fundamentação na Justiça, na Verdade (ou, num estilo mais moderno, na funcionalidade). [...] O que se ‘recalca’, portanto, não é uma origem obscura da Lei, mas o próprio fato de que a Lei não tem que ser aceita como verdadeira, mas apenas como necessária – o fato de que sua autoridade é desprovida de verdade” (Grifo nosso). ŽIŽEK, Slavoj. Um mapa da ideologia, p. 318. 40 A título de exemplo: “A Sui Generis nº 44 (ano V) teve sua circulação ameaçada, por decisão da Distribuidora Fernando Chinaglia, sob o argumento de que a sociedade brasileira não estaria preparada para ver uma capa de revista mostrando dois homens se beijando. Para superar o impasse, a revista foi distribuída dentro de um saco plástico lacrado e com uma tarja preta, o que impedia por completo a visão do beijo que originou a ameaça de censura”. MELLO, Luiz. Novas famílias: conjugalidade homossexual no Brasil contemporâneo, p. 166. Vale lembrar que tal acontecimento se deu nos anos 90, época em que as revistas Playboy e Hustler já possuíam ampla circulação, com fotos de mulheres nuas e tudo aquilo que conhecemos, mas não comentamos na Academia. 41 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 245-268, jan./jun. 2012 261 criteriosa) que contextos ensejarão manifestações puníveis ou não, ou melhor, recobrem com seu manto de legitimidade determinados contextos nos quais a plena destruição do outro poderá ser realizada sem que as pessoas sequer se deem conta. A definição legal de família, a defesa da monogamia, a criminalização de “atos obscenos” – duvidamos muito que uma criança pedindo dinheiro na rua para poder comer seja mais obscena do que a imagem de um falo –, a condenação da introdução “precoce” à pornografia – sem, contudo, vedar às escolas que exponham tão somente uma concepção biologicista, heterocentrada e monogâmica dos relacionamentos sexuais (e, por consequência, amorosos) humanos – são apenas exemplos de mecanismos que, longe de “definir” positivamente uma conduta ou um instituto, seja para constituí-los ou proibi-los, criam, em realidade, um padrão, ou melhor, reforçam um padrão de ingerência sobre os corpos, de ortopedia moral sobre os sujeitos, que se refletirá no discurso heteronormativo pelo qual o sujeito caminhará como que vendado, ouvindo sem compreender, apreendendo sem apreender e, ao final, não tendo sequer condições de discernir quando está diante da mais pura forma de negação do outro ou quando está diante da violência. É por isso que não sentimos o que nos molesta, uma vez que, ao lado da óbvia violência de neofascistas (lato sensu) que espancam travestis e homossexuais por pura homofobia, carecem os sujeitos dessa opressão do instrumental necessário ao reconhecimento dessas formas de agressão. E não só isso, os próprios aparelhos ideológicos, as instituições totais, enfim, as expressões máximas do Outro, tratam de subtrair aos indivíduos a mera possibilidade de compreensão dessa violência, utilizando-se da violência simbólica como sustentáculo do seu ápice físico: A violência simbólica se institui por intermédio da adesão que o dominado não pode deixar de conceder ao dominante (e, portanto, à dominação) quando ele não dispõe, para pensa-la e para se pensar, ou melhor, para pensar sua relação com ele, mais que de instrumentos de conhecimento que ambos têm em comum e que, não sendo mais que a forma incorporada da relação de dominação, fazem esta relação ser vista como natural (p. 47). [...]. Se é totalmente ilusório crer que a violência simbólica pode ser vencida apenas com as armas da consciência e da vontade, é porque os efeitos e as condições de sua eficácia estão duradouramente inscritas no mais íntimo dos corpos sob a forma de predisposições (aptidões, inclinações) [...]. (p. 51). Assim, só se pode chegar a uma ruptura da relação de cumplicidade que as vítimas da dominação simbólica têm com os dominantes com uma transformação radical das condições sociais de produção das tendências que levam os dominados a adotar, sobre os dominantes e sobre si mesmos, o próprio ponto de vista dos dominantes (p. 54).42 BOURDIEU, Pierre. A dominação masculina. Rio de Janeiro: Betrand Brasil, 2007. P. 47-54. 42 262 FAE Centro Universitário Daí que manifestações da mais cruenta discriminação são encaradas como “brincadeiras”, como mera “opinião” quando, diante do pouco que pudemos observar nestas páginas, revelam a distância entre o enunciado destrutivo e o ato de enunciação jocoso: a mensagem opressora e homicida vista como desdobramento da “liberdade de expressão”. CONCLUSÃO De todo exposto, o que se depreende imediatamente é que o Direito, mesmo quando simplesmente descreve a realidade, acaba por conformá-la,43 e que a violência, nesse processo, não é a exceção, mas a regra que estrutura todo um sistema de exceções, que possibilitam seu suporte místico sob uma ilusão de legitimidade. Romper com essa lógica é imperativo para que se possa pensar e agir, seriamente, em defesa dos sujeitos, de sua expressão, de sua sexualidade: de sua liberdade. Em tudo que expusemos passamos por vários modelos de violência e violentação. Podemos sintetizá-los no triunvirato constituído de uma violência subjetiva e duas violências objetivas: a simbólica e a sistêmica. A violência subjetiva é aquela mais evidente, a irrupção de um ato abrupto e “irracional” em toda a intensidade, culminando em morte, em agressão, em trauma – o exemplo hodierno mais em voga é o “homem-bomba”, podemos pensar no skinhead que agride um homossexual etc. Esforçamo-nos neste texto para demonstrar que aquele ato que emerge como irracional está emaranhado num complexo de sustentações nos outros dois tipos de violência. Na violência sistêmica “muito mais inquietante do que qualquer forma directa de violência social e ideológica pré-capitalista: esta violência já não pode ser atribuída a indivíduos concretos e as suas ‘más’ intenções, mas é puramente ‘objetiva’, sistémica, anónima”.44 É a violência do funcionamento normal dos sistemas político e econômico. Sustenta-se ainda na violência da simbolização da linguagem, pois “a linguagem simplifica a coisa designada, reduzindo-a a um simples traço”.45 Nas palavras de Judith Butler: “a construção política do sujeito procede vinculada a certos objetivos de legitimação e de exclusão, e essas operações políticas são efetivamente ocultas e naturalizadas por uma análise política que toma as estruturas jurídicas como seu fundamento. O poder jurídico ‘produz’ inevitavelmente o que alega meramente representar; consequentemente, a política tem de se preocupar com essa função dual do poder: jurídica e produtiva. Com efeito, a lei produz e depois oculta a noção de ‘sujeito perante a lei’, de modo a invocar essa formação discursiva como premissa básica natural que legitima, subsequentemente, a própria hegemonia reguladora da lei”. BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010. p. 19. 43 44 ŽIŽEK, Slavoj. Violência, p. 20. Ibid., p. 60. 45 Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 245-268, jan./jun. 2012 263 Destarte, todo horror que os “homens bons” sentem ao ler o poema de Brecht (logo abaixo) é o horror da violência subjetiva, que, em grande parte, não passa de um sintoma das violências simbólica e sistêmica. Enquanto os homens bons, por culpa ou caridade, fazem doações milionárias para beneficência e defendem princípios abstratos – e tão somente como abstração –, tais como democracia e liberdade, existe uma constelação de opressões invisíveis a esses olhos, aquelas imanentes à normalidade social. Citemos, enfim, Brecht: Perguntas a um homem bom46 Avança: ouvimos dizer que és um homem bom. Não te deixas comprar, mas o raio que incendeia a casa, também não pode ser comprado. Manténs a tua palavra. Mas que palavra disseste? És honesto, dás a tua opinião. Mas que opinião? És corajoso. Mas contra quem? És sábio. Mas para quem? Não tens em conta os teus interesses pessoais. Que interesses consideras, então? És um bom amigo. Mas serás também um bom amigo da gente boa? Agora, escuta: sabemos que és nosso inimigo. Por isso vamos encostar-te ao paredão. Mas tendo em conta os teus méritos e boas qualidades vamos encostar-te a um bom paredão e matar-te com uma boa bala de uma boa espingarda e enterrar-te com uma boa pá na boa terra. Poema extraído de ŽIŽEK, Slavoj. Violência, p. 41. 46 264 FAE Centro Universitário Se admitimos que o discurso, que a sua forma tida como livre e democrática, já traz um conteúdo de manutenção do status quo, não se pode deixar de considerar que a superação desse estado de injustiça, ou pelo menos sua condição primeira de combate, reside justamente na quebra de sua lógica, na imposição do silêncio àqueles que, por seu intermédio, negam plena existência a outros. O discurso do individualismo, do machismo, do racismo, da homofobia nada tem a contribuir para com o ser humano. Bem pelo contrário, sua própria possibilidade de manifestação – seja no âmbito privado, por meio de piadas e comentários travestidos de “minha opinião”; seja no espaço público, sob a forma escancarada de declarações esdrúxulas, ou mesmo sob formas pretensamente neutras de regulamentação legal – perpetua uma lógica exclusiva, uma lógica de perpétua destruição do diferente, do profano. A diferença fundamental entre calar tais vozes e calar a voz do sujeito degradado reside, fundamentalmente, na negação da negação. Ora, ao afirmar a não naturalidade da homossexualidade, ao colocar o modo de produção capitalista como única forma viável de sobrevivência da humanidade, nada mais se está a fazer do que negar existência a determinados sujeitos, negar sua própria possibilidade de perpetuação física, de vivência afetiva, por meio do veto ao seu discurso, ou melhor, à sua forma discursiva e sua introdução plena no espaço dialógico. Negar essa negação é resgatar a possibilidade de vida desses indivíduos, permitir que o ser humano possa viver em sua plenitude, sem apropriação por alguns dos meios de produção de todos, da força de trabalho da maioria, sem conformação da sexualidade e do afeto às regras heterocentradas, definidas de forma histórica e contingente. Neste passo, e já concluindo este breve trabalho, a tarefa da crítica torna-se, cada vez mais, discordar de tudo aquilo que dizem as vozes opressivas e lutar até a morte para que esses indivíduos não tenham o direito de dizê-lo. Afinal de contas, de que serve a bondade? Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 245-268, jan./jun. 2012 265 De que Serve a Bondade47 De que serve a bondade Quando os bondosos são logo abatidos, ou são abatidos Aqueles para quem foram bondosos? De que serve a liberdade Quando os livres têm que viver entre os não-livres? De que serve a razão Quando só a sem-razão arranja a comida de que cada um precisa? Em vez de serdes só bondosos, esforçai-vos Por criar uma situação que torne possível a bondade, e melhor; A faça supérflua! Em vez de serdes só livres, esforçai-vos Por criar uma situação que a todos liberte E também o amor da liberdade Faça supérfluo! Em vez de serdes só razoáveis, esforçai-vos Por criar uma situação que faça da sem-razão dos indivíduos Um mau negócio! 47 266 Poema extraído de: BRECHT, Bertolt. Poemas, 1913-1956. São Paulo: Editora 34, 2000. (Grifo nosso). FAE Centro Universitário REFERÊNCIAS ALGUMAS reflexões acerca da resposta a propostas legislativas sobre a não-discriminação das pessoas homossexuais. L’Osservatore Romano, edição semanal, n. 32, p. 6 (418), 9 ago. 1992. Disponível em: <http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con _cfaith_doc_19920724_homosexual-persons_po.html>. AROUET, François-Marie. A princesa da Babilônia. São Paulo: Landy, 2006. AVRITZER, Leonardo. A moralidade da democracia: ensaios em teoria habermasiana e teoria democrática. Belo Horizonte: UFMG, 1996. BOURDIEU, Pierre. A dominação masculina. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007. BRECHT, Bertolt. Poemas: 1913-1956. São Paulo: Editora 34, 2000. BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010. FARIAS, Edilsom. Liberdade de expressão e comunicação: teoria e proteção constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. HABERMAS, Jürgen. Notas programáticas para a fundamentação de uma ética do discurso. In: ______. Consciência moral e agir comunicativo. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1989. p. 143-233. KEHL, Maria Rita. Tortura e sintoma social. In: TELES, Edson; SAFATLE, Vladimir (Org.). O que resta da ditadura: a exceção brasileira. São Paulo: Boitempo, 2010. p. 123-132. LIMA, Venício A. de. Liberdade de expressão X Liberdade de imprensa: direito à comunicação e democracia. São Paulo: Publisher Brasil, 2010. MACHADO, Jónatas E. M. Liberdade de expressão: dimensões constitucionais da esfera pública no sistema social. Coimbra: Coimbra, 2002. MARCUSE, Herbert; MOORE JR., Barrington; WOLFF, Robert Paul. Crítica da tolerância pura. Rio de Janeiro: Zahar, 1970. MELLO, Luiz. Novas famílias: conjugalidade homossexual no Brasil contemporâneo. Rio de Janeiro: Garamond, 2005. VOLTAIRE. Tratado sobre a tolerância. São Paulo: Martins Fontes, 2000. ŽIŽEK, Slavoj. Com amigos como Breivik, a Europa não precisa de inimigos. Blog da Boitempo. 22 ago. 2011. Disponível em: <http://boitempoeditorial.wordpress.com/2011/08/22/oslo-comamigos-como-breivik-a-europa-nao-precisa-de-inimigos/>. Acesso em: 26 ago. 2011. _____. Como ler Lacan. Rio de Janeiro: Zahar, 2010. Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 245-268, jan./jun. 2012 267 ŽIŽEK, Slavoj. Em defesa das causas perdidas. São Paulo: Boitempo, 2011. _____. En defensa de la intolerancia. Madrid: Sequitur, 2008. _____. (Org.). Um mapa da ideologia. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996. _____. Política anti-imigração: barbarismo com aparência humana. Blog da Boitempo. 01 ago. 2011. Disponível em: http://boitempoeditorial.wordpress.com/2011/08/01/politica-antiimigracao-barbarismo-com-aparencia-humana/>. Acesso em: 08 ago. 2011. _____. Robespierre: virtude e terror. Rio de Janeiro: Zahar, 2008. _____. Violência: seis notas à margem. Lisboa: Relógio d’Água, 2009. 268 FAE Centro Universitário RESENHA DOS CLÁSSICOS SOBRE LA NECESSIDAD DE UMA LESIÓN DE DERECHOS PARA EL CONCEPTO DE DELITO (Johann Michael Franz Birnbaum) Michelangelo Corsetti* Johann Michael Franz Birnbaum (1792-1877) publicou a obra Sobre a necessidade de uma lesão de direitos para o conceito de delito, em 1834, objetivando criticar a compreensão feuerbachiana de delito como lesão de direitos subjetivos, com a definição filosófica subjacente da infração criminal. Essa maneira de ver, sumamente arraigada na doutrina do período clássico, teve defensores antes de Paul Johann Anselm Feuerbach (1775-1833) e manteve adeptos durante todo o século XIX, pelo menos em obediência a inteligências distintas da origem metafísica do ius puniendi. Birnbaum inicia a obra explicando que o conceito natural de lesão parece ser aquele que se refere a uma pessoa ou a uma coisa – em especial uma coisa que concebemos como nossa – ou a algo que, para nós, é um bem cuja ação de outra pessoa pode subtrair ou diminuir. Nesse sentido, destaca o que os romanos já falavam sobre laesio alterius e laesio rebus illata em relação aos princípios jurídicos gerais de neminen laedere e suum cuique tribuere, ao passo que nas leis penais mais recentes se fala em lesão corporal, dominical ou da honra, de que alguém é lesionado em sua vida. Ao fixar o conceito de delito, Birnbaum destaca o fato de levar-se em conta o traço da lesão de direitos, antes da exigência da violação de uma lei penal, juntamente com a vontade de violar a lei como requisito geral da imputação e, por sua vez, com a fórmula evocada por Filangieri, da dupla maneira com que a vontade de violá-la poderia associar-se à infração de uma lei penal, podendo ocorrer de maneira direta ou indireta, definindo-se depois, uma infração dolosa ou culposa da lei. Para o autor, não poderia existir outra definição de delito que a concebesse como violação da lei penal, sendo que a palavra violação pretende expressar um duplo conceito: primeiro, que se obra contra a lei, ou seja, que tal ação pode ser imputada a alguém. Contudo, a esse respeito também poderia resultar mais apropriada a expressão infração da lei penal. Além disso, levando-se em conta a natureza das coisas, e o conceito jurídico do delito dado pelo Direito positivo, deve existir um conceito natural de delito. Para Birnbaum, quando se fala em conceito jurídico natural de delito, deve-se compreender aquele que, segundo a natureza do Direito Penal, razoavelmente pode ser considerado como punível na sociedade civil, na medida em que é abarcado por conceito comum. A esse respeito, é sabido que na Alemanha a propriedade de uma lesão de direitos foi considerada, há muito, como essencial tanto para a ampla maioria dos jurisconsultos como para a maior parte dos legisladores, apesar de, em alguns momentos, ter-se expressado certa discordância com essa maneira de ver. Especial influência teve a definição de Feuerbach, de acordo com a qual denominou delito a lesão jurídica ou injúria contida em uma lei penal, ou uma ação contrária ao direito ameaçada com pena. Birnbaum chama a atenção para uma observação feita por Rossi, segundo o qual, durante muito tempo discutiu-se se o delito não deveria ser definido como lesão de direitos. Para Rossi, o Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 269-272, jan./jun. 2012 269 problema giraria em torno de uma disputa de palavras. Se existisse um dever exigível para o ofensor, deveria corresponder a um direito positivo existente em alguma parte do mundo. Nesse âmbito, os deveres acerca de Deus ou que dizem respeito a nós mesmos não seriam de competência da justiça humana, mas as duas definições poderiam ser tomadas, indiferentemente, uma pela outra. A tarefa principal de Birnbaum, portanto, residiu em investigar não apenas se, segundo a natureza das coisas, somente as lesões de direitos podem ser castigadas como delitos, mas também examinar o problema a partir de um ponto de vista distinto, que corresponde mais à aplicação do Direito que ao trabalho de legislar. A partir desse enfoque, sua primeira pergunta é se convém a um sistema de Direito Penal positivo, particularmente ao Direito Penal comum alemão, propor uma definição segundo a qual se qualifica como delito uma lesão de direitos compreendida por uma lei penal, sem distinguir ulteriormente entre os conceitos de direito natural e direito positivo. Birnbaum destaca que muitos autores portugueses definiam delito como uma ação não permitida procedente do livre-arbítrio, mediante o qual resultava lesionada a ordem civil, seja em prejuízo do público, seja em prejuízo dos particulares. Com efeito, poder-se-ia definir o delito em geral como uma lesão ou vulneração de direitos contida em uma lei penal. Da mesma forma, também Feuerbach teria subsumido em seu conceito de delito comum tanto aquele que ele denominou delito em sentido estrito como o que qualifica como delito menor ou contravenção de polícia, incluindo entre o último grupo as ações imorais. Para Birnbaum, existiam ações puníveis – que cabia qualificar inclusive a partir do fundamento de seu castigo –, de perigo individual, como quando alguém, com atos descuidados, colocava em risco algum bem de um homem em particular, em termos que somente por acaso se evitou sua lesão, a qual, se houvesse ocorrido, teria sido imputada ao agente a título de culpa, como um delito maior. Se o perigo é um estado em que se deve recear a perda de algo ou privação de um bem, então resulta sumamente inapropriado falar de uma lesão de direitos. Que se perca algo ou se prive de alguma coisa que seja objeto de direito, que se subtraia ou se diminua um bem que compete juridicamente a alguém, isso, sem dúvida, não diminuiria nem suprimiria tal direito. É verdade que, se alguém for privado de sua vida, já não se pode falar, segundo a natureza das coisas, de exercício próprio de direito, assim como, se alguém tivesse destruída uma determinada coisa corporal, tampouco seria factível ter por existência o direito sobre tal coisa em particular, mas somente admitir que competiria ao proprietário o direito de obter o valor equivalente. Birnbaum afirma que não pretendia, em absoluto, sustentar que tal definição de delito fosse perfeita e sem erros, mas sim que ela sublinhava com acerto aquilo que, na sua opinião, era o essencial na determinação de sua natureza e indicava que, querendo-se considerar o delito como lesão, este conceito deveria referir-se naturalmente à lesão de um bem, não à de um direito. O autor destaca que pode ficar sem resposta, assim mesmo, até que ponto se pode distinguir, no Estado, direitos do Estado como pessoa moral e direitos do cidadão e, por fim, dar por satisfatória uma classificação em delitos contra o Estado e delitos contra particulares. Mas não há dúvida de que entre aquelas ações que em todos os Estados se costumam castigar como delitos, algumas são tais que mediante elas se lesionam, antes de tudo, pessoas determinadas em um dos bens que o Poder Público deve garantir a cada um e outras são tais que a ação priva, diminui ou coloca em perigo diretamente a coletividade em um desses bens. Dessa maneira, isto é, segundo os diversos alcances da lesão ou de perigo em sua referência ao sujeito imediatamente 270 FAE Centro Universitário lesionado ou ameaçado, o que vem a ser o mesmo, segundo a índole do bem que a ação diminui ou coloca em risco de preferência, é factível, além disso, distinguir naturalmente delitos contra o bem-estar comum e delitos contra os indivíduos, como também traçar a diferença entre tentativa e consumação de uma forma mais natural, que com base no incerto conceito da lesão de direitos no sentido se costuma fazer. De acordo com esse pensamento, segundo Birnbaum, seria factível precisar, com pleno acerto, o critério segundo o qual se deve criminalizar as ações imorais ou contrárias à religião, de forma que elas poderiam ser puníveis em geral. Ainda, segundo o autor, como quer que pense um povo sobre o valor das religiões estabelecidas e por múltiplo que seja o número delas em um Estado, caberá sempre considerar um conjunto de ideias religiosas e morais como um bem coletivo do povo que deve ser colocado entre as garantias gerais, bem cuja conservação guarda um vínculo tão estreito com a preservação da Constituição, que certas classes de ações imorais e irreligiosas, ainda que independentemente de uma proibição, precisam ser sancionadas sob a ameaça de uma pena, devendo ser consideradas em si mesmas como antijurídicas pelos homens que vivem em um Estado. O autor afirma que é preciso considerar como delito ou ação punível no Estado, segundo a natureza das coisas ou conforme a razão, toda lesão ou colocação em perigo imputável à vontade humana de um bem que o Poder Público deve garantir igualmente a cada um, sempre que não conseguir uma garantia geral, mas somente com a cominação de uma pena determinada e a execução da ameaça legal contra qualquer infrator. Diante disso, Birnbaum entende que poderia concordar com aqueles que erigem uma lesão de direitos, conforme o sentido habitual, assim como com os que elegem a periculosidade comum como essência do delito ou requisito que permitiria reconhecer a punibilidade de uma ação. Ocorre que, se tanto um como outro requisito, em certo sentido, estão contidos em tudo que se pune na realidade, ambas as expressões conduzem facilmente a certa unilateralidade na compreensão e dão ocasião a mal-entendidos que somente podem resultar prejudiciais para a legislação e a aplicação do Direito. Em especial, a admissão da periculosidade comum como o essencial em todo o delito poderia levar com facilidade a sustentar, por exemplo, que o dever do Poder Público de apenar um assassinato residiria menos na obrigação mesma de proteger enquanto tal a vida dos homens individualmente que em preservar o Estado como um todo. Ao lado disso poderia triunfar a consideração que pretenderia que os homens existem somente para a perpetuação do Estado, em vez de assumir o último necessariamente os interesses dos primeiros e a causa deles. No que se refere ao conceito de lesão de direitos, o autor pretendeu colocar em relevo, uma vez mais, os desacertos a que pode conduzir o emprego de semelhante expressão e o nulo valor que ele tem. Que se fale em lesões da vida, das forças humanas, da honra, da liberdade pessoal, do patrimônio, é natural e conforme as representações também naturais, uma vez que todos os bens mencionados estariam expostos a uma perda ou diminuição em razão da ação de terceiros, assim como cabe considerá-los como objetos de nossos direitos. Ainda, destaca o autor, que o inconveniente e desvantajoso do emprego do conceito de lesão de direitos como designação dos delitos em particular se manifesta de maneira mais evidente em relação às injúrias. A palavra honra abarca três significados que, a seu juízo, deverse-ia distinguir com esmero e cuja diferença seria evidente a quem se tome a moléstia de indagar Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 269-272, jan./jun. 2012 271 bem o verdadeiro sentido das seguintes expressões, que ocorrem frequentemente na vida diária. A saber, com frequência se fala da honra que atribuída a alguém pelos demais; em seguida dizemos que outros nos ofendem a honra com os delitos e, finalmente, que honra de um delinquente é diminuída em razão da aplicação de uma pena. Para Birnbaum, não pode haver dúvida de que a honra forma parte dos bens cuja necessária proteção constitui a essência da legislação penal. Sob esse ponto de vista reside o conceito de honra na população, e os mais destacados criminalistas e teóricos do Direito natural jamais tiveram a intenção de afastar-se dele. Entre os antigos jusnaturalistas, Heirinci, em particular, concebeu a honra como um bem que reside primitivamente não no organismo sensível do homem, mas sim na opinião alheia acerca da diversidade de seu ser racional. Entre os mais atuais à época, segundo Birnbaum, Zachariä, acompanhando Feuerbach, considerava a honra como o reconhecimento exterior do valor moral de um homem, e em algum sentido caberia apresentar também esse conceito dizendo que o não reconhecimento exterior do valor de um homem é o meio pelo qual se cometem as ofensas à honra. Sem embargo, se se quer encontrar uma base para o conceito de lesão da honra e contemplá-lo como algo, unido a uma pessoa, que possa ser objeto de um ataque que o destrua ou o diminua, é evidente que não se pode definir a honra como um reconhecimento exterior. Agora, não obstante a observação mencionada, Zachariä considera também a honra como um bem ideal, ao qual associa a proposição de que palavras e atos são ofensas somente devido à intenção do ofensor. O sentimento de honra tem a mesma raiz que o sentimento de Direito, e toda injustiça que sucede ao homem é para ele, no fundo, uma lesão da honra. Birnbaum destaca que quando a Constitutio Criminalis Carolina, no delito de violação, falava em arrebatar a honra virginal e feminina, o legislador não teria pensado em absoluto, com o uso de tais palavras, na ideia de destruir ou vulnerar uma coisa corporal, mas sim no roubo ou na destruição de um sentimento moral, resultante de um delito nascido do mais contundente desrespeito da dignidade moral associado ao maltrato do corpo, e estabelece a pena dele para proteger esse sentimento como bem eminente das mulheres e jovens dignas. Na mesma linha de pensamento, Birnbaum lembra a frase de Cícero, segundo a qual aquele que deve ser compensado por condução da actio injuriam recebe o nome de dolor imminutae libertatis, manifesta uma certa afinidade com certas posições antes expostas e, em particular, indica o sentimento de dor por um bem lesionado, subtraído ou diminuído como o resultado natural da injúria irrogada. Nessa obra, Birnbaum marcou a história da dogmática jurídico-penal na medida em que pretendeu corporificar o objeto de tutela do Direito Penal, permitindo uma melhor identificação das respectivas lesões sofridas em decorrência de uma ação delitiva. Para o autor, o Direito não poderia ser suprido por uma ação considerada delituosa. Tais ações somente poderiam lesionar bens, e, portanto, deveriam ser objetos de proteção mediante a imposição de uma tutela penal. Johann Michael Franz Birnbaum deu início a uma nova compreensão de crime, tanto de seu objeto e respectiva lesão como do conteúdo material da ilicitude fundada no conceito de bem jurídico. Curiosamente, em sua obra, jamais utilizou a expressão “bem jurídico” – apesar de ser a ele atribuída a paternidade do termo –, termo este que tomou força somente anos mais tarde com Karl Lorenz Binding (1841-1920). Entretanto, sobre tal tema trataremos em momento oportuno. 272 FAE Centro Universitário Orientações aos colaboradores da Revista Justiça e Sistema Criminal Histórico e missão A Revista Justiça e Sistema Criminal é um espaço para divulgação da produção científica e acadêmica de temas relativos ao sistema criminal, compreendendo aspectos relacionados tanto ao Direito e ao Processo Penal quanto à Criminologia, à Política Criminal, à Sociologia Jurídico-Penal e à Filosofia do Direito Penal, que visa principalmente difundir modernas tendências das áreas referidas, em sentido crítico e evolutivo. Os temas principais estão vinculados ao desenvolvimento dos trabalhos do Grupo de Estudos Modernas Tendências do Sistema Criminal, que reúne pesquisadores de diversas universidades e acadêmicos de graduação e pós-graduação da FAE Centro Universitário. Entre nossos leitores, encontram-se professores, alunos de graduação e pós-graduação, profissionais da área jurídica e consultores de empresas públicas e privadas. Objetivo O objetivo da Revista Justiça e Sistema Criminal é promover a publicação de temas relacionados ao Direito e ao Processo Penal quanto à Criminologia, à Política Criminal, à Sociologia Jurídico-Penal e à Filosofia do Direito Penal. Pretende-se contribuir para o desenvolvimento teórico do modelo de controle social criminal a partir da difusão de ideias modernas e críticas que ajudem na construção de um perfil humanista do sistema criminal. Assim, será dada prioridade à publicação de artigos que, além de inéditos, nacional e internacionalmente, tratem de temas contemporâneos relacionados com a matéria criminal e que tenham perfil preferencialmente crítico. Orientação editorial Os trabalhos selecionados pela Revista Justiça e Sistema Criminal serão aqueles que melhor se adequem às linhas de pesquisa desenvolvidas pelo Grupo de Estudos Modernas Tendências do Sistema Criminal, acessíveis pela plataforma de grupos de pesquisa do CNPq. Os trabalhos podem versar tanto sobre análises teóricas quanto experiências da práxis jurídica, resultantes de estudos de casos ou pesquisas direcionadas que exemplifiquem ou tragam experiências, fundamentadas teoricamente e que contribuam com o debate estimulado pelo objetivo da revista. Enfatiza-se a necessidade de os autores respeitarem as normas estabelecidas nas Notas para Colaboradores. Os trabalhos serão publicados de acordo com a ordem de aprovação. Focos O principal requisito para publicação na Revista Justiça e Sistema Criminal consiste em que o artigo represente, de fato, contribuição científica. Tal requisito pode ser desdobrado nos seguintes tópicos: – O tema tratado deve ser relevante e pertinente ao contexto e ao momento e, preferencialmente, pertencer à orientação editorial. Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 273-276, jan./jun. 2012 273 – O referencial teórico-conceitual deve refletir o estado da arte do conhecimento na área. – O desenvolvimento do artigo deve ser consistente, com princípios de construção científica do conhecimento. – A conclusão deve ser clara e concisa e apontar implicações do trabalho para a teoria e/ou para a prática jurídico-penal. Espera-se, também, que os artigos publicados na Revista Justiça e Sistema Criminal desafiem o conhecimento e as práticas estabelecidas com perspectivas provocativas e inovadoras. Escopo A Revista Justiça e Sistema Criminal tem interesse na publicação de artigos de desenvolvimento teórico e prático forense. Os artigos de desenvolvimento teórico devem ser sustentados por ampla pesquisa bibliográfica e devem propor novos modelos e interpretações para aspectos relacionados ao sistema criminal. Os trabalhos empíricos devem fazer avançar o conhecimento na área, por meio de pesquisas metodologicamente bem fundamentadas, criteriosamente conduzidas e adequadamente analisadas. Normas de Publicação Para os Autores – Os trabalhos encaminhados para publicação na Revista Justiça e Sistema Criminal consideram-se licenciados a esta pelo prazo de duração dos direitos patrimoniais do autor. Os trabalhos também poderão ser publicados em outros lugares, em qualquer tipo de mídia, impressa ou eletrônica, mas a responsabilidade referente aos direitos de autoria, em face da publicação na Revista Justiça e Sistema Criminal, serão de responsabilidade exclusiva do autor. – Os trabalhos devem ser enviados pelo correio eletrônico, para o endereço (revistajsc@ sistemacriminal.org). Recomendamos a utilização do processador de texto Microsoft Word 97. Pode-se, no entanto, utilizar qualquer processador de texto, desde que os arquivos sejam gravados no formato RTF, que é um formato de leitura comum a todos os processadores de texto. – Não há um número predeterminado de páginas para os textos. Esse número deve ser adequado ao assunto tratado. Os parágrafos devem ser alinhados à esquerda. Não devem ser usados recuos, deslocamentos, nem espaçamentos antes ou depois. Não se deve utilizar o tabulador <TAB> para determinar os parágrafos: o próprio <ENTER> já o determina. Como fonte, usar o Arial, corpo 12. Os parágrafos devem ter entrelinha 1,5; as margens superior e inferior 2,0 cm e as laterais 3,0 cm. O tamanho do papel deve ser A4. – Os trabalhos deverão ser precedidos por uma folha na qual se fará constar impreterivelmente: título do trabalho, nome do autor (ou autores), qualificação (situação acadêmica, títulos, instituições às quais pertença e principal atividade exercida), endereço completo para correspondência, telefone, fax e e-mail, além da autorização de publicação do artigo. 274 FAE Centro Universitário – As referências bibliográficas deverão ser de acordo com a NRB 6023/2002 da ABNT. Deverão constar nas referências: SOBRENOME, Nome do autor. Título da obra em negrito. Tradução. Edição. Local: Editora, data. – Os trabalhos deverão ser precedidos por um breve Resumo (10 linhas no máximo) em português e em outra língua estrangeira, e de um Sumário, do qual deverão constar os itens com até três dígitos. – Deverão ser destacadas as palavras-chave limitadas ao número de 5 (cinco) também em português e em outra língua estrangeira. Palavras ou expressões que expressem as ideias centrais do texto, as quais possam facilitar posterior pesquisa ao trabalho. – Todo destaque que se queira dar ao texto deve ser feito com o uso de itálico. Jamais deve ser usado o negrito ou a sublinha. Citações de textos de outros autores deverão ser feitas entre aspas, sem o uso de itálico. A introdução e a bibliografia, no sumário, não deverão ser numeradas. – Não será prestada nenhuma remuneração autoral pela licença de publicação dos trabalhos. Em contrapartida, o colaborador receberá 2 (dois) exemplares do periódico em cujo número seu trabalho tenha sido publicado ou do produto digital, quando contido em suporte físico. – Os trabalhos que não se ativerem a essas normas serão devolvidos a seus autores, que poderão reenviá-los, desde que efetuadas as modificações necessárias. – A seleção dos trabalhos para publicação é de competência do Conselho Editorial da Revista. Todos os trabalhos serão primeiramente lidos pelos coordenadores das Revistas, que os distribuirão, conforme a matéria, para os conselheiros ou ainda para pesquisadores que não sejam conselheiros da Revista, mas tenham reconhecida produção científica na área. Eventualmente, os trabalhos poderão ser devolvidos ao autor com sugestões de caráter científico, que, caso as aceite, poderá adaptá-lo e reencaminhá-lo para nova análise. Não será informada a identidade dos responsáveis pela análise dos trabalhos. Os trabalhos recebidos e não publicados não serão devolvidos. Permuta A Revista Justiça Criminal faz permuta com as principais faculdades e universidades do Brasil, da Espanha, da Argentina e da Nicarágua. Envio de artigos Os artigos deverão ser encaminhados para: FAE Centro Universitário - Grupo de Pesquisas Modernas Tendências do Sistema Criminal Rua 24 de Maio, 135 80230-080 Curitiba -PR E-mail disponível no site www.sistemacriminal.org Fone: (41) 2105-4098 - Fax: (41) 2105-4195 Agradecemos o seu interesse pela Revista Justiça e Sistema Criminal e esperamos tê-lo(a) como colaborador(a) frequente. Revista Justiça e Sistema Criminal, v. 4, n. 6, p. 273-276, jan./jun. 2012 275
Download