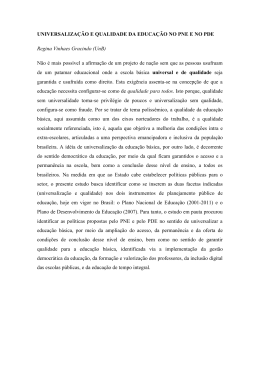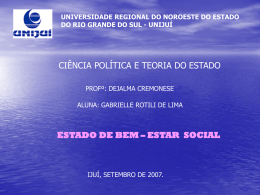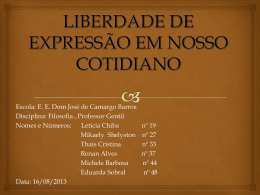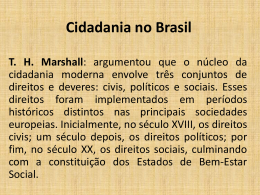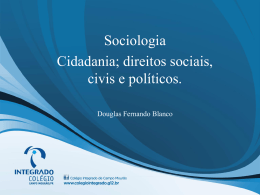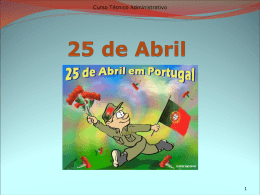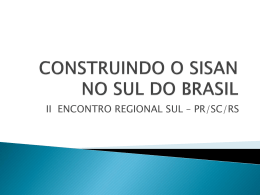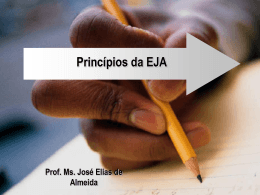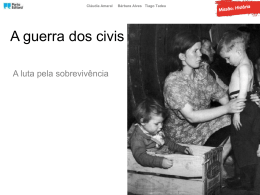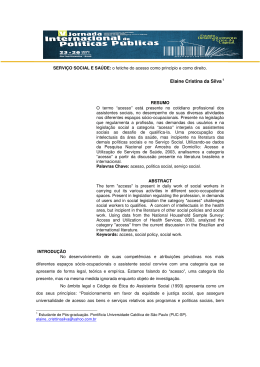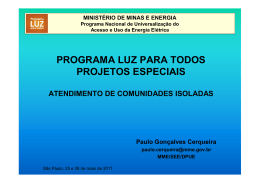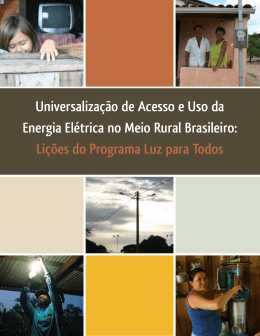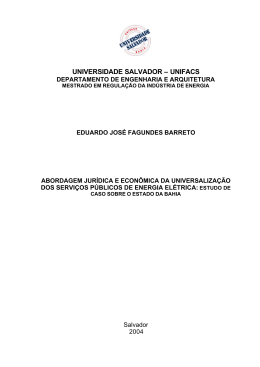ESTADO, SOCIEDADE CIVIL, MOVIMENTOS SOCIAIS ANOS 30: CONSTRUÇÃO DO ESTADO MODERNO “Modernizando-se conservadoramente e ‘pelo alto’, o Brasil ingressará em fase propriamente capitalista-industrial com uma frágil sociedade civil e sem democracia, destituído de um pensamento liberal-democrático consistente, sem hegemonia burguesa e sem um movimento operário organizado com autonomia e consciência de si” (Nogueira, 1998, p.67). A TRAJETÓRIA DA CIDADANIA NO BRASIL Pirâmide invertida de Marshall: 1) Direitos Sociais 2) Direitos Políticos 3) Direitos Civis 1930-1945: Grande momento da Legislação trabalhista e previdenciária – – – – – – – – Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio -1930 Departamento Nacional do Trabalho- 1931 Carteira de Trabalho -1932 Jornada de oito horas e regulamentação do trabalho feminino Direito de férias- 1933-1934 Salário Minimo -1940 Justiça do trabalho -1941 Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)-1943 • • • • • • • • • • • Institutos de Aposentadoria e Pensão – IAPs (baseados em categorias profissionais) – década de 1930 Corporativismo “Cidadania regulada” (Wanderley dos Santos) Benefícios desiguais Clientela previdenciária estratificada “Pré-cidadãos”: mercado informal, autônomos, domésticas e trabalhadores rurais Política social como privilégio Sindicatos: Decreto de 1931: personalidade jurídica pública; “órgão consultivo e técnico” do governo; unicidade sindical; delegados do governo dentro do sindicato Dilema do movimento operário: liberdade sem proteção ou proteção sem liberdade “Peleguismo sindical” Leis de 1939 e 1943: proibiam greves “O resultado foi duplo: um conjunto confuso de normas operando padrões desiguais de proteção e uma clientela hierarquizada, prisioneira de mediações corporativas interpostas à barganha política e incapaz de uma atuação reivindicatória mais consistente com o objetivo de alcançar melhorias no sistema” “Os trabalhadores foram incorporados à sociedade por virtude das leis sociais e não de sua ação sindical e política independente”. Direitos vistos como favor Cidadania : passiva e receptora Modelo de proteção: meritocrático-particularista 1945-1964: a vez dos direitos políticos – Eleições presidenciais e legislativas- 1945 – Nova Constituição de 1946 – Comando Geral dos Trabalhadores (CGT) – organização nacional unificada de trabalhadores – União Nacional dos Estudantes (UNE) – Ação Popular (AP) – Ligas Camponesas -1955 – Estatuto do Trabalhador Rural -1963 – Confederação dos Trabalhadores na Agricultua (Contag) -1964 – Práticas eleitorais com fraudes (só 1 sapato antes da eleição) – Manutenção da legislação social 1964-1974 : Direitos civis e políticos atingidos – – – – – – – – – – – – Atos Institucionais Destacamento de Operações de Informações (DOI) Centro de Operações de Defesa Interna (CODI) Censura à imprensa Proibição de greves Partidos regulados e controlados pelo governo Prisões arbitrárias Violabilidade do lar e da correspendência Violada integridade física – torturas Demissões arbitrárias; Cassação de Mandatos Esvaziamento dos movimentos sociais Sindicalização obrigatória e controlada Investimento nos Direitos Sociais: – Instituto Nacional de Previdência Social (INPS)-1966 Unificou todos os institutos (IAPs) Estado centraliza as decisões Fim das negociações – – – – Tecnocracia legitima ações Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)-1966 Banco Nacional de Habitação (BNH) Ministério da Previdência e Assistência Social – 1974 Deslocamento rumo à universalização dos direitos sociais. • Universalização dos serviços impregnada pela lógica privatizante (estimulada pela insuficiência do atendimento público): Aumento da demanda: crescimento econômico faz surgir mais assalariados; novos filiados – todas as categorias Privatização: terceirizações, particularização dos programas via convênio-empresa, Estado compra serviços do mercado (contratação de hospitais e credenciamento de prestadores de serviço) Parcerias: substituem investimento nas unidades próprias Pouco investimento: na saúde, de 1% para 2,5% do PIB, entre 1950 e 1976; de 27 hospitais para 42, entre 1966 e 1985 “Universalização excludente”: universalização acompanhada de mecanismos de racionamento que expulsam diversos segmentos sociais (atendimento precário, filas) Crescem planos privados Serviço público para pobres 1974-1985: voltam os direitos civis e políticos – – – – – – – Revogação do AI-5 Fim da Censura Prévia Volta dos exilados políticos Restabelecimento do habeas corpus para crimes políticos Abolido o bipartidarismo forçado -1979 Eleições diretas para governadores de estados- 1982 Resistência ao governo militar: MDB, Igreja Católica, Ordem dos Advogados (OAB), Associação Brasileira de Imprensa (ABI), Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), artistas e intelectuais – Campanha pelas Diretas -1984 A CIDADANIA APÓS A REDEMOCRATIZAÇÃO • Direitos Sociais ampliados: • SUDS – Sistema Único e Descentralizado de Saúde Salário mínimo para aposentados e pensionistas Pensão para deficientes físicos e maiores de 65 anos Licença Paternidade Educação Fundamental Direitos políticos fortalecidos: Eleição direta para presidente -1989 Registro provisório de partidos políticos Extinta a exigência de fidelidade partidária Surgimento do MST -1985 Movimento pela Ética na Política (CNBB, OAB, Conselho Federal de Economia, Associação Nacional de Docentes etc.) Impeachement de Fernado Collor de Mello -1992 CPI do Orçamento Central de Movimentos Populares – 1993 Comissão Permanente de Direitos Humanos – criada na Câmara Federal em 1994 Intensificação dos movimentos em várias áreas de interesse: Ética na política Ação de cidadania Luta pela moradia e reforma urbana Luta pela terra e política agrícola Luta dos assalariados do campo e da cidade Luta pela construção de identidades e pelos direitos humanos Luta pelo meio ambiente e desenvolvimento sustentável • Direitos Civis: recuperados Constituição de 1988: Constituição Cidadã Liberdade de expressão, de imprensa e de organização Habeas Data Racismo é crime inafiançável Tortura é crime inafiançável e não-anistiável Lei de Defesa do Consumidor Programa Nacional de Direitos Humanos – 1996 Juizados Especiais de Pequenas Causas Cíveis e Criminosas – 1995 • Problemas: Conhecimento (Educação fator decisivo) Garantias (segurança individual, integridade física X violência) Acesso ( três categorias: doutores, cidadãos simples e “elementos”) • Desafio: Desigualdade impede direitos civis e constituição de uma sociedade democrática ESTADO DE BEM-ESTAR SOCIAL PERIFÉRICO? • Welfare State: países centrais . Quando? “Anos dourados” do capitalismo • Até anos 70: Welfare State frágil na América Latina. Por quê? Ponto de vista estrutural: universalização e equidade não são prioritárias; exclusão e desigualdade presentes Ponto de vista institucional e organizacional: alto grau de centralização, dificuldade na regulação e na implementação de políticas nos níveis subnacionais de governo, comportamento corporativista; fraca tradição participativa da sociedade, ineficácia do gasto, má focalização dos objetivos, baixa efetividade social Resultados: Pouca transparência, diferenças sociais baixa accountability, agravamento de Estado de Bem-Estar não se estruturou por completo O Brasil se modernizou: consolidou seu parque industrial, vai se tornando uma economia competitiva, já produz tecnologia avançada, possui uma agressiva indústria cultural. Mas, não se tornou uma sociedade mais justa, equilibrada e harmoniosa. Não nos tornamos um povo melhor: estamos mais carentes, mais pobres, mais cruamente cortados por desigualdades gritantes. ESPERANÇA Padrão econômico atual impõe mudança: equidade é questão econômica • Caráter estratégico da educação, saúde e distribuição da renda para o crescimento da produtividade. • Estratégia de integração internacional e regional das economias nacionais ( pobreza aumenta os riscos ambientais e sociais) • Valor da democracia e amplitude dos direitos • Constituição Cidadã acolhe demanda por maior equidade e participação • Descentralização participativa na gestão pública : maior espaço para a sociedade • Ampliação dos canais de participação no nível local: conselhos de políticas públicas, orçamentos participativos, mesas de concertação, redes de políticas públicas, mecanismos de monitoramento e prestação de contas etc. SOCIEDADE CIVIL MAIS ATIVA? Ceticismo de muitos: • Estadania (José Murilo de Carvalho) • “Democracia delegativa” (O’Donnel) • “Sociedade frágil, amorfa, desestruturada, gelatinosa, com traços de familismo, clientelismo, nepotismo, jeitinho” (Da Matta) Otimismo de outros: • Ao lado disso tudo, novos valores e atitudes: cidadania ativa, cultura política mais participativa e cidadã (Elenaldo Teixeira) Década de 90: • Movimentos sociais: perderam seu encanto radical e boa parte de sua capacidade de aglutinação e vigor reivindicativo. • Outros atores entraram em cena: • Participação cidadã: não se trata de prestação de serviço social, nem de defesa de interesses específicos, ou afirmação de identidades sociais. • Objetivos são mais amplos: embora sua atividade seja esssencialmente política (atividade pública e de interação com o Estado), distingue-se da atividade política stricto sensu, uma vez que se sustenta na sociedade e não se reduz nos mecanismos institucionais nem busca o exercício do poder; novas aglutinações sociais que querem implementar novas modalidades de democratização das decisões e de repartições mais igualitária dos benefícios sociais e econômicos. (Lúcio Kowarick). ALTERNATIVAS Conselhos: estruturas formalizadas, criadas por Lei, com normas estabelecidas por seus membros (Regime Interno) e relativa autonomia, não sendo propriamente órgãos estatais: esfera pública. Problema: papel decisório (os profissionais têm mais peso do que os usuários); responsabilização pelas decisões tomadas: é possível responsabilizar os representantes da sociedade civil por participarem nas decisões? Alternativa: ao lado dos Conselhos, devem atuar fóruns, plataformas, conferências (espaço público). Redes de Organização da Sociedade Civil: • Redes movimentalistas (Doimo): base local, com critérios de participação de natureza consensual e solidária; ampliação da base territorial por via de projetos financiados por ONGs. • Organização em Redes: Rede Nacional de Agricultura Sustentável (14 ONGs), Rede Brasil sobre Instituições Financeiras Multilaterais (30 entidades), Rede de Direitos Humanos (462 entidades). Fóruns: Fórum Nacional de Ação daCidadania -1994: • “…o fórum tem entre seus objetivos manter um espaço aberto à discussão política sobre linhas gerais capazes de orientar ações da cidadania; será deliberativo apenas nas questões procedimentais; é um espaço de discussão, proposição e indicação de ações convergentes; organiza- se como rede e não como organização centralizada, sem caráter representativo ou decisório” (Fórum Nacional de Ação da Cidadania). Elementos da rede: horizontalidade, diversidade, articulação, intercâmbio, informalidade, democracia. Novos elementos da rede (por conta das mudanças sociais e tecnológicas): transversalidade: relações são múltiplas e contraditórias • • • • • • Equidade: as diferenças são consideradas e podem enriquecer o processo Articulação global: ultrapassa a base local Intercâmbio: independente da proximidade física, à distância Informalidade: passa a conviver com a formalidade; procedimentos interativos são fixados por meio de meios telemáticos e eletrônicos. Problema: custo dos equipamentos: possibilidades são ainda hoje privilégio de determinados grupos, mas várias organizações, constituidas como redes sociais, aliam seus encontros e relações interpessoais à conexão com a internet, servindo-se de organizações provedoras sem fins lucrativos como a Associação para o Progresso das Comunicações (APC), a GreenNet etc. Em 1989: Ibase criou a AlterNex, integrada à Rede Nacional de Pesquisa e à APC, possibilitando a conexão de várias organizações sem fins lucrativos à internet. Resultado do Movimento Democratização da Comunicação. UMA NOVA INSTITUCIONALIDADE? Nova Institucionalidade (Vera Telles): elaboram-se regras procedimentais flexíveis para reger as ações de forma autônoma, mas não em caráter irrevogável, modificáveis se novo consenso assim determinar, num processo permanente, instituinte e inovador. Sociedade civil: tematiza novas questões, cria novos espaços de participação, faz surgir novas formas de organização e interlocução com os poderes públicos. Nova cultura política: uma “linguagem dos direitos”, não no sentido de uma concessão do Estado, mas como prática, linguagem e representação; como uma reinvenção que brota da luta entre interesses diferenciados em confronto/diálogo em espaços públicos (Evelina Dagnino). Nova cultura política: ampliação da ação comunicativa no espaço público e ação estratégica das organizações leva a um impacto nas instituições e nos valores da sociedade. Mudanças em dois planos: a) no plano dos valores: atualização das concepções de justiça social e amadurecimento do pensamento social que reconhece que a melhoria da efetividade do gasto social é condição para a construção dos direitos da cidadania; b) no plano institucional: descentralização da prestação dos serviços sociais, aumento relativo da participação social e formidável ampliação do campo e da experimentação de parcerias entre os setores público, privado lucrativo e, principalmente, privado sem fins de lucro, organizações não-governamentais. (Sonia Draibe) Ponto positivo: criação de espaços de interlocução e decisão entre Estado e sociedade. Problemas: • Experiência complexa, cheia de conflitos, confrontos e negociações entre os atores. • Fragilidade organizativa, caráter espontaneísta. Falta de avaliação dos seus efeitos. • Heterogeneidade das entidades da sociedade civil, falta de articulação, interesses particularistas, falta de capacitação dos conselheiros ou de delegação de poder dos representantes de governo. • Descentralização complementares. e participação não são termos necessariamente Participação: eficaz? Com que qualidade? NECESSIDADE Participação do cidadão: não se dê apenas em atos de protestos ou simbólicos, mas se constitua numa atividade permanente de controle sobre as ações dos seus representantes e na exigência de accountability e responsabilização dos gestores de recursos públicos. Não basta mero apelo à ética: são necessários instrumentos de controle externo, cívico, e a capacitação dos cidadãos para exercê-los (a OAB propõe que sejam criados centros de combate à impunidade, dispensandose apoio jurídico aos cidadãos para que esses impetrem ações populares contra atos que afetam a moralidade pública). Investimento em educação para cidadania. “A cena municipal , em muitos casos, está sendo hoje condicionada por uma espécie de derradeira dissolução do modo de vida tradicional. O futuro está em aberto, devendo ser decidido pelos atores que souberem promover intervenções compatíveis com os novos tempos” (Nogueira, p.2)
Download