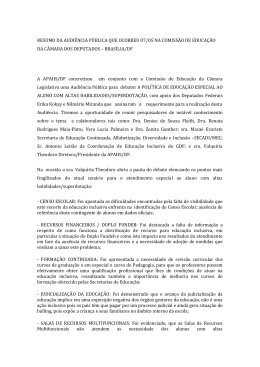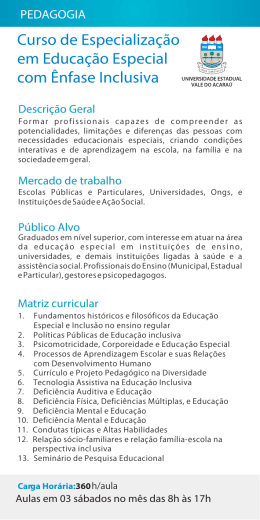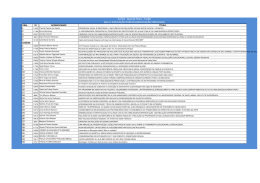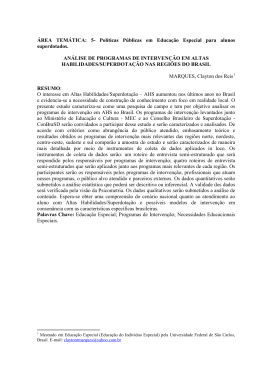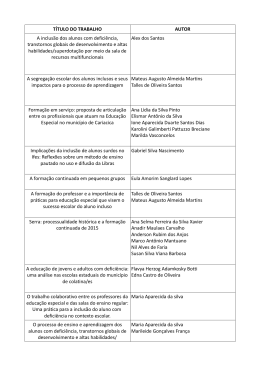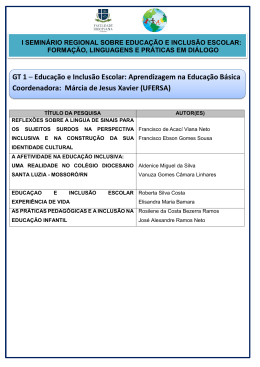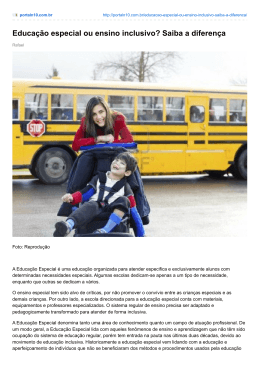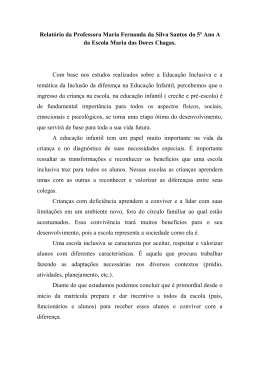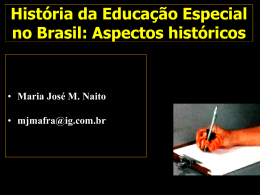1 CONSIDERAÇÕES SOBRE A INCLUSÃO EDUCACIONAL DE SUJEITOS QUE POSSUEM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO: CAMINHOS A TRILHAR... Karine Sefrin Speroni (Universidade Federal de Santa Maria) Bárbara Martins de Lima Delpretto(Universidade Federal de Santa Maria) Considerando as discussões sobre processo de inclusão social, sobretudo inclusão educacional, o presente trabalho buscou lançar âncoras na busca de questionamentos sobre a inclusão de sujeitos com altas habilidades/superdotação (AH/SD). Os princípios que fundamentam educação inclusiva garante acesso e permanência de todos os indivíduos na escola. Apontamos alguns tópicos com relação à temática das altas habilidades/superdotação, sobretudo, no que tange a identificação e falta de reconhecimento desses sujeitos nos contextos de ensino. Portanto, o presente trabalho promoveu uma discussão dos aspectos que ocasionam a não identificação/reconhecimento e valorização das habilidades desses sujeitos na escola. Questionamos e de fato temos um escola para todos e, nesse prisma, apontamos que as dificuldades de respondermos a esse questionamento estão diretamente relacionadas às barreias atitudinais e conceituais que a terminologia Ah/SD suscita. Por fim, a responsabilidade da educação inclusiva é de todos envolvidos no contexto de ensino que timidamente vem sofrendo com as mudanças macrossistêmicas. PALAVRAS-CHAVE: altas habilidades/superdotação, reconhecimento, inclusão 2 CONSIDERAÇÕES SOBRE A INCLUSÃO EDUCACIONAL DE SUJEITOS QUE POSSUEM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO: CAMINHOS A TRILHAR... O presente estudo apresenta uma abordagem uma abordagem de cunho qualitativo (TRIVINHOS, 1987), configurando-se como pesquisa bibliográfica que visa tecer considerações sobe o processo de inclusão educacional de sujeitos que possuem altas habilidades/superdotação (AH/SD). Para tanto há de se analisar a descrição do processo de inclusão social em sua amplitude, principalmente inclusão educacional, bem como suas influências e correlação com a temática das AH/SD. Em face disso, buscamos refletir sobre pilares que justificam a seguinte máxima “educação para todos”. Não buscamos respostas “prontas”, mas sim lançamos questionamentos para que este escrito possa servir á academia de modo a problematizar a máxima acima descrita. Considerada como direto de todos, a educação, a partir da década de noventa, com a Conferência Mundial de Educação para Todos (Jonmitien, Tailândia, 1990) ganha novas “roupagens” de modo a programar pressupostos norteadores que proporcionem a igualdade de direitos, equidade e respeito às diferenças à todos os indivíduos, indistintamente. Emerge nesse período um conceito que viraria máxima que subsidia as políticas públicas educacionais em nosso país até a atualidade, ou seja, a inclusão social, principalmente no campo educacional. Sob esse prisma, ancorada em movimentos internacionais, essa premissa ganha espaço de discussão tendo sua maior repercussão na escola, que configura-se como um microssistema (onde de fato são empregados tais conceitos) articulado com o macrossistema (sistema que “programa” as políticas e legislação que as subsidiam). Nessa perspectiva, garantir acesso e condições de permanência no ensino à todos os sujeitos que possuem necessidades específicas em seu processo de aprendizagem torna-se premissa fundamental da educação inclusiva. A educação Inclusiva marca uma nova era na Educação Especial. Em outras palavras, se configura um novo paradigma que repudia as práticas excludentes dentro ou fora da escola. Isso decorre, pois por muito tempo em sua história, a Educação Especial encarregou-se de atender as minorias que de certa forma era rechaçadas do contexto sócio-educacional. O público alvo dessa sub área do saber compreendia e, compreende também nos dia de hoje, sujeitos que apresentam deficiências, transtornos globais do desenvolvimento, além de sujeitos que 3 apresentam altas habilidades/superdotação. Esse novo paradigma não “responsabiliza” somente a educação especial no atendimento desses indivíduos, mas sim, descreve que é função de toda a escola promover a inclusão e marchar rumo ao respeito às singularidades dos sujeitos envolvidos no contexto escolar. Considerando esse novo paradigma da atualidade, buscamos problematizar e discutir sobre o processo de inclusão educacional de alunos com de altas habilidades/superdotação (AH/SD). A escolha desse público alvo justifica-se pelas dificuldades no processo de identificação desses sujeitos, bem como, em seu reconhecimento na escola, uma vez que estes já se encontram inseridos no contexto regular de ensino. Para tanto, utilizamo-nos de fontes bibliográficas para elucidar alguns conceitos referentes ás AH/SD, bem como a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008). Propomo-nos a iniciar um “diálogo” sobre a inclusão educacional e sua correlação com a temática das altas habilidades/superdotação esclarecendo alguns conceitos e proporcionando novos olhares. De fato como ocorre o processo de inclusão desses indivíduos na atualidade, uma vez que as barreiras para sua identificação e reconhecimento ainda estão presentes no imaginário social e se repercutem no contexto escolar? Dessa forma, buscaremos ao longo desse artigo levantar questionamento sobre a temática, nossa proposta não é “dar receita”, mas proporcionar ao leitor uma reflexão sobre os princípios que lançamos anteriormente. Conceituando as altas habilidades/superdotação Quem são esses sujeitos? Quais características de seus processos de aprendizagem? São alguns questionamentos que iremos considerar nesse tópico. Deste modo, segundo a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008, p. 15), sujeitos que possuem altas habilidades/superdotação são caracterizados por: [...] demonstram potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes. Também apresentam elevada criatividade, grande envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu interesse. 4 Esses indivíduos possuem ritmos, formas e estilos de aprendizagem diferenciados, podendo apresentar características específicas de acordo com suas habilidades. De tal modo podem caracterizar-se como: do tipo intelectual, que se caracterizam por apresentar alto nível de abstração e raciocínio, criticidade, habilidade notória para memorização e resolução de problemas; do tipo acadêmico, que se destacam por notória aptidão acadêmica específica, gosto e motivação por disciplinas, concentração, agilidade no raciocínio, capacidade de avaliar, sintetizar e organizar os conhecimentos adquiridos; do tipo criativo apresentam originalidade, imaginação, capacidade de resolução de problemas de forma alternativa e inovadora, além de autoexpressão fluência, flexibilidade; do tipo social apresentam capacidade de liderança, cooperação e sentimento de sensibilização com o outro, alto poder de persuasão, enfim, capacidades inatas para estabelecer relações sociais; do tipo talento especial, caracterizam-se por apresentar habilidades específicas nas seguintes áreas: artes plásticas, musicais, literatura e artes cênicas; do tipo psicomotor, que apresenta grande habilidade e interesse por atividades psicomotoras, apresentando exímio desempenho quanto à velocidade, controle e coordenação motora, resistência física (METRAU, 2007). Quando fazemos referência às características de aprendizagem desses indivíduos, não podemos deixar de mencionar os preceitos teóricos de Joseff Renzulli (2004), uma vez que seus estudos tangenciam a temática das AH/SD. Além disso, compõe uma descrição relevante sobre desenvolvimento da intelectual humano, principalmente sobre o comportamento “superdotado”. Isso fica evidente na concepção do autor ao desenvolver a Teoria dos Três Anéis, onde conceitua as características principais do comportamento “superdotado”. Tais características são representadas através de um anagrama que entrelaça três anéis. Esses anéis correspondem a: capacidade acima da média; o comprometimento com a tarefa e criatividade. Em suma, o que conceitua o fenômeno da superdotação está relacionado a intersecção desses grupamentos , bem como, envolto nesse entrelaçamento de anéis pode-se perceber através da figura I, um mosaico (teia) que simula as relações do sujeito com o ambiente e fatores de personalidade. Vejamos: 5 Figura 1- O Modelo dos Três Anéis proposto por Renzulli (1986 apud. ABSD, 2000, p. 14). Esses três traços podem ser elucidados da seguinte maneira: a) Capacidade acima da média: esse conceito faz alusão ao desempenho superior em qualquer área do desenvolvimento humano. Dessa forma, segundo o autor, pode ser subdividida em habilidade geral – que se trata da capacidade do processamento de informações e integração das experiências que resultem em respostas adequadas a novas situações implicando no pensamento abstrato – e habilidades específicas – que versam nas habilidades de aquisição de conhecimento e destreza em uma ou mais áreas específicas. b) Envolvimento/comprometimento com a tarefa: essa terminologia compreende o expressivo envolvimento e interesse que o sujeito apresenta em relação a determinada área que empreende, despertando aspetos referentes à motivação, persistência, também, empenho pessoal para realização da tarefa. c) Criatividade: essa nomenclatura pode ser definida pela capacidade de associar diferentes informações para construção de novas soluções. Caracterizada pela fluência, flexibilidade, sensibilidade, originalidade, construção, elaboração e pensamento divergente (ABSD, 2000). Renzulli (2004) além desses princípios estabelecidos em sua teoria, ainda ressalta que lastima não ter focado ao seu estudo as influências da personalidade e nas ambientais, pois esse tipo de investigação poderia lhe ter conduzido a criação de um quarto anel que poderia refletir o grupamento de traços afetivos, sendo este um aspecto de suma importância para caracterização e identificação dos indivíduos que possuem “superdotação” (RENZULLI, 2004). 6 Além disso, para esse autor existem dois tipos de superdotação: a superdotação escolar ou acadêmica e a superdotação produtivo-criativo. A primeira é facilmente identificada, pois pode ser mensurada por testes padronizados, sendo esse tipo de superdotação mais valorizado nas situações de aprendizagem escolar, visto que a escola prioriza as habilidades dedutivas (habilidades analíticas) ao invés das indutivas – que se caracterizam pelo desenvolvimento de habilidades criativas e praticas (RNZULLI, 2004). A segunda, superdotação produtivo-criativo, caracteriza-se por aspectos do envolvimento humano onde há incentivo de idéias, originalidade, enfim, na criação de produtos ou conceitos referentes à aprendizagem prática. Assim, indivíduos com esse perfil caracterizam-se por serem criativos e originais em suas idéias. Por esse motivo são pouco valorizados pela escola, pois seus interesses muitas vezes estão além do que é proposto. A diferença entre os dois tipos de superdotação pode ser reforçada com a seguinte citação: Enquanto a superdotação acadêmica é principalmente contemplada no anel da capacidade da média da Concepção de Superdotação dos Três Anéis, tende a permanecer estável no decorrer do tempo, as pessoas nem sempre mostram o máximo de criatividade ou comprometimento com a tarefa. As pessoas altamente criativas e produtivas têm altos e baixos no rendimento de alto nível. Algumas pessoas têm comentado que os vales são necessários quanto os picos, porque permitem a reflexão, a regeneração e acumulação das entradas (inputs) para os esforços subseqüentes. (RENZULLI, 2004, p. 83). Esses são “respingos” provindos do imaginário social estabelecido, principalmente após a consolidação da Psicologia (aproximadamente na década de sessenta) como área do conhecimento – ainda voltada a um paradigma positivista que visa à quantificação dos sujeitos para explicação da vida humana – ganharam terreno fértil no campo educacional, sobretudo com a aplicação de testes de Quociente de Inteligência – QI, que mediam a potencialidade humana. De certa forma, esses testes avaliavam o que era trivial, considerando apenas algumas áreas do saber, sobretudo a lingüística e lógico-matemática (KINCHELOE, 1997). Questões que ainda nos dias de hoje não foram “bem resolvidas”, uma vez que o sistema de ensino considera tais habilidades imprescindíveis, tornando o ensino desses sujeitos uma prática de repetição e monotonia que prima por áreas que, muitas vezes não são específicas aos seus interesses. Enfim, devido a essas práticas históricas de classificação esses sujeitos, por vezes, não são identificados e reconhecidos por seus talentos no âmbito escolar, ainda 7 nos dias de hoje, principalmente quando apresentam características diferenciadas que o currículo escolar não contempla ou desenvolve conceitos com superficialidade. Desse modo, pode-se evidenciar que os sujeitos que possuem AH/SD apresentam características particulares e peculiares quanto seu processo de aprendizagem. Desse modo, para garantir que seus ritmos/estilos e formas de aprendizagem sejam respeitados se justifica a identificação dessa parcela da população. Conforme manual do MEC (1999) estimava-se que a população brasileira continha 37,75 milhões de sujeitos talentosos, ainda, 1,55 milhões de indivíduos superdotados e 155 gênios (BRASIL, 1999, v. 2). Não podemos refletir a respeito dessas estimativas estatísticas sem ponderar que muitos sujeitos que possuem AH/SD não são identificados e, conseqüentemente não são beneficiados e encorajados a desenvolver seus potenciais canalizando-os para fins úteis para si e para a sociedade. Portanto, chegamos ao “x da questão”: a identificação ainda é incipiente e o reconhecimento do potencial humano ainda não é valorizado nas escolas de nosso país. Inclusão educacional: caminhos a trilhar A Inclusão social, premissa que fundamenta a educação inclusiva, lança âncoras á discussões referentes ao conceito de vulnerabilidade, uma vez que há constatação de que alguns sujeitos encontram-se à margem da sociedade em termos econômicos, sociais e educacionais. A exclusão é realidade em nosso país, principalmente a exclusão educacional (REIS ET AL, 2002). Nesse sentido, a inclusão tem caráter social, cultural, educacional. Cabe-nos descrever aspectos relacionados à inclusão social sob o prisma educacional. Em acordo com Ferreira & Bozo (2009, p 2) “incluir significa abranger, compreender, somar (...) é aceitar o diferente e também aprender com ele”. Diante desse contexto, a proposta inclusiva vem ao encontro dos paradigmas vivenciados na história da educação especial em nosso país, pois percebe e repudia as práticas excludentes seja em âmbito escolar quanto social. Em face disso, “é preciso entender que a inclusão não é apenas para crianças deficientes, mas para todos os excluídos ou descriminados, para as minorias” (FERREIRA & BOZO, 2009, p.4). Muitas vezes por desconhecer as características de aprendizagem dos alunos os professores desenvolvem práticas segregativas. Isso pode acontecer quando sem “perceber” eles se voltam a atender aos 8 alunos que possuem maior dificuldade no conteúdo trabalhado deixando à mercê os alunos que apresentam maior facilidade. A finalidade desse processo cumpre coma premissa de proporcionar acesso, equidade e igualdade de direitos a todos os sujeitos, indistintamente. Nesse contexto, A escola passa a introduzir técnicas e alternativas metodológicas que possibilitem ao indivíduo atendimento que respeite suas características e seu estilo de aprendizagem. Em outras palavras, a educação inclusiva: [...] constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis, e que avança em relação à idéia de eqüidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da escola. (BRASIL, 2008, p. 5) Além disso, a inclusão, como consta nos parâmetros políticos, como por exemplo, no decreto n° 6.094/2007, garante a todos os indivíduos acesso e permanência no ensino regular, para tanto, os alunos com necessidades específicas de aprendizagem devem ser contemplados com atendimento especializado que compreenda e possibilite seu desenvolvimento potencial. Essas afirmativas são pressupostos básicos para fortalecimento da inclusão nas escolas públicas (BRASIL, 2008). Portanto, A inclusão escolar tem início na educação infantil, onde se desenvolvem as bases necessárias para a construção do conhecimento e seu desenvolvimento global. Nessa etapa, o lúdico, o acesso às formas diferenciadas de comunicação, a riqueza de estímulos nos aspectos físicos, emocionais, cognitivos, psicomotores e sociais e a convivência com as diferenças favorecem as relações interpessoais, o respeito e a valorização da criança. (BRASIL, 2008, p. 16) A educação inclusiva, considerada um paradigma da educação especial, que supera os paradigmas vivenciados na história da educação por considerar e promover condições de igualdade e acesso aos bens culturais a todos os sujeitos. Nesse sentido, para que os indivíduos sejam respeitados por sua singularidade, a escola (o microssistema) deve promover estratégias eficazes para proporciona-lhes uma aprendizagem de fato significativa. Isso inclui adaptações no currículo escolar, como forma de potencializar aprendizagens, de pequeno ou grande porte, bem como minimização de barreiras físicas, possibilitando a acessibilidade desses indivíduos em 9 todo ambiente escolar e desfrutar dos recursos tecnológicos em prol do desenvolvimento de suas potencialidades. Em outras linhas, a inclusão abrange muito mais do que essas questões de acesso e acessibilidade ao ensino. Ao surgir uma política voltada á educação Inclusiva (Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, 2008) o país reafirma bases conceituais dos movimentos internacionais que visam respeito á diversidade anteriormente já elencadas desde a Lei de Diretrizes e Bases 9334/96 . Nesse contexto de transformações, a responsabilidade pela erradicação da exclusão social é ampliada ao ambiente escolar. A escola, nesse contexto objetivará proporcionar aprendizagens de modo a adaptar e receber esses indivíduos oportunizando a eles que exerçam sua cidadania. Esse processo se dá lentamente, pois há barreiras de cunho atitudinal e conceitual sobre os fundamentos da educação inclusiva e sua aplicabilidade no contexto escolar. Ao adotar essa nova política, o país enfrenta dificuldades de formação/capacitação profissional, barreiras atitudinais e barreiras físicas que impossibilitam a acesso dos alunos no âmbito escolar, bem como reconhecimento destes, no que se refere à temáticas das altas habilidades/superdotação (FREITAS, 2006). Isso também fica evidente no artigo 8º, do Plano de Diretrizes e Bases da Educação Básica (2001), que considera que a escola, para legitimação do paradigma da educação inclusiva, deve prover e prever de meios para organização das classes comuns de forma que haja professores das classes comuns e da Educação Especial habilitados e especializados, como também, flexibilizações e adaptações curriculares, que ponderem conteúdos, além de recursos a serem empregados, contemplando as estratégias de avaliação, de modo que estejam em conformidade com projeto político e pedagógico da escola (KASSAR, 2002, p.19). Desse modo, com a finalidade de atender a todos indistintamente, o processo de inclusão vem marchando rumo à compreensão de que a escola deve garantir a esses indivíduos alternativas metodológicas que lhes proporcione qualidade no processo de aprendizagem. Entretanto pouco se tem inferido a respeito do tema AH/SD. Como consta nos parâmetros da Política de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), esse alunado apresenta características particulares quanto ao seu processo de aprendizagem, justificando a necessidade de tal atendimento especializado. Entretanto, através dessa mesma política podemos inferir que enquanto processo a 10 inclusão desses sujeitos “marcha” lentamente, pois estes alunos já se encontram inseridos no ambiente escolar. Decorrente a isso, muitas vezes não são identificados e beneficiados com alternativas de acessibilidade e acesso que seus processos de aprendizagem demandam. A utilização da terminologia necessidades específicas vem ao encontro da proposta inclusiva por definir o alunado da educação especial não mais por suas características patológicas, como outrora utilizadas no modelo clínico-pedagógico, mas sim focalizar sobre as necessidades e as potencialidades no processo de aprendizagem. Desse modo incluem-se todos os sujeitos que de uma forma ou outra necessitam de alternativas educacionais diferenciadas para construção de sua aprendizagem, dentre eles, como supracitado, o sujeito que possui altas habilidades/superdotação. Nesse mesmo artigo (8º, item IX), é feita ressalva quanto ao processo de flexibilização no letivo para alunos que possuem altas habilidades/superdotação, de modo que possa ser realizada aceleração, fazendo que eles concluam anos de escolarização em menor tempo. Além desse pressuposto, esse item explicita ser imprescindível o oferecimento de atividades que promovam o enriquecimento e aprofundamento de conteúdos por meio de atividades suplementares em classe regular, em sala de recursos, como também, atividades em ambientes extraclasses a serem desenvolvidos determinados pelos sistemas de ensino (KASSAR, 2002). Segundo Freitas (2006), nosso país enfrenta crises quanto à formação docente. Em outras linhas, o tipo de capacitação/formação docente que é ofertado não contribui suficientemente para que sejam repensadas novas alternativas que visem o desenvolvimento potencial dos alunos. Desse modo, não os conduzindo e oportunizando sucesso nas aprendizagens escolares, de forma que “participem como cidadãos detentores de direitos e deveres na chamada sociedade do conhecimento” (FREITAS, 2006, p. 168). Em face disso, a saída para esta crise deve estar fundamentada na reflexão dos “fazeres” na formação docente, para que esses profissionais possam compreender a complexidade da função que exercem para que possam atuar em situações singulares. Vejamos a citação abaixo, que enlaça os preceitos discutidos anteriormente: Sabemos que refletir sobre a educação para todos implica pensar nas relações ente os alicerces da educação geral e da educação especial, com a formação geral e especial dos professores. A educação das necessidades educacionais especiais, no contexto do ensino regular, permite, tanto aos professores já atuantes, quanto aos que já estão em formação, rever os referenciais teórico- 11 metodológicos que se alicerçaram na distinção entre educação especial e geral, uma vez que, conforme Mazzota (1998, p. 48) enfatiza, a educação dos alunos com necessidades educacionais especiais tem os mesmos objetivos da educação de qualquer cidadão (FREITAS, 2006, p.166). Em suma, grande parte dos problemas de aprendizagem e de comportamento de indivíduos que possuem potencial superior têm suas raízes no desestímulo e frustração. Esses sentimentos vivenciados pelo aluno são despertados pelo currículo acadêmico e metodologias que primam pela repetição e monotonia, visto que não valorizam os talentos específicos e individuais dos alunos (ALENCAR, 2000). Nesse sentido, a escola inclui ou exclui esses sujeitos? Há, nos dia de hoje uma escola para todos? As duas faces da moeda: inclusão/exclusão de sujeitos coma altas habilidades/superdotação na escola Nesse sentido, podemos considerar que os estudos na atualidade (FREITAS, 2006; KASSAR, 2002; GARCIA, 2006; REIS & SCHWARTZMAN, 2002, dentre outros) acerca do processo de inclusão vêm tomando diferenciados rumos, enfoques que dão subsídios à prática realizada. De fato, a política é bem clara, e descreve quem é alunado da educação especial e as necessidades de acontecer à inclusão. No entanto, como tal política foi outorgada, pode-se perceber que esse processo caminha lentamente, isso é decorrente do não preparo da comunidade escolar diante do processo de inclusão, visto que ela enfrenta dificuldades quanto à formação e/ou capacitação dos professores para atuar com os alunos que possuem necessidades educacionais especiais, sobretudo no que diz respeito ao sujeito que possui altas habilidades/superdotação. A identificação não pode ser considerada como quesito parcial para estigmatização do sujeito que possui AH/SD, mas sim como meio eficaz para possibilitar a esse sujeito um atendimento educacional especializado, como consta nos parâmetros legais da Política de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008). Identificar é meio que antecede ao processo. Em outras palavras a identificação se configura como uma prática eficaz para que esses indivíduos possam ser reconhecidos no ambiente escolar e beneficiados com alternativas de enriquecimento, aprofundamento de conceitos e desenvolvimento de habilidades diversas. 12 Como esses sujeitos possuem características próprias de personalidade e ritmos de aprendizagem, muitas vezes podem ser confundidos e rotulados por hiperativos, “alunos-problema” (aqueles que possuem má conduta na escola). Desse modo podemos referir que se a escola não lhes garante incentivo ao desenvolvimento potencial e sócioemocional, esse aluno pode não permanecer nesse ambiente por muito tempo ou não avançará potencialmente suas habilidades. Ao encontro desta afirmativa, podemos fazer referência às estatísticas de evasão escolar e ainda, do aumento de meios tecnológicos e intelectuais a favor da criminalidade, estes que poderiam estar trazendo benefícios à sociedade se de fato tivessem sido encorajados ao desenvolvimento do potencial criativo, cognitivo e social. Podemos ressaltar que há pouco interesse dos professores em investigar e conhecer os alunos com altas habilidades/superdotação e, tem-se pensado muito na inclusão social e educacional, e essa parcela, que também é caracterizada por possuir necessidades específicas em seu processo de aprendizagem, tem sido esquecida. Isso decorre pelo fato de que as discussões em “moda” no momento se dirigem mais especificamente aos sujeitos que possuem déficit cognitivo. Nesse sentido, não identificar os talentos, não prestar atenção devida ao desenvolvimento desses sujeitos faz com que toda proposta de educação inclusiva perca seu sentido, pois é direito de todos o acesso e permanência na escola. Se a escola tem “dificuldades” em identificar/reconhecer/valorizar os sujeitos que apresentam potencial superior, estamos considerando o processo inclusivo ou reafirmando práticas excludentes? Como pressuposto básico para educação inclusiva a escola, na pós-modernidade, tem objetivo de “propiciar às novas gerações o acesso (à) e apropriação da cultura produzida pela humanidade no decorrer de sua existência” (KASSAR, 2002, p. 22), pressuposto de grande ônus social, já que não pode ser negligenciado ou relegado a um segundo plano. Por conseguinte, essa premissa vem ao encontro com aspectos correlacionados a educação e inclusão do aluno que possui altas habilidades/superdotação. Desse modo, é a escola que deve dar condições a esses alunos para que seu potencial seja incentivado e encorajado a tornarem-se agentes em seu processo de construção da aprendizagem. Portanto, não é o sujeito que deve se “enquadrar” ao contexto escolar, mas sim, a escola que deve proporcionar a ele recursos para seu desenvolvimento, seja ele cognitivo como também psicossocial. Esse princípio legitima a educação inclusiva e corrobora com a intencionalidade de uma educação para todos. 13 Nesse sentido, escola estará contribuindo não só para formação desses indivíduos, mas também para o futuro da sociedade quanto ao que se refere aos campos do saber, tecnologia e desenvolvimento, visto que tais alternativas de “resgate” (valorização dos talentos e encorajamento de potenciais) afastam essas “mentes brilhantes” de servirem em prol da criminalidade. Enfim, o “poder” da escola frente a esse contexto educacional e social é gerador de incentivo de valorização intelectual, social e epistemológica, tarefa que não é nada fácil. Na atualidade, há grande expectativa quanto ao papel do professor. Acredita-se que esse deva estar aberto a práticas inovadoras em sala de aula além de acolher e compreender a diversidade, com a finalidade de conhecer as características individuais de cada aluno e proporcionar a eles uma aula dinâmica, utilizando para isso atividades exploratórias que conduzam os indivíduos a conhecer as diferentes áreas do saber (FERREIRA, 2006). Entretanto a responsabilidade não é apenas d afigura do professor, mas sim de toda equipe escolar (professores, gestores, coordenadores, supervisora) e das condições econômicas para a formação desses profissionais. Portanto: A aula inclusiva visa responder à diversidade de estilos de aprendizagem na sala de aula; então, qualquer ação de desenvolvimento e aperfeiçoamento de práticas de ensino e aprendizagem de professoras para a inclusão deve ajudálas a refletir sobre as formas de levantamento de informações sobre seu (sua)s aluno (a)s e planejamento de diversas atividades que abranjam os estilos de aprendizagem individual (FERREIRA, 2006, p. 231). Através desses pressupostos pode-se evidenciar que a identificação dos sujeitos com características de altas habilidades vem ao encontro da proposta do “acesso e permanência na escola”, visto que é direito de todos. Portanto a inclusão ao tornar-se uma prática significativa para esses indivíduos deve lhes possibilitar aprimoramento, descoberta, construção e reconstrução de conceitos e habilidades que estruturam o desenvolvimento como um todo. CONSIDERAÇÕES FINAIS Atender a todos indistintamente, máxima que sustenta o paradigma da educação inclusiva nos dias de hoje, dá vazão a novas perspectivas no campo da educação. Corroborando com concepção de que a escola deve garantir aos indivíduos que possuem necessidades específicas de aprendizagem alternativas metodológicas que lhes 14 proporcione qualidade no processo de aprendizagem. Podemos referir que a inclusão é um processo “marcha” lentamente, sobretudo no que diz respeito aos sujeitos que possuem altas habilidades/superdotação, visto que esses já estão inseridos na rede regular de ensino. Além disso, podemos ressaltar que esses indivíduos, na maioria das vezes não são identificados por seus professores, ou quando o são, não são contemplados com alternativas metodológicas que os possibilitem descobrimento, aprimoramento e valorização de habilidades diversas. Através desses pressupostos pode-se evidenciar que a identificação e reconhecimento dos sujeitos com características de altas habilidades vêm ao encontro da proposta do “acesso e permanência na escola”, visto que é direito de todos. Portanto a inclusão ao tornar-se uma prática significativa para esses indivíduos deve lhes possibilitar aprimoramento, descoberta, construção e reconstrução de conceitos e habilidades que estruturam o desenvolvimento como um todo. Conforme consta na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), a educação inclusiva se constitui como paradigma que está fundamentado na concepção de direitos humanos. Isto é, guiado pelos pressupostos de igualdade e respeito à diversidade, evitando toda e qualquer forma de exclusão seja dentro ou fora da escola. Podemos ressaltar que o acesso e direito à escolaridade, por muitas décadas, esteve associado a grupos minoritários. Com o passar dos anos e, com surgimento do processo de democratização da educação, os sistemas de ensino universalizam o acesso à educação, entretanto, continuaram os processos de exclusão dos grupos que não se enquadravam nos padrões homogeneizantes da escola, dentre eles, os sujeitos que apresentam AH/SD. Pode-se verificar a partir do documento, que paradigma inclusivo preconiza acesso e permanência a todos na escola por meio da qualidade do ensino. A proposta inclusiva vem ao encontro dos paradigmas vivenciados na história da educação especial em nosso país, pois “percebe” e “repudia” as práticas excludentes seja em âmbito escolar quanto social. Desse modo a escola passa a introduzir técnicas e alternativas metodológicas que possibilitem ao indivíduo atendimento que respeite suas características formas/estilos de aprendizagem. Em outras palavras, a educação inclusiva “(...) avança em relação à idéia de eqüidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da escola”. (BRASIL, 2008, p. 5). 15 Pode-se ressaltar que o desconhecimento aliado a “não ação” gera mitos em relação ao processo de aprendizagem desses indivíduos e que, de algum modo, são classificados e rotulados como “aluno-problema”, hiperativo, auto-suficiente. Além de serem utilizadas máximas que “justificam’ o descomprometimento do professor e da escola frente a esse “problema”: ter um aluno que vai além do que a escola pode oportunizar. E porque a escola ainda não pode oportunizar tais condições de acesso e permanência ao ensino? A formação de profissionais para educação inclusiva tem sido um dos desafios da atualidade. Nesse sentido, ”por que identificar?”, “È para rotular?”, de forma alguma, a identificação de desse público alvo tem por objetivo garantir a esses indivíduos acesso e permanência ao ensino, de modo que os potencias intelectuais e sociais sejam encorajados e estimulados a construção da aprendizagem significativa. Isto porque, na maioria das vezes, esses sujeitos apresentam necessidades específicas de aprendizagem que vão além do que os currículos escolares contemplam, como também, das alternativas metodológicas intra e extra-classe que muitas vezes as escolas ofertam. As questões envolvidas no processo inclusão e erradicação da exclusão também estão relacionadas à forma como macrossitema repercute no cotidiano de nossas escolas. Em suma, sem formação profissional, certamente haverá o desconhecimento das características de aprendizagem desse alunado e conseqüentemente barreias atitudinas e conceituais que impossibilitem a identificação/reconhecimento e valorização desse público alvo. Não intentamos deixar repostas, mas suscitar questionamentos para que possamos ponderar como se dá o processo de inclusão educacional dos sujeitos com altas habilidades/superdotação. Em outras palavras, será que temos uma educação para todos? Esperamos que essa pergunta suscite muitos outros questionamentos que venham, mesmo que timidamente, construir reflexões sobre a temática e repercutir no cotidianos das práticas escolares. Enfim, o macrossistema “ampara”, mas a legitimação se dá no microssistema que vivencia e “sofre” tais questionamentos. REFERÊNCIAS BOBLIOGRÁFICAS ABSD, Associação Brasileira para Superdotados. Seção RS. Altas habilidades/superdotação e talentos: manual de orientação para pais e professores. Porto Alegre/ RS, 2000. 16 ALENCAR, Eunice M. L. Soriano. O aluno com altas habilidades no contexto da educação inclusiva. Movimento, Revista da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense – nº 1 (maio 200) – Niterói: EDUFF, V IL, 23 CM., 2000. FERREIRA, M. M.; BOZO, F.E.F. Educação Inclusiva: Inclusão de crianças com Síndrome de Down no ciclo I do ensino fundamental. Disponível e: http://www.unisalesiano.edu.br/encontro2009/trabalho/aceitos/CC31441044850.pdf. Acesso dia 30/03/2010. BRASIL, Ministério da Educação. Diretrizes Nacionais para educação especial na educação básica. Secretaria de Educação Especial. Brasília, DF, MEC; SEESP, 2001. Disponível em: portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/diretrizes.pdf. Acesso em 26/10/2008 às 09:00h. BRASIL, Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais: introdução aos parâmetros curriculares nacionais. Secretaria de Educação Fundamental- SEF, 1997. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro01.pdf. Acesso em 20/11/2008 às 21:00. BRASIL, Ministério da Educação. Política Pública de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, 2008. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf. Acesso em 10/10/2008 às 21:00. BRASIL, Ministério da Educação. Programa de Capacitação de Recursos Humanos do Ensino Fundamental: superdotação e talento. Secretaria de Educação Especial. Brasília, DF, MEC; SEESP 1999. 2 v. (Série atualidades pedagógicas; 7) FREITAS, S. N. F. A formação de professores na educação inclusiva: construindo a base de todo o processo. Inclusão Educação: doze olhares sobre a educação inclusiva. David Rodrigues (org.). São Paulo, Sumus, 2006, p. 161-181. FERREIRA, W. B.Inclusão x Exclusão no Brasil: reflexões sobre a formação docente dez anos após Salamanca. Inclusão Educação: doze olhares sobre a educação inclusiva. David Rodrigues (org.). São Paulo , Sumus, 2006. p. 210-238. GARCIA, R. M. C. Políticas Públicas para Educação Especial e as Formas Organizativas do Trabalho Pedagógico. Revista Brasileira de Educação Especial, Marília, set-dez, 2006, v.12, n. 3, p. 299-316. KASAR, Mc. M. Políticas Nacionais de Educação Inclusiva – discussão crítica da Resolução nº 02/2001. Revista Ponto de Vista, Florianópolis, n.3/4, p.013-025, 2002. KINCHELOE, J. A formação do professor como compromisso político: mapeando o pós-moderno.trad. Neze Maria Campos Pellanda. Porto alegre: Artes Médicas, 1997. METRAU, M. B. REIS, H.M.M.S. Políticas Públicas: altas habilidades/superdotação e literatura especializada no contexto da educação especial inclusiva. Ensaio, Rio de Janeiro, v. 15, n. 57, p. 489-510, out/dez, 2007. 17 RENZULLI, J. O Que é Esta Coisa Chamada Superdotação, e Como a Desenvolvemos? Uma retrospectiva de vinte e cinco anos. REVISTA DE EDUCAÇÃO ano XXVII, n. 1 (52), p. 75 – 131, Jan./Abr. Porto Alegre – RS, 2004. REI, E.; SCHWARTZMAN, S. Pobreza exclusão social: aspectos sócio políticos. Social 2000, 2002. . Disponível em http://www.schwartzman.org.br/simon/pdf/exclusion.pdf TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em educação, São Paulo. Atlas, 1987.
Download