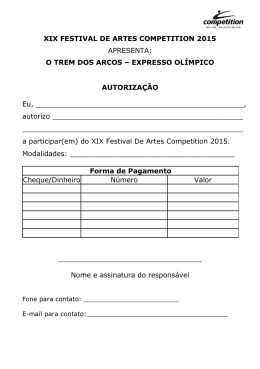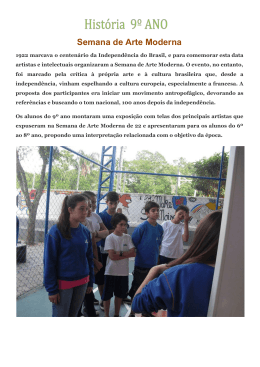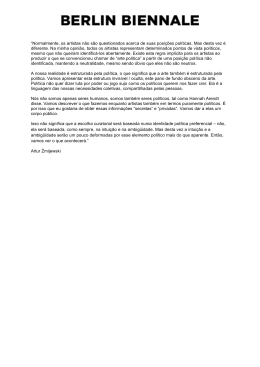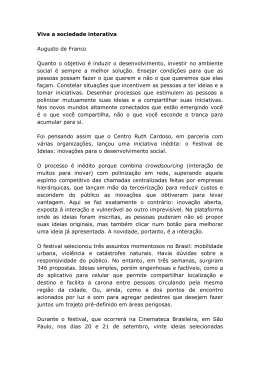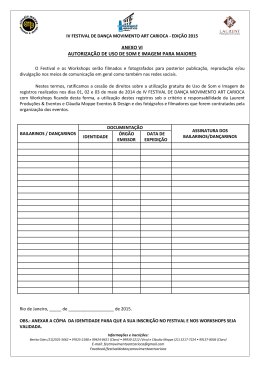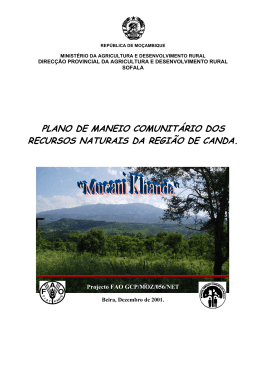Há histórias que só nós podemos contar. O festival Alkantara tem 20 para nos faz De hoje e até 10 de Junho, 20 espectáculos vindos de mais de 10 países contam histórias que ainda não ouvimos. O Alkantara Festival começa hoje em Lisboa, no São Luiz, com The Inkomati (dis)cord, do moçambicano Panaíba Canda e do sul-africano Boyzie Cekwana Festival Alkantara Tiago Bartolomeu Costa “Ninguém te contou esta história. É a tua história. E és tu quem a tem que contar.” É assim que Boyzie Cekwana, coreógrafo e encenador sul-africano, explica a uma das intérpretes de The Inkomati (dis)cord que a história que vai contar, “mesmo que pareça exagerada, tem que [lhe] ser natural, ou não merece a pena ser contada”. Cekwana é, com o moçambicano Panaibra Canda, autor da peça que hoje à noite, no São Luiz – Teatro Municipal, abre a edição 2012 do Alkantara Festival (repete amanhã, também às 21h). Incomati é o nome de um rio “que não sabe que atravessa três países”, diz-nos ele depois de um ensaio. O (des)acordo de que fala o título da peça remete para a história política de dois desses países, a África do Sul e Moçambique (o terceiro é o Zimbabwe), e para um pacto de não-agressão assinado em 1984 mas que ninguém cumpriu “porque houve quem achasse que representava o país, mais do que as suas pessoas”. Para usar palavras dos dois artistas, é sobre pessoas e as suas histórias, “sobre o que lhes pertence e sabem contar” e “os valores que representam individualmente e a que, no conjunto, um a um, se pode dar o nome de um país” que se fará este Alkantara. E a frase de Boyzie Cekwana à sua intérprete serve bem como mote para uma edição que até 10 de Junho se estende para lá dos habituais teatros (São Luiz, Maria Matos, Culturgest, Dona Maria II, Centro Cultural de Belém) para espaços tão diversos como a sala de leitura da Biblioteca Nacional, a Praia das Avencas, em Oeiras, a Estação Elevatória a Vapor dos Barbadinhos, a sala do antigo refeitório do Mosteiro dos Jerónimos e o Museu da Electricidade. As histórias, que terão a assinatura de artistas vindos da Europa (Bélgica, França, Holanda, Alemanha, Áustria), mas também de latitudes mais longínquas (Marrocos, Estados Unidos da América, Moçambique, África do Sul), serão narradas em mais de 20 espectáculos ambicionando cumprir aquilo que, no original árabe, significa a palavra alkantara: ponte. Uma ideia que o espectáculo de abertura conhece bem. “É preciso reescrever essa história. E, ao fazê-lo, sugerir uma nova definição do próprio país”, diz Boyzie, secundado por Panaibra: “Tem a ver com a aceitação do próprio passado e esse é um processo colectivo, à escala global”. The Inkomati (dis)cord, estreada em Novembro no Panorama Rio Dança, no Rio de Janeiro, procura levantar questões sobre como se ser um indivíduo, como o representar e como estabelecer um diálogo a partir do que um diz e o outro ouve. Diz Boyzie: “Só ao olharmos para o nosso corpo como um país, e não tanto um país definido por uma fronteira geográfica, conseguiremos reescrever essa história. Nós, como artistas, nós como cidadãos, precisamos de começar um processo de renegociação dos nossos próprios corpos, entendidos como os verdadeiros herdeiros de uma história que vai para lá da política.” A programação do Alkantara parece reflectir isso mesmo. Do lado internacional, a par de nomes regulares nas programações anuais dos teatros (Dood Pard, TgStan, Meg Stuart, Anne Teresa de Keersmaeker) juntam-se outros. Para além de Panaibra Canda e Boyzie Cekwana, atenções viradas para a marroquina Bouchra Ouizgen que, com Madame Plaza (São Luiz, 2 e 3 Junho), traz a Lisboa o corpo e a voz, misto de sensualidade, religião e pecado de quatro extraordinárias mulheres chamadas, no seu país, de aïtas. É um espectáculo que se inscreve numa linha de reconfiguração do encontro entre o sagrado e o profano, a dança contemporânea e o gesto quotidiano, mostrando o modo como é do Norte de África que têm vindo os melhores exemplos de um diálogo francamente exposto sobre os efeitos de uma política de descentralização cultural que tem, mas redes de produção e programação europeias, o seu iceberg mais visível. Não colhem já do mesmo modo que há uns anos calendários de programação com olhares exóticos nem quotas de representação. Os artistas que chegam este ano ao Alkantara pertencem, na sua maioria, a um contexto de produção que é mais amplo, não conhecendo efectivamente fronteiras, e que, a partir das redes, conseguiram colocar-se acima das definições limitativas da política, da economia e da própria geografia. Boyzie Cekana diz que tem tudo a ver com o modo como se entende uma ficção: “Ela começa quando se sente a necessidade de contar uma história, de moldar um futuro, e de partilhar uma experiência.” Diz Panaíbra Canda que “cada projecto permite alargar a nossa própria voz”. Vindos de África, acrescenta Boyzie, “é impossível escapar à história política e económica africana”. “Cada geração herdaa, procurando libertar-se desse peso e, assim, ‘refrescar’ a própria história. Não é que África The Inkomati (dis)cord, que abre o Alkantara, estreou em Novembro no Rio de Janeiro er pensar seja mais especial do que outras partes do mundo, mas sente-se uma presença maior da história, talvez porque a que é conhecida seja mais recente.” A história é importante “porque o passado tem reminiscências no presente e as questões que quisermos colocar hoje terão que ser conscientes disso mesmo”. O desafio que lhes é colocado, é-o à maioria dos artistas: “Ser-se vertical perante as discussões que são permanentes.” Dentro dessa linha de pensamento deveremos estar atentos ao espectáculo do encenador português Tiago Rodrigues que em Três dedos abaixo do joelho (TNDMII, 29 Maio a 3 Junho) mergulha nos arquivos da comissão de censura do Estado Novo, criando um texto a partir dos cortes que foram feitos em várias peças de teatro. Quer “apontar o que ainda é perigoso e significativo no teatro”, explica no programa. Devemos atentar ainda na dupla de coreógrafos Sofia Dias e Vítor Roriz (CCB, 1 e 2) que em Fora de qualquer presente procuram “um fora que não é geográfico nem se concilia com a clássica narrativa da viagem ou com o êxodo face à aparente falência do presente”. São dois casos em apenas seis espectáculos no festival que contam com a assinatura de artistas portugueses (três deles em co-autoria com artistas estrangeiros), situação explicada, conta a direcção do festival, assinada por Thomas Walgrave e v Ricardo Carmona, pelo corte de 38% no apoio da Direcção-Geral das Artes que “se revelou crucial para o desinvestimento em co-produções naciov nais e nos artistas portugueses.” Para este ano o orçamento é de 655 mil euros, o que representa um corte de 30% relativamente a 2010. “Para perfazer o que tínhamos idealizado necessitaríamos dos 38% que a DGA cortou. Com esse valor (124 mil euros) e usando as redes europeias poderíamos ter duplicado o valor para investir em co-produções nacionais e nos artistas portugueses”, explicam. Esta história sabemo-la de cor e, um dia, será espectáculo. Para já, é só a realidade com a qual não vamos conseguindo viver. Voltamos às questões de Boyze e Panaibra: “Quantas destas histórias têm a ver com diferença e divisão, ao invés de partilha? Como podemos tornar esta desvantaggem numa vantagem e começarmos a transcender para lá do domínio da política?” 19 655 10 Dias de festival Mil euros de orçamento Espaços diferentes de apresentação de espectáculos 46 Elementos na equipa do festival, dos quais 21 voluntários e 2 estagiários 140 610 Artistas e técnicos envolvidos Camas ocupadas na cidade ao longo dos 19 dias 100 A 120 programadores internacionais deverão acompanhar o festival
Download