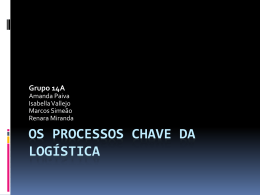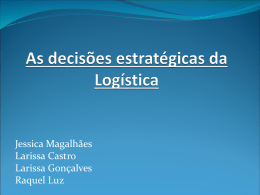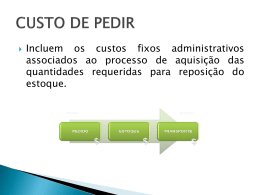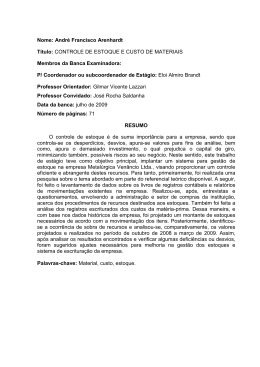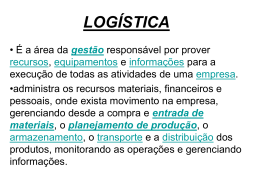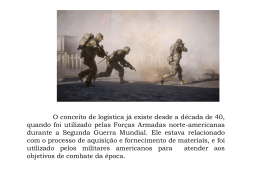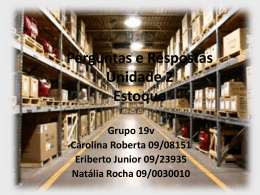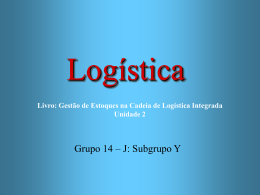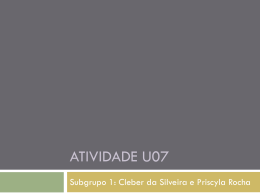FACULDADE DE TECNOLOGIA DA ZONA LESTE JOSÉ MAURO DE PAIVA Utilização de centros de distribuição avançados como forma de melhorar o nível de serviço logístico em uma empresa do setor gráfico. São Paulo 2010 JOSÉ MAURO DE PAIVA Utilização de centros de distribuição avançados como forma de melhorar o nível de serviço logístico em uma empresa do setor gráfico. Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, sob a orientação do Professor Antônio Sérgio Brejão, como requisito parcial para a obtenção do diploma de Graduação no Curso de Logística e Transportes. São Paulo 2010 PAIVA, José Mauro de Utilização de centros de distribuição como forma de redução do custo de transportes para uma empresa do setor gráfico / José Mauro de Paiva – Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, São Paulo, 2010 87 p. Orientador: Professor Antônio Sérgio Brejão Trabalho de Conclusão de Curso – Faculdade de Tecnologia da Zona Leste 1. Estoques. 2. Logística. 3. Centro de Distribuição. PAIVA, José Mauro de Utilização de centros de distribuição avançados como forma de melhorar o nível de serviço logístico em uma empresa do setor gráfico. Monografia apresentada no curso de Tecnologia em Logística e Transportes na Faculdade de Tecnologia da Zona Leste como requerido parcial para obter o título de Tecnólogo em Logística e Transportes. Aprovado em: 10 de Junho de 2010 Banca Examinadora Profº. Antonio Sérgio Brejão - Instituição: Fatec - ZL Julgamento: ____________________Assinatura: ______________ Profª Draª. Marly Cavalcanti - Instituição: Fatec - ZL Julgamento: ____________________Assinatura: ______________ Profº Me. Lincoln Nogueira Marcellos - Instituição: Fatec- Itaquaquecetuba Julgamento: ____________________Assinatura: _______________ São Paulo, 10 de Junho de 2010. Agradecimentos Aos meus pais e irmãos pelo apoio durante toda minha vida. A minha irmã Márcia pela paciência de todas as manhãs. A Denise minha namorada pelo apoio e pelos finais de semana estudando juntos. Aos meus grandes amigos Daniel, Emerson, Francisco e Luiz pela ajuda ao longo do curso. Aos professores Ricardo Polezi e Antonio Sergio Brejão por toda a atenção e apoio durante a elaboração desse trabalho. “Quem quer fazer algo, encontra um meio. Quem não quer fazer nada, encontra uma desculpa.” Provérbio Árabe Resumo PAIVA, José Mauro de, Utilização de centros de distribuição avançados como forma de melhorar o nível de serviço logístico em uma empresa do setor gráfico, 87, trabalho de conclusão de curso, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, São Paulo, 2010. O mercado consumidor mundial ao longo dos anos tornou-se cada vez mais exigente, não somente com relação a aspectos como qualidade e preço, mas também ao prazo e confiabilidade de entrega dos produtos e serviços oferecidos. Atuar dentro desse mercado de forma competitiva, agregando valor de tempo a produtos e serviços, com processos otimizados e com menor custo se faz necessário para a sobrevivência de qualquer empresa. Esse diferencial de mercado somente é atingindo em sua plenitude com o bom gerenciamento de toda a cadeia logística, desde os processos de aquisição de insumos até a distribuição do produto acabado ou de peças e serviços de pós-venda. Atender a clientes localizados nos mais diferentes pontos, com insumos e serviços de pós-venda, através de um único ponto de distribuição, eleva o tempo de ciclo do pedido e transforma o planejamento de distribuição em uma tarefa trabalhosa devido ao fracionamento dos embarques. No presente trabalho, será abordado o conceito e utilização de Centros de Distribuição Avançados como forma de melhorar o nível de serviço logístico em uma empresa do setor gráfico, o conceito foi amplamente difundido no mercado mundial como forma de atendimento a mercados consumidores geograficamente distantes dos centros produtores, de forma a elevar o nível serviço, melhorar a disponibilidade de estoques e conseqüentemente reduzir o tempo de entrega. A utilização de uma rede de distribuição mista, posicionando estoques próximo ao grande mercado consumidor, adiciona valor de tempo aos produtos, diminui o lead time de atendimento dos pedidos podendo até a reduzir os custos com transporte fracionado. Palavras- chave: logística; armazenagem; gestão de estoques; nível de serviço; centro de distribuição. Abstract PAIVA, José Mauro de, Utilização de centros de distribuição avançados como forma de melhorar o nível de serviço logístico em uma empresa do setor gráfico, 87, trabalho de conclusão de curso, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, São Paulo, 2010. The consumer market worldwide over the years has became more and more demanding, not only with aspects like quality and price, but also the time of delivery and trust of products and services offered. Operate within this competitive market, aggregating time value to products and services with optimized processes and lower cost is necessary for the survival of any company. This differential of market is only reached in its entire with proper management of all logistics chain, from the processes of acquiring inputs to distribution of finished products or pieces and service after sale. Answer to customers in many different points, with inputs and after sale services, through a single point of distribution, increases the cycle time of the request and transforms the distribution planning in a complicated task due to the splittings of shipments. In this paperwork will be discussed the concept and the use of advanced distribution centers in order to improve the level service, improve the availability of inventory and so reduce the delivery time. The application of a network of mixed distribution, placing the stocks close to the big consumer, adds value to the products of time, reduces the lead time to treatment the orders and may even reduce transportation fractionated costs. Keywords: logistics, warehousing, inventory management, service level distribution center. Listas de Figuras Figura 1: Relação entre atividades logísticas primarias e de apoio..................... 17 Figura 2: Projeção da matriz de transportes após a conclusão do Plano Nacional de Logística e Transportes......................................................................... 33 Figura 3: Curva de custo total. ................................................................................... 43 Figura 4: Efeito no custo logístico total do maior uso de estoques, armazenagem e manuseio de materiais. ................................................................. 45 Figura 5: Centro de distribuição avançado. ............................................................. 46 Figura 6: Investimento em estoque para diversos níveis de serviços. ................ 50 Figura 7: Compensação generalizada entre receitas e custo para diversos níveis de serviço........................................................................................................... 51 Figura 8: Verticalização do estoque de peças......................................................... 63 Figura 9: Conferência e embalagem de produtos................................................... 64 Figura 10: Expedição e carregamento das peças. ................................................. 65 Figura 11: Fluxo geral da operação. ......................................................................... 66 Figura 12: Quantidade de linhas de Notas Fiscais recebidas nos anos de 2007 e 2008. ........................................................................................................................... 67 Figura 13: Quantidade de linhas de Notas Fiscais expedidas nos anos de 2007 e 2008. ........................................................................................................................... 67 Figura 14: Nível de serviço de entregas expressa em 2008................................. 68 Figura 15: Tempo de entrega para Barueri e região. ............................................. 69 Figura 16: Percurso entre Diadema e Barueri......................................................... 70 Figura 17: CPDI como maior pólo gerador de demanda da região. .................... 76 Figura 18: Percentual de solicitações de peças em função do tempo no ano de 2008................................................................................................................................ 77 Figura 19: Nível de serviço de entrega do CDA Diadema após a implantação do CDA Barueri. ................................................................................................................. 81 Figura 20: Variação de demanda durante o ano de 2009. .................................... 81 Figura 21: Distribuição por região a partir do CDA Barueri em 2009. ................. 82 Lista de Tabelas Tabela 1: Atividades primarias da Logística Empresarial...................................... 18 Tabela 2: Atividades de apoio da Logística Empresarial....................................... 19 Tabela 3: Tecnologias aplicadas à Logística........................................................... 22 Tabela 4: Sete princípios básicos da distribuição................................................... 28 Tabela 5: Matriz do transporte de cargas................................................................. 32 Tabela 6: Sistemas de distribuição. .......................................................................... 46 Tabela 7: Custos e implantação e operação. .......................................................... 74 Tabela 8: Avaliação da necessidade de mão-de-obra........................................... 78 Sumário 1. Introdução ................................................................................................................... 12 2. Logística...................................................................................................................... 14 2.1 Logística Empresarial ........................................................................................... 16 2.2 Tecnologia da Informação..................................................................................... 21 3. Gestão da Cadeia de Suprimentos............................................................................... 23 4. Distribuição Física ...................................................................................................... 27 5. Transporte de Cargas................................................................................................... 31 6. Armazenagem ............................................................................................................. 35 6.1 Gestão de Estoques ............................................................................................... 36 6.2 Tipos de Estoques ................................................................................................. 38 6.2.1 Almoxarifados de Matérias-primas................................................................ 39 6.2.2 Almoxarifado de Materiais Auxiliares........................................................... 39 6.2.3 Almoxarifados de Manutenção ...................................................................... 40 6.2.4 Almoxarifados Intermediários ....................................................................... 40 6.2.5 Almoxarifado de Acabados............................................................................ 40 6.3 Objetivo do Estoque.............................................................................................. 41 6.3.1 Objetivo de Custo........................................................................................... 42 6.4 Centros de Distribuição Avançados ...................................................................... 44 7. Nível de Serviço.......................................................................................................... 49 7.1 Indicadores de desempenho – qualidade............................................................... 52 7.2 Formas de Definição de um Indicador .................................................................. 53 7.4 Gerenciamento do Nível de Serviço ..................................................................... 55 8. Estudo de Caso............................................................................................................ 58 8.1 Setor Gráfico ......................................................................................................... 58 8.1 Empresa “C” Logística.......................................................................................... 59 8.2 A Empresa “X” ..................................................................................................... 60 8.3 Descrição da Operação.......................................................................................... 62 8.3.1 A filial Diadema............................................................................................. 63 8.5 Estudo do Problema .............................................................................................. 68 8.6 Metodologia .......................................................................................................... 72 8.7 Custos de Implantação e operação ........................................................................ 74 8.8 Implantação ........................................................................................................... 76 8.9 Resultados Obtidos ............................................................................................... 80 9. Considerações Finais................................................................................................... 83 Referências Bibliográficas .............................................................................................. 86 12 1. Introdução O mercado consumidor mundial ao longo dos anos tornou-se cada vez mais exigente, não somente com relação a aspectos como qualidade e preço, mas também ao prazo e confiabilidade de entrega dos produtos e serviços oferecidos. Atuar dentro desse mercado de forma competitiva, agregando valor de tempo a produtos e serviços, com processos otimizados e com menor custo se faz necessário para a sobrevivência de qualquer empresa. Esse diferencial de mercado somente é atingindo em sua plenitude com o bom gerenciamento de toda a cadeia logística, desde os processos de aquisição de insumos até a distribuição do produto acabado ou de peças e serviços de pós-venda. Para Taylor (2005, p. 15) Pouquíssimas empresas estão preparadas para lidar com as novas pressões impostas às suas cadeias de suprimentos. Uma pesquisa realizada recentemente com executivos de empresas de manufatura indicou que 91% dos entrevistados qualificaram o gerenciamento da cadeia como ´muito importante´ ou ´fundamental´ para o sucesso das empresas. Atender a clientes localizados nos mais diferentes pontos, com insumos e serviços de pós-venda, através de um único ponto de distribuição, eleva o tempo de ciclo do pedido e transforma o planejamento de distribuição em uma tarefa trabalhosa devido ao fracionamento dos embarques. Em contrapartida, fracionar o estoque em diversos pontos de atendimento eleva os custos de movimentação, segurança e de falta de produto no local necessário. Porém uma cadeia de suprimentos nunca será tão bem coordenada a ponto de eliminar completamente os estoques ao longo do processo e os centros de distribuição (FRAZELLE; GOELZER, 1999). 13 Nesta monografia será abordado o conceito e utilização de Centros de Distribuição Avançados, o qual foi amplamente difundido no mercado mundial como forma de atendimento a mercados consumidores geograficamente distantes dos centros produtores, de forma a elevar o nível serviço, melhorar a disponibilidade de estoques e conseqüentemente reduzir o tempo de entrega. A utilização de uma rede de distribuição mista, posicionando estoques próximo ao grande mercado consumidor, adiciona valor de tempo aos produtos, diminui o tempo de atendimento dos pedidos podendo até a reduzir os custos com transporte fracionado. Frazelle e Goelzer (1999, p. 20) afirmam que: [...] os custos operacionais constituem de 2% a 5 % do custo de vendas de uma empresa. Com renovada ênfase empresarial em retorno de investimentos, minimizar o custo de distribuição tem se tornado um importante ponto para a comercialização. Balancear os custos de instalação de manutenção com a melhoria no nível de serviço e potencial crescimento de vendas que essa melhoria pode gerar é um dos principais desafios para o profissional de logística. O estudo de caso avaliará a gestão da armazenagem e distribuição de partes e peças de impressoras e fotocopiadoras envolvendo um dos principais fabricantes deste setor, juntamente com o seu operador logístico, que por uma questão de sigilo não terão seus nomes reais divulgados. Visando desenvolver uma ou mais alternativas de distribuição para a manutenção de um nível de serviço competitivo, com a finalidade de proporcionar o atendimento de pedidos sem elevação expressiva do custo para os envolvidos na operação. 14 2. Logística Ballou (2010, p.18) afirma que atividades logísticas sempre existiram dentro das organizações, ora com outra nomenclatura ou subordinadas a setores como marketing, vendas ou produção. Com o agrupamento, análise e aperfeiçoamento dessas atividades, permitiu-se o surgimento do conceito de logística com a responsabilidade de se colocar os recursos certos no local certo, no momento certo e com o menor custo possível. De acordo com Pozo (2004, p.15), o conceito de logística foi inicialmente aplicado com o intuito militar, no âmbito de prover o abastecimento de tropas e conquista de novos territórios. Na atualidade, a busca é pela conquista de novos clientes em novos mercados. Para Pozo (2004, pp. 15 - 16) A atividade logística militar na Segunda Guerra Mundial foi ponto de partida para muitos dos conceitos logísticos utilizados atualmente. Logística: denominação dada pelos gregos à arte de calcular. Essa definição grega de logística serviu de parâmetro para os militares norte-americanos utilizarem como forma de designar a arte de transporte e distribuição e suprimento das tropas em operações. A logística é a área da gestão responsável por planejar e controlar o fluxo de produtos, equipamentos e serviços necessários para a execução das atividades da uma organização. Segundo Ballou (2010, p. 17), “A logística empresarial estuda como a administração pode prover melhor nível de rentabilidade nos serviços de distribuição aos clientes e consumidores”, e a melhoria desse nível de rentabilidade só pode ser atingida através de planejamento e coordenação de atividades como movimentação e armazenagem. De acordo com Martins e Alt (2006, p. 326), “A logística é responsável pelo planejamento, operação e controle de todo o fluxo de mercadorias e informação, desde a fonte fornecedora até o consumidor [...]”. 15 Gomes e Ribeiro (2004, p. 1) complementam a definição de logística dando ênfase à gestão de custos: A logística é o processo de gerenciar estrategicamente a aquisição, a movimentação e o armazenamento de materiais, peças e produtos acabados (e os fluxos de informações correlatados) por meio da organização e dos seus canais de marketing, de modo a poder maximizar as lucratividades presentes e futuras com o atendimento dos pedidos a baixo custo. Do século XX até os dias atuais, a logística teve cinco eras. No início do século XX (fase do campo ao mercado), havia a preocupação com o escoamento da produção agrícola. De 1940 até o início da década de 1960 (era das funções segmentadas), a logística continuou com grande influência militar, com destaque na movimentação de materiais e principalmente, no armazenamento e transporte de bens. A partir do início da década de 1960 até os primeiros anos da década de 1970, (funções integradas), havia uma visão integrada, incluindo custo total e abordagem de sistemas, com foco mais amplo, transportes, armazenagem, distribuição física, estoque e manuseio de materiais. A partir da década de 1970 até a metade dos anos 80, a logística passa a enfatizar o foco no cliente, ressaltando produtividade e custos de estoques, sendo incluída como disciplina nos cursos de Administração de Empresas. Atualmente tem-se a fase logística como elemento diferenciado, destacando-se a globalização, a tecnologia da informação, a responsabilidade social e a ecologia. (GOMES; RIBEIRO, 2004). A logística abrange toda a gestão do fluxo de pedidos, desde a gestão de estoques, transportes, movimentação e embalagem, dando suporte a setores como compras e produção visando à satisfação do cliente final. Conforme Bowersox, Closs e Cooper (2007, p. 24) “A logística refere-se à responsabilidade de projetar e administrar sistemas para controlar o transporte e a localização geográfica dos estoques de materiais, produtos inacabados e produtos acabados pelo menor custo total”. 16 Fleury et al. (2009, p. 19) aponta que no Brasil, a logística teve seu início na década de 70 com a organização de tarefas e serviços voltados à gestão de transportes e distribuição física em empresas comerciais e industriais. Inicialmente, foi focada em abastecer um país de dimensões continentais e com diversos problemas em sua matriz de transporte. A logística encontra-se melhor estruturada e em um estágio mais avançado no setor automotivo, farmacêutico ou até mesmo no segmento de hipermercados, porém as empresas brasileiras ainda têm como necessidade a profissionalização de suas atividades e processos para atender a padrões cada vez exigentes e buscar por parcerias em exportações. Essa necessidade de desenvolvimento esbarra na falta de pessoal qualificado e em uma matriz de transportes ainda mal distribuída, falta de integração entre as empresas em forma de cadeia logística e pela burocracia existente nos país. A logística ainda é vista apenas como transportes para muitos ou em outros casos não recebe a atenção necessária da administração da empresa. Integrar a logística pode trazer a empresa o diferencial de mercado necessário para o crescimento da organização, agregando tempo e valor aos produtos e serviços oferecidos (FLEURY ET AL., 2010). 2.1 Logística Empresarial A crescente globalização das relações comerciais tornou o comércio internacional muito mais dinâmico e competitivo, onde a competição passa a ocorrer de forma global entre empresas das mais diferentes regiões do planeta. Em meio esse novo e complexo cenário que a logística se destaca fazendo produtos e serviços fluírem (BALLOU, 2010). A utilização da logística de forma planejada gera grandes vantagens competitivas, como o fornecimento de um serviço superior em qualidade, custo e tempo aos clientes mais importantes (Bowersox; Closs; Cooper 2007). Em termos a Logística Empresarial para Pozo (2004, p. 56) 17 A logística empresarial trata de todas as atividades de movimentação e armazenagem que facilitam o fluxo de produtos desde o ponto de aquisição de matéria-prima até o ponto de consumo final, assim como dos fluxos de informação que colocam os produtos em movimento, com o propósito de providenciar níveis de serviço adequados aos clientes a um custo razoável. A maioria dos autores, assim como Ballou (2010, p.24) divide a Logística Empresarial em atividades primárias e atividades de apoio conforme demonstrado na Figura 1. Figura 1: Relação entre atividades logísticas primarias e de apoio. Fonte: Adaptado de Ballou (2010, p. 26) Ainda de acordo com Ballou (2010, p.24), atividades primárias conforme diz o próprio nome, são atividades de importância primária para o atingimento de objetivos logísticos de custos e nível de serviço logístico. Suas atividades chaves são os transportes, a manutenção de estoques e processamento de pedidos. Essas contribuem com a maior parcela do custo total logístico, além de serem essenciais para a coordenação e o cumprimento da tarefa logística. A Tabela 1 descreve cada uma destas atividades primárias. 18 Transportes Atividade crítica dentro de uma operação logística, pois responde por 30% a 60% dos custos totais de uma cadeia logística e nenhuma empresa moderna consegue operar sem a movimentação de suas matérias-primas ou produtos. Consiste em administrar e selecionar o modal adequado para movimentar cada tipo de produto, levando em consideração roteiros e a utilização da capacidade dos veículos. Trata-se da atividade primordial para se atingir um grau satisfatório de disponibilidade de produtos, sabendo-se que nem sempre é viável produzir somente a partir de uma Manutenção de solicitação de compra. Assim, os estoques funcionam como estoques niveladores entre oferta e demanda, cabendo à logística administrá-los de forma a manter seu nível o mais baixo possível, ao mesmo tempo em que provê a disponibilidade desejada pelos clientes. É a atividade primária que inicializa toda a operação logística de movimentação através da colocação do pedido, de significativa importância, apesar de ser responsável pela Processamento menor parte dos custos logísticos. de pedidos O processamento de pedidos envolve atividades como regras de pedido, métodos de transmissão da informação e interface dos estoques com os pedidos de venda. Tabela 1: Atividades primarias da Logística Empresarial Fonte: Adaptado de Ballou (2010, p.24) Segundo Ballou (2010, p. 26), as atividades de apoio servem de suporte para as atividades primárias e são constituídas por armazenagem, manuseio de materiais, embalagem ou proteção, obtenção, programação de produtos e manutenção da informação. A Tabela 2 descreve dessas atividades de apoio. 19 Armazenagem É a atividade que envolve a administração do espaço necessário para a manutenção de estoques. A mesma engloba localização, dimensionamento de área, arranjo físico, recuperação de estoque, projeto de docas ou baias de atracação e configuração do armazém. Manuseio de materiais É a atividade associada à armazenagem e a manutenção de estoques no que diz respeito à movimentação de produtos ao longo dos locais de estocagem. Essa movimentação de itens pode ser realizada através do estoque até a linha de produção de uma fabrica ou por intermédio da transferência de produtos de um estoque para outro, envolvendo a seleção de equipamentos de movimentação, procedimentos para a formação de pedidos e balanceamento de carga de trabalho. Embalagem de proteção A embalagem para a logística tem como finalidade facilitar a movimentação de forma a garantir a integridade física dos produtos acondicionados a custo razoável, com manuseio ergonômico e ocupando o menor espaço possível dentro das áreas de estocagem. Obtenção ou aquisição: É a atividade responsável pela obtenção do produto ou matéria-prima para o sistema logístico. Essa atividade é responsável pela seleção de fornecedores, programação de compras, quantidades a serem adquiridas e da forma como o produto é comprado. Programação do produto Atividade responsável pelas quantidades agregadas que devem ser produzidas, quando e onde devem ser fabricadas, ou seja, trata como a programação dos produtos lidam com sua distribuição. Manutenção de informações Tem a função de dar suporte ao planejamento logístico com informações importantes relacionadas aos clientes e as operações. Essas informações podem ser relacionadas ao histórico de vendas, localização de clientes, padrões de entrega e níveis de estoque. Tabela 2: Atividades de apoio da Logística Empresarial Fonte: Adaptado de Ballou (2010, p. 27) O conceito de Logística Integrada aborda a logística como um processo único e não com segmentos separados em setores dentro de uma empresa. 20 Isso faz com que a visão da organização seja mais ampla e que o foco seja a gestão da cadeia logística como um todo e não apenas uma visão desmembrada por setores (BOWERSOX; CLOSS; COOPER, 2007). Para Moura et al. (2003, p.16) afirma que “[...] o processo logístico é visto como um canal de atividades interrelacionadas. A questão da abordagem do canal é fazer com que o silo não seja visto com uma peça isolada, mas como um elo crítico para o sucesso de toda a cadeia”. Essa visão organizada em forma de cadeia traz vantagem competitiva, pois as decisões são pensadas de forma a gerar a melhor solução para o todo e não apenas para um setor ou uma empresa. A crescente horizontalização das organizações trouxe grandes benefícios, pois a organização passa concentrar seus esforços em seu produto principal terceirizando atividades de apoio ou etapas do processo que não estão diretamente ligadas a sua atividade principal. Com isso, ampliam-se o número de fornecedores e a dependência do seu processo produtivo, as variações no tempo de entrega e qualidade dos produtos entregues por esses fornecedores (BOWERSOX; CLOSS; COOPER, 2007). Essa variabilidade nos processos é compensada na parceria logística dentro da cadeia que reduz custo tendo em vista que o parceiro é um especialista em determinada atividade ou processo, passando a investir tecnologia de ponta. Segundo Bowersox, Closs e Cooper (2007, p.7, grifo do autor) “O foco da gestão integrada é o menor custo total do processo, que não necessariamente significa atingir o menor custo para cada função incluída no processo.” O principal objetivo da cadeia de suprimentos é maximizar o valor global gerado. Esse valor é a diferença entre o valor do produto final para o cliente e o esforço realizado pela cadeia de suprimentos para atender ao pedido. A lucratividade da cadeia de suprimentos é o lucro total a ser dividido pelos estágios da cadeia. O sucesso de uma cadeia de suprimentos é definido 21 pela sua lucratividade (da cadeia inteira e não de partes isoladas), que, naturalmente, depende de suas receitas e custos, sendo o cliente a sua principal receita e os custos representados pelo fluxo de informações, produtos e fundos da cadeia. Gerenciar estes custos, entre os diferentes estágios, é a chave para o sucesso da cadeia. Este é o papel da cadeia de suprimentos (CHOPRA; MEINDL, 2006). 2.2 Tecnologia da Informação Tão importante quanto à correta gestão do fluxo de materiais é o fluxo da informação relacionada a essa movimentação, pois traz confiabilidade ao processo devido ao acompanhamento efetivo de todas as etapas ao longo da cadeia logística. Para Bowersox, Closs e Cooper (2007, p.37) “[...] a informação facilita a coordenação do planejamento e controle das operações cotidianas. Sem informações exatas, o esforço envolvido no sistema logístico pode ser mal direcionado.” Para Martins e Alt (2006, p. 37) A gestão do fluxo de informações passa a ter um caráter estratégico na obtenção da vantagem competitiva, objetivo final de qualquer empresa. A melhoria de eficácia da utilização de informação passa a ser preocupação de todos os colaboradores e não somente da alta gerência ou do pessoal da informática. A informação tem grande importante dentro das organizações, pois a partir dela pode-se precaver ou se preparar para oscilações do mercado ou mesmo localizar falhas e gargalos em determinados pontos da cadeia (BALLOU, 2010). Segundo Coronado (2007, p. 24) Nos últimos anos, as relações comerciais entre os parceiros da cadeia de suprimentos buscam um aprimoramento tecnológico com vistas à otimização do gerenciamento do fluxo físico de 22 produtos e de informações – logística integrada -, beneficiando o consumidor final. O desenvolvimento de novas tecnologias, tais como as descritas na Tabela 3, vêem auxiliando as empresas a melhor gerenciar suas operações logísticas e na busca pelo aprimoramento tecnológico descrito por Coronado (2007, p.24). WMS TMS Sistema de Administração de Armazéns (Warehouse Management System) - Softwares aplicados é gestão de áreas de armazenagem. Auxilia em todos os processos de controle de entrada e saída de materiais, endereçamento, controle de estoque, formação de cargas para despacho e demais atividade pertinentes ao setor. Sistema de Gerenciamento de Transporte (Transportation Management System) - Conjunto de softwares para automatização de cinco ou mais funções no segmento de transportes: auditoria no pagamento de fretes, planejamento de transporte, desempenho da transportadora, carregamento dos veículos e distância percorrida. EDI Intercâmbio Eletrônico de Dados (Eletronic Data Interchange) O Intercâmbio Eletrônico de Dados é a troca de documentos eletrônicos padronizados entre parceiros de uma cadeia de abastecimento ou entre unidades fisicamente separadas de uma mesma empresa. Código de barras Série alternada de barras e espaços em branco, representando uma informação numérica em forma de código que poderá ser lido por leitores eletrônicos. O código de barras destina-se a facilitar e aprimorar a entradas de dados em um sistema de computação. RFID Identificação por Rádio-Freqüência (Radio Frequency Identification) - Colocação de transponders (que podem ser apenas lidos ou lidos e escritos) os produtos, como alternativa ao código de barras, para permitir a identificação do produto à distância, ou fora de posicionamento, por um scanner. Tabela 3: Tecnologias aplicadas à Logística Fonte: Adaptado do Dicionário de Logística GS1 Brasil, 2010 23 3. Gestão da Cadeia de Suprimentos A globalização dos mercados é uma realidade inevitável, pois gerenciar mão-de-obra, insumos e administrar plantas produtivas em diferentes pontos do planeta é necessário para redução do custo e sobrevivência em determinados setores da indústria (BALLOU, 2010). Segundo Simchi-Levi, Kaminsky e Simchi-Levi (2003, p.75) A intensa competição nos mercados globais, a introdução de produtos com ciclos de vida reduzidos e a grande expectativa dos clientes forçaram as empresas a investir e focar sua atenção na cadeia de suprimentos. Esses fatores, juntamente com os avanços contínuos em tecnologia de comunicação e transporte (por exemplo, comunicação móvel e entrega noturna) promoveram contínua evolução da cadeia de suprimentos e das técnicas utilizadas no seu gerenciamento. A Gestão da Cadeia de Suprimentos nada mais é do que a gestão da cadeia de fornecimento de um produto ou serviço de forma global e interligada. Trata-se da avaliação da cadeia e dos departamentos de uma empresa do início ao fim do processo de aquisição, transformação, movimentação, ciclos de transportes e distribuição agregando valor ao produto ou serviço (BOWERSOX; CLOSS; COOPER, 2007). Simchi-Levi, Kaminsky e Simchi-Levi (2003, p.78) afirmam que: A gestão de cadeias de suprimentos é um conjunto de abordagens utilizadas para integrar eficientemente fornecedores, fabricantes, depósitos e armazéns, de forma que a mercadoria seja produzida e distribuída na quantidade certa, para a localização certa e no tempo certo, de forma minimizar os custos globais dos sistemas ao mesmo tempo em que atinge o nível de serviço desejado. Por outro lado Martins e Alt (2006, p. 377) definem que: O gerenciamento da cadeia de suprimentos, ou supply chain management, nada mais é do que administrar o sistema de logística integrada da empresa, ou seja, o uso de tecnologias 24 avançadas, entre elas o gerenciamento de informações e pesquisa operacional, para planejar e controlar uma complexa rede de fatores visando produzir e distribuir produtos e serviços para satisfazer o cliente. Como complemento ao que foi abordado acima, Gomes e Ribeiro (2004, p. 120) ressaltam que, enquanto o gerenciamento logístico ocupa-se dos fluxos internos de uma empresa, o gerenciamento da cadeia de suprimentos ocupa-se dos fluxos externos. O gerenciamento da cadeia de suprimentos envolve a coordenação e integração do fluxo de materiais, informações e finanças em várias empresas, dentro de um processo que vai do fornecedor ao consumidor final. O gerenciamento da cadeia de suprimentos não é inteiramente vertical, atualmente as empresas priorizam suas atividades principais, que são justamente aquelas que podem lhes oferecer uma vantagem diferencial, o restante adquire externamente. Ainda, segundo Gomes e Ribeiro (2004, p. 124), os objetivos do gerenciamento da cadeia de suprimentos são: - maximizar e tornar realidade as potenciais sinergias entre as partes da cadeia produtiva, de forma a atender o consumidor final mais eficientemente, tanto pela redução dos custos como pela adição de mais valor aos produtos finais; - reduzir os custos com a diminuição do volume de transações de informações e papéis e de transporte e estocagem; - diminuir a variabilidade da demanda de produtos e serviços entre outros; levar o produto certo ao local certo, com menor custo; - adicionar valor aos produtos por meio da criação de bens e serviços customizados e do desenvolvimento conjunto de competências distintas, pela cadeia produtiva e pelos esforços, para que fornecedores e clientes aumentem a lucratividade; - reduzir estoques e diminuir o número de fornecedores. 25 Dentro desse novo cenário, a competição passa a ocorrer entre cadeias logísticas ao invés de ocorrem entre empresas que disputam o mesmo mercado consumidor. Essa gestão do fluxo de materiais e informações permite aos seus administradores avaliar, gargalos, pontos fracos, estrutura e processos entre os participantes da cadeia visando um planejamento estratégico único (BOWERSOX; CLOSS; COOPER, 2007). A Gestão da Cadeia Suprimentos para Pozo (2004, p 22) tem como objetivo básico “minimizar e tornar realidade as potenciais sinergias entre as partes da cadeia produtiva, de forma a atender ao consumidor final mais eficientemente através da redução dos custos.” Para Simchi-Levi, Kaminsky e Simchi-Levi (2003, p.79): Em uma típica cadeia de suprimentos, as matérias-primas são adquiridas, os itens são produzidos em uma ou mais fábricas, transportados para depósitos para armazenamento temporário e, então, despachados para os varejistas ou clientes. Conseqüentemente, para reduzir os custos e aumentar o nível de serviço, as estratégias eficazes da cadeia de suprimentos devem considerar as interações nos vários níveis da cadeia. A cadeia de suprimentos, também referenciada como rede logística, é constituída por fornecedores, centro de produção, depósitos, centros de distribuição e varejistas, e ainda por matéria-prima, estoques de produtos em processo e produtos acabados que fluem entre as instalações. Essa gestão participativa da cadeia de suprimentos promove uma integração eficiente entre fornecedores, fabricantes, depósitos e armazéns em níveis estratégico, tático e operacional (BOWERSOX; CLOSS; COOPER, 2007). Chopra e Meindl (2006, p. 4), apresentam um exemplo de como funciona, na prática, a cadeia de suprimentos: Considere, por exemplo, um cliente que entra em uma loja WalMart para comprar detergente. A cadeia de suprimentos começa com o cliente e sua necessidade de obter o produto. O próximo estágio dessa cadeia de suprimentos é a loja Wal-Mart que o cliente procura. A Wal-Mart abastece suas prateleiras 26 usando um estoque que pode ter sido fornecido por um depósito de produtos acabados administrado pela própria WalMart ou por um distribuidor que utiliza caminhões fornecidos por um terceiro. O distribuidor, por sua vez, é abastecido pelo fabricante (por exemplo, a Procter & Gamble, P&G). A fábrica da P&G recebe a matéria prima de diversos fornecedores, que podem, por sua vez, ter sido abastecidos por outros fornecedores. Por exemplo: o material para embalagens pode vir da Tenneco, que pode receber matéria-prima de outros fornecedores para fabricar as embalagens. Essa abordagem eficiente de integração global da cadeia não deve ser aplicada somente aos fluxos de produtos e informações, e sim, deve ser aplicada de forma efetiva para a redução do custo geral da cadeia. A ênfase nessa parceria não está apenas ligada à redução do custo de transporte e a redução dos estoques ao longo da cadeia. A gestão do custo também deve ser participativa e abranger também os processos produtivos chegando até o fornecedor do fornecedor (POZO, 2004). Segundo Simchi-Levi, Kaminsky e Simchi-Levi (2003, p.79) Na década de 1980, as empresas descobriram novas tecnologias e estratégias de fabricação que permitem reduzir os custos e ter mais competitividade em diferentes mercados. Estratégias tais como just in time, Kamban, produção enxuta, gerenciamento da qualidade total e outras se tornaram muito populares, e uma grande quantidade de recursos foi investida na sua implementação. Nos últimos anos, entretanto, se tornou óbvio que muitas empresas já reduziram seus custos de produção ao mínimo. Parte dessas esta descobrindo que o gerenciamento eficaz da cadeia de suprimentos é o próximo passo para aumentar o lucro e a participação de mercado (market share). Esses autores, ressaltam ainda que o cliente é um componente essencial da cadeia de suprimentos, e que existe um fluxo de informações e produtos em ambos os sentidos da cadeia. Um fabricante pode receber material de diversos fornecedores, por isso grande parte das cadeias de suprimento são formadas por redes. A cadeia de suprimentos pode envolver vários estágios que incluem clientes, varejistas, atacadistas, distribuidores, fabricantes e fornecedores de peças ou de matéria-prima. 27 4. Distribuição Física A distribuição física de produtos nada mais é do que a união de processos logísticos de estocagem, transportes e de controles operacionais e financeiros que permitem transferir produtos e serviços dos centros produtores até os consumidores finais com um nível de serviço adequado e com um baixo custo logístico (POZO, 2004). Ballou (2010, p. 40) afirma que: Distribuição física é o ramo da logística empresarial que trata da movimentação, estocagem e processamento de pedidos dos produtos finais da firma. Costuma ser a atividade mais importante em termos de custo para a maioria das empresas, pois absorve cerca de dois terços dos custos logísticos. Com uma visão focada na cadeia de suprimentos, Novaes (1994, p. 67) afirma que “A distribuição física de produtos ou distribuição física são os processos operacionais e de controle que permitem transferir os produtos desde o ponto de fabricação, até o ponto em que a mercadoria é finalmente entregue ao consumidor.” A distribuição física tem início com a saída do produto da fábrica do fornecedor e termina na realização da entrega ao cliente final, englobando todos os estágios de movimentação durante esse processo (BALLOU, 2010). A estruturação de uma rede de distribuição pode variar de acordo com o segmento de atuação, mercado consumidor, tamanho e metas da empresa. Segundo Simchi-Levi, Kaminsky e Simchi-Levi (2003, p. 52), “[...] o projeto da cadeia de suprimentos para uma situação, produto ou empresa específica só pode ser definido considerando cuidadosamente as características especificas da situação”. Frazelle e Goelzer (1999, p. 76) classificam a distribuição em sete princípios básicos, conforme descrito na Tabela 4. 28 Perfil Criar e manter perfis de pedido, atividade e de planejamento, para identificar as causas básicas dos problemas no processo e nas oportunidades de inovação. Benchmark Comparar o desempenho em relação aos padrões de classe mundial para determinar desempenho, prática e diferença de infraestrutura; para quantificar oportunidades de aperfeiçoamento. Simplificar processos eliminando o máximo de conteúdo de trabalho possível. Implementar sistemas de gerenciamento de distribuição, sistemas que não necessitem de instrumentos que suportem decisões para Informatização manter o perfil da atividade do depósito para acompanhar os desempenhos e a utilização de recursos e para garantir processo de distribuição simplificado. Gradualmente justificar e programar a utilização de equipamentos Mecanização e sistemas de distribuição para melhorar a produtividade do depósito e a densidade de estocagem. Planejar os processos do depósito, a movimentação de materiais Leiaute e o sistema de estocagem para formar fluxo de material e informação entre os processos. Humanizar as operações de distribuição através do envolvimento dos funcionários no processo de mudanças dos sistemas de Humanização distribuição; através do desenvolvimento de objetivos de desempenho comum e individual e da implementação de melhorias ergonômicas nas atividades manuais. Simplificação Tabela 4: Sete princípios básicos da distribuição. Fonte: Adaptado de Frazelle e Goelzer (1999, p. 76) O ideal é a adaptação de vários aspectos e conceitos ao segmento de mercado e empresa analisada, determinando quais fatores devem ter maior ou menor relevância dentro do planejamento dos processos relacionados. (BALLOU, 2010). Em um sistema de distribuição centralizado, as decisões são tomadas em um local único visando minimizar o custo para todo o sistema ocasionando uma otimização global de todas as operações que deve estar bem definida entre todos os participantes da cadeia. Em um ambiente descentralizado, a tomada de decisão é feita de maneira individual, os impactos aos demais membros da cadeia muitas vezes não são levados em consideração (BALLOU, 2010). 29 Para operacionalização da distribuição de um produtor aos centros varejistas podem ser aplicadas três estratégias diferentes, segundo (SIMCHILEVI; KAMINSKY; SIMCHI-LEVI, 2006) conforme a seguir: Remessa direta: enviada da planta produtiva para o varejo sem a necessidade de estoques de apoios ou intermediários. Estoque no depósito: Utilização de centros de distribuição avançados próximos aos centros consumidores e abastecê-los a partir desse armazém central. Cross-docking: Consiste em distribuir o item diretamente do fabricante ao varejo utilizando-se da estrutura de um armazém para o fracionamento e configuração da carga, permanecendo pouco tempo dentro do depósito. Ainda, segundo (SIMCHI-LEVI; KAMINSKY; SIMCHI-LEVI 2006) poucos grandes varejistas utilizam apenas uma dessas estratégias. O mais comum é a utilização da modalidade de distribuição que se adequar ao produto, volume de compra, localização, prazo de entrega e custo. O planejamento de uma rede de distribuição sempre deve mesclar o atendimento ao cliente com uma boa condição de custo, pois durante esse processo falhas tornam-se perceptíveis ao cliente que aguarda seu produto no tempo combinado e na qualidade desejada. Para Martins e Alt (2006, p.405) “O marketing moderno considera a distribuição física com uma das fases mais criticas dos negócios. Dela depende parte importante da qualidade percebida pelo cliente, isto é, o que ele sente ao comparar sua satisfação com suas expectativas.” Todo o processo só ira gerar confiabilidade ao cliente quando o produto for entregue no momento certo, no local correto, livre de avarias, sem erros de 30 faturamento e com um serviço eficiente de atendimento ao cliente ou pósvendas (BOWERSOX; CLOSS; COOPER, 2007). A gestão de todo o processo de distribuição é de extrema importância devido à necessidade de se atender as necessidades do cliente, porém também é responsável por boa parte dos custos logísticos. Ao conseguir balancear um bom atendimento a baixos custos operacionais, a empresa conseguirá diferencial de mercado necessário para crescer dentro do mesmo (BOWERSOX; CLOSS; COOPER, 2007). Conforme Martins e Alt (2006, p. 406) A distribuição física representa um custo significativo para a maioria dos negócios, que impacta diretamente na competitividade, de acordo com sua velocidade, confiabilidade e controlabilidade (capacidade de rastreamento e ação), ao entregar bens aos consumidores dentro do prazo. 31 5. Transporte de Cargas O Transporte é o movimento de pessoas e mercadorias entre determinadas regiões e pode ser indicado com umas das fases mais complexas da distribuição de cargas. Segundo Pozo (2004, p. 94) “Transportes, para a maioria das firmas, é a atividade logística mais importante, simplesmente porque absorve, em média, de um a dois terços dos custos logísticos.” É uma ferramenta fundamental, pois nenhuma empresa, seja ela de qual setor for, pode operar sem a movimentação de matérias-primas ou de seus produtos acabados de alguma forma (BALLOU, 2010). A atividade de transporte é parte importante da qualidade percebida pelo cliente no momento da entrega, pois será esta que disponibilizará o produto nas mãos do cliente atendendo ou não suas expectativas. Todo o esforço logístico de nada servirá se a operação de transporte não for planejada e executada com precisão (BALLOU, 2010). Segundo Martins e Alt (2006, p. 405) A confiabilidade da entrega é fruto do recebimento da mercadoria no prazo correto, com a embalagem correta, sem danos causados pelo transporte e erros no faturamento, e com o suporte de um serviço de atendimento ao cliente que resolva seus problemas com presteza e urbanidade. O transporte no Brasil tem o predomínio do transporte rodoviário e cargas e de pessoas sobre os demais modais. Segundo Fleury et al. (2009, p. 130): No Brasil, ainda existe uma série de barreiras que impedem que todas as alternativas modais, multimodais e intermodais sejam utilizadas de forma mais racional. Isso é reflexo do baixo nível de investimentos verificado nos últimos anos com relação 32 à conservação, ampliação e integração dos sistemas de transporte. O transporte rodoviário é predominante no Brasil até os dias atuais, mesmo não tendo a melhor eficiência energética. Martins e Alt (2006, p. 406) afirma que: “No Brasil, mais da metade do transporte de cargas se faz por rodovias. O transporte rodoviário é o menos produtivo dos modais em termos de carga por hora de operador, e seu custo de mão-de-obra é elevado.” Segundo Martins e Alt (2006, p. 406) “O total de rodovias e autoestradas no Brasil é de aproximadamente 1,5 milhões de quilômetros, um crescimento de mais de 300% em duas décadas”. Atualmente, de acordo com ANTT (2007), composição da matriz de transporte brasileira é distribuída conforme indicada na Tabela 5. Tabela 5: Matriz do transporte de cargas. Fonte: Agência Nacional de Transportes Terrestres ANTT 2007 Essa predominância do modal rodoviário é confirmada através da matriz de transportes do Brasil, conforme Figura 2, situação essa destacada no PNLT 2010 (Plano Nacional de Logística e Transportes). 33 Figura 2: Projeção da matriz de transportes após a conclusão do Plano Nacional de Logística e Transportes. Fonte: Ministério do Transportes 2010 O transporte se faz importante não somente devido seu poder de agregar valor de lugar aos produtos. Erros operacionais ou escolhas equivocadas podem afetar diretamente a composição dos custos logísticos, Segundo Ballou (2010, p. 113) “O transporte representa o elemento mais importante do custo logístico na maior parte das firmas. O frete costuma absorver dois terços do gasto logístico e entre 9 a 10% do Produto Nacional Bruto[...]” Conforme Pozo (2004, p. 103) Transporte refere-se aos vários métodos para movimentar produtos. Algumas das alternativas mais populares são os modos rodoviários, ferroviários e aeroviários. A administração da atividade de transporte geralmente envolve decidir quanto ao método de transporte, aos roteiros e à utilização da capacidade dos veículos. Enquanto o transporte adiciona valor de lugar ao produto, o estoque agrega valor de tempo. Um modelo de aproveitamento entre modais e utilização de capacidade de carga pode gerar ao transportador e embarcador uma economia de escala. Segundo Ballou (2010, 114) “Com o maior volume providenciado por esses mercados, pode-se ter utilização mais intensiva das facilidades de produção, seguida de especialização no trabalho.” 34 Essa redução dos custos de transportes, tanto no ganho em economia de escala quanto ao ganho com a utilização de diferentes tipos de modais, barateiam o custo de frete. Essa redução do custo de transporte torna a distribuição de determinados produtos possível. A economia de escala pode ser atingida com a terceirização do transporte, contratando uma empresa especializada para combinar cargas de diversos clientes com o mesmo destino dentro de um único veículo. Fraciona-se, deste modo,os custos de frete e isenta-se o fabricante de custos como os de aquisição e manutenção dos veículos, valores que poderiam ser aplicados na ampliação ou modernização do processo produtivo (BOWERSOX; CLOSS; COOPER, 2007). Segundo Martins e Alt (2006, p.406) “Possuir os próprios meios de distribuição exige imobilização de recursos, grande investimento inicial e manutenção constante, o que vem levando as empresas a fazer cada vez mais uso de terceiros.” Porém, a utilização de frota própria propicia algumas vantagens como o maior controle e rastreabilidade sobre a operação, oferecimento de um serviço dedicado ao cliente e maior flexibilidade dentro da operação. 35 6. Armazenagem A armazenagem é uma das atividades mais antigas da humanidade. A necessidade da guarda de produtos ou alimentos acompanha o ser humano desde o princípio da evolução da civilização, seja para regular a escassez de alimentos em determinados períodos ou com o intuito de realizar o comércio (BALLOU, 2010). A armazenagem aparece com forma de um amortecedor entre oferta e demanda de produtos, servindo com nivelador entre o setor produtivo e o mercado consumidor (BALLOU, 2010). Para Fleury et al. (2009, p. 154) Os consumidores, quando vão às prateleiras das lojas, esperam encontrar os produtos de que necessitam, não importando se os produtos estão a 10 ou 2.500 km de distância. Esse é o trabalho da Logística: prover disponibilidade de produtos, onde forem necessários. A armazenagem, juntamente com a movimentação interna, segundo Ballou (2010, p.152), “são componentes essenciais do conjunto de atividades logísticas. Os seus custos podem absorver de 12 a 40 % das despesas logísticas [...].” Segundo Bowersox, Closs e Cooper (2007, p. 32) Quando são necessárias instalações de distribuição em um sistema logístico, uma empresa pode escolher entre contratar os serviços de um especialista em armazenamento ou operar a própria instalação. A decisão é mais abrangente do que simplesmente selecionar uma instalação para armazenar o estoque, já que muitas atividades que agregam valor podem ser realizadas durante o tempo em que os produtos estão armazenados. Ballou (2010, p. 152) alerta que: 36 Ao contrario do transporte, que ocorre entre locais e tempo diferentes, a armazenagem e o manuseio de materiais acontece, na grande maioria das vezes, em algumas localidades fixadas. Portanto, os custos dessas atividades estão intimamente associados à seleção desses locais. Após a definição do local de instalação do depósito, a próxima decisão, segundo (BALLOU, 2010) é determinar o tamanho necessário do edifício. Ballou (2010, p. 157) afirma que: Se o inventario deve ser estocado inteiramente num espaço alugado, então não é necessário nenhum dimensionamento. Se todo o estoque deve ser guardado numa facilidade própria ou alugada, então o espaço requerido deverá atender o nível máximo de estoque para uma temporada. Entretanto, caso se empregue espaço alugado combinadamente com facilidades próprias, então o problema transforma-se em como utilizar o espaço alugado para atender as necessidades de picos de armazenagem. Isto gera utilização eficiente para as facilidades próprias ou alugadas e uso de espaço alugado em armazéns de terceiros (que é mais caro) apenas quando preciso. O tamanho ótimo do prédio será aquele que dá o custo mínimo para a combinação dos tipos de espaço físico. Martins e Alt (2006, p. 408) “As empresas devem analisar o custo efetivo do espaço, provendo um acesso adequado ao material estocado”. 6.1 Gestão de Estoques A necessidade de utilizar-se de estoques é tão antiga quanto a própria organização da sociedade em empresas. Envolve gerenciar o espaço físico que se dispõe para a realização de tarefas como o recebimento, movimentação, separação e expedição (SIMCHI-LEVI; KAMINSKY; SIMCHILEVI, 2006). Sua administração envolve a manutenção do nível de estoque tão baixos quanto possível, ao mesmo tempo em que provê a disponibilidade desejada pelos clientes (POZO, 2004). O estoque funciona como regulador do fluxo de negócios e é um termômetro entre oferta e demanda, tanto abastecendo processos produtivos 37 com insumos como atendendo ao cliente final na distribuição física do produto acabado, porém a manutenção desses itens em estoque ao longo da cadeia logística é um fator gerador de custos que segundo Ballou (2010, p. 204) “[...] podem absorver de 25 a 40% dos custos totais [...].” Cabe ao gestor de estoques equilibrar os níveis de estoque a fim de balancear o nível de estoques de cada produto com sua necessidade de fabricação ou sua disponibilidade para o atendimento a vendas, fazendo com que não ocorra parada no processo produtivo por falta de insumos e muito menos não deixando que pedidos deixem de ser atendidos por falta de produtos. Isso tudo, sem elevar os custos para que toda a operação seja competitiva com as cadeias logísticas concorrentes gerando um resultado positivo para a organização (BALLOU, 2010). Quando a quantidade de entrada de produtos é maior que a de saída, ou quando o numero de unidades recebidas é maior do que o número de unidades expedidas, o nível de estoque aumenta. Se ocorrer o contrário, mais itens saem ou são consumidos do que entram, o estoque diminui ocasionando falta de produto e conseqüente não atendimento ao cliente. O cenário ideal seria que a quantidade recebida fosse igual à que é despachada, assim o estoque mantém-se constante (MARTINS; ALT, 2006). Para Pozo (2004, p. 39) A boa administração de materiais significa coordenar a movimentação de suprimentos com as exigências de produção. Isso significa aplicar o conceito de custo total às atividades de suprimento logístico de modo a obter vantagem de contraposição da curva de custo, ou seja, o objetivo maior da administração de matérias é prover o material certo, no local de produção certo, no momento certo e em condições de utilização ao custo mínimo para a plena satisfação do cliente e dos acionistas. O planejamento da gestão de estoques pode garantir o resultado financeiro desejado pela organização e a sobrevivência da empresa, 38 fortalecendo sua posição no segmento em que atua, pois segundo Pozo (2004, p. 38): O termo controle de estoques, dentro da Logística, é em função da necessidade de estipular os diversos níveis de materiais e produtos que a organização deve manter, dentro de parâmetros econômicos. Esses materiais e produtos que compõem os estoques são: matéria-prima, material auxiliar, material de manutenção, material de escritório, material e peças em processos e produtos acabados. E a razão pela qual é preciso tomar uma decisão acerca das quantidades dos materiais a serem mantidos em estoques está relacionada com os custos associados tanto ao processo como aos custos de estocar. Devemo-nos preocupar e determinar quais são os níveis para cada item que poderemos manter economicamente. O estoque não é apenas ter capital aplicado e custos de manutenção. Uma boa gestão de estoques pode ser útil como proteção para contingências, oscilação de demanda e de preço do mercado, pois permite economias e de escala e incentiva a economia de produção (BOWERSOX; CLOSS; COOPER, 2007). Para que seja agregado valor dinâmico, o estoque dever ser posicionado próximo aos centros consumidores ou aos pontos de manufatura facilitando assim a distribuição de produtos (POZO, 2004). 6.2 Tipos de Estoques Usualmente os estoques são divididos em duas categorias, os de demanda dependente e independente. Os produtos, partes ou peças em que a demanda depende do volume do processo produtivo são classificados como demanda dependente, pois sua demanda varia conforme o volume da produção tais como as matérias-primas aplicadas no processo produtivo ou itens de embalagem (POZO, 2004). 39 Itens no qual seu consumo não está relacionado ao volume produzido pela empresa são denominados independentes, pois a sua utilização independe do processo de produção e são utilizadas apenas como material de apoio ao funcionamento da organização. Pode-se utilizar como exemplo materiais de limpeza, material para manutenção e material de escritório (BALLOU, 2010). Essas duas variações de estoques podem ser divididas ao longo do processo em pequenos almoxarifados e sua nomenclatura por variar de empresa para empresa, que segundo (POZO, 2004) são divididas em: almoxarifados de matérias-primas, almoxarifados de materiais auxiliares, almoxarifados de manutenção, almoxarifados intermediários e almoxarifado de acabados. 6.2.1 Almoxarifados de Matérias-primas Trata-se de estoque ou almoxarifado destinado a armazenagem de produtos, peças ou partes que deverão ser utilizados no processo produtivo, pois são todos os materiais adquiridos com a finalidade de serem utilizados nos processos produtivos (MARTINS; ALT, 2006). Esse grupo de estoques pode ser composto desde componentes eletrônicos para a montagem de um micro computador, peças plásticas para a montagem de um automóvel ou até madeira a ser utilizada na confecção de embalagens (POZO, 2004). 6.2.2 Almoxarifado de Materiais Auxiliares São almoxarifados com itens em que sua demanda está diretamente relacionada ao volume e ao processo produtivo da empresa, porém não fazem parte do produto acabado. Fazem parte do processo produtivo de forma 40 indireta itens como, por exemplo: lixas, óleo de corte utilizado na usinagem de peças, instrumentos de medição e etc (POZO, 2004). 6.2.3 Almoxarifados de Manutenção São almoxarifados destinados à armazenagem de itens a serem utilizados na manutenção predial e fabril da empresa, tais como parafusos, tintas, pregos, rolamentos e ferramentas. Também é comum a armazenagem de material de escritório, tais como canetas, papel, e etc. dentro desse almoxarifado. 6.2.4 Almoxarifados Intermediários São almoxarifados destinados a itens ou produtos em processo, cujo processo de fabricação ainda não se encerou. Seu local, na maioria das empresas, não obedece a uma estrutura fixa, podendo variar conforme produto ou demanda. Correspondem a todos os itens que já entraram no processo produtivo, mas que ainda não são produtos acabados. Usualmente são armazenados entre as próprias etapas do processo produtivo, tais como subconjuntos que aguardam a montagem final, peças aguardando a pintura ou a secagem da pintura para seguirem para a próxima etapa ou motores que aguardam sua montagem em uma linha de produção de veículos (MARTINS; ALT, 2006). Esse tipo de estoque deve ser amplamente combatido dentro da organização com um planejamento efetivo das tarefas e etapas, para que seja produzido apenas o que será utilizado na etapa subseqüente ao processo (POZO, 2004). 6.2.5 Almoxarifado de Acabados 41 É o local para onde são enviados todos os itens cujas etapas de produção e embalagem já foram finalizadas, ou seja, são todos os itens que já estão prontos para ser entregues aos consumidores finais. O volume de estoque de produtos acabados acompanha o volume de estoque em processos e de estoque de matéria-prima. Por esse motivo, um bom gerenciamento entre necessidades de produção e vendas é fundamental para a redução dos níveis desse estoque sem que ocorra falta de produtos para o atendimento aos clientes (MARTINS; ALT, 2006). 6.3 Objetivo do Estoque Cabe à gestão de estoques o controle das disponibilidades e das necessidades dentro de todo o processo produtivo. Seu objetivo é eliminar a falta de matéria-prima e produtos auxiliares para a perfeita execução do processo produtivo com o menor custo possível para a empresa (POZO, 2004). Segundo Bowersox, Closs e Cooper (2007, p. 144) “Estoque é um ativo atual que deve oferecer retorno sobre o capital investido. O retorno sobre investimentos em estoque é o lucro marginal sobre vendas que não ocorreria sem o estoque”. O estudo da gestão da de estoques é tão antigo quando a própria historia da administração de empresas. Segundo Martins e Alt (2006, p.167) o estoque funciona como “[...] regulador, quer do fluxo de produção, no caso do processo manufatureiro, quer do fluxo de vendas, no processo comercial [...]”. O estoque pode ser utilizado para diversas finalidades, segundo (BALLOU, 2010). Dentre elas, serve para melhorar o nível de serviço, para incentivar economias na produção, para permitir economias de escala nas compras e no transporte, para agir como proteção contra aumentos de preços, para proteger a empresa de incertezas na demanda e no tempo de ressuprimento e para servir como segurança contra contingências. 42 Para Pozo (2004, p.37) a gestão de estoques Indubitavelmente, uma das mais importantes funções da administração de materiais está relacionada com o controle de níveis de estoques. Lógica e racionalidade podem ser aplicadas com sucesso nas ações de resolução de problemas que afetam os estoques. É notório que todas as organizações de transformação devem preocupar-se com o controle de estoques, visto que desempenham e afetam de maneira bem definida o resultado da empresa. Bowersox, Closs e Cooper (2007, p. 30) afirmam que: O objetivo de uma estratégia de estoques é conseguir o desejado serviço ao cliente como o mínimo de investimento em estoques. O excesso de estoque pode compensar deficiências no projeto básico de um sistema logístico, mas acabará resultando em um custo logístico mais alto que o necessário. Segundo Fleury et al. (2009, p. 177) complementa o mesmo pensamento dizendo que “[...] a decisão pela redução contínua dos níveis de estoque da cadeia de suprimentos depende necessariamente do aumento da eficiência operacional de diversas atividades, como transporte, armazenagem e processamento de pedidos. 6.3.1 Objetivo de Custo A boa gestão de custo do estoque não é apenas o estabelecimento de sua localização e de seu nível. A questão fundamental é balancear os custos de armazenagem, gestão de pedidos e de faltas para atender a demanda do mercado. Segundo Ballou (2010, p. 213) “[...] o controle de estoques é uma questão de balancear os custos de manutenção de estoques, de aquisição e de faltas.” Pozo (2004, p. 44) reforça a mesma teoria dizendo que: “[...] o volume de estoque e sua localização são apenas uma das ações do sistema logístico. Devemos buscar o balanceamento dos custos de armazenagem, de pedidos e de falta para melhor atender à demanda de mercado [...]” segundo Figura 3. 43 Conforme Pozo (2004, p. 44) Maior estoque requer menor quantidade de pedidos, com lotes de compras maiores, o que implica menor custo de aquisição e menores problemas de falta ou atraso e, conseqüentemente, menores custos também. Somando-se os três tipos de custos que incorrem no planejamento de estoque, iremos obter uma curva de custos [...] Figura 3: Curva de custo total. Fonte: Adaptado de Pozo (2004, p. 44) Ballou (2010, p. 211) classifica os custos de estoque em três tipos: custos de manutenção; custos de aquisição ou compras e custos de falta de estoques. Custos de manutenção: Estão associados a todos os custos necessários para manter certa quantidade de mercadorias por um período de tempo. Dizem respeito ao capital imobilizado, seguros, custos de armazenagem e impostos. Custos de compra: Estão associados ao processo de aquisição das quantidades requeridas para reposição do estoque. Especificamente, os 44 custos de compram incluem: os custos de processamento de pedidos; custo de envio do pedido; custo de preparação da produção; custos com movimentação de materiais e custos relativos ao preço da mercadoria. Custos de falta: São aqueles que ocorrem caso haja demanda por itens em falta no estoque. Geralmente é classificado como custos de vendas perdidas e custos de atrasos. 6.4 Centros de Distribuição Avançados O planejamento do sistema de distribuição logístico é de grande importância para o funcionamento eficaz da operação de distribuição. Balancear os custos logísticos com um desempenho satisfatório e de forma flexível é uma tarefa complexa e que deve considerar diferentes variedades de sistemas logísticos (BOWERSOX; CLOSS; COOPER, 2007). Centros de distribuição avançados são amplamente utilizados em um ambiente onde a distribuição é realizada de forma escalonada, em que os estoques são posicionados em vários elos da cadeia de suprimentos. Tem como vantagem o rápido atendimento às necessidades dos clientes distantes dos centros produtores. Agregam valor de tempo aos produtos, pois avançam os estoques para locais mais próximos dos clientes (FLEURY ET AL., 2009). Para Ballou (2010, p. 153) “ Os custos de armazenagem e do manuseio de materiais são justificáveis, pois eles podem ser compensados com os custos de transporte e de produção [...]”. A Figura 4 evidencia essa relação entre custo de armazenagem e transporte. 45 Figura 4: Efeito no custo logístico total do maior uso de estoques, armazenagem e manuseio de materiais. Fonte: Adaptado de Ballou (2010, p. 153). Além de agregar valor de tempos os produtos, os centros de distribuição avançados, segundo Fleury et al. (2009, p. 155) [...] “possibilitam a obtenção de economias de transporte, visto que operam como centros consolidadores de carga”. Fleury et al. (2009, p. 154) entendem que os centros de distribuição avançados: Em vez de atender a um grupo de clientes diretamente dos armazéns centrais, o que poderia implicar movimentação de cargas fracionas por grandes distâncias, a utilização dos centros de distribuição avançados permite o recebimento de grandes carregamentos consolidados e, portanto, com custos de transporte mais baixos. O Transporte até o cliente pode ser feito em cargas fracionadas, mas este é realizado com movimentos de pequena distância. Este conceito é melhor representado na forma gráfica expressa na Figura 5. 46 Figura 5: Centro de distribuição avançado. Fonte: Adaptado de Fleury et al. (2009, p. 155) Fleury et al. (2009, p. 154) assim como Bowersox, Closs e Cooper (2007, p. 37) afirmam que a estrutura de distribuição pode ser realizada de forma escalona ou de forma direta. Esses conceitos são esclarecidos na Tabela 6 a seguir: Escalonado Rede de distribuição composta por um ou mais armazéns centrais e um conjuntos de armazéns, ou centros de distribuição avançados próximos as áreas de mercado. Normalmente utiliza de armazéns para criar variedades de estoques e conseguir economias de consolidação, posicionados para serem rapidamente distribuídos para atender a necessidade dos clientes. Direto São sistemas de distribuição em que os produtos são expedidos de um ou mais armazéns centrais diretamente para os clientes. Utiliza-se de embarques completos da fabrica ou armazém central para o cliente Tabela 6: Sistemas de distribuição. Fonte: Adaptado de Fleury et al. (2009, p. 154) 47 Muitas vezes o cenário ideal deve ser a mescla entre os dois modelos de distribuição. Bowersox, Closs e Cooper (2007, p. 37) entendem que “O arranjo logístico ideal é uma situação em que os benefícios inerentes das estruturas logísticas escalonadas e diretas são combinados.” Segundo Fleury et al. (2009, p. 159) A definição de posicionamento e da função das instalações de armazenagem é uma decisão estratégica. É parte de um conjunto integrado de decisões, que envolvem políticas de serviço ao cliente, políticas de estoque, de transporte e de produção, que visam prover fluxo eficiente de materiais de produtos acabados ao longo de toda a cadeia de suprimentos. Complementando Bowersox, Closs e Cooper (2007, p. 33) afirmam que: O projeto da rede de instalações preocupa-se em determinar a quantidade e a localização de todos os tipos de instalações necessárias à realização do trabalho logístico. Também é necessário determinar o que será estocado e qual a quantidade em cada instalação, bem como especificar os clientes. O posicionamento estratégico citado por Fleury et al. (2009, p. 33) também deve levar em consideração o tipo de produto e cadeia logística. Bowersox, Closs e Cooper (2007, p. 38) comparam o arranjo da cadeia logística de peças automotivas com peças para empresas industriais: [...] peças de reposição de automóveis normalmente são distribuídas aos clientes por meio da utilização de uma estratégia logística combinada. Peças específicas são estocadas em armazéns localizados a diferentes distâncias das concessionárias e lojas de varejo com base no padrão e na densidade da demanda. Como regra geral, quanto mais lenta a rotatividade de determinada peça, mais errática é a demanda e, portanto, maior o beneficio do estoque centralizado. [...] contrastante é uma empresa que vende peças de maquinas para empresas industriais. A natureza desse negócio exige uma estratégia de distribuição completamente oposta. Para oferecer um serviço superior aos clientes cujas maquinas apresentam falhas e tempo de manutenção inesperado, a 48 empresa estoca produtos com baixa rotatividade em todos os armazéns locais. 49 7. Nível de Serviço É muito comum encontrar diversas formas e praticas do nível de serviço logístico oferecido por diversas companhias. Muitos atrelam ao tempo necessário para entregar um pedido ao cliente, para outras empresas é a disponibilidade de produtos em estoque. Estas são medidas mais comuns para a avaliação do nível de serviço e tem a vantagem de ser facilmente mensuráveis em forma de indicadores (BALLOU, 2010). Segundo Fleury et al. (2009, p.56) O resultado de todo esforço logístico é o serviço ao cliente. As empresas contratam pessoas, compram equipamentos, selecionam e desenvolvem fornecedores, investem em tecnologia de informação, em capacitação gerencial, tudo com o objetivo de colocar em prática um projeto logístico capaz de diferenciá-las, de criar valor para seus clientes por meio de um serviço superior. Segundo Ballou (2010, p. 73) Nível de serviço logístico é qualidade com que o fluxo de bens ou serviços é gerenciada. É o resultado liquido de todos os esforços da logística da firma. É o desempenho oferecido pelos fornecedores aos seus clientes no atendimento dos pedidos. O nível de serviço logístico é fator-chave do conjunto de valores logísticos que as empresas oferecem a seus clientes para assegurar sua fidelidade. Como o nível de serviço logístico está associado aos custos de prover esse serviço, o planejamento da movimentação de bens e serviços deve iniciar-se as necessidades de desempenho dos clientes no atendimento de seus pedidos. A facilidade na troca de informações e com meios de transporte cada vez mais eficientes tornaram os consumidores cada vez mais exigentes e qualidade nos produtos, serviços e também nos pós-venda tendem a ser um diferencial de mercado poderoso na decisão de compra e na sobrevivência da empresa nesse mercado. Criar formas de mensurar de avaliar os padrões de qualidade surgem como importantes ferramentas para que se encontre uma 50 melhoria continua nos processos a fim de atender as mudanças das necessidades dos consumidores (BOWERSOX; CLOSS; COOPER, 2007). Para Simchi-Levi, Kaminsky e Simchi-Levi (2003, p.222) O nível de serviço é o indicador normalmente utilizado para quantificar uma conformidade de mercado da empresa. Na prática, a definição do nível de serviço pode variar de empresa para empresa, porém o nível de serviço normalmente está relacionado com a habilidade de atender a uma data de entrega do cliente - por exemplo, o percentual de todos os pedidos enviados na data de entrega prometida ou mesmo antes. Conforme Paladini (2002, p. 19) “[...] tão importante quanto produzir qualidade é gerar meios corretos para avaliá-la. Isso, por varias razões, mas, principalmente, porque, em sua essência, a qualidade é um conceito dinâmico e relativo”. A elevação do nível de serviço é proporcional à elevação dos valores em estoque conforme Figura 6, cabendo ao gestor de logística balancear os níveis de estoque, a fim de oferecer um serviço de qualidade sem onerar demais os custos operacionais (POZO, 2004). Figura 6: Investimento em estoque para diversos níveis de serviços. Fonte: Adaptado de Pozo (2004, p. 45). 51 Vendedores inteligentes criam diferentes combinações entre preço, qualidade e serviço para atrair classes diferentes de clientes. Enquanto os níveis de atividade logística e seus custos associados estão refletidos no preço e, em grau, na qualidade do produto, sua influência direta ocorre no nível de serviço (BALLOU, 2010). À medida que o nível de serviço vai aumentando e aproximando-se do oferecido pela concorrência, as vendas mostram pequeno crescimento. Aparecendo outros fatores como preço e qualidade como chaves no momento da compra. Esse é o ponto limiar no nível de serviço (BALLOU, 2010) conforme Figura 7. Figura 7: Compensação generalizada entre receitas e custo para diversos níveis de serviço. Fonte: Adaptado de Ballou (2010, p. 79). Segundo Ballou (2010, p. 77) 52 Quando o nível de serviço atinge o limite inicial, melhorias relativas ao serviço oferecido pela competição podem significar bons incentivos às vendas. Ganham-se vendas de concorrentes pela criação de um diferencial de serviço. À medida que o nível de serviço cresce mais, as vendas continuam a crescer, mas a uma taxa menor. A região definida do limiar de nível de serviço até o ponto de queda das vendas é chamada de retornos decrescentes. É a região mais importante da curva, pois é nela que a maioria da firmas opera seus sistemas de distribuição. 7.1 Indicadores de desempenho – qualidade Indicador da qualidade ou de desempenho nada mais é do que um mecanismo formulado em bases mensuráveis que atenda a um padrão na coleta de seus dados. São em sua grande maioria melhor visualizados de forma numérica ou gráfica, também conhecidos como KPI (indicador chave de desempenho) (PALADINI, 2002). Tem a função de processar um conjunto de informações com relação à meta que nada mais é do que no nível de serviço desejado, deve ser avaliado ao longo do tempo. Toda e qualquer avaliação de desempenho é baseada em informações, informações essas que precisam ser condensadas e transformadas em conhecimento de forma clara a todos sem que se altere o real significado da amostra analisada (PALADINI, 2002). Simchi-Levi, Kaminsky e Simchi-Levi (2003, p.221) afirmam que “Uma vez que o valor ao cliente está baseado nas suas percepções, ele requer indicadores que começam com o cliente. Os indicadores típicos incluem nível de serviço e satisfação do cliente.” Complementando Simchi-Levi, Kaminsky e Simchi-Levi (2003, p.221), p.223) afirmam que “[...] o desempenho da cadeia de suprimentos afeta a capacidade de prover valor ao cliente, especialmente na dimensão mais básica, que é a disponibilidade de produtos”. 53 A coleta dessas informações deve ser feita de forma planejada buscando sempre um resultado claro e imparcial da operação ou setor analisado, pois todo indicador deve expressar bases mensuráveis simples e diretas. As informações obtidas devem ser expostas de forma clara e precisa sendo fiel a amostra analisada para que gere uma real representabilidade para que seja uma real ferramenta no processo de melhoria (PALADINI, 2002). Segundo Taylor (2005, p. 170) Uma das principais estratégias para a melhoria das operações de cadeia de suprimentos é a utilização de um sólido conjunto de medidas de monitoramento do desempenho. Nesse sentido, o desafio é fazer as escolhas certar dentre dezenas de medidas disponíveis. Algumas empresas medem demais, acabando por se sobrecarregar com dados que nunca chegam a constituir um panorama coerente. Outras medem menos do que deveriam, confiando em um ou dois indicadores que não refletem o espectro completo do desempenho. 7.2 Formas de Definição de um Indicador Todo indicador fundamentalmente precisa de um objetivo para direcionar a ação de avaliação da qualidade que se desenvolverá a partir dele. Por isso, embora pareça uma informação relativamente simples, determinar corretamente o objetivo do indicador é uma fase fundamental de todo o processo de definição de um indicador (PALADINI, 2002). Para Simchi-Levi, Kaminsky e Simchi-Levi (2003, p.223) complementam afirmando que, “[...] existe a necessidade de desenvolver critérios independentes para medir o desempenho da cadeia de suprimentos. Também são necessários indicadores bem definidos, em razão da presença de muitos parceiros no processo e da exigência de um idioma comum”. Segundo Paladini (2002, p. 49) “[...] O objetivo do indicador determina o que deverá ser avaliado... Isso significa que o indicador deverá fornecer uma analise mensurável associada à evolução do objeto da avaliação segundo determinado referencial”. 54 Todo indicador esta associado a um objetivo geral que é o de desenvolver a avaliação da qualidade de bens e serviços de forma quantitativa, ou seja, fornecendo de uma forma mensurável uma analise efetiva dos processos ou produtos e sempre associada à melhoria e desenvolvimento do processo em questão. A indicação dos objetivos é o primeiro passo na definição de um indicador e serve como guia no planejamento do seu desenvolvimento e para que sua apuração seja justificada na avaliação da qualidade (PALADINI, 2002). Mesmo que seja suficientemente clara a definição dos objetivos do indicador, nem sempre a justificativa para sua utilização parecerá evidente. Isso porque o objetivo envolve o que deve ser feito e, por isso, precisa ficar bem claro. A justificativa envolve razões que nem sempre são visíveis a partir da formulação dos objetivos para Paladini (2002, p. 52) [...] muitas vezes, não se deseja que a justificativa real do emprego do indicador seja mostrada aos envolvidos no processo. Por motivos compreensíveis: pode ser que os verdadeiros aliados sejam os próprios envolvidos ou, então, porque nem sempre se deseja divulgar as razões reais da avaliação, como no caso da análise de desempenho de um grupo de pessoas cujo número deve ser reduzido (por processos de demissão, por exemplo). Todo indicador deve seguir um padrão para servir com um referencial no momento da analise de melhoria do processo ou produto ao longo do tempo. Alterações que agreguem redução de tempo ou valor em métodos, processos ou em um serviço pode ser considera melhoria. O estudo dos tempos dessa melhoria deve seguir uma padronização semelhante ao processo anterior no momento da coleta de dados para que possa ser comparada no indicador da operação, Paladini (2002, p. 53) afirma que: O conceito de melhoria enfatiza o uso de indicadores. De fato, para definir uma melhoria é fundamental que o objetivo seja corretamente estruturado, o que reforça a importância da primeira informação básica que caracteriza um indicador. Ao mesmo tempo, é necessário garantir os meios para que seja verificado seu alcance. Essa questão pressupõe 55 mensurabilidade, um aspecto que integra o próprio conceito de indicador. Note-se, assim, que objetivos mensuráveis podem ser facilmente avaliados: os números são associados a relações bem definidas, estruturados em escalas continuas. E permitem avaliar se uma mudança é, efetivamente, uma melhoria. A escolha do padrão de um indicador e da padronização da coleta de seus dados deve ser feita de forma natural, os indicadores devem avaliar a evolução do processo ao longo do período e se o mesmo está em direção ao nível de serviço ou se o processo precisa de alguma correção. 7.4 Gerenciamento do Nível de Serviço Paladini (2002, p. 193) “[...] avalia-se qualidade porque se trata de matéria de inegável relevância para a própria sobrevivência das oganizações.” Para uma real administração do nível de serviço é preciso estabelecer bases, pontos de referencia para as operações logísticas e administrativas, pois segundo Ballou (2010, p. 75) Proporcionam por escrito uma política para o nível de serviço – tais como quando mercadorias devem ser entregues após a colocação de um pedido, procedimentos para tratar devoluções ou faltas e métodos de despacho -, deixando claro aos clientes o que eles podem esperar do serviço oferecido. Estabelecer planos de contingência para greves ou desastres naturais, criar uma estrutura organizacional para implementar a política de nível de serviço e providenciar treinamento técnico ou manuais para os clientes também contribuem para melhorar as relações entre os clientes e fornecedores. Em uma ação conjunta devem-se determinar as necessidades do cliente e a relação com os pontos que influenciam o nível de serviço bem como sua forma de apuração através de indicadores de desempenho. A partir do momento que essas informações e conceitos ficam claros pode-se estabelecer o padrão de nível de serviço e planejar a operação como um todo (BALLOU, 2010). 56 Para Taylor (2005, p.170) Uma das principais estratégias para a melhoria das operações de cadeia de suprimentos é a utilização de um sólido conjunto de medidas de monitoramento do desempenho. Nesse sentido, o desafio é fazer as escolhas certas dente dezenas de medidas disponíveis. Muitos dos indicadores necessários para a coordenação da operação podem ser obtidos pelo simples acompanhamento da ordem de compra pelos processos internos da organização até o encerramento do seu ciclo no momento da entrega. Onde cada etapa do processo tende a ter um tempo limite para sua conclusão com isso o profissional de responsável deve coordenar os níveis de estoque a fim de atender as ordens no melhor prazo e custo possíveis (BALLOU, 2010). Segundo Ballou (2010, p. 83) Idealmente, uma companhia deveria ser capaz de marcar data e hora nas ordens dos clientes desde o instante que os clientes as enviam até a entrega do pedido. Algumas o fazem, mas está não é prática muito disseminada. Esta medida permite o cálculo da média e da variabilidade do tempo de ciclo de pedido, medida simples e razoável do desempenho logístico. É bem comum no ambiente empresarial medir determinadas etapas do ciclo do pedido de forma isolada como tempo de separação ou percentual de pedidos não atendidos por falta de produto (PALADINI, 2002). Obter dados básicos a partir dos clientes pode ser também uma opção, porém tem sido um dos aspectos mais difíceis da mensuração do nível de serviço. O método mais comum tem sido anexar questionários ao pedido, convidando o cliente a responder sobre assuntos como condições de pedido, prazo e qualidade da embalagem. Porém de nada serve medir o nível de serviço logístico se as necessidades do cliente não podem ser estimadas. O ideal é ajustar o nível de serviço a partir da relação vendas-serviço para um único cliente ou grupo deles. Determinando os requisitos básicos de cada 57 cliente e enquadrando em cada um dos grupos adequando o serviço para atendê-los da melhor forma possível (BALLOU, 2010). O pessoal de vendas pode ser de grande valia no momento de dimensionar o serviço desejado, pois tem um contato direto e conhecimento maior sobre o cliente em questão, entretanto vendedores são muitas vezes recompensadas pelo atendimento diferenciado a determinados clientes e podem superdimensionar o nível de serviço para atender interesses particulares, por esse motivo Ballou (2010, p. 85) afirma que: Nem todo cliente precisa ou deve ser tratado da mesma forma que outros clientes ou categorias de clientes. Como, no geral muito pouco é sabido a respeito das verdadeiras necessidades de serviço dos clientes, muitas firmas reagem simplesmente mantendo um elevado nível de serviço. Isso resulta em custo de distribuição maior que o necessário e, portanto, em maior preço final para os clientes. Ainda segundo Ballou (2010, p. 85), “Apesar de o serviço poder ser ajustado para clientes ou grupos individuais, é importante manter a generalidade tanto quanto possível.” Alguns setores da economia, como é o caso da construção civil, exigem um nível alto para as entregas, pois atrasos na entrega conseqüentemente geram atrasos na execução do projeto. Sendo assim, é de extrema importância conhecer a real necessidade serviço para se projetar o plano de serviço a fim de atender ao nível desejado com custos relativamente competitivos (BALLOU, 2010). 58 8. Estudo de Caso 8.1 Setor Gráfico A história da indústria gráfica brasileira tem seu inicio com a vinda da corte portuguesa para o Brasil. Junto com a toda a Corte Portuguesa também foram embarcadas as primeiras máquinas gráficas que originalmente seriam utilizadas pelo governo em Lisboa. Em 13 de Maio de 1808, através de um decreto do Príncipe Regente D. João VI, foi criada a Imprensa Regia no Rio de Janeiro, a qual passa a imprimir todos os atos normativos e administrativos oficiais do governo no Brasil (ABIGRAF, 2010). O setor gráfico brasileiro representa pouco mais de 1% do PIB brasileiro e 5,8% do PIB Industrial. Composto por mais de 20,3 mil empresas, sendo 88% micro e pequenas empresas. O setor gera certa de 315 mil empregos diretos e mais de um milhão de empregos indiretos faturando R$ 23 bilhões no ano de 2008 (ABIGRAF, 2010). Vinte por cento da produção nacional é destina a exportação e tem como principal destino 24 países das Américas, Caribe, Europa e Ásia. Cadernos e embalagens de papel, cartões e etiquetas são os principais produtos pelo Brasil, porém a indústria gráfica brasileira é extremamente depende do consumo interno e das oscilações da economia, pois a produção de embalagens esta diretamente ligada ao volume de produção dos demais segmentos da economia (ABIGRAF, 2010). 59 8.1 Empresa “C” Logística A empresa “C” Logística é uma das principais empresas de gestão da cadeia de suprimentos atuantes no Brasil e no mundo. Com unidades em mais de 90 países atende aos mais diferentes segmentos do mercado. A empresa foi criada em 2006, após a fusão de duas grandes empresas do setor e atualmente é administrada por um fundo de investimentos norte-americano. A partir dessa fusão é formada uma das maiores empresas de gestão da cadeia de suprimentos do mundo, com mais de 57 mil funcionários e com um faturamento anual de 6,3 bilhões de Euros já em 2007, fornecendo soluções globais e serviços de ponta a ponta para empresas de médio e grande porte dos mais diferentes setores. Até agosto de 2007, a Empresa “C” operava exclusivamente como provedora de serviços, focada na gestão de contratos logísticos, a partir desse período passa a oferecer serviços integrados de gerenciamento da cadeia de suprimentos em duas linhas de serviços: Contratos Logísticos e Gestão de Fretes. Os serviços são prestados por meio da estrutura regional, que inclui as Américas, Europa do Norte e Sul e a região da Ásia-Pacífico. Sua Divisão de Contratos Logísticos emprega mais de 6 mil pessoas, distribuídas em 60 filiais no Brasil, gerenciando mais de 450 mil metros quadrados de área de armazenagem. A empresa tem entre seus clientes companhias de diferentes setores, como automotivo, pneus, tecnologia, industrial, bens de consumo e mídia impressa, oferecendo serviços de logística inbound, apoio à manufatura, logística outbound e distribuição e logística pósvenda. Já a Divisão de Gerenciamento de Fretes conta com nove escritórios próprios e abrange todo o território nacional. A rede de escritórios oferece 60 serviços de gerenciamento de transporte de cargas aéreo, marítimo e doméstico (aéreo e rodoviário), além de desembaraço aduaneiro e seguro internacional de cargas. Com mais de 500 funcionários atende os principais setores industriais do país, entre eles: automotivo, farmacêutico, energia/ petróleo e gás, tecnologia, varejo e bens de consumo com serviços de gestão de fretes incluem transportes aéreo, marítimo e terrestre, além de outros serviços relacionados ao transporte de fretes, tais como serviços alfandegários, coleta e entrega locais, gestão de materiais e facilitação comercial. 8.2 A Empresa “X” A Empresa “X” é uma das principais empresas de tecnologia em processamento de documentos e impressão presente a mais de 40 anos do Brasil. Fundada nos Estados Unidos na década de 40 como uma pequena fábrica de produtos fotográficos, atualmente é mundialmente conhecida por sua produção de fotocopiadoras embora fabrique outros produtos como aparelhos de fax e impressoras. A fabricação de copiadoras sustentou o crescimento da Empresa “X” durante cerca de 20 anos, o que a fez crescer rapidamente e possibilitou o desenvolvimento de novas tecnologias de modo a expandir em outros segmentos até os dias atuais. Na década de 70, em seu centro de pesquisas, a empresa desenvolve o primeiro sistema operacional com interface gráfica aplicado para suas máquinas de grande porte. Alguns anos mais tarde, o sistema é apresentado a Steve Jobs durante uma visita ao centro de pesquisas. O conceito é trabalho pela Apple e posteriormente aplicado no lançamento do Macintosh e utilizado até os dias atuais nos sistemas Windows. 61 Com sua matriz brasileira localizada na cidade de Itatiaia no Estado do Rio de Janeiro, a empresa mantém filiais em: São Paulo, Diadema, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e Distrito Federal. No Brasil a empresa atua em três diferentes segmentos: produtos para escritórios (multifuncionais, impressoras, copiadoras, scanners e suprimentos), soluções de produção (impressoras digitais, impressoras copiadoras, impressoras de formulário continuo, impressoras para grandes formatos e suprimentos) e terceirização de documentos (gestão e impressão de documentos financeiros tais como extratos bancários, faturas de cartão de credito, boletos e mala direta). 62 8.3 Descrição da Operação No ano de 2002 a Empresa “X” decide terceirizar sua logística em todo Brasil, transferindo seu estoque de peças de reposição, máquinas e insumos para um armazém de 11.000m² localizado em Diadema, município do Grande ABC na Região Metropolitana de São Paulo. A empresa selecionada para a gestão de estoques e distribuição foi o operador logístico “C” Logística. A partir desse armazém, então denominado Centro Nacional de Distribuição (CND), era realizado todo o abastecimento de seus Centros de Distribuição Avançados CDAs, localizados nas cidades do Rio de Janeiro, Distrito Federal, Curitiba, Belo Horizonte e Porto Alegre. Todas as filiais são abastecidas conforme demanda a partir do CND com peças e equipamentos que serão utilizados por sua equipe técnica na manutenção de todos os equipamentos locados ou em operação no mercado. Após uma reestruturação organizacional, visando à redução de custos, dois fatores relevantes ocorrem. O CND Diadema é transferido para a cidade de Itatiaia, no estado do Rio de Janeiro, passando a ser administrado pela própria Empresa “X” no ano de 2005 e o CND Diadema é transformado em CDA e passa apenas a atender a todo o estado de São Paulo com estoques apenas de peças de reposição para os equipamentos, cuja área de armazenagem é reduzida para 1.200m². Quanto aos clientes deste novo CDA Diadema, constata-se que estão localizados, em sua grande maioria, na Região Metropolitana de São Paulo. Porém, ao longo do tempo, nota-se outro fato relevante. Há uma maior concentração de demanda para as cidades de São Bernardo do Campo e Barueri. O fato da cidade de São Bernardo do Campo se localizar a menos de 5 km de distância do CDA Diadema resulta em atendimento com prazo médio de 63 entrega de 30 minutos. Por outro lado o prazo médio entre o CDA e a cidade de Barueri era de 90 minutos, e suscetível a oscilações em decorrência de condições climáticas e do trânsito na cidade de São Paulo. O tempo maior nas entregas gera fatores negativos como ociosidade de sua equipe técnica e de máquinas locadas, insatisfação de seus clientes e situações sujeitas a multas caso os equipamentos não sejam reparados em tempo hábil. O estudo de caso abrange a distribuição realizada a partir do CDA Centro de Distribuição Avançado localizado na cidade de Diadema, estado de São Paulo. 8.3.1 A filial Diadema A filial Diadema conta um área de armazenagem de 1.200 m², onde são estocados mais de 6 mil itens diferentes para o atendimento da demanda da região, sob gestão da Empresa “C”. Figura 8: Verticalização do estoque de peças. Foto: José Mauro de Paiva 64 Operando 24 horas por dia durante todo o ano a Empresa “C” realiza as operações de: recebimento; gestão de armazenagem; logística reversa e distribuição. Figura 9: Conferência e embalagem de produtos. Foto: José Mauro de Paiva Os itens são transferidos diariamente a partir do CND através de uma transferência direta, são conferidos e classificados em “abastecimento do estoque ou cross docking”. Materiais recebidos na modalidade cross docking devem ser conferidos e destinados ao setor de transportes para que seja realizada a cobrança do frete e roteirização das entregas. Os itens destinados ao abastecimento do estoque do CDA são devidamente conferidos e estocados, ficando à disposição da equipe técnica para serem solicitados conforme a necessidade de manutenção e reposição das máquinas em campo. A distribuição a partir do CDA Diadema é realizada em quatro modalidades de transporte diferentes citadas abaixo: 65 • Modalidade Expressa carro e moto: são entregas emergenciais realizadas dentro da Região Metropolitana de São Paulo, onde o técnico aguarda no local de atendimento o envio no material para que seja finalizado o processo manutenção do equipamento. O tempo de entrega estipulado contratualmente para essa modalidade de serviço varia de 30 a 65 minutos conforme CEP (Código de Endereçamento Postal) da região conforme ANEXO A. • Modalidade Programada: as entregas são realizadas dentro da Região Metropolitana de São Paulo em até um dia útil após a solicitação do material, utilizando-se como limite máximo às 18 horas. • Modalidade Sedex: o atendimento destinado a todo o interior do estado utilizando-se do serviço de transportes dos Correios. Atendimentos para outros estados somente são permitidos, caso a filial mais próxima não possua estoque disponível do item solicitado. • Modalidade Hot Rodoviário: são entregas emergenciais destinadas ao interior do estado de São Paulo, atendidas conforme solicitação do cliente, quando o tempo de atendimento dos correios não supri a criticidade da entrega. Figura 10: Expedição e carregamento das peças. Fonte: José Mauro de Paiva 66 Respeitando essas restrições as entregas são roteirizadas e expedidas em veículos urbanos (Fiorino ou similares) e motocicletas. Também é de responsabilidade do operador a realização de toda a logística reversa no estado de São Paulo. Peças e cartuchos usados são devolvidos pela equipe técnica ao CDA Diadema, coletados pelo operador ou devolvidos com o auxilio dos Correios em caso de clientes localizados no interior do estado. O operador fica responsável pela coleta desses itens em clientes de maior demanda ou caso o item seja volumoso demais para retornar com o próprio técnico. No momento do seu recebimento os itens devem ser classificados e enviados para o CND para que sejam destinados para re-manufatura ou reciclados. Todas as etapas do fluxo de materiais podem ser observadas no abaixo na Figura 11. Figura 11: Fluxo geral da operação. 67 Nas Figuras 12 e 13 são demonstrados os comparativos entre o volume de linhas recebidas e expedidas se sua sazonalidade nos anos de 2007 e 2008. Figura 12: Quantidade de linhas de Notas Fiscais recebidas nos anos de 2007 e 2008. Figura 13: Quantidade de linhas de Notas Fiscais expedidas nos anos de 2007 e 2008. Diante da problemática apresentada, o desafio constitui-se em reduzir o tempo de atendimento aos pedidos e gerar melhorias no nível ao cliente, bem como agregar valor de tempo aos produtos sem grande elevação dos custos para os elementos envolvidos dentro da cadeia logística. 68 8.5 Estudo do Problema Com uma demanda cada vez mais pulverizada, constatou-se que até o ano de 2008 o CDA Diadema passava a não atender plenamente os clientes localizados na Região Metropolitana de São Paulo com um nível de serviço adequado que a criticidade do negócio exige como pode ser observado na Figura 14. Figura 14: Nível de serviço de entregas expressa em 2008. Em virtude da grande competição existente no mercado interno, a Empresa “X” se depara com a necessidade de se adotar medidas visando à redução nos ciclos de pedidos, o que gera uma maior preocupação com a qualidade e a acuracidade das entregas. Para a Empresa “X”, o fato de acontecer atrasos conforme Figura 15, além gerar insatisfação dos clientes gera também ociosidade em sua equipe técnica, devido ao inconveniente dos profissionais terem de aguardar no local de manutenção por um tempo maior do que necessário para o atendimento que, ao final do dia, acarreta em uma menor quantidade de clientes atendidos, prejudicando a produtividade. 69 Figura 15: Tempo de entrega para Barueri e região. Durante os últimos 2 anos observou-se que houve a migração de alguns clientes, com maior freqüência para determinadas regiões da Grande São Paulo, especialmente para as cidades de Barueri e São Bernardo do Campo. Neste cenário são destacados dois fatos relevantes. Notou-se que os clientes localizados na cidade de São Bernardo do Campo são atendidos com prazos máximos de entrega de 30 minutos, devido à proximidade com o CDA Diadema, ao passo que os clientes localizados na cidade de Barueri, localizados a cerca 40 km de distância do mesmo CDA conforme Figura 16, são atendidos com prazos de entrega maior. Devido à localização mais distante o tempo é elevado para 90 minutos, sem levar em consideração agravantes como clima e tráfego. 70 Figura 16: Percurso entre Diadema e Barueri. Fonte: Google Maps, disponível em www.maps.google.com.br Para o operador, maior tempo no ciclo de entrega é sinônimo de maior tempo para retorno dos entregadores ao CDA, ocasionando a falta de entregadores para a realização das entregas durante alguns momentos do dia e conseqüentemente atrasos, agora por falta de veículos. Esse novo modelo de configuração de distribuição atendendo clientes em diversos pontos, localizados muitas vezes a mais de 40 km de distância, tendo que enfrentar congestionamentos que se tornam cada vez mais comuns nas estradas e avenidas da Região Metropolitana de São Paulo torna a tarefa problemática. A inclusão de três ou mais motocicletas ou veículos utilitários para realização das entregas elevaria o custo fixo da operação em cerca de R$ 15.000,00 mensais, apenas amenizando problema e sem agregar valor ao serviço oferecido. Diante desse cenário, identificou-se a necessidade de se desenvolver uma alternativa para a rede de distribuição atual, posicionando estoques próximos ao principal mercado consumidor, o que adiciona valor de tempo aos produtos e serviços oferecidos, bem como diminui consideravelmente o lead 71 time no atendimento dos pedidos. Tudo isso traz benefícios como a redução considerável nos custos com transporte fracionado e elevação da satisfação do cliente final. 72 8.6 Metodologia A pesquisa será realizada avaliando de forma qualitativa e quantitativa, indicadores de desempenho de transportes já utilizados pela Empresa “X”, fabricante de impressoras, copiadoras e suprimentos para impressão e seu operador logístico por um período inicial de seis meses. A pesquisa tem como foco toda a distribuição de peças e suprimentos para impressão destinados ao estado de São Paulo dando enfoque para os clientes localizados na região de Barueri, analisando os tempos de transporte, nível de serviço e custos com essa distribuição. Os dados qualitativos e quantitativos serão obtidos através da análise dos indicadores de desempenho de transportes já utilizados pelo operador logístico vinculados a um software de TMS (Transportation Management System) em um período de seis meses. Na avaliação do custo de distribuição de cada pedido também será utilizado relatórios extraídos do TMS (Transportation Management System) de propriedade do operador logístico visando compilar o custo total de frete frente ao custo para a região. As informações passaram por um processo de classificação e tabulação em forma de planilha eletrônica de forma a indicar: Nível de serviço de entregas. Períodos com picos de demanda; Sazonalidade nas entregas. Toda a experiência adquirida na operação do CDA de Diadema será utilizada durante o novo projeto devido à semelhança entre as operações. Bases de custo com implantação de infra-estrutura, mão-de-obra e transporte 73 serão calculadas com base nos custos já conhecidos na operação em Diadema. 74 8.7 Custos de Implantação e operação Os custos e receitas da operação, instalação, infra-estrutura e transferências foram planejados conforme Tabela 7. Receita Material Handling Locação/Sublocação Área Locação/Sublocação Veiculo Transporte R$ 3.550,00 R$ R$ 17.253,60 R$ - Custo Custo de Transportes R$ 14.378,00 Custo de Indenizações Custo de Horistas Custo de Mensalistas Custo de Transporte de Pessoal Custo de Alimentação Custo de Material Consumo Custo de Limpeza Custo de Energia Elétrica Custo de Comb. e Lubrificantes Custo de Vigilância R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 3.630,00 350,00 315,00 44,00 - Custo de Prestação EDP Custo de Material Manutenção Custo de Serviços Manutenção Custo de Aluguel R$ - Custo de Consultoria R$ R$ R$ 254,00 175,00 56,00 Rateios e Tarifas R$ 105,00 Receita R$ 20.803,60 R$ 19.307,00 R$ 22.924,08 Custo de Seguros Custo de Telefone Custo de Depreciação/Amortiz. Custo de Outras Despesas Custo Receita com impostos Resultado GM 1.496,6 7,2% Tabela 7: Custos e implantação e operação. 75 Foi definida uma receita fixa de R$ 20.803,60 a fim de garantir a rentabilidade da operação mesmo com uma variação de demanda. Alocando 3 motocicletas e 1carro (furgão até 600 kg) fixos para o atendimento das entregas da região no período das 08:00 h as 20:00 h de segunda a sexta-feira. Aos sábados operando em regime de plantão. Os valores e as quantidades de veículos devem ser revistos caso o volume de entregas exceda em 10% as 350 entregas mensais previstas em comum acordo no contrato de prestação de serviços. Custos como locação da área, limpeza, energia elétrica, manutenção predial, vigilância são de responsabilidade da Empresa “X”, ficando a cargo da Empresa “C” todos os encargos sociais com relação aos funcionários, custos com subcontratação de transporte, telefonia e seguro de responsabilidade civil. O valor indicado em Rateios e Tarifas diz respeito ao arquivamento da via fixa do conhecimento de transporte rodoviário gerado para a realização de cada entrega. 76 8.8 Implantação A cidade de Barueri foi escolhida como base para o novo CDA, pois além de concentrar o maior demanda na Região Metropolitana de São Paulo, abriga o CPDI (Centro de Processamento de Documentos Inteligentes) onde a Empresa “X” realiza a impressão e gestão de documentos para diversos bancos e empresas financeiras, sendo o principal pólo gerador de demanda da região conforme pode ser observado na Figura 17. Figura 17: CPDI como maior pólo gerador de demanda da região. Nessa unidade a Empresa “X” mantém mais de 120 equipamentos realizando a impressão de extratos bancários, manuais, faturas de cartão de credito e diversos outros documentos para as principais instituições financeiras brasileiras trabalhando 24 horas por dia durante todo o ano. Uma área ociosa de 140 m² anexa ao prédio do CPDI foi escolhida como local para a instalação do CDA. Além de estar segregada dos demais departamentos e áreas produtivas, possuindo acesso com portaria exclusiva a área também se localiza próxima a central de manutenção do CPDI, facilitando assim o atendimento aos técnicos residentes no local. As obras necessárias e os custos com infra-estrutura tais como pintura, iluminação e cabeamento de rede e telefonia ficaram sob responsabilidade da Empresa “X”, cabendo ao operador a instalação de estruturas de 77 armazenagem, equipamentos de movimentação, rádio comunicador e transferências dos itens para o local. Tendo a definição do local de instalação é estabelecido o raio de atuação do novo CDA, que não deve ser conflitante com o raio de atuação do CDA Diadema. Com o raio de atuação bem definido é possível indicar quais clientes devem ser atendidos a partir do novo CDA e quais equipamentos estão em operação dentro desse raio. Com uma análise histórica da demanda do último ano foi possível definir quais os itens e suas quantidades deverão ser armazenadas para um perfeito atendimento dos clientes locais. A definição dos clientes a serem atendidos, bem como a definição de quais itens deve ser estocados e o gerenciamento de seus estoques máximos e mínimos, foram realizadas pela equipe comercial e de logística da Empresa “X”, em parceria com a área de projetos do operador, devendo ser revisada conforme variação de demanda após a implantação da operação. Devido ao perfil dos clientes da região conforme Figura 18, ficou definido pela equipe de projeto que necessariamente o CDA teria que funcionar em um horário maior que o horário comercial e também realizar atendimentos aos sábados. A partir dessa premissa ficou definido como padrão o período das 07:00 h às 21:30 h de segunda a sábado como período de atendimento padrão. Figura 18: Percentual de solicitações de peças em função do tempo no ano de 2008. 78 Após as definições de local, de raio de atuação, de quantidades de itens armazenados e de horários de atendimento, foi possível mensurar a equipe necessária para desenvolver todas as atividades internas tais como recebimento, lançamentos em sistema integrado, movimentação, separação, embalagem e monitoramento das entregas. Nesse ponto também foi necessário a avaliação do perfil e quantidade de veículos necessários para a distribuição. A experiência adquirida na administração do CDA Diadema foi utilizada para a definição da quantidade de funcionários. Foi realizada a contratação de dois conferentes para realização das atividades operacionais como conferência, separação, armazenagem, embalagem e expedição, intercalandose dois turnos, sendo o primeiro iniciando das 07:00 h as 15:30 h e o segundo das 12:30 h as 21:30 h de segunda a sábado. Conforme Tabela 8 foi realizado o comparativo entre a demanda de trabalho para a nova filial e a quantidade media diária realizada na filial Diadema. Pode-se verificar que todas as atividades devem ser realizadas por apenas um operador a cada turno. A companhia adota como percentual de segurança e fadiga dos funcionários o valor de 12%. Tabela 8: Avaliação da necessidade de mão-de-obra. Todas as atividades de gestão de transporte, monitoramento de transporte e faturamento passam a integrar as atividades da equipe do CDA 79 Diadema, assim como a gestão de indicadores de desempenho. Essa distribuição de atividades visa utilizar a sinergia existente entre as operações gerando uma redução de custo expressiva para a nova operação. Os colaboradores do novo CDA serão subordinados a mesma liderança e supervisão dos demais funcionários do CDA Diadema visando à redução de custos e melhora no fluxo de informações. 80 8.9 Resultados Obtidos O CDA avançado foi implantando em 14 de março de 2009 de forma parcial, dando inicio efetivamente em suas atividades em 01 de Abril do mesmo ano. Durante o mês de Março ocorreram problemas devido à parametrização do sistema que gerencia as solicitações de produtos pela equipe técnica, essa tarefa estava sob responsabilidade da Empresa “X”. Devido a essa falha parte das solicitações realizadas pela equipe técnica alocada na região continuou a ser direcionada para o estoque do CDA Diadema. Com o inicio efetivo das operações em Barueri pode se notar uma queda de 15 a 20% na demanda de expedição da filial Diadema, redução que já era prevista, pois esse percentual de demanda passa a ser atendido pela nova filial. Devido à diminuição da ocorrência de entregas em um raio maior do que 30 KM, pode se notar a diminuição no tempo de retorno dos entregados, caindo de uma média de 01:15 h para 00:48 h. A conseqüente diminuição no tempo de retorno dos entregadores gera maior disponibilidade de veículos em Diadema, facilitando a programação e roteirização das entregas melhorando o nível de serviço para os atendimentos realizados a partir do CDA Diadema conforme descrito na Figura 19. 81 Figura 19: Nível de serviço de entrega do CDA Diadema após a implantação do CDA Barueri. Após o terceiro mês da instalação do CDA Barueri continuou a ser observada a redução no volume de entregas e uma conseqüente ociosidade dos entregadores durante alguns períodos do dia. Problema esse solucionado com adequação dos horários de trabalho e a retirada de um funcionário do quadro de entregadores. Conforme já previsto no projeto boa parte dos atendimentos seriam destinados a própria unidade produtiva da Empresa “X” onde o CDA foi instalado, essa demanda é demonstrada nas Figuras 20. Figura 20: Variação de demanda durante o ano de 2009. 82 A solicitação de peças para a região é demonstrada conforme Figura 21, sendo que na cidade de São Paulo apenas os bairros da Lapa, Pirituba e Casa Verde passam a serem atendidos a partir do CDA em Barueri. Figura 21: Distribuição por região a partir do CDA Barueri em 2009. 83 9. Considerações Finais O mercado brasileiro tornou-se ao longo da ultima década muito mais competitivo no que se diz respeito à qualidade de seus produtos e serviços. A abertura do mercado nacional e as facilidades de importação atraíram diversas empresas do setor tecnológico e do mercado em geral, que ingressaram em nosso mercado com o auxilio de parcerias com empresas nacionais ou criando estruturas próprias no Brasil. O empresariado brasileiro precisa estar atendo a essa nova dinâmica de mercado, promovendo uma maior integração de suas atividades e processos internos (compras, PCP, marketing, logística e vendas) com os fatores externos e parceiros atuantes dentro da cadeia logística. Essa maior integração deve ter como objetivo principal gerar ao produto ou serviço um diferencial de mercado, que faça com que ele se destaque dentro de um cenário tão competitivo. É necessária a melhoria continua dos fluxos de bens e serviços com o envolvimento dos demais participantes da cadeia, fazendo com que a cadeia se torne mais forte e ágil frente às adversidades do mercado. Essa integração somente é atingida quando os participantes passam a pensar na cadeia como um todo, partilhando e participando no planejamento de demanda, estratégia de vendas, distribuição ou na infiltração em determinado mercados. O planejamento do sistema de distribuição logístico é de grande importância para o funcionamento eficaz da operação de distribuição. Balancear os custos logísticos com um desempenho satisfatório e de forma flexível é uma tarefa complexa e que deve considerar diferentes variedades de sistemas logísticos. Propor alternativas aos métodos tradicionais de distribuição se faz necessário não somente para o setor gráfico, torna-se fator fundamental para sobrevivência de qualquer empresa dentro de um mercado tão competitivo. Em um segmento como o setor gráfico que é composto em 88% 84 de micro e pequenas empresas torna problemática a distribuição em grandes centros. Avaliando os indicadores operacionais do CDA pode-se observar que ao transferir seu Centro Nacional de Distribuição para junto de sua unidade produtiva no Rio de Janeiro, a Empresa “X” passa a utilizar de grande sinergia entre seus setores de produtivos e de logística, facilitando assim o fluxo e o controle de materiais e informações ao longo da cadeia de abastecimento. Em contrapartida essa alteração afeta diretamente a logística de distribuição no Estado de São Paulo, onde está localizado seu principal mercado consumidor. Passando a ser atendida através de um CDA a região passa a sofrer devido as alterações nos tempos de atendimento e na menor disponibilidade de produtos em estoque. Paralelo a isso ocorre à migração de alguns de seus principais clientes para a região de Barueri, dificultando a distribuição devido a distancia entre as duas cidades. A instalação de uma CDA em Barueri com a conseqüente divisão do estoque em dois pontos distintos na Região Metropolitana de São Paulo agregou valor de tempo aos produtos, diminuindo consideravelmente os tempos de atendimento aos pedidos. Localizado dentro do maior pólo gerador de demanda da região o novo CDA passa a atender a 100% dos pedidos internos com prazos máximos de 25 sem a necessidade do uso de transporte. A alteração da localização do estoque traz uma significativa melhoria no nível de serviço para os demais clientes atendidos na região, reduzindo o tempo médio de entrega em certa 65%. Com a instalação do CDA Barueri pode se observar a redução na quantidade de atendimentos a partir do CDA Diadema em cerca de 25%, demanda essa foi transferida para Barueri como já era prevista no projeto. Essa diminuição dos atendimentos resultou em um menor raio de atuação para o CDA Diadema, melhorando o aproveitamento dos veículos e acelerando o retorno dos entregadores após a realização das entregas. Com um menor raio de deslocamento pode-se melhorar o planejamento de transporte beneficiando também o prestador de serviço de 85 transportes, devido ao melhor aproveitamento de sua frota e da redução no consumo de combustível e manutenção dos veículos. Viabilizar a redução dos tempos de ciclo no atendimento de pedidos através da instalação do CDA Barueri não resultou em grandes custos adicionais para os envolvidos na operação além de agregar valor de tempo aos produtos, contribuindo com a fidelização dos atuais clientes. Esse novo cenário fornece uma estrutura sólida e confiável baseada na qualidade e na confiabilidade de serviço, viabilizando a criação de novos projetos de expansão e parcerias comerciais de forma sustentável. 86 Referências Bibliográficas ANTT – Agencia Nacional de Transportes Terrestres. Disponível em: <www.antt.com.br>. Acessado em 28 de novembro de 2009. BALLOU, R. Logística Empresarial: transportes, materiais e distribuição física. São Paulo: Atlas, 2010. administração de BOWERSOX, D. J.; CLOSS, D. J.; COOPER, M. B. Gestão da cadeia de suprimentos e logística. Rio de Janeiro: Campus, 2007. CARILLO JÚNIOR, E.; BANZATO, J. M. Atualidades na Armazenagem. São Paulo: IMAM, 2003. CHOPRA, S.; MEINDL, P. Gerenciamento da cadeia de suprimentos: estratégia, planejamento e operação. São Paulo: Prentice Hall, 2006. CORONADO, Osmar. Controladoria no Atacado e Varejo: logística integrada e modelo de gestão sob a óptica da gestão econômica logisticon. São Paulo: Atlas, 2001. DIAS, Marco Aurélio P. Administração de Materiais: uma abordagem logística. São Paulo: Atlas, 1993. FLEURY, P. F.; et al. Logística Empresarial: a perspectiva brasileira; São Paulo: Atlas, 2009. FRAZELLE, E. H.; GOELZER, P. G. Distribuição de Classe Mundial; São Paulo: IMAM, 1999. GOMES, C. F. S.; RIBEIRO, P. C. C. Gestão da Cadeia de Suprimentos Integrada à Tecnologia da Informação. São Paulo: Ed. Thomson, 2004. GS1 Brasil; Dicionário de Logística. Disponível em:<www.gs1br.org>. Acessado em 12/03/2010. LOPES, A. S. et al. Gestão Estratégica de Recursos Materiais. Fundo de Cultura, 2006. MARTINS, P. G.; ALT, P. R. C. Administração de Materiais e Recursos Patrimoniais. São Paulo: Saraiva, 2006. MOURA, R. A. et al. Dicionário de Logística: Supply Chain, movimentação e armazenagem, comércio exterior, produtividade, qualidade. São Paulo: IMAM, 2004. ____________ Sistemas e Técnicas de Movimentação e Armazenagem de Materiais. São Paulo: IMAM, 2005. 87 PALADINI, E. P. Avaliação estratégica da qualidade. São Paulo: Atlas, 2002. POZO, Hamilton. Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais: uma abordagem logística. São Paulo: Atlas, 2004. REID, R. D.; SANDERS, N. R. Gestão de Operações. Rio de Janeiro: LTC Editora, 2002. RITZMAM, L. P.; KRAJEWSKI, L. J. Administração da Produção e Operações. São Paulo: Pearson - Prentice Hall, 2004. SIMCHI-LEVI, David; KAMINSKY, Philip; SIMCHI-LEVI, Edith. Cadeia de Suprimentos: Projeto e Gestão. Porto Alegre: Bookman, 2003. TAYLOR, D. A. Logística na Cadeia de Suprimentos: uma perspectiva gerencial. São Paulo: Pearson Addison -Wesley, 2005.
Download