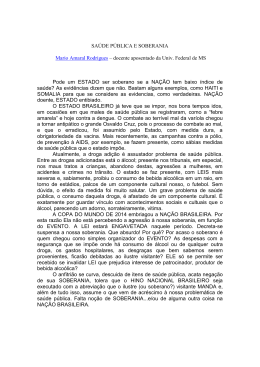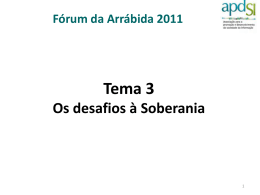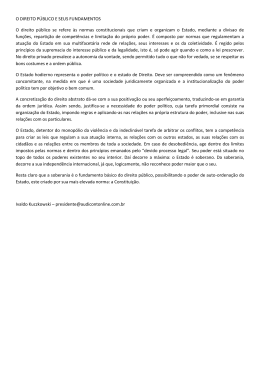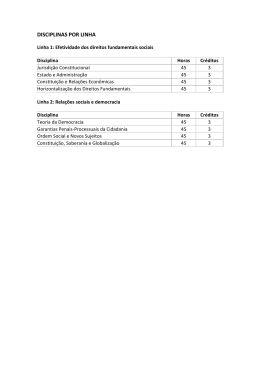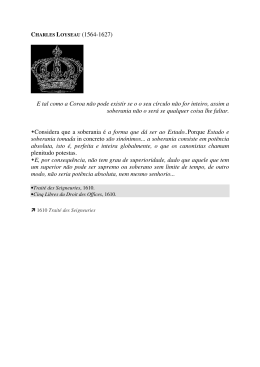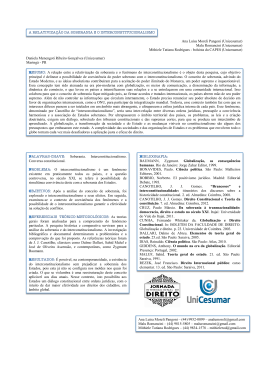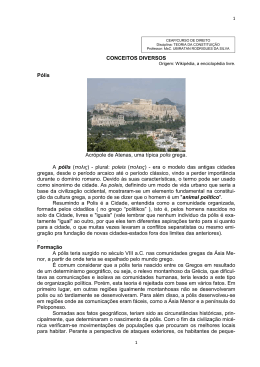Introdução FERNANDO CATROGA PEDRO TAVARES DE ALMEIDA Recorde-se que o termo res publica – coisa do povo – foi criado pelos romanos para traduzir a palavra grega politeia e conotar uma comunidade política correctamente organizada: aquela em que prevaleceria a vida boa sobre os interesses exclusivamente particulares. Ideal a que também se chamará virtude política. Para isso, ter-se-ia de saber combinar o melhor de cada tipo “constitucional” conhecido e evitar os seus contrários (tirania, oligarquia, oclocracia). De onde a sua caracterização – herança grega – como sistema “misto”, “ponderado”, “equilibrado”, pois, por ele, todos os que gozassem de capacidade cívica teriam participação no governo da coisa pública. O que implicava a institucionalização do confronto deliberativo dos interesses, em ordem a alcançarem-se os consensos necessários para a superação, pelo uso da palavra e da razão, do homem natural pelo homem animal político. Estas premissas são o núcleo forte do ponto de partida do projecto que, agora, se dá a ler – e a ver – sob o título de Res publica: Cidadania e Representação Política em Portugal, 1820-1926. E a sua integração no contexto das comemorações do centenário da implantação da República em Portugal é pertinente. Com efeito, a ideia de revolução que a impulsionou, se prometia rupturas, também desejava aprofundar o que, na história do povo português, podia ser eleito como momento precursor da democratização do país, com destaque para as revoluções Vintista, Setembrista e Patuleia. É verdade que o regime republicano se opunha ao monárquico. Todavia, se, durante séculos, fez doutrina a tese segundo a qual a monarquia geraria, inevitavelmente, a tirania, há muito tempo se achava que aquela, desde que não concentrasse o poder nas mãos de um só, poderia ser, tal como a república na sua acepção estrita, politicamente virtuosa. Além do mais, várias experiências históricas mostravam que as repúblicas também podiam degenerar em cesarismos e despotismos diversos. Daí que, quando, em nome dos direitos naturais do homem e das novas teorias sobre o pacto social, na Europa continental, o absolutismo começou a ser derrubado e se iniciou a difícil constitucionalização (escrita) do princípio monárquico, este aparecesse 2 qualificado como uma “monarquia cercada por instituições republicanas”, lugar onde o próprio rei não podia furtar-se ao império da isonomia. Este contexto justifica o horizonte cronológico escolhido, tendo em vista captar as mudanças e as continuidades que o atravessaram. Rejeitado o mandato imperativo e a reposição do modelo da representação corporativa – o que não significou que, em novos contextos, a sua proposta não venha a ser reactualizada, ou que tenha conhecido um suplemento de vida na segunda câmara prevista pela Carta Constitucional (1826) –, um novo fundamento para o poder é convocado: a soberania nacional, preceito que será compartilhado pelas Constituições monárquicas de 1822 e 1838, e pela republicana de 1911. Seguia-se, assim, a lição francesa (materializada na Constituição monárquica de 1791 e na espanhola de 1812), já que nem sequer os republicanos acolheram a tradição do republicanismo baseado na soberania popular. O que ajuda a perceber melhor, tanto a recusa da democracia directa e do sufrágio universal, como a longa incapacitação (como eleitor e como elegível) do vasto campo dos chamados cidadãos passivos, justificada por critérios patrimoniais, de cariz “iluminista” e de género. E os republicanos, apesar de, na fase da propaganda, terem prometido alterar as coisas, não romperam com tais restrições. Seja como for, em todo o período em análise, verifica-se que a passagem da soberania nacional, de potência a acto, teve no indivíduo-cidadão o mediador por excelência da escolha dos seus representantes. Tratava-se, porém, de uma representação indirecta e nacional, onde aqueles deviam agir de acordo, não com interesses particulares e localistas, mas à luz do que a razão ditava como o mais adequado ao bem comum. Só assim a lei seria virtuosa, requisito que tinha na separação e equilíbrio dos poderes a outra face da sua concretização. Postulada a soberania como una e indivisível, também una e indivisível teria de ser a nação que lhe dava alma e o Estado que a corporizava. Se estas características são comuns aos paradigmas externos de referência, não se olvida, contudo, que, em Portugal, o processo de constitucionalização também quis nacionalizar a ideia de Império. Esse já foi o grande desígnio da Constituição de 1822 e, perdido o Brasil, continuará a sê-lo até à descolonização. Aqui se finou o sonho de uma só nação, do Minho a Timor. Por sua vez, dela igualmente derivaram outras consequências institucionais, que se irão reflectir, quer na adopção do unicameralismo (1822) e do bicameralismo (Carta Constitucional de 1826; Constituições de 1838 e de 1911), quer nos debates sobre a formação da Câmara Alta (nomeação régia, eleição corporativa, eleição directa). E se, 2 3 na lógica vintista (como mais tarde na republicana), o princípio da soberania nacional encontrava na clássica divisão tripartida dos poderes a chave para o seu equilíbrio, é um bom motivo de reflexão a circunstância de, devido à sua inspiração ecléctica, a Carta Constitucional (outorgada por D. Pedro em 1826) ter previsto, como acontecia no seu modelo brasileiro (1824) um quarto poder: o poder moderador do rei, provido de dois instrumentos fundamentais, a saber, os direitos de veto e de dissolução. Esta capacidade, ligada ao poder legislativo de uma segunda câmara de origem aristocrática e de nomeação régia, marcará o constitucionalismo português oitocentista e levará a que o regresso à auto-suficiência da soberania nacional venha a ser uma das principais reivindicações dos movimentos políticos mais progressistas. No entanto, apesar da profissão de fé no equilíbrio dos poderes, é um facto que, na representação parlamentar residia a manifestação mais genuína do querer da nação e dos respectivos mecanismos de formação. Por isso, ela foi aqui escolhida para desempenhar o principal papel de protagonista de uma história que, necessariamente, terá de surpreender as traves mestras que a fazem funcionar. Pelo que à sua narração não pode ser estranha nem a emergência e a manipulação da opinião pública, nem o aparecimento de sociabilidades criadas para fomentar e sustentar concorrencialmente as candidaturas (comités eleitorais, clubes, partidos políticos), nem os actos eleitorais em si mesmo e as respectivas publicitações, nem as denúncias da sua frequente corrupção clientelar. E, para melhor se aquilatar o âmbito transnacional de todas estas características, também se procurou suscitar a comparação com outras experiências históricas (França, Espanha, Brasil, Estados Unidos da América, Suíça). Saber como se elege, exige conhecer quem se elege. Problema maior na sociologia histórica da representação política, ao qual o caso português junta algumas especificidades. De facto, se, regra geral, a edificação e consolidação de um novo tipo de Estado e de uma nova ordem social deram primazia ao saber jurídico, em Portugal, porém, certos sectores ganharam uma maior relevância. Foi o caso do relativo peso das forças armadas na vida política, instituição presente não só nos momentos (revolucionários e contra-revolucionários) de mudança, mas também no seio do Parlamento, num claro reflexo da posse, por alguns dos seus oficiais, de um saber técnico cada vez mais necessário para a modernização da sociedade. Algo de parecido se detecta em relação aos médicos, tanto no período vintista, como depois, em particular após a instauração da República. Detentores de uma ciência prática que credibilizava o consórcio iluminista entre conhecimento e progresso, nos 3 4 finais do século XIX e inícios do século XX, eles verão aumentada a sua notoriedade (política mas também profissional) com a transformação da ciência em ideologia do progresso e da emancipação. Já alguém chamou ao Parlamento a “forja da lei”. E esta é, com efeito, a finalidade última que lhe está atribuída pela constitucionalização da soberania. Tarefa da palavra e da razão argumentativa, mas a que não falta algo sem o qual o contrato social se quebraria: o halo do sagrado que dá aura à legitimidade. Revela-o, por exemplo, a adjectivação quase religiosa com que, nas conjunturas primevas, se qualifica a Constituição ou os constituintes, ou a natureza dos juramentos com que se afirma a autenticidade do compromisso que se toma para com a defesa da coisa pública. Destarte, compreende-se que o Parlamento surja, amiúde, sob o símile da “casa”, mas, sobretudo, do “templo”, consagrado e consagrador, porque espaço pontuado por práticas rituais, incluindo as das liturgias em que, sobre o livro sagrado ou não, se jura e civicamente se consagram investiduras e aclamações. Esta é a história que se quer contar. E não duvidamos que, quando, a 24 de Janeiro de 1821, foram declaradas abertas as Cortes Gerais e Extraordinárias, os primeiros constituintes, eleitos à moderna – mas sem deixarem de idealizar a memória da medieva “constituição histórica” da nação –, tinham a certeza de que estavam a viver um momento simultaneamente renascente e fundacional. E, sem se ignorar as alterações, os choques e as próprias alternativas de regime que virão a acontecer, esta releitura visa mostrar que ali se iniciou um longo ciclo que só terminou quando, na sequência do golpe de Estado de 28 de Maio de 1926, ocorreu no Parlamento, três dias depois, o que o Diário das Sessões sumariou deste modo sibilino: “Feita a chamada verifica-se que se encontram presentes 37 Srs. Deputados. Como não haja número regimental, o Sr. Presidente assim o declara. Encerra-se a sessão legislativa. Erguem-se vivas à República”. O templo da palavra fechava portas para dar lugar ao tempo do silêncio. 4
Baixar