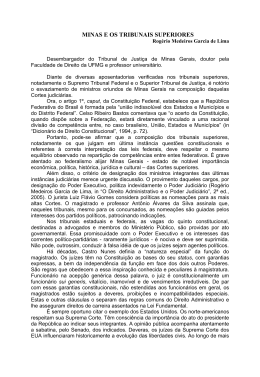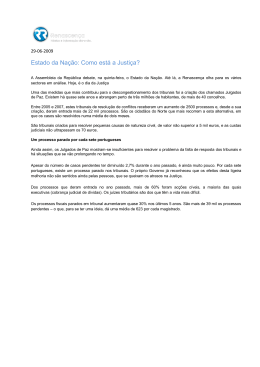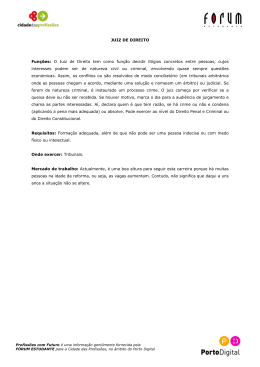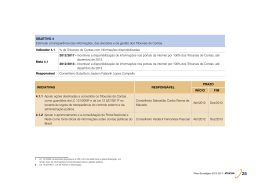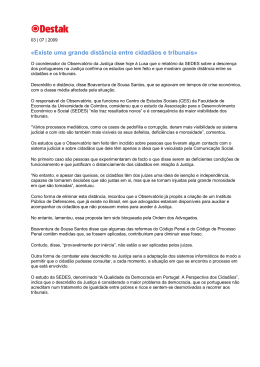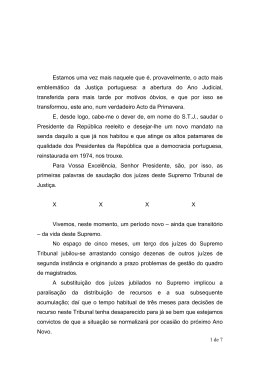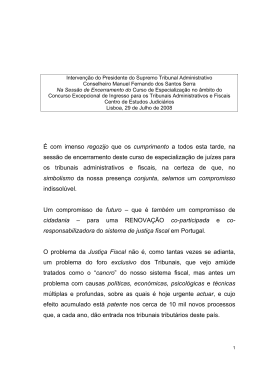Abrimos hoje – oxalá com a periodicidade que desejamos – um tempo de debate sobre questões do nosso tempo. Questões imbricadas com a justiça, a sociedade e o poder, que formam o núcleo recorrente de dificuldades sentidas, de preocupações teorizadas, de dúvidas ou certezas adiadas. Daí que tivéssemos recorrido, para este debate, a quem sabe bem mais do que nós. Os convidados que irão intervir, durante os dias de hoje e amanhã, fazem parte, indiscutivelmente, do leque daqueles que pensam, num patamar superior, a temática que nos propomos abordar. Pretendemos ouvir quem sempre se posicionou numa atitude de distanciamento em relação ao mundo da justiça, quem nunca se deixou dominar por experiências pessoais ou familiares que tornam parcial o discurso subjectivo subsequente (como tantas vezes tem acontecido, entre nós), quem tem o voo de ave capaz de subir acima dos limites do tempo. Quando, no primeiro terço do séc. XX, a música clássica europeia era dominada pelas figuras cimeiras de Ravel e Debussy e se discutia, comparativamente, a grandeza dos dois, um crítico musical teve o comentário que ficou: Ravel voa mais vezes, Debussy quando voa, sobe mais alto. Não é bem isso o que visionamos: que estes dias nos dêem o voo das águias sem nos preocuparmos com os limites do voo. Os tribunais transformaram-se nos mediadores universais das sociedades democráticas. Tudo vai parar aos tribunais; e nos conflitos de intensidade elevada ou radical a morosidade do processo é uma benesse politicamente bem-vinda que amortece o radicalismo do conflito. Com isso, o tribunal não é apenas um mediador; é também um amortecedor que filtra e civiliza o antagonismo primário dos contendores, seja qual for a natureza assumida por aquele. 2 de 14 Mas nessa mesma medida, os tribunais “legislam” cada vez mais no conflito concreto que julgam, seja este público ou privado, com intervenientes estatais ou não, incidindo sobre interesses particulares ou colectivos, numa manifestação de poder que, com frequência, choca com manifestações dos outros poderes. Se a isto adicionarmos a tendência crescente para a sindicação generalizada pela opinião pública, que atinge e abarca também os tribunais, teremos a panóplia de questões cruzadas que se nos depara. Entre nós este fenómeno é relativamente recente. Na verdade, antes de Abril/74, tudo estava sabiamente programado. Os tribunais (ou seja, aqueles que tinham verdadeiramente esse nome) julgavam apenas os conflitos privados e a-sépticos da sociedade civil, afastados que eram intencionalmente do julgamento dos conflitos públicos que interessavam ao aparelho do estado. 3 de 14 Os tribunais julgavam tão-só o direito privado inter-individual; e nisso, a teoria geral da relação jurídica, que individualizava o conflito e o descarnava de todo o colorido social, tinha um papel matricial fundador que remetia para a tecnicidade jurídica o mundo sociológico do direito. O direito laboral estava entregue a órgão travestidos de tribunais; tal como o direito administrativo (onde o Estado era sistematicamente julgado), entregue a órgãos específicos legitimados pela teoria monista incapaz de admitir que a separação de poderes não impede o controlo jurisdicional de actos dos outros poderes. Apenas o direito criminal fugia a esta pax; mas, aí, controlouse a montante a investigação criminal, definindo o Ministério Público (MºPº) como a “longa manus” do Executivo, sujeito às suas ordens e seus desejos, e, a jusante, o julgamento de crimes politicamente sensíveis com a instauração dos conhecidos Tribunais Plenários. Com um modelo assim, geraram-se, por um lado, condições para uma independência funcional, ou interna, dos juízes que se transmitiu como futura tradição, ao arrepio do que seria de supor e 4 de 14 com a excepção declarada de quem se comprometeu nos Plenários, e, por outro, abriu-se a porta a uma investigação criminal à margem da independência dos juízes. O 25 de Abril subverteu definitivamente todo este modelo; a democratização que se seguiu e a nossa inserção no espaço geopolítico da União Europeia fizeram o resto. Lentamente, as nossa incógnitas passaram a ser as incógnitas que os países da União já haviam abordado nas suas equações; e a similitude de gestos e olhares justifica que não fiquemos “orgulhosamente sós” porque a solidão é remédio procurado por quem não tem remédio para o confronto recíproco de acertos e desacertos. Suponho que os equívocos maiores do Judiciário se situam, hoje, mais na representação social que deles se faz do que na interconexão com o poder político. Com este, (com o poder político) o tempo mudou porque esse foi o palco primeiro dos desencontros na linha de fractura entre os 5 de 14 poderes eleitoralmente indirectamente legitimados legitimado e, por e aquele isso, outro só instintivamente subalternizado. Com a democratização alargada das sociedades e dos países, e o alargamento da legitimidade política para além dos limites do eleitoral, a linha de fractura foi-se atenuando e esbatendo. Ainda assim, é possível surpreender modernamente três pontos de fricção, embora de intensidade diferente. O primeiro relativo aos órgãos de gestão da judicatura (os Conselhos Superiores) no que toca especificamente ao modo de designação dos seus membros e à recíproca correlação interna de forças. Aliás, neste ponto concreto, a experiência portuguesa é particularmente impressiva. O Conselho Superior da Magistratura (C.S.M.) entronca, na sua matriz genética, no Conselho Disciplinar dos Magistrados Judiciais, criado em 1892, e seguido sucessivamente, sem 6 de 14 qualquer interrupção, pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial de 1912 e pelo Conselho Superior Judiciário de 1921. Em todos eles se detecta o choque de pulsões contraditórias que se sucedem dialecticamente: a do desejo do controlo de quem julga por membros designados politicamente para esses órgãos versus a aceitação geral de um auto-governo quase só entregue a juízes eleitos por juízes. A síntese feliz em que parece repousar o nosso actual C.S.M. pode significar menos do que parece; é que a dialéctica da vida pode transformar em nova tese uma síntese anterior. O segundo ponto de fricção refere-se à delimitação (provavelmente cada vez mais difícil) da linha de fronteira entre a função administrativo-executiva e a função jurisdicional. Obviamente que a questão não se põe hoje como há dias a colocava um analista de imprensa ao comentar um acórdão deste Supremo sobre contratos laborais desportivos, situando-a como se estivéssemos ainda no séc. XVIII e os tribunais fossem o “pouvoir nul” ou a “bouche de la loi” há muito embalsamados como relíquia passada. 7 de 14 Mas põe-se, sim, em se determinar qual o exacto ponto de equilíbrio a partir do qual a sindicância judiciária tem que parar porque pisamos já terreno do foro político expresso em opções de matriz governativa. Decisões que contendem eventualmente com direitos fundamentais ou com interesses colectivos (conexionados com relações de direito privado ou administrativo) serão talvez o palco privilegiado desses desencontros, ademais quando o direito tende cada vez mais para soluções de legalidade e não de anulação. O problema não é apenas nosso; generalizou-se. Quando – como há dias se referiu no Tribunal de Justiça da União nos 50 anos do Tratado de Roma – a Greenpeace pôs judicialmente em xeque, na Dinamarca, por razões ambientais, a construção de uma ponte entre este país e a Suécia, ou – na mesma Dinamarca – onze cidadãos questionaram em tribunal, com sucesso, a adesão a Maastrich porque a transferência de soberania fora além do permitido, e outro grupo de cidadãos judicializou Schengen, estamos verdadeiramente no epicentro de um novo fenómeno que se vai agigantar. 8 de 14 Não se trata da visão estreita do comentador acima referido; trata-se de algo novo que contende com linhas de fronteira de poderes do Estado. O terceiro ponto radica na investigação criminal, numa perplexidade que renasce como hidra contínua de interesses cruzados já que a escolha, a montante, de quem vai ser julgado pode sonegar à publicidade e à imparcialidade do Judiciário o conhecimento daquilo que se não quer dar a conhecer. Daí que saber qual o modelo investigatório e qual a estrutura e função do MºPº sejam a vexata quaestio que atravessa gerações. Queremos uma investigação centrada em juízes de instrução para, através da independência, garantir a sua autenticidade, ou queremo-la centrada no Mº Pº? E se a centrarmos no juiz, abriremos a porta à sua parcialidade acusatória a ponto de ser sensato recriar um outro juiz – o das liberdades – para restabelecer o equilíbrio perdido ou evitaremos que isso possa acontecer? 9 de 14 E queremos um MºPº hierarquizado, escalonado, “longa manus” do Executivo à boa maneira francesa, e reflexo da típica concentração política do aparelho de estado que a França sempre conheceu? Ou queremos um Mº Pº desconcentrado, mais igualizado estatutariamente, italianizado, fazendo lembrar, aqui, a dicotomia de Braudel entre estados territoriais e estados urbanos? E qual o Mº Pº que garante, afinal, a neutralidade investigatória imposta pela igualdade dos cidadãos perante a lei quando o juiz não tem lugar no sistema? Perguntas simples que transportam em si uma difusa e vaga angustia para o jantar. Mas é no interface com a sociedade civil que surgem nos tempos que correm os maiores equívocos do Judiciário. A mediação com a opinião pública é, tradicionalmente, feita pela comunicação social (C.S.); e esta é, hoje, o objecto tutelado 10 de 14 de grandes grupos económico-financeiros que não ficam indiferentes às potencialidades de penetração e condicionamento que a C.S. propicia. É pois, neste quadro de pós-modernidade que devemos ler a C.S.: um poder de facto, não escrutinado, fugindo aos cânones clássicos de controlo, que só sobrevive se tiver lucro e que terá tanto mais poder quanto mais lucro tiver. O controlo da C.S. por grupos com interesses económicos específicos (associado ao relaxamento da estabilidade do vínculo laboral do jornalista e da sua autonomia profissional) conduz, as mais das vezes, a efeitos noticiosos perversos, visíveis em mudanças de direcção da política editorial quando a estratégia empresarial o impele. Ainda agora isso terá sido provavelmente sentido com a súbita alteração de alvos a atingir, levado a cabo por um periódico; e também se viu, no coro a uma só voz de inúmeros órgãos da imprensa escrita por causa de uma recente decisão deste Supremo (mesmo com a sonegação dos factos provados como sintomaticamente referiu o escritor Manuel António Pina na sua crónica de 17 de Março) porque estava em jogo uma possível 11 de 14 inflexão de tendência jurisprudencial com efeitos nefastos nos hábitos indemnizatórios comunicacionais. É, aqui, neste cruzamento de pontos confluentes, que nos caberá perguntar qual o tipo de formação, ou deformação, da opinião pública que podemos detectar ou desnudar na representação social da justiça, e dos tribunais, quando os interesses hegemónicos do mediador desembocam numa visão informativa de sentido único. Este será provavelmente um problema das sociedades desenvolvidas; mas entre nós, este problema tem um acréscimo suplementar: o da ausência tradicional da partilha do poder. Os países acossados historicamente sempre tiveram o trauma que desembocou nisso: a França com o terror do cerco dos Habsburgos porque Carlos V e Pavia não se podiam repetir (e que levou à concentração do estado com Luís XIV e a Revolução); a Polónia com a tragédia de se encontrar no ponto de intersecção de três impérios; nós, porque tínhamos aqui ao lado a força centrípeta da Espanha. 12 de 14 Os outros foram superando o passado; em nós, o passado transformou-se num hábito. Daí que, em Portugal, todo o poder (seja ele qual for) esteja sempre na capital; a C.S. não é excepção a essa regra, o que nos reconduz a um monopólio informativo geográfico que atira às urtigas a visão plúrima que o resto do país tem. A modernidade do genial Eça de Queirós também radica aí. Eça não é moderno somente porque urbanizou e oralizou a nossa escrita; é também porque (escritor da capital e de quem, aí, detinha o poder ou andava na sua órbita) nos fornece os tipos que revemos hoje com a autenticidade da sua época. Mas isso só é possível porque a cidade, a capital e o poder se mantiveram enclausurados no mesmo lugar, sem a partilha que os faria mudar. É caso para saber se, num país assim, corremos seriamente o risco da unidimensionalidade na mediação que a C.S. faz para a sociedade civil, ou se esse risco, apesar de larvar, nunca será 13 de 14 intensivo porque a chegada da Internet vai trazer a comunicação aberta da cidadania igualitária. Perguntas e questões estas que – parafraseando um conhecido comentador radiofónico dos anos 60 - serão pertinentes, mas muito impertinentes. Luís António Noronha Nascimento 26 Abril de 2007 14 de 14
Baixar