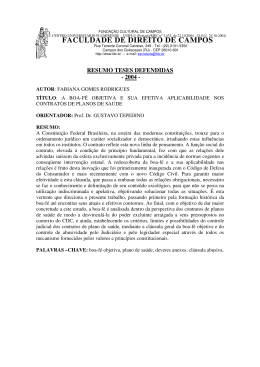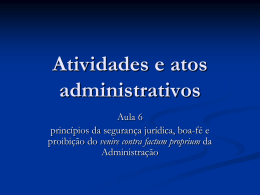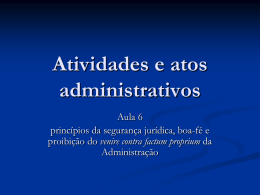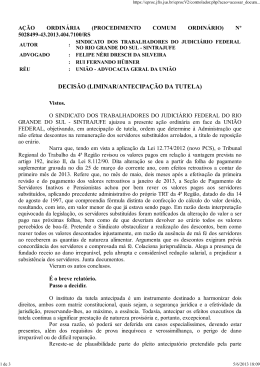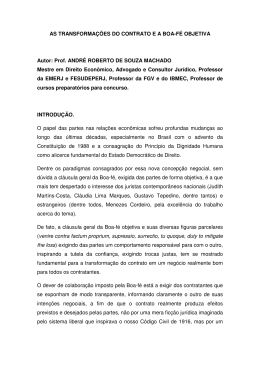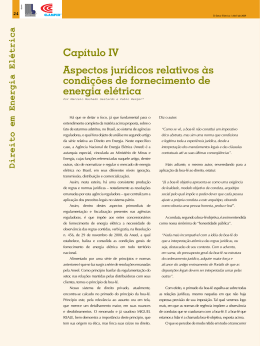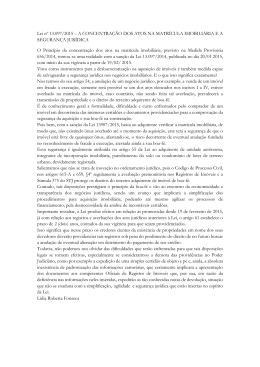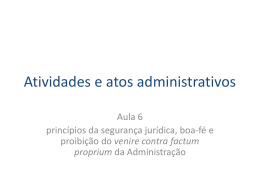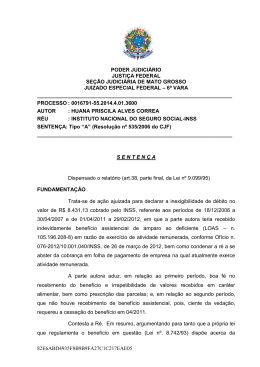ALDEMIRO REZENDE DANTAS JÚNIOR A TEORIA DOS ATOS PRÓPRIOS Elementos de identificação e cotejo com institutos assemelhados DOUTORADO EM DIREITO CIVIL PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA SÃO PAULO – 2006 ALDEMIRO REZENDE DANTAS JÚNIOR A TEORIA DOS ATOS PRÓPRIOS Elementos de identificação e cotejo com institutos assemelhados Tese apresentada à Banca Examinadora da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como exigência parcial para obtenção do título de Doutor em Direito Civil, sob a orientação do Professor Doutor Sílvio Luís Ferreira da Rocha. PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA SÃO PAULO - 2006 Meus agradecimentos aos Excelentíssimos Senhores Doutores integrantes da Banca e a todos os que me ajudaram nessa árdua caminhada, e que deixo de nominar para não cometer a injustiça de esquecer de alguém. Minha especial homenagem, contudo, ao ilustre Professor Doutor Sílvio Luís Ferreira da Rocha, a quem tive a honra de ter como Orientador e o privilégio de ter como amigo. Meus mais sinceros agradecimentos a tão ilustre jurista, cujo apoio incondicional mostrou-se essencial à conclusão do presente trabalho. PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA SÃO PAULO - 2006 Banca Examinadora ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ Para Vera, Simone, Bruno e meus pais. Este trabalho é dedicado a vocês. Resumo O objetivo principal do presente trabalho é realizar a abordagem sistematizada da boa-fé considerada como norma de conduta, de modo a suprir uma lacuna existente em nossa doutrina, e que pode ser constatada pela verificação de que embora a boa-fé objetiva seja mencionada com grande freqüência, geralmente o é apenas como um simples reforço lingüístico, sem qualquer precisão científica ou terminológica. Além disso, os poucos autores que se dedicaram ao exame da boa-fé centraram seus estudos nas relações contratuais, em inaceitável redução de assunto que se mostra extremamente amplo. Assim, buscou-se demonstrar e exemplificar a aplicação do princípio em outras áreas do Direito, como o Direito Administrativo e o Direito Processual. Buscou-se, ainda, a decomposição da boa-fé em seus principais elementos constitutivos, de modo a que também fosse possível identificar as diversas subespécies de institutos que derivam da boa- fé, cada um com suas características próprias e sendo distinto dos demais. A partir dessa decomposição, foi dada ênfase no estudo do venire contra factum proprium, cujos elementos constitutivos foram individual e minuciosamente abordados, o que permitiu não apenas a elaboração de uma definição para o instituto, mas também o cotejo mais preciso com institutos assemelhados, tais como o tu quoque, a exceptio doli, a suppressio, etc. Para o atingimento de tais objetivos, partiu-se do exame da fides dos romanos, passando pela sua recepção e atualização, levada a cabo pelo trabalho dos glosadores e dos pós-glosadores, e pela sua inclusão no Código Civil francês. Seguiu-se, ainda, o caminho trilhado pelos tribunais franceses, no exame dessa boa-fé agora codificada, com sua nítida influência no direito civil alemão, de onde saltou para o Código Civil grego, para o Código Civil português e, finalmente, para o atual Código Civil brasileiro. Neste último, buscou-se a identificação de várias disposições legais que, no fundo, nada mais são do que hipóteses de aplicação do venire, ainda que nosso Código Civil, em nenhum momento, faça referência a tal instituto e, a partir dessa identificação construiu-se a buscada definição da figura do venire contra factum proprium , composta dos seus elementos caracterizadores. Abstract The main purpose of this paper is to realize the systematic approach regards goodfaith, considered a conduct norm in a way that supplies the existing lacuna in our doctrine, which can be ascertained by checking that although the objective good-faith is frequently mentioned, it is usually done as a simple linguistic reinforcement lacking any scientific or terminologic accuracy. Moreover, the few authors who dedicated themselves to the examine of good-faith focused primarily on contractual relations , showing this unacceptable tendency to decrease the discussion around this topic when there is so much to talk about it. Thus it was tried to demonstrate and to exemplify the principle application in other fields of the Law, such as the Administrative Law and Processual Law. It was also tried to decompose the good-faith into its principals constitutes elements, in a way that was possible to identify the several subspecies of institutes that are originated from good-faith, each one with its own characteristics, been really different from others. From this decomposition the studies about venire contra factum proprium were emphasized, of which the constitutes elements were individually and detailed described and commented, what allowed not only the elaboration of a definition for the institute but also a preciser collation for similars institutes, such as tu quoque, exceptio doli, suppressio, etc. To reach those purposes the romans fides were examined, going through its reception and modernization and its inclusio n on the french Civil Code. It can also be found in here the path chosen by the french court in the exam of this codified good-faith, with its clear influence in the german civil law, where it went toe the greek, portuguese and finally the brazillian civil code. In its last one it was identified several legal dispositions that, deep inside, are nothing more than application hypothesis of venire even tho ugh our Civil Code never mention such institute, and from this identification was built a definition for venire contra factum proprium with its characterizing elements. Resumé L´objectif principal de ce travail est la réalisation d´un exposé systématique de la bonne foi, autant que règle de conduite, dans le but de remplir une lacune qui existe à la doctr ine e qui peut être verifiée par la constatation que malgré la bonne foi objective soit prononcée très fréquemment, dans la plupart des cas l´expression n´est utilisée que comme un simple élément linguistique, sans aucune précision cientifique ou terminolo gique. En outre, les auteurs qui ont dédié leurs études à la bonne foi, l´ont fait spécifiquement sur les rapports contractuels, ce qui signifie une réduction inacceptable d´un objet très vaste. Cela étant, on a essayé de démontrer et exemplifier l´application du principe de la bonne foi à d´autres parties du Droit, comme le Droit Administratif et le Droit Processuel. On a aussi essayé de décomposer la bonne foi en ses éléments constitutifs, de manière à identifier également les plusieurs subdivisions d´instituts qui s´originent de la bonne foi, chacun ayant ses caractéristiques individuelles, qui les font différents des autres. À partir de cette décomposition, on a relevé l´étude du venire contra factum proprium, dont les éléments constitutifs ont été traités individuellement et en detail, ce qui a permis pas seulement la construction d´une définition pour l´institut, mais aussi la comparaison plus précise avec des institus similaires, comme le tu quoque, l´exceptio doli, la suppressio etc. Pour atteindre ces objectifs, on a parti de l´étude de la fides des romains, en passant par sa récéption et son actualisation, concretisée par le travail des glossateurs et des post-glossateurs, et par son inclusion dans le Code Civil Français. Ensuite on a parcouri le chemin suivi par les cours françaises, en ce qui concerne l´examen de cette bonne foi, maintenat codifiée, avec sa nette influence sur le Droit Civil Allemand, d´où elle est partie por arriver au Code Civil Grec, au Code Civil Portugais et, finalement, à l´actuel Code Civil Brésilien. Sur ce dernier on a essayé d´identifier plusieurs règles qui, vraiment, signifient des hypothèses d´aplication du venire, malgré notre Code ne mentionne pas cet institut. A partir de cette identification, on a construit la definition visée du venire contra factum proprium , composé de ses éléments caractéristiques. Sumário Introdução. 10 1. Desenvolvimento histórico da boa- fé. 24 1.1. Considerações gerais. 24 1.2. A boa-fé romana e sua recepção no direito europeu. 40 1.3. O direito europeu pré-codificações. 47 1.4. A boa-fé após o Código Civil francês. 60 1.5. A boa-fé no Direito Civil Alemão. 75 1.6. A boa-fé objetiva e seu aspecto normativo. Tendência expansionista. 99 1.7. A boa-fé objetiva no Direito Público e no campo processual. 136 1.8. A responsabilidade pré e pós-contratual e a complexidade das obrigações. 154 1.9. As conseqüências jurídicas da proteção conforme o princípio da boa- fé. 230 2. Violações típicas da boa- fé. 255 2.1. Considerações gerais. 255 2.2. O abuso do direito. 258 2.3. O venire contra factum proprium. 294 2.3.1. Considerações gerais. 294 2.3.2. Elementos característicos. 301 2.3.2.1. Os comportamentos contraditórios. 324 2.3.2.2. A contradição. 365 2.3.2.3. O dever acessório que está sendo violado. 380 2.3.3.4. Um conceito para o venire contra factum proprium. 393 2.3.3. Conseqüências jurídicas do venire contra factum proprium. 393 2.4. Tu quoque. 409 2.5. Suppressio e surrectio. 421 Conclusão. 447 Referências bibliográficas 456 10 A teoria dos atos próprios: elementos para a sua identificação e para o seu cotejo com institutos assemelhados. Uma lei imutável não se pode conceber, senão numa sociedade imóvel. Jean Cruet Introdução. O Código Civil de 1916, tomando por paradigma os Códigos francês e alemão (principalmente o primeiro), simplesmente não tratou da boa-fé, exceto em regra localizada e pontual, específica para o contrato de seguro (art. 1.443, do Código Civil de 1916). Apesar disso, no entanto, já era muito comum que a doutrina e a jurisprudência pátrias se referissem com freqüência ao tema, principalmente em virtude da grande influência por nós recebida, direta ou indiretamente, dos tribunais alemães. Essa influência indireta, à qual nos referimos, é porque as decisões dos tribunais germânicos serviram de clara fonte de inspiração para alguns Códigos alienígenas, como o grego e o português, e estes, por sua vez, acabaram influenciando o texto do nosso Código Civil vigente, como abordaremos em detalhes, ao longo do presente estudo. Por outro lado, em virtude do grande lapso temporal decorrido entre a apresentação do projeto de lei e a sua efetiva transformação em um Código Civil, a doutrina e os tribunais não se quedaram inertes, e começaram a fazer referências e a elaborar textos que enfocam a boa-fé e suas conseqüências. No entanto, não se pode deixar de notar que tais referências, de um modo geral, começaram a ser feitas de um modo pouco sistematizado, ou mesmo sem sistematização alguma, o que pode ser atribuído, conforme 11 acreditamos, à inexistência quase que completa de obras doutrinárias que tivessem o assunto “boa-fé” como seu principal foco de estudo, uma vez que os textos que tratavam do assunto, de um modo geral, faziam-no apenas de modo passageiro, ao se referirem aos princípios contratuais, incluindo dentre eles o da boa-fé, e mesmo assim, no mais das vezes, apenas se limitando a comentar que os contratantes deveriam se comportar de boa-fé, sem maiores explicações sobre o que seria tal comportamento. Essa falta de sistematização pode ser notada, inclusive, pelo fato de que em algumas situações, os tribunais pátrios se referiam à boa-fé apenas como um reforço lingüístico, pois na verdade a questão a ser decidida já encontrava tratamento legal específico, e a decisão já havia sido tomada com esteio nessa norma positivada, sem que houvesse qualquer real necessidade de que se fizesse menção à boa-fé. Em outras palavras, muitas vezes se tratava de uma ilegalidade pura e simples, e não de atuação do princípio da boa-fé, e essa distinção não costumava ser feita em várias situações concretas. Ou, ainda, pelo fato de serem usadas, para “explicar” o que seria a boa-fé, expressões vagas e imprecisas, cujo preenchimento variava ao sabor das convicções pessoais de cada intérprete. Por outro lado, e principalmente pelo fato de que todo o estudo da boa-fé, desenvolvido no direito germânico, foi inicialmente ligado às relações contratuais, o que se podia notar era que as menções à boa-fé se limitavam precisamente ao campo dos contratos, como se o instituto não fosse de aplicação geral, vale dizer, como se não se tratasse de um regramento que se aplica não apenas a todos os campos do direito privado, mas também ao direito público, ou seja, para a regência das relações entre a administração pública e os administrados. Aliás, é até desnecessário que se ressalte a extrema importância que decorre do fato de que também a administração pública 12 deverá seguir uma conduta balizada pela boa-fé, sendo que, precisamente em virtude de tal importância, dedicamos um item específico para o tratamento do mesmo (item 1.7). Outra questão que se mostra significativa, para o estudo dos temas ligados à boa-fé, é a que diz respeito às dificuldades lingüísticas. Ao contrário da língua alemã, sempre muito precisa e específica, não temos expressões, no vernáculo, que por si só permitam identificar se se trata da boafé como uma norma de conduta (objetiva) ou da que se liga aos aspectos psicológicos do sujeito (subjetiva), ou seja, ao conhecimento ou desconhecimento de um fato ou à intenção subjacente à prática de um ato. Essa adoção de uma expressão única, para a indicação de dois aspectos da boa-fé que se mostram completamente distintos, serve como moldura a realçar a necessidade de estudos mais detalhados, acerca da boa-fé, pois faz com que tenham que ser redobrados os cuidados para a conceituação e a identificação dos elementos característicos de cada uma dessas duas hipóteses de boa-fé, sob pena de se ter dificuldade em identificar até mesmo o verdadeiro significado de um determinado texto legal que a ela se refira. E veja-se que não há qualquer exagero, quando nos referimos à dificuldade de captação do real sentido da expressão, pois essa interpretação errônea do sentido do texto legal, especificamente em relação à boa-fé, já ocorreu alhures. Com efeito, desde o começo do século XIX que o Código Civil francês já apontava que as convenções que tenham sido validamente formadas devem ser executadas de boa-fé (art. 1.134). No entanto, precisamente em decorrência da absoluta falta de domínio doutrinário sobre o tema, tal norma foi interpretada nos mesmos moldes em que os glosadores e pós-glosadores haviam colhido a boa-fé dos textos romanos, ou seja, como se fosse apenas referente à ciência ou à ignorância de uma determinada circunstância ligada ao 13 contrato. Em outras palavras, como se fosse a boa-fé subjetiva. Hoje, o mesmo texto legal é facilmente lido como sendo referente à boa-fé objetiva, ou seja, como imposição de uma norma de conduta a ser observada pelos contratantes. É esse tipo de equívoco, que certamente atrasou em várias décadas o desenvolvimento adequado do estudo da boa-fé, que só poderá ser evitado com o exame doutrinário sistemático do tema. Nos últimos anos, felizmente, a situação começa a se alterar, e começam a surgir algumas poucas obras cujo enfoque principal está centrado na questão da boa-fé. Esse aumento na quantidade de trabalhos específicos sobre o tema, em grande parte, foi ainda impulsionado pela aprovação, depois de mais de duas décadas e meia, do Código Civil de 2002, que em seu artigo 421, dentre outros, trouxe a explicitação do princípio da boa-fé. Contudo, não se pode deixar de observar que o estudo doutrinário do tema ainda é muito incipiente entre nós. Além disso, a hipertrofia das relações contratuais se manteve, ou seja, a quase totalidade dos trabalhos recentes diz respeito ao estudo da boa-fé nas relações contratuais, embora apanhando, também, algumas variações “internas” do assunto, como o exame da mesma em relação aos momentos pré e pós-contratuais e a análise da boafé aplicada às relações (contratuais) de consumo, mas deixando de lado outras áreas importantes das relações jurídicas, não apenas no direito privado, mas, principalmente, no direito público, onde são muito escassas as obras referentes ao tema. Além disso – e, ainda mais, pior do que isso –, pode-se apontar que está ocorrendo, em relação às diversas facetas que podem ser apresentadas pela boa-fé, a repetição do mesmo problema que ocorreu quanto ao estudo da boa-fé em si mesma. Expliquemos melhor. 14 Como mencionamos acima, durante muito tempo nossos autores ou ignoravam a boa-fé ou apenas se referiam ao tema de modo breve, sem a preocupação de maiores detalhes ou esclarecimentos, incluindo-a sem muitas explicações entre os princípios contratuais. Pois bem, agora que a boa-fé começa a ser estudada mais amiúde, pelos nossos doutrinadores, o que se percebe é que apenas de modo passageiro são mencionadas as diversas hipóteses de concretização da mesma, e que embora tendo todas a mesma fonte, apresentam características que, pelo menos em tese, as diferenciam de modo nítido (na prática, como veremos, essa diferenciação nem sempre é assim tão clara). E foi essa falta de abordagem das “subespécies” da boa-fé, na verdade, que motivou o presente trabalho. Com efeito, o que desde logo se adianta é que a expressão “boafé”, na realidade, é bastante ampla, abrangendo um grande leque de situações que, sendo embora todas originárias da mesma fonte (essa mesma boa-fé), apresentam alguns traços peculiares, que permitem diferenciá-las umas das outras, e aí chegamos a figuras importantíssimas e de grande aplicação prática, como o venire contra factum proprium, o tu quoque, a suppressio e a surrectio, o abuso do direito, etc, e que de um modo geral ou são ignoradas pela doutrina ou apenas são mencionadas en passant, sem o cuidado de maiores esclarecimentos. Precisamente, como dissemos, como antes ocorria em relação à boa-fé em si mesma. Uns poucos autores, quando muito, se referem com um pouco mais de vagar à figura do abuso do direito, que sem sombra de dúvida é a mais conhecida de todas essas variações da boa-fé, até mesmo pelo fato de se tratar de tema que foi há muito desenvolvido pela jurisprudência dos tribunais franceses, antes mesmo do surgimento do Código Civil alemão, e que por essa razão influenciou fortemente nossos autores. No entanto, não costumam 15 nossos juristas observar que o abuso do direito, na realidade, também é figura que se mostra bastante ampla, abrangendo as outras situações mencionadas, como, por exemplo, o venire contra factum proprium. Assim, se por um lado é verdade que uma situação que poderia ser enquadrada como um caso de venire também pode ser apresentada como hipótese de abuso do direito (pois aquela é uma hipótese deste), por outro, também é certo que tal situação poderia ter sido qualificada de modo mais preciso, uma vez que a figura do venire contra factum proprium apresenta características próprias, que permitem destacá-la dentre as figuras que se inserem no abuso do direito, para um exame mais detalhado e minucioso. O abuso do direito, portanto, também precisa ser examinado com maior riqueza de detalhes, para que melhor se possa compreender a figura do venire, uma vez que esta se insere no campo mais amplo daquele. Da mesma forma, existem situações em que nossos tribunais abordam hipóteses que claramente poderiam ser enquadradas como casos de venire contra factum proprium, ou de suppressio, ou de tu quoque, etc, mas em geral o fazem sem qualquer preocupação com tais figuras decorrentes da boa-fé, apenas cuidando de realçar quais são as características do caso concreto, mas sem a preocupação de fazer o mais adequado enquadramento jurídico. Em outros casos, ainda, o enquadramento vem a ser feito, de modo incorreto, denominando-se de venire contra factum proprium, por exemplo, situação que na realidade seria mais bem enquadrada como sendo de tu quoque. Todas essas situações, naturalmente, serão abordadas no desenvolvimento do presente estudo, na busca de serem fornecidos elementos mais precisos para as distinções. Nosso objetivo, na presente tese, está voltado precisamente para essas subespécies da boa-fé, em especial o venire contra factum proprium, 16 possivelmente o que encontra maior aplicação concreta no quotidiano. Mas é evidente que não se buscou, tão-somente, a abordagem da figura do venire, isolada, fora de contexto, e considerada de modo integral, pois é certo que uma análise feita dessa forma teria o pecado mortal de tornar praticamente ininteligível o venire. A estratégia adotada, portanto, foi a de fazer uma abordagem inicial macro, de modo a situar a figura do venire no plano mais amplo e genérico da boa-fé, para depois partir para um exame atomizado, buscando a decomposição do venire em seus menores elementos, os quais são em seguida examinados com uma lupa, de modo minucioso e detalhado, de modo a facilitar a identificação da figura e, mais do que isso, possibilitar o adequado cotejo entre as diversas hipóteses de concretização da boa-fé. Buscou-se, portanto, suprir uma lacuna existente em nossa doutrina, acerca do tema, tendo em vista que as poucas obras que o abordam, como dissemos linhas atrás, em geral o fazem de modo passageiro e superficial, sem se preocupar com o exame minucioso dos seus componentes. Vejamos, em seguida, qual foi a estrutura que se deu ao presente estudo e os motivos de tê-la adotado. Como as figuras a serem abordadas decorrem da boa-fé, logo de início buscou-se o resgate histórico da mesma, vale dizer, fizemos o estudo do desenvolvimento da mesma, a partir da fides dos romanos, passando pela sua qualificação como bona fides, abordando inclusive a sua transposição, ainda no direito romano, do campo dos direitos reais para o direito obrigacional, onde iria fincar suas mais sólidas raízes, e também pelo campo processual. Mas a visão que os romanos tinham sobre a boa-fé de nada nos serviria, se tivéssemos deixado de lado a aferição do modo pelo qual essa boa-fé foi absorvida pelo direito posterior e acabou chegando até nós. Passamos, então, 17 por sobre a Idade das Trevas (Idade Média), e chegamos aos séculos XVII e XVIII, com o chamado fenômeno da recepção. Uma parte significativa do direito romano, notadamente em relação ao direito das obrigações, foi primeiramente compilada pelo trabalho dos glosadores e, posteriormente, atualizada (para a época) pelo trabalho dos pós-glosadores, tudo isso na fase que antecedeu às grandes codificações européias, que tiveram início no começo do século XIX, com o Código Civil francês, mais precisamente em 1806. Ora, se o direito romano foi recebido pelos juristas europeus, é muito fácil de se concluir que o mesmo teve marcante influência nos Códigos Civis da Europa, e, por conseqüência, nos Códigos do mundo inteiro, pois é sabido que tais Códigos, notadamente o francês e, quase um século depois, o alemão, foram refletidos pelas legislações de todo o mundo civilizado, inclusive o Código Civil brasileiro de 1916. Foi por essa razão, vale dizer, por ter sido tão ampla e tão importante a influência do direito romano nas legislações mais recentes do mundo inteiro, inclusive a nossa, que nos pareceu essencial, para uma melhor compreensão da visão atual que se tem sobre a boa-fé (e que, na realidade, segundo nos parece, ainda está em formação), que fizéssemos esse resgate histórico, esse exame da boa-fé desde a sua origem primeira, entre os romanos, e passando em seguida pelas principais etapas de sua evolução, dentre as quais se mostra de fundamental importância esse mencionado fenômeno da recepção, porta de entrada da fides romana no direito moderno. Feito o exame sobre como se deu essa recepção do direito romano na Europa, em seguida passamos a analisar as principais características do direito europeu no período anterior ao começo das grandes codificações, com rápidas pinceladas sobre o racionalismo e o direito natural, que se mostraram de grande importância, por exemplo, para a visão do direito como um sistema, 18 e não como um simples agrupamento de regras. Na fase das codificações, nosso exame mais detido, como não poderia deixar de ter sido, ocorreu em relação ao direito civil francês e ao alemão, esses que foram os grandes influenciadores do nosso próprio direito civil, mas não deixando de realçar as diferenças entre as visões francesa e alemã acerca do princípio da boa-fé. Em relação ao direito civil germânico, inclusive, percorremos o interessante caminho da boa-fé, a partir dos tribunais tedescos, passando pelo Código Civil grego e, daí para o segundo Código Civil português, de 1966, de onde acabou migrando para o atual Código Civil brasileiro, em uma trilha que durou mais de um século. E com essa “viagem” foi concluída a abordagem da parte histórica da boa-fé, à qual dedicamos cerca de um sexto do desenvolvimento do trabalho. Na seqüência, passamos a examinar algumas questões relevantes acerca da visão atual que se tem da boa-fé, com destaque para o seu caráter normativo (ou seja, a boa-fé enquanto norma de conduta) e a sua tendência expansionista, de modo que sua aplicação passa a se dar em todos os ramos do direito. É que essa boa-fé agora se apresenta como um princípio geral e fundamental, cujo assento pode ser encontrado diretamente no tecido constitucional, mais precisamente na solidariedade social, que se apresenta como um dos objetivos fundamentais da nossa República Federativa, conforme se encontra expresso no art. 3º, I, da Constituição Federal. Ora, uma vez verificado que a boa-fé normativa tem fundamento constitucional e que se constitui em um princípio fundamental, fica fácil de ser explicado o seu caráter expansionista, ou seja, a sua extensão a todos os ramos do direito, ultrapassando não apenas as fronteiras do direito civil, mas, muito mais do que isso, indo além das fronteiras do direito privado, até se espraiar pelo direito público e pelo direito processual, campos onde um perfunctório 19 exame poderia transmitir a errônea idéia de que o instituto da boa-fé não seria capaz de encontrar aplicação. Face à relevância do tema e por se tratar de assunto que, até o presente momento, foi tão pouco desenvolvido pela nossa doutrina, dedicamos um item específico (item 1.7) ao exame desse espraiar da boa-fé em geral – e do venire contra factum proprium em particular – pelos campos do direito processual e do direito público. Em seguida, contudo, ou seja, especificamente no item 1.8, retornamos para a aplicação da boa-fé que se mostra como a mais comum no quotidiano, ou seja, em relação ao direito obrigacional, principalmente em relação aos contratos. Nessa parte do trabalho foi feita a abordagem acerca dos estudos de Rudolf von Jhering sobre a existência de uma responsabilidade pré e pós-contratual, vale dizer, que se forma antes mesmo do contrato chegar a ser celebrado e que persiste depois de sua extinção pelo cumprimento. Esses estudos de Jhering se mostraram cruciais para que se percebesse que uma obrigação, na realidade, não pode ser considerada como um todo unitário, sendo composta, isso sim, por um complexo que se apresenta formado, simultaneamente, por prestações principais e por prestações acessórias, sendo que a decomposição da boa-fé nestas últimas foi a grande mola propulsora de toda a evolução do exame da boa-fé enquanto norma de conduta. Por último, no que se refere a essa abordagem dos aspectos gerais e atuais da matéria, passamos a examinar as conseqüências concretas da aplicação do princípio da boa-fé, ou seja, como se dá e qual o resultado da incidência do princípio da boa-fé em uma hipótese real. Na realidade, apenas se mostra possível que examinemos as situações mais comuns, pois a amplitude da boa-fé é tamanha que se torna simplesmente impossível o exame completo de todas as situações práticas (e, portanto, impossível também se 20 mostra o exame de todas as conseqüências práticas) que podem surgir no quotidiano. Assim, tais conseqüências podem ser de diversas espécies, tais como a intervenção judicial sobre o próprio conteúdo do contrato, de modo a invalidar ou a modificar, conforme o caso, uma determinada cláusula, ou a determinação para que um dos sujeitos contratuais adote um comportamento positivo ou negativo, ou a determinação judicial para que o contrato seja rescindido, ou, ao contrário, para que o mesmo seja mantido por mais algum tempo, ou, ainda, a condenação ao pagamento de uma indenização, etc. Enfim, são variados os resultados que decorrem da incidência do princípio da boa-fé, mudando de uma situação para a outra, mas sempre buscando, em cada caso concreto, qual é a solução que mais adequadamente protege a boa-fé do sujeito. Um desses resultados que se mostra de acentuada importância prática é a possibilidade de que, em decorrência do princípio da boa-fé, um negócio jurídico cuja nulidade se encontra expressamente determinada pela lei venha a produzir todos os efeitos de um negócio válido. E, ao contrário do que geralmente se afirma, entendemos que esses efeitos poderão ser produzidos não apenas quando se trate da hipótese de nulidade decorrente de vício formal, mas também, em certas e especiais circunstâncias, até mesmo quando se tratar de nulidade que tenha a sua causa na incapacidade absoluta de um dos sujeitos envolvidos. E com o exame dessas conseqüências da incidência concreta do princípio da boa-fé, encerramos essa análise dos aspectos gerais do princípio da boa-fé, na visão da moderna ciência do direito, sendo que dedicamos a essa análise cerca de um terço de todo o trabalho. Passamos, em seguida, ao exame das situações que se constituem em violações típicas da boa-fé, objetivo maior 21 do presente estudo e ao qual foi dedicada, aproximadamente, a metade de todo o desenvolvimento do mesmo. No segundo capítulo do trabalho, o estudo das violações típicas da boa-fé (ou, mais adequadamente, dos casos típicos de proteção à boa-fé) se inicia pela figura do abuso do direito, por se tratar de figura bastante ampla e genérica, dentro da qual se enquadram várias outras. Além disso, foi com as decisões judiciais sobre o abuso do direito, que tiveram origem na França e depois foram assimiladas e desenvolvidas pelos tribunais alemães, que se iniciou o estudo moderno dessas figuras ligadas à boa-fé. A primeira abordagem que é feita, acerca do abuso do direito, é a que se refere à denominação do mesmo, colocando-se em destaque a erronia dos vários textos doutrinários e mesmo legais que se referem ao abuso de direito, quando o correto é falar-se em abuso do direito. Mostramos, em seguida, que a idéia central do tema é a de que todo direito, ao ser deferido pela sociedade ao seu titular, está vinculado a uma causa, uma finalidade que o justifica, e que ao mesmo tempo lhe serve de limite, e nos casos em que tal finalidade é desconsiderada é que se tem a hipótese do abuso. Como um subitem do abuso do direito, em seguida o trabalho faz a análise da exceptio doli, figura que teve grande importância, e que inclusive foi desenvolvida para o esteio das decisões dos tribunais alemães, ao mesmo tempo em que os tribunais franceses apoiavam suas decisões na figura do abuso do direito. Mostramos, inclusive, que quando os tribuais germânicos começaram a também fazer referência à figura do abuso do direito, a exceptio acabou por ser praticamente abandonada, face à grande afinidade entre as duas figuras (afinidade essa que levou à inclusão da exceptio como um subitem do abuso). Hoje a exceptio quase que desapareceu por completo da jurisprudência e, por conseqüência, deixou de despertar o interesse da doutrina. 22 A partir daí, a abordagem passa a se concentrar especificamente na figura que se constitui no objeto central do presente estudo, o venire contra factum proprium. Após traçar uma breve visão panorâmica geral sobre o venire, começamos a buscar os sinais do venire no nosso Código Civil atual. É evidente que não se encontrará, no nosso Diploma Civil, disposição expressa que remeta ao venire. No entanto, realçamos diversas disposições legais que claramente se apresentam como sendo casos de aplicação concreta e específica do venire, e não apenas em relação ao direito contratual, pois tais disposições se encontram presentes, também, em outros livros do nosso Código Civil. Nesse realce de alguns dispositivos legais, mostramos inclusive que, em alguns casos, a contradição entre dois comportamentos, por ser justificada, é explicitamente admitida pela norma legal, conclusão essa que se mostra importante para que, mais à frente, possamos fazer o exame em separado de cada um dos elementos que compõem a figura do venire. No exame desses elementos pontuais que compõem o venire, é feita a separação entre os dois comportamentos do sujeito e a contradição inaceitável que se verifica entre eles e, a partir desse ponto, cada um desses elementos é ainda decomposto em elementos menores, para que o exame possa ser feito do modo mais minucioso possível, dentro do nosso declarado objetivo de permitir a identificação mais segura do venire e de permitir a sua mais precisa comparação com outros institutos assemelhados, também derivados da boa-fé. Finalmente, concluído o exame do venire contra factum proprium, passamos a examinar os principais traços de caracterização do tu quoque e da suppressio (e surrectio), figuras que com freqüência são confundidas com o venire. Esse exame, contudo, é feito de forma breve, pois não se constituem no objetivo do presente trabalho, e por isso nos limitamos à 23 busca dos elementos que se mostrem suficientes para caracterizar as distinções e as semelhanças entre tais figuras e o venire. Por último, convém ressaltar que, ao longo de todo o desenvolvimento do trabalho, buscamos a todo instante apresentar exemplos concretos, ou seja, situações que possam ser apresentadas como aplicações práticas do que estava sendo examinado em teoria. Isso foi feito não apenas pela farta indicação de decisões dos tribunais, tanto alienígenas quanto pátrios, mas também com o freqüente recurso à pura e simples construção de situações hipotéticas. Entendemos que esse recurso a situações concretas (ou, pelo menos, possíveis de concreção), ou seja, que aparecem com os contornos e com a moldura da vida quotidiana, facilita sobremaneira o acompanhamento do desenvolvimento puramente teórico do assunto. Em apertadíssima síntese, eis aí todo o conteúdo deste trabalho. 24 1. Desenvolvimento histórico da boa-fé. 1.1. Considerações gerais. A boa-fé encontra larga aplicação no Direito em geral, mas em particular se destaca a sua vasta utilização no direito privado. Se questionado sobre a mesma, qualquer profissional da área jurídica, com certeza, dirá que conhece o princípio da boa-fé. Instado a transformar esse conhecimento em um conceito, no entanto, poucos serão os que ousarão fazê-lo, e entre os que o fizerem, certamente não haverá dois conceitos idênticos. Trata-se, como se vê, de “algo que el jurista práctico entiende perfectamente sin llegar a formulárselo” 1. Na realidade, essa dificuldade conceitual tem razões históricas, estando intrinsecamente relacionada com a noção de boa-fé que veio dos romanos e a sua respectiva recepção no direito civil europeu, notadamente em França, com a primeira codificação (Código Civil de 1806), e na Alemanha, onde surgiu a segunda codificação civil (1900) que marcou fortemente o direito civil dos demais países (inclusive o Brasil). Ao longo desses dois últimos séculos, desde o começo da vigência do Código Civil de Napoleão, os juristas vêm tentando completar adequadamente as normas legais que, de modo geral e aberto, se referem à boa-fé. E nessa busca, o que se tem visto é uma grande diversidade de definições, que em boa parte se apresenta como resultado de uma profunda vinculação que existe entre a boa-fé e os fatores ético e axiológico, pois como nessas matérias existe acentuada disparidade de critérios, a relatividade das 1 José Luis de Los Mozos, El Principio de La Buena Fe, p. 34. 25 soluções encontradas se traduz em matizes diversos a respeito de todos os conceitos que com elas se relacionam2. Na verdade, como veremos em seguida, pode-se apontar que antes mesmo da vigência do Código Civil francês já se verificava a busca de um conceito científico para preencher a referida expressão, o que ora era feito com o apoio em noções metajurídicas, ora era buscado dentro do próprio direito. Esse panorama, na realidade, não mudou muito até os dias de hoje. No entanto, é inegável que houve um grande avanço no tema, podendose apontar, como o mais importante desses avanços, a diferenciação entre a boa-fé como regra objetiva de conduta e a boa-fé esteada na ignorância, ou seja, no desconhecimento de determinadas circunstâncias do caso concreto. Essa distinção 3, que hoje se nos apresenta como extremamente simples, nem sempre foi tão clara, sendo renitente, por várias décadas, a 2 Delia Matilde Ferreira Rubio, La Buena Fe: el principio general em el derecho civil, p. 77. Mas deve-se observar, como bem alerta a ilustre autora espanhola, que a vinculação com a ética e a axiologia não justifica uma relativização absoluta do conceito de boa-fé, sob pena de ser privada de seriedade qualquer intenção conceitual. Na realidade, continua a autora, se por um lado é certo que a validade das normas morais e a estimação dos valores dependem das condições particulares de cada pessoa, por outro, é inaceitável a idéia de que não se podem formular normas morais médias ou gerais, que possam servir para caracterizar uma época ou uma comunidade específica (Ob. Cit., p. 78). 3 O presente trabalho está focado, primordialmente, no estudo da boa-fé normativa, ou seja, da boa-fé como norma objetiva de conduta. No entanto, logo de início deve-se alertar que se pode falar em distinção entre a boa-fé objetiva e a boa-fé subjetiva, mas não em independência daquela em relação a esta. Com efeito, a boa-fé objetiva, como veremos adiante (vejam-se os itens 1.6 e 1.8), diz respeito à proteção à confiança e à legítima expectativa do sujeito, enquanto a boa-fé subjetiva diz respeito ao desconhecimento de uma determinada circunstância. Logo, se o sujeito não desconhece a circunstância, nem ao menos chegou a criar a justa expectativa, não se formou em seu interior a confiança. Pode-se dizer, por isso, que a boa-fé objetiva pressupõe a boa-fé subjetiva, englobando-a. Vejamos um exemplo, que ajudará a clarear essa afirmação. Suponha-se que em um contrato de locação não residencial de um imóvel, com prazo indeterminado, e que por isso pode ser rescindido a qualquer tempo pelo locador, este é procurado pelo locatário, que requer a sua concordância para que seja realizada, nesse imóvel, obra de elevado valor, que permitirá significativo aumento de ganhos pelo locatário, em sua atividade empresarial. Concordando o locador, o locatário realiza a obra. Alguns poucos meses depois, no entanto, o locador denuncia o contrato, pedindo a devolução do imóvel, sendo que o tempo decorrido, claramente, não é suficiente para que o locatário tenha recuperado o seu alto investimento. Nesse caso, quando o locador concordou com a realização da obra, criou-se no locatário uma legítima expectativa, a confiança de que o locador não romperia o contrato antes de decorrido o tempo suficiente para a recuperação do investimento que fizera. Logo, a atuação do princípio da boa-fé levará a que seja protegida essa legítima expectativa criada pelo locatário, impedindo-se que a denúncia produza seus 26 confusão que entre os dois conceitos se fazia, e que em última análise misturava em um mesmo caldeirão os conceitos de boa-fé subjetiva e boa-fé objetiva, impedindo o adequado desenvolvimento científico deste último. O grande entrave que sempre se apresentou à abordagem adequada da questão, sem sombra de dúvida, foi o fato de que a boa-fé, na realidade, é uma criação do direito, mas tratando-se de uma criação que, na sua própria gênese, por definição, sempre terá que se mostrar inacabada, por isso que estará sempre a requer um complemento que depende dos valores vigentes em cada época 4. Dito em outras palavras, a boa-fé está sempre e indissoluvelmente ligada aos fatores sócio-culturais de um determinado lugar e momento. E efeitos de imediato, devendo-se aguardar, antes que isso ocorra, o tempo necessário à recuperação dos gastos, pelo locatário. No entanto, suponha-se que, nessa mesma situação narrada, o locador, ao concordar com a obra, tivesse informado ao locatário que, em uns poucos meses, precisaria retomar o imóvel, e mesmo assim o locatário resolveu levar a obra a cabo. Ora, nesse caso, o locatário sabia que o imóvel seria em breve retomado pelo locador, e por isso não se pode dizer que teria surgido no locatário a legítima expectativa de que o imóvel não seria pedido de volta tão cedo, pelo locador, pois ele sabia que esse pedido de devolução seria feito. Logo, se não havia o desconhecimento da circunstância (ou seja, se não havia a boa-fé subjetiva), parece evidente que não surgirá a legítima expectativa, a confiança a ser protegida, e por isso não se poderá falar em boa-fé objetiva do locatário. Como se disse, pois, para que haja a concretização da boa-fé objetiva, é necessária a presença da boa-fé subjetiva. Parece-nos que é nesse mesmo sentido a afirmação de Bruno Lewicki, quando diz que os dois aspectos da boa-fé, objetivo e subjetivo, “divergem entre si na mesma medida em que se complementam”. Cf. Bruno Lewicki, Panorama da boa-fé objetiva. In: Tepedino, Gustavo (Coord.). Problemas de Direito Civil-Constitucional, p. 57. 4 Afirmando exatamente o contrário, ou seja, no sentido de que a boa-fé é um dado da realidade, e não uma criação arbitrária e técnica do Direito, veja-se a lição de Delia Matilde Ferreira Rubio, La Buena Fe: el principio general em el derecho civil, pp. 78-81. Curiosamente, no entanto, a oposição entre a afirmação que fizemos acima e a feita pela ilustre autora é apenas aparente. Com efeito, ao afirmar que a boa-fé não é criada pelo Direito, mas por ele apropriada a partir do recurso à realidade social, aponta a autora que tal recurso vem determinado pela necessidade de se vincular o ordenamento jurídico às considerações ético-axiológicas vigentes, e o legislador nada cria, mas apenas, partindo da realidade, atribui à boa-fé certos conteúdos e lhe impõe determinadas limitações, sendo que estas conferem, em cada ordenamento concreto, determinados traços que, sem afetar a essência do princípio da boa-fé, modificam sua aplicabilidade, seu alcance e seus efeitos. “El caso de la buena fe es el segundo, la ley parte de algo que está em la natureza, pero matiza su significado transformándolo em um concepto jurídico. Pero, reiteramos, el punto de partida es la realidad, no hay creación arbitraria de um concepto”. Mas, como se vê, apesar das afirmações iniciais diametralmente opostas, o que se tem, na essência, é a idéia de que a boa-fé será sempre um conceito intimamente ligado às condições sociais, às noções éticas e aos valores vigentes em cada época. Tal idéia tanto pode ser colhida no texto acima quando na lição da autora mencionada, ainda que acima se sustente que a boa-fé é uma criação do Direito, que não o fez de modo arbitrário, mas levou em consideração, previamente, a realidade social, enquanto na obra de Delia Rubio esteja a afirmação de que a boa-fé já existia nessa realidade social, apenas tendo sido apreendida pelo Direito. 27 como tais fatores influem fortemente na própria definição dos contornos da ordem jurídica vigente, com extrema facilidade se pode perceber que a boa-fé sempre refletirá uma determinada cultura jurídico-social, vale dizer, sempre estará a espelhar uma ordem jurídica e social, o que a toda evidência impede que se possa obter um conceito definitivo e acabado para a mesma. A grande problemática com que se depara o cientista do direito, portanto, é avaliar como se dá esse processo e qual será o conteúdo refletido na ordem jurídica. No dizer de Los Mozos 5, o problema é que a aplicação do princípio da boa-fé faz penetrar no ordenamento jurídico um elemento natural, propriamente extrajurídico, mas que em virtude desse ingresso passa a formar a própria regra jurídica, o que provoca a necessidade de que os juristas busquem identificar como se dá esse ingresso e qual o conteúdo extrajurídico que passa a fazer parte da regra jurídica. As observações acima servem para, desde logo, alertar o leitor no sentido de que neste trabalho não será encontrada uma definição universal e completa para a boa-fé, pelo simples fato de que tal definição não existe. Como diz, sem meias palavras, Béatrice Jaluzot6, “a boa-fé é uma noção que não pode ser definida”. Aliás, o simples exame do nosso direito positivo já permite verificar que em um mesmo ordenamento, conforme a hipótese que esteja sendo tratada pelo legislador, são múltiplas e variadas as definições que podem ser obtidas para a boa-fé. Com efeito, no artigo 1.201, do Código Civil, verifica-se que o conceito de boa-fé se refere ao possuidor que ignora o vício ou obstáculo que impede a aquisição da coisa, o que significa que a boa-fé é sinônimo de ignorância. No artigo 1.256, no entanto, o mesmo diploma material aponta que 5 José Luis de Los Mozos, El Principio de La Buena Fe, p. 15. Béatrice Jaluzot, La bonne foi dans les contrats: Étude comparative de droit français, allemand et japonais, p. 79, n° 289. 6 28 está de má-fé o proprietário que, estando presente, não impugnou o trabalho de construção ou lavoura feito por terceiro em seu terreno, o que leva a concluir que a boa-fé, neste caso, consistiria em um comportamento ativo do proprietário, que deveria se opor à atuação desse terceiro. No artigo 1.561, ainda do Código Civil, verifica-se que produzirá os efeitos do casamento válido aquele no qual, embora anulável ou mesmo nulo, pelo menos um dos cônjuges estava de boa-fé, sendo considerado como tal o cônjuge que, no momento em que se realizou o casamento, não tinha conhecimento da causa que tornava o matrimônio anulável ou mesmo nulo, sendo, contudo, que mesmo a descoberta posterior do vício não impede que continue a ser tratado como sendo cônjuge de boa-fé, por isso que será favorecido com todos os efeitos benéficos do casamento, até o dia da sentença anulatória 7. Novamente a ignorância, mas agora restrita a um único e exato momento: o da celebração do casamento. No artigo 1.826, por sua vez (em regra que também se mostra aplicável aos efeitos da posse quanto aos frutos, benfeitorias e deteriorações, previstos nos artigos 1.214 a 1.222), verifica-se que aquele que, na qualidade de herdeiro (ou mesmo sem título), possui herança que, no todo ou em parte, pertence a terceiro, ainda que de nada soubesse quanto ao fato de não ser o verdadeiro herdeiro, caso venha a ser vencido na demanda, passará a ser considerado de má-fé a partir da citação. A boa-fé, aqui, não depende do desconhecimento em si mesmo, mas da combinação entre a citação e o resultado da demanda. Como se percebe, a partir dessa breve amostragem, têm-se aí quatro conceitos nitidamente distintos. Na primeira situação (art. 1.201), com efeito, verifica-se que o conceito de boa-fé aborda aspecto puramente 7 Sílvio Luís Ferreira da Rocha, Introdução ao Direito de Família, pp. 90-91. 29 subjetivo, ou seja, decorre da ignorância de uma determinada circunstância de fato: se o possuidor tinha conhecimento dessa circunstância, estava de má-fé e, se não tinha tal conhecimento, é considerado possuidor de boa-fé. Na segunda hipótese (art. 1.256), contudo, o aspecto subjetivo já não se mostra suficiente, pois o conceito de boa-fé já passa a ser relacionado com um dever de agir do proprietário, que será considerado de má-fé se nada fizer para impedir o terceiro de construir ou plantar em seu imóvel. Na terceira e na quarta situações enfocadas (arts. 1.561 e 1.826), no entanto, embora em ambas a questão da boa-fé volte a se relacionar com o aspecto subjetivo do conhecimento ou desconhecimento de determinada circunstância de fato, verifica-se significativa distinção entre as duas. De fato, na hipótese do casamento, ainda que tenha descoberto o vício que o torna nulo, o cônjuge continua a ser tratado de boa-fé, até o trânsito em julgado da sentença anulatória. Dessa forma, o desconhecimento no momento da celebração fez com que o cônjuge fosse considerado como sendo de boa-fé, mas o conhecimento posterior não afasta essa qualificação como cônjuge de boa-fé. Na situação do que possui a herança, no entanto, se o mesmo não sabia dos motivos pelos quais não era o verdadeiro herdeiro (por exemplo, no caso do irmão do de cujus que recebeu a herança por ser desconhecida a existência de um filho do mesmo), será considerado como possuidor de boafé. No entanto, vindo a ser citado, ainda que continue a acreditar que de fato é o herdeiro (ou seja, ainda que continue a desconhecer a circunstância que o impede de possuir, pois é certo que a citação não tem o condão de, por si só, fazer surgir o conhecimento da realidade), passará a ser considerado, a partir daí, como pessoa de má-fé, mas isso estando condicionado ao resultado da ação contra ele ajuizada. 30 Veja-se que, nessa primeira abordagem, todas as definições de boa-fé, apesar das diferenças, podem ser relacionadas com os aspectos íntimos, psicológicos, da pessoa envolvida, ora referindo-se ao conhecimento ou desconhecimento de uma circunstância fática, ora à culpa dessa mesma pessoa (negligência por nada ter feito). E apesar desse liame entre elas, como vimos, as diferenças ainda assim podem ser facilmente detectadas, em alguns casos se mostrando acentuadas. O fosso aumenta, no entanto, se observarmos que existem outras situações em que a lei não se satisfaz com a abordagem dos aspectos internos do sujeito, buscando ainda a influência de fatores externos. Assim, por exemplo, nos termos do artigo 187 do Código Civil, a boa-fé se apresenta como sendo um limite imposto ao exercício de um direito, ou seja, como um fator externo que se impõe à atuação do titular de um direito ao exercê -lo, e que uma vez ultrapassado faz com que seja ilícito tal exercício. Pode-se apontar, igualmente, o artigo 113 do Código Civil, que determina que os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boafé, por isso que, em tal situação, mais uma vez, tem-se a boa-fé como elemento externo ao sujeito 8, e tanto assim que invocada para interpretar os negócios que esse mesmo sujeito já celebrou. Da mesma forma, na conclusão e na execução de um contrato, determina o artigo 422 que os contratantes observem o princípio da boa-fé. 8 Nesse sentido a lição de Moreira Alves, que ao analisar o artigo 113, do Código Civil, ensina que “a boa-fé a que alude esse dispositivo não é evidentemente a boa-fé subjetiva, fato psicológico em que, quando conceituado como convicção de não se estar ofendendo direito alheio, se levam em consideração também valores morais de honestidade e retidão, mas sim, a boa-fé objetiva que se caracteriza como regra de reta conduta do homem de bem no entendimento de uma sociedade em certo momento historico. É, portanto, ao contrário do que ocorre com a boa-fé subjetiva, algo exterior ao sujeito, vinculando-se ao dever de cooperação que se exige nas relações obrigacionais, e regra de interpretação que ora conduz a um resultado integrador das obrigações assumidas, ora a um resultado limitador delas...”. Cf. José Carlos Moreira Alves, O novo Código Civil brasileiro e o direito romano – seu exame quanto às principais inovações no tocante ao negócio jurídico. In: Franciulli Netto, Domingos; Mendes, Gilmar Ferreira e Martins Filho, Ives Gandra da Silva (Coord.). O Novo Código Civil – Estudos em Homenagem ao Prof. Miguel Reale, p. 120. 31 Como se vê, nessas três últimas disposições legais mencionadas, em todas elas a boa-fé apresenta, em comum, o fato de se apresentar como elemento externo ao sujeito, e não mais como um elemento interno ligado ao mesmo. Apesar desse fator comum, no entanto, são muito claras as diferenças entre cada uma das situações, eis que a boa-fé, como fator externo, pode se apresentar como um limite previamente estabelecido à atuação concreta do sujeito (art. 187), como uma diretriz interpretativa dos atos por ele praticados, ou mesmo com a generalidade de um princípio, que se infiltra por todo o ordenamento jurídico. O primeiro grupo de situações acima apontadas, ou seja, as que relacionam a boa-fé com os aspectos íntimos e psicológicos do sujeito, estão ligados ao que se denomina de boa-fé subjetiva, enquanto que o segundo, o que apresenta a boa-fé como um fator externo, relaciona-se à chamada boa-fé objetiva9. A denominação, no entanto, não difere, em ambos os casos sendo usada, pela lei, a expressão “boa-fé”, ao contrário, por exemplo, do direito alemão, onde são usadas expressões distintas para a boa-fé subjetiva (guter Glauben) e para a boa-fé objetiva (Treu und Glauben), o que facilita a mais rápida distinção10. Além disso, e principalmente, como vimos acima, mesmo 9 Há quem prefira usar as denominações “boa-fé-crença” e “boa-fé-lealdade”, sendo a primeira a posição de quem ignora determinados fatos e pensa, portanto, que sua conduta é legítima e não causa prejuízos a ninguém; a segunda é referente à conduta da pessoa que considera cumprir realmente com o seu dever, pressupõe uma posição de honestidade e honradez no comércio jurídico. Cf. Américo Plá Rodriguez, Princípios de Direito do Trabalho, p. 425. Também Guillermo Guerrero Figueroa, Principios Fundamentales del Derecho del Trabajo, p. 45, prefere “distinguir la buena fe-creencia y la buena fe-lealtad. La primera se refiere a la buena fe de quien cree obrar con arreglo a derecho, aunque fundado en una creencia equivocada, excusable por una apariencia engañosa. La segunda trata de la conducta de la persona que considera cumplir realmente con su deber. Supone una posición de honestidad que lleva implícita la plena conciencia de no engañar, ni perjudicar, ni danar. Implica la convicción de que las transacciones se cumplen normalmente, sin abusos ni desvirtuaciones”. 10 Na realidade, a doutrina alemã, com a precisão que lhe é peculiar, vale-se dessa dualidade objetividade/subjetividade como um dos critérios para diferenciar a boa-fé no direito das coisas da boa-fé no campo das relações contratuais. A primeira, ou seja, no direito das coisas, seria a boa-fé subjetiva, ligada ao estado de espírito do sujeito, que conhece ou ignora os vícios do seu título, enquanto a segunda seria objetiva, 32 dentro de cada uma dessas modalidades de boa-fé encontramos diferenças marcantes. Todos esses fatores, como facilmente se pode imaginar, têm-se constituído, ao longo da evolução da análise da boa-fé pela Ciência do Direito (e até hoje se constituem), em obstáculo quase intransponível à obtenção de um conceito abstrato e teórico que se mostre satisfatório. Muito pelo contrário, embora algumas linhas mestras abstratas possam ser traçadas, sempre haverá de se mostrar indispensável a análise minuciosa do caso concreto onde tais linhas devam ser aplicadas, sendo inviável que se atinja solução adequada apenas em função das normas e valores que informam o sistema. Na lição de Los Mozos 11, distingue-se na atualidade um pensamento aporético (ou problemático) e um pensamento sistemático (ou axiomático). O primeiro busca a solução de cada problema depois de avaliar as circunstâncias da situação concreta onde esse mesmo problema foi detectado, e com ele se relaciona a tópica, enquanto o segundo busca, primordialmente, a sistematização dos conceitos e das soluções que serão usados em cada caso concreto. não dependendo do sujeito, mas sim de valores que dele independem. Cf. Béatrice Jaluzot, La bonne foi dans les contrats: Étude comparative de droit français, allemand et japonais, p. 80, n° 291. 11 José Luis de Los Mozos, El Principio de La Buena Fe, pp. 19-20. 33 No pensamento tópico12 (aporético), não há como se fazer a sistematização dos conceitos, de modo a que tenham aplicação ampla, pois com isso se perderia a sua finalidade específica, e é nessa situação que se enquadra o princípio da boa-fé, que não pode ser considerado senão como um conceito tópico, cujo conteúdo não consegue encontrar guarida em um conceito único, válido para todo o sistema. Nesse mesmo sentido, afirma Béatrice Jaluzot13 que a boa-fé é o instrumento de uma justiça feita caso a caso, o que inclusive levou a Corte Federal da Alemanha a expressar sua intenção de não sistematizar as condições para a sua aplicação 14. A sistematização, portanto, prossegue Los Mozos 15, não pode ser feita de modo arbitrário, sem que se faça o necessário enquadramento do indivíduo na realidade que o cerca, assim como sua vinculação a determinados problemas que se apresentam de modo permanente em um complexo problemático determinado e real, tais como o negócio jurídico, a proteção da confiança, etc. 12 Nas palavras de Tércio Sampaio Ferraz Jr., “a tópica não é propriamente um método, mas um estilo. Isto é, não é um conjunto de princípios de avaliação da evidência, cânones para julgar a adequação de explicações propostas, critérios para selecionar hipóteses, mas um modo de pensar por problemas, a partir deles e em direção deles. Assim, num campo teórico como o jurídico, pensar topicamente significa manter princípios, conceitos, postulados, com um caráter problemático, na medida em que jamais perdem sua qualidade de tentativa. Como tentativa, as figuras doutrinárias do Direito são abertas, delimitadas sem maior rigor lógico, assumindo significações em função dos problemas a resolver, constituindo verdadeiras <fórmulas de procura> de solução de conflito. Noções-chaves como <interesse público>, <vontade contratual>, <autonomia da vontade>, bem como princípios básicos como <não tirar proveito da própria ilicitude>, <dar a cada um o que é seu>, <in du bio pro reo>, guardam um sentido vago, que se determina em função de problemas como a relação entre sociedade e indivíduo, proteção do indivíduo em face do Estado, do indivíduo de boa-fé, distribuição dos bens numa situação de escassez, etc., problemas estes que se reduzem, de certo modo, a uma aporia nuclear, isto é, a uma questão sempre posta e renovadamente discutida e que anima toda a jurisprudência: a aporia da justiça”. Tércio Sampaio Ferraz Jr., Prefácio do Tradutor. In: Viehweg, Theodor. Tópica e Jurisprudência, p. 3. 13 Béatrice Jaluzot, La bonne foi dans les contrats: Étude comparative de droit français, allemand et japonais, p. 103, n° 370. No entanto, é necessário que se alerte que a referida autora menciona, na mesma obra e local citados, que, ao lado dessa parte que ela denomina de subjetiva, e que só pode ser aferida caso a caso, existe também uma parte objetiva, que segundo ela não varia em função das circunstâncias, e que consiste nos usos e nos valores. 14 Nas atentas palavras de Teresa Negreiros: “A boa -fé constitui um exemplo riquíssimo de como o Direito é indissociável de sua aplicação”. Cf. Teresa Negreiros, Fundamentos para uma Interpretação Constitucional do Princípio da Boa-Fé, p. 19. 15 José Luis de Los Mozos, El Principio de La Buena Fe, pp. 21. 34 Assim, conclui o respeitado jurista espanhol, o sistema jurídico deve ser funcional, buscando sua concreção não nas leis positivadas (sistema teórico), mas principalmente nos princípios de valoração que a prática desenvolve e que podem ser extraídos da lei, mas são sempre descobertos e comprovados no problema concreto. Dessa forma, prossegue o festejado autor, não é o sistema, em sentido racional, que se deve constituir no centro do pensamento jurídico, mas sim o problema16, o que torna impossível, como dito acima, tendo em vista a diversidade de situações possíveis, que se elabore um conceito geral de boa-fé 17. Nos próximos itens, buscaremos traçar uma linha evolutiva do conceito de boa-fé, até que se atinja o conceito atual, para ao final apresentarmos as “linhas mestras abstratas” acima mencionadas, mas sempre com freqüentes remissões a situações concretas, que melhor ajudem à compreensão adequada do tema, e de modo a nos permitir, inclusive, a mais fácil diferenciação dos institutos que decorrem da boa-fé, institutos esses cuja análise se constitui no objeto principal do presente trabalho. Antes de prosseguirmos, contudo, convém observar que, nessa abordagem coordenada de aspectos abstratos com situações concretas, com alguma freqüência precisaremos nos valer do direito positivo. É que a dogmática jurídica, como bem afirma Menezes Cordeiro, deve ser muito mais do que um simples elemento de captação do material jurídico, devendo também permitir que seja racionalmente verificada e feita a crítica das 16 Aliás, nas palavras do próprio Theodor Viehweg, Tópica e Jurisprudência, “a tópica é uma técnica de pensar por problemas, desenvolvida pela retórica” (p. 17), ou seja, trata-se de “uma techne do pensamento que se orienta para o problema ” (p. 33). 17 Em certa medida, tal posição se apresenta coincidente com a que é apresentada por Juarez Freitas, A interpretação sistemática do direito, p. 54. Diz o jurista gaúcho que o sistema é uma rede axiológica e hierarquizada topicamente de princípios fundamentais. Ora, essa hierarquização tópica nada mais é, segundo nos parece, do que o cerne da idéia de Los Mozos, ou seja, o topo da hierarquia será ocupado por um princípio indeterminável em abstrato, só podendo ser apontado com precisão segundo as circunstâncias tópicas do caso concreto. 35 soluções porventura encontradas, ou seja, deve atender às necessidades da vida, e por essa razão não pode ficar alheia aos elementos do direito posto, sob pena de tornar qualquer debate alheio ao Direito e à sua Ciência18. No entanto, e de um certo modo até paradoxalmente, importante é que se alerte que no estudo da boa-fé objetiva, campo onde preferencialmente se situam a Teoria dos Atos Próprios e os demais institutos que lhe são assemelhados, em geral se mostrarão impossíveis a interpretação e a aplicação tradicionais da lei, fazendo-se a subsunção do caso concreto à mesma. O problema é que a boa-fé objetiva, embora esteja, a toda evidência (e a todo instante), inserida no ordenamento jurídico, de uma certa forma se mantém fora da norma legal. Com efeito, facilmente se verifica que as normas legais que fazem menção à boa-fé não têm, por si sós, uma solução para o caso concreto, vale dizer, não contêm em seu bojo uma decisão a ser aplicada pelo juiz por meio da subsunção, ao contrário do método aplicativo tradicional. Quando o Código Civil, por exemplo, menciona que nas obrigações provenientes de ato ilícito o devedor deve ser considerado em mora desde o momento em que o praticou (art. 398), o juiz considera a norma legal como sendo a premissa maior. Ao examinar um caso concreto, verifica que “A” deve pagar a “B” uma indenização decorrente de um ato ilícito, e tal situação real é considerada como a premissa menor. Faz, então, a subsunção, concluindo com facilidade que “A” está em mora desde o momento em que praticou o ato que deu origem à dívida, e portanto deverá responder pelos juros da mora desde o referido momento. No entanto, veja-se que quando o mesmo Diploma Civil manda que os direitos sejam exercidos dentro dos limites impostos pela boa-fé (art. 18 Antônio Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro, Da boa-fé no Direito Civil , pp. 30-31. 36 187), sob pena de se caracterizar o exercício abusivo, a norma legal mais se assemelha a uma lacuna, a ser preenchida pelo aplicador, uma vez que não dá a este qualquer critério para que possa aferir quais são esses limites traçados pela boa-fé, e o limite dependerá unicamente da atuação do próprio juiz. Como se vê, portanto, a boa-fé é buscada em virtude da determinação que emana da ordem legal, mas o seu conteúdo não está – e, como veremos, nem poderia estar – na lei, mas sim na própria decisão judicial, que deverá buscar-lhe o melhor preenchimento para as circunstâncias do caso concreto em exame. Em outras palavras, a compreensão da boa-fé objetiva decorre muito mais da atividade jurisprudencial do que da análise teóricodoutrinária dos textos legais. É evidente que, com a evolução da jurisprudência, torna-se possível que os estudos se encaminhem para uma sistematização da matéria, o que facilita sobremaneira a análise dos casos futuros, que se torna mais segura, uma vez que, em sua maioria, tais casos tenderão a ser enquadrados nas situações já organizadas de modo científico. Como bem aponta Béatrice Jaluzot 19, é o estudo jurisprudencial e doutrinário que permite que nos aproximemos do conteúdo da boa-fé. Por outro lado, no entanto, também não se pode perder de vista que as decisões judiciais jamais se consolidarão até o ponto de esgotar todas as novas hipóteses que poderão surgir, vale dizer, sempre surgirão situações que até então não haviam sido abordadas, com nuances e características próprias, o que faz com que o estudo de fenômenos como o da boa-fé esteja em evolução permanente e contínua, sempre havendo espaço para novas 19 Béatrice Jaluzot, La bonne foi dans les contrats: Étude comparative de droit français, allemand et japonais, p. 79, n° 289. 37 construções e, ao mesmo tempo, sempre havendo uma necessária e insuperável indefinição conceitual. O sistema jurídico, como se sabe, está em incessante interação com o meio social onde encontra sua aplicação, em uma troca recíproca de conceitos e de soluções, e por isso as inovações sociais repercutem quase que de imediato no ordenamento jurídico, e com freqüência surgem situações que são alheias às normas legais ou em relação às quais é quase nenhum o tratamento dispensado pelo direito posto. E é exatamente nessas situações, pouco ou nada reguladas pela lei, que com mais intensidade se mostra aplicável a boa-fé, exatamente por ser um conceito estranho à lei, não podendo ser por esta aprisionado. Tome-se, a título de exemplo, a questão do abuso do direito, prevista em nosso ordenamento, unicamente, no artigo 187 do Código Civil, sem que se possa encontrar qualquer norma legal que cuide de explicar em maiores detalhes sobre o tema. Ora, em qualquer relação jurídica, onde um dos sujeitos estará sempre exercendo um ou mais direitos subjetivos, haverá sempre um largo espaço para a atuação do juiz, com esteio no conceito de abuso do direito, o que tem a inegável vantagem de permitir que possam ser corrigidas eventuais distorções – ou mesmo injustiças – decorrentes da aplicação direta da norma legal. Tomemos, como exemplo ainda mais específico, para tornar mais clara a afirmação, um caso que ocorre na prática com muita freqüência, que é o trabalho do empregado doméstico em extensas jornadas, inclusive aos domingos e feriados. O problema começa porque a lei, ao tratar das horas extras e do Repouso Semanal Remunerado, expressamente exclui o empregado doméstico da sua abrangência, como se pode observar no Decreto-Lei nº 5.452, de 38 01.05.1943 (CLT), art. 7º, a, e na Lei nº 605, de 05.01.1949, que trata do Repouso Semanal Remunerado e, em seu artigo 5º, a, explicitamente declara que seus dispositivos não são aplicáveis aos empregados domésticos. Ao entrar em vigor, contudo, a atual Constituição Federal determinou, em seu artigo 7º, parágrafo único, que aos domésticos fosse deferido o Repouso Semanal Remunerado, preferencialmente aos domingos, continuando a não se lhe aplicar, contudo, as regras sobre horas extras, previstas na CLT. Tem-se, portanto, com grande freqüência, a seguinte situação: a empregada doméstica trabalha em jornadas muito extensas, por vezes começando antes das 07:00 horas e terminando por volta de 20:00 horas, ou mesmo depois disso. Ainda, é também muito comum que a empregada doméstica trabalhe em dias feriados ou mesmo aos domingos. Ora, a única norma legal a tratar sobre o assunto, como acabamos de mencionar, é o dispositivo constitucional (CF, art. 7º, parágrafo único), que assegura ao doméstico o direito ao Repouso Semanal Remunerado, preferencialmente aos domingos. O que deve fazer o juiz, portanto, em tais situações? Condenar o empregador ao pagamento de horas extras ao doméstico? O problema é que do direito às horas extras são expressamente excluídos esses empregados pela norma legal. Determinar que o empregador forneça o dia de repouso, preferencialmente aos domingos? O problema, agora, é que em geral, quando o empregado busca a Justiça do Trabalho, já não mais trabalha para aquele empregador, e por isso a determinação não teria qualquer objeto. O que fazer, então? No enfrentamento dos casos concretos, a primeira e óbvia conclusão a que chegaram os juízes do trabalho, foi no sentido de que a falta de regulamentação da matéria, caso implicasse na ausência de qualquer 39 conseqüência, estaria sendo transformada em manifesta injustiça. A segunda, foi no sentido de que o empregador doméstico, ao exercer seu direito de exigir a prestação dos serviços por parte do empregado, em troca do pagamento dos salários, deveria exercê-lo dentro dos limites que se impõem a todo e qualquer exercício de direitos subjetivos, sob o risco de se configurar o abuso. A partir de tal constatação, com uma certa facilidade pôde ser preenchida a lacuna existente na lei, pois o que se verificou foi que o empregador doméstico, ao exigir o trabalho em extensas jornadas, que se mostram desarrazoadas, ou o trabalho nos dias feriados ou em todos os domingos, estava exercendo de modo abusivo o seu direito, extrapolando os limites que a boa-fé impõe a tal exercício. Logo, tal empregador deve ser condenado a pagar ao empregado doméstico uma certa quantia, que, se não poderá ser paga a título de horas extras, face à expressa exclusão legal, deverá sê-lo a título de indenização em virtude de ato ilícito, consistente no exercício abusivo do direito de exigir a prestação dos serviços. Como se vê, portanto, o juiz recebeu, para decidir, situação concreta que se encontra sujeita a quase nenhuma regulamentação legal e, para decidi-la, precisou preencher os claros legais. Ao fazê-lo, lançando mão do conceito de boa-fé (e dos institutos que dela derivam), além de suprir uma lacuna legal, corrigiu uma situação que poderia se caracterizar em manifesta injustiça, caso fosse simplesmente aplicada a norma legal que exclui os domésticos do âmbito de aplicação da Consolidação das Leis do Trabalho. Além disso, como também já havíamos alertado linhas atrás, quanto mais avançar o tratamento jurisprudencial dado à questão, mais seguro se tornará o enfrentamento da mesma, que poderá ser enquadrada em uma sistematização que permita prever, com razoável acerto, a solução a ser aplicada aos futuros casos concretos que se mostrem similares, solução essa 40 que se tornará previsível em seus diversos aspectos, inclusive quanto aos parâmetros de apuração do valor a ser fixado para a indenização. Deve-se alertar, contudo, para um sério risco, do qual se deve fugir, que é o da tentação de preencher o espaço aberto pela indefinição conceitual de boa-fé com outros conceitos que também se mostram vagos e indefinidos, e que também são externos à norma legal. Assim ocorre, por exemplo, quando se busca dizer que os limites da boa-fé são aqueles impostos pela eqüidade, ou quando se diz que age de boa-fé quem age com equilíbrio ou conforme a ética. O problema, que se mostra bastante evidente, é que essas expressões também não estão conceituadas pela lei, e continuarão a requerer a atuação do juiz, para o seu preenchimento em cada caso concreto, o que significa que não se resolveu coisa alguma, mas tão-somente se fez a substituição de uma expressão indefinida por outras que igualmente o são. Ademais, substituir a boa-fé por expressões que, supostamente, resolveriam o problema do seu conteúdo, na realidade seria o mesmo que afirmar que a boafé não se mostra funcional, não podendo ser aplicada nas soluções jurídicas em virtude da inviabilidade de se construir um conteúdo próprio, por isso que se teria mostrado indispensável a substituição. E a construção desse conteúdo próprio é perfeitamente viável, como pretendemos demonstrar mais à frente. 1.2. A boa-fé romana e sua recepção no direito europeu. Não se nota, nos autores modernos, qualquer interesse no estudo da fides romana, o que pode ser facilmente explicado quando se observa que, na realidade, o instituto chegou ao direito moderno através do direito europeu, que o recebeu e modificou. Mais interessante tem se mostrado, por isso, o 41 estudo da boa-fé nos países da Europa, principalmente a Alemanha, Portugal e França, destacando-se esta última face à grande contribuição, para o direito civil em geral, em que se constituiu a primeira grande codificação, e de modo especial, quanto à boa-fé, sobressaindo-se a Alemanha, onde o estudo do assunto teve incomparável desenvolvimento. Mas veja-se, contudo, que há quem alerte que não é possível determinar o conteúdo e a forma da boa ou máfé a não ser observando a enorme diversidade de aplicações da fides no campo do Direito 20. De qualquer modo, ainda que brevemente, não é demais mencionar que a primitiva fides romana, na realidade, desdobrava-se em diversos significados, podendo-se apontar, à guisa de exemplo, a fides-sacra, prevista na Lei das XII Tábuas, através da qual se cominava sanção religiosa contra o patrão que defraudasse a fides do cliente21, a fides-facto, que não apresentava qualquer conotação religiosa ou moral, ligando-se à questão da garantia de alguns institutos, e a fides-ética, que também se referia à noção de garantia, mas agora consistente na qualidade de uma pessoa, por isso que eivada de um conteúdo moral22. Na realidade, todos os povos da antiguidade, os romanos em especial, davam extraordinária importância à fides, inclusive revestindo-a de um conteúdo religioso e informando toda a vida e a consciência social23. Mas havia, ainda, outros sentidos para a fides romana. Assim, por exemplo, a fides-sacra poderia ser ainda dividida em fides-poder e em fidespromessa, a primeira referente à posição do patrão, que detinha poderes de 20 José Luis de Los Mozos, El Principio de La Buena Fe, pp. 22. A clientela, entenda-se, consistia em uma das classes que compunham a estratificação social romana, cujos integrantes, os clientes, estavam situados entre o cidadão livre e o escravo, e que assumiam deveres de lealdade e de obediência ao patrão, em troca da proteção. 22 Antônio Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro, Da boa-fé no Direito Civil , pp. 55-56. 23 José Luis de Los Mozos, El Principio de La Buena Fe, p. 22. 21 42 direção, e a segunda referente à possibilidade de uma pessoa ser recebida na fides (na proteção) de outra, sem que o fosse por transmissão hereditária, ou seja, a fides-promessa implicava em uma sujeição à fides-poder. Além disso, pode-se ainda apontar que a fides também surgiu nas relações externas de Roma com outros povos, sendo que inicialmente se referia a tratados igualitários, firmados entre Roma e outros Estados, e depois, com o aumento do poderio de Roma, à simples submissão desses outros Estados por meio da força 24. Tratava-se da fides populi Romani25. Como se vê, a partir dessa brevíssima amostragem, é facilmente justificado o atual desinteresse científico pelo estudo da fides romana primitiva, eis que seus contornos não guardam a menor semelhança com qualquer das diversas abordagens atuais possíveis para a boa-fé. Evoluiu, contudo, o instituto, e da fides passou-se à fides bona, sendo que esta significava, na opinião dominante, a fidelidade à palavra dada, com o dever de cumprimento da promessa, o que fazia com que surgissem efeitos jurídicos e fosse possível a ação no caso de certos contratos que não eram reconhecidos pelo ius civile26. Em outras palavras, os contratos, no direito romano, em princípio só eram válidos se fosse seguido um minucioso formalismo, não decorrendo efeitos jurídicos, vale dizer, não ficando vinculadas as partes, se as fórmulas sacramentais não fossem seguidas de modo rigoroso. A partir da fides bona o pacto entre as partes passa a ter força vinculante, ainda que não houvesse qualquer fórmula prevista, para ser seguida pelas partes pactuantes, pois 24 Antônio Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro, Da boa-fé no Direito Civil , pp. 59-65. José Luis de Los Mozos, El Principio de La Buena Fe, p. 23. 26 José Carlos Moreira Alves. A boa-fé objetiva no sistema contratual brasileiro. Roma e America. Diritto Romano Comune. Rivista di Diritto Dell, integrazione e unificazione del Diritto in Europa e in America Latina, n° 7/1999, p. 192. 25 43 deveria ser mantida a palavra reciprocamente comprometida. São os contratos de boa-fé. Essa qualificação ética (bona) da fides foi uma necessidade imposta pelo desenvolvimento do comércio. É que, com a expansão do Império Romano, houve um grande impulso nas relações comerciais entre romanos e estrangeiros, independentemente de qualquer tratado internacional, e a partir daí surgiu um novo complexo jurídico, fora do ius gentium, que tinha como elemento vinculante e princípio normativo precisamente essa fides qualificada como bona: partia-se de um conceito que correspondia à confiança, que exprimia uma relação de fidúcia. E os pretores, especialmente os pretores peregrinos, passaram a reconhecer e sancionar esse complexo de relações que nasciam com amparo no critério normativo da boa-fé 27. Não é demais observar que atualmente, ao contrário, todos os contratos são de boa-fé, não dependendo dessas fórmulas sacramentais rigorosas, que foram prestigiadas apenas no primeiro período do Direito Romano, mas que já perderam prestígio no período clássico, e hoje não passam de uma curiosidade 28. 27 Giuseppe Grosso, verbete Buona fede – La Tradizione Romana, In: Calasso, Francesco (Coord.), Enciclopédia del Diritto, V, p. 662. “ ...il grande impulso che tali rapporti ricevettero dall’espansione di Roma al di là dei mari, e dallo sviluppo del comercio che l’ha accompagnato, sin dal chiudersi della prima guerra punica, diede luogo al formarsi di un nuovo complesso giuridico – noto sotto il nome di ius gentium – elemento vincolante e principio normativo fu appunto la fides, colla ulteriore qualifica etica di bonna, e cioè fides bona o bona fides: da un concetto di rispondenza ad un affidamento, che esprimeva un rapporto di fiduciaretà, generalizzato... Il pretore (più specificamente il praetor peregrinus...) diede sanzione al complesso di rapporti che ne nasceva, appunto coll’assumere come criterio normativo la fides bona... La fides bona come criterio obiettivo plasmava cosi la forza vincolante di negozi e rapporti che formavano un complesso giuridico assunto come prius rispetto alla sanzione processuale, alla stessa guisa del ius civile, e che fu quindi assorbito nel ius civile quando si affermò la contrapposizione di questo ad un ius honorarium o praetorium, che rovesciava i rapporti fra diritto sostanziale e tutela processuale”. 28 Sobre o tema, vale conferir a lição de Louis Josserand, O Desenvolvimento Moderno do Conceito Contratual. In: Revista Forense, n° 72, Dezembro de 1937, p. 533. “...todos os contratos, no direito moderno, são de boa-fé; a noção do contrato de direito estrito, tão acreditada no Direito Romano da primeira época, porém já fortemente desprestigiada no período clássico, ficou reduzida, em nossos dias, quase à situação de uma curiosidade jurídica”. 44 Dentre os aspectos dessa evolução mencionada no parágrafo anterior, foram marcantes os que se referem ao valor vinculante do negócio jurídico não solene e à ampliação do papel criador da jurisprudência, notadamente com os bonae fidei iudicia, cujo fundamento era o suporte dos poderes do juiz pela própria fides, e que se constituíram em forte elemento de ligação entre o direito material e a tutela processual, com um modo próprio de interpretação do conteúdo dos negócios jurídicos 29. Vejamos como isso se deu. O direito romano, como se sabe, não se baseava na ordenação sistemática dos direitos subjetivos abstratos, mas sim na previsão de ações para os diversos casos concretos. Pois bem, aquelas pretensões que eram apresentadas com esteio na fides, passaram a ser denominados de bonae fidei judicia. A característica marcante é que, nos litígios dos bonae fidei judicia, não se buscava apenas uma composição formal, mas a solução material para o mesmo, devendo-se descer até o aspecto material da questão. De modo mais claro, o pretor não se limitaria ao fato central, apresentado como causa de pedir, mas deveria levar em consideração os fatos ligados ao litígio de modo periférico. Dito de modo mais simples, o direito contratual romano, que até então reconhecia os contratos formais, ou seja, cuja celebração atendia a fórmulas sacramentais rígidas, passa a reconhecer, também, com base na fides, os que não dependiam de uma solenidade especial ou fórmula sacramental para a sua eficácia, e o que se vê é o surgimento de uma dicotomia entre os contratos de direito estrito e os contratos de “boa-fé”, sendo que os primeiros eram os contratos formais (do direito civil, ou quiritário), e os segundos, como 29 José Luis de Los Mozos, El Principio de La Buena Fe, pp. 24-25. 45 já mencionado, os que eram eficazes mesmo não tendo obedecido a qualquer solenidade específica30. Nessa tarefa, de buscar a solução material mais adequada, avultava a natureza pretoriana das regras criadas, vale dizer, na solução de casos concretos que lhes eram apresentados, os pretores começaram a criar soluções concretas, inclusive com relação às exceções que poderiam ser apresentadas pelo réu (por exemplo, a possibilidade de ser argüida a compensação, embora o crédito do réu, contra o autor, não estivesse ligado à causa de pedir). Colocou-se essa observação em destaque porque, na realidade, até hoje, como já mencionamos brevemente acima, essa atuação pretoriana é fundamental para a compreensão do sentido da boa-fé. No direito romano clássico, portanto, o que se pode verificar é que a fides bona se apresentava como uma norma de forte conteúdo ético, referente ao comportamento honesto e leal e que estava de acordo com os costumes respeitados nos negócios. Apresentava, ainda, face à atuação pretoriana, alguns característicos bem definidos, como por exemplo a rejeição ao dolo e a possibilidade de compensar as dívidas. Essa rejeição do dolo deu origem à exceptio doli, sobre a qual falaremos mais à frente, no presente trabalho. Do campo do direito obrigacional, transporta-se a bona fides para o campo dos direitos reais, mas agora com significado completamente distinto, passando a significar um estado psicológico de desconhecimento, por parte do adquirente, de vícios que o impediriam de adquirir a propriedade, e que encontrava aplicação como um dos pressupostos na aquisição da propriedade pela usucapião, o que, aliás, embora com outra roupagem (restrita a apenas uma das diversas espécies de usucapião), até hoje ainda ocorre. 30 Humberto Theodoro Júnior, O contrato e seus princípios, p. 33. 46 Na realidade, como explica Menezes Cordeiro31, originalmente a usucapião operava em prazos bastante curtos (apenas dois anos para os imóveis e um ano para os moveis) e não exigia posse qualificada, o que se justificava por se tratar de uma pequena cidade cuja economia era fundiária, o que facilitava ao proprietário a imediata interrupção de qualquer posse ilegítima. Mas era exigido que a posse não fosse furtiva e nem violenta, e é nessa exigência que se encontra o germe que, mais tarde, viria a se transformar na bona fides aplicada aos direitos reais, pois o enorme alargamento do império romano, com grandes distâncias a percorrer e as prolongadas ausências dos cidadãos, pelas exigências do serviço militar, fizeram com que passassem a ser impostas, paulatinamente, maiores dificuldades à aquisição da propriedade pela usucapião. A partir daí, vale dizer, a partir de seu uso em relação à ignorância do vício da posse, a bona fides se espalha para outros ramos do ordenamento jurídico romano, como por exemplo o casamento, mas sempre com esse mesmo sentido psicológico, ou seja, traduzindo o desconhecimento de uma certa circunstância ou de um determinado vício. A bona fides se espraia de tal forma que pode mesmo ser considerada como um “princípio geral” do direito romano, que passa a ser voltado para a solução de casos concretos, sem que haja a preocupação de um desenvolvimento técnico da mesma, que ficou carente de uma definição. Na realidade, mais adequado se mostraria dizer que a bona fides, para os romanos, era informadora de todo o ordenamento social e jurídico, impondo que nas relações interpessoais e nos comportamentos em geral fosse observada a fidelidade, embora não houvesse qualquer preocupação em apresentar um conceito único ou mesmo em identificar uma origem única para 31 Antônio Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro, Direitos Reais, pp. 671-672. 47 todas as situações onde a mesma encontrava aplicação, até porque, como já comentamos acima, não era próprio dos romanos o pensamento abstrato e sistematizado, mas sim o pensamento problemático, tópico, voltado para a solução de cada caso concreto específico. De modo generalizante, contudo, pode-se afirmar que, para os romanos, seria de boa-fé o que correspondesse, no caso concreto, à idéia de fidelidade, tanto em relação ao conteúdo da relação jurídica quanto em relação ao comportamento que se esperava dos sujeitos envolvidos 32. 1.3. O direito europeu pré-codificações. Após o surgimento da Europa, por volta do século IX, tem início um estudo científico do direito, que passa a ser visto como Ciência, e assim estudado nas universidades, notadamente nos séculos XIII e XIV, quando surgem essas escolas superiores. E a base desse estudo científico foi precisamente o Corpus Iuris Civilis, de Justiniano, monumento do direito romano. Como se vê, portanto, a recepção 33 do direito romano pelo direito europeu está na base da abordagem científica deste último, que com esses contornos passa a ser estudado nas universidades. 32 José Luis de Los Mozos, El Principio de La Buena Fe, pp. 26-27. Referindo-se ao direito alemão em particular, mas também mencionando o direito europeu em geral, Wieacker aponta a recepção prática, ou seja, a “grande subversão do antigo direito privado alemão pelo predomínio do direito justinianeu na teoria do direito privado, na legislação e na aplicação do direito”, como tendo sido “ a época fundamental da história do direito privado alemão da época moderna”. E esclarece que não se tratou de um caso isolado, pois “a difusão dos métodos científicos e da dogmática jurídica dos glosadores e dos conciliadores atingiu, pelo contrário, a maior parte dos países europeus”. Cf. Franz Wieacker, Historia do Direito Privado Moderno, pp. 129-130. E, ainda na mesma obra, esclarece o autor que “a história do direito privado moderno inicia-se, na Europa, com a redescoberta do Corpus Iuris justinianeu. Uma ciência jurídica européia surgiu, quando, pelos inícios da Alta Idade Média, as formas de comentário e de ensino do trivium, herdadas da antiguidade, fora m aplicadas ao estudo do Corpus Iuris justinianeu” (p. 11). 33 48 Papel importante, nessa recepção, foi o desempenhado pela Igreja Católica. Como se sabe, a partir do século III, com o Imperador Constantino, o cristianismo se constituiu em uma grande força do Império Romano. A Igreja desenvolveu o seu direito próprio, o Direito Canônico, sendo que este, em grande parte, assemelhava-se ao próprio direito romano, apenas trazendo adaptações aos novos valores do cristianismo. Assim, a difusão das normas de direito canônico, em primeiro lugar, acabou por servir de veículo facilitador para a posterior absorção direta do direito romano, o que foi também facilitado pela adoção do latim como língua oficial. E tanto foi assim que várias regulamentações jurídicas foram recebidas pelo direito civil a partir da Igreja Católica, como por exemplo a questão das relações pessoais do direito de família, as fundações, os testamentos, etc. Tão importante quanto a assimilação desses institutos, no entanto, foi a absorção de alguns métodos que eram usados há muito tempo pela Igreja. É que, ao contrário do direito secular, a ordem jurídica da Igreja, desde a Alta Idade Média, já resguardava as suas tradições pelo uso da escrita, da redação documental, e pelo ensino sistematizado em escolas. Ao contrário do que ocorria com o “direito profano”, o direito canônico não buscava, em princípio, uma redescoberta, mas sim a organização formal e espiritual de uma tradição contínua, que até então se mostrava desordenada 34. Essa recepção, no entanto, não foi plena, mas seletiva. Em outras palavras, algumas áreas de abrangência do Corpus Iuris Civilis foram assimiladas pelos europeus, mas outras não35. Dentre as que não foram 34 Franz Wieacker, Historia do Direito Privado Moderno, pp. 68-70. Recebido, diz Wieacker, “não foi o direito romano classico (então desconhecido na sua forma original); também não o direito histórico justinianeu como tal, mas o jus commune europeu, que os glosadores e, sobretudo, os conciliadores tinham formado com base no Corpus Iuris justinianeu, mas com a assimilação cientifica dos estatutos, costumes e usos comerciais do seu tempo, sobretudo da Itália do norte”. Cf. Franz Wieacker, Historia do Direito Privado Moderno, p. 139. 35 49 incorporadas, por exemplo, pode-se apontar o tratamento dado pelos romanos ao direito público. Além disso, também ficaram de fora algumas áreas específicas do direito privado, como foi o caso da parte que se referia aos escravos, incluídos nos direitos reais, eis que considerados como propriedade dos senhores. A preferência dada pelos europeus, para a recepção, foi para o direito das obrigações, campo no qual o direito romano, sem qualquer sombra de dúvida, havia atingido notável desenvolvimento teórico, oferecendo conceitos abstratos e, por isso, em condições de perdurar no tempo independentemente de sua vinculação a casos concretos específicos. É importante que se observe, contudo, que o direito romano que se disseminou na Europa não foi diretamente aquele que constava do Corpus Iuris Civilis, mas sim aquele que decorreu da análise feita pelos glosadores e pelos pós-glosadores. Os primeiros se limitaram a explicar, inicialmente cada texto isoladamente, e, posteriormente, de modo sistemático 36, o que constava do Corpus Iuris Civilis, e essas explicações serviram de base para a formação teórica dos juristas que iam surgindo, assumiam elevados cargos na administração pública, e por isso acabaram por exercer enorme influência política e social em toda a Europa. 36 Na realidade, o que ocorreu foi que os glosadores consideravam que o texto isolado de um jurista constitui em si mesmo uma verdade, independentemente de sua conexão com o conjunto de todos os textos, ou seja, os glosadores, ao contrário do que ocorre com a Ciência jurídica moderna, que busca a visão do sistema, os glosadores buscavam o sentido textual de cada escrito. No entanto, muito cedo essa técnica se mostrou insuficiente, forçando-os a não se limitarem à exegese corrida de textos isolados: se cada texto encerrava uma verdade absoluta, então um texto não poderia contradizer um outro, que era igualmente verdadeiro. Assim, através da exploração incessante e da comparação do material colhido das fontes romanas, os glosadores acabaram por dominar completamente a problemática global do Corpus Iuris Civile, erguendo um edifício doutrinário cujos princípios eram harmônicos, eis que não poderia haver, como vimos, contradição entre as partes do mesmo, sendo que essa construção, embora não se tenha chegado a constituir um sistema formal ou a destacar quais seriam os seus princípios gerais, ainda hoje se mostra como o antepassado da atual dogmática jurídica do continente europeu. Cf. Franz Wieacker, Historia do Direito Privado Moderno, pp. 50-54. 50 É que as glosas, ou seja, o produto do trabalho dos glosadores, dominou as faculdades de direito da Europa até muito tempo depois do fim da Idade Média, e o modelo adotado pelos glosadores tornou-se um método que até hoje ainda é usado como técnica dos juristas, partindo da harmonização entre textos esparsoas para a busca da solução de problemas práticos, podendo-se mesmo dizer que os glosadores são os pais da jurisprudência européia 37. Como as universidades exerciam grande influência na economia, na cultura e na vida pública da Idade Média, delas também se irradiava uma enorme influência política e social. Assim, os professores de direito, na Itália e na França, em pouco tempo formaram um corpo de juristas que começou a dominar a administração civil das cidades. Ao lado do ensino religioso (o único até então existente), surge o ensino jurídico; ao lado dos clérigos, que eram os únicos intelectuais, surgem os juristas 38. E na medida em que mais e mais juristas iam se formando, tendo o direito romano na base de sua formação, como não poderia deixar de ser, passaram a ocupar postos chaves nas administrações de cidades, e as soluções para os casos concretos do dia a dia começam a ser buscadas com base nas idéia s absorvidas a partir da formação teórica desses novos administradores, ou seja, a partir das soluções que eram apresentadas pelo direito romano. Muito mais importante, contudo, foi o papel dos pós-glosadores, que buscaram fazer a conciliação entre esse direito romano e os problemas que afligiam a sociedade de então, e que certamente eram bastante diferentes dos que haviam levado os romanos, doze séculos antes, a adotarem aquelas leis. Como explica Wieacker, os glosadores já haviam atingido significativa importância na vida jurídica e na administração pública do seu tempo, mas o 37 38 Franz Wieacker, Historia do Direito Privado Moderno, pp. 63-65. Franz Wieacker, Historia do Direito Privado Moderno, pp. 65-66. 51 objeto do seu trabalho era a interpretação do Corpus Iuris, e esses textos em si mesmos tinham pouca aplicação na Europa, limitando-se pois ao aprendizado da metologia do direito romano, e não à obtenção de um direito realmente aplicável, em seus vários domínios, ou seja, à realidade de então39. Desse modo, os glosadores não estavam preparados para influenciar diretamente na aplicação prática do direito, na solução dos problemas reais do quotidiano. As gerações de juristas que a eles se seguiram, no entanto, denominados de pós-glosadores (ou comentadores práticos ou conciliadores), já dominava toda a realidade jurídica e social de sua própria época, e por isso buscaram transpor os métodos revelados pelos glosadores aos costumes e estatutos das cidades européias, inicialmente as italianas, depois as francesas e holandesas, e, por último, as cidades e estados alemães. Com isso, ao transformarem a vida de sua própria época em objeto de sua ciência, os pós-glosadores conseguiram converter o direito justinianeu no direito comum de toda a Europa 40. Os pós-glosadores, em outras palavras, embora também tivessem tomado por base o Corpus Iuris Civilis, cuidaram de atualizá-lo, ainda que, para isso, precisassem modificar alguns dos institutos do direito romano ou mesmo abandonar alguns deles, que já não atendiam mais aos problemas do seu tempo. Essa adequação do direito romano aos tempos da Idade Média, permitindo que tivesse utilidade prática na solução dos conflitos, foi que efetivamente propiciou a recepção do mesmo. A bona fides, como já tivemos a oportunidade de comentar acima, havia se espalhado por diversos institutos, no direito romano. No entanto, como também já vimos, a mesma havia recebido destaque em relação à 39 40 Franz Wieacker, Historia do Direito Privado Moderno, p. 78. Franz Wieacker, Historia do Direito Privado Moderno, pp. 78-80. 52 questão da posse, pelo adquirente, sem que este soubesse do vício que o impedia de adquirir, o que se constituía em fator fundamental para que fosse possível a usucapião. Assim, no trabalho dos glosadores e pós-glosadores, ganha destaque essa boa-fé com um conteúdo subjetivo, ou seja, como um elemento psicológico, ligado à convicção, pelo possuidor, de que efetivamente era o proprietário da coisa possuída. De qualquer modo, como bem aponta José Carlos Moreira Alves41, os glosadores e os pós-glosadores se ocuparam da boa-fé quase que exclusivamente com relação à posse, ou seja, nesse aspecto psicológico acima mencionado. Relacionaram-na com o erro e se dividiram ao conceituá-la, havendo alguns que a concebiam positivamente, ou seja, como sendo a crença de não estar lesando outrem, enquanto outros a conceituavam negativamente, como sendo a ignorância de causar lesão a direito alheio. Contudo, o trabalho dos glosadores e dos pós-glosadores, que tanto contribuiu para a difusão do estudo científico do direito, como já mencionamos poucas linhas atrás, também funcionou como fator de engessamento do mesmo, pois uma vez difundidos os comentários dos pósglosadores, a simples existência dos mesmos já dificultava que se pensasse em inovações. Na sombria análise de Carlos Maximiliano 42, “os pareceres dos doutores substituíam os textos; as glosas tomavam o lugar da lei; assim, de excesso em excesso se chegou à deplorável decadência jurídica, ao domínio dos retóricos e pedantes”. O fenômeno, como veremos adiante, é semelhante ao que ocorreu após a primeira codificação (Código de Napoleão), que ao reunir as soluções 41 José Carlos Moreira Alves. A boa-fé objetiva no sistema contratual brasileiro. Roma e America. Diritto Romano Comune. Rivista di Diritto Dell, integrazione e unificazione del Diritto in Europa e in America Latina, n° 7/1999, p. 187. 42 Carlos Maximiliano, Hermenêutica e Aplicação do Direito, p. 34. 53 para as mais diversas situações da vida privada, acabou por se tornar um parâmetro praticamente obrigatório para tais situações, impedindo que pudessem ser feitas abordagens novas, que destoassem da dicção expressa dos textos legais. A Ciência do Direito, portanto, havia ficado viciada com aquelas idéias que, em virtude da intensa repetição, sufocavam o surgimento de novas abordage ns para os mesmos problemas. Havia sido criado um círculo vicioso que dificilmente poderia ser quebrado pela simples atuação dos juristas, pois estes eram partícipes do mesmo. Surge, então, um elemento novo, externo, capaz de funcionar como catalisador das necessárias mudanças: o humanismo, fenômeno cultural que, principalmente a partir do século XIV, passou a vislumbrar um universo no qual o homem fosse o centro de tudo e que deu especial atenção à Antiguidade. Não é difícil de perceber o grande impacto com que o humanismo repercutiu na Ciência do Direito. Ao colocar em destaque o homem, o humanismo pôs em relevo, no campo do direito, as relações interpessoais. E, ao buscar o redescobrimento da Antigüidade, o humanismo impulsionou fortemente o estudo do direito romano, só que agora indo buscar o estudo direto das fontes romanas, e não mais se limitando tão-somente ao trabalho dos glosadores e aos comentários dos pós-glosadores. Veja-se que os pósglosadores, ao adaptarem os textos do Corpus Iuris Civilis para a Idade Média, acabaram por retirar esses mesmos textos do seu contexto histórico. Agora, com a busca direta das fontes, voltava a ser acentuado esse mesmo aspecto histórico e contextualizado. Ao examinar as causas e as conseqüências desse impacto do humanismo sobre a ciência jurídica, aponta Franz Wieacker, em sua História do Direito Privado Moderno (citado) que 54 “ O idealismo e o racionalismo do humanismo tinham socavado a antiga autoridade dos textos jurídicos justinianeus, apesar de um renovado entusiasmo pelo direito romano da antiguidade” (p. 12). ......................................... “ Só com o jusracionalismo radical se legitimou, de forma totalmente nova, a autoridade do direito positivo a partir do comando soberano do monarca e da vontade política da nação. A partir daí, o direito terreno não tem mais que obedecer ao texto intemporalmente racional da ratio scripta, mas à própria vontade de prosseguir um objetivo. Por outras palavras: o racionalismo contemplativo e intelectual da Idade Média acabou por gerar o rcionalismo atuante e prático do moderno legislador e foi, ao mesmo tempo, absorvido por ele” (pp. 49-50). ......................................... “ O humanismo pôs em questão estes fundamentos [dos glosadores e pós-glosadores] e extraiu da literatura e da arte da antiguidade uma nova imagem do homem e um novo ideal educativo, [e por isso] o choque com a jurisprudência não podia deixar de se dar” (p. 88). ......................................... “ Já mais profundo foi o ataque dos humanistas às formas de ensino e à compreensão do direito por parte da jurisprudência do seu tempo. O desejo de saber e os métodos dos glosadores promanaram originalmente dos impulsos espirituais mais vivazes da Alta Idade Média. À medida que, com o decurso do tempo, as questões controversas se amontoavam e as figuras lógicas se iam multiplicando, eles foram decaindo numa rotina cada vez mais embotada e mais conservadora. O ensino lento, moroso e inútil da época dos conciliadores, que nos é descrito pelos contemporâneos, ficava muito aquém dos resultados práticos da época”. “ Em contrapartida, a pedagogia humanista, orientada no sentido do realismo idealista de Platão... via no ensino a preparação para um reconhecimento das idéias eternas e realmente existentes, e, portanto, também da idéia de direito. Ensino do direito queria para eles portanto significar: despertar no aluno a idéia inata de direito e as suas implicações mais próximas e orientá-lo, assim, do acidental-especial para o ideal- geral.” (p.91). Desse modo, é importante que se realce que esse novo enfoque, dado pelo humanismo ao direito romano, não consistiu em um simples refazimento do trabalho já anteriormente efetuado pelos glosadores e pelos pós-glosadores. Deve-se recordar que o humanismo, na verdade, foi uma das manifestações culturais do renascimento, e este não se limitou ao simples 55 reavivar dos modelos da antigüidade, nos mesmos moldes dos originais. Antes, o renascimento consistiu na renovação desses modelos, de modo a que pudessem ser atualizados e transpostos para o momento em que tal transposição veio a ocorrer. Assim, no campo do direito civil, o que se teve não foi o simples restabelecimento do direito romano, em toda a sua pureza de doze séculos antes, mas sim uma renovação que se relacionou, principalmente, com a metodologia da abordagem e do ensino desse direito. Em outras palavras, o reflexo do renascimento em geral (e do humanismo em particular) sobre a Ciência do Direito não se traduziu no surgimento de novos institutos jurídicos e muito menos no simples ressuscitar dos antigos, mas sim na busca de novos métodos de ensino do direito romano, ou seja, em uma nova abordagem pedagógica. Nessa nova abordagem, o que se punha em destaque não era mais, ao contrário do estudo da glosa e dos comentários dos pós-glosadores, a transmissão de pontos específicos e isolados, que eram memorizados para a aplicação, cada um deles referindo-se a um caso com características próprias, o que tornava o ensino da Ciência Jurídica um acentuado exercício de memorização e de repetição dos conhecimentos absorvidos. O que o renascimento buscou, ao contrário, foi detectar quais eram as idéias gerais que podiam ser extraídas do direito romano, separando aquelas que se apresentavam como essenciais para a ligação entre as diversas regras e aquelas que apenas tinham interesse acidental. Dito de outra forma, o que se percebeu foi que as regras do direito romano não poderiam ser consideradas de modo isolado, cada uma delas fora do conjunto, pois estavam ligadas entre si por algumas idéias-base, e a busca passou a se concentrar 56 exatamente na descoberta dessas idéias que funcionavam como cimento de ligação entre as regras. Como facilmente se percebe, começa a nascer, com isso, uma visão do direito como sistema, ou seja, como um conjunto de normas que, ainda que tratem de temas distintos, estão em estreita conexão umas com as outras, ligadas entre si por idéias mais amplas e genéricas, que são os princípios que norteiam um sistema jurídico. Havia “uma pretensão de uma concatenação dos principios jurídicos sistemática quanto ao conteúdo” 43. A Ciência do Direito, portanto, a partir daí começa a perceber que o estudo do direito não podia se limitar ao exame de múltiplos conhecimentos isolados entre si, como se fossem independentes. Muito pelo contrário, esse estudo sempre deveria ter em mente que, embora efetivamente se tratasse de uma gama variada de conhecimentos, que são referentes a temas diversos, todos eles mantêm entre si uma unidade de idéias, ou seja, estão ligados entre si pelos princípios, que são essas idéias gerais que passaram a ser buscadas no renascimento, e que são externas ao conjunto de conhecimentos. Ora, esse conceito, como se percebe, nada mais é do que a idéia de sistema, sendo que as “idéias gerais” são os princípios que o informam. É bem verdade que, com o humanismo, ainda não se havia chegado a um desenvolvimento suficiente, de tais idéias gerais, para que já se pudesse falar em sistema, o que só seria atingido posteriormente. No entanto, é certo que já se tem aí um começo de sistematização, e isso, por si só, já permitiu que se rompesse o supramencionado círculo vicioso onde até então patinava o direito dos glosadores e pós-glosadores. Essa ruptura veio a se mostrar possível porque, com a captura dessas idéias gerais, que serviam para dar unidade às regras, passam os juristas 43 Franz Wieacker, Historia do Direito Privado Moderno, p. 92. 57 a, em vez de simplesmente “adaptar” o direito romano às novas realidades, a buscar soluções que mantivessem a coerência com o conjunto de regras, ou seja, que também estivessem informadas pelas mesmas idéias gerais apreendidas. Mas, direcionando as considerações até aqui feitas para o tema central do presente estudo, convém examinar em que medida essa nova forma de apreensão do direito romano repercutiu especificamente na questão da boafé, o que passamos a fazer em seguida. Nessa busca da unidade principiológica, foram colhidos os diversos temas que se referiam à bona fides (que, como vimos supra, havia se espalhado para as mais diversas categorias do direito romano), buscando-se a idéia central que a todos era comum. Dessa pesquisa, resulta a boa-fé com o seu já conhecido aspecto psicológico, subjetivo, de desconhecimento, mas agora vinculada a algo mais, que era a idéia de lealdade, da ausência de intenção de causar danos à outra parte por meio de fraude, coação ou dolo. Essa a idéia unitária da boa-fé como princípio, colhida sob os influxos do humanismo. A pesquisa das idéias que pudessem conferir unidade às diversas regras continuou. A partir do século XVII, essa pesquisa se une à busca de soluções racionais para os conflitos, no movimento conhecido como jusracionalismo, dentro do qual ganha força a aplicação da Filosofia no Direito, dando origem ao Direito Natural, ou seja, à busca dos princípios que justificam o direito e que devem informá-lo, para que ele seja considerado justo, ou seja, a busca de elementos informadores que tivessem a sua validade não em função de sua origem, mas sim de suas qualidades intrínsecas 44. 44 O Direito Natural, como explica Vicente Ráo, seria, em síntese, obtido a partir da razão. Cada povo, explica o mestre, tem as suas normas particulares, o seu direito positivo, a partir das quais se revela a sua 58 Destaque, nesses estudos racionalistas, para o trabalho de Grócio, que desenvolveu um sistema de direito natural cuja grande característica era a possibilidade de serem previamente conhecidos os seus princípios, mediante o uso da razão. Particularmente no que se referia à boa-fé, Grócio identificou cinco aspectos diferentes, dando prevalência, dentre todos, ao que se referia à fides entre as partes envolvidas em um contrato 45. Essa abordagem de Grócio, embora não desenvolvendo qualquer conceito, por isso que se limitou a apontar alguns princípios gerais, foi observada nos estudos posteriores sobre a boa-fé, que foram por ela influenciados 46. O grande reforço à idéia de se considerar o Direito como um sistema, contudo, veio de fora dos estudiosos do direito, mais precisamente com a obra de René Descartes. É que a doutrina cartesiana veio por em relevo a predominância do pensamento unitário, ou seja, a necessidade de que haja um critério único a orientar o pensamento científico. Descartes usou, como simbologia, a construção de uma cidade, que quando é feita aos poucos, por diversas pessoas, tende a crescer de modo desordenado, enquanto que, se a concepção peculiar do que é justo ou injusto. Acima dessas concepções particulares, no entanto, existiria uma concepção geral do direito, aplicável a todos os povos, não pela força da coerção material, mas pela força própria dos seus princípios supremos. E é a razão que extrai e declara quais são esses princípios gerais, que resultam da própria natureza humana. Assim, é na natureza humana (e não na razão) que se encontra o fundamento do direito natural, sendo que este não é um superdireito, mas um conjunto de princípios supremos, universais e necessários, que ao serem extraídos da natureza humana pela razão, algumas vezes inspiram o direito positivo, em outras são por ele imediatamente aplicados, quando definem os direitos fundamentais do homem. Vicente Ráo, O Direito e a Vida dos Direitos, pp. 78-79. 45 Antônio Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro, Da boa-fé no Direito Civil, p. 212. 46 Moreira Alves, no entanto, aponta que o jusracionalismo não trouxe qualquer contribuição de importância para a questão da boa-fé nas relações jurídicas reais e obrigacionais, indicando, ainda, que Grócio não tratou expressamente da boa-fé nos contratos, e, com relação à posse, não a conceituou, limitando-se a expor alguns princípios, que deveriam ser observados pelo possuidor de boa-fé. Cf. José Carlos Moreira Alves. A boa-fé objetiva no sistema contratual brasileiro. Roma e America. Diritto Romano Comune. Rivista di Diritto Dell, integrazione e unificazione del Diritto in Europa e in America Latina, n° 7/1999, p. 188. Com todo o respeito que deve ser devotado a tão ilustre jurista e historiador do direito, parece-nos equivocada tal afirmação, pois foi a partir das idéias recebidas do jusracionalismo que se começa a formar a idéia do direito como um sistema, ou seja, em vez de um amontoado heterogêneo de regras autônomas, um conjunto harmônico de normas, coordenadas entre si por idéias gerais que lhes dariam unidade. Assim, embora não tenha havido, de fato, qualquer estudo significativo diretamente feito sobre a boa-fé, a noção de unidade, de sistema, foi fundamental para que o estudo da mesma pudesse se desenvolver. 59 construção vier a ser feita a partir de um planejamento único, com uma só diretriz, resulta em uma cidade organizada e mais aprazível47. Em relação ao sistema jurídico, como se mostra evidente, esse “planejamento único”, essa “diretriz”, seria dada pelos princípios gerais que, permeando-se por todo o ordenamento jurídico, conferem-lhe a unidade mencionada. Nesse sentido, disse Descartes que “todas as coisas que podem cair sob o conhecimento dos homens encadeiam-se da mesma maneira, e que, com a única condição de nos abstermos de aceitar por verdadeira alguma que não o seja, e de observarmos sempre a ordem necessária para deduzi-las umas das outras, não pode haver nenhuma tão afastada que não acbemos por chegar a ela” 48. A aplicação das idéias cartesianas às ciências humanas, especialmente à Ciência do Direito, acabou por lançar as bases de uma idéia mais clara do que seria um sistema jurídico, dessa vez partindo-se de princípios previamente estabelecidos com vista ao sistema, ou seja, o novo pensamento sistemático ocorre de forma centralizada, primeiramente estabelecendo as idéias centrais, básicas, do sistema, e depois passando para o desenvolvimento metódico deste, como se fosse a suso mencionada construção empurrada por um planejamento único. São buscados, então, os princípios mais importantes, a partir dos quais deveria ser construído todo o ordenamento jurídico, e que seriam racionais e sempre verdadeiros. O traço unificador desse direito, capaz de emprestar uniformidade a todo o conjunto de regras, estaria contido nesses princípios. Também se procura, ao mesmo tempo, separar o direito natural das convicções religiosas, pois estas não seriam científicas, eis que insuscetíveis 47 48 René Descartes, Discurso do Método, p. 15. René Descartes, Discurso do Método, p. 23. 60 de demonstração. O sistema jurídico referente ao direito natural, portanto, deveria ser formado por proposições que se mostrassem lógicas e demonstráveis, além de harmonizado com o pensamento da época. Especificamente no que concerne à boa-fé, pode-se observar que na visão desses jusnaturalistas era em virtude do direito natural que as partes de um contrato ficavam vinculadas pelo ajuste, ou seja, estava aí presente a fides, como elemento básico para a ligação entre as partes. Mas, além disso, a boa-fé também é vista como elemento necessário e indispensável à configuração da usucapião. No entanto, não se viu entre os jusnaturalistas a tentativa de agrupar em uma idéia geral todas as hipóteses referentes à boa-fé, ou seja, faltou buscar o princípio elevado, referente à mesma, para que a partir daí pudessem ser feitas construções em relação às mais diversas situações em que a boa-fé estivesse presente. A boa-fé, portanto, embora tenha sido objeto das preocupações dos jusnaturalistas que antecederam a primeira codificação civil, o foi apenas de modo periférico, secundário, centrada em uns poucos institutos, em especial os contratos, mas sem forças para se irradiar sequer pelo direito privado, e muito menos pelo ordenamento jurídico em geral. 1.4. A boa-fé após o Código Civil francês. O acontecimento mais marcante, para o direito privado, sem dúvida, foi o surgimento do Código Civil francês, mandado elaborar por Napoleão em 1804 e tendo entrado em vigor em 1806. O referido Código, como se percebe, veio a lume poucos anos depois da Revolução Francesa (1789). No entanto, nele não se vislumbra uma ruptura súbita e radical com a 61 cultura jurídica do período pré-revolucionário, mas a natural evolução do pensamento jurídico anterior. Como vimos acim a, o direito civil teve sua evolução, na Europa, a partir do trabalho dos glosadores e dos pós-glosadores, recebendo depois, no Renascimento, forte influência dos humanistas e, um pouco mais tarde, do racionalismo. Ocorre que a comissão de juristas encarregados da elaboração do Código Civil francês, liderada por Portalis, tinha sua formação jurídica nessa mesma linha evolutiva, não se destacando por qualquer posicionamento revolucionário, ou seja, não se vislumbrando qualquer diferença significativa quanto ao conteúdo das normas jurídicas. A inovação, dessarte, foi quanto à forma pela qual tais normas passaram a ser apresentadas, ou seja, quanto à codificação em si mesma, inovando pela reunião das regras jurídicas em um só texto legal, e não quanto ao seu conteúdo, havendo mesmo quem afirme que “não há, entre a doutrina jurídica pré-revolucionária e o Código, quaisquer quebras ou, sequer, evoluções significativas”49. Na realidade, desde os pós-glosadores que se buscava adaptar o direito romano para a solução dos conflitos que então surgiam na sociedade, embora de modo não sistemático. A partir do humanismo, e com maior ênfase no racionalismo, como visto, inicia-se a busca de uma sistematização, destacando-se as idéias gerais que serviriam de base para toda a construção jurídica do direito civil, ao mesmo tempo em que tais idéias gerais passavam a ser usadas para a solução racional e lógica dos conflitos atuais. Seguindo essa trilha, uma vez conseguidas a base teórica para essa sistematização (ou seja, a identificação dos princípios fundamentais do sistema) e a adequada atualização para os conflitos da sociedade do começo 49 Antônio Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro, Da boa-fé no Direito Civil , p. 226. 62 do século XIX, a conseqüência natural seria – e foi – a reunião ordenada de todas as regras do direito civil, de modo a ordená-lo e simplificá-lo, tornandoo acessível aos cidadãos. Assim, como mencionado supra, a inovação foi a reunião de todas as regras em um código, e aí foi decisiva a participação de Napoleão, que não apenas determinou a sua feitura como, ainda, acompanhou pessoalmente os trabalhos da comissão, não permitindo que sofressem qualquer interrupção ou atraso. Mas o conteúdo do Código Civil francês, no entanto, foi apenas o desaguar natural do trabalho dos jusracionalistas, que expressava a cultura jurídica da época. Veja-se, à guisa de exemplo dessa continuidade de pensamento, o conceito de propriedade, trazido pelo Código Civil francês, no artigo 54450, que estabelece que a propriedade é o direito de gozar e dispor dos bens da forma mais absoluta, desde que não se faça deles um uso proibido pelas leis ou pelo regulamento. Essa declaração de que a propriedade seria absoluta, no entanto, não correspondia à realidade, e apenas refletia o repúdio à propriedade dualista da concepção feudalista, como já dissemos alhures51, mas sendo fácil 50 Art. 544. La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. 51 Cf. Aldemiro Rezende Dantas Jr., O Direito de Vizinhança, pp. 20-21, nota nº 29: A Idade Média foi marcada por fortíssima concentração de riquezas, sendo três as principais razões: a) nas guerras de conquista, os vencedores ocupavam as terras dos vencidos, sendo que os guerreiros de maior prestígio escolhiam para si as melhores; b) os sacerdotes convenciam as pessoas de que eram os representantes de Deus e que por isso deveriam receber todas as terras, para poder reparti-las, sendo que acabavam ficando com as melhores para si; c) a tributação sobre as terras era muito pesada, com conseqüências sobre a própria pessoa do devedor, e por isso muitos proprietários preferiam entregar suas terras aos sacerdotes e guerreiros (que eram isentos dos tributos) e se tornar servos destes, sendo muito comuns os contratos pelos quais a pessoa livre se tornava voluntariamente escrava. Por conta dessa excessiva concentração, eram muito freqüentes as invasões de terras, gerando muita instabilidade e receio entre os proprietários. Surgiu então a idéia de transferir a terra aos poderosos, aos quais se jurava submissão e vassalagem, em troca de proteção à fruição do imóvel. Nascia então o regime feudal, no qual os feudatários davam apoio militar ao soberano e, em troca, recebiam o direito de usar os imóveis, pelos quais passavam a zelar. Surgia, assim, a dualidade de sujeitos já mencionada, eis que o soberano tinha o domínio eminente, mas transmitia aos feudatários o domínio útil, enquanto o restante da população trabalhava em troca de alimentos (servidão da gleba). Já no Século XVIII, o Rei da França, 63 de perceber que, se a propriedade estava sujeita aos limites impostos pela lei e mesmo aos limites impostos pelos regulamentos, então era relativa, e não absoluta, e tal visão da propriedade não diferia muito do conceito recebido do direito romano 52. Pode ser apontada como novidade, no entanto, no Código de Napoleão, a disposição trazida pelo artigo 1.134, no sentido de que as convenções legalmente formadas valeriam como lei para as partes celebrantes. Essa disposição teve repercussão, inclusive, no que se refere à boa-fé, no sentido de lealdade, pois conduziu à libertação do formalismo exagerado e indispensável do direito romano, uma vez que se as partes contratantes tivessem declarado livremente sua vontade, o contrato deveria ser respeitado, ainda que não tivessem ocorrido outras formalidades, tais como a tradição ou o registro imobiliário. O Código Civil francês, como se sabe, sofreu grande influência da obra de Pothier. Este, em sua obra, faz diversas referências à boa-fé. Em seu Tratado das Obrigações, por exemplo, Pothier 53 examina a questão da percebendo o abalo do domínio eminente, efetuou consulta à Universidade de Sorbonne, para saber sobre a propriedade das terras. Para agradá-lo, respondeu a Academia que o Rei continuava a ter o domínio eminente sobre todas as terras concedidas aos súditos. Houve imediata reação, e os Estados-Gerais da França se reuniram e declararam o princípio segundo o qual a propriedade particular é inviolável. E esse sentimento se tornou tão forte que na Declaração dos Direitos do Homem, da Revolução Francesa, a propriedade foi declarada sagrada e inviolável, o que também foi observado no Código Civil Francês, que assegurou ao proprietário o uso e gozo absoluto, sendo a propriedade individualista (e não dualista) e absoluta. Cf. Darcy Bessone, Direitos Reais, p. 19-22. Também Serpa Lopes aponta que o Código de Napoleão enfocou a propriedade sob um aspecto profundamente individual por temer a possibilidade de ser revivida a concepção feudalista. Cf. Miguel Maria de Serpa Lopes, Curso de Direito Civil, v. VI: Direito das Coisas, p. 293. 52 Mesmo no Direito Romano, como ensina Caio Mário da Silva Pereira, Instituições de Direito Civil, volume IV, dizia-se ser lícito a qualquer proprietário proceder quanto à sua propriedade como melhor lhe aprouvesse, mas desde que não viesse a interferir na propriedade alheia , e todas as legislações posteriores enfrentaram a necessidade de harmonizar o exercício dos poderes jurídicos que compõem a propriedade por parte dos proprietários de prédios vizinhos (p. 141). E também o Código Civil Francês, prossegue o mestre mineiro, que de modo expresso estabeleceu que a propriedade era um direito absoluto, como já vimos supra (art. 544), no mesmo dispositivo acrescentou que dela não se poderia fazer um uso proibido pelas leis ou pelos regulamentos. Ora, se a propriedade fosse, de fato, um direito absoluto, não poderia sofrer restrições legais e regulamentares, por isso que o absoluto não comporta superlativo, ou seja, não existe um absoluto que seja menos absoluto do que outro, e na verdade é que de absoluto não se tratava (p. 71). 53 Robert Joseph Pothier, Tratado das Obrigações, p. 53. 64 boa-fé ao tratar “dos diferentes vícios que podem ser encontrados nos contratos”, dizendo que “no foro interior, deve-se ver contrário a essa boa-fé tudo aquilo que se separa, por pouco que seja, da mais exata e mais inescrupulosa sinceridade”, e que, “somente aquilo que fere abertamente a boa-fé, perante o foro exterior e interior, é considerado um verdadeiro dolo, suficiente para dar direito à rescisão do contrato”. Como se vê, na obra de Pothier, a boa-fé, embora mencionada (até mesmo com uma certa freqüência), não desempenha papel de muita relevância, em virtude de sua pouca (ou mesmo nenhuma) utilidade. Essa dificuldade decorre do fato de que não há como trabalhar a boa-fé apenas ligada a elementos de foro íntimo e psicológico, tais como a sinceridade e a intenção de dolo, de modo desvinculado de uma situação real, pois é impossível considerar-se uma idéia geral, que seja central e principiológica de um sistema, e a partir da mesma desenvolver uma abordagem teórica da boafé. A boa-fé, portanto, foi conservada nas lições doutrinárias, mas o foi em virtude da herança jurídica recebida dos romanos, pois desde lá já se conhecia a bona fides, e por isso não conseguiu grandes progressos com a sistematização levada a termo pelos racionalistas, pois continuou confinada à questão da posse ou recebeu inovações que apenas a confundiam com aspectos morais, sem grande utilidade prática. Essas mesmas dificuldades também podem ser facilmente detectadas no próprio texto do Código Civil francês. Este, com efeito, possui diversas menções à boa-fé, mas quase todas ligadas ao mesmo aspecto subjetivo da boa-fé possessória da tradição romanística, ou seja, consistindo no desconhecimento de uma certa circunstância de fato. É por essa razão que, até hoje, para o jurista francês, a boa-fé é vista, primordialmente, como um 65 estado de espírito, que varia em função dos sujeitos e das circunstâncias do caso54. No entanto, não se pode deixar de observar que existe uma disposição específica, inserida no Código Civil de Napoleão, que parece não se coadunar com a linha do direito romano, ou seja, que parece escapar a essa visão ligada ao aspecto subjetivo da boa-fé. Com efeito, no artigo 1.134, nº 3, o Código Civil francês impôs aos contratantes o dever de executar as convenções de boa-fé. Como se vê, essa disposição tem a clara finalidade de reforçar o vínculo contratual através da exigência de lealdade de cada um dos contratantes para com o outro, o que veio a surgir com os racionalistas, e não no direito romano. Tem-se, aí, a boafé como uma norma de conduta, e não como o desconhecimento de uma circunstância. Tem-se, em outras palavras, a boa-fé objetiva. O grande problema foi que, para que se desse o verdadeiro sentido à norma legal mencionada, referente à boa-fé objetiva, seria indispensável que a mesma fosse interpretada com o recurso a conceitos que se situavam fora do Código Civil, uma vez que este, a toda evidência, apenas estava a indicar uma regra geral, mas sem traçar os parâmetros de sua aplicação em cada caso concreto. Seria necessária, portanto, em outras palavras, a abordagem dos jusracionalistas, para que a norma em questão fosse vista como uma idéia geral, um princípio central que serviria de base para a construção de soluções em casos concretos, e não como uma solução pronta e acabada em si mesma. E nesse ponto as dificuldades se tornaram intransponíveis. 54 Béatrice Jaluzot, La bonne foi dans les contrats: Étude comparative de droit français, allemand et japonais, p. 80, n° 293. 66 Enquanto não havia sido publicado o Código Civil, o pensamento racionalista estava no centro dos estudos jurídicos, com a sua noção clara de um sistema baseado em princípios centrais. Uma vez publicado o Código Civil, no entanto, a situação se modificou por completo, pois o pensamento jurídico passa a ser dominado pela escola da exegese, que via no próprio texto do Código todas as soluções para os conflitos, não sendo admitido o recurso a soluções não codificadas55. Vejamos como se deu essa mudança. Em primeiro lugar, a vastidão do Código Civil francês dificultava a identificação dos princípios centrais, que eram a base do sistema idealizado pelos racionalistas. Logo, as soluções propostas pela codificação, para os diversos problemas, ficaram dispersas, desligadas das idéias centrais que poderiam funcionar como elementos de ligação entre elas. Além disso, a existência de um texto que trazia, pelo menos em tese, a compilação de todo o direito civil, começa a seduzir os intérpretes para a idéia de que ali naquele texto estariam todas as soluções necessárias para todo e qualquer conflito, e a partir daí o Direito Civil passa a se confundir com o Código Civil, e a Ciência do Direito se restringe à leitura do Código. Mas deve ser esclarecido que essa idéia de onipotência do legislador em geral e do Código Civil em particular não foi dos redatores do Código Civil, e sim dos seus primeiros intérpretes, como explica Bobbio 56. Com efeito, explica o jusfilósofo italiano, na obra e local citados, que em livro escrito antes da elaboração do Código de Napoleão, embora publicado apenas em 1820, Portalis sustentou que “seja lá o que se faça, as leis positivas não poderão nunca substituir inteiramente o uso da razão 55 Não é por outra razão que Delia Rubio afirma que a doutrina só começou a prestar atenção à boa -fé como norma de conduta a partir do momento em que a escola exegética começou a perder espaço no campo doutrinário. Cf. Delia Matilde Ferreira Rubio, La Buena Fe: el principio general em el derecho civil, p. 85. 56 Norberto Bobbio, O positivismo jurídico – Lições de Filosofia do Direito, pp. 73-77. 67 natural nos negócios da vida”, pois enquanto as leis não mudam, a vida social que é por elas regulada está em contínua mutação. Por essa razão, prossegue Portalis, “uma grande quantidade de coisas são, portanto, abandonadas ao império do uso, à discussão dos homens cultos, ao arbítrio dos juizes”. Caberia ao juiz, portanto, decidir quanto aos detalhes de cada caso concreto, aplicando os critérios estabelecidos pelas próprias leis, mas sempre buscando completar as eventuais – e inevitáveis – falhas desta. E sendo Portalis o grande nome da comissão encarregada da elaboração do Código Civil, como não poderia deixar de ser, esse entendimento transparecia de modo claro no projeto apresentado, como se observava nos artigos 4º e 9º do mesmo. O artigo 4º proibia que o juiz se recusasse a julgar sob o pretexto de que havia silêncio, obscuridade ou insuficiência da lei (recusa essa que os juízes haviam passado a adotar, após a Revolução francesa), e o art. 9º estabelecia que o juiz, no silêncio da lei, deveria fazer uso da eqüidade e dos usos. Como se vê, portanto, fica muito claro o espírito dos integrantes da comissão que preparou o projeto do Código Civil francês, no sentido de deixar sempre uma porta aberta para o prudente arbítrio do juiz, mandando-o juiz decidir mesmo que a lei fosse falha, mas ao mesmo tempo apontando-lhe os critérios a serem observados, com destaque para a eqüidade. O problema é que, nas palavras esclarecedoras de Bobbio 57, “Os redatores do Código de Napoleão quiseram eliminar este inconveniente, ditando o art. 4º que impunha ao juiz decidir em cada caso, e o art. 9º, que indicava os critérios com base nos quais decidir no silêncio ou, de qualquer maneira, na incerteza da lei. Eliminado o segundo artigo, o primeiro – considerado isoladamente e prescindindo dos motivos históricos que o haviam sugerido – é compreendido pelos primeiros intérpretes do Código de 57 Norberto Bobbio, O positivismo jurídico – Lições de Filosofia do Direito, p. 77. 68 modo completamente diverso; isto é, é interpretado, assim, no sentido de que se deveria sempre deduzir da própria lei a norma para resolver quaisquer controvérsias. Tal artigo, de fato, tem sido um dos argumentos mais freqüentemente citados pelos juspositivistas, para demonstrar que, do ponto de vista do legislador, a lei compreende a disciplina de todos os casos (isto é, para demonstrar a assim chamada completitude da lei)”. E foi com base nessa interpretação do artigo 4º, desvinculada de seu contexto histórico e isolada do artigo que o complementava, que surgiu a escola da exegese, ou seja, a escola dos intérpretes do Código Civil, e que considerava que neste estavam todas as normas para os casos presentes e futuros, sendo por isso desnecessário o recurso a todo o direito precedente. Some-se, a tudo isso, o fato de que a ciência e a cultura francesa sempre foram – até hoje o são – avessas à absorção de ensinamentos estrangeiros, sempre preferindo restringir-se aos próprios intelectuais e cientistas franceses. Em relação à Ciência do Direito, o resultado disso foi que o exame do Código Civil virou um círculo fechado, construído a partir da análise feita por juristas que tinham idêntica formação, e por isso avesso a idéias diferentes, que poderiam trazer alguma inovação. Eis, aí, a escola da exegese, que nada mais era do que um furioso positivismo, fulcrado exclusivamente no texto do Código Civil francês. Em relação à boa-fé subjetiva, como já foi dito acima, o Código Civil francês havia adotado conceito semelhante ao da bona fides, segundo o qual o possuidor estaria de boa-fé quando ignorasse o vício do título mediante o qual lhe fora transferida a propriedade. Não houve, portanto, quanto à mesma, grandes problemas, e o conceito passou a ser apenas repetido pelos exegetas, que de modo geral identificavam essa noção psicológica da boa-fé com a ignorância, embora se encontrasse uma ou outra divergência pontual, como por exemplo em relação a saber se o erro grosseiro do possuidor 69 equivaleria ou não à má-fé. Nada, contudo, que afetasse a idéia básica da ignorância como elemento central da boa-fé. Quanto à boa-fé objetiva, no entanto, vale dizer, quanto à norma legal que mandava que os contratantes, na execução dos contratos, agissem de boa-fé, os exegetas ficaram desorientados58, pois a identificação do que seria essa atuação de boa-fé, a toda evidência, não podia ser apreendida do texto do próprio Código, e por isso demandava a busca de outras fontes, o que se chocava frontalmente com a convicção, característica da escola da exegese, de que todas as soluções estavam dentro do próprio Código Civil, e nele deveriam ser buscadas. Não sabiam os exegetas, portanto, como interpretar o artigo 1.134, nº 3, pois não sabiam sequer onde deveriam buscar o sentido a ser dado para o mesmo. Como aponta Moreira Alves59, essa “parte final do artigo 1334 trouxe grave problema de entendimento de seu alcance desde a entrada em vigor desse Código, sendo que ainda em tempos mais próximos há controvérsias”. A verdade, como bem aponta Beatriz Capucho60, é que “a boa-fé incomodava os adeptos da Escola da Exegese, pois, segundo Clóvis do Couto e Silva, sua aplicação exigia mais do que podia oferecer o método subsuntivo, característico dessa Escola”. Na busca do significado dessa atuação de boa-fé, os exegetas começam lentamente a caminhar no sentido de que deveriam ser executadas as convenções de acordo com a intenção das partes, e que o juiz, ao examinar um caso concreto, não deveria se limitar às palavras usadas para a celebração do 58 É nesse sentido que Béatrice Jaluzot afirma que “Pour le juriste français déclarer que la bonne foi est objective est um peu incongru”. Cf. Béatrice Jaluzot, La bonne foi dans les contrats: Étude comparative de droit français, allemand et japonais, p. 80, n° 293. 59 José Carlos Moreira Alves. A boa-fé objetiva no sistema contratual brasileiro. Roma e America. Diritto Romano Comune. Rivista di Diritto Dell, integrazione e unificazione del Diritto in Europa e in America Latina, n° 7/1999, p. 189. 60 Beatriz Maki Shinzato Capucho, Da boa-fé na negociação coletiva de trabalho, p. 49. 70 contrato, mas procurar a verdadeira intenção das partes, pois aí é que estaria a realidade contratual. Para o belga Henri de Page 61, por exemplo, o espírito das convenções é superior à sua letra, pois a vontade real deve predominar sobre os rituais, uma vez que o direito não se encontra nas palavras, mas na realidade, e esta não pode ser deformada por aquelas. Na realidade, como bem aponta Béatrice Jaluzot 62, ainda hoje a intenção do sujeito é um motivo do comportamento ao qual o direito francês atribui fundamental importância, sendo que a imensa maioria dos autores franceses considera a boa-fé como a intenção que anima o sujeito durante seus atos: se essa intenção é boa, a pessoa está de boa-fé; se é má, então a pessoa deve ser considerada de má-fé. Desde Rau, esclarece a autora, já se dava esse sentido ao artigo 1.134, alínea 3, do Código Civil francês: uma convenção executada de boa-fé é uma execução conforme a vontade das partes. Tais idéias, como se vê, já se aproximavam mais do racionalismo, pois a solução buscada era em um nível substancial, ou seja, com o exame da matéria contratual, e não apenas um exame formal, dependente das palavras porventura usadas. Obtinha-se, com isso, uma solução mais lógica. O problema é que, de certa forma, continuava-se a ter um sentido psicológico para a boa-fé, eis que a noção da mesma, embora não mais ligada ao 61 Henri de Page, Traité Élémentaire de Droit Civil Belge, t. II, p. 411, n° 468. “L’esprit prime la lettre; la volonté réelle domine le rite; le droit n’est plus dans les mots, mais dans les réalités. Ceux-là ne peuvent, en aucun cas, permettre de déformer celles-ci”. 62 Béatrice Jaluzot, La bonne foi dans les contrats: Étude comparative de droit français, allemand et japonais, p. 94 n° 340. Textualmente, diz a autora que “L’intention est um motif de comportement auquel le droit français dans son ensemble accorde une importance fondamentale. L’immense majorité des auteurs français considère la bonne foi comme l’intention qui anime une partie lors de son acte. Si cette intention est bonne, la personne est de bonne foi, si elle est mauvaise, la personne est de mauvaise foi. RAU déjà donnait ce sens à l’article 1134 alinéa 3: une convention exécutée de bonne foi, c’est une exécution conforme à la volonté des parties”. Essa visão do direito francês, na realidade, foi a fonte do artigo 85, do Código Civil brasileiro de 1916 (atual artigo 112, do Código Civil), segundo o qual, nas declarações de vontade, deve-se atender mais à intenção do que ao sentido literal das palavras. 71 conhecimento ou ignorância, estava agora vinculada à intenção do contratante, e a intenção também se constitui em um aspecto íntimo. E a partir daí pouco se evoluiu. Ou, até mesmo, regrediu. Nesse sentido a opinião de Menezes Cordeiro 63, que traça ácida crítica à doutrina francesa, apontando que “a literatura francesa actual sobre a boa-fé nas obrigações regrediu: ora mantém as velhas referências à pretensa extinção da diferença entre os bonae fidae e os stricti iuris iudicia, ora ignora o tema, ora, um tanto por influência alemã, lhe concede pequenos desenvolvimentos, sem relevância jurisprudencial... Conclua -se pelo fracasso da boa-fé no espaço juscultural francês... Imagem do bloqueio geral derivado de uma codificação fascinante e produto das limitações advenientes de um positivismo ingênuo e exegético, a boa-fé napoleônica veio a limitar-se à sua tímida aplicação possessória e, para mais, em termos de não levantar ondas dogmáticas. Esse fracasso, patente no panorama dos comentários e obras gerais e claro na falta de resultados obtidos pelas monografias que, em França, se debruçaram sobre a boa-fé, acentua-se pela sua não aplicação jurisprudencial e pelo desaparecimento, no segundo pós-guerra, de estudos a ela votados. Tais afirmações não são prejudicadas por pequenas alterações recentes, ditadas, de modo manifesto por transferências culturais alemãs...”. Veja-se que em Planiol e Ripert64, por exemplo, já na primeira metade do século XX, lê-se que essa boa-fé referente à execução dos contratos diz respeito à obrigação de se comportar como uma pessoa honesta e conscienciosa, sendo tal comportamento exigido não apenas na fase de formação dos contratos, mas também na execução dos mesmos, não podendo se limitar o exame do contrato à literalidade das palavras usadas para a sua elaboração. Continuava pendente, como se percebe, a noção sobre o que seria esse comportamento como uma pessoa honesta, pois a explicação para isso, 63 Antônio Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro, Da boa-fé no Direito Civil , pp. 260 e 267. Marcel Planiol e Georges Ripert, Traité Pratique de Droit Civil Français, Tome VI: Obligations, première partie, p. 524, n° 379. “Tous les contrats sont chez nous des contrats de bonne foi. La bonne foi c’est l’obligation de se conduire en homme honnête et consciencieux non seulement dans la formation, mais dans l’exécution du contrat, et de ne pas s’en tenir à la lettre de celui-ci”. 64 72 mais uma vez, estava fora do Código Civil. Apenas se trocou, portanto, a expressão que ficava sem explicação. Como se vê, os exegetas não conseguiram encontrar uma fórmula teórica para a boa-fé. E, ainda mais, apesar das diversas menções feitas pelo Código Civil de Napoleão à boa-fé, não conseguiram também extrair das mesmas um princípio comum, que pudesse ser aplicado a todas elas, e a conseqüência foi que tais menções não passaram disso mesmo, ou seja, simples menções, isoladas umas das outras, aparentemente sem qualquer elemento de conexão que as unisse. Houve tentativas de obtenção de um conceito único para a boa-fé, mas à custa de ser simplesmente ignorada a menção que o Código Civil fazia à boa-fé como norma de conduta, e na verdade concentrando-se o conceito, unicamente, na boa-fé subjetiva, o que a toda evidência era inaceitável e constituía-se em mutilação expressa da norma legal. Como explica Delia Rubio, foi só depois que a escola exegética começou a perder espaço na doutrina que os juristas começaram a prestar mais atenção à boa-fé que aparecia nos ordenamentos de diversos países como norma de conduta e cumprindo o papel de um princípio geral. E no entanto, alerta a autora espanhola, as normas não eram novas, pois sempre haviam estado nas codificações, apenas não se conseguia dar às mesmas a significação adequada, pois eram vistas apenas como um reforço à obrigatoriedade dos contratos. Em outras palavras, a mudança no enfoque da boa-fé não se deu com a mudança da legislação, mas tão-somente com a mudança de atitude dos cientistas do Direito 65. 65 Delia Matilde Ferreira Rubio, La Buena Fe: el principio general em el derecho civil, p. 85. 73 Falhando a unificação, começam os juristas franceses a buscar um estudo bipartido da boa-fé, separando-a em objetiva e subjetiva66. Em relação à boa-fé subjetiva, como é fácil de se imaginar, a acomodação doutrinária se deu de modo fácil, mesmo porque no Código já havia, como vimos acima, conceito que correspondia ao que fora recebido desde os romanos, referente à bona fides, no sentido de que a boa-fé seria a ignorância, por parte do possuidor, dos vícios que maculavam seu título aquisitivo, e a partir daí não houve qualquer obstáculo em assimilar a boa-fé subjetiva ao desconhecimento das circunstâncias, o que na verdade já era feito há muito tempo. Em relação à boa-fé objetiva, no entanto, não foi assim tão simples. Esta corresponderia à lealdade, ao comportamento normal e ético de uma pessoa honesta, isento de qualquer dolo, fraude ou abuso do direito, devendo ser observada no campo contratual, tanto na fase de formação do contrato quanto ao longo de seu cumprimento. O problema, como desde logo se percebe, é que tal conceito explana a boa-fé em função de outros institutos, que também carecem de explicação, e por isso, na verdade, nada esclarece. Além disso, se a boa-fé nada mais fosse do que uma função do dolo, da fraude, da ética e do abuso do direito, na realidade estaria sendo feita uma duplicação de conceitos, pois cada um desses institutos necessitaria de uma dupla explicação, ou seja, quando isoladamente considerado e quando vinculado à boa-fé. Na Itália e em Portugal, principalmente em decorrência da enorme influência que o Código Civil francês teve nas codificações posteriormente surgidas nesses dois países (1865 e 1867, respectivamente), 66 Houve, também, quem tentasse uma classificação tripartida, que na verdade nada mais era do que uma subdivisão da boa-fé objetiva em dois aspectos, um referente à boa-fé como critério de interpretação e outro que a considerava como sendo a vontade a ser realizada pelas partes e respeitada pelos terceiros, nos negócios jurídicos. Cf. Delia Matilde Ferreira Rubio, La Buena Fe: el principio general em el derecho civil, pp. 89 -90. 74 não foi muito diferente o tratamento dado à boa-fé, que também foi relacionada, em seu aspecto objetivo, ou seja, enquanto norma de conduta, a outros institutos que igualmente eram carentes de uma conceituação mais precisa. Contudo, o que pode ser desde logo colocado em destaque é que, enquanto o Código Civil italiano mencionava expressamente a boa-fé como comportamento a ser observado nos contratos, o antigo Código Civil português, embora se reportando à boa-fé em dezenas de artigo, apenas o fez quanto à boa-fé subjetiva, nada estabelecendo em relação à formação e à execução dos contratos. Curiosamente, inclusive, o Código Civil português, em seu artigo 702º, havia sido inspirado quase que integralmente no artigo 1.134, do Código Civil francês, determinando que os contratos legalmente celebrados fossem cumpridos de modo exato, mas a disposição constante do Código de Seabra cortou exatamente a referência que o Código de Napoleão fazia à boa-fé. Possivelmente essa ausência tenha sido proposital, pois nos mais de sessenta anos já decorridos, desde o Código francês até a elaboração do Código português, já havia sido possível avaliar com realismo as dificuldades que a doutrina francesa havia enfrentado, ao lidar com a boa-fé objetiva do Código de Napoleão. De qualquer forma, em Portugal, a falta de menção expressa no Código Civil não impediu que naquele país se começasse a perseguir um conceito geral, que permitisse a aplicação da boa-fé ao campo das obrigações, inobstante o silêncio do texto codificado. Houve uma certa evolução doutrinária, mas com praticamente nenhuma repercussão na jurisprudência portuguesa. De qualquer forma, esses estudos da doutrina formaram a base necessária para que o assunto fosse muito mais bem tratado no Código Civil 75 português de 1966, como veremos adiante, que de modo sistemático tratou da boa-fé. 1.5. A boa-fé no Direito Civil Alemão. Esclarece Bobbio67 que o direito romano – como, de resto, toda a cultura – havia se eclipsado na Europa Ocidental, durante a Idade Média, sendo substituído pelos costumes locais e pelo novo direito inerente às populações germânicas (bárbaras), mas ressurgiu depois do “século das trevas”, com o aparecimento da Escola jurídica de Bolonha, e espalhou-se não apenas pelo antigo território do Império Romano, mas também para territórios que nunca haviam sido dominados por este. Na Alemanha, esse renascimento do direito romano se deu pelo fenômeno da “recepção”, por obra, principalmente, do trabalho dos glosadores e pós-glosadores, como já vimos anteriormente (veja-se, a respeito, o item 1.3, retro). Foi graças a esse fenômeno da recepção que o direito romano foi profundamente assimilado pela sociedade alemã, tanto assim que, até o final do século XIX, antes da elaboração do Código Civil alemão, os tribunais germânicos ainda aplicavam largamente o direito do Corpus juris, com as atualizações feitas pelos pós-glosadores, para adaptação às novas exigências sociais, e com o nome de “usus modernus Pandecta-rum”. Assim, ao longo de todo o século XIX, enquanto na França a Ciência do Direito enveredava pela escola da exegese, num positivismo radical, na Alemanha se trilhava um caminho completamente diverso. Essa divisão do direito europeu continental encontra vários motivos, como por exemplo a diversidade lingüística (eis que o latim, antes língua unificada do 67 Norberto Bobbio, O positivismo jurídico – Lições de Filosofia do Direito, p. 30. 76 direito, ia perdendo espaço como tal) e a forte rivalidade entre França e Alemanha. Além disso, os estudos filosóficos de Kant tiveram um forte impacto no direito alemão 68. Convém observar que, ao longo dos séculos XVII e XVIII, era dominante na Europa o pensamento jusnaturalista. E para que o direito natural pudesse perder terreno, foi necessário o surgimento de uma outra linha de pensamento, que se mostrou extremamente crítica às idéias jusnaturalistas. Isso se deu com o surgimento da escola histórica do direito, no final do século XVIII e no começo do século XIX, que se difundiu principalmente na Alemanha e acabou levando à dessacralização do direito natural69. Segundo a concepção da escola histórica do direito, cujo expoente máximo foi Savigny, o Direito só poderia ser estudado se fossem levadas em conta, dentre outras, as seguintes características: a) a individualidade e a variedade do homem, ou seja, o Direito jamais poderia ser entendido como único, imutável em todos os lugares e em todos os tempos, pois o mesmo seria sempre desenvolvido na história, como ocorre com todos os fenômenos sociais, e por isso variaria no tempo e no espaço; b) o valor da tradição, no sentido de que deveria ser sobrevalorizado o direito consuetudinário, uma vez que os costumes, formando-se e desenvolvendo-se por lenta evolução na sociedade, seriam o Direito que nasce diretamente do povo, exprimindo o sentimento e o “espírito do povo”70. 68 Uma outra diferença é que a França, logo no começo do século XIX, trouxe ao mundo o seu Código Civil; na Alemanha, no entanto, a escola histórica do direito, dirigida por Savigny, triunfou ao longo de praticamente todo esse mesmo século, e como essa escola partia do princípio de que o verdadeiro direito era o formado pelos costumes (veja-se, no texto acima, poucas linhas adiante), a mesma opunha-se à codificação do direito civil. Formaram-se, na Alemanha, duas grandes correntes, uma liderada por Thibault, que pedia a urgente codificação, e a outra liderada por Savigny, que se opunha. Em virtude dessas circunstâncias, o Código Civil alemão só viria a entrar em vigor quase cem anos depois do francês. Cf. Vicente Ráo, O Direito e a Vida dos Direitos, pp. 127-128. 69 Norberto Bobbio, O positivismo jurídico – Lições de Filosofia do Direito, p. 45. 70 Norberto Bobbio, O positivismo jurídico – Lições de Filosofia do Direito, pp. 51-52. 77 O Direito, então, na visão da escola histórica, seria um traço característico de um povo, assim como a língua e os costumes 71. Assim, o Direito nada mais seria do que uma evolução histórica e sistemática, que tinha o seu ponto de partida nos costumes e crenças populares e depois era consagrado na lei e na jurisprudência dos tribunais. Ao direito natural, portanto, a escola histórica contrapunha o direito costumeiro, por entender que este era o direito genuíno. Não se trataria, pois, de uma obra do legislador72, pois este apenas refletiria na lei a evolução supramencionada 73. Além disso, como a legislação exprimia todo um conjunto de manifestações do povo, cada norma legal só poderia ser entendida dentro do conjunto, só podendo ser entendido cada texto legal quando levado ao cotejo com todo o sistema, e jamais pela interpretação de um texto isolado. Referindo-se à Escola Histórica, diz Wieacker 74 que “o seu núcleo é antes constituído por um processo de mutação interna da própria ciência jurídica que, por volta de 1800, tinha em vista o novo ideal de uma ciência jurídica ao mesmo tempo positiva – i.e., autônoma – e filosófica – i.e. – sistemático-metódica”. Convém lembrar, como acima já mencionamos, que, nessa época, o direito romano era profundamente arraigado na Alemanha, e portanto foi 71 Franz Wieacker, Historia do Direito Privado Moderno, p. 407, ensina que “A Escola Histórica do direito descobriu na historicidade do direito a historicidade do proprio povo. Ela viu o mesmo no direito, primeiro implicitamente depois expressamente, uma manifestação do espírito do povo”. 72 Para a Escola Histórica, diz Wieacker, “o direito já não podia ser compreendido como um sistema de leis naturais gerais e a-históricas da sociedade humana ou apenas como mero produto artidicial de um legislador racional”. Cf. Franz Wieacker, Historia do Direito Privado Moderno, p. 406. 73 Curiosamente, no entanto, apesar de preferir o direito costumeiro ao legislado, a escola histórica do direito acabou se revelando como uma das causas do furioso positivismo que viria a tomar conta da França, após a publicação do Código Civil de 1806, com a escola exegética, como já vimos no item 1.4, retro. Curiosamente, dissemos, porque ao pregar a prevalência das normas costumeiras, a escola histórica distanciase enormemente do positivismo que confundiu o estudo do direito civil com o exame do Código Civil. Ocorre que, ao criticar duramente as concepções jusnaturalistas, a escola histórica acabou por solapar o direito natural, e foi por isso que, indiretamente, acabou abrindo o caminho para o positivismo. Cf. Norberto Bobbio, O positivismo jurídico – Lições de Filosofia do Direito, p. 45. 74 Franz Wieacker, Historia do Direito Privado Moderno, p. 419. 78 tomado como ponto central de partida para a escola histórica75. Além disso, como o Direito era um produto da cultura do povo, buscava-se a colheita de elementos culturais na sociedade, o que era feito pela observação das instituições existentes nessa mesma sociedade. Assim, aos princípios centrais que norteavam o sistema, somavam-se elementos da periferia desse mesmo sistema, de origem cultural, o que lhe conferia características próprias daquela sociedade. É importante observar que foi essa busca da realidade como parâmetro de referência, que se mostrava como o eixo central da escola histórica, que permitiu que ganhasse impulso a crítica ao exacerbado individualismo que se verificava nos Códigos do século XIX, e que em última análise, como veremos no desenvolvimento do presente item, acabaram por criar, mais adiante, as condições necessárias para o reconhecimento da boafé 76 como fonte normativa autônoma, e não apenas como uma simples figura de retórica ou um princípio tão-somente aplicável como reforço dos contratos 77 ou como a ciência de uma determinada circunstância ligada à posse, o que pode ser facilmente explicado pelo fato da boa-fé se ligar ao pensamento problemático, tópico, ou seja, mediante a imersão nas 75 Na realidade, como explica Vicente Ráo, o que aconteceu foi que o direito romano era tão profundamente enraizado na Alemanha do século XIX, que parecia simplesmente inconcebível um direito alemão que deixasse de fora as concepções romanas, que não conservasse os conceitos romanos. Ora, é evidente que a absorção do direito de outro povo e de outra época chocava-se frontalmente com a idéia básica da escola histórica, no sentido de que o direito era o produto inconsciente e espontâneo do meio social, variando no tempo e no espaço, como vimos acima. No entanto, a escola história não teria a menor chance de ser aceita, caso propusesse a exclusão dos preceitos do direito romano, e por essa razão, não sem dificuldade, esforçou-se em justificar aadmissao do direito romano e dos seus conceitos jurídicos. Vicente Ráo, O Direito e a Vida dos Direitos, p. 128, nota nº 49. 76 Nesse sentido, poderíamos simplificar dizendo que a boa-fé objetiva representa “uma reação contra o individualismo, cobrando das partes um comportamento que leve em conta o interesse do parceiro contratual: um agir solidário”. Cf. Laerte Marrone de Castro Sampaio, A boa-fé objetiva na relação contratual, p. 28. 77 Delia Matilde Ferreira Rubio, La Buena Fe: el principio general em el derecho civil, p. 86. 79 circunstâncias dos problemas concretos que se apresentam ao juiz (veja-se, supra, o item 1.1). Interessante notar, portanto, que na visão da escola histórica o sistema jurídico é construído através da dedução e da indução: partindo-se de princípios centrais, deduzem-se as regras que formam o sistema, de modo idêntico ao do racionalismo; ao mesmo tempo, contudo, a partir da observação dos elementos externos, ou seja, das instituições culturais vigentes na sociedade, faz-se o processo inverso, induzindo-se os postulados centrais a partir desse produto dos costumes obtidos diretamente junto ao povo. A conseqüência mais imediata é que esse sistema está sempre sujeito aos influxos da vida real, em constante e incessante alteração com esta e, por outro lado, mostra-se como um sistema adequado para a solução de questões práticas78. Essa doutrina alemã do século XIX, tendo adotado a observação dos fatos culturais como parte de sua metodologia, como não poderia deixar de ser, precisou enfrentar a questão da boa-fé. Em relação à posse, Savigny desenvolveu-a com um aspecto psicológico, mas já com alguns traços de objetivação. Com efeito, Savigny entendia que apenas a vontade do possuidor (animus) era que permitia transformar a detenção em posse, em claro aspecto subjetivo, e também que a posse seria de boa-fé quando o possuidor estivesse convencido de que havia esteio jurídico para sua posse79. No entanto, apontava Savigny que a posse de boa-fé deveria estar amparada em um título que a justificasse, ou seja, tem-se aí uma situação objetiva, na qual a primeira abordagem sobre a existência ou não da boa-fé se dava em função de um elemento externo, objetivo, que era a existência ou não 78 79 Cf. Antônio Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro, Da boa-fé no Direito Civil, pp. 294-295. Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, Direitos Reais, p. 30. 80 do título jurídico, e não apenas a simples análise do que o possuidor tinha ou não conhecimento (o que, de resto, no mais das vezes é impossível de aferir com segurança). A boa-fé possessória, portanto, seria protegida como uma situação objetiva, e não apenas pelo estado psicológico de conhecimento ou de ignorância do possuidor. Em relação à boa fé como norma de conduta 80, no entanto, ou seja, a boa-fé objetiva, muito pequena foi a evolução. No campo das 80 Na realidade, quando se fala em boa-fé como “norma”, está-se passando diretamente à conclusão de uma polêmica que até hoje divide a doutrina: a de saber-se se a boa-fé se constitui em um standard jurídico ou em um princípio geral. Entenda-se, por standard, um parâmetro, uma referência para fins de comparação, ou seja, um modelo de conduta social, em relação ao qual o juiz, em um caso concreto, deverá fazer a comparação de um comportamento, para aferir se o mesmo foi ou não adequado ao padrão utilizado. O problema é que o standard não cria normas e nem é, em si mesmo, uma norma, e por isso não funciona como uma diretriz para o comportamento, mas tão-somente, como dissemos, serve de parâmetro para a comparação do comportamento já adotado. Assim, por exemplo, quando o Código Civil brasileiro se refere à “pessoa de diligência normal” (art. 138) ou ao “homem ativo e probo ” (art. 1.011), não está criando norma alguma ou impondo um comportamento, mas apenas dizendo ao juiz que, em um caso concreto, deverá comparar o comportamento do sujeito com aquele comportamento-padrão escolhido pelo legislador para aquela situação, que é o da pessoa de diligência normal ou da pessoa ativa e proba, sendo evidente que o conteúdo desse comportamento só poderá ser determinado levando-se em conta o desenvolvimento social, econômico, cultural e até mesmo tecnológico, de uma determinada sociedade. Assim, o standard jurídico não impõe uma conduta a ser seguida, mas apenas funciona como elemento de comparação da conduta adotada em um caso concreto. O princípio, ao contrário, não apenas é uma norma em si mesmo (pois impõe um comportamento e dele decorrem obrigações), mas além disso ainda funciona como gerador de outras normas (Delia Matilde Ferreira Rubio, La Buena Fe: el principio general em el derecho civil , p. 102). Assim, quando o artigo 138, do nosso Código Civil, menciona a pessoa de diligência normal, não está criando obrigações concretas e nem determinando uma conduta. Ao contrário, quando se fala em comportamento conforme a boa-fé (Código Civil, art. 422), daí decorrem diversas obrigações concretas para o sujeito, sendo-lhes imposta a observância de uma determinada conduta. Logo, quando falamos em “boa-fé como norma de conduta”, isso significa que estamos adotando a idéia de que se trata de um princípio geral, e não apenas um standard comportamental, sendo certo que o princípio é de aplicação muito mais ampla, eis que se insere por todo o ordenamento jurídico, sendo exatamente isso o que ocorre, ao nosso ver, em relação à boa-fé. No mesmo sentido é a conclusão de José Luis De Los Mozos, para quem a boa-fé, em geral, não pode ser confundida com o que a doutrina anglo-americana classifica como standards jurídicos, pois a boa-fé se limita a atuar uma idéia moral, que recebe uma instrumentação diferente conforme os diversos topoi jurídicos encontráveis no ordenamento. Mas aponta o referido autor que, especificamente em relação ao direito obrigacional, ao fazer incidir um critério de reciprocidade entre os sujeitos, a boa-fé se assemelha aos standards jurídicos, uma vez que estabelece uma conduta-tipo (El principio de la buena fe, p. 54). No mesmo sentido, ainda, a conclusão de Béatrice Jaluzot, que após observar que o ponto comum entre as duas concepções (standard jurídico e princípio) é a ausência de uma definição precisa, sendo isso uma vantagem, pois permite ao juiz atribuir ao conteúdo da boa-fé a partir de numerosos elementos objetivos e subjetivos, sendo aí que aparecem as diferenças entre os diversos ordenamentos jurídicos, e conclui apontando que “la conception de la bonne foi en tant que principe juridique tend à faire l’unanimité” (La bonne foi dans les contrats: Étude comparative de droit français, allemand et japonais, pp. 124-125, n°s 445 e 452). Mas a questão não é pacífica, havendo autores que sustentam que a boa-fé é apenas a representação de um standard. Neste sentido, apontam DiezPicazo e Antonio Gullon que “La buena fe es lo que se ha llamado un standard jurídico, es decir, un modelo de conducta social o, si se prefiere, una conducta socialmente considerada como arquetipo, o también una 81 obrigações, na realidade, a boa-fé foi examinada por Savigny não como um princípio inerente às obrigações em geral ou aos contratos em particular, mas sim como um alargamento do poder decisório do juiz, aproximando-se pois dos bonae fidei judicia dos romanos. Desse modo, o juiz não estaria adstrito ao que estivesse expresso no contrato, mas também poderia levar em conta o que era comum nos contratos daquela espécie, ou seja, a tutela jurídica levaria em conta a substância do contrato, e não apenas o que nele estivesse expresso. O réu, por sua vez, poderia invocar esse maior poder do juiz para trazer ao processo um eventual crédito que tivesse contra o autor, por exemplo, o que acabou dando origem à exceção material da compensação. Como se vê, portanto, até aí se manteve firme a bipartição da boafé, aplicada no campo da posse e no campo das obrigações, mas o progresso não foi significativo, no sentido de estabelecer conceitos claros e precisos, que pudessem permitir ao operador do direito a segurança no manuseio da boa-fé, notadamente no campo contratual. De qualquer modo, merece destaque o aspecto prático trazido por Savigny, em relação ao título que esteava a posse e que serviria de amparo à boa-fé, como vimos acima, pois servia como um fator concreto, a ser considerado pelo juiz, em contraponto a uma nem sempre possível análise do conducta que la conciencia social exige conforme a un imperativo ético dado”. Cf. Luis Diez-Picazo y Antonio Gullon, Sistema de Derecho Civil – v. 1 – Introdución – Derecho de La persona – Negocio Jurídico, p. 519. Também para Vitor Frederico Kümpel, A teoria da aparência no novo Código Civil brasileiro, p. 77, “a boa -fé também é uma cláusula geral, pois encerra em si condutas padronizadas (standards)...”. Outros, ainda, parecem apontar que não há diferença conceitual entre o standard e o princípio geral, como é o caso de Hernández Gil, para quem “la buena fé, em su significación general, funciona como um principio general o um standard jurídico” (Antônio Hernández Gil, La posesión, p. 173). E o ilustre autor espanhol repete, em outra obra, a mesma idéia, afirmando que “la buena fe, considerada en términos generales, funciona como un principiuo o concepto standard por virtud del cual el ordenamiento, evitando la concreta previsioón de comportamientos, enuncia un modelo de conducta en el que han de hallarse insertos los destinatarios de las normas para aprovecharse de ciertos efectos beneficiosos”. Cf. Antônio Hernández Gil, La función Social de la posesión, p. 130. 82 íntimo do possuidor, para verificar se o mesmo sabia ou não sabia do vício que lhe maculava a posse. Além disso, pelo menos a boa-fé se manteve nas discussões doutrinárias, em seus dois aspectos já abordados desde os romanos, ou seja, em relação às obrigações e à posse, o que sempre torna possível que novos estudos venham a se somar aos já existentes, o que de fato viria posteriormente a ocorrer. As discussões sobre a boa-fé voltariam a se acentuar em virtude de um curioso caso concreto, na segunda metade do século XIX, envolvendo a sucessão de um conde alemão, que provocou ruidosa polêmica entre os juristas 81. Um conde alemão, morto em 1765, havia feito um testamento, dez anos antes, no qual designava como herdeiro um filho, determinando contudo um fideicomisso e a destinação dos bens para depois da morte do filho. Ocorre que esse filho nunca chegou a nascer e, morto o conde, a irmã deste, herdeira legítima, de imediato se apossa das propriedades, antes mesmo da abertura do testamento. Quase cem anos depois, em 1861, os herdeiros testamentários do conde (os descendentes do fiduciário) ajuízam ação pedindo que lhes fossem entregues os bens da herança. Na defesa, argüiu-se a ocorrência da usucapião, contra a qual os autores apontaram a má-fé da irmã do conde, eis que não seria possível usucapir sem posse de boa-fé. A partir daí a discussão se concentra em saber se a irmã do conde, ao apoderar-se dos bens antes da abertura do testamento, estava de boa-fé ou de má-fé, ou seja, se o fato de não ter esperado a abertura do testamento, o que teria sido o mais recomendável, serviria como obstáculo à sua crença de que 81 Cf. Antônio Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro, Da boa-fé no Direito Civil, pp. 308-310. 83 efetivamente seria a herdeira do irmão falecido, por ser indesculpável o seu erro quanto à propriedade dos bens. Duas correntes doutrinárias se formaram. Para a primeira, capitaneada por Carl Wächter, que tomou como referência o largo emprego, nas fontes romanas, de expressões como putare, ignorare e nescire, a boa-fé consistiria em um fato puramente intelectivo, ou seja, no simples fato da crença (errônea) do possuidor de que era o verdadeiro proprietário da coisa. Por se tratar de um fato, pouco importava se o erro era desculpável ou não, pois o que interessaria era a crença em si mesma, e não os elementos nos quais a mesma estaria apoiada. E mesmo a dúvida sobre o direito do antecessor só excluiria a boa-fé se fosse forte ao ponto de afastar a crença do possuidor em seu próprio direito 82. Para Wätcher, portanto, a boa-fé era de conteúdo psicológico, e não se confundia a boa-fé das relações jurídicas reais com a boa-fé das relações jurídicas obrigacionais. Para a segunda corrente, no entanto, liderada por Bruns, essa análise puramente psicológica da boa-fé, ou seja, tão-somente esteada na convicção íntima do possuidor, era inaceitável em virtude da extrema insegurança jurídica que dela decorreria, pois teria que ser feita a análise da pessoa, em cada caso concreto, para saber o seu grau de credulidade, eis que a pessoa crédula ou de pouca inteligência seria mais facilmente considerada de boa-fé do que a pessoa de muitas luzes. A boa-fé do possuidor, portanto, para Bruns, não seria um conceito psicológico, mas sim um conceito ético 83. 82 José Carlos Moreira Alves. Diritto Romano Comune. Rivista di America Latina, n° 7/1999, p. 190. 83 José Carlos Moreira Alves. Diritto Romano Comune. Rivista di America Latina, n° 7/1999, p. 190. A boa-fé objetiva no sistema contratual brasileiro. Roma e America. Diritto Dell, integrazione e unificazione del Diritto in Europa e in A boa-fé objetiva no sistema contratual brasileiro. Roma e America. Diritto Dell, integrazione e unificazione del Diritto in Europa e in 84 Assim, portanto, sustentavam os defensores dessa segunda opinião que a boa-fé deveria ser colhida a partir de um conteúdo ético, ou seja, de um comportamento concreto, através do qual se poderia examinar a honestidade e a correção da conduta, e não pelo exame de elementos psicológicos e inatingíveis. Para Bruns, o conceito ético da boa-fé seria o mesmo, tanto em relação à usucapião quanto em relação aos contratos, e em ambos a boa-fé seria eliminada pelo erro inescusável. A divisão doutrinária, portanto, pode ser assim resumida: o conteúdo da boa-fé tem natureza predominantemente psicológica (crença) ou, ao contrário, apresenta um conteúdo marcantemente ético? Para Wächter, como vimos, a boa-fé consiste em um aspecto psicológico, que se caracteriza por uma crença errônea, qualquer que seja a sua natureza (a sua causa). Para Bruns, ao contrário, a boa-fé tem um conteúdo ético, e este só se materializa quando essa crença não é culposa, ou seja, não é suficiente a crença em si mesma. Alguns outros autores, por sua vez, tentaram uma doutrina intermediária, como Pernice e Bonfante, apontando, em síntese, que a partir das fontes romanas poderiam ser apontados dois aspectos para a boa-fé, um aplicável aos direitos reais e o outro aplicável em relação às obrigações, não sendo uma delas equiparável à outra. Assim, nos direitos reais a boa-fé seria marcada por um conteúdo principalmente psicológico (a consciência), enquanto nas obrigações haveria um forte componente ético (moralidade) 84. Em relação à análise das fontes romanas, vale dizer, considerando-se o sentido da boa-fé em relação ao direito romano, a razão estaria com Wächter, pois para os romanos a boa fé possessória apresentava 84 José Luis de Los Mozos, El Principio de La Buena Fe, pp. 27-28. 85 um conteúdo puramente psicológico, não levando em consideração a questão da desculpabilidade do erro em que se assentava 85. Do ponto de vista da moderna Ciência do Direito, no entanto, deu-se exatamente o contrário, ou seja, atualmente se entende que a boa-fé apresenta marcante caráter ético, que prevalece sobre o psicológico, por isso a crença deve ser justificada, vale dizer, deve ser desculpável, assentada em fatos que de modo razoável possam justificá-la 86. Essa segunda posição, aliás, foi expressamente adotada pelo Código Civil alemão (§ 932, 2), como veremos logo adiante, neste mesmo item. Esse conteúdo ético se revela com mais clareza quando se avalia a boa-fé subjetiva, ou seja, essa boa-fé ligada à crença, ao conhecimento ou ao desconhecimento acerca de uma certa circunstância do negócio jurídico. Mas isso não significa, obviamente, que a boa-fé objetiva, enquanto norma de conduta, esteja despid a desse mesmo conteúdo ético 87. Neste ponto, deve-se alertar que essa distinção entre conceito psicológico e conceito ético de boa-fé, nos moldes em que foi colocada nessa polêmica entre Wätcher e Bruns, encontra-se superada, e não pode ser confundida com a atual separação entre boa-fé subjetiva e boa-fé objetiva, pois na verdade ambas as correntes, tanto a de Wätcher quanto a de Bruns, podiam ser qualificadas como subjetivas, uma esteada na crença, e a outra dependendo da existência ou não de culpa no surgimento da crença. A boa-fé subjetiva se apresenta como um fato psicológico, no qual se levam em conta os valores éticos, sendo no campo dos direitos reais a sua atuação predominante. A boa-fé objetiva, por sua vez, se apresenta como 85 86 87 Antônio Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro, Da boa-fé no Direito Civil , p. 312. José Luis de Los Mozos, El Principio de La Buena Fe, p. 27. José Luis de Los Mozos, El Principio de La Buena Fe, p. 29. 86 regra de conduta do homem de bem, conforme os padrões de uma sociedade em um certo momento histórico, sendo, pois, exterior ao sujeito. 88 O que acontece é que esse conteúdo ético da boa-fé se infiltra no ordenamento jurídico de tal modo e em tal profundidade que, muitas vezes, transmuda-se de seu aspecto subjetivo para um objetivo, vale dizer, deixam-se de lado aspectos como a intenção, a culpa, a consciência, etc. (o aspecto psicológico, enfim), e passa-se a apreciar tão-somente se se trata de um comportamento socialmente aceitável. Na lição precisa de Lombardo 89, o princípio ético da boa-fé se funde organicamente com o ordenamento jurídico, e se manifesta de modo mais ou menos rigoroso, na medida exata das exigências sociais (e não além delas), chegando a converter-se, em relação a determinadas conseqüências jurídicas, de princípio subjetivo em objetivo, onde a boa-fé deixa de ser esteada sobre a intenção do sujeito e passa a ser considerada como um mero comportamento socialmente apreciável. A noção jurídica de boa-fé, assim, se apresenta estruturada como um modo de ser do espírito, considerado exclusivamente na objetividade de sua manifestação. Em matéria contratual, por exemplo, a boa-fé passa a significar a medida das ações subjetivas e, portanto, um critério normativo de comportamento. Trata-se da boa-fé, como se vê, considerada como norma de comportamento, ou seja, norma de conduta, e, portanto, aquilo que mais tarde viria a ser denominado de boa-fé objetiva. Pode-se dizer que é nesse mesmo sentido, descrito por Lombardo, que o artigo 110 do nosso Código Civil estabelece que a manifestação de vontade subsistirá ainda mesmo que o seu 88 José Carlos Moreira Alves. A boa-fé objetiva no sistema contratual brasileiro. Roma e America. Diritto Romano Comune. Rivista di Diritto Dell, integrazione e unificazione del Diritto in Europa e in America Latina, n° 7/1999, p. 192. 89 Luigi Scavo Lombardo, verbete Buona fede – La Tradizione Canonistica, In: Calasso, Francesco (Coord.), Enciclopédia del Diritto, V, p. 666. 87 autor tenha feito a reserva mental de não querer aquilo que manifestou, exceto se a outra parte tinha conhecimento dessa ressalva mental. Com efeito, o dispositivo em questão informa que a vontade manifestada, que pode tê-lo sido por meio de palavras ou mediante um determinado comportamento, e que ao ser externada pôde ser apreendida pelos demais sujeitos envolvidos no mesmo negócio jurídico, prevalece sobre a intenção, ou seja, sobre a vontade interna, formada no íntimo do declarante, mas que por não ter sido exteriorizada não era do conhecimento dos demais sujeitos. Na lição de Esser 90, essa eliminação da consideração da intenção interna confere à verdade jurídica uma dimensão própria, decorrente das intervenções que os princípios morais operam no Direito. Diz o ilustre jurista que “Los principios morales suministran el conveniente enlace entre la norma y el patrón ético (ethical standard) del sistema jurídico... la eliminación de cuestiones de itención interna, assegura a la verdad jurídica y a los principios del enjuiciamiento en derecho una dimensión propia frente a todo intervencionismo moralizante. Pero el dualismo aparece también en los topoi determinantes, cuya antítesis má conocida es la de la intención frente al acto, o la del motivo frente al fin del negocio”. Essa mesma idéia, ou seja, de que a boa-fé pode ser aferida como um critério normativo de comportamento, verificando-se tão-somente se o mesmo se mostra socialmente aceitável (e, por isso, se pode ser considerado como sendo juridicamente admissível), foi, mais do que desenvolvida, intuída pelos tribunais alemães muito antes da entrada em vigor do Código Civil daquele país e antes mesmo de qualquer suporte teórico-doutrinário, como passamos a examinar. 90 Josef Esser, Principio y norma em la elaboración jurisprudencial Del derecho privado, p. 79. 88 Em 1900 entrou em vigor o Código Civil alemão, que em relação à boa-fé trazia algumas referências, mas que eram insuficientes para estear qualquer construção mais precisa e firme acerca da mesma. Apesar disso, no entanto, e até mesmo de modo surpreendente, vê-se nos tribunais alemães uma explosão de aplicações concretas da boa-fé, com diversas variantes e formando padrões determinados. Surgem, então, algumas das figuras que se constituem no objeto principal de estudo do presente trabalho, como o venire contra factum proprium, a exceptio doli, a suppressio, etc., decorrentes da aplicação da boafé aos casos levados aos juízes. Na realidade, contudo, deve-se alertar que as decisões dos tribunais não surgiriam “do nada”, sem qualquer embasamento históricocultural. O Direito, dentre outras coisas, é sempre produto de uma evolução sócio -cultural contínua, e não dá saltos para a frente a partir de um vazio. O que ocorreu, na Alemanha, foi que desde o começo do século XIX, face ao incremento das relações comerciais na Europa, começaram a surgir tribunais comerciais, cujas decisões eram de cunho eminentemente prático, não se prendendo à legislação estatal. E nessas decisões era muito comum a menção à boa-fé, e não apenas a subjetiva, referente a um estado de ignorância, mas também no sentido objetivo, referente a uma forma de conduta ou ao modo de interpretar os contratos comerciais. Assim, por exemplo, os tribunais comerciais alemães entendiam que quando o destinatário de uma mercadoria, por alguma razão, não queria aceitá-las, ainda que a rejeição decorresse de algum vício ou defeito que as mesmas tivessem, deveria comunicá-lo ao vendedor o mais rápido possível, pois a demora feria o comportamento de boa-fé que se poderia esperar do comprador. 89 Como se vê, nada mais é do que o instituto que posteriormente viria a ser denominado de suppressio, ou seja, a demora tamanha para o exercício de um direito que chega a ferir a boa-fé, levando à perda da possibilidade de exercer esse mesmo direito de modo tão tardio. Convém lembrar que ainda não estava em vigor o Código Civil alemão, e por isso não havia qualquer previsão de prazo para redibir contratos em virtude de defeitos da coisa. Essas decisões dos tribunais comerciais, no entanto, não encontravam qualquer apoio doutrinário, notadamente no que se refere à boafé como uma norma de comportamento (objetiva) que, como vimos, estava ainda praticamente à margem das considerações teóricas dos juristas do século XIX. Assim, a boa-fé entendida como uma norma de comportamento começa a despontar muito mais como a conseqüência de decisões em casos concretos do que como o resultado de um estudo científico consistente. Aliás, desde logo se adianta que os contornos jurídicos atuais da boa-fé objetiva se originaram da construção pretoriana dos alemães 91, sendo depois aperfeiçoados pela doutrina moderna. Antes do Código Civil, em 1861, foi publicado o Código Comercial alemão, mas o mesmo não trazia um único artigo referente à boafé, possivelmente em virtude da timidez doutrinária sobre o assunto. A jurisprudência comercial, no entanto, não se abalou com isso, e continuaram a proliferar as decisões que traziam a clara rejeição ao exercício de posições jurídicas que, por ofenderem a boa-fé de terceiros, se mostrassem inadmissíveis. 91 Bruno Lewicki, Panorama da boa-fé objetiva. In: Tepedino, Gustavo (Coord.). Problemas de Direito Civil-Constitucional, pp. 61-62. 90 De qualquer forma, os tribunais comerciais foram incorporados aos tribunais civis em 1879, e por isso essas decisões tomadas pelos primeiros foram importantes para que os tribunais alemães em geral, depois da vigência do Código Civil, passassem a também levar em conta a boa-fé para o direito privado em geral, o que acabou por revigorar as discussões doutrinárias, e levou aos estudiosos do Direito a necessidade de lidar com conceitos de conteúdo que em abstrato se mostravam incompletos, e que por isso não poderiam ser delimitados sem uma situação concreta de aplicação. De modo mais específico, os juristas passaram a se debruçar sobre situações onde se falava em “conduta conforme a boa-fé”, mas sendo que o significado completo de tal conduta não poderia ser fixado aprioristicamente, mas tão-somente no exame de um problema concreto. O grande problema, no entanto, continuava a persistir, e consistia no fato de que a boa-fé, sendo um produto da jurisprudência, surge fortemente ligada às situações reais, ou seja, com os seus contornos formados a partir de casos concretos, mas ficando longe do núcleo do sistema jurídico, onde podem ser encontradas as idéias centrais de todo o sistema. Ao serem transportados esses elementos jurisprudenciais para o núcleo do sistema (o que se coaduna com a metodologia da escola histórica, como vimos acima), os mesmos ficam isolados das peculiaridades dos casos concretos que os levaram a surgir, e aí se tornam meras referências sem sentido. Em outras palavras, as decisões tomadas para um caso particular encontram grande dificuldade para que possam ser transformadas em conceitos genéricos, em princípios gerais aplicáveis a todo o sistema. O Código Civil alemão trouxe disposições referentes à boa-fé subjetiva e à boa-fé objetiva (embora tais denominações ainda não fossem usadas). Quanto à primeira, conceituou-a de modo negativo, estabelecendo 91 que “o adquirente não está de boa-fé quando lhe seja conhecido ou, em conseqüência de grande negligência, desconhecido, que a coisa não pertence ao alienante” (§ 932, 2), além de mencioná-la repetidas vezes, em diversas de suas disposições. O BGB, como se vê, valeu-se da noção de ignorância qualificada, ou seja, levou em conta a desculpabilidade da ignorância, rejeitando a boa-fé nos casos em que a mesma decorresse de grande negligência do adquirente92. Em relação à boa-fé objetiva, no entanto, claramente diferenciada da subjetiva (até mesmo por expressões lingüísticas diferentes, como já vimoa), não trouxe o Código Civil alemão qualquer conceito, limitando-se a apresentar regras de conteúdo impreciso, que requeriam preenchimento pelo juiz. Assim, por exemplo, o BGB estabeleceu que “os contratos interpretamse como o exija a boa-fé” (§ 157) ou que “o devedor está adstrito a realizar a prestação tal como o exija a boa-fé” (§ 242). A questão é que a cultura jurídica alemã imediatamente anterior ao Código Civil, como vimos, era no sentido de que a boa-fé (objetiva) enquanto norma de comportamento só poderia ser entendida a partir de elementos concretos, situados fora do núcleo do sistema. E é evidente que essa cultura se refletiu no BGB, e quando a boa-fé foi codificada, ou seja, quando se tentou levá-la para o centro do sistema, não foi possível se desvencilhar dessa sistemática, continuando a ser necessárias noções que não podiam ser contidas na codificação, pois eram obtidas de situações reais. 92 Na verdade, como regra geral, pode-se apontar que apenas a ignorância daquele que se portou de modo diligente é que deve ser entendida como boa-fé, pois se o desconhecimento for decorrente de culpa do próprio sujeito, que se portou de modo negligente, não se poderá mais falar em estado de boa-fé subjetiva. Nesse sentido, aponta Delia Rubio que “sólo el error excusable genera uma situacion de buena fé; es decir que solo tiene buena fé el sujeto que actúa diligentemente”. Delia Matilde Ferreira Rubio, La Buena Fe: el principio general em el derecho civil, p. 92. 92 Trata-se, na realidade, como ensina Esser93, de uma tradução da ética para o plano jurídico, sendo que essa impossibilidade de se obter um conceito puramente jurídico, liberto da noção ética, contradiz a errônea idéia de autonomia das regras e figuras jurídicas positivas diante dos elementos “metajurídicos”. E alerta, ainda, o autor, na mesma obra e local, que não se deve subestimar a importância desse processo de fusão entre o direito e a moral94 (a ética), não se adotando nem uma fé cega na lei, nos moldes positivistas, e nem um desesperado e irreal dualismo entre lei e ética. Se, por um lado, os princípios morais fornecem o liame entre a norma e o padrão ético de um sistema jurídico, por outro, não interferem na construção institucional e nem na estabilidade do direito positivo. Ao mesmo tempo, contudo, o dualismo também se faz presente nas considerações tópicas, em cada situação concreta a ser examinada, como por exemplo no confronto entre a intenção (elemento psicológico) e o ato (elemento externo). A boa-fé objetiva, referente à conduta dos sujeitos (e não à ciência sobre algum fato), dessarte, foi incluída no Código Civil alemão exatamente da mesma forma como era vista pelos tribunais comerciais, ou seja, como um reforço substancial aos contratos e às obrigações em geral, e deixou muito clara a incapacidade do sistema de prever todas as soluções para os casos da vida real. 93 Josef Esser, Principio y norma em la elaboración jurisprudencial Del derecho privado, p. 78. “No debemos subestimar la importancia de este proceso de fusión del ‘derecho’ y la moral en el plano de lo que en apariencia es pura técnica: ni para la superación de una positivista fe ciega en la ley, ni para la superación de un desesperado e irreal dualismo de ley y éteica. Sería nefasto que los conceptos y argumentos jurídicos fueran erigidos en categorías independientes: el método jurídico quedaría estéril sin la incorporación de aquellas verdades morales reducidas a evidencias de fuerza lógica o social”. 94 Sobre essa interpenetração entre a moral e o direito, diz Norberto de Almeida Carride que “a boa-fé é essencialmente uma atitude de cooperação, destinada a atender de modo positivo à expectativa da outra parte. O princípio da boa-fé é o caminho pelo qual a moral penetra no direito”. Cf. Norberto de Almeida Carride, Vícios do Negócio Jurídico , p. 39. 93 Foi por essa razão, mencionada no parágrafo anterior, que o codificador alemão optou pela adoção de cláusulas gerais, abertas, que estão a requerer um desenvolvimento em cada caso concreto, de modo a que sirvam para atender situações diversas, muitas delas nem ao menos imaginadas pelo legislador, e sempre temperadas pelas circunstâncias concretas do problema que está sendo analisado 95. Um dos primeiros problemas a ser enfrentado, na aplicação da boa-fé como uma cláusula geral, foi o que se referia ao seu âmbito de aplicação, ou seja, se a mesma apenas poderia ser aplicada quando houvesse lacuna contratual e legal, vale dizer, quando as partes não tivessem regulado a questão ao elaborar o contrato e não houvesse disposição legal específica e adequada para o caso, ou se, ao contrário, o campo de abrangência da boa-fé seria não apenas o de integração das lacunas, mas deveria se estender para todas as situações onde surgissem, nas obrigações, uma posição jurídica inaceitável de um dos sujeitos, que agredisse a noção de lealdade, de justiça ou de equilíbrio. A boa-fé, portanto, não seria apenas um meio de integração, mas também de controle das obrigações, e foi esta segunda posição que desde os primórdios do BGB acabou por prevalecer. A boa-fé objetiva, portanto, como se vê, busca obter um resultado justo em cada situação, sendo que a noção do que é justo deve ser apreendida alhures, eis que não contida na própria boa-fé. Não se trata, pois, de uma idéia autônoma, completa em si mesma, mas sim de uma noção que precisa ser 95 Como ensina Ana Prata, “a intervenção do juiz tende a ser admitida com uma latitude sempre maior e ganha condições de eficácia pelo tratamento teórico das chamadas cláusulas gerais, nos usos das quais aquela se processa. Com maior ou menor resistência, a doutrina foi sendo forçada a admitir que em muitos casos só face às circunstâncias concretas se poderia formar e emitir um juízo de valor da situação, informado obviamente pelos princípios jurídicos que integram as referidas cláusulas gerais”. Cf. Ana Prata, A tutela constitucional da autonomia privada, p. 56. 94 complementada pelo aplicador da regra em cada situação específica, levandose em conta as peculiaridades de tal situação. Têm-se aí, portanto, regras que divergem das demais regras jurídicas, uma vez que não comportam aplicação direta e imediata, não comportam a pura e simples subsunção. Ao contrário, as normas referentes à boa-fé como norma de conduta demandam a sua concretização, pois de nada vale o legislador dizer, por exemplo, que o devedor deve realizar sua prestação conforme a boa-fé, a menos que o juiz, no caso concreto, possa completar a regra com a idéia sobre o que seria, naquele caso específico, esse “prestar conforme a boa-fé”. No caso real, em regra não se apresenta muita dificuldade para que o juiz possa apreender qual é o sentido da boa-fé, ou seja, qual seria a melhor solução para que fosse mantido o equilíbrio entre os sujeitos envolvidos. No entanto, essa solução estará invariavelmente impregnada de elementos materiais, estranhos à estrutura do sistema jurídico, e na hora de transplantá-la para esse mesmo sistema, de modo a ser sistematizada – o que se mostra indispensável para que o sistema seja juridicamente seguro –, a tarefa se torna impossível, a não ser com o uso de expressões metajurídicas, tais como eqüidade, justiça social, equilíbrio, comportamento de pessoa honesta, etc. Uma coisa pode ser tida como certa: na aplicação da boa-fé é indispensável que se lance mão de elementos que são necessariamente externos ao direito positivo, pelo simples fato de que este não tem como contê-los em uma regra legal. A questão que se coloca é sobre quais são esses elementos, se podem ser buscados fora do direito ou se, ao contrário, os mesmos também devem ser buscados junto aos elementos jurídicos. 95 No entanto, é importante que se destaque que a idéia não é a de se determinar previamente os elementos concretos específicos, pois é evidente que os mesmos só poderão ser determinados de modo tópico, ou seja, na própria situação problemática concreta. O que se quer, portanto, é a adoção de parâmetros que indiquem ao operador do direito, no caso concreto, como deve ser feita a busca, quais são os elementos a serem pesquisados e levados em conta para a aferição dos elementos específicos do caso real. Nessa busca de elementos jurídicos que pudessem complementar a boa-fé, surge a idéia de que o essencial era a valoração dos interesses96 que estivessem em jogo, e não a simples consideração de conceitos aos quais se pudesse fazer a subsunção. Assim, nos casos em que o juiz não tivesse como fazer a subsunção lógica, como ocorria na aplicação das regras sobre a boa-fé, a lei deveria atribuir ao juiz a avaliação e ponderação dos interesses que estavam envolvidos no caso concreto, sendo que a valoração de tais interesses deveria ser feita conforme critérios ou juízos de valor previamente fixados pelo próprio legislador. O grande problema era que não havia como fixar tais critérios, e assim o impasse se mantinha. Além disso, esse sistema tinha a desvantagem de ser fechado em si mesmo, ou seja, as soluções dependeriam dos critérios internos, fixados na própria norma legal, e não dos fatores externos, culturais, o que traria as conseqüentes dificuldades de absorção de situações novas, e na verdade o juiz continuaria obrigado a proceder à subsunção, sempre submetendo o caso concreto à previsão legal. Assim, quando o juiz se deparasse com uma situação que até então não fora imaginada pelo legislador, certamente não encontraria na lei os critérios adequados para resolvê-la, e não poderia fazer 96 Pontes de Miranda resume a questão dizendo que “a boa-fé é protegida à custa de alguém (e.g., verdadeiro titular); de modo que o direito pesa, aí, respeitáveis interesses”. Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, v. 1, p. 193 96 uso dos vetores sociais para orientá-lo na solução adequada e na valoração dos interesses envolvidos. Na realidade, como ensina José Luis de Los Mozos97, a antinomia metodológica entre a jurisprudência de conceitos e a jurisprudência de interesses, assim como entre as correntes que deram continuidade a essa contraposição entre positivismo e formalismo de um lado, e naturalismo e realismo do outro, está na base da questão da assimilação do princípio da boafé. A jurisprudência dos conceitos parte da idéia de que uma dada ordem jurídica constitui um sistema fechado, independente da realidade social das relações da vida, e por isso sustentava que seria sempre possível obter uma decisão correta apenas por meio de uma operação lógica, consistente na subsunção da situação real à valoração de um princípio geral dogmático, ou seja, os conceitos não teriam apenas valor ordenador do sistema, mas representariam uma realidade direta, sendo que sua aplicação lógica só poderia conduzir a uma solução justa 98. É que embora o positivismo científico (ou pandectismo) também se valesse dos princípios gerais para filtrar a realidade e examiná-la à luz do mundo fechado do Direito, continua de Los Mozos, foi quando a consciência jurídica se tornou mais realista, buscando considerar, nas decisões, os conteúdos econômicos e sociais, e dando origem à jurisprudência de interesses (denominação usada por Heck) ou jurisprudência integradora (Betti), que se passou a entender que em toda interpretação de uma norma se produz um processo valorativo, semelhante ao que se verifica na criação do Direito, e portanto atribui função criadora ao jurista. 97 98 José Luis de Los Mozos, El Principio de La Buena Fe, pp. 15-16. Franz Wieacker, Historia do Direito Privado Moderno, pp. 494-495. 97 Dessa forma, ainda que a concepção do Direito, que se mostrou própria do pandectismo ou do formalismo, não tenha servido de impedimento para a consideração dos princípios gerais, na atividade interpretativa do jurista, por outro lado é certo que foi renovado o significado desses princípios nessa mesma interpretação, a partir dessa visão mais realista, surgindo uma concepção mais substancial (e menos formal) do Direito, cuja ênfase se dá, muito mais do que em uma consideração axiomática do texto legal, pela expressão de uma justiça material, funcionalizada de modo específico para os problemas jurídicos concretos, e por isso capaz de proporcionar uma maior segurança no seu manejo99. Neste ponto, convém ressaltar a enorme diferença da abordagem feita pelos juristas alemães, em relação àquela que é feita pelos franceses 100. Estes, como já vimos, buscam o “estado de espírito” do sujeito, enquanto a jurisprudência alemã entende que a apreciação segundo a boa-fé só pode ser feita segundo critérios objetivos, considerados dentro de um caso concreto, não havendo como deixar de levar em conta os elementos objetivos desse mesmo caso. Essa diferença se reflete até mesmo na linguagem utilizada: o juiz francês diz que um sujeito está ou não está de boa-fé, enquanto o juiz alemão determina se foi violado ou respeitado o princípio da boa-fé101. 99 José Luis de Los Mozos, El Principio de La Buena Fe, pp. 17-18. Tanto o Código Civil francês quanto o alemão, em maior ou menor grau, sofreram influência do direito romano; além disso, o Código Civil francês serviu de fonte para o alemão. Por que, então, tanta diferença? Na verdade, apesar dessas origens comuns, na época da discussão sobre a codificação alemã, o Império alemão encontrava-se sobre influências normativas variadas: em uma parte do território era vigente o Código da Prússia, em outra era o Código Civil francês, e em outra, ainda, era o direito comum alemão, conjugado com os costumes locais. A influência à qual foram mais sensíveis os elaboradores do código alemão foi a dos direitos alemães regionais (vê-se, aí, a influência da escola histórica), sendo as disposições do Código Civil francês adotadas apenas na medida em que se harmonizavam com esses direitos particulares. Cf. Vicente Ráo, O Direito e a Vida dos Direitos, pp. 127-129. 101 Béatrice Jaluzot, La bonne foi dans les contrats: Étude comparative de droit français, allemand et japonais, pp. 80-81, n°s 293 e 296. E sobre essa diferença entre os juristas franceses e alemães, prossegue a autora dizendo que “Le juge doit-il prendre em considération uniquement les éléments extérieurs et apparents d’une affaire ou bien peut-il scruter la volonté interne des parties et porter sur elles une sanction? Sur ce 100 98 Mas retornemos à análise feita por De Los Mozos. A chamada jurisprudência de interesses, portanto, prossegue o respeitado jurista espanhol, funcionou como a grande irrupção do pensamento problemático no pensamento codificador, uma vez que o interesse é pura e simplesmente um topos, e tornou claro o valor de uma abordagem pragmática, que desenvolvesse uma lógica problemática, vale dizer, voltada para a interpretação objetiva dos problemas concretamente considerados. Dito de modo mais direto, “la buena fe es um principio problematico, um verdadero topos, llamado a actuar en cada momento de la interpretación”102. De modo geral, pode-se observar que, na Alemanha, o Código Civil foi um tanto quanto tímido, em relação à boa-fé objetiva, mas o mesmo não se pode dizer em relação à jurisprudência do direito privado, que de modo acelerado desenvolveu-se intensamente em relação ao tema, muitas vezes sem apoio (ou mesmo com a hostilidade) da doutrina, dando origem a figuras que hoje se mostram de larga aceitação, como já vimos. Da conjugação do uso de cláusulas gerais com essa doutrina que propugnava a ponderação e a valoração dos interesses envolvidos em cada caso concreto, acabou por ser realçada a inadequação de um juiz que funcionasse apenas como a boca da lei, fazendo de modo mecânico e automático a subsunção. Contudo, o fato do desenvolvimento da boa-fé ter se dado quase que exclusivamente em função da jurisprudência, que não foi acompanhada pela Ciência do Direito, cobrou o seu preço, pois o seu desenvolvimento se deu sem que fosse obedecida qualquer metodologia científica, o que dificultou a captação do verdadeiro sentido da boa-fé e a sua generalização para o atendimento de situações novas com segurança jurídica. point, les cceptions s’opposent, les juges français accordant une grande faveur à l’itention au sens chrétien du terme, tandis que les juristes allemands ont rejeté ouvertement une telle recherche”. Idem, p. 81, n° 297. 102 José Luis de Los Mozos, El Principio de La Buena Fe, pp. 36-37. 99 A falta de uma noção científica deu origem a uma linguagem metajurídica, recheada de termos pomposos e empolados, mas que em regra não conseguem ganhar significado fora dos casos reais 103. Os tribunais, contudo, têm encontrado aplicações concretas com esteio na boa-fé, apesar de não terem sido acompanhados pela metodologia científica, problema do qual ainda hoje se ressente o estudo da matéria. 1.6. A boa-fé objetiva e seu aspecto normativo. Tendência expansionista. Como vimos, no item anterior, a idéia sobre a boa-fé, que entre os romanos significava o desconhecimento de uma circunstância de fato ou da existência de um impedimento à aquisição da propriedade pelo possuidor, evoluiu nos tribunais da Alemanha em virtude de situações concretas com que as Cortes se depararam, passando a também conter o significado de uma norma de conduta a ser observada pelo sujeito de um negócio jurídico. Essa evolução, no entanto, foi surgindo de modo assistemático e casuístico, sem que houvesse um eixo central desenvolvido pela doutrina, em torno do qual pudessem gravitar conceitos genéricos sobre o tema. Com efeito, entre os tribunais germânicos a boa-fé foi mais intuída do que propriamente desenvolvida, tendo isso ocorrido antes mesmo de haver qualquer previsão legislativa sobre a mesma. De qualquer modo, como também já comentamos, supra, posteriormente, com a entrada em vigor do Código Civil alemão (BGB), diversos dispositivos passaram a tratar de modo explícito acerca da boa-fé, inclusive causando alguma perplexidade 103 Na verdade, como bem adverte Delia Rubio, trata-se de uma característica dos autores alemães essa imersão constante nas peculiaridades de cada caso concreto. No caso específico do estudo da boa-fé, os usos em voga no comércio não funcionaram apenas como um elemento integrador ou interpretativo dos contratos, mas como o próprio caminho para a identificação da boa-fé como critério normativo. Delia Matilde Ferreira Rubio, La Buena Fe: el principio general em el derecho civil, p. 133. 100 inicial em relação a qual seria o dispositivo mais adequado para estear o entendimento da boa-fé como uma norma comportamental (veja-se, adiante, o item 2.2). A partir do BGB (art. 242 104), a boa-fé passou a constar expressamente em vários Códigos Civis, generalizando-se a sua previsão legal nos diversos ordenamentos, embora geralmente vinculada especificamente ao campo das relações obrigacionais e, no mais das vezes, sem que se captasse a verdadeira essência dos dispositivos que encontravam seu apoio nessa figura da boa-fé. Com efeito, a menção à boa-fé pode ser encontrada, dentre outros, nos artigos 187 105 e 422 106, do Código Civil brasileiro, no artigo 1.071107, do Código Civil argentino, no artigo 1.258, do Código Civil espanhol108, nos artigos 1.337 109 e 1.375110, do Código Civil italiano, no artigo 227111, do Código Civil português, etc., e assim por diante, em praticamente todas as codificações civis da atualidade. O que facilmente se observa, mesmo a partir da perfunctória análise dos diversos dispositivos mencionados, é que na mesma linha de decisões que se firmou nos tribunais germânicos, a boa-fé superou a sua 104 105 106 107 108 109 110 111 § 242. o devedor está obrigado a executar a prestação como a boa-fé, em atenção aos usos e costumes, o exige”. Tradução de Souza Diniz, Código Civil alemão. Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Art. 1.071. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considerará tal al que contraríe los fines que aquélla tuvo em mira al reconocerlos o al que exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. Art. 1.258. Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expressamente pactado, sino también a todas lãs consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley. Art. 1.337. As partes, no desenvolvimento das tratativas e na formação do contrato, devem comportar-se segundo a boa-fé. Art. 1.375. O contrato deve ser executado segundo a boa-fé. Art. 227°. Culpa na formação dos contratos. 1. Quem negoceia com outrem para conclusão de um contrato deve, tanto nos preliminares como na formação dele, proceder segundo as regras da boa fé, sob pena de responder pelos danos que culposamente causar à outra parte. 101 vinculação inicial à vontade ou à ciência do sujeito, vale dizer, superou o seu caráter inicial eminentemente subjetivo, e passou a ser enfocada sob um ângulo objetivo, como uma norma comportamental, passando a ser tratada como uma conduta a ser observada por esse mesmo sujeito. Dito em outras palavras, a boa-fé deixa de ser apenas um elemento interno, íntimo e psicológico do sujeito do negócio jurídico, passando a ser considerada também em seu aspecto de elemento externo, vale dizer, como uma norma que estabelece comportamentos que devem ser observados por tal sujeito. Como acertadamente observa De Los Mozos112, referindo-se ao artigo 1.258, do Código Civil espanhol, a boa-fé passa a ser colocada em plano idêntico ao da lei, o que significa que se pretendeu atribuir à mesma uma função dispositiva, cuja natureza é objetiva, desvinculando-se da vontade do sujeito. A arguta observação pode ser com tranqüilidade estendida para diversos dispositivos legais existentes em outros ordenamentos. Assim, por exemplo, no Código Civil brasileiro os artigos 187 e 422 claramente indicam a boa-fé como uma norma de comportamento, capaz de estabelecer limites para a conduta do sujeito que exerce um direito subjetivo ou que, de modo mais específico, figura como sujeito de um negócio jurídico. Trata-se, portanto, como mencionado no parágrafo anterior, de um elemento externo ao sujeito, e por isso desvinculado de sua vontade, vale dizer, tendo caráter objetivo e despido de subjetividade. E não se pode deixar de observar que o legislador brasileiro foi ainda um pouco mais longe, e expressamente referiu-se ao princípio da boa-fé, no artigo 422, sendo certo que andou muito bem ao fazê-lo. É que a boa-fé, de fato, mais do que uma norma comportamental de aplicação específica para o campo dos contratos, se entranha pelo ordenamento jurídico em geral, 112 José Luis de Los Mozos, El Principio de La Buena Fe, p. 45. 102 balizando os negócios jurídicos nos mais diversos campos do direito, inclusive espraiando-se para fora do direito privado. É nesse sentido a lição de Américo Plá Rodriguez 113, ao mencionar que “a boa-fé não é uma norma – nem se reduz a uma ou mais obrigações – mas é um princípio jurídico fundamental, isto é, algo que devemos admitir como premissa de todo o ordenamento jurídico. Informa a sua totalidade e aflora de maneira expressa em múltiplas e diferentes normas, ainda que nem sempre se mencione de forma explícita... Por tal razão, podese dizer que este princípio está dotado de singular plasticidade”. Parece-nos já completamente superada, portanto, a doutrina segundo a qual “a proteção da boa-fé se veio a impor, excepcionalmente, ao legislador, só se atende a ela onde há regra jurídica que a tutela. Não se deve ir além das espécies previstas, a título de interpretação das regras jurídicas 113 Américo Plá Rodriguez, Princípios de Direito do Trabalho, pp. 420-421. Mas não se pode deixar, aqui, de cometer a ousadia de fazer pequeno reparo à lição do festejado jurista uruguaio. É que, embora concordemos plenamente com a idéia de generalidade expressa no texto transcrito, ou seja, com o sentido de que a boa-fé se estende por todo o ordenamento jurídico, e não apenas pelo campo mais estreito do direito obrigacional – extensão essa, aliás, defendida expressamente em diversas passagens do presente estudo – parece-nos equivocada e já superada a distinção feita pelo mestre entre norma e princípio. Com efeito, para sustentar que a boa-fé é um princípio, começa Plá Rodriguez por afirmar que “a boa-fé não é uma norma ”. Ocorre que os princípios nada mais são do que um tipo de norma, ou seja, “los principios generales no son sino normas fundamentales o generalísimas del sistema, las normas más generales... son normas como todas las otras”. Cf. Norberto Bobbio, Teoría General del Derecho, p. 239. No mesmo sentido o entendimento de Naria Helena Diniz, que ao se referir às discussões doutrinárias sobre se os princípios gerais do direito podem ou não ser considerados como norma, afirma de modo enfático que é “veementemente, contra a opinião que não os considera como normas”. Cf. Maria Helena Diniz, As lacunas no Direito, p. 231. Para Ricardo Lorenzetti, a doutrina moderna é unânime em afirmar que os princípios são normas, embora reconheça que não é simples determinar a que tipo de normas pertencem. Prossegue e conclui o ilustre Professor da Universidade de Buenos Aires dizendo que se trata de normas fundamentais, uma vez que os princípios apresentam todas as funções que podem ser atribuídas às normas fundamentais, dentre as quais destaca: a) função integradora (preenchimento de lacunas); b) função interpretativa (orientação ao intérprete); c) função delimitadora (imposição de limites às atuações legislativa, jurídica e negocial); d) função fundante (um valor que informa o ordenamento e permite criações pretorianas). Cf. Ricardo Luis Lorenzetti, Fundamentos do Direito Privado, pp. 317 -319. Em sentido contrário, contudo, afirma Oliveira Ascensão, de modo categórico, que “os princípios não são regras”, esclarecendo, em nota de rodapé, que usou o termo regras no mesmo sentido de normas. Cf. José de Oliveira Ascensão, O Direito – Introdução e Teoria Geral, p. 418. 103 especiais” 114. Muito pelo contrário, há uma claríssima tendência de contínua expansão da seara na qual a proteção à boa-fé se mostra aplicável, abarcando vorazmente cada nova situação que venha a surgir, de modo a dominar todo o espectro da ciência jurídica. Com efeito, como veremos nos dois itens seguintes (vejam-se, adiante, os itens 1.7 e 1.8), a boa-fé também serve como fonte normativa em relação ao direito público (por exemplo, nas relações da Administração Pública com os administrados) e nos demais ramos do direito privado, como o Direito do Trabalho, o Direito de Família, o Direito das Sucessões, etc. E em todos esses campos do ordenamento jurídico, na verdade, a boa-fé desenvolve múltiplas funções (sobre essa multifuncionalidade da boafé veja-se, adiante, o item 1.8), atuando não apenas como uma norma em si mesma, mas também como ponto de referência para o legislador, que para diversas situações costuma elaborar normas legais que lhes são especificamente destinadas (é o caso, por exemplo, dos artigos 170 115 e 473, parágrafo único 116, ambos do Código Civil brasileiro). Pode-se, igualmente, encontrar a boa-fé como parâmetro a ser observado pelo juiz, que no caso concreto, ao extrair a vontade das partes a partir do conteúdo do negócio jurídico, deverá examinar-lhe as cláusulas e o comportamento à luz do princípio da boa-fé, ou, ainda, pelo intérprete da norma legal ou contratual, que haverá de completar-lhe as lacunas a partir da 114 Nesse sentido, em lição que, no passado, já foi admitida como correta, mas que hoje, ao nosso sentir, se encontra irremediável e inegavelmente superada, Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, tomo 1, p. 193. 115 Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim, a que visavam as partes, permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade. 116 Art. 473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte. Parágrafo único. Se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para a sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos. 104 consideração sobre o que seria o comportamento de boa-fé para aquela situação, etc. Assim, por exemplo, sabendo-se que os sujeitos, em um determinado negócio jurídico, jamais conseguirão prever todas as circunstâncias fáticas que podem surgir na vida real, é precisamente a partir da consideração e da aplicação do princípio da boa-fé que o juiz poderá sopesar quais são as normas mais adequadas para reger essa situação inesperada, concretizada a partir de circunstâncias que não haviam sido previstas pelos sujeitos. Um exemplo típico, que bem espelha essa possibilidade, é o da conversão do negócio jurídico117 nulo, que no nosso ordenamento jurídico encontra previsão expressa no artigo 170, do Código Civil, e que vale tanto para a conversão própria ou substancial quanto para a imprópria ou formal118. No sentido mencionado no parágrafo anterior, considere-se, à guisa de ilustração, a hipótese de um contrato de compra e venda de um imóvel cujo valor supera trinta vezes o salário mínimo, sendo que o contrato foi celebrado pelas partes mediante instrumento particular. A toda evidência o contrato será nulo, uma vez que foi descumprida a formalidade expressamente exigida pela norma legal, como se vê da combinação entre os artigos 108 e 166, IV, ambos do Código Civil brasileiro. 117 Nesse sen tido, José Luis de Los Mozos, El Principio de La Buena Fe, p. 47. Explica Orlando Gomes que a conversão própria se dá nesse caso do exemplo apresentado no texto acima, ou seja, quando as partes celebram um negócio que vem a se revelar nulo, em virtude de defeito de forma, mas que apresenta as características de um outro negócio, que também atende ao que as partes pretendiam e cujas exigências formais foram atendidas; a conversão imprópria, por sua vez, ocorre quando um negócio pode ser celebrado por diversas formas, e as partes resolvem adotar a mais rigorosa de todas, mas o fazem de modo defeituoso, podendo, contudo, ser considerado o negócio como tendo sido celebrado pela forma menos rigorosa. Seria o caso, por exemplo, da compra e venda de um imóvel cujo valor não supera 30 vezes o salário mínimo, e que por isso poderia ter sido celebrada mediante instrumento particular (art. 108, do Código Civil), mas os contratantes resolveram fazê-lo por escritura pública. Esta, no entanto, vem a se revelar nula (por ter sido afastado o tabelião, por exemplo), mas mesmo assim o contrato será válido como se tivesse sido celebrado mediante instrumento particular. Note-se que não há uma conversão, propriamente dita (e por isso é que se denomina de imprópria), pois os efeitos que serão gerados serão os do próprio contrato que as partes queriam celebrar, apenas com a consideração de outra forma. Cf. Orlando Gomes, Contratos, p. 217. 118 105 No entanto, é bastante razoável que se entenda que efeito semelhante ao que as partes pretendiam obter, com o contrato de compra e venda que se mostra nulo, poderia ser obtido pela celebração do contrato de promessa de compra e venda, sendo que este último pode ser validamente celebrado mediante instrumento particular. Logo, nessas condições, se do instrumento particular utilizado para a celebração do contrato nulo constarem todos os elementos necessários, a compra e venda, embora nula, deverá ser convertida em contrato de promessa de compra e venda, pois se deverá entender que assim teriam procedido as partes, caso tivessem desde logo previsto a ocorrência da nulidade contratual. Em outras palavras, na situação acima descrita entender-se-á que as partes celebraram, validamente, uma promessa de contratar, futuramente, a compra e venda do imóvel, o que ocorrerá quando for lavrada a escritura pública referente ao negócio e efetuado o necessário registro junto ao Cartório do Registro Imobiliário. Da mesma forma, ainda no que se refere à mencionada conversão do negócio jurídico, vejamos situação onde a mesma poderia ocorrer fora do campo das obrigações, confirmando, portanto, o que acima dissemos, no sentido de que a regência do princípio da boa-fé se espraia por todo o direito, não se limitando apenas ao campo das relações obrigacionais. Suponha-se que uma determinada pessoa, ao elaborar seu testamento, decide fazê-lo com uma única disposição testamentária, através da qual decide legar a um amigo uma jóia de pequeno valor, que é de seu uso pessoal e que sempre foi muito admirada pelo amigo que agora está sendo indicado como beneficiário. 106 O testamento, no entanto, foi celebrado pela forma particular, sem que estivesse presente qualquer testemunha. Ou, então, se testemunhas havia, suponha-se que a disposição de última vontade tenha sido escrita em língua estrangeira, sendo que esta não é compreendida pelas testemunhas que presenciaram o ato. Em qualquer desses casos, a toda evidência o testamento será nulo, por ter sido descumprida solenidade essencial, conforme prevêem os artigos 1.876, § 1°, e 1.880119, ambos do Código Civil brasileiro. Apesar da nulidade, vale dizer, embora nula seja essa disposição de última vontade enquanto testamento, a mesma poderá ser aproveitada como codicilo, por atender plenamente à vontade do testador e conter os requisitos essenciais do mesmo, como se verifica no artigo 1.881 120, do mesmo Código Civil. Como se vê, portanto, nas duas situações acima exemplificadas, o que se tem é a utilização do princípio da boa-fé como uma forma de regular situações que os sujeitos não haviam previsto inicialmente, por ocasião da celebração do negócio jurídico, e com isso se consegue quebrar o rigor da lei pensada em abstrato, interpretando-a de modo mais maleável para que, sem causar qualquer prejuízo a quem quer que seja e sem violação de norma de ordem pública, sejam aproveitadas as vontades desses mesmos sujeitos. Nessa função de integração da vontade das partes, ou seja, nesse papel de criar as normas que as partes, ao ajustarem sua vontade negocial, 119 120 Art. 1.876. O testamento particular pode ser escrito de próprio punho ou mediante proces so mecânico. § 1°. Se escrito de próprio punho, são requisitos essenciais à sua validade seja lido e assinado por quem o escreveu, na presença de pelo menos três testemunhas, que o devem subscrever. Art. 1.880. O testamento particular pode ser escrito em língua estrangeira, contanto que as testemunhas a compreendam. Art. 1.881. Toda pessoa capaz de testar poderá mediante escrito particular seu, datado e assinado, fazer disposições especiais sobre o seu enterro, sobre esmolas de pouca monta a certas e determinadas pessoas, ou indeterminadamente, aos pobres de certo lugar, assim como legar móveis, roupas ou jóias, de pouco valor, de seu uso pessoal. 107 deixaram de criar, a boa-fé desempenha relevante papel em relação aos contratos inominados. Convém recordar que o nosso Código Civil, em seu artigo 425, diz ser lícito às partes celebrar contratos atípicos, desde que respeitadas as normas gerais fixadas na lei. Ora, em se tratando de contrato que não recebeu tratamento legislativo específico, torna-se mais provável que as partes contratantes deixem de regular alguns dos desdobramentos do mesmo, e por essa razão será necessário que se faça o complemento das normas contratuais, ou seja, a sua integração, o que será feito com esteio no princípio da boa-fé. Por outro lado, em relação à interpretação dos contratos (e dos negócios jurídicos em geral, por isso que a regra, acertadamente, foi inserida na parte geral do Código Civil), a boa-fé representa importantíssimo critério a ser observado pelo intérprete. Aliás, não se pode deixar de observar que o Código Civil, de modo expresso, determinou que a interpretação dos negócios jurídicos (em geral, repete-se, e não apenas os contratos) seja feita conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração (art. 113). E, esclarecendo em parte o significado de tal disposição, diz o artigo seguinte, 114, que os negócios jurídicos benéficos devem ser interpretados restritivamente121. 121 Não se pode deixar de observar o quanto o nosso Código Civil foi econômico, em relação às regras de interpretação do negócio jurídico. No entanto, parece-nos que também não se pode deixar de observar o exagero que se verifica em alguns Códigos, que traçam de modo minucioso as regras de interpretação, de certo modo engessando a atividade do juiz. É o caso, por exemplo, do Código Civil colombiano, que chega ao ponto de apresentar o conceito de várias palavras, em detalhes mínimos. Assim, os artigos 28 e 29, do referido Código, estabelecem que: Articulo 28. Las palabras de la ley se entenderán em su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expressamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal. Articulo 29. Las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca claramente que se han formado en sentido diverso. Por sua vez, o artigo 33, em um verdadeiro e claro exemplo de disposições legais supérfluas, estabelece que: Articulo 33. Las palabras hombre, persona, niño, adulto, y otras semejantes que en su sentido general se aplican a indiviuos de la especie humana, sin distinción de sexo, se entenderán que comprenden ambos 108 Ocorre que a boa-fé, enquanto norma de conduta, impõe aos sujeitos de um negócio jurídico um comportamento leal, honesto, solidário, cooperativo, etc. (veja-se, logo adiante, neste mesmo item, a abordagem mais detalhada dessas características), e que se mostre coerente com o que poderia ser esperado para aquela mesma situação. Ora, em se tratando de um negócio gratuito, não seria razoável esperar-se que o sujeito que concordou em sofrer um sacrifício patrimonial, sem nada receber como contraprestação, ainda tivesse que suportar a extensão do seu sacrifício por força de interpretação ampliativa de sua vontade, pois não se pode entender que o comportamento desse sujeito, esperado para tal situação, seja no sentido de aumentar ainda mais o seu próprio sacrifício, estendendo-o para o que não foi expressamente mencionado. É que não se tem, no caso, “a comutatividade, o equilíbrio, razão pela qual a interpretação há que ser diversa da geral” 122. Assim, por exemplo, suponha-se que em um contrato de locação, o fiador do locatário assumiu a obrigação de pagar os aluguéis, caso o afiançado não o faça. Ao interpretar tal ajuste, o intérprete deverá concluir que o fiador se obrigou ao pagamento dos aluguéis e dos respectivos acessórios (uma vez que estes, como se sabe, salvo disposição legal em contrário, devem seguir a mesma sorte do principal), tais como os juros, a cláusula penal, etc. No entanto, não se poderá estender a obrigação do fiador, por exemplo, para o pagamento da taxa condominial ou da conta do serviço de energia elétrica. Cabe observar que, em relação especificamente à fiança, o artigo 819, do Código Civil, determina que à mesma não se dê interpretação 122 sexos en las disposiciones de las leys, a menos que por la naturaleza de la disposición o el contexto se limiten manifiestamente a uno solo. Por el contrario, las palabras mujer, niña, viuda, y otras semejantes que designan el sexo femenino, no se aplicarán a otro sexo, a menos que expressamente la extienda la ley a él. Renan Lotufo, Código Civil Comentado – v. 1, p. 318. 109 extensiva. Mas veja-se que a fiança, em regra, apresenta-se como negócio jurídico gratuito, e por esta razão se pode afirmar que o artigo 819 nada mais é do que uma aplicação concreta e específica do supramencionado artigo 114, e por isso não se poderia interpretar o negócio jurídico da fiança de modo a ampliar a responsabilidade do fiador, que deverá ser restringida àquilo que o mesmo expressamente se comprometeu. Acima dissemos que o artigo 114 esclarece apenas em parte o significado do artigo 113, ambos do Código Civil pátrio. É que o referido artigo apenas se refere ao significado da interpretação conforme a boa-fé em relação aos negócios gratuitos, mas nada diz em relação aos negócios jurídicos onerosos. Quanto a estes, portanto, vejamos o que seria essa interpretação conforme a boa-fé. Em relação aos negócios benéficos, como vimos, determina a norma legal que o intérprete não amplie ainda mais o sacrifício patrimonial, uma vez que nada é oferecido em troca a quem o sofre. Nos negócios jurídicos onerosos, contudo, outra é a situação, pois todos os envolvidos nos negócios estarão sofrendo uma redução patrimonial, mas, ao mesmo tempo, cada um deles também estará recebendo, em troca, uma vantagem oferecida pelo outro envolvido. Nessas condições, portanto, o que se mostra razoável esperar do comportamento de cada um deles – e que, a toda evidência, se mostra mais consentâneo com a solidariedade social – é que esteja sendo buscado o equilíbrio entre as prestações recíprocas. Assim, surgindo em um negócio jurídico oneroso uma situação de conflito, sendo que a partir das cláusulas negociais são possíveis duas ou mais interpretações distintas, deverá o intérprete, sempre, optar por aquela que preserve de modo mais adequado o equilíbrio entre as prestações, ou seja, deverá prevalecer a interpretação que melhor assegure a reciprocidade dos 110 interesses envolvidos, aproximando os valores das prestações recíprocas, pois é desse modo que estará sendo atendida a determinação legal de interpretar o negócio conforme os ditames da boa-fé. Em defesa do sentido suso mencionado, em relação aos contratos onerosos – e, portanto, complementando o parcial tratamento legal dado ao tema – pode-se apontar o respeitado e respeitável magistério de Caio Mário da Silva Pereira123. Aponta o eminente jurista das Minas Gerais que “os contratos a título gratuito devem interpretar-se da maneira menos onerosa ao obrigado (favor debitoris), enquanto que os onerosos se entenderão em termos que realizem equânime temperamento dos interesses em jogo”. Também se colhe idêntica regra da lição de Orlando Gomes 124. Examinando a interpretação dos contratos, dizia o saudoso mestre baiano que são três os princípios que dominam a interpretação do contrato: o da boa -fé, o da conservação do contrato e o da extrema ratio. Em relação a este último, esclarecia o ilustre jurista que a extrema ratio é uma regra que se inspira na necessidade de atribuir ao contrato, por mais obscuro que seja, algum significado. Assim, “quando a sua obscuridade permanece a despeito da aplicação de todos os princípios e regras de interpretação, recorre o intérprete ao critério extremo que o orienta no sentido de entendê-lo menos gravoso para o devedor, se gratuito, e de que realize eqüitativo equilíbrio entre os interesses das partes, se a título oneroso”. No mesmo sentido, ainda, pode-se indicar a lição de Maria Helena Diniz 125, para quem “nos contratos gratuitos, a interpretação deve proceder-se no sentido de fazê-lo o menos pesado possível para o devedor, e, 123 124 125 Caio Mário da Silva Pereira, Instituições de Direito Civil, v. III, p. 38. Orlando Gomes, Contratos, p. 228. Maria Helena Diniz, Curso de Direito Civil Brasileiro – v. 3, p. 75. 111 nos onerosos, no de alcançar um equilíbrio eqüitativo entre os interesses das partes”. Pensamos, contudo, que pequeno reparo pode ser feito nas lições dos mestres acima mencionados, uma vez que se limitaram a apontar as regras interpretativas em relação aos contratos, quando na verdade essas mesmas regras, como já vimos supra, são aplicáveis a todos os negócios jurídicos em geral, e tanto assim que constam na parte geral do nosso Código Civil, e não na parte referente aos contratos. Assim, pode-se com tranqüilidade apontar que essas mesmas regras também seriam aplicáveis, por exemplo, às declarações unilaterais de vontade, escapando, pois, aos limites mais estreitos da seara exclusivamente contratual. Contudo, o que na prática se verifica é que, quase sempre, sua aplicação está ligada à matéria contratual, sendo por isso plenamente compreensível o motivo do restritivo conceito apresentado pelos ilustres juristas citados. Antes de prosseguirmos, pensamos que se mostra adequado, neste ponto, chamar a atenção para um aspecto que será visto em maiores minúcias mais à frente (especificamente no item 1.8). É que realçamos, acima, os papéis de integração e de interpretação, desempenhados pela boa-fé, ou seja, a aplicação do princípio para complementar as normas que as partes deixaram de criar ou, então, para aferir qual é o sentido que se deve dar às declarações de vontade. No entanto, deve-se ressaltar que o princípio da boa-fé (na realidade, os princípios em geral) também funciona como norma inclusive em relação a temas sobre o qual as partes contratantes expressamente trataram. Assim, como veremos no supramencionado item 1.8, a boa-fé também funciona como elemento de controle do conteúdo convencional, ou seja, as manifestações explícitas das vontades dos sujeitos dos negócios (e não 112 apenas as lacunas, portanto) também se sujeitam à aplicação do princípio da boa-fé. Outro aspecto importantíssimo, no que diz respeito ao conteúdo normativo da boa-fé, e que também se encontra indicado no artigo 113, do Código Civil, é o que se refere aos “usos do lugar” onde foi celebrado o negócio jurídico. Com efeito, determina o referido artigo do Diploma Civil que os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Qual o significado dessa determinação? O que pretende a norma legal, ao determinar que a interpretação se dê conforme os usos? Temos, aí, dois elementos distintos, a “boa-fé” e os “usos”, a serem isoladamente considerados pelo intérprete? Vejamos. Na realidade, há uma ligação indissolúvel entre a boa-fé e os usos, sendo estes um modo de concretização daquela, uma vez que esses usos do lugar se apresentam como elemento fundamental para o surgimento da confiança (cuja tutela, em última análise, se constitui em objeto da boa-fé, como veremos adiante), ou seja, é bastante razoável que cada uma das partes envolvidas no negócio jurídico crie a justa expectativa de que a outra irá se comportar de acordo com o que se mostra usual no lugar, para os negócios daquela mesma espécie, sendo certo que “a expectativa... tem relevância jurídica” 126. Assim, ao examinar um determinado negócio jurídico, o intérprete deverá considerar que o sentido da cláusula negocial, caso esta não esteja clara, é o que melhor se adequa aos usos e costumes do lugar, e que estará de boa-fé o sujeito que se comportou conforme os mesmos, pois essa atuação corresponde plenamente às expectativas da outra parte. Ao contrário, 126 Pietro Perlingieri, Perfis do Direito Civil – Introdução ao Direito Civil Constitucional (trad. Maria Cristina De Cicco), p. 127. 113 estará ferindo a boa-fé o sujeito que, por agir em desacordo com o que se mostra usual para aquele tipo de negócio, surpreende negativamente a outra parte e vem a frustrar-lhe as expectativas. É nesse sentido, aliás, a lição de Savigny127, que ao tratar da boafé em relação aos contratos (Treu und Glauben, do direito alemão), aponta que a interpretação da mesma não é uma questão de sentimentos nobres, de generosidade ou de auto-sacrifício, sendo que o que se deve fazer, prossegue o ilustre jurista alemão, para que a mesma se torne compreensível, é a observação dos usos, pois é sobre estes que repousa a confiança indispensável dos outros. No mesmo sentido, aponta Oliveira Ascensão 128, referindo-se especificamente ao artigo 113 do Código Civil brasileiro, que “para saber o que a parte quis dizer, é necessário enquadrar a declaração pelos usos: porque um destinatário médio também se determinará por estes no entendimento do que lhe é dirigido... para se construir mentalmente o que seria a impressão do destinatário, é preciso entrar em conta com os usos. Sempre que não houver na posição do declaratário real nada que introduza em sentido contrário, um destinatário médio determinar-se-á justamente pelos usos no entendimento da declaração”. Aliás, não é demais observar que o artigo 113, do nosso Código Civil, inspirou-se no artigo 157, do Código Civil alemão, sendo que este foi muito mais preciso do que o nosso, ao fazer essa relação entre a boa-fé e os usos129. Com efeito, menciona o § 157, do BGB, que “Os contratos devem ser interpretados como exige a boa-fé, atendendo-se aos usos e costumes”. Como 127 Friedrich Carl von Savigny, Sistema do direito romano atual (trad. Ciro Mioranza), p. 108. José de Oliveira Ascensão, O Direito – Introdução e Teoria Geral, p. 282. 129 Embora, por outro lado, tenha sido menos preciso ao se referir ao campo de atuação dessa interpretação conforme a boa-fé, que foi restrito apenas aos contratos, o que facilmente se explica, como já vimos, pela origem contratual dos estudos da boa-fé como norma de conduta. 128 114 se vê, o dispositivo do código tedesco deixa claro que as exigências da boa-fé são aquelas que atendem aos usos e costumes. E o artigo 242, do mesmo Código Civil alemão, é ainda mais claro e explícito (embora formalmente restrito ao direito obrigacional) acerca dessa relação de continente e conteúdo que existe entre a boa-fé a os usos, ao estabelecer que “o devedor está obrigado a executar a prestação como a boafé, em atenção aos usos e costumes, o exige”. E não se pode deixar de observar que essa vinculação explícita, entre a boa-fé e os costumes, mostra-se de fundamental importância para possibilitar a atualização do direito, que pode assim, mais facilmente, adaptarse às novas necessidades da sociedade, ou seja, através dessa cláusula geral o sistema jurídico permanece aberto para que possa continuar a atender as exigências crescentes do comércio jurídico 130. Não é demais apontar que “a boa-fé, dentro da dogmática jurídica, vem estabelecida através de cláusulas gerais” 131. Aliás, as cláusulas gerais 132, como já decidiu o Tribunal Constitucional da Alemanha, funcionam como meio de introdução dos direitos e valores fundamentais, trazidos pela Constituição Federal, nos diversos 130 Béatrice Jaluzot, La bonne foi dans les contrats: Étude comparative de droit français, allemand et japonais, pp. 105-106, n° 375. 131 Vitor Frederico Kümpel, A teoria da aparência no novo Código Civil brasileiro, p. 76. 132 A técnica legislativa das cláusulas gerais, embora já aparecesse, em relação à boa-fé, no § 242, do BGB, desde o final do século XIX, ganhou especial relevo e passou a ser largamente empregada a partir da segunda metade do século XX, possibilitando à jurisprudência o desenvolvimento da regulamentação legal e a sua adaptação às diversificadas circunstâncias da vida. Além disso, essas cláusulas gerais permitem que se dê uma certa abertura aos sistemas legislativos fechados, deixando ao juiz, no exame do caso concreto, a possibilidade de extrair, a partir do negócio jurídico, conseqüências que não estavam previstas nas normas legais e nem nas convencionais, integrando, restringindo, ampliando ou mesmo modificando o conteúdo do negócio, independentemente das vontades dos sujeitos envolvidos. Cf. José Carlos Moreira Alves. A boa-fé objetiva no sistema contratual brasileiro. Roma e America. Diritto Romano Comune. Rivista di Diritto Dell, integrazione e unificazione del Diritto in Europa e in America Latina, n° 7/1999, p. 193. No dizer de Vitor Frederico Kümpel, A teoria da aparência no novo Código Civil brasileiro , p. 80, “são estas cláusulas [gerais] que dão mobilidade ao sistema jurídico, alçando o juiz a uma posição extraordinária, para preencher lacunas com os valores que se encontram de forma abstrata nas coisas”. 115 domínios do direito133. Ou seja, o texto constitucional consagra a sua tábua de valores e as escolhas fundamentais feitas pelo constituinte, e esses valores serão obrigatoriamente observados na interpretação e na aplicação das cláusulas gerais que se encontram espalhadas pela lei ordinária, em todos os ramos do direito, e desse modo funcionam como uma linha diretriz a ser seguida pelo intérprete e aplicador. Veja-se que não se trata de negar a existência dos ramos setoriais do direito, mas sim de lhes conferir unidade sistemática. Em outras palavras, e dirigindo a afirmação para o Direito Civil, é evidente que este continua a existir, mas a mudança – bastante significativa, ressalte-se – é que os seus pontos de referência, antes localizados no Código Civil, foram deslocados para a Constituição Federal134, cuja tábua axiológica, ao ser obrigatoriamente observada na elaboração, na interpretação e na aplicação de todos os “ramos setoriais” do direito, reúne-os e lhes confere a consistência sistemática 135-136. 133 Béatrice Jaluzot, La bonne foi dans les contrats: Étude comparative de droit français, allemand et japonais, p. 122, n° 439. 134 No dizer de Maria Celina Bodin de Moraes, Danos à Pessoa Humana – Uma Leitura CivilConstitucional dos Danos Morais, p. 70, os direitos fundamentais têm sua origem ligada à defesa do indivíduo contra a ingerência excessiva do Estado, mas passaram a desempenhar relevante papel em relação à convivência social entre os particulares, pois é no Direito Constitucional que se encontra o conjunto de valores sobre os quais se constrói, na atualidade, o pacto de convivência coletiva, função que um dia já foi desempenhada pelo Código Civil. 135 Gustavo Tepedino, Temas de Direito Civil, p. 13. E, ainda mais, os princípios fundamentais e os valores erigidos pela Constituição Federal deverão se revezar no topo da escala hierárquica, só podendo ser decidido em cada caso concreto qual deles é que ocupa essa posição de supremacia, vale dizer, a hierarquização só poderá ser feita de modo tópico, conforme as peculiaridades do problema que estiver sendo analisado. Nesse sentido, parece-nos bastante adequado o conceito de “sistema jurídico como uma rede axioló gica e hierarquizada topicamente de princípios fundamentais, de normas estritas (ou regras) e de valores jurídicos cuja função é a de, evitando ou superando antinomias em sentido lato, dar cumprimento aos objetivos justificadores do Estado Democrático, assim como se encontram consubstanciados, expressa ou implicitamente, na Constituição”. Cf. Juarez Freitas, A interpretação sistemática do direito, p. 54. E esclarece o professor gaúcho que usou propositadamente a palavra “rede”, para sugerir conexões neuroniais, de modo a indicar que o sistema jurídico “funciona” por inteiro, ainda quando se concentrem atividades nesta ou naquela parte. 136 Em se tratando de um sistema, contudo, convém assinalar que não existem atividades isoladas, localizadas unicamente em setores estanques, por isso que todas as frações do sistema guardam conexão entre si. Resulta daí que qualquer atividade interpretativa resulta, direta ou indiretamente, na aplicação de princípios, regras e valores, componentes da totalidade do sistema juríd ico. Assim, tem-se que cada um dos preceitos deve ser sempre visto como uma parte viva do todo, pois apenas diante do exame do conjunto de 116 Tal mudança implicou na introdução, em todos os campos do direito, mas no Direito Civil em particular, dentro do que nos interessa, de valores fundamentais, tais como a dignidade humana, a solidariedade social, etc., o que se mostrou de fundamental importância para a expansão da boa-fé, como abordaremos logo adiante, no próximo subitem. Nos temas acima tratados, referimo-nos à boa-fé como modo de interpretação e de integração da vontade negocial, declarada pelas partes em um negócio (ou que ficou obscura nesse mesmo negócio). Antes, contudo, havíamos abordado essa mesma boa-fé como atenuante de formalismos legais. A boa-fé, dessarte, tanto pode ser invocada para tornar menos rígida alguma exigência legal referente às formalidades dos negócios jurídicos, quanto para integrar a norma legal que se mostra lacunosa, ou ainda para dar suporte aos atos da vontade. Dirigindo tais conceitos especificamente em relação ao venire contra factum proprium, desde logo se adianta que é o cotejo com um primeiro comportamento, considerado à luz da boa-fé, que permitirá aferir se o segundo comportamento teve o efeito de frustrar a confiança que havia sido gerada no outro sujeito a partir do primeiro, vale dizer, se o venire (o segundo comportamento) de fato contrariou, injustificadamente, a expectativa criada a partir do factum proprium (o primeiro comportamento). Em relação à abordagem mais completa e minuciosa sobre o venire contra factum proprium, veja-se, adiante, o exame feito no item 2.3. Embora a boa-fé, como acabamos de mencionar, seja princípio que encontra aplicação em relação a todos os campos do direito, é certo que, na prática, sua mais freqüente seara de aplicação, a toda evidência, se dá no todo o ordenamento é que se pode melhor equacionar qualquer caso a ser resolvido. Cf. Juarez Freitas, A interpretação sistemática do direito, p. 70. 117 campo das relações obrigacionais, principalmente quanto aos contratos, onde, aliás, como vimos acima, teve origem a consideração da boa-fé como uma norma de conduta a ser observada pelos contratantes. E no que se refere a essa aplicação da boa-fé quanto aos comportamentos dos sujeitos dos contratos em geral, cumpre ainda observar que, em se tratando de princípio que se mostra aplicável a todo o direito, não há, nos contratos, um momento específico ao qual esteja ligada a boa-fé como norma comportamental. Com efeito, parece bastante claro que, se toda a seara jurídica está permeada pelo princípio da boa-fé, pode-se apontar como decorrência imediata dessa impregnação o fato de que todas as etapas contratuais, e mesmo aquelas que antecedem o aperfeiçoamento ou sucedem a extinção de cada contrato, sendo momentos que também são regidos pela normatização jurídica, estarão sob a regência desse mesmo princípio, vale dizer, dessa mesma norma que se apresenta como originária da boa-fé. Dito de modo mais claro, o que se pode afirmar é que o princípio da boa-fé deverá ser obrigatoriamente observado, em relação à conduta dos contratantes, não apenas no momento em que o contrato vem a ser celebrado, mas ao longo de toda a sua execução, caso esta se dê de modo diferido no tempo. E, ainda mais do que isso, o princípio da boa-fé deverá ser também observado ainda mesmo quando o contrato nem ao menos foi celebrado, mas os sujeitos já se aproximaram um do outro em virtude da possibilidade de celebração da avença. Ainda não são contratantes, pois contrato ainda não existe, mas já terão os respectivos comportamentos regidos pela conduta ditada pela boa-fé. 118 Da mesma forma, embora o contrato já tenha sido integralmente cumprido, e, portanto, já esteja extinto, é possível que, mesmo depois dessa extinção, ainda ocorram situações cujas origens podem ser encontradas nesse mesmo contrato, e por isso continuarão os comportamentos dos sujeitos a ser regidos pelo princípio da boa-fé, embora não sejam mais contratantes, eis que não existe mais contrato. Nesse mesmo sentido a lição de Emilio Betti137, para quem existe um triplo campo de observação e aplicação do princípio da boa-fé, em relação aos contratos: a) anterior à conclusão do contrato ou à entrada em vigor do preceito contratual, e que se trata principalmente do dever de lealdade, impondo deveres negativos; b) obrigações concomitantes ao desenvolvimento da relação contratual, numa extensão que não estava indicada no contrato; c) obrigações subseqüentes ao cumprimento das prestações. Esses comportamentos da parte, acima mencionados, nos momentos que antecedem ao aperfeiçoamento do contrato, e também nos momentos posteriores à extinção da avença, são as chamadas obrigações précontratuais e pós-contratuais, que serão minuciosamente examinadas adiante, especificamente no item 1.8. Essa diversidade de momentos nos quais a boa-fé se mostra aplicável, e mesmo a diversidade de situações que são regidas pela mesma (em muito ultrapassando o campo das relações obrigacionais), atualmente encontra sua razão de ser no fato de que o princípio da boa-fé, pelo menos no nosso ordenamento jurídico, tem assento constitucional, daí sua aplicação diversificada a todos os relacionamentos interpessoais e mesmo nas relações 137 Emilio Betti, Teoria generale delle obbligazoni, v. I, pp. 95-96. Mas esclarece o autor, na mesma obra e local, que essa classificação é apenas extrínseca, e por isso tem a falha de não distinguir entre o adimplemento da expectativa do credor e o simples dever de respeito que nasce em virtude do contato social entre duas esferas de interesses contíguos. 119 da Administração Pública com os administrados, como já comentamos brevemente e veremos em maiores detalhes mais à frente (item 1.7). Na realidade, o que se percebe com clareza é que a boa-fé normativa, ao longo dos anos, tem apresentado forte caráter expansionista, ou seja, saindo do campo dos contratos, seu habitat inicial, para ocupar todos os ramos do direito privado e, inclusive, espraiando-se pelo direito processual e pelo direito público. Essa expansão, ao que nos parece, se apresenta como reflexo direto da visível constitucionalização pela qual tem passado o direito civil138, levando alguns princípios que antes eram apenas deste a figurar no texto constitucional, e daí a se estender a outros ramos do direito139. Examinaremos de modo mais detalhado esse assento constitucional da boa-fé logo adiante, no próximo e específico subitem. Antes, contudo, convém que sejam feitas algumas considerações sobre o conteúdo normativo da boa-fé. Acima dissemos que a boa-fé encontra a sua aplicação, ditando as condutas a serem observadas, nos momentos que antecedem à formação do contrato, ao longo de toda a sua execução, e mesmo depois de sua extinção em virtude do seu cumprimento. E, ainda mais do que 138 Teresa Negreiros, Fundamentos para uma Interpretação Constitucional do Princípio da Boa-Fé, pp. 8-9. Mas deve-se tomar cuidado para não confundir o Direito Civil Constitucional com o simples conjunto de dispositivos sobre institutos tradicionais do direito civil (propriedade, família, casamento, etc.) que foram inseridos na Constituição Federal, pois Direito Civil Constitucional é o direito civil como um todo, no sentido de que todo ele está jungido à incidência dos valores e princípios eleitos pela Constituição Federal. Nesse sentido a advertência de Leonardo Mattietto, O Direito Civil Constitucional e a Nova Teoria dos Contratos. In: Tepedino, Gustavo (Coord.). Problemas de Direito Civil-Constitucional , p. 170. Idêntica advertência é feita de modo ainda mais incisivo por Maria Celina Bodin de Moraes, Danos à Pessoa Humana – Uma Leitura Civil-Constitucional dos Danos Morais, p. 68. Esclarece a ilustre Professora Titular da Faculdade de Direito da Universidade Estadual do Rio de Janeiro que é “insuficiente constatar a mera transposição dos princípios básicos do texto do Código Civil para o texto da Lei Maior. É preciso avaliar sistematicamente a mudança, ressaltando que, se a normativa constitucional se encontra no ápice do ordenamento jurídico, os princípios nela presentes se tornaram, em conseqüência, as normas diretivas, ou normas-princípios, para a reconstrução do sistema de Direito Privado. É preciso, portanto, buscar perceber e valorar o significado profundo, marcadamente axiológico, dessa ‘constitucionalização’ do direito civil”. 139 Não assiste razão, portanto, a Beatriz Capucho, quando afirma, referindo-se ao “princípio da boa-fé lealdade”, que “questiona-se sua aplicação a outros ramos do direito”, já sendo pacífica, nos tempos atuais, a aceitação dessa extensão da boa-fé aos demais ramos do direito, inclusive o processual e o publico. Cf. Beatriz Maki Shinzato Capucho, Da boa-fé na negociação coletiva de trabalho, p. 42. 120 isso, também comentamos que a boa-fé impõe os comportamentos a serem seguidos não apenas no campo dos contratos, mas em todos os negócios jurídicos em geral, inclusive espraiando-se pela seara do direito público. Diante de tamanha amplitude, pode perguntar-se o leitor qual seria o conteúdo dessa norma decorrente da boa-fé, capaz de atender a tal diversidade de situações. Na realidade, convém esclarecer, não existe uma norma única, decorrente da boa-fé, que se apresente como um padrão ou um standard140 comportamental, mas sim uma diversidade de normas, que se adequam e se adaptam a cada situação concreta. Dito de outra forma, a boa-fé, na realidade, não se apresenta como uma norma comportamental, mas sim como uma fonte de normas, cujos conteúdos não são e nem podem ser previamente determinados, uma vez que serão revelados apenas quando forem conhecidos os contornos da situação concreta onde tais normas sejam chamadas a atuar. Como já mencionamos acima (e tornaremos a examinar no subitem seguinte), a boa-fé impõe ao sujeito a adoção de um comportamento que respeite a esfera dos interesses jurídicos alheios e que se mostre leal e honesto, e é certo que o significado dessa afirmação não pode ser definido em abstrato, uma vez que apenas na situação concreta é que se poderá aferir com precisão qual é o comportamento que se mostra adequado a essa mesma situação. 140 Veja -se, retro, no item 1.5, em nota de rodapé, algumas observações acerca da discussão doutrinária existente sobre a natureza normativa da boa-fé ou sobre ser a mesma um standard jurídico. Nesse mesmo local indicado nos posicionamos de modo claro no sentido de que a boa-fé tem conteúdo normativo, não se apresentando como um simples standard. 121 É nesse mesmo sentido a lição de Alfonso de Cossío y Corral141, segundo a qual, no direito moderno, a boa-fé assumiu o papel de uma fonte de normas objetivas, cuja atuação concreta se dá mediante a aplicação de princípios gerais, esclarecendo em seguida que isso significa que a boa-fé pode ser entendida como uma norma geral, que se diversifica e especializa para cada situação concreta, ou seja, cujo conteúdo será formado e determinado em função das circunstâncias da hipótese concreta. E é também nesse mesmo sentido que afirma De Los Mozos 142, como já vimos (veja-se, retro, o item1.5), que “la buena fe es um principio problematico, um verdadero topos, llamado a actuar en cada momento de la interpretación”. E, ainda com esse mesmo significado, afirmando tratar-se de um topos subversivo do direito obrigacional, ensina Judith Martins-Costa que “constitui a boa-fé objetiva uma norma proteifórmica, que convive com um sistema necessariamente aberto, isto é, o que enseja a sua própria permanente construção e controle” 143. 1.6.1. O fundamento constitucional da boa-fé como norma de conduta: o princípio da solidariedade. Acima dissemos – ainda que apenas em breves e superficiais comentários –, repetidas vezes, que em relação aos contratos a conduta ditada 141 Alfonso de Cossío y Corral, El dolo en el derecho civil, pp. 244-245. “...la buena fe, según hemos visto, más que un estado de ánimo subjetivo, ha llegado en nuestro derecho a significar una fuente de normas objetivas, o, si se prefiere, un complejo de normas jurídicas, que carecen de formulación positiva concreta, son reunidas bajo esta designación impropia y ocasionada a equívocos. Lo que se aspira a conseguir es que el desenvolvimiento de las relaciones jurídicas, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones, se produzca conforme a una serie de principios que la conciencia jurídica considera como necesarios, aunque no hayan sido formulados por el legislador ni establecidos por la costumbre o por el contrato; principios que están implícitos o deben estarlo en el ordenamiento positivo, que tienen carácter general, pero que exigen una solución distinta en cada caso concreto”. 142 José Luis de Los Mozos, El Principio de La Buena Fe, pp. 36-37. 143 Judith Martins-Costa, A boa-fé no Direito Privado, p. 413. 122 pela boa-fé se impõe não apenas ao longo da execução do mesmo, mas antes mesmo de ter se aperfeiçoado o ajuste e ainda depois que o mesmo já foi integralmente cumprido, nas fases pré e pós-contratuais. E, ainda mais, tal comportamento não se impõe apenas em relação aos negócios jurídicos que se situam dentro do campo das obrigações, mas em relação a todos os negócios jurídicos em geral. Trata-se, portanto, de um princípio fundamental que se espalha e se estende por todos os ramos do ordenamento jurídico. Nas precisas palavras de Guillermo Figueroa 144, Professor Emérito da Universidade de Cartagena (Colômbia), “la buena fe es un principio funddamental que se debe admitir como supuesto de todo ordenamiento jurídico; informa la totalidad de él y aflora de modo expreso en múltiples y diferentes normas aun que no se le mencione en forma expresa”. Essa onipresença da boa-fé decorre de seu assento constitucional, como passaremos a demonstrar em seguida, desde logo alertando que, tendo em vista buscarmos o apoio do texto constitucional positivado, faremos referência específica à Constituição Federal entre nós vigente, especialmente quanto ao que dispõe os artigos 1°, III, e 3°, I, da nossa Lex Mater. Com efeito, em nosso ordenamento jurídico a necessidade de observância de um comportamento conforme os ditames da boa-fé pode ser com tranqüilidade extraída a partir dos dispositivos indicados, que se referem à dignidade da pessoa humana e à solidariedade social, respectivamente, ambas explicitamente listadas dentre os objetivos fundamentais da nossa República Federativa. A questão encontra seu apoio no fato de que a boa-fé, enquanto norma de conduta, engloba um comportar-se de modo honesto, com lealdade, 144 Guillermo Guerrero Figueroa, Principios Fundamentales del Derecho del Trabajo, p. 44. 123 do modo como legitimamente poderia ser esperado, pelas outras pessoas, que fosse o comportamento do sujeito naquelas circunstâncias. Facilmente se percebe, portanto, que o comportamento de boa-fé leva em consideração, dentre outros fatores, a sua repercussão na esfera jurídica alheia, ou seja, são levados em conta os interesses de terceiros, integrantes do mesmo grupamento social. Em outras palavras, a atuação de boa-fé implica em uma atuação solidária, com o escopo de promoção da dignidade e do desenvolvimento da personalidade humanas, refletindo uma preocupação real com a construção de uma ordem jurídica que se mostre mais sensível aos problemas e desafios que permeiam a sociedade contemporânea, dentre os quais se inclui a busca de um direito contratual parametrizado de tal forma que possa apresentar como seus paradigmas, a um só tempo, o atendimento às necessidades econômicas (como sempre foi o campo das obrigações contratuais), e o atendimento à determinação de solidariedade social, de modo a que também se volte para a busca da promoção da dignidade da pessoa humana145. Mudaram, portanto, como facilmente se percebe, os paradigmas do direito privado 146, notadamente em relação ao direito contratual. Como muito bem detectou Ricardo Lorenzetti147, quando se vive em uma sociedade de massa, a atuação do indivíduo não é e nem pode ser indiferente quanto aos 145 Leonardo Mattietto, O Direito Civil Constitucional e a Nova Teoria dos Contratos. In: Tepedino, Gustavo (Coord.). Problemas de Direito Civil-Constitucional, p. 164. 146 No dizer de Alinne Novais, “o contrato que tem o modelo liberal como seu paradigma, cujo princípio máximo é a autonomia da vontade, reflete, na verdade, um momento histórico que não corresponde mais à realidade atual. Essa concepção tradicional do contrato, que tem na vontade a única fonte criadora de direitos e obrigações, formando lei entre as partes, sobrepondo-se à própria lei, bem como a visão do Estado ausente, apenas garantidor das regras do jogo, estipuladas pela vontade dos contratantes, já há muito vêm tendo seus pilares contestados e secundados pela nova realidade social que se impõe”. Cf. Alinne Arquette Leite Novais, Os Novos Paradigmas da Teoria Contratual: O Princípio da Boa-fé Objetiva e o Princípio da Tutela do Hipossuficiente. In: Tepedino, Gustavo (Coord.). Problemas de Direito CivilConstitucional, p. 17. 147 Ricardo Luis Lorenzetti, Fundamentos do Direito Privado, pp. 82-83. 124 demais indivíduos e aos bens públicos, e a mudança dos paradigmas decorre precisamente da consciência dessa inter-relação. Surge a necessidade de se considerar o “sujeito situado”, em vez do “sujeito isolado”, ou seja, de se estabelecerem regras institucionais que possam estabelecer os parâmetros mínimos para a organização dessa relação de um indivíduo com os demais e com os bens públicos. O Direito Privado não podia ficar indiferente à organização da sociedade, e por isso começou a observar o sujeito sob essa perspectiva da vida comunitária, e isso significou, em relação aos contratos, a ampliação da sua função social148, eis que o contrato deixa de ser visto como ato exclusivo das partes e passam a ser considerados os seus efeitos sobre terceiros, e por isso o Estado intervém no conteúdo contratual. Contudo, essa intervenção estatal, na realidade, mais do que uma restrição, implica na preservação da liberdade individual, eis que busca a assegurar aos contratantes uma igualdade substancial, no lugar daquela simplesmente formal149. Essa nova realidade, imposta pela reorganização do quadro social, já havia sido detectada há muito tempo por Emilio Betti150, que há quase meio século já se referia às “exigências de coexistência”, das quais decorreria a 148 Segundo entendemos, a grande mudança do direito clássico para o direito moderno, em relação aos contratos, foi precisamente em relação a essa abordagem dos contratos sob a perspectiva da função social que eles têm a cumprir. Deixou-se para trás, portanto, o exame estrutural dos contratos (na verdade, dos negócios jurídicos em geral) e passou-se para uma abordagem sob o prisma da função social, ou seja, a análise dos contratos funcionalizada aos valore s fundamentais eleitos pela Constituição Federal. A mudança, portanto, não é meramente estrutural, mas antes de tudo funcional. Nesse sentido, parece-nos completamente equivocada a análise feita por Flávio Tartuce, ao afirmar que “não se pode mais aceitar o contrato com sua estrutura clássica...[pois o que estamos vivenciando é] uma modificação nas suas estruturas principais. Flávio Tartuce, A revisão do contrato pelo novo Código Civil. Crítica e proposta de alteração do art. 317 da Lei 10.406/02. In: Delgado, Mário Luiz e Alves, Jones Figueirêdo, Novo Código Civil – Questões Controvertidas, p. 130. 149 Heloisa Carpena Vieira de Mello, A boa-fé como parâmetro da abusividade no direito contratual. In: Tepedino, Gustavo (Coord.). Problemas de Direito Civil-Constitucional, p. 312. 150 Emilio Betti, Cours de Droit Civil comparé des obligations, 1957-1958, p. 80. “Ces exigences de coexistence peuvent être envisagées sous un double point de vue, négatif e positif... Au point de vue positif on exige des divers membres de la communion sociale, en tant qu’associés dans le cadre d’un corps social, une solidarité qui comporte sous certaines conditions une ligne de conduite positive et maints devoirs de coopération envers les autres associés: cooperation propre à favoriser leurs intérêts”. 125 imposição, aos membros da sociedade, de um duplo comportamento, negativo e positivo. O negativo consistiria na já tradicional abstenção de causar dano a outrem. O positivo, no entanto, seria a exigência, em relação a cada um dos integrantes dessa comunhão social, de uma solidariedade, decorrente do simples fato de se integrar o quadro desse corpo social, e, sob certas condições, um dever de cooperação em favor dos demais associados, de modo a favorecer os interesses destes. Pois bem, essa atenção para com os interesses das outras pessoas, com as quais o sujeito mantém um relacionamento social, e que poderão ser afetados em virtude de seu comportamento, nada mais é do que a preocupação com a construção de uma sociedade solidária, mencionada expressamente no artigo 3°, I, da nossa Constituição Federal de 1988, e tem por função a promoção da dignidade da pessoa humana, aqui em relação ao âmbito obrigacional151. Nesse sentido, pode-se apontar que a presença da cláusula geral da tutela da dignidade humana consistiu em fator decisivo para que o legislador infra-constitucional (em todos os ramos do direito, e não apenas no direito civil) passasse a adotar uma nova postura metodológica. Pode-se mesmo dizer que foi atendendo às diretrizes ditadas pelo Texto Maior de 1988 que o legislador ordinário (primeiro, no Código de Defesa do Consumidor; depois, no Código Civil), observando os princípios constitucionais 151 Sobre o tema, diz Rogério Ferraz Donnini, Responsabilidade Pós-Contratual no Novo Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor, p. 117, que “decorrem do princípio da dignidade da pessoa humans os principios da solidariedade e da igualdade, pois são, na realidade, verdadeiros instrumentos da efetiva proteção da dignidade humana. A solidariedade, por sua vez, prevista na Constituição Federal no art. 3º, I (art. 2º da Constituição da República italiana), um dos objetivos fundamentais estampados no texto constitucional, está vinculada às cláusulas gerais, uma vez que estas buscam o comportamento solidário entre as partes, isto é, uma atitude compatível com a concepção social, seja no contrato (art. 421 do novo CC) ou mesmo na propriedade (art. 1.118, § 1º, do novo CC)”. Nota: acreditamos que o autor pretendeu se referir ao artigo 1.228, § 1º, do atual Código Civil. 126 fundamentais da dignidade da pessoa humana, solidariedade social e igualdade substancial, optou por prestigiar expressamente o princípio da boa-fé 152. No dizer de Teresa Negreiros 153, “o princípio da boa-fé, como resultante necessária de uma ordenação solidária das relações intersubjetivas, patrimoniais ou não, projetada pela Constituição, configurase muito mais do que como fator de compressão da autonomia privada, como um parâmetro para a sua funcionalização à dignidade da pessoa humana, em todas as suas dimensões”. Para Pietro Perlingieri154, por sua vez, “os princípios da solidariedade e da igualdade são instrumentos e resultados da atuação da dignidade social do cidadão”. E não é demais recordar que a Constituição Federal não está apenas sugerindo aos integrantes da comunhão social um comportamento que se coadune com a busca de uma sociedade justa e solidária, mas está impondo esse mesmo comportamento, eis que não se pode olvidar que a Constituição Federal não é apenas um estatuto programático, não se limita apenas a definir regras para a futura organização política, econômica, social, etc. Antes disso, a Constituição se apresenta como um projeto de transformação da sociedade, e para isso impõe-lhe os comportamentos que considera mais adequados às suas próprias finalidades inovadoras 155. Por essa razão, cada um dos indivíduos que integram um mesmo aglomerado social, independentemente do tamanho do mesmo, deverá sempre buscar comportar-se de um modo que se mostre leal e honesto, em relação a 152 Célia Barbosa Abreu Slawinski, Breves reflexões sobre a eficácia atual da boa-fé objetiva no ordenamento jurídico brasileiro. In: Tepedino, Gustavo (Coord.). Problemas de Direito Civil-Constitucional, p. 85. 153 Teresa Negreiros, Fundamentos para uma Interpretação Constitucional do Princípio da Boa-Fé, pp. 222-223. 154 Pietro Perlingieri, Perfis do Direito Civil – Introdução ao Direito Civil Constitucional (trad. Maria Cristina De Cicco), p. 37. 155 Cf. Ana Prata, A tutela constitucional da autonomia privada, p. 59. 127 cada um dos demais integrantes do mesmo grupo, vale dizer, de modo tal que em conseqüência do seu comportamento não venham a ser desnecessariamente prejudicados os interesses alheios, e notadamente de um modo tal que não venham os demais integrantes desse mesmo grupo a ser atingidos em sua dignidade humana. Dito de modo mais claro, o que se percebe é que, cada um dos indivíduos de um grupo social, ao adotar, em uma situação, um determinado comportamento, dentre os vários que seriam possíveis, deverá observar de modo cuidadoso qual será a repercussão dessa sua conduta na esfera dos interesses alheios, para que possa ser atendida a determinação constitucional no sentido de que seja buscada uma sociedade justa e solidária, e tal cuidado nada mais é do que a adoção de um comportamento segundo a boa-fé. E deve ser destacado, por ser assunto que se mostra de extrema importância, que não se trata apenas de uma norma de conteúdo negativo, ou seja, no sentido de serem proibidas as condutas que se mostrem desleais ou desonestas, mas sim de uma norma que se forma, especificamente para aquela situação, e cujo conteúdo também é positivo, vale dizer, também impõe ao sujeito um comportamento positivo, que se mostre solidário e cooperativo, em relação aos demais integrantes do grupo social. Nesse sentido a lição de DíezPicazo156, para quem: “Si la buena fe, considerada objetivamente, em si misma, es un modelo o un arquetipo de conducta social, hay una norma jurídica que impone a la persona el deber de comportarse de buena fe en el tráfico jurídico. Cada persona debe ajustar su própria conducta al arquetipo de la conducta social reclamada por la idea imperante. El ordenamiento jurídico exige este 156 DÍEZ -PICAZO, La doctrina de los propios actos, p. 139, apud José Luis de Los Mozos, El Principio de La Buena Fe, p. 37. 128 comportamiento de buena fe, no solo en lo que tiene de limitación o de veto a una conducta deshonesta (v. gr. no engañar, no defraudar, etc.), sino también en lo que tiene de exigencia positiva prestando al prójimo todo aquello que exige una fraterna convivencia (v. gr., deberes de diligencia, de esmero, de cooperación, etc.)”. Embora de modo apenas superficial, não se mostra despiciendo comentar que esse conteúdo positivo da boa-fé enquanto norma de conduta acaba por também se refletir na chamada boa-fé subjetiva, que passa a abranger não apenas a crença do sujeito de não realizar uma injustiça com seu comportamento, mas também a crença de estar agindo de modo a promover a justiça157. Facilmente se conclui, portanto, como já havíamos destacado supra, que a boa-fé como norma de conduta, vale dizer, como imposição de balizamentos para os comportamentos do indivíduo, pode ser descrita como sendo a concretização do princípio constitucional da solidariedade social. Dissemos, poucas linhas acima, que esse aspecto normativo da boa-fé, vale dizer, essa atenção solidária para com a repercussão que um comportamento adotado por um indivíduo terá sobre os demais integrantes do mesmo grupo social independe do tamanho deste. A questão é interessante, e sobre ela passamos em seguida a nos debruçar. Se, por um lado, qualquer que seja o tamanho do grupo social será sempre possível detectar essa preocupação solidária que se relaciona com a boa-fé, por outro, parece-nos evidente que a intensidade dessas normas de conduta originárias da boa-fé será inversamente proporcional ao tamanho 157 José Luis de Los Mozos, El Principio de La Buena Fe, p. 63. 129 desse mesmo grupo, e diretamente proporcional à intensidade das relações entre os seus membros. Com efeito, quando se considera um grupo de maior porte, como por exemplo a sociedade como um todo, as relações sociais entre seus diversos indivíduos integrantes como que se diluem, esgarçando-se, uma vez que o comportamento de cada um deles repercute de modo mínimo nas esferas jurídicas dos demais, e por essa razão será menos intensa e menos perceptível a imposição de normas comportamentais ditadas pela boa-fé, embora seja inegável a sua presença. Quando se considera um grupo menor, como por exemplo uma associação ou uma sociedade empresarial, ou mesmo os moradores de um condomínio residencial, as relações sociais entre os seus integrantes se mostram muito mais intensas, uma vez que a menor dimensão do grupo leva à maior proximidade entre seus integrantes, e por essa razão se mostra muito mais forte e clara a repercussão do comportamento de cada um deles sobre os interesses dos demais, sendo por isso mais intensa a determinação de condutas como conseqüência da boa-fé comportamental. E podemos avançar ainda mais nessa redução do âmbito considerado, reduzindo as relações sociais aos integrantes de um contrato de compra e venda, por exemplo. Aqui, são tão reduzidas as dimensões desse “grupo” no qual se desenrolam as relações sociais, que muito mais forte se mostra a imposição das condutas em decorrência da boa-fé, e é exatamente em virtude dessa maior intensidade que a boa-fé como norma de conduta costuma ser identificada com o campo das obrigações, especialmente em relação aos contratos, sendo aí, inclusive, que se deu o desenvolvimento do seu estudo e onde o tema encontra maior aplicação prática (veja-se, adiante, o item 1.8). 130 E quando se considera esse “grupo social” como sendo formado pelos sujeitos contratantes, como é o caso do comprador e do vendedor, o que se pode observar é que a boa-fé impõe a ambos um dever de colaboração recíproca, ou seja, cada um deles deve cooperar com o outro, para que possa cumprir a sua prestação contratual, não podendo o vendedor, por exemplo, colocar obstáculos que dificultem ao comprador a efetivação do pagamento do preço (seria o caso, por exemplo, do vendedor que não desse informações precisas sobre o local do pagamento). Nesse sentido, aliás, é que se diz que a boa-fé objetiva realça a idéia de cooperação, que se acha na essência da relação obrigacional158. Ora, desenvolvendo-se as relações sociais em grupo tão pequeno, a solidariedade (aqui vista como cooperação) é dirigida diretamente de um para o outro, de modo recíproco, daí a sua maior intensidade e a sua mais fácil visibilidade, podendo-se ainda apontar que essa cooperação se verifica na totalidade dos comportamentos dos contratantes, inclusive nos momentos que antecedem à formação do contrato e mesmo depois que o mesmo já se extinguiu. Esse tema, que já havia sido brevemente mencionado, supra, será profundamente desenvolvido adiante, no item 1.8. É nesse sentido acima mencionado que, em relação aos contratos, afirma De Los Mozos 159 que a boa-fé é um critério de reciprocidade, que deve ser observado nas relações jurídicas que se desenvolvem entre sujeitos que têm uma mesma dignidade moral, sendo que é nessa reciprocidade que se explica a solidariedade que liga cada um dos participantes de uma comunidade 158 Laerte Marrone de Castro Sampaio, A boa-fé objetiva na relação contratual, p. 29. José Luis de Los Mozos, El Principio de La Buena Fe, p. 47. No mesmo sentido a afirmação de Betti, para quem “il criterio della buona fede è essenzialmente un criterio de reciprocità”. Cf. Emilio Betti, Teoria generale delle obbligazoni, v. I, p. 94. 159 131 aos demais, e tanto mais os liga quanto mais intensas sejam as relações dentro dessa comunidade, como sói acontecer nas relações associativas. Da mesma forma, em outras relações de direito privado, situadas fora do direito obrigacional e nas quais os casos concretos se desenrolam entre umas poucas pessoas de cada vez, também vamos encontrar de modo muito nítido essa reciprocidade, inclusive podendo ser apontadas diversas hipóteses que receberam um tratamento específico do direito positivo. O direito das coisas, por exemplo, tem se mostrado campo fértil para essa abordagem específica da boa-fé, feita pelo direito positivo para algumas situações pontuais. Vejamos alguns exemplos160. Em relação às servidões, por exemplo, os artigos 1.383 e 1.384, 1ª parte, ambos do Código Civil, por um lado, permitem ao dono do prédio serviente que, à sua custa, possa remover a servidão para outro local, se isso não reduzir as vantagens do prédio dominante. Por outro lado, no entanto, ao mesmo tempo determinam que o dono do prédio serviente não poderá de modo algum causar embaraços ao legítimo exercício da servidão pelo dono do prédio dominante. Concomitantemente, e ainda em relação às servidões, o que se vê nos artigos 1.384, 2ª parte, e 1.385, é que também ao dono do prédio dominante a lei permite que o mesmo, à sua custa, remova a servidão para outro local, se dessa remoção lhe resultar considerável aumento de utilidade e não prejudicar o prédio serviente. Ao mesmo tempo, no entanto, impõem ao dono do prédio dominante que, ao exercer a servidão, faça-o apenas até o limite das necessidades do seu prédio, de modo tal que não agrave o encargo imposto ao prédio serviente. 160 Os exemplos foram adaptados, na realidade, a partir da obra de José Luis de Los Mozos, El Principio de La Buena Fe, pp. 145-147. 132 Se o prédio dominante, levando-se em conta o tipo de atividade agro-econômica ou industrial que nele é desenvolvida, necessitar que a servidão seja ampliada (por exemplo, estava prevista a passagem de veículos de pequeno porte, mas se mostra necessária a passagem de caminhões pesados), o dono do prédio serviente será obrigado a aceitar essa ampliação, mas por outro lado terá direito de ser indenizado em virtude da mesma, de modo complementar, ou seja, independentemente da indenização que tenha inicialmente recebido. Como facilmente se pode perceber, em todas essas situações acima referidas, e que foram tratadas de modo específico e preciso pela Lei Civil, o que a norma legal faz nada mais é do que impor a solidariedade e a cooperação de cada um dos sujeitos em favor do outro, ora mandando que tolere a adoção de determinada providência, capaz de trazer ao outro uma vantagem considerável, ora mandando que lhe seja paga uma indenização, em virtude dos transtornos que terá que suportar. E essa cooperação recíproca, pontual e especificamente imposta pela norma legal, como já vimos acima, nada mais é do que a própria aplicação do princípio da boa-fé, como conseqüência do princípio da solidariedade social. Convém esclarecer que a cooperação é recíproca, embora o Código Civil, em cada caso, possa determiná-la apenas em favor do dono do prédio serviente ou do dominante. É que não interessa quem seja a pessoa do dono ou qual seja o prédio dominante ou serviente, pois a cooperação se dará em favor de qualquer prédio que se enquadre na situação descrita na lei. Assim, por exemplo, nada impede que entre dois prédios vizinhos existam, simultaneamente, duas servidões, com as posições invertidas em cada uma delas, ou seja, um dos prédios é o dominante em uma das servidões (de vista, por exemplo), mas é o serviente na outra (de passagem, v.g.). E em cada 133 uma delas haverá a imposição, em favor do prédio que ocupar a posição indicada na lei, dessa cooperação acima mencionada, ou seja, a cooperação seria imposta a cada um deles em favor do outro, em evidente situação de reciprocidade. Ainda no campo do direito das coisas, vê-se no artigo 1.285, do Código Civil, que se refere à passagem forçada, que o dono do prédio que estiver encravado, sem acesso à via pública, nascente ou porto, poderá exigir de seu vizinho, mediante o pagamento de indenização cabal, que lhe dê passagem, sendo o rumo desta fixado mediante acordo entre ambos ou, se necessário, judicialmente. Nesse dispositivo indicado no parágrafo anterior, até de modo mais evidente do que nos outros exemplos até aqui apresentados, percebe-se de modo muito claro a imposição do dever de cooperação e de solidariedade, entre os proprietários dos prédios encravado e serviente. Com efeito, o que se verifica é que o prédio encravado, não fosse o direito à exigência da passagem forçada, sem possibilidade de acesso à via pública, seria completamente inútil, não sendo possível sua exploração econômica ou qualquer destinação social. A determinação para que o vizinho tolere a passagem, portanto, nada mais é do que a imposição da cooperação, da solidariedade social, para que também o prédio encravado possa receber adequada destinação social e econômica, e para isso se torna necessária a cooperação do dono do prédio serviente. Nesse sentido, aliás, é expresso o magistério de Maria Helena Diniz 161, para quem o “direito à passagem forçada funda-se no princípio de 161 Maria Helena Diniz, Curso de Direito Civil Brasileiro – v. 4, p. 235. Concordamos com tão ilustre autora, apenas ressalvando que, ao nosso sentir, o princípio da solidariedade social não preside apenas as relações de vizinhança, mas sim todas as relações sociais, dentre as quais as jurídicas, como, aliás, se encontra expressamente determinado no artigo 3°, I, da Constituição Federal. No mesmo sentido, também apontando que o fundamento do direito à passagem forçada se encontra na solidariedade que preside as relações de vizinhança, o magistério sempre respeitado de Washington de Barros Monteiro, acrescentando o mestre, 134 solidariedade social que preside as relações de vizinhança”. Como se vê, o direito à passagem forçada, em última análise, também se apresenta como aplicação concreta do princípio 162 da boa-fé, no seu aspecto de solidariedade social. E não é demais observar que, no caso, o princípio geral e fundamental da solidariedade prevalece sobre a legalidade estrita, pois aquele, por óbvio, é que condiciona a interpretação da norma legal. À guisa de exemplo, suponha-se que o prédio dominante, de pequena área, possui uma saída para a via pública, mas que tal saída é excessivamente dispendiosa ou exige trabalhos desmesurados, e isso, na prática, inviabiliza a exploração do referido imóvel. Se nos ativermos apenas ao que se encontra expresso no texto legal, este se refere ao prédio “que não tiver acesso a via pública”, e por isso o prédio do nosso exemplo não dará ao seu proprietário o direito de exigir a passagem forçada. No entanto, o princípio da solidariedade social impõe aos vizinhos que colaborem, na medida do possível, para que o proprietário do prédio “semi-encravado” possa obter de seu imóvel a máxima utilidade possível, ou seja, possa fazer com que seja viável a exploração de seu imóvel, e por isso, apesar de, no caso, ser possível o acesso à via pública, a interpretação do texto do Código Civil à luz do princípio da solidariedade contudo, que é o interesse social (o que nos parece dar esteio à afirmação que fizemos, no sentido de que a solidariedade se impõe em todas as relações sociais, e não apenas nas de vizinhança) que exige o estabelecimento do direito de passagem. Cf. Washington de Barros Monteiro, Curso de Direito Civil, v. 3, p. 143. 162 Na realidade, em se tratando de matéria positivada explicitamente pelo Código Civil, não se poderia falar em princípio, eis que se trata da própria norma legal. Contudo, não se pode deixar de observar que essa positivação nada mais é do que a recepção do princípio pela lei. Nesse mesmo sentido José Luis de Los Mozos, El principio de la buena fe, p. 146. 135 social levará a que se conclua que, mesmo assim, haverá o direito à passagem forçada 163. Novamente buscando outro ramo do direito, vamos encontrar na parte geral do Código Civil, especificamente em relação às modalidades do negócio jurídico, outra claríssima aplicação concreta do princípio da boa-fé. Trata-se do disposto no artigo 129, segundo o qual a condição deve ser considerada: a) implementada, quando seu implemento foi maliciosamente obstaculizado pela parte a quem desfavorecia; b) não verificada, quando seu implemento foi maliciosamente provocado por aquele a quem a mesma aproveitaria. Na verdade, o que se tem aí, nas duas hipóteses enfocadas no referido dispositivo legal, é uma sanção punitiva para o sujeito que, envolvido em um negócio jurídico, deixou de agir conforme as regras de conduta que, no caso concreto, se mostrariam consentâneas com a cooperação e solidariedade, em relação ao(s) outro(s) sujeito(s) envolvido(s), ou seja, deixou de agir conforme as regras da boa-fé. Com efeito, veja-se que o sujeito agiu de modo desleal, não cooperando com o outro, uma vez que lhe criou embaraços, quer pelo implemento forçado da condição, quer pelo impedimento malicioso a que esta viesse a ser implementada. E não é demais observar que o nosso Código Civil, ao contrário do que faz o Código Civil espanhol (art. 1.119164), refere-se a qualquer pessoa que, podendo ser atingida favorável ou desfavoravelmente pelo implemento da condição, de modo malicioso venha a forçar ou impedir tal implemento, e não apenas ao devedor. Seria o caso, por exemplo, de uma doação feita com a cláusula de reversão, ou seja, com a estipulação de que o bem doado voltaria 163 164 À mesma conclusão chegou Lenine Nequete, Da passagem forçada, p. 22. Artículo 1.119. Se tendrá por cumplida la condición cuando el obligado impidiese voluntariamente su cumplimiento. (grifamos). 136 ao patrimônio do doador, caso este sobrevivesse ao donatário (CC, art. 547). Imagine-se que, estando em precárias condições de saúde o donatário, prestes a morrer, o filho deste, estando na iminência de ver o bem retornar ao patrimônio do autor da liberalidade, manda assassinar o doador, e com isso impede que a condição resolutiva (o doador sobreviver ao donatário) venha a ser implementada. Em relação ao filho e herdeiro do donatário (que não foi parte no negócio), portanto, que seria desfavorecido pelo implemento da condição, como sanção punitiva ao seu comportamento desleal, que se choca de modo frontal com a conduta solidária (independentemente das óbvias considerações sobre os aspectos criminais do caso) imposta pela boa-fé, determina o Código Civil que essa mesma condição seja reputada como tendo sido implementada, vale dizer, os efeitos jurídicos que serão produzidos serão os equivalentes aos da morte do donatário antecedendo à do doador, e portanto o bem doado retornará ao patrimônio deixado pelo doador, após a morte do donatário, não devendo ser transmitido ao herdeiro que forçou o implemento da condição. 1.7. A boa-fé objetiva no Direito Público e no campo processual. A boa-fé objetiva sempre foi mais estreitamente ligada ao Direito Civil, mas, sendo neste relacionada com as obrigações, fácil é de se imaginar que a mesma, sem qualquer obstáculo, também se espalhou pelos demais ramos do direito privado, cuja base também se encontra nas relações obrigacionais, apresentando, pois, um caráter marcadamente expansionista, espraiando-se sem muita cerimônia para outros ramos do direito. Essa expansão pôde ser vista, em primeiro lugar, em relação ao Direito Comercial, que foi onde, aliás, os tribunais comerciais primeiro lhe 137 deram aplicabilidade, antes mesmo que isso ocorresse no Direito Civil, como vimos anteriormente. Depois, em um segundo momento, no Direito do Trabalho, cuja relação básica, de natureza contratual (o contrato de trabalho), nada mais foi do que um aperfeiçoamento do contrato de prestação de serviços, originário do Direito Civil. Nenhuma surpresa, portanto, nessa extensão da boa-fé a todo o domínio do direito privado. Além disso, ainda na seara do direit o privado, também podemos encontrar, com facilidade, aplicações da boa-fé no campo do direito das coisas, no direito de família, no direito das sucessões, etc. Contudo, não ficou nisso, pois também no campo do direito processual se viu a escalada da aceitação da boa-fé objetiva, o que é também fácil de se compreender, uma vez que o processo não tem um fim em si mesmo, apenas servindo como instrumento para o direito material, e por essa razão tende a refletir, ainda que o faça de modo esmaecido, algumas características deste. Logo, no processo civil, como não poderia deixar de ser, repercutiram as influências da boa-fé sobre o direito privado. À guisa de simples exemplo pode-se apontar o disposto no Código de Processo Civil brasileiro, que de modo expresso determina às partes litigantes o dever de se comportar com lealdade e boa-fé (art. 14, II), condenando ao pagamento de perdas e danos aquele que litigar pleiteando de má-fé (art. 16). E veja-se que o diploma processual pátrio, ao esclarecer o que se deve considerar como litigante de má-fé, tanto se vale de aspectos subjetivos (por exemplo, ao dizer que litigante de má-fé é quem interpõe recurso com intuito manifestamente protelatório – art. 16, VI) quanto de considerações objetivas, referentes ao comportamento da parte (por exemplo, no caso de quem deduz pretensão contra texto expresso de lei – art. 16, I). 138 Normas semelhantes, referentes ao dever de se comportar no processo segundo as regras da boa-fé, podem ser também encontradas no direito processual civil português, cujo Código de Processo Civil, em seu artigo 456, impõe sanções para o comportamento processual que esteja viciado pela má-fé. Na realidade, a repressão ao uso abusivo das vias processuais é tão antiga quanto generalizada, sendo encontrada desde a Roma antiga e em praticamente todos os sistemas processuais. Com efeito, logo após indagar sobre se poderia ser responsabilizado aquele que fizesse uso abusivo da via judicial, esclarece Josserand 165 que Essa questão chamou a atenção de quase todos os legisladores, que invariavelmente lhe deram resposta afirmativa, pelo menos para os casos de abusos mais típicos e mais graves, ou seja, para aqueles de má-fé: em todas as épocas e em todos os países, o espírito de chicana, a vontade de prejudicar a outrem e o uso abusivo das vias legais foram considerados como um verdadeiro delito, penal ou civil, comportando, como sanção mínima, uma reparação de ordem pecuniária... Já em Roma, medidas enérgicas foram tomadas a fim de prevenir ou de reprimir o espírito de chicana. Era o jusjurandum calumnice; eram as diversas penalidades que eram aplicadas à infitiatio e à plus petitio, tipos de delitos específicos que se enquadram sem nenhuma dúvida no abuso das vias de direito... Na França, como na Bélgica, na Itália, na Suíça ou na Alemanha, o princípio jamais foi colocado em dúvida: nos tribunais sempre foi admitida a possibilidade de abuso das vias legais; reconhecem que o direito de pleitear ou aquele de recorrer às vias 165 Louis Josserand, L’Esprit des Droits et de leur Reativité – Théorie dite de l’Abus des Droits, pp. 6668, nrs. 46 e 47. Diz o mestre que “Cette question a retenu l’attention de presque tous les legislatéurs qui lui ont invariablement donné une solution affirmative, du moins pour le cas d’abus le plus typique et le plus grave, c’est-à-dire pour celui de la mauvaise foi: à toute époque et en tout pays, l’esprit de chicane, la volonté de nuire à autrui en mésusant des voies légales, ont été considerérés comme constitutifs d’un véritable délit, pénal ou civil, comportant, comme minimun de sanction, une réparation d’ordre pécuniaire. A Rome déjà, des mesures énergiques avaient été prises afin de prévenir ou de réprimer l’esprit de chicane: c’était le jusjurandum calumnice; c’était les diverses pénalités qui venaient frapper l’infitiatio et la plus petitio, sortes de délits spécialisés ressortissant sans aucum doute à l’abus des voies de droit...En France, comme en Belgique, en Italie, en Suisse ou en Allemagne, le principe n’a jamais été mis en doute: nos tribunaux ont toujours admis la posibilité d’abus des voies légales; ils ont reconnu que le droit de plaider ou celui de recourir aux voies d’exécution, comportaient, à côté des limitations impersonelles et ob jectives constituées par les règles de procédure, des restrictions d’ordre personnel et subjcetif tirées de la mentalité du plaider ou du poursuivant qui ne peuvent pas aller à l’encontre des fins de l’institution, et qui, notamment, ne sauraient impunément mettre les voies de droit au service d’une volonté à base de malice, de méchanceté, de rancune ou de persécution, commettant ainsi une sorte de profanation juridique qu’aucun législateur, qu’aucun juge ne peuvent tolérer”. 139 executivas, comportam, ao lado das limitações impessoais e objetivas trazidas pelas regras de procedimento, restrições de ordem pessoal e subjetiva, extraídas da idéia de que pleitear ou litigar não podem ir contra os fins da instituição, e que, notadamente, as vias judiciais não podem ser impuneme nte colocadas ao serviço de uma vontade esteada na malícia, na maldade, no rancor ou na perseguição, cometendo pois um tipo de profanação jurídica que nenhum legislador e nenhum juiz podem tolerar. Na jurisprudência pátria também se encontram exemplos de aplicações concretas do princípio da boa-fé, inclusive, de modo mais específico, da caracterização (e repressão) do venire contra factum proprium em matéria processual. Assim, por exemplo, já decidiu o Tribunal Superior do Trabalho que RECURSO DE REVISTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHAS. DEPOIMENTO ANTERIOR PELO RECLAMANTE. PROVA DA JORNADA. A pretensão do reclamante em produzir prova testemunhal contrariamente ao que ele próprio já afirmara em processo anterior, quando serviu de testemunha em outra reclamação retrata o repudiado venire contra factum proprium. Se o reclamante depôs em outro processo como testemunha, suas declarações foram feitas sob juramento, e a expectativa de boa-fé e verdade sob a qual foi prestado aquele depoimento, repita-se, sob compromisso, não pode agora ser negado para pretender provar outra realidade. Não se pode ter por cerceamento de defesa a decisão do juízo de origem que, diante de tal hipótese, indefere a oitiva de testemunha apresentada pelo reclamante relativa a fato já provado em outro processo. Recurso de Revista de que não se conhece 166 . 166 Ac. RR -783.685/2001.5, 5ª Turma, Ac. unânime. Relator Min. João Batista Brito Pereira. J. 15.12.2004, P. DJ. 18/02/2005. No caso concreto, no entanto, temos fortes dúvidas sobre a adequação da decisão tomada pela Colenda Corte, uma vez que o Acórdão revela que o reclamante, em processo anterior, fora testemunha da empresa reclamada quando ainda era empregado da mesma, e na ocasião declinou jornada de trabalho diferente daquela que indicou na petição inicial da reclamação em que ele mesmo figurava como reclamante. Ora, em se tratando de empregado, havia o estado de subordinação, e a realidade da Justiça do Trabalho mostra que os empregados, em tal situação (quando são testemunhas do empregador), no mais das vezes limitam-se a informar aquilo que lhes foi determinado pela empresa empregadora, ainda que estejam sob o compromisso de dizer a verdade. Entre o medo de ser dispensado e ficar desempregado, em tempos de poucos empregos, e o de ser enquadrado em uma remotíssima hipótese de falso testemunho, o primeiro dos medos fala muito mais alto, e o empregado, subordinado que é, não hesita em cumprir a ordem de falsear a verdade. E parece evidente que se pode apontar que, sendo o primeiro dos comportamentos adotado em virtude de coação (grave ameaça, ainda que implícita, de perda do emprego), não pode servir de parâmetro para, em cotejo com o segundo, caracterizar o venire contra factum proprium. De qualquer modo, pensamos 140 Também na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça são encontráveis decisões referentes ao venire, especificamente em matéria processual. Decidiu aquela Corte Superior que PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTO. JUNTADA. LEI GERAL DAS TELECOMUNICAÇÕES. SIGILO TELEFÔNICO. REGISTRO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. USO AUTORIZADO COMO PROVA. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTO PESSOAL. ATOS POSTERIORES. "VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM". SEGREDO DE JUSTIÇA. ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HIPÓTESES. ROL EXEMPLIFICATIVO. DEFESA DA INTIMIDADE. POSSIBILIDADE. - A juntada de documento contendo o registro de ligações telefônicas de uma das partes, autorizada por essa e com a finalidade de fazer prova de fato contrário alegado por essa, não enseja quebra de sigilo telefônico nem violação do direito à privacidade, sendo ato lícito nos termos do art. 72, § 1.°, da Lei n.º 9.472/97 (Lei Geral das Teleco municações). - Parte que autoriza a juntada, pela parte contrária, de documento contendo informações pessoais suas, não pode depois ingressar com ação pedindo indenização, alegando violação do direito à privacidade pelo fato da juntada do documento. Doutrina dos atos próprios. - O rol das hipóteses de segredo de justiça não é taxativo, sendo autorizado o segredo quando houver a necessidade de defesa da intimidade. Recurso especial conhecido e provido. 167 Interessante aplicação da boa-fé objetiva no processo foi a que surgiu nos tribunais portugueses, na década de 70. Com efeito, nas ações que dissessem respeito ao estado da pessoa, face à relevância dos direitos personalíssimos que estão em jogo, acentuou-se ainda mais o dever de expor os fatos conforme a verdade. Assim, em uma ação de investigação de paternidade, o investigado negou que tivesse mantido relações sexuais com a mãe da autora, sendo que tais relações vieram a ser posteriormente provadas. que a decisão mencionada serve para demonstrar que nossos tribunais não vêem maiores problemas no acolhimento do venire em relação ao processo. 167 REsp 605687/AM; Recurso Especial 2003/0202450-6, 3ª T. Ac. unânime. Relatora Min. Nancy Andrighi, j. 02/06/2005, p. DJ 20.06.2005, p. 273. 141 Entendeu o Supremo Tribunal de Justiça que tal comportamento configurava o procedimento processual como litigância de má-fé168. Mas deve-se tomar cuidado com os exageros, pois é evidente que a boa-fé processual, no que se refere ao dever de expor os fatos conforme a verdade, encontra certos limites que são, ao nosso ver, intransponíveis. Assim, por exemplo, suponha-se que em uma ação de anulação do casamento fundada em erro essencial sobre a pessoa do cônjuge, a esposa impute ao marido a autoria de um grave crime, anterior ao casamento, ou a opção homossexual. Parece evidente que não se poderá exigir que o marido, em tal caso, venha a confessar fato de seu passado (ou mesmo de seu presente) que lhe traz grande vergonha e constrangimento ou que poderá expô-lo a inevitáveis preconceitos e discriminações. O mesmo se poderia apontar em relação à ação de separação litigiosa, fundada no adultério do cônjuge, e que foi por este negado, mas que veio depois a ser provado sem que remanesça qualquer dúvida. Ou ainda quando a ação tenha por suporte o fato de que o cônjuge trabalhava, antes do casamento, como garoto ou garota de programa. Parece evidente que não se poderá pretender punir por má-fé o cônjuge que optou por tentar esconder o seu próprio comportamento socialmente reprovável. Neste ponto, como uma última observação acerca da aplicação do princípio da boa-fé na seara processual, não se pode deixar de observar a existência de uma clara diferença, no que se refere à aplicação da boa-fé quanto às relações de direito material. É que nestas, como veremos adiante (veja-se o item 2.3.1), em geral predomina a idéia de proteção à boa-fé de um dos sujeitos, e não de punição à má-fé do outro. No campo processual, ao 168 249. Supremo Tribunal de Justiça, 01.02.1974, Boletim do Ministério da Justiça, nº 234 (1974), pp. 246- 142 contrário, como vimos acima, a idéia principal é a de punição à parte que atua no processo de modo malicioso, ou seja, o enfoque se dá na repressão à má-fé, e não na proteção à boa-fé. Em continuação, veremos agora que a boa-fé também pode ser estendida, além do campo processual, para as relações mantidas pela Administração Pública com os particulares, apesar do que possa parecer ao primeiro exame, que aponta para a aparente restrição da boa-fé, enquanto norma de conduta, à seara do direito privado. Com efeito, como já mencionamos reiteradas vezes, o princípio da boa-fé encontrou seu campo de desenvolvimento e de aplicação no direito privado, principalmente no direito obrigacional, com larga aplicação em relação aos contratos, como veremos logo adiante, em mais detalhes (veja-se, adiante, o item 1.8). Além disso, pode-se ainda apontar que o princípio da boa-fé atua de modo supletivo, ou seja, nos casos onde a lei é lacunosa, mas não cabe sua invocação como parâmetro de conduta nas situações nas quais a própria lei já indica expressamente tal parâmetro (mas desde que essa norma legal não entre em choque com o princípio, pois se tal choque se der a lei deverá ser afastada, prevalecendo o princípio – veja-se, adiante, o item 2.3.2.1.c, onde essa questão é examinada em detalhes). Desse modo, levando-se em conta que a origem do princípio está ligada exclusivamente ao direito privado, e que no campo do direito público, em tese, não há espaço para lacunas, uma vez que ao administrador público só é permitido fazer aquilo que a lei expressamente admite, poderia parecer, em um primeiro e perfunctório exame, que o princípio da boa-fé não encontra aplicação na seara do direito público. No entanto, ao contrário de tal conclusão, hoje é pacífica a aceitação da idéia de que se aplica o princípio da boa-fé, também, nas relações 143 de direito público 169, estando o princípio da boa-fé contido no princípio da moralidade administrativa. E as razões dessa extensão podem ser percebidas sem grandes dificuldades. É que, se ao particular se exige um comportamento conforme os ditames da boa-fé, de modo que os sujeitos partícipes de uma relação jurídica não possam, cada um, quebrar a confiança que fez surgir no espírito do outro, com muito mais razão não se poderá admitir que a Administração Pública, nas suas relações com os cidadãos administrados, possa criar situações em cuja seriedade esses mesmos cidadãos confiaram, para posteriormente agir de modo contraditório, voltando atrás e desfazendo o que antes fizera, quebrando a confiança gerada nos súditos. Admitir essa possibilidade, a toda evidência, violaria o princípio da moralidade administrativa, que se encontra insculpido expressamente no artigo 37, da Constituição Federal. Deve a Administração Pública, portanto, atender aos ditames de uma conduta conforme os parâmetros estabelecidos pela boa-fé, com o cabimento da aplicação dos diversos institutos que da boa-fé decorrem, interessando-nos em particular o venire contra factum proprium, que não permite à Administração Pública voltar sobre seus próprios passos, atuando de modo contraditório, em relação à sua atuação anterior, e desfazendo o que antes fizera, gerando incertezas capazes de tumultuar a vida social. Nesse mesmo sentido acima mencionado é a posição de Karl Larenz 170, destacando o respeitado jurista alemão a importância de que seja 169 Nesse sentido, aponta Delia Rubio que “El principio general de la buena fé opera – com las adaptaciones del caso – em todas las ramas del ordenamiento. No se trata de um principio exclusivo del Derecho Civil, em sentido estrito;... la aplicabilidad del principio de buena fe em las relaciones de la Administración com los administrados”. Delia Matilde Ferreira Rubio, La Buena Fe: el principio general em el derecho civil , p. 140. 170 Karl Larenz, Derecho de obligaciones, v. I, p. 144. Literalmente, diz o mestre alemão que: “La salvaguardia de la buena fe y el mantenimiento de la confianza forman la base del tráfico jurídico y en particular de toda la vinculación jurídica individual. Por esto, el principio no puede limitarse a las 144 mantida a boa-fé e preservada a confiança, elementos que se apresentam como basilares em toda relação jurídica individual, e que por tal razão não podem ser confinadas unicamente às relações obrigacionais, também alcançando o direito processual e o direito público. Na doutrina pátria, ao discorrer sobre o princípio da moralidade, ensina Sylvia di Pietro 171 que “não é preciso penetrar na intenção do agente, porque do próprio objeto resulta a imoralidade. Isto ocorre quando o conteúdo de determinado ato contrariar o senso comum de honestidade, retidão, equilíbrio, justiça, respeito à dignidade do ser humano, à boa-fé, ao trabalho, à ética das instituições”. Como se vê, sustenta a respeitada autora que haverá imoralidade administrativa sempre que for ultrapassado, dentre outros limites, aquele que é imposto pela boa-fé, sendo que tais limites devem ser aferidos de modo objetivo, ou seja, sem que sejam necessárias investigações acerca da intenção do agente. Boa-fé como regra de conduta, objetiva, portanto. No mesmo sentido a sempre respeitada lição de Celso Antônio Bandeira de Mello 172, que ao tratar do mesmo princípio esclarece que “compreendem-se em seu âmbito, como é evidente, os chamados princípios da lealdade e boa-fé”. Tratando especificamente da proibição do venire contra factum proprium em relação à atuação da Administração Pública, aponta Egon Bockmann Moreira 173 que “do princípio da boa-fé objetiva deriva, quando menos, o seguinte: a)...; b) proibição do venire contra factum proprium (conduta contraditória, dissonante do anteriormente assumido, ao qual se havia adaptado a outra parte e que tinha gerado legítimas expectativas”. relaciones obligatorias, sino que es aplicable siempre que exista una especial vinculación jurídica, y en este sentido puede concurrir, por tanto, en el Derecho de cosas, en el Derecho procesal y en el Derecho público”. 171 Maria Sylvia Zanella di Pietro, Discricionariedade administrativa na Constituição de 1988, p. 111. 172 Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso de Direito Administrativo, p. 89. 173 Egon Bockmann Moreira, Processo Administrativo, p. 91. 145 Juarez Freitas 174 examina a questão sob a ótica do conflito entre princípios superiores, mais especificamente entre o princípio da legalidade estrita e o da confiança, figurando situação na qual a aplicação da legalidade estrita estaria a indicar a anulação do ato administrativo, mas a tal solução se contrapõe a confiança de um administrado de boa-fé. E esclarece o ilustre Professor do Rio Grande do Sul que, não raro, o princípio da legalidade estrita deve ceder, colocando-se limites à anulação dos atos administrativos, em virtude da preponderância tópica (ou seja, examinada sob a visão problemática do caso concreto) do princípio da confiança, que está a recomendar a estabilidade do ato administrativo. Nos tribunais estrangeiros é pacífica a aceitação da idéia de que também a Administração Pública, em sua atuação, deve pautar sua conduta segundo os ditames do princípio da boa-fé. Em decisão de 1991, conforme noticia Béatrice Jaluzot 175, a 3ª Câmara Civil da Corte de Cassação, na França, expressamente reconheceu essa aplicação do princípio aos atos da Administração Pública. No caso em questão, uma empresa de distribuição adquiriu um terreno, com o objetivo de nele instalar um supermercado. Treze anos depois, contudo, em virtude das restrições administrativas que proibiam a construção no imóvel em questão, a construção ainda não havia sido erguida, e a empresa resolveu vender o terreno para o próprio município. Quatro meses depois de adquirir o terreno, no entanto, a Administração Municipal reforma as normas administrativas e passa a ser permitida a construção no mesmo. O terreno, então, é revendido a uma outra empresa de distribuição, por preço quatro vezes superior ao que havia sido pago pelo Município. 174 Juarez Freitas, A interpretação sistemática do direito, p. 246. Béatrice Jaluzot, La bonne foi dans les contrats: Étude comparative de droit français, allemand et japonais, p. 341, n° 1211. 175 146 Reformando a decisão tomada pela instância anterior, entendeu a Corte de Cassação que o Município, ao negociar a aquisição do imóvel ao mesmo tempo em que já estava em negociações com um eventual comprador para o mesmo, e por outro lado omitindo do alienante que já estava em andamento um projeto para a reforma das normas administrativas, que permitiriam que a construção viesse a ser erguida no terreno, o que, por óbvio, iria valorizá-lo de modo acentuado, não se comportou com a boa-fé que seria exigível, devendo pois responder por isso. Também a jurisprudência pátria reconhece, com tranqüilidade, a aplicabilidade do princípio da boa-fé à atuação da Administração Pública, inclusive com expressa menção à proibição do venire contra factum proprium, como se vê, por exemplo, no Recurso Especial n° 47.015/SP, que tratava de hipótese de desapropriação indireta, na qual a fazenda pública havia apontado a irregularidade – e conseqüente nulidade – no título de propriedade exibido pelo autor da ação, título esse que havia sido emitido por ela mesma, de modo irregular, o que havia sido rejeitado pela instância inferior, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Da ementa, na parte que interessa ao presente trabalho, assim consta: Administrativo e processual civil. Titulo de propriedade outorgado pelo poder público, através de funcionário de alto escalão. Alegação de nulidade pela própria administração, objetivando prejudicar o adquirente: inadmissibilidade... I- se o suposto equivoco no titulo de propriedade foi causado pela própria administração, através de funcionário de alto escalão, não ha que se alegar o vicio com o escopo de prejudicar aquele que, de boafé, pagou o preço estipulado para fins de aquisição. Aplicação dos princípios de que "nemo potest venire contra factum proprium" e de que "nemo creditur turpitudinem suam allegans". 176 176 STJ, 2ª Turma, REsp 47.015/SP, Rel. Min. Adhemar Maciel, Ac. maioria, j. 16.10.1997, p. DJ 09.12.1997, p. 64655. 147 No voto do Ministro Adhemar Maciel, relator, lê-se que “o TJSP aplicou – a meu ver, acertadamente – o princípio de que nemo potest venire contra factum proprium (“ninguém pode se opor a fato a que ele próprio deu causa”)... Realmente, não pode a FAZENDA PÚBLICA, décadas após a venda do imóvel realizada por funcionário de alto escalão em nome da Administração, vir a juízo pleitear a nulidade dos títulos. Ora, se há mácula no título, essa foi causada pelo próprio poder público, o qual não pode invocar o suposto equívoco do seu secretário de Estado, para prejudicar aquele que legitimamente adquiriu a propriedade, pagando para tanto. Em suma, Senhor Presidente, se o suposto equívoco no título de propriedade foi causado pela própria Administração, não há que se alegar o vício com o escopo de prejudicar aquele que, de boa-fé, pagou o preço estipulado para fins de aquisição.” Ainda na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, também no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança 1995/0044476-3 a Corte Superior afirmou expressamente que não se pode permitir à Administração Pública que, depois de criar justa expectativa nos cidadãos, mediante a assunção de compromisso público, possa simplesmente voltar atrás, frustrando as justas expectativas criadas. Tratava-se de hipótese na qual o Governo Federal, por meio do Ministro da Fazenda, comprometeu-se publicamente a suspender, por noventa dias, as execuções de créditos do Banco do Brasil, desde que o devedor se dispusesse a um acerto de contas com o banco credor. Posteriormente, no entanto, o Banco do Brasil e o Governo Federal pretenderam alegar que o compromisso não era apto a gerar vinculação, sendo tão-somente uma manifestação de intenção das autoridades públicas, de caráter genérico e normativo. No Superior Tribunal de Justiça, embora tenha sido ao final denegada a segurança (mas apenas porque já havia transcorrido prazo superior aos noventa dias da prometida suspensão), foi expressamente adotada a tese de 148 que também à Administração Pública se proíbe o venire contra factum proprium, ou seja, os comportamentos contraditórios, de modo tal que o segundo comportamento frustra a justa expectativa que havia sido gerada em virtude do primeiro, violando a conduta imposta pela boa-fé (objetiva). A decisão recebeu a seguinte ementa: Memorando de entendimento. Boa- fé. Suspensão do processo. O compromisso público assumido pelo Ministro da Fazenda, através de ‘memorando de entendimento’, para suspensão da execução judicial de dívida bancária de devedor que se apresentasse para acerto de contas, gera no mutuário a justa expectativa de que essa suspensão ocorrera, preenchida a condição. Direito de obter a suspensão fundado no principio da boa-fé objetiva, que privilegia o respeito a lealdade. Deferimento da liminar, que garantiu a suspensão pleiteada. Recurso improvido. 177 No voto do Ministro Ruy Rosado de Aguiar, relator, lê-se que: “ O compromisso público assumido pelo Governo, através do seu Ministro da Fazenda, o condutor da política financeira do país, e com a assistência dos estabelecimentos de crédito diretamente envolvidos, presume-se tenha sido celebrado para ser cumprido. Se ali ficou estipulado que as execuções de créditos do Banco do Brasil seriam suspensas por noventa dias, desde que o devedor se dispusesse a um acerto de contas, é razoável pensar que esse seria o comportamento futuro do credor, pelo simples respeito à palavra empenhada em documento público, levado ao conhecimento da Nação.” “ No direito civil, desde os estudos de Ihering, admite-se que do comportamento adotado pela parte, antes de celebrado o contrato, pode decorrer efeito obrigacional, gerando a responsabilidade pré-contratual. O princípio geral da boa- fé veio realçar e deu suporte jurídico a esse entendimento, pois as relações humanas devem pautar-se pelo respeito à lealdade.” “ O que vale para a autonomia privada vale ainda mais para a administração pública e para a direção das empresas cujo capital é predominante público, nas suas relações com os cidadãos. É inconcebível que um Estado democrático, que aspire a realizar a justiça, esteja fundado no princípio de que o compromisso público assumido pelos seus governantes 177 STJ, 4ª Turma, RMS 6.183/MG, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, Ac. unânime, j. 14.11.1995, p. DJ 18.12.1995, p. 44573. 149 não tem valor, não tem significado, não tem eficácia. Especialmente quando a Constituição da República consagra o princípio da moralidade administrativa.” “ Tenho que o ‘Memorando de Entendimento’, embora não seja uma lei, nem mesmo possa ser definido como contrato celebrado diretamente entre as partes interessadas, criou no devedor a justa expectativa de que, comparecendo ao estabelecimento oficial de crédito a fim de fazer o acerto de contas, teria o prazo de suspensão de 90 dias, para o encontro de uma solução extrajudicial. Havia, portanto, o direito do executado de obter a suspensão do processo de execução, demonstrando ter se apresentado para o acerto de contas. Não se trata de hipótese legal de suspensão, mas de obrigação publicamente assumida pela parte de que teria aquela conduta, cumprindo ao juiz lhe dar eficácia.” Desde logo se observa, em relação à decisão supratranscrita, que ainda não havia um contrato aperfeiçoado entre as partes, mas tão-somente um comportamento adotado pelo credor e que, embora não atendesse aos requisitos para que pudesse ser considerado um contrato, já foi suficiente para gerar na outra parte (o devedor) a justa expectativa de que o segundo comportamento seria o de suspender a execução, o que não foi feito, frustrando a expectativa e desatendendo ao dever de lealdade, derivado da boa-fé. Aliás, parece-nos que cabe pequeno reparo ao teor do Acórdão, pois do mesmo consta que havia a “obrigação” de suspender a execução. Ora, se de obrigação se tratasse não haveria a necessidade de se recorrer ao instituto da boa-fé, sendo suficiente que se valesse o julgador das normas referentes ao cumprimento das obrigações. A questão será examinada em detalhes, mais à frente, no item 2.3.2.1, c. Ainda dentre as decisões do Superior Tribunal de Justiça que expressamente determinam a observância, pela Administração Pública, do princípio da boa-fé enquanto norma de conduta, vale destacar o que consta do Recurso Especial 141879/SP. Tratou-se de situação na qual um Município 150 celebrou contratos de promessa de compra e venda, referentes a lotes integrantes de uma gleba de sua propriedade. Posteriormente, no entanto, o próprio Município decidiu promover a anulação judicial dos contratos de promessa, ao argumento de que o parcelamento não estava regularizado, por faltar-lhe o devido registro. A ementa foi publicada nos seguintes termos: Loteamento. Município. Pretensão de anulação do contrato. Boa- fé. Atos próprios. - Tendo o Município celebrado contrato de promessa de compra e venda de lote localizado em imóvel de sua propriedade, descabe o pedido de anulação dos atos, se possível a regularização do loteamento que ele mesmo está promovendo. Art. 40 da lei 6.766/79. - A teoria dos atos próprios impede que a administração publica retorne sobre os próprios passos, prejudicando os terceiros que confiaram na regularidade de seu procedimento. Recurso não conhecido. 178 E no voto do Ministro Ruy Rosado de Aguiar lê-se expressamente que “o princípio da boa-fé deve ser atendido também pela administração pública, e até com mais razão por ela, e o seu comportamento nas relações com os cidadãos pode ser controlado pela teoria dos atos próprios, que não lhe permite voltar sobre os próprios passos depois de estabelecer relações em cuja seriedade os cidadãos confiaram”. Situação que, no Brasil, vem se repetindo com enorme freqüência, é a da contratação de trabalhadores, pela Administração Pública, sem o necessário concurso público, em burla à vedação que se encontra expressa no artigo 37, II, da Constituição Federal de 1988. Posteriormente, após a dispensa do trabalhador sem que este nada tenha recebido, e confrontada com o pedido judicial de verbas trabalhistas, a Administração Pública alega que as mesmas não são devidas, pois a contratação sem concurso é nula e por isso não pode gerar efeitos jurídicos. 178 STJ, 4ª Turma, REsp 141.879/SP, Rel. Ruy Rosado de Aguiar, Ac. unânime, j. 17.03.1998, p. DJ 22.06.1998, p. 90. 151 Como se vê, em tais casos, a Administração Pública procede ao arrepio da lei, contratando sem concurso, e mais tarde pretende alegar que a contratação sem tal requisito não pode servir como fonte de produção de efeitos jurídicos, em virtude da nulidade absoluta do contrato. Os tribunais superiores pátrios, tanto o Tribunal Superior do Trabalho quanto o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, têm repelido com firmeza, ainda que com uma certa timidez, essa linha de argumentação, que no fundo acaba por se configurar em venire contra factum proprium 179. Com efeito, como se vê na Súmula 363, do Tribunal Superior do Trabalho, a contratação de trabalhadores sem concurso público, por parte da administração publica, vai sempre gerar efeitos jurídicos, consistentes no pagamento dos salários dos dias efetivamente trabalhados e no recolhimento do FGTS sobre tais salários. Tais efeitos reconhecidos, ao que nos parece, ainda são muito poucos, e outros mais poderiam sê-lo, como por exemplo a anotação da Carteira de Trabalho e o pagamento de parcelas como as férias e o 13º salário, e por essa razão foi que dissemos, no parágrafo anterior, que há uma certa timidez no posicionamento dos tribunais superiores pátrios. Contudo, não se pode deixar de observar que já se tem aí uma obrigação de comportamento coerente, imposta à Administração Pública, da qual não se admite que atue de modo ilegal para, ao depois, alegar a própria ilegalidade como causa de afastamento de todos os efeitos do ato. E há, por último, um aspecto importantíssimo, no que se refere à necessidade da Administração Pública se comportar de boa-fé, não atuando de modo contraditório, ou seja, não “voltando sobre seus próprios passos”. É que 179 Na realidade, essa mesma situação também poderá ser caracterizada como tu quoque , como melhor abordaremos mais à frente, no item 2.3.2.1.c.1. 152 o comportamento abusivamente contraditório da Administração Pública, ao contrário do que ocorre em relação ao comportamento do particular, pode se dar sem que isso necessariamente ocorra dentro de uma mesma relação jurídica. Expliquemos melhor. Quando se analisa o comportamento de um particular, para que se possa avaliar se esse comportamento ofende a boa-fé, por se mostrar contraditório com uma conduta anterior, essa análise é feita dentro de um mesmo negócio jurídico (ou, pelo menos, dentro de um conjunto de negócios que se desenvolveram entre as mesmas pessoas), dentro do qual um primeiro comportamento de um dos sujeitos gerou no outro a expectativa legítima acerca de como poderia ser um segundo. Assim, por exemplo, examinam-se os comportamentos anterior e posterior de um prestador de serviços, no mesmo contrato de prestação de serviços, para que se possa aferir a eventual existência de contradição. Em relação à Administração Pública, no entanto, outra é a situação. É que a Administração, por evidente, adota políticas impessoais, que direcionam as vidas dos seus súditos, ainda que com estes não seja mantida qualquer negociação direta. Ou seja, a Administração Pública adota certas linhas de conduta, ou determinados pontos de vista jurídicos, e a partir desses atos, os administrados programam os seus próprios negócios, suas próprias atuações. Logo, a mudança súbita da linha diretriz seguida por essa mesma Administração, poderá surpreender negativamente o súdito, causando-lhe prejuízos de grande monta. 153 Nesse mesmo sentido a lição de Béatrice Jaluzot180, para quem, dentro de certas condições, um comportamento desleal pode decorrer da adoção de um ponto de vista jurídico que se mostra em contradição insolúvel com um comportamento anterior do sujeito. Isso não implica necessariamente, prossegue a autora, que os comportamentos anterior e atual, que se mostram contraditórios, tenham sido adotados em uma mesma relação obrigacional, ou que a confiança de um dos contratantes, que se mostre digna de ser protegida, seja constituída pelo comportamento precedente. Em outras – e, pensamos, mais claras – palavras, a confiança pode ser gerada a partir da simples adoção de uma posição política ou jurídica, e não necessariamente a partir da prática de um determinado ato. Entre nós, além de inúmeras situações concretas que poderiam servir como exemplo, pode-se apontar a hipótese da adoção, com ampla divulgação na mídia, pelo Goferno Federal, da política de incentivo à produção de um determinado tipo de produto agrícola. Os produtores rurais, induzidos por tal política governamental, investem maciçamente na referida produção. Em seguida, no entanto, o Governo Federal entende que não é mais conveniente aquele tipo de produto, pois houve uma supersafra, e simplesmente abandona os produtores à própria sorte, não cuidando sequer de providenciar os meios necessários ao escoamento da produção, como por 180 Béatrice Jaluzot, La bonne foi dans les contrats: Étude comparative de droit français, allemand et japonais, p. 90, n° 329. E a ilustre autora francesa exemplifica narrando situação enfrentada pelo poder judiciário alemão, após a reunificação da Alemanha. Na Alemanha Oriental havia uma empresa estatal que, obrigatoriamente, tinha que funcionar como intermediária em todos os contratos celebrados entre empresa da Alemanha Oriental com empresa da Alemanha Ocidental, mediante o pagamento de uma taxa. Após a reunificação, essa empresa estatal, intermediária obrigatória, foi dissolvida, e foi sucedida pelo Estado Federal quanto aos créditos referentes às taxas pelas intermediações que já haviam sido feitas, e o Estado sucessor pretendeu cobrar judicialmente a dívida de uma empresa. A Corte Federal Alemã, no entanto, entendeu que havia, ali, um comportamento contraditório por parte do Estado Federal, uma vez que este pretendia se valer de um contrato forçado, originário de uma economia comunista, quando ele mesmo era um Estado que se apoiava em um sistema de economia de mercado, e no qual a liberdade contratual se apresentava como uma das garantias fundamentais. A contradição estaria no fato de que um Estado com economia de mercado pretendesse se beneficiar das regras de uma economia comunista. 154 exemplo a existência de um meio de transporte adequado ou um porto marítimo. Trata-se, a toda evidência, de hipótese clara de caracterização do venire. 1.8. A responsabilidade pré e pós-contratual e a complexidade das obrigações. Tema que encontra forte ligação com a boa-fé objetiva, é o que se refere ao exame das obrigações como um processo, ou seja, como uma relação complexa, formada por deveres acessórios, que acompanham as prestações principais das partes e que destas são independentes, mas que sempre caminham com a finalidade de buscar o adimplemento da obrigação 181, por isso que já se disse que o cumprimento da obrigação é a regra, e o inadimplemento se constitui na “parte patológica do direito obrigacional” 182. É que o desenvolvimento desse processo é que requer a cooperação e a lealdade recíproca entre as partes, para que ambos caminhem em direção à finalidade comum do negócio, e por isso requer que ambos se comportem segundo a boa-fé. Esse tema, como veremos em seguida, começou a ser estudado como decorrência dos estudos sobre a chamada responsabilidade précontratual. A questão da responsabilidade pré-contratual veio a ser examinada, pela primeira vez, na Alemanha, por Rudolf Von Jhering 183, com a 181 Entre nós, o primeiro a fazer tal afirmação foi Clóvis do Couto e Silva, A obrigação como um processo, pp. 5-6. Ensina o mestre, logo na introdução de sua obra, que é “o adimplemento [da prestação] atrai e polariza a obrigação. É o seu fim. O tratamento teleológico permeia toda a obra, e lhe dá unidade... Como totalidade, a relação obrigacional é um sistema de processos”. 182 Agostinho Alvim, Da inexecução das obrigações e suas conseqüências, p. 3. 183 Cf. Antônio Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro, Da boa-fé no Direito Civil, p. 528. No mesmo sentido, Mário Júlio de Almeida Costa, Direito das Obrigações, p. 272. E este último esclarece, na mesma obra e local citados, que os estudos de Jhering tinham por objeto a consideração da boa-fé dos contraentes a 155 denominação de culpa in contrahendo. Jhering baseou seu exame em um contrato de compra e venda à luz do direito romano, detendo-se especialmente na situação em que o contrato apresentasse um vício que o tornasse nulo, sendo tal vício desconhecido do comprador. Este, em tal caso, poderia ajuizar ação para exigir a conclusão de um contrato válido ou, ao contrário, poderia apenas buscar o ressarcimento dos danos referentes aos gastos que teve com a preparação do contrato e com a sua não conclusão 184. Em tal situação, o vendedor responderia pelos danos não em virtude do contrato ser nulo, uma vez que a nulidade decorre diretamente da aplicação da norma legal, mas sim do fato de que deveria ter conhecimento do respeito da celebração de um negócio nulo ou anulável, mas que os horizontes da responsabilidade prénegocial se expandiram cada vez mais, até englobarem em seu conceito também as hipóteses de negócio válido e eficaz, mas que no processo de formação haviam surgido danos a serem reparados, e ainda as situações nas quais não se tinha celebrado negócio algum, em virtude de ruptura da fase negociatória ou decisória. 184 Indaga Josserand, analisando a questão referente ao direito de não contratar, ou seja, o direito de se recusar a dar ao negócio a conclusão que a outra parte deseja, se tal direito é suscetível de abuso. Em princípio, prossegue, a resposta é negativa, pois o contrato é definido como o livre acordo entre duas vontades, e a idéia de contrato obrigatório seria um monstro jurídico, uma contradictio in adjeto. No entanto, informa Josserand que há casos em que essa recusa pode se mostrar abusiva ou, até mais do que isso, pode mesmo se mostrar ilegal, intrinsecamente ilícita. Isso poderia acontecer, por exemplo, em relação àqueles que exercem suas atividades por autorização ou delegação do poder público e sob o controle deste. Tais pessoas não podem pretender escolher seus clientes ou negar seus serviços a quem os solicitar, de modo arbitrário. Seria o caso dos notários, operadores de câmbio, instituições financeiras, etc. Da mesma forma, as empresas que exercem um monopólio de direito ou de fato não têm a faculdade de escolher seus clientes, como ocorre com as estradas de ferro, com as empresas de ônibus ou de transporte aéreo. Refere-se o mestre, ainda, ao caso de teatros e cassinos (em geral, casas de diversão abertas ao público), que não têm o direito absoluto de recusar a entrada, em seu estabelecimento, de quem bem entenderem. Essa hipótese de vedação arbitrária do ingresso está se tornando cada vez mais comuns em danceterias (ou estabelecimentos semelhantes) das grandes cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro, onde a entrada de clientes pode ser permitida ou negada de modo absolutamente arbitrário, conforme a boa ou má-vontade de um todo-poderoso porteiro do estabelecimento. Josserand cita antiga decisão da Corte de Cassação (nota 3, p. 128), de fevereiro de 1896, em hipótese na qual o Cassino de Nice pretendia se valer do “direito absoluto e sem controle” de recusar a entrada de quem bem entendesse. A Corte entendeu que tal pretensão era infundada, não podendo ser invocadas as regras sobre a liberdade de comércio ou da indústria para barrar o acesso ao cassino sem qualquer razão plausível, apenas por capricho ou rancor. Não é demais lembrar que no nosso Código Civil, especificamente no artigo 429, foi disciplinada a questão da oferta ao público, que equivale à proposta de contratar. Logo, se uma casa de diversão divulga seus eventos para o público em geral, tem-se aí uma situação equivalente a uma proposta de contrato, e esse estabelecimento estará obrigada a mantê-la para quem quer que concorde com os termos em que foi feita. Ademais, não custa lembrar que a discriminação pura e simples entre os “candidatos a freqüentadores” viola, mais do que o princípio da isonomia, o princípio basilar da dignidade humana, sendo por isso, ao nosso ver, inaceitável. Cf. Louis Josserand, L’Esprit des Droits et de leur Reativité – Théorie dite de l’Abus des Droits, pp. 126-129. 156 vício capaz de gerar a nulidade e tomar as providências capazes de evitá-la. O problema que se constitui no principal foco da investigação de Jhering, no entanto, surge no momento em que se procura determinar a natureza jurídica dessa responsabilidade do vendedor, ou seja, seria contratual ou aquiliana? Em uma primeira análise, como não houve qualquer contrato válido entre as partes, parece que essa responsabilidade do vendedor só poderia ser aquiliana, ou seja, extracontratual. Jhering, no entanto, sustentou que os danos do comprador só se concretizaram em virtude de uma declaração de vontade que tinha o escopo específico de fazer surgir um contrato, e por isso a responsabilidade do vendedor, no direito romano, deveria ser considerada como contratual185. 185 Doutrinadores mais modernos, contudo, apontam que a proximidade, o contato entre os sujeitos, já é capaz de gerar a relação contratual de fato, da qual decorre um liame obrigacional entre os sujeitos, capaz de gerar os mesmos efeitos jurídicos do contrato. Mário Júlio de Almeida Costa, por exemplo, assinala que, em certos casos, ligados aos bens e serviços massificados, o comportamento de uma pessoa, pelo seu significado social típico, ainda que não apresente os requisitos jurídicos para a configuração de um contrato (por não restar atendida a forma ou por não ter havido uma declaração de vontade, por exemplo), pode ser caracterizado como uma relação contratual de fato (ou, como preferem alguns, um comportamento social típico, denominação que tem a vantagem de deixar claro que não depende de uma declaração da vontade, como ocorre com os contratos) capaz de gerar as mesmas conseqüências jurídicas de um contrato, mas que com este não se confunde. Assim, prossegue o autor português, “decorre da doutrina exposta que a autonomia privada se realiza através de duas formas típicas: uma delas é o negócio jurídico, designadamente o contrato – no qual a aparência de vontade e as expectativas criadas podem ceder diante da falta de consciência de declaração ou incapacidade do declarante; a outra reporta-se às relações contratuais fáticas – onde a irrelevância do erro na declaração e das incapacidades se justifica por exigências de segurança, de celeridade e demais condicionalismos do tráfico jurídico”. Cf. Mário Júlio de Almeida Costa, Direito das Obrigações, p. 203. Essa doutrina dos “comportamentos sociais típicos” foi invocada pelo Superior Tribunal de Justiça, em situação na qual se discutia a responsabilidade de um estabelecimento bancário, em virtude do furto do veículo de um cliente, em área disponibilizada para o atendimento à clientela. O STJ esclareceu, no Acórdão, que não se tratava de contrato de depósito, havido entre o cliente e o banco, mas que ainda assim uma vinculação obrigacional entre ambos, decorrente da simples existência da “conduta socialmente típica”, e que em virtude desta incumbiria ao “estabelecimento fornecedor do serviço e do local de estacionamento o dever, derivado da boa -fé, de proteger a pessoa e os bens do usuário”. Esclareceu, ainda, aquela Corte Superior, que “não há cuidar de contrato de depósito, simplesmente porque não existe contrato de depósito. Há apenas o descumprimento do dever de proteção, que deriva da boa-fé, dever secundário independente. No âmbito da responsabilidade civil, seria dispensável estabelecer a distinção entre a responsabilidade contratual ou extracontratual, pois ambas encontram sua fonte no ‘contato social’”. STJ, 4ª Turma, AgRg no Ag 47.901/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 12.09.1994, DJ 31.10.1994, p. 29505. Veja -se que, como bem elucidou o referido Acórdão, para efeitos práticos mostra-se irrelevante perquirir se houve ou não o contrato, vale dizer, se a responsabilidade é contratual ou aquiliana, pois de qualquer modo é certo que haverá o dever de reparar os danos sofridos. 157 A partir de tal análise, Jhering conclui que ainda que um contrato seja nulo, dele poderão decorrer conseqüências jurídicas, e que tal acontece porque em um contrato, se por um lado é certo que o objetivo principal é no sentido de que sejam cumpridas as prestações principais (no caso da compra e venda, a entrega da coisa, pelo vendedor, e o pagamento do preço, pelo comprador), por outro lado também existem alguns objetivos acessórios, como, por exemplo, a devolução das arras que já foram entregues, e mesmo no caso em que não devam ser cumpridas as prestações principais, em virtude da nulidade do contrato, ainda assim sobrevive a necessidade de cumprimento dos elementos acessórios. Tomando essa constatação como ponto de partida, pode-se observar que em uma relação obrigacional existem as prestações principais, a serem cumpridas pelos sujeitos envolvidos, e que sem sombra de dúvida se constituem no principal elemento da obrigação. No entanto, ao lado dessas prestações principais, existem vários outros deveres laterais, ou acessórios, e que também devem ser observados e cumpridos pelos sujeitos da relação obrigacional186, que deverão observar determinadas condutas. Em outras 186 As obrigações acessórias são uma criação jurisprudencial comum aos sistemas jurídicos francês e alemão, e são fundamentais para o estudo das obrigações com suporte no princípio da boa-fé, tendo influenciado consideravelmente o direito dos contratos contemporâneo. Cf. Béatrice Jaluzot, La bonne foi dans les contrats: Étude comparative de droit français, allemand et japonais, p. 511, n° 1750. E esclarece a autora, ainda, na mesma obra (p. 510, n° 1752), que a denominação usada é diversificada, falando-se em “obrigações acessórias”, “obrigações secundárias”, “obrigações de comportamento”, “obrigações fundadas na boa-fé”, etc. Na realidade, encontra-se na doutrina quem sustente a diferenciação em virtude da adjetivação dos diversos deveres: os deveres secundários seriam aqueles que complementam a prestação principal, como por exemplo o dever do vendedor de entregar a coisa em perfeito estado de funcionamento; os deveres acessórios, por sua vez, seriam aqueles ligados à conduta do sujeito, e não à prestação, tais como o dever de informação, o de proteção, etc. Nesse sentido, por exemplo, a lição de Rogério Ferraz Donnini, Responsabilidade Pós-Contratual no Novo Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor, p. 40. Outra divisão, ainda, pode ser encontrada em Laerte Sampaio, que os separa em deveres principais e secundários, sendo estes últimos subdivididos, ainda, em secundários acessórios da prestação principal e secundários com prestação autônoma, e acrescenta, ainda, os deveres laterais, sendo nestes últimos que se enquadrariam os decorrentes da boa-fé. Cf. Laerte Marrone de Castro Sampaio, A boa-fé objetiva na relação contratual, pp. 54-55. Neste trabalho, no entanto, usamos as expressões “deveres laterais”, “deveres acessórios”, deveres secundários”, etc., como se fossem sinônimas, sem maiores preocupações com a distinções entre elas, mesmo porque pensamos que tal distinção é artificial e cerebrina, sem maiores interesses práticos. Com efeito, se 158 palavras, o que se observa é que “o contrato não envolve só a obrigação de prestar, mas envolve também uma obrigação de conduta” 187. É que a obrigação não pode, a toda evidência, ser resumida exclusivamente ao cumprimento das prestações centrais, eis que tal cumprimento requer uma série de medidas complementares, que servirão para possibilitá-lo. Assim, esses deveres laterais não estão diretamente ligados ao cumprimento das prestações principais (pelo menos os que nos interessam no presente estudo), vale dizer, não se confundem com estas, mas funcionam como elemento de apoio para que as partes envolvidas na obrigação possam se desincumbir a contento de suas respectivas obrigações principais. De modo mais claro, pode-se dizer que os deveres acessórios servem, dentre outras coisas, para possibilitar que um contrato venha a ser celebrado, por exemplo, pois neles está englobado o dever de esclarecimento sobre todas as circunstâncias relevantes, que digam respeito a tal contrato. Ou seja, antes de celebrar o contrato, e mesmo para decidir se irá ou não celebrálo, cada um dos possíveis contratantes deverá receber do outro todas as informações e esclarecimentos que se façam necessários, pois só de posse de tais dados é que poderá manifestar sua vontade de modo a que esteja isenta de qualquer vício, pois sempre lhe caberá a opção de não contratar, caso não concorde com as circunstâncias que já lhe foram previamente esclarecidas. Se optar por contratar, uma vez celebrada a avença, os deveres acessórios funcionarão como balizamento para o comportamento dos contratantes, pois tal comportamento deverá ser orientado, em todos os entre as partes há o dever de cooperação recíproca, como decorrência da boa-fé, então parece-nos que pouco importa, para fins práticos (em relação ao estudo da boa-fé, bem entendido), se essa cooperação se dirige a permitir o próprio cumprimento da prestação principal ou se é para permitir que a outra parte possa colher o máximo proveito dessa prestação. 187 Cláudia Lima Marques, Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações contratuais, P. 108. 159 momentos, para que se possa chegar ao ponto culminante do contrato, que é o cumprimento das prestações principais, e nesse sentido os deveres laterais servem como preparação para o cumprimento da prestação central. Os contratantes, portanto, desde quando começam a entabular as conversações sobre a celebração do contrato e ao longo de toda a execução deste, deverão se comportar com lealdade, um em relação ao outro, não adotando qualquer medida que impeça a outra parte de cumprir sua própria prestação ou de obter o máximo proveito da prestação que receber. É nesse sentido que ensina Orlando Gomes 188 que a boa-fé deve traduzir o interesse social de segurança das relações jurídicas, e por isso “as partes devem agir com lealdade e confiança recíprocas... entre o credor e o devedor é necessária a colaboração, um ajudando o outro na execução do contrato”. Mas é evidente que não se trata, tão-somente, do surgimento de obrigações negativas, ou seja, não basta que cada uma das partes se abstenha de praticar qualquer ato que impeça a outra de obter o máximo proveito da prestação recebida. Pelo contrário, a boa-fé impõe a obrigação de fazer (positiva, portanto) tudo quanto seja necessário para assegurar à contraparte o resultado útil da prestação, ou seja, cada contratante não estará limitado apenas àquilo que expressamente assumiu no contrato, mas a tudo o que se mostrar necessário para assegurar ao outro o resultado útil da prestação devida189. Veja-se que o exame dos contratos à luz do princípio da boa-fé conduziu a uma importantíssima modificação, eis que o contrato deixou de ser 188 Orlando Gomes, Contratos, p. 43. Emilio Betti, Teoria generale delle obbligazoni, v. I, p. 94. “...il criterio della buona fede porta ad imporre, a chi deve la prestazione, di fare tutto quanto è necessario – sia stato o non sia stato detto – per assicurare alla controparte il risultato utile della prestazione stessa... Pertanto possiamo dire che la buona fede, in quanto integrativa dell’obbligo testualmente assunto col contratto, impone al debitore di fare non soltanto quel che egli ha promesso, ma tutto quello che è necessario per far pervenire alla controparte il pieno risultato utile della prestazione dovuta”. 189 160 visto como a representação de direitos antagônicos, levando os contraentes a serem considerados como parceiros, e não mais como opositores um do outro, como informa Laerte Marrone de Castro Sampaio 190. E essa necessidade de que os contratantes colaborem um com o outro afeta toda a sociedade, eis que todo contrato cumpre uma função social, e por isso interessa à sociedade que os contratantes atuem de modo correto, criando um novo espírito contratual, que pode ser chamado de princípio da sociabilidade191. Na medida em que as relações sociais e econômicas vão se tornando mais e mais complexas, também as relações obrigacionais seguem a mesma tendência, pois estas estão em função direta daquelas, e a conseqüência é a hipertrofia do conteúdo dessas relações obrigacionais, que cresce de modo contínuo e paralelo ao aumento de complexidade das relações sociais. O problema foi magistralmente descrito por Josserand192, para quem “...é o mundo das obrigações que se multiplica em todos os seus compartimentos, e cria, com as suas transformações incessantes e rápidas, uma sociedade cada vez mais complexa e mais ativa; as relações obrigacionais estão em função das relações econômicas e sociais, de modo que a intensificação destas determina fatalmente o desenvolvimento daquelas; a multiplicação das relações entre os seres humanos determina necessariamente um entrelaçamento dos liames jurídicos, e a hipertrofia do conteudo obrigacional dos contratos nao é senão uma das manifestações mais características desse fenômeno”. E mesmo depois de concluído o cumprimento das prestações principais, muitas vezes ainda se mostrará necessário que um deles preste assistência ao outro, esclarecendo sobre o correto uso de um equipamento, por exemplo, ou então garantindo a obtenção de peças que se mostrem 190 Laerte Marrone de Castro Sampaio, A boa-fé objetiva na relação contratual, p. 30. Ricardo Luis Lorenzetti, Fundamentos do Direito Privado, p. 551. 192 Louis Josserand, O Desenvolvimento Moderno do Conceito Contratual. In: Revista Forense, n° 72, Dezembro de 1937, p. 533. 191 161 indispensáveis à manutenção, ou ainda evitando uma concorrência que possa se mostrar desleal, por captar a clientela que antes comparecia ao negócio que foi para o outro alienado. Como se vê, apenas a partir desse breve exemplo acima indicado, os deveres acessórios se desdobram em diversos matizes, podendo surgir antes mesmo de vir a se concretizar a obrigação (ou mesmo em hipóteses nas quais a obrigação nem virá a se concretizar), manifestando-se ao longo de toda a vigência da mesma, impelindo os sujeitos envolvidos a se comportarem de modo tal que cada um deles não apenas cumpra a sua prestação, mas também obtenha a prestação que lhe é devida e dela possa obter o máximo proveito, e em alguns de seus aspectos ainda perdurando mesmo depois que as prestações principais já foram corretamente cumpridas por cada um deles. Esses múltiplos deveres acessórios, portanto, permeiam as relações sociais em geral, e não apenas os contratos, sendo exatamente por essa razão que podem surgir independentemente de ainda não ter surgido o contrato e ainda mesmo que este nem ao menos venha a se aperfeiçoar ou, ainda, como veremos adiante, mesmo depois do mesmo já ter sido extinto. É nesse sentido, indicado no parágrafo anterior, que Emilio Betti193 afirma que a lei exige de ambos os contratantes o mútuo respeito à boa-fé, tanto no momento em que se vai formar o vínculo obrigatório quanto durante o desenvolvimento da relação contratual e por ocasião da execução da obrigação, sendo que, por essa razão, prossegue o ilustre autor italiano, para se compreender o verdadeiro sentido da boa-fé é preciso observar todas as 193 Emilio Betti, Cours de Droit Civil comparé des obligations, 1957-1958, p. 79. “En obéissant aux exigences morales de la conscience sociale, la loi exige de tous les deux contractants un respect mutuel de la bonne foi, soit au moment de la formation du lien obligatoire, soit pendant le dévellopement du rapport e dans l’exécution de l’obligation... Or pour bien comprendre le sens de ce standard ou critérium-guide qualifié, comme ‘bonne foi’, il faut embrasser d’un coup d’oeil les multiples exigences d’une communion sociale et les devoirs qu’elles comportent pour les particuliers qui y coexistent”. 162 múltiplas exigências impostas pela vida em comunidade e os deveres que daí decorrem para os particulares que dela fazem parte. Nessa ótica, os deveres laterais podem ser desmembrados em deveres de proteção, de informação, de lealdade, de assistência, etc. Na realidade, embora alguns autores apresentem suas próprias classificações, o fato é que não é possível uma sistematização uniforme, ou seja, não é possível estabelecer uma lista taxativa, contendo todos os deveres acessórios que podem surgir nos casos concretos, tamanha é a sua diversidade. Essa variabilidade dos deveres acessórios pode ser facilmente explicada se observarmos que o próprio conteúdo normativo da boa-fé só pode ser delineado em cada caso concreto, em função das peculiaridades desse mesmo caso (veja-se, retro, o item 1.6). Em outras palavras, o conteúdo da boa-fé, enquanto norma de conduta, como já vimos, varia conforme as circunstâncias de cada caso concreto onde se busca esteio no princípio da boafé, e tal conteúdo se mostrará diferente cada vez que forem diferentes as realidades fáticas dos casos examinados. Dessa forma, se os deveres secundários se apresentam como manifestações concretas da boa-fé, vale dizer, se tais deveres se revelam, em cada situação real, como sendo a conduta a ser adotada pelo sujeito, para que seu comportamento obedeça aos ditames da boa-fé, é evidente que, se o conteúdo da boa-fé se mostra variável, então os deveres acessórios, que são uma das suas manifestações concretas, também se mostrarão diversificados, variando em cada hipótese concreta, em função das características dessa mesma hipótese, da mesma forma que ocorre com a boa-fé em si mesma, que é a fonte de onde se irradiam os deveres laterais. Em resumo, se a fonte (a boa-fé) varia, o que dela se origina (os deveres laterais) também varia. 163 Béatrice Jaluzot 194 aponta como sendo de Wilhelm Weber a mais clara das classificações dos deveres acessórios, contendo seis categorias principais: a) obrigação de diligência em sentido estrito, que impõe um comportamento de modo a assegurar uma execução diligente do contrato, compreendendo, entre outras, a obrigação de vigilância, a de enviar a coisa e as obrigações de tomá-la sob sua proteção; b) obrigação de proteção em sentido estrito, prevenindo os danos não apenas em relação ao objeto da prestação, mas também quanto aos objetos necessários à prestação e às partes da relação obrigacional; c) obrigações de informação, que se manifesta sempre que houver necessidade de responder a uma questão implícita ou explícita, em virtude da boa-fé; 194 Béatrice Jaluzot, La bonne foi dans les contrats: Étude comparative de droit français, allemand et japonais, pp. 511-512, n°s 1756 a 1762. Mas a autora acrescenta, ainda, um sétimo dever, por ela denominado de obrigação de mitigação, e que consistiria na obrigação positiva de evitar o acréscimo dos danos nos casos onde a inexecução dos contratos faz nascer uma responsabilidade contratual, e exemplifica com uma situação concreta, na qual o locador esperou onze anos, antes de cobrar os aluguéis em atraso e pleitear a resolução do contrato, tendo entendido o tribunal, em tal caso, que uma espera tão longa provocou o aumento inaceitável da dívida, e que por isso estava caracterizada a atuação contrária à boa-fé, por parte do locador (obra citada, p. 521, n° 1795). Em um caso do quotidiano, por nós presenciado, uma locadora de vídeos alugou um DVD para um cliente, que não o devolveu no prazo assinalado. A locadora, por sua vez, aguardou quase quatro anos para cobrar a devolução e os aluguéis em atraso, que já superavam os cinco mil reais, ou seja, já equivaliam a cerca de cem vezes o valor do próprio DVD. Veja-se que o nosso Código Civil, ao disciplinar o contrato de seguro, trata especificamente de situação onde se pode vislumbrar essa obrigação a qual Béatrice Jaluzot denominou de mitigação. Trata-se do artigo 771, do nosso Código Civil, onde se lê que o segurado, ocorrido o sinistro, deverá adotar as medidas imediatas, que se fizerem necessárias (e que estejam ao seu alcance, é evidente) para minorar-lhe as conseqüências, sob pena de perda do direito à indenização. A situação descrita pela ilustre autora, não restam dúvidas, se revela de grande importância prática, eis que sua ocorrência, na prática, é bastante comum. No entanto, pensamos que a denominação própria e a tentativa de enquadramento como uma categoria à parte se mostram completamente equivocadas, uma vez que essa suposta obrigação de mitigação, na realidade, nada mais é do que o dever de cooperação. Com efeito, como veremos poucas linhas à frente, neste mesmo item, o dever de cooperação se caracteriza pela imposição, a cada um dos sujeitos, da adoção de uma conduta que proteja os interesses do outro, todas as vezes em que for possível fazê -lo sem prejuízo dos seus próprios interesses e sem que daí lhe decorram grandes sacrifícios. Logo, o que nos parece é que esse dever de mitigação, como descrito, se enquadra nesse conceito mais amplo de dever de cooperação, por isso que, ao evitar o acréscimo da dívida alheia, o sujeito nada mais estará fazendo do que proteger os interesses do outro, sem prejuízo dos seus próprios. 164 d) obrigação de instrução, compreendendo a obrigação de alertar, de transmitir uma obrigação e de explicação, surgindo todas as vezes em que houver um dado desconhecido pela outra parte e que deva ser conhecido para que o contrato possa ser cumprido ou para que essa outra parte possa desfrutar integralmente da prestação que obteve; e) obrigação de cooperação, que impõe a necessidade de ajudar a outra parte na conclusão e na execução de um contrato, e em particular, de ajudar o outro sujeito do negócio contra os obstáculos surgidos durante a execução; f) obrigação de preocupação com o outro sujeito, nascendo das relações humanas entre as partes e dos interesses comuns, como é o caso, por exemplo, da fidelidade e da lealdade entre as partes contratantes. Outra classificação bastante conhecida é a do ilustre civilista português, Mário Júlio de Almeida Costa195, que primeiramente a apresenta de modo macro, e em seguida apresentando as hipóteses dos deveres que denomina de “laterais”, e que são os que se constituem no foco no nosso estudo, no presente momento. Assim, diz o jurista luso que existem, em primeiro lugar, os deveres principais (ou primários) de prestação, que se constituem na “alma” da relação obrigacional, e que definem o tipo do contrato. Ao lado deles existem, ainda, os deveres secundários (ou acidentais) de prestação, e que se subdividem em duas modalidades: a) os deveres secundários meramente acessórios da prestação principal, que se destinam a preparar o cumprimento ou assegurar sua perfeita realização; b) os deveres secundários com prestação autônoma, que ainda podem se apresentar como sucedâneos do dever principal (por exemplo, a indenização resultante da 195 Mário Júlio de Almeida Costa, Direito das Obrigações, pp. 65-67. 165 impossibilidade culposa, que substitui o dever principal) ou coexistentes com o dever principal (no caso da mora ou cumprimento defeituoso, por exemplo). Além dos deveres de prestação, no entanto, prossegue o jurista português, na mesma obra e lugar citados, existem ainda os deveres laterais, que podem derivar de uma cláusula contratual, de um dispositivo de lei ou do princípio da boa-fé. Os deveres laterais não interessam diretamente ao cumprimento da prestação principal, e sim ao exato processamento da relação obrigacional. Esses deveres laterais, prossegue o autor, podem ser apresentados em vários tipos, como os deveres de cuidado, previdência e segurança, deveres de aviso e informação, deveres de notificação, deveres de cooperação, e os deveres de proteção e cuidado relativos à pessoa e ao patrimônio da contraparte. De qualquer sorte, convém observar que essas divisões, acima apresentadas, dos deveres secundários, além de incompletas, ainda apresentam o pecado da imprecisão, sendo que apenas para fins didáticos é que tais deveres podem ser apresentados como se houvesse uma clara distinção entre eles, eis que, na realidade, a linha que separa uns dos outros, muitas vezes, tem posição incerta e imprecisa, e um mesmo dever pode ser apresentado como sendo de informação e de proteção, por exemplo, pois apresenta as características de ambos. Veremos, adiante, alguns exemplos dessa pouca clareza, que por vezes ocorre na distinção entre os diversos deveres acessórios. Esses deveres, como dissemos linhas acima, são independentes da prestação principal a ser cumprida por cada um dos sujeitos, e essa é a razão dos mesmos se manifestarem antes de um contrato ser celebrado ou mesmo que nunca venha a sê-lo, e de se prolongarem mesmo depois que o contrato já se extinguiu, em virtude do cumprimento das prestações recíprocas. Alguns 166 exemplos ajudarão a melhor esclarecer essas afirmações, desde logo esclarecendo que os exemplos apresentados não têm a pretensão de esgotar o rol de deveres acessórios que podem surgir em um caso concreto, mesmo porque, como já vimos acima, poucas linhas atrás, não existe esse rol taxativo. Comecemos pelo dever de cooperação, que sem sombra de dúvida se apresenta como um dos principais – se não o principal – modo de concretização do conteúdo normativo do princípio da boa-fé, e tanto assim que, em alguns casos, a cooperação chega mesmo a se confundir com a solidariedade social, imposta pelo texto constitucional como um dos objetivos fundamentais da República brasileira (veja-se, sobre esse assunto, o item 1.6, retro). Essa importância tão destacada do princípio da cooperação pode ser explicada pelo fato de que, embora se tratando de obrigação acessória, seu objetivo direto e específico, em muitos casos, é possibilitar o cumprimento das obrigações principais, preservando o bom andamento do contrato e a eliminação dos entraves à sua execução. Suponha-se que em uma relação obrigacional, como garantia da dívida, o devedor entrega ao credor as ações de uma determinada empresa. Estando ainda pendente a obrigação, e encontrando-se as ações com o credor, o devedor pede que ele as venda, em virtude da possibilidade de desvalorização, e em seguida adquira as ações de uma outra companhia específica. O credor, no entanto, recusa-se a atender a solicitação. Logo em seguida, as ações que estavam em seu poder se desvalorizam em 35%, enquanto as ações que o devedor pretendia adquirir valorizaram-se em 40%. Na situação acima relatada, entendeu o Tribunal do Império, na Alemanha, que o credor havia violado o seu dever acessório de cooperação, imposto em decorrência do princípio da boa-fé, conforme relata Béatrice 167 Jaluzot 196, sendo que, se um dos sujeitos da obrigação (no caso, o credor) pode sem problemas atender aos interesses do outro (o devedor), sem que daí lhe decorra qualquer prejuízo ou sacrifício excessivo, e mesmo assim não o faz, então esse sujeito descumpriu o seu dever de cooperação, agindo de modo contrário à boa-fé. Observe-se que a situação mencionada traz interessante solução para a aferição, nos casos concretos, sobre se houve ou não a infração ao dever de cooperação. É que, no mais das vezes, para atender esse dever, o sujeito deverá adotar um comportamento ativo, deverá tomar alguma providência, e por isso cabe perguntar até onde precisará se esforçar, para cumprir a referida providência, de modo a não infringir o dever de cooperação. Em outras palavras, quais sacrifícios podem ser exigidos do sujeito da relação obrigacional, para que não reste infringido o dever lateral de cooperação? O critério acima apresentado, para a resposta da pergunta, se apresenta de modo objetivo: não se poderá exigir do sujeito, a pretexto de atendimento ao dever de cooperação, o sacrifício desmesurado, a afetação significativa dos seus próprios interesses, para que possam ser atendidos os do outro sujeito. No entanto, se for possível a um dos sujeitos atuar de modo a preservar os interesses do outro, sem que isso implique em sacrificar os seus próprios interesses e sem que isso lhe demande um grande esforço, então ele deverá adotar as medidas que se fizerem necessárias, sob pena de restar violado o dever de cooperação. Mas não se pode deixar de observar que essa obrigação de cooperação, dentro de um contrato, não apresenta um conteúdo próprio e genérico, e por essa razão jamais poderá ser determinada de modo antecipado, 196 Béatrice Jaluzot, La bonne foi dans les contrats: Étude comparative de droit français, allemand et japonais, p. 514, n° 1770. 168 só podendo o juiz, no caso concreto e posteriormente, aferir se houve ou não a sua violação197. Vejamos um outro exemplo, agora ligado ao dever acessório de proteção, que se manifesta tanto em relação à pessoa quanto ao patrimônio do outro sujeito envolvido. Suponha-se que A pretende comprar um veículo pertencente a B e, com tal finalidade, o possível comprador vai até a casa do vendedor, para examinar as condições do veículo e discutir os termos do negócio. O contrato, no entanto, não chega a ser celebrado, uma vez que A não se agradou do carro. Enquanto estava na casa de B, contudo, A vem a cair em um buraco, cuja tampa estava mal colocada e acabou por ceder. Nessas condições acima descritas, pode-se apontar que, ainda que não tenha ocorrido a celebração do contrato, já se impunha aos sujeitos envolvidos o dever de proteção recíproca, e tal dever foi violado por B, que negligenciou os cuidados que deveria ter tomado, de modo a garantir que A não seria vítima de qualquer dano. Esse dever acessório de proteção, como facilmente se percebe, independe de surgirem ou não as prestações principais (que no caso não surgiram), pois se apresenta como inerente a uma etapa ainda preparatória para um contrato que é apenas possível. No entanto, tal dever só se manifestou em virtude de estarem os sujeitos buscando a celebração de um contrato, e por isso já lhes era imposta a conduta adequada à busca da proteção recíproca. Como se vê, portanto, o dever acessório de proteção pode ser apontado como sendo uma imposição aos sujeitos no sentido de que, ainda que apenas se esteja na fase das negociações prévias, cada um dele s deve se abster de causar danos ao outro e, ainda mais, adotar todas as medidas 197 Béatrice Jaluzot, La bonne foi dans les contrats: Étude comparative de droit français, allemand et japonais, p. 516, n° 1777. 169 necessárias para evitar que tais danos ocorram (obrigações negativas e positivas, como se vê). Devem ser evitados não apenas os danos diretos, causados à pessoa e ao patrimônio do outro sujeito, mas também os danos indiretos, ou seja, consistente nas eventuais despesas que foram realizadas por se mostrarem indispensáveis à contratação. Na mesma situação da venda do veículo, acima indicada, figurese que o comprador, A, tendo gostado do veículo, foi dirigir o mesmo nos arredores, para poder decidir se efetivamente iria comprá-lo. Ocorre que o carro apresentava um problema nos freios, que com alguma freqüência falhavam, e A veio a sofrer violento acidente, ferindo-se gravemente. Nesse caso, embora o contrato, mais uma vez, não tenha chegado a ser celebrado, percebe-se com facilidade que o vendedor, B, deixou de cumprir o dever acessório de informação, pois deveria ter esclarecido ao comprador A todas as circunstâncias relevantes que fossem referentes ao negócio, dentre as quais, obviamente, a questão do freio. O dever lateral de informação, portanto, impõe a cada um dos envolvidos nas negociações que preste ao outro todos os esclarecimentos que se fizerem necessários à correta avaliação do negócio, sendo certo que tais esclarecimentos funcionarão como elemento fundamental para que ambos os sujeitos possam avaliar se lhes interessa ou não a conclusão do mesmo. O dever de informação, como pode ser facilmente imaginado, comporta uma grande diversidade de conteúdos, uma vez que o seu atendimento pode ter as mais diversas finalidades, dentro de uma relação obrigacional. Assim, por exemplo, na fase das negociações pré-contratuais, a informação deve ser prestada para que o outro sujeito possa avaliar corretamente se lhe será ou não conveniente a celebração do contrato. 170 Ao longo do contrato, por sua vez, as informações adequadas podem ter a função de proteger o outro sujeito contra danos decorrentes do mau uso, ou de permitir que um certo bem, que lhe foi transferido, possa ser usado, ou de possibilitar que a prestação seja adequadamente cumprida, etc. E mesmo na fase pós-contratual, muitas vezes poderão ser necessárias informações, sobre a operação correta de um determinado bem ou sobre a assistência técnica. Uma situação específica, na qual a violação do dever de informação é reprimida pelo nosso Código Civil, é a que se refere à omissão dolosa, na fase pré-contratual de um contrato bilateral. Com efeito, ao tratar sobre os defeitos do negócio jurídico, especificamente sobre o dolo, estabelece o Código, no artigo 147, que nos negócios jurídicos bilaterais, se uma das partes omite a informação acerca de fato ou qualidade que a outra desconhece, estará caracterizada a omissão dolosa, se provado que o negócio não se teria realizado, caso a informação tivesse sido prestada. Em tal hipótese, a presença do dolo torna o negócio jurídico anulável, nos termos do artigo 145, do mesmo Diploma Civil. Seria o caso, por exemplo, do Município que, na França, negociou com um proprietário a compra de um terreno, omitindo-lhe contudo que as normas administrativas referentes ao direito de construir, que impediam a construção nesse mesmo terreno, estavam sendo revisadas, e tanto assim que, poucos meses depois da compra, já sendo possível a construção, o Município revendeu o imóvel por valor quatro vezes superior ao que havia pago (veja-se, para maiores detalhes, o item 1.7, retro, onde a situação é descrita em suas minúcias). No caso, o imóvel só foi vendido ao Município porque este, dolosamente, ocultou do vendedor que em breve seria possível erguer a construção até então proibida. 171 Mas neste ponto é importante observar que viola o dever de informação não apenas aquele que omite algum esclarecimento, mas também aquele que presta informações incorretas, e com isso impede que o outro sujeito possa fazer a correta avaliação de todas as circunstâncias, e em última análise impede que possa haver a real manifestação livre de vontade, que haveria se fosse honesta a conduta do que se conduziu de modo a violar tal dever. E também é interessante comentar que os deveres secundários, como já havíamos mencionado linhas atrás (neste mesmo item), muitas vezes se confundem uns com os outros, nem sempre sendo possível traçar uma divisão clara entre eles. Assim, por exemplo, muitas vezes o dever de informação se confunde com o dever de proteção, como no exemplo apresentado, no qual o vendedor de um automóvel deixou de informar a um possível comprador, que saiu com o carro para testá-lo, sobre um problema nos freios. Veja-se que houve clara infração ao dever de informação, mas ao mesmo tempo também se caracterizou a quebra do dever de proteção, eis que expôs a perigo a integridade física da outra pessoa. Da mesma forma, na venda de um produto extremamente tóxico, deve ser informada ao adquirente essa característica, além de também deverem ser informadas as precauções que devem ser tomadas para o manuseio seguro e adequado do produto, o que deve ser feito em caso de contato ou ingestão acidental com o mesmo, etc. Mas facilmente se percebe que esse dever, que pode ser caracterizado como sendo de informação, também pode ser descrito como se tratando de dever de proteção. A mesma confusão entre os dois deveres colaterais mencionados também pode ser vista em situação que se mostra extremamente corriqueira, e que muitas vezes ocorre antes mesmo de ter sido celebrado qualquer contrato 172 ou mesmo depois que tal contrato já foi extinto pelo integral cumprimento. É a situação de uma loja, por exemplo, cujo piso está sendo lavado. A colocação de um aviso, indicando que o piso está molhado, e, por isso, escorregadio, atende não apenas ao dever de informação, mas também ao dever de proteção aos clientes, ainda que estes ainda não tenham comprado qualquer produto ou que, já tendo pago o preço e recebido a mercadoria, seus contratos já tenham sido extintos. Podemos buscar outro exemplo, agora ligado ao dever de lealdade, em um caso concreto, do qual tivemos conhecimento, e no qual o proprietário de um terreno, pessoa medianamente esclarecida, ofereceu-o à venda, em anúncio público. Um possível comprador, com formação jurídica, interessou-se pelo imóvel, e fez uma oferta de pagamento parcelado, que foi aceita pelo vendedor, mediante o esclarecimento (prestado pelo comprador) no sentido de que, em vez da compra e venda, o negócio celebrado seria o de promessa de compra e venda, o que conferiria segurança ao alienante. O possível comprador, então, ofereceu-se para redigir o contrato, nos exatos termos ajustados por ambos, e o proprietário entregou-lhe toda a documentação necessária para a elaboração do instrumento contratual. Passados alguns dias, no entanto, o promitente comprador entrou em contato com o proprietário e, sem qualquer outra explicação, disse que não tinha mais interesse no negócio e devolveu-lhe os documentos que havia recebido. O contrato não chegou a ser celebrado, como se vê, eis que a promessa de compra e venda só se aperfeiçoa com a obediência à forma escrita. No entanto, esse abandono injustificado da fase pré-contratual, depois de ter gerado no outro sujeito a justa expectativa de que o contrato seria celebrado, de modo muito claro viola o dever acessório de lealdade, que deve conduzir o comportamento recíproco das partes. 173 É evidente que o simples fato de uma pessoa ter ingressado nas negociações referentes a um contrato não obriga a que o mesmo venha a ser efetivamente celebrado, pois tais negociações é que irão, ao final, permitir que os sujeitos possam decidir pela celebração ou não da avença. No entanto, parece evidente que, se um dos sujeitos agiu de tal modo que despertou no outro a justificada confiança na conclusão, a quebra injustificada de tal confiança (e não o fato de não vir a ser celebrado o contrato) viola o dever de lealdade, pois o promitente comprador não se comportou como o proprietário poderia legitimamente esperar que o fizesse, em virtude de suas atitudes anteriores. Sobre o tema, vale a pena conhecer a opinião sempre respeitada e sempre segura de Louis Josserand198, em cujo texto se lê que “...o direito de contratar não é suscetível de abuso, mas o direito de não concluir um contrato pode, ao contrário, ser contaminado pelo abuso; o mesmo direito que na sua forma positiva é absoluto, torna-se relativo, tornase motivado (causé), quando considerado no seu aspecto negativo: a recusa de contratar pode apresentar um caráter abusivo, não certamente quando se trata de uma situação completamente negativa, isto é, quando não existe oferta alguma, pois, nesse caso, não sendo possível forçar-nos a contratar, poderemos usar integralmente do direito de inércia. Mas é diferente a situação, desde o momento em que houve uma oferta, a qual constitui, de certo modo, o embrião de um contrato. Não há dúvida de que, em princípio, nos é lícito retirar a oferta que tivermos feito: a simples oferta não nos prende, não tem valor obrigatório. Mas esse direito de retratação não é absoluto; deve ser motivado; é preciso que ele se apóie em causa legítima; inspirada em motivos ilegítimos, a revogação da oferta torna-se geradora de responsabilidade, por ser abusiva; o conceito do abuso encontra aí uma oportunidade para se manifestar.” 198 Louis Josserand, O Contrato de Trabalho e o Abuso dos Direitos. In: Revista Forense, n° 75, Setembro de 1938, p. 507. E Josserand exemplifica, na mesma obra e local citados, com os casos ocorridos em França, nos quais as empresas se recusavam a admitir nos seus serviços qualquer trabalhador que fosse filiado ao sindicato. Os tribunais resolveram a questão à luz do abuso do direito, condenando o empregador recusante a pagar indenização. 174 O dever acessório de lealdade, como se observa, pode ser descrito como a imposição que se faz às partes para que não se desviem de uma conduta honesta, para que cada uma delas não surpreenda o outro negociante com comportamentos inesperados e que destoam completamente dos que haviam sido anteriormente adotados. A partir dos comportamentos anteriormente observados, surgiu uma relação de confiança entre elas, que passaram a ter razões fáticas para acreditar em um determinado e específico desdobramento da questão, sendo em seguida violada, sem qualquer justificativa, essa mesma crença. Mas veja-se que esse mesmo dever de lealdade, referindo-se à conduta honesta de cada um dos contratantes, pode ainda ser desdobrado em inúmeras facetas, conforme as peculiaridades de cada situação concreta. Assim, suponha-se que durante o encetamento das negociações uma das partes precisou expor à outra um segredo industrial, para que fosse possível a obtenção de um financiamento, por exemplo. É evidente que, em tal caso, além da vedação do abandono abrupto e injustificado das negociações, como foi visto no parágrafo anterior, também será imposto aos sujeitos o dever de sigilo, consistente na vedação de divulgar segredos que tenham sido apreendidos em decorrência das negociações pré-contratuais. Ainda em relação ao dever de lealdade, pode-se apontar para o mesmo, também, a proibição da concorrência desleal, nos casos em que o contrato já havia sido celebrado e está sendo cumprido. Sobre o tema, inclusive, encontramos algumas situações claramente positivadas em nosso direito. Assim, por exemplo, em relação ao contrato de trabalho199, a 199 Em relação aos sujeitos do contrato de trabalho, mais especificamente em relação ao empregado, o dever de lealdade ganha uma roupagem própria e especial, apresentando-se como um dever de fidelidade do trabalhador, quanto ao empregador. Esse sentido particular de boa-fé-lealdade impõe ao empregado que se 175 Consolidação das Leis do Trabalho proíbe ao empregado que negocie de modo habitual, por contra própria ou alheia, quando tais negócios impliquem em concorrência desleal com o empregador (art. 482, c). Da mesma forma, a Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245, de 18.10.1991), ao permitir que o locador não residencial se oponha à renovação compulsória com esteio na retomada do imóvel para instalação de fundo de comercio próprio, já existente há mais de um ano, esclarece que não poderá ser usado o imóvel retomado para atividade empresarial do mesmo ramo que era explorado pelo locatário (art. 52, II e § 1º). A idéia, como se vê, está ligada diretamente à proibição da concorrência desleal, pois o legislador teve a clara intenção de evitar que o locador, retomando o imóvel, venha a se aproveitar dos esforços que o locatário havia feito para captar a sua clientela. Em um último exemplo, suponha-se que uma gráfica tenha importado uma moderníssima impressora, sendo a única empresa do ramo, na cidade, a dispor desse tipo de equipamento, e inclusive tendo enviado um de seus funcionários para participar de um treinamento na fábrica, para poder operá-lo. Algum tempo depois, por qualquer razão, essa impressora vem a ser vendida para uma outra empresa, sendo que o pagamento já foi efetuado à vista e a máquina já foi entregue. O contrato, portanto, foi celebrado e já foi cumprido, eis que cumpridas foram suas prestações centrais. No entanto, mesmo após essa execução contratual, e ainda que nada tenha sido explicitamente ajustado, é evidente que o vendedor precisará prestar assistência ao comprador, em relação ao manuseio, auxiliando-o nas eventuais dificuldades que venham a surgir na operação de tão moderno equipamento. Ou seja, embora já tenha sido executado o contrato, ainda estará abstenha de todo ato que possa prejudicar o empregador e que cumpra aqueles que protejam os interesses deste. Cf. Guillermo Guerrero Figueroa, Principios Fundamentales del Derecho del Trabajo, p. 45 176 presente, entre as partes, o dever lateral de assistência, por um dos contratantes ao outro, e a quebra desse dever (a negativa da assistência) se configuraria em inaceitável conduta do alienante. O dever de assistência, dessarte, pode ser apresentado como o dever que cada uma das partes tem, não apenas ao longo da execução do contrato, mas também depois do seu cumprimento, de auxiliar a outra no que se fizer necessário, para que possa ser obtido, da prestação fornecida, o rendimento máximo possível, ou pelo menos para que tal prestação possa continuar a ser útil para quem a recebeu. É esse mesmo dever de assistência que impõe ao fabricante de um determinado produto que, mesmo que resolva parar de fabricá-lo, continue a garantir as peças de reposição por um tempo razoável, que somente poderá ser aferido no caso concreto, conforme a duração estimada do produto em questão. Nesse último exemplo figurado, referente à venda da moderna máquina impressora, abre-se um novo campo de investigação, que é o da responsabilidade pós-contratual (culpa post pactum finitum). Trata-se, como se vê, do fenômeno inverso ao da responsabilidade pré-contratual: nesta, os deveres acessórios se manifestam antes mesmo do pacto vir a ser celebrado, enquanto que na responsabilidade pós-contratual, ao contrário, trata-se de deveres acessórios que sobrevivem à extinção do contrato, impondo-se aos excontratantes mesmo depois que o pacto já foi extinto. E nessa mesma linha de raciocínio, ou seja, em relação aos deveres que se manifestam após a extinção do contrato, e cuja violação dá origem à responsabilidade pós-contratual, diversos são os deveres acessórios que podem ser apontados. Assim, por exemplo, suponha-se que em virtude de um contrato, um dos contratantes tomou conhecimento de determinadas informações cuja divulgação poderia causar sérios prejuízos ao outro. Nesse 177 caso, parece evidente que se impõe, mesmo depois do término do pacto, o dever lateral de não revelar tais informações, que foram obtidas ao longo e em virtude do contrato. E também poderiam ser apontados, como deveres acessórios que se manteriam mesmo após a extinção do pacto, o dever de prestar assistência técnica, o dever de fornecer peças de reposição por um período que se mostre razoável para o caso concreto, o dever de prestar todos os esclarecimentos necessários sobre o funcionamento da coisa alienada, para que o adquirente possa obter da mesma o máximo rendimento, o dever de proteção, no sentido de evitar que o outro sujeito venha a sofrer danos em sua pessoa ou em seu patrimônio, o dever de tolerância, etc. Muito comum, na prática, tem sido uma situação que se liga exatamente ao dever acessório de proteção. É no caso do chamado recall, que com freqüência é feito pelas fábricas de veículos automotores. Muitas vezes, a partir de pesquisas em laboratório ou de ocorrências concretas, a fábrica detecta um problema, em relação ao veículo, que pode causar danos aos seus usuários. Para evitar que tais danos ocorram (dever de proteção), faz ampla divulgação de um chamado para que os proprietários do veículo em questao compareçam a uma oficina autorizada, para que o problema possa ser preventivamente chamado. Veja-se que, em grande parte dos casos, os proprietários dos veículos já pagaram integralmente o preço, estando cumprido e extinto o contrato, mas ainda assim se manifesta o dever acessório de proteção. Outra situação, cuja ocorrência prática também se revela bastante comum, é aquela onde havia um contrato de locação de imóvel, na qual o locatário havia instalado, no prédio alugado, uma loja ou, em se tratando de um profissional liberal, o local onde recebia e atendia sua clientela. Findo o 178 contrato de locação e mudando-se o locatário para um novo endereço, o locador deverá aceitar que, durante algum tempo, permaneça afixada, junto ao imóvel, placa indicativa do novo endereço profissional do locatário, de modo a lhe permitir o adequado direcionamento de sua clientela. Também se mostra freqüente a situação na qual um determinado fabricante, mesmo depois de ter deixado de fabricar um certo produto durável, deverá ainda continuar, por um período que se mostre razoável, a fabricar e fornecer as peças de reposição, para o correto e adequado atendimento técnico aos seus clientes que adquiriram o produto enquanto o mesmo ainda era regularmente fabricado, e que têm a legítima expectativa 200 de poder continuar a usar esse mesmo bem durante algum tempo, eis que se trata de produto durável, como mencionado. Facilmente se percebe que essas situações de deveres acessórios, que se manifestam mesmo depois do contrato ter sido extinto, de modo idêntico ao que ocorre com os deveres pré-negociais, são todas esteadas na boa-fé, que impõe aos sujeitos envolvidos o dever de, em geral, não frustrar a confiança que, a partir das negociações que tinham em vista a efetiva celebração do negócio, veio a surgir entre as partes. Se não fosse assim, vejase que o contrato se resumiria a uma simples troca formal de prestações, despido de qualquer conteúdo relacional entre as partes, esvaziando-se por completo tão logo estivessem trocadas as prestações recíprocas. Faz-se aqui um breve parêntese para uma necessária observação. É que o leitor mais atento certamente percebeu que, em geral, nos referimos aos deveres pré-contratuais ou pós-contratuais. Em outras ocasiões, contudo, 200 Não é demais recordar, aqui, a lição de Orlando Gomes, segundo a qual a boa-fé, aplicada em relação à interpretação dos contratos, dirige-se à aferição da vontade real dos contratantes e é explicada pela necessidade de proteger a legítima expectativa de cada um dos contraentes e de não perturbar a segurança do tráfico. Cf. Orlando Gomes, Contratos, pp. 227-228. 179 fizemos referencia aos deveres pré ou pós-negociais. É que, se por um lado tais deveres têm campo fértil na seara contratual, onde ocorrem com maior freqüência, por outro, também ocorrem regularmente em outros negócios jurídicos, além dos contratos. Imagine-se, por exemplo, um casamento – fora da área contratual, portanto – que durou longos anos. Após o divórcio, rompido o vínculo matrimonial, é evidente que cada um dos cônjuges deverá respeitar os segredos do outro, dos quais teve conhecimento ao longo da convivência na sociedade conjugal, manifestando-se tais deveres tanto em relação aos assuntos pessoais quanto em relação, por exemplo, aos assuntos profissionais do cônjuge. A violação do dever de sigilo, em tal caso, poderá gerar a responsabilidade civil do cônjuge que o violou, mesmo já estando divorciado o casal. Mário Júlio de Almeida Costa 201 aponta que “a expressão mais rigorosa será a de responsabilidade pré-negocial, dado que o problema transcende o puro domínio dos contratos”, podendo acontecer, também, em relação aos negócios jurídicos unilaterais. No entanto, prossegue o autor português, é a denominação “responsabilidade pré-contratual” que atrai a preferência dos autores em geral, o que pode ser facilmente explicado pelo fato de que é nos contratos que se encontra o campo principal de atuação dessa figura. Veja-se que em todas essas hipóteses acima o dever acessório se manifestou em situação na qual não havia a prestação central a ser cumprida, ou por não ter ainda sido celebrado o contrato, e nem chegou a surgir a prestação principal, ou por já ter sido o mesmo executado, com o 201 Mário Júlio de Almeida Costa, Direito das Obrigações, p. 270 (nota de rodapé n° 1). 180 cumprimento, pelos contratantes, das prestações centrais que a cada um deles incumbia. O que ocorre é que, em alguns casos, ainda que não existam vínculos contratuais (ou, pelo menos, não existam mais tais vínculos) entre os sujeitos, há uma proximidade tão grande entre eles que surge, espontaneamente, um sentimento de confiança recíproca, que não pode ser impunemente frustrado, e é dessa situação de confiança que derivam os deveres laterais tantas vezes citados. Aliás, sobre a confiança já se disse que a mesma atua como verdadeiro cimento da convivência coletiva 202. Façamos, por enquanto, breve parêntese, para que possamos falar especificamente sobre a confiança entre os sujeitos, antes de retomarmos o fio da meada. A confiança entre as partes se apresenta como um elemento essencial entre os interesses das mesmas 203, sendo por excelência o elemento protegido pelo princípio de “Treu und Glauben”, do direito alemão. Aliás, pode-se observar que a expressão, literalmente traduzida, significa “fidelidade e confiança”, e segundo a doutrina alemã, o princípio é a expressão da fidelidade à palavra dada e a obrigação de inspirar confiança, de ser confiável204. E não é despiciendo observar que a proteção da confiança não atende apenas aos interesses privados dos sujeitos do negócio jurídico, ultrapassando essa esfera tão limitada. Na realidade, o que também se busca é 202 Judith Martins-Costa, O adimplemento e o inadimplemento das obrigações no novo Código Civil e o seu sentido ético e solidarista. In: Franciulli Netto, Domingos; Mendes, Gilmar Ferreira e Martins Filho, Ives Gandra da Silva (Coord.). O Novo Código Civil – Estudos em Homenagem ao Prof. Miguel Reale, pp. 349. 203 Laerte Marrone de Castro Sampaio, A boa-fé objetiva na relação contratual, p. 28, nota 84. 204 Béatrice Jaluzot, La bonne foi dans les contrats: Étude comparative de droit français, allemand et japonais, p. 86, n° 315. 181 a preservação de um interesse público, consistente na defesa dos valores sociais da segurança do comércio jurídico205. Nas palavras de Mário Júlio de Almeida Costa206, “Através da responsabilidade pré-contratual tutela-se directamente a confiança fundada de cada uma das partes em que a outra conduza as negociações segundo a boa-fé; e, por conseguinte, as expectativas legítimas que a mesma lhe crie, não só quanto à validade e eficácia do negócio, mas também quanto à sua futura celebração. Convirá salientar, todavia, que o alicerce teleológico desta disciplina ultrapassa a mera consideração dos interesses dos particulares em causa. Avulta, com especial evidência, a preocupação de defesa dos valores sociais da segurança e da facilidade do comércio jurídico”. Ora, basta lembrarmos que todo contrato, por exemplo, cumpre uma função social (como, aliás, se encontra expresso no art. 422, do Código Civil), ou seja, atende a interesses sociais, e por essa razão existe interesse público em que tal contrato seja celebrado e cumprido em condições juridicamente seguras para os contratantes. Por outro lado, continua Béatrice Jaluzot 207, não é toda e qualquer confiança que merecerá receber a proteção, mas tão-somente aquela que se mostre digna de ser protegida, o que ocorre, precisamente, quando a atitude de uma das partes faz nascer na outra a confiança de que a primeira não praticará um determinado ato. De modo contrário, a confiança de uma parte não será digna de proteção quando a mesma já foi previamente advertida sobre o que ocorreria nesse negócio jurídico em que se encontra envolvida208. 205 Teresa Negreiros, Fundamentos para uma Interpretação Constitucional do Princípio da Boa-Fé, pp. 70-71. 206 Mário Júlio de Almeida Costa, Direito das Obrigações, p. 271. Béatrice Jaluzot, La bonne foi dans les contrats: Étude comparative de droit français, allemand et japonais, pp. 86, n° 316. 208 No entanto, não se pode deixar de observar que “não há relação necessária entre duração das tratativas e caracterização da confiança na conclusão do contrato, embora não se possa deixar de ponderar que o estado avançado das tratativas é um excelente indicador da existência da confiança na celebração do 207 182 Além disso, a confiança a ser protegida não é aquela que se traduz em objetos meramente ideais, abstratos, absolutos e imutáveis no tempo. Muito pelo contrário, a confiança é um bem cultural, e por essa razão deve se caracterizar pela existência necessária à ordem jurídico-social que está vigente naquele momento em que é avaliada, devendo ainda ser dotada do caráter de realizabilidade. Em outras palavras, em cada lugar e espaço a confiança será protegida quando tiver concreta eficácia jurídica, servindo como fundamento de um conjunto de princípios e regras que permitem, simultaneamente, o cumprimento do que foi pactuado e a repressão à deslealdade 209. Retomemos, em seguida, a linha de pensamento que foi brevemente interrompida, uns poucos parágrafos atrás. Ora, sendo certo que a situação de confiança decorre diretamente das tratativas para a celebração de um contrato (ou mesmo da execução de tal contrato), então os deveres acessórios, que têm sua gênese ligada a esse mesmo dever de confiança, decorrem, ainda que indiretamente, da busca que as partes desenvolveram para a celebração da avença ou da execução da mesma. Em última análise, portanto, pode-se com tranqüilidade apontar que os deveres acessórios, surgidos embora em um momento pré ou póscontratual, ainda assim têm natureza contratual, pouco importando se o contrato nem chegou a ser formado ou se, ao contrário, já se extinguiu. Neste ponto, convém insistirmos na questão da independência dos deveres acessórios, frente às prestações principais e, mais do que isso, frente às relações obrigacionais nas quais se inserem. Tal conclusão pode ser negócio”. Cf. Cristiano de Sousa Zanetti, Responsabilidade pela ruptura das negociações no direito civil brasileiro, p. 119. 209 Judith Martins-Costa, O adimplemento e o inadimplemento das obrigações no novo Código Civil e o seu sentido ético e solidarista. In: Franciulli Netto, Domingos; Mendes, Gilmar Ferreira e Martins Filho, Ives Gandra da Silva (Coord.). O Novo Código Civil – Estudos em Homenagem ao Prof. Miguel Reale, pp. 349. 183 facilmente obtida quando se observa que os deveres acessórios se manifestam ainda quando a relação obrigacional não chegou a ser formada, como vimos nos diversos exemplos acima, tanto em relação ao dever de proteção, quanto ao de lealdade e ao de informação. Da mesma forma, se a relação obrigacional viesse a ser constituída mas depois anulada em virtude de um vício, ainda assim haveria os deveres laterais. Assim, por exemplo, suponha-se que pessoa absolutamente incapaz viesse a comprar uns móveis em uma loja. O contrato de compra e venda, no caso, é nulo de pleno direito. Não obstante, se os funcionários da loja, não tendo ainda sido detectada a nulidade, vão efetuar a entrega na residência do comprador, e lá quebram um vidro ou provocam algum outro prejuízo, é evidente que o vendedor deverá ressarci-lo, por ter violado o dever lateral de proteção (neste caso, em relação ao patrimônio do outro sujeito). Veja-se, pois, que para a ocorrência do dever lateral mostra-se irrelevante a eventual nulidade do negócio obrigacional, o que confirma a independência mencionada, entre os deveres acessórios e a obrigação. Dessarte, antes da conclusão do contrato têm-se os deveres que se relacionam à culpa in contrahendo, cuja violação dá origem à responsabilidade pré-contratual. Após o cumprimento do contrato, por sua vez, a violação dos deveres acessórios dá origem à responsabilidade póscontratual. Mas é claro que, além desses deveres acessórios acima exemplificados, e que se manifestam antes do contrato se formar ou mesmo depois de sua extinção, é evidente que outros existem e que se concretizam ao longo da vigência do contrato, quando, após a sua celebração, o mesmo ainda está sendo cumprido ou nem ao menos começou a sê-lo. À guisa de mais um exemplo, suponha-se que uma fábrica de automóveis e uma loja celebraram um contrato para que a segunda passasse a 184 vender, na cidade onde está estabelecida, os veículos fabricados pela primeira, sendo que no contrato não foi estabelecido o prazo de vigência. Para que o contrato pudesse ser adequadamente cumprido, o lojista precisou efetuar algumas despesas que são inerentes ao ramo de venda de veículos, tais como a construção de um amplo pátio de exposição dos automóveis, expositores elevados e giratórios, treinamento de pessoal, propaganda, etc. No entanto, sabe-se que, em regra, os contratos de prazo indeterminado podem ser rescindidos a qualquer momento pelas partes contratantes, mediante aviso prévio concedido à outra210, uma vez que ninguém pode ser obrigado a contratar ou a se manter vinculado a um contrato. Nessas condições, poucos meses após a inauguração da loja de venda de veículos, o fabricante dos automóveis resolve denunciar o contrato, dando aviso prévio de que em sessenta dias o mesmo será rescindido e não mais permitirá que o comerciante continue a vender seus veículos. Ora, é certo que o lojista, dono da revendedora, ao efetuar as significativas despesas que se fizeram necessárias, para que pudesse dar início ao negócio, fê-lo por acreditar que o mesmo teria duração suficiente para que seus elevados investimentos pudessem ser recuperados, pois com certeza não os faria se soubesse da breve ruptura do contrato. Assim, o procedimento adotado pelo fabricante, rompendo muito cedo e de modo injustificado o contrato, quebra a confiança do revendedor, e por isso viola um dever acessório ligado à conduta dos contratantes no cumprimento do contrato. 210 Nesse sentido, alerta Humberto Theodoro Júnior, O contrato e seus princípios, p. 143, que “nos mecanismos legais de certos contratos onde se inclui, tradicionalmente, a faculdade da resilição unilateral, figuram sempre ressalvas em defesa do outro contratante, para que o exercício do direito potestativo de romper prematuramente o vínculo contratual não se faça de maneira ruinosa ou excessivamente lesiva para ele. A necessidade de um aviso ou notificação seguida de um certo prazo são medidas que invariavelmente se impõem ao denunciante do contrato”. 185 Essa situação, em particular, foi positivada pelo artigo 473, parágrafo único, do atual Código Civil brasileiro, que expressamente se refere aos contratos onde é admitida a resilição unilateral, esclarecendo que nos casos onde uma das partes precisou efetuar investimentos vultosos, a denúncia do contrato pela outra só irá produzir efeitos jurídicos depois de ter transcorrido um tempo que se mostre compatível com o vulto dos investimentos realizados. Na realidade, em face do que foi dito acima, neste ponto convém que se faça um breve reparo, de modo a que possamos melhor vislumbrar os limites impostos pela boa-fé à conduta do sujeito. É que, poucas linhas atrás, mencionamos que, em regra, os contratos de prazo indeterminado podem ser rescindidos a qualquer tempo pelas partes contratantes, mediante a concessão de aviso prévio à outra. Mais adequado, portanto, é que se faça a ressalva no sentido de que os contratos de prazo indeterminado, salvo abuso no exercício de tal direito211, podem ser rescindidos a qualquer tempo. E essa situação retratada pelo artigo 473, do nosso Código Civil, busca reprimir precisamente essas situações de abuso. No entanto, de um modo geral, ao contrário do que ocorreu em outros Códigos, o nosso Diploma Civil foi muito tímido ao regular a necessidade de que os contratantes observem uma conduta de boa-fé, e que em última análise significa na observância estrita dos deveres acessórios. Com efeito, o Código Civil pátrio, em seu artigo 422, estabelece que os contratantes são obrigados a guardar, na conclusão e na execução do contrato, o princípio da boa-fé. Não se referiu o nosso Código, como se vê, aos momentos que antecedem a conclusão da avença, ou seja, a fase pré211 Nesse mesmo sentido a lição de Béatrice Jaluzot, La bonne foi dans les contrats: Étude comparative de droit français, allemand et japonais, pp. 351, n° 1239. 186 contratual, e nem à fase posterior à execução contratual, vale dizer, ao momento pós-contratual212. Ao contrário do nosso, que é silente a respeito, o Código Civil italiano, em seu artigo 1.337, aponta expressamente que as partes devem se comportar de acordo com a boa-fé desde o desenvolvimento das negociações, estabelecendo de modo claro, portanto, a questão dos deveres acessórios précontratuais. De igual forma, o Código Civil português, em seu artigo 227, estabelece que a boa-fé deve ser observada pelos negociantes tanto nas negociações preliminares quanto na formação do contrato. De qualquer modo, parece evidente que o fato de ter sido sucinto o nosso Código Civil não tem o condão de afastar os deveres acessórios que se verificam nos momentos pré e pós-contratual213. É que tais deveres, como já mencionamos brevemente, supra, decorrem da imposição de uma conduta de boa-fé aos contratantes (ou aos que se aproximam com a mera possibilidade de se tornarem contratantes), e tal conduta, ainda que não esteja indicada de modo explícito, sempre o estará de modo implícito214. 212 Nesse ponto, portanto, é plenamente justificada a crítica de Antônio Junqueira de Azevedo, que na análise do então Projeto de Código Civil já apontava, dentre as insuficiências no tratamento dado à questão da boa-fé objetiva, a falta de previsão quanto à necessidade de sua observação nas fases pré e pós-contratual. Cf. Antônio Junqueira de Azevedo. Insuficiências, deficiências e desatualização do Projeto de Código Civil na questão da boa-fé objetiva nos contratos. Revista trimestral de direito civil – v. 1, pp. 5. Contudo, como esclareceremos logo adiante, no texto acima, essas deficiências podem ser – e são – facilmente supridas pelo intérprete, para tanto bastando que se proceda à interpretação sistemática. Além do mais, como o princípio da boa-fé tem assento constitucional (veja-se, a respeito, o item 1.6.1, retro), o mesmo se estende por todas as fases do contrato, inclusive os momentos pré e pós-contratuais. 213 E também nos parece evidente que não se pode dizer que “o intérprete do direito brasileiro está forçado a percorrer um caminho mais longo do que os juristas italianos e portugueses para cuidar do período das negociações”, como, ao nosso ver de modo equivocado, assinala Cristiano de Sousa Zanetti, Responsabilidade pela ruptura das negociações no direito civil brasileiro, p. 109. 214 Não nos parece que mereça acolhida, nesse particular, a crítica de Antônio Junqueira Azevedo, para quem não é possível saber, a partir da análise do artigo 422, sequer se o mesmo representa uma norma cogente ou dispositiva, uma vez que o nosso Código Civil não teria adotado a clareza do Código Comercial Uniforme Americano, por exemplo, que de modo expresso assinala que a obrigação de boa-fé não pode ser afastada por contrato, vale dizer, é cogente. Cf. Antônio Junqueira de Azevedo. Insuficiências, deficiências e desatualização do Projeto de Código Civil na questão da boa-fé objetiva nos contratos. Revista trimestral de direito civil – v. 1, pp. 4. Não nos parece sequer que possa haver qualquer dúvida séria sobre o fato de que a norma em questão é imperativa, cogente, estando fora do alcance das vontades das partes. Nesse sentido, “a 187 Na realidade, mesmo muito antes da entrada em vigor do atual Código Civil, ou seja, na vigência do Código de 1916, que nem ao menos se referia à boa-fé contratual, nossos autores já admitiam de modo tranqüilo a responsabilidade pré-contratual, por exemplo. Orlando Gomes215, por todos, há muito já apontava que, embora as negociações preliminares não vinculem e nem obriguem a contratar, é possível que, em circunstâncias especiais, sua ruptura brusca, depois de ter sido gerada na outra parte a expectativa de que o contrato seria celebrado, venha a resultar no dever de indenizar. Não havendo dúvidas sobre a possibilidade de ser cabível a indenização, prossegue Orlando Gomes, na mesma obra e local, esclarecendo que a única dúvida que remanesce é quanto ao fundamento dessa obrigação de reparar os danos, havendo três opiniões doutrinárias distintas: a) para uns, o fundamento se encontra na teoria da culpa in contrahendo, ou seja, aquele que vê frustrada sua fundada esperança de contratar, tem direito à reparação dos prejuízos sofridos; b) para outros, o fundamento é a teoria do abuso do direito, pois romper caprichosamente as negociações preliminares seria um comportamento abusivo, sujeitando o agente ao dever de reparar o dano; c) para outros, finalmente, o fundamento dessa responsabilidade se encontra no princípio segundo o qual os interessados na celebração de um contrato devem comportar-se de boa-fé, procedendo com lealdade recíproca216. boa-fé opera ex lege. Nem ao agente é dado excluí-la, nem evitá-la. Produz-se ela no mundo fático”. Cf. Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, tomo 1, p. 197. No mesmo sentido, Rogério Ferraz Donnini, Responsabilidade Pós-Contratual no Novo Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor, p. 112, afirma que “embora o artigo [422] em análise tenha uma redação pouco precisa, indiscutivelmente em todas as fases (pré-contratual, contratual e pós-contratual) está ínsito o dever de boa-fé e probidade, mesmo porque se trata de cláusula geral, que impõe essa atitude de probidade e correção não somente nas relações contratuais, mas também em qualquer outra relação jurídica, comando esse de ordem pública, consoante estabelecido no parágrafo único do art. 2.035 do novo Código Civil”. 215 Orlando Gomes, Contratos, p. 64. 216 Antônio Chaves, no entanto, cataloga seis teorias diferentes, todas buscando explicar qual seria o fundamento dessa responsabilidade contratual: a) teorias de base contratual pura; b) de base contratual especial ou quase contratual e do enriquecimento indevido; c) baseadas no conceito de convenção ou de garantia tácita; d) na noção de declaração unilateral de vontade; e) na responsabilidade decorrente de dolo ou 188 Na realidade, o que nos parece é que a responsabilidade in contrahendo, sem sombra de dúvida, encontra seu suporte no princípio da boa-fé, por isso que as três correntes mencionadas pelo mestre Orlando Gomes, na verdade, nada mais são do que facetas da boa-fé, ou seja, todas têm por pano de fundo a boa-fé normativa. Para que se chegue à conclusão mencionada no parágrafo anterior, sobre a aplicabilidade ampla da norma de conduta decorrente da boafé, basta que se observe, a respeito, que mesmo na vigência do nosso anterior Código Civil, que não se referia expressamente ao princípio da boa-fé, a doutrina217 já apontava com tranqüilidade que o mesmo era um dos princípios gerais a serem observados em relação aos contratos. Logo, em se tratando de princípio, será aplicável em todos os momentos jurídicos, e não apenas durante a execução do contrato, mas também nos momentos pré e póscontratuais. Na realidade, aqui se reforça tema que já foi previamente examinado, na ocasião sendo tratado com maiores riquezas de detalhes (vejase, retro, sobre a classificação jurídica da boa-fé, nota de rodapé inserida no item 1.5). É que a boa-fé, recorde-se, na verdade, se apresenta como um princípio geral, e não apenas em um princípio setorial, aplicável ao campo do direito contratual. Logo, além de encontrar aplicação nos momentos anteriores de culpa devidamente verificados; f) na noção de abuso do direito; g) nas noções de boa-fé, de eqüidade e dos usos do comércio; h) de responsabilidade pré-contratual sui generis. Cf. Antônio Chaves, Responsabilidade Pré Contratual, p. 107. Deixamos de aprofundar o exame do tema, por se encontrar à margem do objetivo do presente trabalho. 217 Dentre outros, Antunes Varela, Direito das Obrigações, v. I, n° 57, p. 63. Dizia o ilustre jurista que “o princípio da boa-fé, em matéria de obrigaçoes, não se encontra explicitamente formulado no Código Civil brasileiro... Pode-se, todavia, sustentar que a regra da boa-fé constitui um dos princípios gerais de direito abrangidos na remissão genérica do art. 4° da Lei de Introdução, em face das suas aflorações especiais noutras zonas do Direito vigente”. No mesmo sentido a lição de Maria Helena Diniz, que ainda na vigência do Código Civil anterior já incluía a boa-fé como um dos princípios fundamentais do direito contratual, sendo que, segundo tal princípio, “as partes deverão agir com lealdade e confiança recíprocas”. Cf. Maria Helena Diniz, Curso de Direito Civil Brasileiro – v. 3 (1995), pp. 31-32. 189 à celebração do contrato e posteriores à sua extinção, a boa -fé também pode ser invocada para a regência de outros negócios jurídicos não inseridos dentre os contratos. Veja-se, para maiores detalhes sobre o caráter expansionista da boa-fé, abarcando inclusive o direito processual e o direito público, os itens 1.6 e 1.7, supra. É que os Códigos Civis, de um modo geral, se valeram de dois modos distintos, para determinar a observância da conduta conforme os ditames da boa-fé: em alguns, como ocorre no Código Civil espanhol e no Código Civil suíço, há uma regra contida na parte geral, que determina a adoção de conduta conforme a boa-fé em todos os negócios jurídicos; em outros, contudo, como é o caso do Código Civil brasileiro, do italiano e do argentino, a imposição da boa-fé como norma de conduta vem mencionada em uma espécie particular de relação jurídica, normalmente as obrigações ou os contratos. Na primeira hipótese, vale dizer, quando se trata de uma norma geral, não há maior dificuldade em se constatar a sua aplicabilidade ampla, em todos os negócios jurídicos. Mas mesmo na segunda hipótese, ou seja, quando a norma impositiva de conduta conforme os ditames da boa-fé vem ligada a um tipo específico de relação jurídica (como no caso do art. 422, do nosso Código Civil, voltado especificamente para as relações contratuais), ainda assim deve ser feita a sua transposição para as relações jurídicas em geral, seja por meio de aplicação da analogia ou, de modo mais direto, pela pura e simples aplicação do princípio geral, que se permeia por todo o tecido do ordenamento jurídico218. Retornando ao campo específico dos contratos, que no momento é o que mais diretamente nos interessa, é importante ressaltar que a aferição da 218 Delia Matilde Ferreira Rubio, La Buena Fe: el principio general em el derecho civil, p. 229. 190 responsabilidade pré-contratual não decorre do atendimento de qualquer formalismo do contrato em si mesmo. Com efeito, se por um lado é certo que, nos casos em que o contrato se apresenta como um negócio jurídico formal, enquanto não for atendida a forma indicada pela lei o mesmo não estará aperfeiçoado, por outro lado não se pode esquecer que as conversações que antecedem a conclusão do contrato jamais dependem de qualquer solenidade, e por isso a forma do negócio que se está sendo discutido se mostra absolutamente irrelevante para que possam surgir os deveres acessórios anteriores ao contrato. Na realidade, basta que se recorde o que já dissemos linhas atrás, no sentido de que os deveres acessórios são independentes das prestações centrais do negócio jurídico, e por essa razão o desatendimento do formalismo imposto pela lei no caso concreto, ainda que funcione como obstáculo intransponível quanto ao surgimento das prestações principais, em nada afetará o surgimento dos deveres acessórios. Aliás, como também já mencionamos, se é certo que mesmo na obrigação nula podem surgir deveres laterais válidos, pode-se com facilidade concluir que o não atendimento à forma legal gera a nulidade do negócio, mas não impede o surgimento de outros efeitos jurídicos acessórios. Assim, por exemplo, suponha-se que A e B entabulem conversações sobre uma doação, sendo que o primeiro, verbal e expressamente, diz que irá doar ao segundo uma determinada lancha. B, o donatário, não tendo onde guardar o bem que irá receber, celebra contrato de locação de vaga em uma marina, além de comprar um reboque para poder transportar a lancha com o seu próprio carro. Após esses gastos efetuados por B, no entanto, A recusa-se a assinar o contrato escrito de doação. Ora, sendo a doação um contrato formal, 191 eis que deve ser celebrado por escritura pública ou instrumento particular (art. 541, do Código Civil brasileiro), é evidente que não houve contrato válido, pois do ajuste verbal não surge negócio jurídico válido, nos casos em que a lei exige forma (artigos 104, III e 107, ambos do Código Civil). No entanto, houve negociações pré-contratuais, e para estas a lei não impõe – e nem poderia impor – qualquer formalismo, e por isso já se têm elementos suficientes para que se concretize a culpa in contrahendo (responsabilidade pré-contratual) de A. De tudo quanto se disse sobre os deveres acessórios, ressalta a idéia de que uma relação obrigacional, longe de ser uma simples oposição entre a pretensão do credor de receber (e exigir) uma determinada prestação e a posição contrária do devedor, que se vê compelido a prestá-la, é formada por um complexo de múltiplos efeitos jurídicos, múltiplas pretensões (e os deveres contrapostos) que são autônomas entre si, mas que pouco importam quando isoladamente consideradas, pois é do seu conjunto que surge a relação obrigacional em si mesma. Importante realçar, nessa linha de idéias, que uma relação obrigacional não é a simples soma dos deveres acessórios e das prestações centrais que a compõem. É que, na realidade, todo esse conjunto de efeitos jurídicos está orientado para uma mesma finalidade, direcionado para a conclusão e a execução satisfatórias da obrigação para todos os sujeitos envolvidos. Em outras palavras, a relação obrigacional é formada por elementos que são autônomos mas que compõem um organismo único, que é impulsionado sempre para a obtenção, por cada um dos envolvidos, da prestação central que lhe é devida. É nesse sentido que se fala em uma relação obrigacional como um todo, como um processo, ou seja, como uma série de atos (o atendimento 192 aos deveres diversos) que têm, todos, a mesma finalidade, que têm sempre o mesmo objetivo de realização integral das prestações devidas. Nas palavras de Mário Júlio de Almeida Costa219, “todos os referidos elementos [os deveres principais, os secundários e os laterais] se coligam em atenção a uma identidade de fim”. Assim, como todos os deveres acessórios estão sempre voltados para o atingimento do resultado final da obrigação, é possível que, ao longo do desenrolar desse processo, em virtude das circunstâncias do caso concreto, tais deveres sofram alterações ou adaptações, pois o comportamento que em uma certa situação se mostrava como sendo o mais adequado, de repente pode passar a ser caracterizado como uma conduta inadequada. No entanto, é certo que essas alterações pontuais dos deveres laterais, como sempre manterão a mesma orientação, no sentido de ser buscada a conclusão satisfatória das prestações, em absolutamente nada afetarão a relação obrigacional considerada no seu conjunto, ou seja, não terão o efeito de descaracterizar a obrigação em si mesma, que continuará a ser um conjunto de deveres, principais e acessórios, unidos pela mesma finalidade, ainda que um ou outro desses deveres possa ter sido eventual e pontualmente alterado. Começamos o presente item realçando que a boa-fé objetiva mantém estreita ligação com o tema das obrigações como um processo. Esse aspecto, na realidade, se apresenta como sendo de fundamental importância para a melhor análise do objeto principal do presente trabalho, que consiste precisamente no exame e no cotejo de comportamentos específicos, que implicam em violações da conduta que se poderia esperar a partir da boa-fé, 219 Mário Júlio de Almeida Costa, Direito das Obrigações, p. 63. 193 como veremos no capítulo seguinte. Como se configura, portanto, tal ligação? Vejamos. Vimos, nos parágrafos anteriores, que a relação obrigacional é formada por um complexo de prestações, dentre as quais algumas são centrais, ou seja, são o foco principal da relação, e outras são acessórias, mas que é a reunião de todas elas, principais e acessórias, que caracteriza a obrigação, pois as prestações secundárias (os deveres acessórios) são todas orientadas para uma mesma finalidade comum, que é a de que sejam adequadamente cumpridas ou aproveitadas as prestações principais. E também examinamos que, para que tal finalidade seja sempre atendida, por vezes será necessário que os deveres acessórios sofram adaptações ou modificações, para que continuem atuando no sentido de cumprimento das prestações primárias. E é exatamente aí que surge a necessidade de se recorrer à boa-fé, pois é esta que servirá como vetor de orientação para os deveres acessórios, indicando em cada momento qual deve ser o comportamento que melhor se coaduna com o cumprimento satisfatório e adequado da prestação principal. Ora, se é possível dizer que esse comportamento deve ser pautado pela ética, ou seja, que o sujeito deve se comportar de modo ético, e que o significado de tal afirmação só pode ser aferido com precisão no caso concreto, ou seja, de modo problemático, então podemos afirmar, na boa companhia de De Los Mozos 220, que: a) a boa-fé serve como veículo de recepção, para que seja possível a integração do ordenamento jurídico conforme uma regra ético-material; b) a boa-fé é um princípio problemático, um verdadeiro topos, que precisa ser chamado para atuar a cada momento em que se vai interpretar se um comportamento foi ou não adequado. 220 José Luis de Los Mozos, El Principio de La Buena Fe, pp. 34 e 36. 194 Faça-se, aqui, mais um breve parêntese para explicar, com esteio na lição de Delia Rubio 221, que a boa-fé, na realidade, é multifuncional, ou seja, cumpre diversas funções essenciais em todo o sistema jurídico, podendose destacar: a) funciona como critério informador do ordenamento jurídico, ou seja, é na boa-fé que têm origem várias normas concretas, voltadas especificamente para algumas situações peculiares; b) é um critério limitador da conduta que pode ser tida como juridicamente admissível; c) funciona, ainda, como critério interpretativo, devendo ser interpretada a norma jurídica de acordo com aquilo que, sob os ditames da boa-fé, se deveria entender; d) critério integrador, com força normativa para ser aplicada aos casos particulares, em relação aos quais não exista norma específica 222. Nessas duas últimas funções mencionadas, o que facilmente se percebe é que “el principio de la buena fe sirve para suplir, integrar y corregir el contenido del negocio [jurídico]” 223. Para nós, no presente estudo, interessa principalmente o segundo dos critérios acima indicados, ou seja, a função da boa-fé como critério 221 Delia Matilde Ferreira Rubio, La Buena Fe: el principio general em el derecho civil, pp. 162-164. Mas convém destacar que, como acontece com os institutos jurídicos em geral, há variações entre os diversos autores que cuidam de apresentar a classificação das funções da boa-fé. Assim, por exemplo, para Judith Martins-Costa a boa-fé objetiva cumpre três funções distintas: a) cânone hermenêutico-integrativo do contrato; b) norma de criação de deveres jurídicos; c) norma de limitação ao exercício de direitos subjetivos. Cf. Judith Martins-Costa, A boa-fé no Direito Privado, p. 428. Guilherme Martins, por sua vez, refere-se às funções interpretativa, de integração e de controle. Cf. Guilherme Magalhães Martins, Boa-fé e contratos eletrônicos via Internet. In : Tepedino, Gustavo (Coord.). Problemas de Direito Civil-Constitucional, p. 139. Já para Maurício Jorge Mota, as multifunções da boa-fé podem ser desmembradas em: a) interpretativa; b) integrativa; c) de controle; e d) de resolução dos contratos. Cf. Maurício Jorge Mota, A pós-eficácia das obrigações. In: Tepedino, Gustavo (Coord.). Problemas de Direito Civil-Constitucional, p. 196. E várias outras classificações podem ser encontradas, se pesquisarmos vários outros autores, mas no essencial, inobstante as variações quanto às denominações usadas, não se verifica substancial diferenças, nas classificações diversas, entre as funções cumpridas pela boa-fé. 223 José Luis de Los Mozos, El Principio de La Buena Fe, p. 46. E esclarece o respeitado autor espanhol, mais à frente (p. 180), que na integração, a boa-fé atua para completar o quadro dos efeitos do negócio jurídico, enquanto a interpretação apenas se refere ao conteúdo da declaração de vontade. Ocorre que o papel essencial da boa-fé objetiva é que, normalmente, se apresenta como normativa, ou seja, se apresenta como fonte de onde se originam normas de conduta, o que corresponde à função de integração da vontade negocial. Por essa razão, o ilustre jurista espanhol denomina a boa-fé objetiva de imprópria, quando a mesma atua em matéria de interpretação. 222 195 limitador, capaz de marcar a divisão entre os comportamentos que podem e os que não podem ser admitidos como juridicamente válidos. Nesse sentido, a boa-fé tanto funciona em relação ao exercício dos direitos, sendo limite que, uma vez ultrapassado, dá origem ao abuso do direito – e tanto assim que o nosso Código Civil foi expresso (art. 187) ao apontar que se constitui em exercício abusivo do direito aquele que excede manifestamente, dentre outros limites, o que é traçado pela boa-fé – quanto em relação ao cumprimento dos deveres e, de modo mais geral, a todas as condutas que devem ser observadas pelos sujeitos em uma relação jurídica. Mas é importante recordar que, quando falamos em limitação da conduta do sujeito, não estamos nos referindo apenas à proibição de adoção de determinados comportamentos, ou seja, apenas a limites negativos. Na verdade, essa limitação, para que a conduta possa ser localizada dentro dos parâmetros criados pela boa-fé, também se apresenta de modo positivo, ou seja, como a imposição de que o sujeito adote certos comportamentos, como por exemplo no dever de prestar assistência, que se impõe às partes contratantes mesmo depois que o contrato já se extinguiu pelo cumprimento das prestações principais, como já examinamos, retro. Ou, ainda, no dever de cooperação, que se impõe a cada um dos contratantes, para possibilitar que o outro possa cumprir sua prestação. Vejase, retro, para maiores detalhes, o item 1.6 do presente estudo. E mais, é ainda dentro dessa função de limitadora da vontade que vamos encontrar importantíssimo aspecto do princípio da boa-fé, que é o de permitir o controle do conteúdo dos contratos ou, de modo mais genérico, o controle da autonomia da vontade (configurando, portanto, a autonomia 196 privada) 224. Em outras palavras, é sabido que a autonomia da vontade encontra diversos limites, e dentre estes podem ser enquadrados os que são impostos pela boa-fé e para os quais devem ser observadas as repercussões sobre as outras pessoas que vivem na mesma sociedade. A teoria do contrato, por isso mesmo, não pode mais partir da idéia de que é na vontade, como fonte única, que estão esteadas as relações jurídicas, e por essa razão a referida teoria se encontra recheada de normas de ordem pública, que se destinam à proteção de grupos de contratantes, das disposições imperativas que se impõem nas relações de consumo e nos contratos de adesão, das normas que estabelecem uma diretriz para a economia como um todo, etc. E esse conjunto de normas tem mudado substancialmente o enfoque jurídico das declarações da vontade, pois o Direito Privado começa a se interessar não apenas pelas conseqüências públicas das ações privadas, mas também pelo seu impacto sobre os demais 224 Como esclarece Judith Martins-Costa, o direito obrigacional moderno se desenvolveu com apoio no conceito de autonomia da vontade, assim entendida a liberdade humana para a criação de vínculos jurídicos. Ocorre que essa expressão realça a vontade humana como causa maior (e quase exclusiva) do nascimento das relações jurídicas, e aí reside a sua falha. Ora, hoje é pacífica a idéia de que a autonomia deve ser exercida em estreita ligação com o respeito à dignidade humana e com a promoção do desenvolvimento da personalidade, que devem servir de parâmetro para a vida em comunidade. Dessa forma, a expressão inicial evoluiu para a “autonomia privada”, que poderia ser descrita como a autonomia da vontade temperada pelos vetores acima mencionados, de mo do tal que na base dos negócios jurídicos não se encontra apenas a vontade dos particulares envolvidos, mas também os limites e as condutas negativas ou positivas que são impostas pelos referidos vetores. Dito de outra forma, a vontade dos particulares, ao ser manifestada, está condicionada e limitada pelo ordenamento jurídico que a reconheceu aos declarantes, e por isso o negócio jurídico passa a ser formado não apenas pela vontade dos sujeitos, mas também por um setor que escapa a essa vontade, e que por ela não pode ser atingido, nem afastado e nem ao menos modificado. E a autora prossegue, sugerindo que, hoje, a denominação mais adequada seria a de autonomia solidária, tendo em vista a necessária correlação que deve haver entre a autonomia privada e a função social, como se encontra expresso no artigo 421, do Código Civil brasileiro, sendo certo que essa função social, que se constitui em elemento constitutivo da própria autonomia (e não apenas um agente externo limitador), impõe uma atuação solidária, que permita a permanente busca do atingimento de uma solidariedade justa e solidária, o que se apresenta como um dos objetivos fundamentais da nossa República. Cf. Judith Martins-Costa, O adimplemento e o inadimplemento das obrigações no novo Código Civil e o seu sentido ético e solidarista. In: Franciulli Netto, Domingos; Mendes, Gilmar Ferreira e Martins Filho, Ives Gandra da Silva (Coord.). O Novo Código Civil – Estudos em Homenagem ao Prof. Miguel Reale, pp. 345-347. 197 indivíduos da mesma comunidade, levando a que se atribua status jurídico a bens que antes eram irrelevantes225. No entanto, embora se mostre óbvio, convém que se ressalte que não foi suprimido – e nem poderia sê-lo – integralmente o princípio da autonomia da vontade, pois o que ocorreu foi a redução (substancial, é verdade) de sua importância, pois tal princípio, que antes era visto como um dogma inafastável e basilar pela teoria contratual clássica, deixou de sê-lo, passando a dividir espaço com uma série de normas que se encontram fora do campo volitivo e que o limitam e condicionam, eis que a visão clássica hoje se revela completamente anacrônica, não mais se coadunando com o momento atual226. Assim, suponha-se que em um contrato as partes contratantes adotaram cláusula explícita, acerca de um dos aspectos do negócio. Tal cláusula poderá ser afastada pelo juiz, caso este entenda que a mesma não obedece aos comandos do princípio da boa-fé. Esse aspecto específico, de controle do conteúdo convencional, será visto logo adiante, neste mesmo item, mas desde logo podemos observar que, na realidade, do princípio geral da boa-fé decorrem direitos para os sujeitos de um negócio jurídico, e tais direitos não podem ser afastados pelas cláusulas convencionais estipuladas por esses mesmos sujeitos 227. 225 Ricardo Luis Lorenzetti, Fundamentos do Direito Privado, pp. 83-84. Alinne Arquette Leite Novais, Os Novos Paradigmas da Teoria Contratual: O Princípio da Boa-fé Objetiva e o Princípio da Tutela do Hipossuficiente. In: Tepedino, Gustavo (Coord.). Problemas de Direito Civil-Constitucional, p. 21. 227 Veja -se, aliás, que esse papel criador de direitos foi reconhecido de modo explícito pelo artigo 7°, do Código de Defesa do Consumidor, que se refere aos direitos que “derivem dos princípios gerais de direito”, e em relação, especificamente, ao princípio da boa-fé, nada mais é do que uma conseqüência lógica e simétrica do papel limitador por ele exercido. Com efeito, quando em virtude da aplicação da boa-fé um dos sujeitos tem os seus direitos sendo limitados, isso significa que, automática e simetricamente, para o outro ocorreu o surgimento de algum direito. Assim, por exemplo, quando em virtude da boa-fé um dos sujeitos sofre restrição quanto ao seu direito de resilir o contrato, isso significa que, para o outro, surgiu o direito de exigir que esse mesmo contrato seja mantido vigente. 226 198 Retomemos o exame dos deveres acessórios. Imagine-se, por exemplo, que ao credor é possível a adoção de dois comportamentos, sendo que ambos conduzirão à satisfação da prestação principal que lhe é devida, mas sendo que um deles imporá um enorme sacrifício patrimonial ao devedor, dúvidas não há em se afirmar que o credor, que deverá ter sempre seu comportamento orientado no sentido coincidente com aquele que é indicado pelo vetor boa-fé, terá que adotar, necessariamente, a atitude que se mostrar menos prejudicial para o outro sujeito. Tal regra, aliás, foi positivada em nosso direito especificamente em relação ao processo de execução (Código de Processo Civil, art. 620), mas por força da atuação balizada pelo princípio da boa-fé pode ser estendida para toda e qualquer relação substancial, transcendendo os procedimentos processuais. Como observa Judith Martins-Costa228, a respeito desse mesmo tema, a questão é que, se por um lado, toda a relação obrigacional encontra-se direcionada para o seu adimplemento, uma vez que é em tal momento que se realiza o interesse principal do credor, por outro lado, no processo obrigacional há todo um conjunto de interesses envolvidos, e nesse conjunto se incluem não apenas outros interesses do próprio credor, que não se vinculam direta ou indiretamente à prestação principal, mas também os interesses que derivam dos deveres de conduta e que se vinculam à manutenção do estado patrimonial e pessoal dos sujeitos envolvidos, inclusive os interesses do devedor, ligados à confiança que se encontra presente em toda relação intersubjetiva legítima. 228 Judith Martins-Costa, O adimplemento e o inadimplemento das obrigações no novo Código Civil e o seu sentido ético e solidarista. In: Franciulli Netto, Domingos; Mendes, Gilmar Ferreira e Martins Filho, Ives Gandra da Silva (Coord.). O Novo Código Civil – Estudos em Homenagem ao Prof. Miguel Reale, pp. 347348. 199 Como se observa, portanto, mesmo em relações obrigacionais onde apenas um dos sujeitos envolvidos tenha prestação principal a ser cumprida, ainda assim a posição do credor não pode ser definida como estando isenta de qualquer prestação, pois sempre haverá a presença dessas prestações secundárias, que são os deveres laterais, que deverão ser por ele observados, de modo que receba a prestação que lhe é devida, mas que ao fazê-lo não imponha ônus desmesurado e inaceitável à outra parte. Trata-se, no caso, do dever de colaboração, que é imposto ao credor, e que em nosso direito pode ser obtido, para os negócios jurídicos em geral, a partir do artigo 187, do Código Civil, que manda que os direitos sejam exercidos, dentre outros limites, dentro daqueles que são impostos pela boa-fé. E em relação aos contratos, em particular, esse mesmo dever de colaboração pode ser facilmente extraído a partir do artigo 422, do mesmo Código Civil, que determina aos contratantes que suas atuações sejam sempre pautadas pelo princípio da boa-fé. De outra parte, é evidente que também ao devedor serão impostos deveres acessórios, e que também serão orientados, em cada momento, pela conduta pautada na boa-fé. Assim, por exemplo, se o devedor dispuser de vários modos para o cumprimento de sua prestação principal, sendo-lhe indiferente a adoção de um ou de outro, deverá sempre adotar aquele que, no caso concreto, permita ao credor o melhor aproveitamento de tal prestação. Em um caso concreto, por exemplo, suponha-se que o locatário, findo o contrato de locação do imóvel, deva entregá-lo pintado ao locador, sendo que no instrumento contratual, no entanto, não se fixou qual deve ser a cor da tinta a ser utilizada na pintura. Em tal caso, o locatário poderá, em um sentido literal emprestado à cláusula contratual, desincumbir-se da prestação pintando o imóvel com tinta de qualquer cor, inclusive preta ou roxa. No 200 entanto, parece evidente que se o fizer não estará se comportando conforme a boa-fé, pois claramente estará impondo danos desnecessários ao locador, cujo imóvel será desvalorizado, exigindo uma nova pintura para que tal não ocorra. O comportamento adequado, portanto, interpretando-se a disposição contratual com base no princípio da boa-fé, parece indicar que a pintura deverá ser feita usando-se a mesma cor que havia quando o imóvel foi entregue pelo locador ao locatário, sob pena de infração severa dos deveres ditados pela boa-fé. Como se vê, a boa-fé serve não apenas para pautar, a cada momento, a conduta dos sujeitos envolvidos na relação obrigacional, mas também como orientação na interpretação de cláusulas contratuais. Colocamos em maior destaque, supra, a questão dos deveres acessórios no momento pré-contratual, uma vez que foi em relação a tal momento que se desenvolveu o estudo da culpa in contrahendo. No entanto, também ao longo da execução do contrato, são variadas as formas pelas quais tais deveres podem se manifestar. Assim, por exemplo, suponha -se que um empregado, enquanto prestava seus serviços ao empregador, estava trabalhando a uma altura de cinco metros, em relação ao solo, sem que lhe tivesse sido fornecido qualquer equipamento de segurança, quando veio a cair, ferindo-se gravemente ou mesmo vindo a morrer. Nesse caso, pode-se com tranqüilidade apontar que o empregador violo u o dever lateral de proteção, pois deveria ter adotado todas as medidas para que o trabalho fosse prestado de modo seguro pelo empregado, afastando ou pelo menos minimizando os riscos, e por tal razão deverá responder pelos danos causados ao trabalhador. Essa responsabilidade do empregador, não é demais lembrar, foi explicitamente indicada no artigo 7º, XXVIII, da Constituição Federal. 201 Também o dever secundário de esclarecimento (informar) se manifesta com enorme freqüência, ao longo da execução dos contratos, ganhando destaque em alguns contratos específicos, como o de prestação de serviços por advogado. É que o profissional da área jurídica, detentor dos conhecimentos técnicos, deve sempre esclarecer ao cliente que o procura, e que apenas conhece os fatos, mas não o direito aplicável, quais são os riscos referentes à sua pretensão, assim como as possíveis conseqüências do ajuizamento da ação. Aliás, o Código de Ética e Disciplina da OAB, dispõe expressamente em seu artigo 8º que o advogado deve informar o cliente, de forma clara e inequívoca, quanto a eventuais riscos de sua pretensão, e das conseqüências que poderão advir da demanda. Assim, por exemplo, suponha-se que, em uma investigação de paternidade, o investigado, estando certo de que não é o pai do investigante, sente-se indignado com a determinação para que se submeta ao exame de DNA, e recusa-se a fazê-lo. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento no sentido de que a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz presunção juris tantum de paternidade (Súmula 301). Assim, deverá o advogado informá-lo sobre as possíveis conseqüências de sua recusa, para que o investigado decida, sabendo o que poderá vir a ocorrer, se lhe é conveniente insistir em tal comportamento. Em outro exemplo, imagine-se que uma empregada, tendo sido dispensada sem justa causa, pleiteia judicialmente a reintegração ao emprego esteada no argumento de que estava grávida ao ser dispensada. O empregador, reconhecendo embora que a gravidez existia, recusa-se a admitir a volta da empregada, informando ao seu advogado que não tinha conhecimento do estado gravídico da trabalhadora, e por isso pedindo-lhe que conteste o pedido e, se necessário, recorra de eventual sentença adversa. 202 O advogado do réu, em tal situação, deverá esclarecer-lhe no sentido de que os tribunais superiores, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Tribunal Superior do Trabalho, há muito já pacificaram o entendimento de que a regra constitucional que protege a empregada gestante contra a dispensa imotivada (Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, art. 10, II, b), é de natureza objetiva, e não subjetiva, ou seja, a gravidez é protegida em si mesma, pouco importando se era conhecida ou não. Logo, deverá o advogado informar ao cliente que, muito provavelmente, será vencido ao final, e apenas conseguirá procrastinar o resultado e aumentar seus gastos com o processo. Interessante notar que, nesse caso particular do advogado, o dever acessório de informar se desdobra em um dever de se manter informado e atualizado sobre os temas de sua profissão, pois é certo que o advogado não poderá informar adequadamente o cliente se ele mesmo estiver desatualizado em relação às inovações legislativas ou às posições dos tribunais. Veja-se, portanto, que nesse caso o dever de agir conforme a boa-fé acaba por se confundir com o dever de continuar estudando e se aperfeiçoando, de modo a se manter atento às novidades em sua área profissional. Também nos contratos de prestação de serviços médicos o dever acessório de informação ganha bastante destaque, face à importância do que está em jogo, ou seja, a saúde do paciente. Assim, antes de dar início a um tratamento médico ou a uma intervenção cirúrgica que podem ter graves conseqüências, o médico tem o dever de esclarecer o paciente sobre o seu real estado de saúde e sobre as possíveis conseqüências que advirão do tratamento. É que, algumas vezes, essas conseqüências são tão gravosas, ou submetem o paciente a um risco tão grande, que ele poderá optar por não se sujeitar ao 203 tratamento. Para que possa tomar tal decisão, contudo, é evidente que precisará ser informado pelo médico. A respeito desse tema, não é demais observar que o nosso Código Civil brasileiro, em seu artigo 15, esclareceu que ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. Facilmente se percebe que, em tal disposição, está embutido implicitamente o dever do médico de prestar ao paciente todas as informações que se fizerem necessárias para a avaliação do risco, para que possa decidir se valerá a pena (ou não) sujeitar-se ao tratamento que poderá causar-lhe a morte ou deixar graves seqüelas. Suponha-se a hipótese, por exemplo, de uma pessoa que tenha sido atingida por um tiro, estando há vários anos com a bala alojada na base do crânio, nas proximidades do coração, ou em qualquer outra área delicada do organismo humano. Se essa pessoa vem a procurar um cirurgião, para a retirada da bala, o médico deverá informá-la se existem e quais são os riscos de tal intervenção cirúrgica. É possível, por exemplo, que como conseqüência da cirurgia o paciente venha a morrer ou a se tornar tetraplégico, e nesse caso talvez prefira continuar convivendo com a bala em seu organismo, como faz há vários anos, embora consciente que isso também poderá trazer-lhe graves problemas no futuro. Mas é evidente que esse dever de informação, embora avulte nesses dois tipos de contratos indicados, também se verifica nos mais variados tipos de negócios. Assim, por exemplo, em uma situação real que presenciamos, em relação ao contrato de prestação de serviços de telefonia celular móvel, uma determinada operadora de telefonia divulgava, em sua publicidade, que sua área de cobertura atingia todo o interior do Estado. Além 204 disso, divulgava também as inovações tecnológicas e as vantagens da tecnologia CDMA. Um cliente, diante de tais informações, trocou seu antigo aparelho de telefonia celular, que usava tecnologia TDMA, por um dos novos modelos, aproveitando promoção que oferecia descontos e parcelamentos. Ocorre que esse cliente trabalhava no interior do Estado, para onde viajava com grande freqüência. Na primeira viagem, para sua surpresa, descobriu o cliente que no interior do Estado só funcionavam os aparelhos que usavam a tecnologia antiga, TDMA, pois a operadora ainda não havia disponibilizado o uso da tecnologia CDMA. Como se vê, na hipótese acima, claramente a prestadora de serviços telefônicos não se desincumbiu do dever de informar, pois em nenhum momento, quer em seus anúncios de publicidade, quer no contato direto com o cliente, informou-o sobre essa restrição de uso. Aliás, é até desnecessário apontar que o dever de informar, também nos contratos de consumo em geral, se revela de extrema importância, inclusive havendo quem sustente que uma das causas de desequilíbrio das relações entre consumidores e fornecedores é precisamente a desigualdade de informações entre as partes, ou seja, os fornecedores conhecem bem os seus produtos e serviços oferecidos no mercado, enquanto a maioria dos consumidores é incapaz de avaliar e comparar com os similiares esses produtos e serviços. Por essa razão, vale dizer, para buscar o equilíbrio das relações contratuais entre consumidores e fornecedores, foi que se desenvolveu a idéia de se reconhecer, em favor do consumidor, um direito à informação 229. Em relação ao dever acessório de lealdade, a ser observado quanto aos contratos que se encontram em vigor, aplicação prática de grande 229 Sílvio Luís Ferreira da Rocha, A Oferta no Código de Defesa do Consumidor, pp. 86-87. 205 utilidade é a que se relaciona à questão das prestações centrais que foram cumpridas, mas que o foram de modo imperfeito. É de se observar, inicialmente, que ao tratar da exceção do contrato não cumprido, nosso Código Civil, no artigo 476, estipula que nenhum dos contratantes, nos contratos bilaterais, poderá exigir o cumprimento da prestação, pelo outro, antes de ter cumprido a sua própria. Ocorre que, algumas vezes, um dos contratantes cumpriu a sua prestação, mas o fez de modo defeituoso, ou seja, não atendeu integralmente aos ditames contratuais, e apesar disso se põe a exigir o cumprimento da prestação do outro. Veja-se que tal hipótese não se enquadra integralmente na que se encontra prevista no suso mencionado artigo 476, do Código Civil, pois o referido dispositivo legal se refere ao não cumprimento da prestação, enquanto na hipótese figurada tem-se o cumprimento defeituoso. O demandado, ao ser exigido, certamente argüirá a exceptio, o que é perfeitamente válido, pois de fato não recebeu exatamente a prestação que lhe era devida. No entanto, não se pode perder de vista que, se essa prestação, ainda que defeituosamente cumprida, apresentou resultado útil para o demandado, este, por obediência ao dever de lealdade, deverá dispor-se a contraprestar a parcela da prestação que recebeu e da qual obteve proveito. Hipótese de aplicação concreta dessa situação descrita em tese no parágrafo anterior é a prevista no artigo 606, do Código Civil, referente ao contrato de prestação de serviços. Com efeito, dispõe a referida norma legal que, quando o prestador dos serviços não estava habilitado para prestá-los, não poderá requerer a remuneração normalmente paga para os serviços daquela espécie. No entanto, o mesmo dispositivo do Diploma Civil ressalva que, se desse serviço, ainda que prestado por pessoa não habilitada, houve 206 resultado útil para o outro contratante, deverá este pagar uma retribuição razoável, conforme o proveito que tenha obtido, ou seja, deverá contraprestar a parcela que recebeu e que lhe foi útil, ainda que não corresponda exatamente à prestação que lhe era devida. No exemplo acima, o dever de lealdade foi mencionado em relação ao demandado, que para atendê-lo deverá contraprestar a parcela da prestação que recebeu com proveito. No entanto, esse mesmo dever, mutatis mutandis, pode ser apontado em relação ao autor da ação. Com efeito, se o credor já recebeu uma parte do pagamento, a toda evidência deverá, ao efetuar a cobrança, fazer a ressalva da parte que já recebeu, sob pena de infringir o dever de comportar-se com lealdade. Nesse sentido é que o artigo 940, do Código Civil brasileiro, impõe ao credor o dever de, ao demandar dívida que já foi parcialmente paga, fazer a ressalva da parcela recebida, sob pena de ter que indenizar o devedor. Imposição específica, como se vê, do dever acessório de lealdade, que de todo modo já decorreria da observância da boa-fé. Vimos, até aqui, que os agentes de um negócio jurídico têm seu comportamento balizado, em cada momento, por uma série de deveres laterais, ou seja, ocorre a imposição de uma série de comportamentos que devem ser observados, em cada momento, pelos sujeitos envolvidos. Esses comportamentos se impõem desde a fase pré-negocial até depois da extinção do negócio, passando ainda, obviamente, pelo período em que o negócio estava sendo cumprido pelas partes. Observamos, também, que o mesmo dever acessório, conforme o momento e as circunstâncias que o acompanham, em cada caso concreto, poderá apresentar-se com algumas modificações, ou seja, a observância de um dever lateral não significa que o sujeito deverá sempre manter o mesmo 207 comportamento, em todos os momentos. Muito pelo contrário, essa conduta a ser observada será sempre transformada pelos fatores externos de cada momento do negócio. Assim, o dever de proteção, por exemplo, na fase pré-contratual poderá significar a diligência para evitar que o outro sujeito caia em um buraco, mas ao longo da execução do contrato esse mesmo dever já poderá ser sinônimo do fornecimento de um equipamento de proteção. No entanto, cada um desses deveres é unitário, apesar das eventuais adaptações ou transformações que venha a sofrer. Assim, por exemplo, há um único dever de proteção, que se manifesta desde as negociações iniciais e perdura até o momento posterior à extinção do contrato, ainda que com exteriorizações distintas em cada momento. E o mesmo pode ser dito em relação a cada um dos deveres contratuais. E o que confere a unidade mencionada a cada um desses deveres é a boa-fé, que permite a cada um dos sujeitos envolvidos esperar que os demais não se comportem de modo a quebrar as expectativas comportamentais legitimamente criadas, para que não frustrem a confiança recíproca que do negócio decorreu. E é importante ressaltar que essa boa-fé – e, em última análise, os deveres acessórios – se impõe como parâmetro comportamental por força do ordenamento jurídico, diretamente originada na lei, e não em decorrência da vontade das partes envolvidas. Logo, fácil é de se concluir que é irrelevante perquirir quais são as partes envolvidas e qual é o negócio de que se trata, no caso concreto, para que se possa aferir a presença de uma pauta de conduta ditada pela boa-fé, eis que esta sempre estará presente e sempre deverá ser observada. Por outro lado, parece evidente que, para a adaptação de cada dever lateral às circunstâncias do caso concreto, será imperioso que se observe 208 quem são os sujeitos envolvidos e qual é o negócio entre eles surgido (ou, pelo menos, negociado), pois tais elementos são integrantes dessas circunstâncias, e portanto fundamentais para a conformação concreta dos deveres laterais em cada hipótese. Em outras palavras, não interessa quem é o sujeito envolvido para que surja um comportamento ditado pela boa-fé, mas tal sujeito deverá ser considerado para a determinação precisa e específica do conteúdo da boafé no caso concreto. Na realidade, pode-se mesmo apontar que os deveres laterais não nascem da boa-fé, mas apenas são por ela direcionados. Além disso, tais deveres também não nascem do negócio jurídico em si mesmo, e essa seria a razão pela qual os deveres acessórios se manifestam mesmo quando o negócio jurídico não se concretizou ou mesmo depois que o mesmo já foi extinto. A verdadeira gênese dos deveres acessórios, portanto, pode ser encontrada no fato mesmo do relacionamento entre os sujeitos envolvidos, fato esse que pode ou não vir a se transformar em um negócio jurídico. Assim, a aproximação entre os sujeitos, de modo que possam entabular as negociações iniciais, por si só é um fato que dá origem aos deveres secundários, ainda que de tais negociações não surja o negócio jurídico que as partes tinham em mente. Impende buscar, neste ponto, qual seria o conteúdo da boa-fé, de modo a que se possa identificar qual é o direcionamento a ser dado, em cada caso concreto, aos deveres acessórios. Comecemos recordando que os deveres laterais devem ser adaptados e transformados conforme os fatos e circunstâncias que se verifiquem em cada momento, o que obviamente conduzirá à conclusão de que também a boa-fé tem um conteúdo que varia em cada momento, conforme as circunstâncias de cada ocasião. 209 Desse modo, pode-se facilmente constatar que, se os deveres acessórios são (ou podem ser) redirecionados a todo instante, e se o que os direciona é a boa-fé, então isso significa que também a boa-fé está sendo adaptada a cada instante, pois seu conteúdo é largo e abrangente, carecendo de ajustes específicos para cada caso. As observações acima são para destacar um aspecto importante, referente à busca da determinação do conteúdo da boa-fé para a identificação concreta dos deveres laterais. É que, face à largueza de tal conteúdo, o que pode torná-lo vago e impreciso, não se deve buscar o amparo na boa-fé quando houver disposição normativa expressa, de origem legal ou contratual, impondo os deveres acessórios. Em outras palavras, deve-se considerar que a boa-fé, como parâmetro de conduta a ser seguida, atua de modo supletivo, apenas nos casos onde não houver norma expressa, legal ou convencional, que possa funcionar como tal parâmetro230. Tome-se como exemplo o caso do advogado, acima mencionado, no qual verificamos que o mesmo, na prestação dos seus serviços, tem o dever de informar ao cliente sobre os riscos de sua pretensão e sobre as possíveis conseqüências da demanda. Vimos que tal dever se enquadra no dever lateral de informação, por ser, no caso concreto, a conduta orientada pela boa-fé. No entanto, como já existe norma expressa estipulando que o advogado preste tais esclarecimentos ao cliente (art. 8º, do Código de Ética da OAB), não haveria 230 Mas desde que essa norma atenda, ela mesma, como é evidente, aos ditames da boa-fé (de modo mais amplo, que atenda aos valores constitucionais de dignidade, solidariedade social, etc.), pois caso contrário tal norma, seja ela legal ou convencional, deverá ser afastada pela incidência do princípio da boa-fé. Nesse sentido, esclarece com precisão Maria Celina Bodin de Moraes, Danos à Pessoa Humana – Uma Leitura Civil-Constitucional dos Danos Morais, pp. 67-68, que os valores que integram a tábua axiológica eleita pela Constituição Federal tomam o lugar das normas jurídicas quando estas se mostram arbitrárias ou injustas, modificando-as para que reflitam o valor da dignidade humana, sobre o qual se funda, atualmente, a quase totalidade dos ordenamentos jurídicos. 210 qualquer sentido em recorrer-se à boa-fé para a identificação desse mesmo dever de informar. Dito de outro modo, se a norma existente já indica de modo claro qual deve ser o comportamento de um dos sujeitos envolvidos no negócio, não há necessidade – e nem sentido lógico – de se recorrer à boa-fé para a identificação desse mesmo comportamento, pois tal recurso demandaria ainda a investigação das circunstâncias concretas para que se pudesse determinar o conteúdo da boa-fé e, como conseqüência de tal conteúdo, o direcionamento e os limites do dever de informar. O resultado de tal investigação é que serviria para que se avaliasse exatamente o quê deveria ser informado pelo advogado ao cliente. Como se vê, todo esse esforço, além de poder conduzir a um resultado de contornos imprecisos, é perfeitamente dispensável, uma vez que a norma já deixa muito claros os contornos do dever de informar nessa situação específica, o que vem a confirmar o mencionado caráter complementar da boa-fé. Por outro lado, no entanto, não se pode deixar de apontar que, apesar do caráter complementar, é muito amplo o campo que se abre para a aplicação da boa-fé como parâmetro único a direcionar a conduta dos sujeitos de um negócio jurídico. É que o legislador, a toda evidência, jamais poderá cobrir todo o espectro negocial, sempre havendo enorme quantidade de áreas e situações que demandarão o recurso à boa-fé. Além disso, mesmo nas situações onde o legislador especificamente cuidou de regulamentar em detalhes os comportamentos a serem adotados pelos sujeitos, sempre poderá ocorrer uma variação das circunstâncias do caso concreto, de modo a tornar inadequada a simples 211 aplicação da norma, por isso que se mostrará indispensável o recurso à boa-fé como diretriz da conduta. Excluída, pois, a utilização da boa-fé quando houver norma comportamental explícita, de qualquer modo ainda resta um vastíssimo campo no qual o conteúdo da boa-fé requer determinação, para aplicações concretas. Esse conteúdo deve ser sempre aferido levando-se em conta as características e a finalidade dos negócios jurídicos, ou seja, o que seria razoável de se imaginar que as partes pretendiam obter, mediante a celebração daquele negócio específico. O que o intérprete jamais poderá perder de vista, a toda evidência, é que os negócios jurídicos estão situados no campo das declarações da vontade, com o intuito de serem obtidos determinados efeitos jurídicos, e por isso o comportamento das partes, vale dizer, os deveres acessórios a serem observados pelas mesmas, deverá ser sempre voltado para o atingimento desses objetivos inerentes ao negócio, jamais sendo admitido um comportamento que tenha por escopo causar prejuízos aos demais sujeitos. Desse modo, a atuação dos sujeitos se desenvolve no campo da autonomia privada, sendo certo que nesta se permite toda atuação válida, isto é, voltada para a obtenção dos negócios e seus efeitos conforme as vontades dos sujeitos envolvidos, mas não podem ser toleradas atuações que mostrem finalidades estranhas à obtenção desses mesmos efeitos. Assim, por exemplo, em um contrato, serão tolerados – e mesmo impostos – todos os comportamentos dos contratantes que se liguem direta ou indiretamente ao cumprimento das prestações centrais, ou seja, tanto o cumprimento das mesmas, propriamente dito, quanto as condutas que sirvam de suporte para tal cumprimento. Mas não serão toleradas as condutas que se mostrem estranhas a tal finalidade, como por exemplo a que impeça um dos 212 contratantes de obter o máximo proveito da prestação que lhe foi entregue ou a que imponha ao outro um ônus desmesurado e desnecessário. Nessas circunstâncias, ou seja, não havendo uma norma expressa e mesmo assim sendo necessário que se imponham limites aos comportamentos dos sujeitos envolvidos, parece bastante claro que caberá ao juiz (ao operador do direito), em cada caso concreto, definir quais são tais limites. Pode-se dizer, portanto, que a boa-fé, ao pautar a conduta a ser adotada pelos sujeitos envolvidos no negócio jurídico, impõe-lhes um dever que apenas pode ser conceituado de modo genérico, e que consiste em se comportarem com a finalidade de cumprimento e aproveitamento adequados das prestações centrais e de propiciar os meios para que tal cumprimento ocorra, abstendo-se, simultaneamente, de praticar atos que se mostrem estranhos ou mesmo contrários a tais finalidades. Mas é o operador do direito que, a partir desse dever genérico, que é comum a todos os negócios jurídicos, deverá observar, em cada situação que lhe for apresentada, se já existe norma que esclareça no que devem consistir tais comportamentos e, caso a resposta seja negativa, deverá aferir quais são esses comportamentos a serem adotados pelos sujeitos no caso concreto. A orientação fornecida pela boa-fé, portanto, apenas funciona de modo genérico, mas não afasta a necessidade de intervenção específica para a sua conformação ao caso concreto. Muito pelo contrário, como já havíamos visto, requer tal intervenção. Nessa atuação, no entanto, um outro problema poderá vir a surgir. É que, em alguns casos, não existirá qualquer norma no direito positivo e, ao mesmo tempo, também não a existirá nas cláusulas negociais ajustadas entre os sujeitos. Diante desse silêncio absoluto, é fácil de perceber que o operador 213 do direito terá um amplo campo de liberdade para a averiguação dos limites específicos da hipótese examinada, limites esses que se mostrem capazes de manter os comportamentos das partes dentro dos trilhos da conduta que se mostre consentânea com a finalidade do negócio. No entanto, casos haverá em que, apesar da lacuna verificada nas normas do direito positivo, as cláusulas negociais estabelecidas pelas partes tratam especificamente do problema, estipulando quais os comportamentos que são esperados para aquele caso concreto. O problema, então, se apresenta com outra roupagem, que é o de se perquirir se, também nessa hipótese, o juiz continuará a ter amplo campo de liberdade para a investigação, ou seja, para aferir quais são os comportamentos dos sujeitos que se mostrem consentâneos com a boa-fé, e sobre o que fazer quando tais comportamentos divergirem daqueles previstos pelas partes para o negócio jurídico. Poderá o juiz, nesse caso, controlar o conteúdo convencional do negócio, dando prevalência aos comportamentos ditados pela boa-fé? A resposta só pode ser positiva, como veremos em seguida, pois é certo que a integração não se encontra dependente da existência de lacunas231. Antes, contudo, faremos breve análise de opinião que aparenta ser diferente, ou seja, que parece responder negativamente à pergunta que acabamos de fazer, no sentido de que o juiz não poderia controlar o conteúdo convencional dos negócios jurídicos. Ao examinar o tema, Béatrice Jaluzot232 apresenta uma distinção entre a “fé do contrato” e a “fé das partes contratantes”. A primeira seria o “espírito do contrato”, ou seja, aquilo que o anima, e em geral é estabelecida a partir dos acordos que os sujeitos contratantes firmaram entre si. A segunda, 231 Ana Prata, A tutela constitucional da autonomia privada, p. 56. Béatrice Jaluzot, La bonne foi dans les contrats: Étude comparative de droit français, allemand et japonais, p. 98, n°s 49 e ss. 232 214 ou seja, a fé das partes, por sua vez, se relaciona com aquilo que os contratantes pretendem obter a partir do negócio jurídico. E em uma certa medida, prossegue a autora, ambas podem se apresentar em oposição, uma em relação à outra. Com efeito, esclarece a autora francesa, na obra e local citados no parágrafo anterior, a partir do momento em que a fé do contrato se firma, ela se torna intangível, e a fé das partes não pode mais influenciá-la. Em outras palavras, se a vontade das partes já se encontra claramente formada acerca de um determinado ponto, este não mais poderá ser alterado em virtude da boa-fé das partes contratantes, pois deve haver estrito respeito à vontade das partes nos moldes em que foi formada, pois o juiz não pode se valer da cobertura da boa-fé para simplesmente modificar o contrato. A conclusão da autora, como se vê, no sentido de que o juiz não pode se valer da menção à boa-fé para simplesmente modificar o contrato, parece indicar em sentido oposto ao que acima mencionamos, ou seja, parece indicar que o juiz não poderia modificar o conteúdo convencional do negócio jurídico, ao contrário do que afirmamos e que logo em seguida passaremos a demonstrar. No entanto, na realidade não há contradição alguma, sendo perfeitamente harmonizáveis, conforme nos parece, a nossa opinião e a da citada autora francesa. Na realidade, parece-nos evidente que a referida autora se refere à inalterabilidade das cláusulas contratuais, mas desde que sejam atendidos dois requisitos básicos: a) tais cláusulas tenham sido ajustadas de modo válido, o que engloba o respeito à conduta de boa-fé, impondo a cooperação e a solidariedade mútua entre os contratantes; b) que não tenha havido alteração significativa das circunstâncias fáticas externas ao contrato, capaz de alterar o equilíbrio que havia entre as partes. 215 Logo, se por um lado, de fato, o ajuste contratual firmado de modo claro e inequívoco entre as partes contratantes não poderá, em princípio, ser alterado pelo juiz, pois a autonomia da vontade deve ser respeitada, e portanto o contrato deverá ser cumprido conforme o que foi pactuado entre elas, por outro, se nesse ajuste uma das cláusulas se mostra contrária à boa-fé, configurando-se em claro e nítido abuso do direito, parece-nos muito claro que, em tal hipótese, o juiz não apenas poderá, mas mesmo deverá intervir para afastar o ato ilícito (abusivo). Na verdade, portanto, pode-se mesmo dizer que é a “autonomia privada” que deverá ser respeitada, e não a “autonomia da vontade”. E tanto é assim que, mais à frente, na mesma obra, a ilustre autora francesa faz referência a decisão do Tribunal Constitucional alemão para apontar que “a ciência jurídica é, em conclusão, unânime sobre o fato de que o princípio da boa-fé designa um limite imanente ao direito de contratar e autoriza um controle judicial do conteúdo do contrato”. Esclarece a autora que o Tribunal Constitucional tedesco reconhece que a autonomia privada é um valor constitucional (o que também ocorre entre nós), mas ao mesmo tempo indica que esse valor deve ser protegido pela boa-fé, servindo esta para a imposição de limites que impliquem no verdadeiro respeito à autonomia 233. E o mesmo pode ser dito em relação ao contrato no qual, embora não se vislumbre abuso em suas cláusulas, pois no momento em que foi celebrado, apresentava um equilíbrio entre os contratantes, ocorreu que fatos externos (supervenientes e imprevistos, por exemplo), estranhos às vontades dos contratantes, vieram a provocar grave desequilíbrio, tornando as cláusulas 233 Béatrice Jaluzot, La bonne foi dans les contrats: Étude comparative de droit français, allemand et japonais, pp. 123-124, n° 442. “La science juridique est, en fin de compte, unanime sur le fait que le principe de bonne foi designe une limite immanente au droit de formation du contrat et fonde l’autorisation d’un contrôle juridictionnel du contenu du contrat” (tradução livre). 216 contratuais, nos moldes em que foram avençadas, claramente injustas, quando também será cabível a intervenção do juiz para o restabelecimento do equilíbrio entre os contratantes. Parece-nos conclusiva e irrespondível, sobre o tema, a observação de Ana Prata 234, que tem o condão de, em curto texto, fazer um resumo de todas as possibilidades de intervenção judicial no conteúdo do contrato, além de fazer a vinculação dessa intervenção com o princípio da boa-fé. Diz a ilustre jurista lusitana que “ A utilização dos instrumentos correctivos dos efeitos pretendidos pelos particulares por parte do juiz pode ir desde uma particular capacidade de intervenção na interpretação e integração do regulamento contratual, à qualificação de uma situação não expressamente prevista pela lei como ilícita, com o consequente declarar da sua invalidade e/ou da existência de um direito a indemnização, ou ainda à possibilidade de alterar o contrato ou, pura e simplesmente, resolvê-lo, verificadas dadas circunstâncias.” “ Das três formas que a intervenção judicial pode assumir, a segunda enunciada reconduz-se ao estudo da identificação teórica dos deveres impostos pela ordem pública, bons costumes e boa fé e das consequências jurídicas da ofensa destes; a terceira forma centra-se no estudo da modificação ou resolução dos contratos por alteração das circunstâncias.” Como se vê, ultrapassa-se a simples aferição subjetiva, ou seja, o campo das intenções dos sujeitos envolvidos no negócio jurídico, passando-se ao exame dos resultados concretos desse mesmo negócio, e em função desses resultados é possível que o conteúdo contratual, oriundo da vontade, venha a ser alterado. É que “os novos fatos sociais dão ensejo a soluções objetivistas e não mais subjetivistas, a exigirem do legislador, do intérprete e da doutrina uma preocupação com o conteúdo e com as finalidades das atividades desenvolvidas pelo sujeito de direito”235. 234 235 Ana Prata, A tutela constitucional da autonomia privada, p. 56. Gustavo Tepedino, Temas de Direito Civil, p. 6. 217 Essas observações conduzem a uma importante conclusão, no sentido de que a boa-fé, quando aplicada aos negócios jurídicos, possui um conteúdo que não depende da vontade dos sujeitos desse mesmo negócio. Ora, se a boa-fé permite que seja modificado o próprio conteúdo convencional do negócio jurídico, como acabamos de ver, e se essa mesma boa-fé não depende da vontade dos sujeitos, então podemos concluir que, na verdade, em uma certa medida (que coincide com o campo de incidência da boa-fé), o conteúdo de uma relação obrigacional é formado por normas que podem independer da vontade das partes envolvidas, ou seja, tal relação apresenta uma dinâmica e uma extensão que podem estar situadas fora do controle dos sujeitos que a integram. É nesse sentido, mencionado no parágrafo anterior, que De los Mozos 236 afirma que “el contrato depende, tanto en el nacimiento de sus efectos como en su cessación, de dos elementos: la voluntad de las partes y la buena fe, por eso, añade que averiguar el juego de ambas es misión del juez”. E na junção desses dois elementos, vontade e boa-fé, o que se observa é que “o princípio da boa-fé, sem desprezar a vontade contratual, procura ir além dela e tomar em consideração sua exteriorização e as repercussões dessa exteriorização – perante a outra parte contratante e até mesmo perante terceiros e o meio social”237. Já havíamos visto, retro, neste mesmo item, em nota de rodapé, que em relação aos serviços e bens massificados, a possibilidade de ocorrência dos comportamentos sociais típicos, ou seja, situações nas quais, embora não 236 José Luis de Los Mozos, El Principio de La Buena Fe, p. 166. Antônio Junqueira de Azevedo. Interpretação do contrato pelo exame da vontade contratual. O comportamento das partes posterior à celebração. Interpretação e efeitos do contrato conforme o princípio da boa-fé objetiva. Impossibilidade do venire contra factum proprium e de utilização de dois pesos e duas medidas (tu quoque). Efeitos do contrato e sinalagma. A assunção pelos contratantes de riscos específicos e a impossibilidade de fugir do “programa contratual” estabelecido. Revista Forense – v. 351, p. 279. 237 218 haja contrato, haverá entre as partes envolvidas uma relação obrigacional, cujos efeitos jurídicos serão idênticos aos de um contrato, independentemente de não ter havido declaração de vontade. No parágrafo anterior, contudo, vimos que esses efeitos jurídicos que independem da vontade também podem ocorrer fora dos contatos sociais massificados, nas relações intersubjetivas individuais 238. Passaremos a examinar, em seguida, essas duas hipóteses, capazes de justificar a intervenção do juiz no conteúdo do contrato, de modo mesmo a possibilitar a alteração das cláusulas que foram convencionadas pelas partes contratantes. Em primeiro lugar, pode-se observar que a determinação de que seja observado o princípio da boa-fé se apresenta como norma de ordem pública, que não está ao alcance de ser afastada pela vontade dos sujeitos envolvidos no negócio, ou seja, “El principio del § 242 [do Código Civil alemão] es irrenunciable, ya que representa el precepto fundamental de la juridicidad”239. Assim, só em virtude dessa primeira observação já se poderia confirmar a resposta positiva, acima indicada: se as cláusulas negociais pactuadas entre as partes impõem comportamentos que se mostram contrários àqueles que são ditados pela boa-fé, é esta última que deverá prevalecer. Mas pode-se ainda observar, em importante reforço à conclusão acima, que quando o ordenamento prestigia as convenções firmadas pelos sujeitos, no exercício de suas auto nomias privadas, o faz por entender que as vontades que estão sendo manifestadas são verdadeiramente livres, por terem 238 Na realidade, também nas relações jurídicas coletivas, como ocorre, por exemplo, em relação às relações coletivas de trabalho, nas quais também deve haver entre as partes envolvidas a confiança e a lealdade recíprocas, da mesma forma que ocorre nas relações individuais de trabalho. Cf. Beatriz Maki Shinzato Capucho, Da boa-fé na negociação coletiva de trabalho, p. 44. 239 Karl Larenz, Derecho de obligaciones, v. I, p. 145. 219 sido manifestadas dentro de uma igualdade substancial entre os sujeitos, e não em uma igualdade que se mostre tão-somente formal. Aliás, exatamente o fato de não levar em conta tal aspecto, ou seja, a igualdade que conduz à verdadeira liberdade é a substancial, e não a formal, foi que sucumbiu o modelo liberal-individualista da Codificação de Napoleão, que partia da idéia de que bastava deixar os sujeitos de um negócio, fossem eles quem fossem, livres de qualquer interferência do Estado, que a partir daí o que viesse a ser entre eles ajustado seria sempre e irremediavelmente a manifestação das vontades livres. Na realidade, cedo se percebeu que a “liberdade” de negociação entre sujeitos desiguais, na realidade, era fonte de opressão, pois o que se mostrasse economicamente mais forte, inevitavelmente, tenderia a impor a sua vontade e a oprimir o economicamente mais fraco. Por esta razão, cedo também se percebeu que, quando houvesse essa desigualdade econômica entre os sujeitos do negócio jurídico, seria necessária a intervenção do Estado, editando normas que se impusessem obrigatoriamente aos sujeitos, beneficiando o mais fraco, de modo a compensar-lhe a fraqueza econômica e não podendo ser afastadas pelas cláusulas negociais. Em termos históricos, como se sabe, o fenômeno foi percebido de modo claro, pela primeira vez, em relação ao Direito do Trabalho240, em virtude de razões que logo a seguir voltaremos a mencionar. Desse modo, a ausência de normas oriundas do Estado não permitiria que as vontades fossem de fato livres, todas as vezes em que não 240 Sobre o tema, informa Bruno Lewicki que “a pretensa isenção total que o Estado deveria guardar em relação à vida econômica vai cedendo espaço, lentamente, para um intervencionismo... O primeiro terreno que demandou a intervenção estatal foi justamente o das relações de trabalho. No rastro de uma série de tratados internacionais que traçavam diretrizes sobre a matéria, e com o já citado processo de industrialização ganhando fôlego, não houve como prolongar a era de plena liberdade contratual nesta área”. Cf. Bruno Lewicki, Panorama da boa-fé objetiva. In: Tepedino, Gustavo (Coord.). Problemas de Direito Civil-Constitucional, p. 65. 220 houvesse igualdade entre os sujeitos que estivessem emitindo suas vontades. Nessas condições, a liberdade funcionaria muito mais como um fator de opressão, e não pode o ordenamento prestigiar esse estado de coisas. Daí, como dissemos acima, a necessidade de intervenção do Estado nas relações intersubjetivas. Essa intervenção pode ocorrer com a fixação de regras que estabeleçam comportamentos específicos, que imponham deveres claros e facilmente identificáveis, como vimos no caso do dever de esclarecimento, imposto ao advogado e ao médico, nas respectivas prestações de serviços. No entanto, é evidente que nem sempre o Estado poderá, ao editar suas normas, prever em minúcias todos os comportamentos que devem ser adotados pelas partes, e por isso podem ser utilizadas condutas genéricas, que imponham comportamentos cuja finalidade está identificada, mas cuja delimitação precisa só pode ser buscada quando confrontada com as particularidades da situação real. É o que acontece com a imposição de observância da boa-fé. A parametrização dos comportamentos pela boa-fé, portanto, nada mais é do que uma dessas intervenções do Estado, que têm a finalidade de compensar a desigualdade substancial entre os sujeitos e evitar que um deles possa ser explorado e oprimido pelo outro, apenas tendo a particularidade de se mostrar como uma intervenção que se apresenta com características genericamente estabelecidas, ao contrário de outras nas quais os contornos do que pretende o Estado se mostram claramente delineados. Ocorre que, como mencionamos acima, uma das principais características dessa intervenção do Estado é precisamente o fato de que são criadas regras que, sob pena de inocuidade, estão fora do alcance da vontade dos sujeitos envolvidos, vale dizer, não podem ser afastadas pelas vontades, sendo de observância obrigatória. 221 Nessa ótica, sendo a boa-fé uma dessas modalidades de intervenção, mostra-se irrelevante o fato de que se apresenta com uma roupagem genérica, que ainda está a requerer a delimitação precisa de seus contornos, pois é certo que, uma vez sendo feita essa delimitação e identificados esses contornos para o caso concreto, da mesma forma surgirão regras que não podem ser afastadas pela vontade das partes envolvidas, sob pena de se tornarem inócuas. Logo, se as partes já criaram essas regras negociais, se mais adiante for identificado que tais regras vêm a se chocar com aquelas que foram apreendidas a partir da imposição da observância da boa-fé, estas últimas é que deverão prevalecer, como dissemos acima, caso contrário estaria sendo admitido que a autonomia da vontade fosse exercida de modo a afastar a intervenção estatal que busca impedir a opressão de um dos sujeitos pelo outro, ou seja, em última análise, admitir-se-ia que a autonomia da vontade fosse exercida como meio de opressão, o que viria a implicar em inaceitável retrocesso aos tempos da primeira codificação civil. Impõe-se, portanto, como já havia sido adiantado, a conclusão no sentido de que o juiz poderá, em cada caso concreto que lhe for apresentado, controlar o conteúdo negocial escolhido pelos sujeitos envolvidos, cotejando-o com o conteúdo que resulta da conduta imposta pela boa-fé e, em caso de conflito inconciliável entre ambos, fazendo prevalecer este último. Aliás, em nosso ordenamento jurídico, essa prevalência do comportamento obediente à boa-fé sobre o comportamento estipulado pela vontade das partes, que só pode ser feita se ao juiz se reconhecer o poder de controlar o conteúdo negocial, pode ser encontrada em várias disposições legais, como por exemplo os artigos 9º e 468, ambos da Consolidação das Leis 222 do Trabalho, e os artigos 39 e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Mencionamos, acima, que a necessidade de intervenção do Estado, com a imposição de regras de observância obrigatória, foi observada com clareza, pela primeira vez, no Direito do Trabalho. E no parágrafo anterior, ao apontarmos alguns dispositivos legais que exemplificam essa intervenção esteada na boa-fé, mencionamos a norma legal que é básica para a regência dos contratos de trabalho, ao lado da que o é para as relações de consumo, sendo certo que tal direcionamento não se deu por mera coincidência. Vejamos o porquê dessa ocorrência localizada, pois a identificação de tal motivo nos conduzirá a algumas importantes conclusões. Ensina-nos a história que, nos primórdios da Revolução Industrial, as grandes cidades européias atraíram milhares de pessoas, que abandonaram o campo para se candidatar às supostas possibilidades de empregos que surgiriam nas novas fábricas, implantadas a partir do uso em larga escala da mecanização e da máquina a vapor. O problema foi que a máquina a vapor permitiu que o trabalho de muitos passasse a ser feito por uma única pessoa, que poderia mesmo ser uma mulher ou uma criança, eis que o comando da máquina não exigia grande força física. Com isso, para cada vaga de trabalho havia centenas de candidatos, sendo que às mulheres e às crianças era pago um salário muito menor do que aos homens adultos. A partir desses dados torna-se fácil concluir que os donos das fábricas, ao contratar seus trabalhadores, podiam livremente estipular, em cada contrato individual, todas as cláusulas que bem entendessem, pois a disputa por uma vaga era tão grande que sempre haveria algum trabalhador disposto a 223 ser contratado naquelas condições, por mais degradantes e abusivas que se mostrassem. Convém recordar que, nessa época, ou seja, no primeiro quartel do século XIX, o Código Civil francês, como já mencionamos linhas atrás, no auge do liberalismo individualista, entendia que era justo tudo o que fosse livremente contratado pelos sujeitos envolvidos. Logo, pouco importava quão degradantes fossem as condições contratualmente impostas em cada caso, pois se a outra parte as havia aceitado, era porque entendia que as mesmas eram justas e adequadas. Assim, foi inevitável que em cada contrato individual houvesse a estipulação de cláusulas completamente absurdas e abusivas, que eram impostas pelo dono da fábrica e “livremente” aceitas pelo trabalhador, uma vez que a igualdade entre as partes contratantes era tão-somente no sentido formal, e não substancial, eis que uma delas era muito mais forte e a outra muito mais fraca, economicamente, e portanto não havia liberdade ao contratar, mas sim opressão, pois era o dono dos meios da produção quem impunha a sua vontade, restando ao outro contratante, tão-somente, aceitá-la ou ficar sem trabalho. Esse abuso perpetrado pelos donos das fábricas, como se disse, ocorria em cada um dos contratos individualmente celebrados. No entanto, em virtude do grande volume de contratos que passaram a ser celebrados, face à proliferação das mais diversas indústrias, esse abuso, que levava milhares e milhares de trabalhadores a uma situação degradante, acabou chamando a atenção de intelectuais, como Marx e Engels, que passaram a solicitar que o Estado interviesse nessas relações, impondo limites à vontade dos contratantes, limites esses que deveriam ser inalcançáveis pela vontade dos contratantes. 224 Além disso, o grande número de trabalhadores que enfrentavam as mesmas agruras, e que estavam todos sufocados pela mesma e absoluta miséria, acabou favorecendo o surgimento de agitações sociais, com as lutas de classes que sacudiram fortemente a Europa, principalmente na segunda metade do século XIX, e diante de todo esse quadro a intervenção do Estado foi conseguida à força, e acabou tendo que ser feita, impondo-se paulatinamente aos contratantes algumas regras mínimas de comportamento, que teriam que ser obrigatoriamente observadas na celebração e na execução dos contratos celebrados entre os trabalhadores e os donos das fábricas. Essas restrições que passaram a ser impostas, como se sabe, acabaram por dar origem a um novo ramo do Direito, o Direito do Trabalho. Nesse ponto, convém realçar que a questão da necessidade de intervenção do Estado, de modo a impor regras comportamentais que se sobrepõem às vontades das partes, foi detectada, inicialmente, nas relações de trabalho, em virtude do grande volume que surgiu em relação a uma mesma situação, além dos terremotos sociais já mencionados. No entanto, o problema surgia em cada um dos contratos, e não apenas no conjunto de contratos. Em outras palavras, a necessidade de serem impostas regras comportamentais – que, como vimos, quando não são impostas explicitamente pela lei, o são pela boa-fé – foi verificada em relação a cada contrato individualmente considerado, e o conjunto de contratos, em grande volume, apenas serviu para despertar a atenção do direito para o problema. Essa observação já nos permite adiantar que as regras comportamentais impostas pela boa-fé, com a possibilidade de controle do juiz sobre o conteúdo do contrato, surgem em todos os negócios jurídicos, e não apenas naqueles que se notabilizam pela repetição em larga escala. 225 Essa mesma situação pôde ser observada, mais recentemente, nas relações de consumo, nas quais o problema também chamou a atenção em virtude do grande volume em que tais relações ocorrem. Com efeito, há muito tempo que se sabe que o fornecedor de produtos ou serviços, em regra, é quem impõe as regras dos contratos, o que muitas vezes tem o efeito de conduzir a abusos. Mas foi a partir do fenômeno da globalização, quando as grandes companhias multinacionais se espalharam por todo o mundo, que o grande volume de negócios onde um dos contratantes fixava as cláusulas contratuais e oferecia o contrato a milhões de pessoas, às quais só cabia aceitá-las ou não contratar, que esses negócios começaram a chamar a atenção para os inaceitáveis abusos que vinham sendo cometidos. Surge, mais uma vez, a necessidade de forte intervenção do Estado nas relações de consumo, o que acabou por dar origem a um outro ramo do direito, agora o Direito do Consumidor, que por suas origens semelhantes é tão intervencionista e protetor quanto o Direito do Trabalho. No entanto, mais uma vez se destaca que, se por um lado o problema despertou a atenção em virtude da acentuada multiplicação dos contratos abrangentes de relações de consumo, por outro, esse mesmo problema vinha surgindo nas relações individuais, não dependendo, portanto, para que fosse necessária a intervenção do Estado, de ser situação que se repetia em milhões de contratos. O que se pode concluir, portanto, é que a necessidade de controle do conteúdo dos contratos, para ver se os mesmos estão adequados não apenas às normas legais explícitas e específicas, mas também às normas que decorrem da concretização, em cada caso, do dever genérico de boa-fé, opera 226 em todos os contratos, e não apenas naqueles que se destacam pela repetição de milhares ou mesmo milhões de situações idênticas. Essa constatação se tornou muito clara com a edição do nosso recente Código Civil, que em várias passagens trouxe a previsão explícita de que devem ser impostos aos sujeitos de um negócio jurídico comportamentos que se liguem aos deveres de lealdade, de proteção, de informação, etc., ou seja, que se liguem, em síntese apertada, aos deveres laterais que são dirigidos a partir da necessidade de uma conduta de boa-fé. Com efeito, veja-se que o Código Civil, por exemplo, referindose aos contratos em geral, de modo explícito impôs a adoção de alguns comportamentos que são de observância obrigatória, não podendo ser afastados pelas vontades dos sujeitos, como no caso dos artigos 423 e 424. O primeiro determina que, nos contratos de adesão, onde a parte que estipula as condições contratuais é a que tem o poder de impô-las à outra, as cláusulas ambíguas ou contraditórias sejam interpretadas em favor do aderente. E o segundo determina que, nesses mesmos contratos, serão nulas as cláusulas que estabeleçam a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. Trata-se de determinações explícitas, portanto, de condutas que, acaso não estivessem expressas, poderiam ser enquadradas nos deveres laterais de informação (ou seja, o que redigiu o contrato tem o dever de tornar claras para o aderente as cláusulas que o integram) e no de proteção (o contratante responsável pela redação das cláusulas contratuais não pode fazêlo de modo a causar prejuízos ao outro, através da renúncia prévia a direitos que, normalmente, devem acompanhar o contrato que está sendo celebrado). E outros exemplos específicos ainda poderiam ser apontados, como no caso do artigo 413, do mesmo Código Civil, que impõe às obrigações 227 em geral, independentemente do que tenham convencionado os sujeitos das mesmas, o dever de redução eqüitativa da cláusula penal, na hipótese da prestação ter sido parcialmente cumprida com utilidade para o credor, não podendo essa determinação ser afastada por força da convenção. Tem-se aqui, como se percebe, aplicação específica do dever de lealdade, que impede que uma das partes possa obter vantagem exagerada, a partir de um desequilíbrio entre as prestações. E, ainda, de um modo genérico, diante da evidente impossibilidade de serem previstas de modo específico todas as situações comportamentais adequadas ao comportamento de boa-fé, trouxe o Código Civil, no artigo 422, a previsão de que os contratantes, tanto na conclusão quanto na execução de um contrato, deverão sempre ter suas condutas pautadas pelo respeito ao princípio da boa-fé, como já havíamos comentado anteriormente, sendo certo que tal comportamento de boa-fé, nos casos onde houver lacuna legal, será concretizado pelo operador do direito, que fará a adaptação em função das circunstâncias da hipótese concreta. Assim, por exemplo, como aplicação desse dever genérico de comportamento consoante as regras decorrentes da boa-fé, pode-se apontar que não é dado a um dos contratantes aproveitar-se de uma circunstância fática, ligada ao contrato, para auferir lucros exagerados e desproporcionais, ao mesmo tempo em que impõe à outra parte prejuízos exorbitantes, em clara e nítida desproporção entre as prestações. Não foi por outra razão, aliás, que o Código Civil, em relação às obrigações em geral, previu expressamente a possibilidade de intervenção judicial para reequilibrar as prestações, quando fatos supervenientes e imprevisíveis tiverem causado manifesta desproporção entre elas (art. 317), sendo tal previsão legal também tornada explícita em relação aos contratos, 228 por isso que o artigo 478 expressamente prevê a possibilidade de resolução contratual quando uma das prestações, por acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, tiver se tornado excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, podendo contudo ser evitada a resolução se o outro contratante se oferecer para reequilibrar as prestações. Vimos, até este ponto, que ocorre um desdobramento das obrigações em uma operação complexa, vale dizer, em um negócio jurídico que não é formado apenas pelas prestações centrais (principais), mas por inúmeros deveres secundários (ou acessórios) que se concatenam e caminham sempre no sentido de se atingir, no final, o cumprimento adequado das prestações principais. Vimos, ainda, que esses deveres acessórios estão intimamente ligados à boa-fé, não pelo fato desta ser a fonte daqueles, mas em virtude da boa-fé funcionar como diretriz para a identificação, em cada caso concreto e em cada momento, de quais são esses deveres e qual o seu conteúdo. Assim, a boa-fé, para fins de concretização do conteúdo dos deveres acessórios, pode ser descrita como a orientação que considera adequados, em cada caso, os comportamentos ligados direta ou indiretamente à persecução das prestações principais da obrigação, ou seja, estão conforme a boa-fé – e devem ser por isso adotados pelos sujeitos – todos os comportamentos cuja finalidade imediata seja o cumprimento das prestações centrais ou que, pelo menos, tenham tal objetivo de modo mediato, vale dizer, sejam necessários para possibilitar o cumprimento de tais prestações da forma mais adequada, ou seja, do modo menos gravoso para o devedor e com o maior aproveitamento possível para o credor. De tudo quanto se viu, pode-se concluir que a violação dos deveres laterais, na realidade, implica em violação dos comportamentos que 229 são indicados, no caso concreto, a partir da boa-fé, ou seja, essa violação dos deveres acessórios ocorre quando o sujeito de um negócio jurídico adota conduta que se mostra em descompasso com aquela que era indicada pela boafé por ser a mais consentânea com a consecução da finalidade do negócio jurídico. Logo, em última análise, o descumprimento de deveres laterais implica em descumprimento da conduta de boa-fé, uma vez que é a partir desta que se identifica e se reconhece o conteúdo de cada um daqueles. Algumas dessas situações de violação da boa-fé, contudo, por se mostrarem mais freqüentes e de maior repercussão concreta nos negócios jurídicos, passaram a ser estudadas de modo específico, por sempre ocorrerem com um padrão definido, identificado a partir de um comportamento típico e específico do sujeito, e que vem a entrar em choque com o comportamento que havia sido previsto a partir da concretização do dever genérico de boa-fé. No próximo capítulo, portanto, passaremos ao exame de cada um desses comportamentos típicos, que violam o dever de comportamento conforme os parâmetros traçados a partir da boa-fé. 1.9. As conseqüências jurídicas da proteção conforme o princípio da boa-fé. De início, convém esclarecer que fazer incidir o princípio da boafé não significa a mesma coisa que reprimir o desatendimento a esse mesmo princípio, desde logo adiantando que essa diferença se mostrará essencial para o adequado cotejo entre o venire contra factum proprium e o tu quoque, como veremos adiante. Assim, caminhando em busca dessa diferença enunciada no parágrafo anterior, observe-se que em muitos casos poderá ocorrer de um dos sujeitos comportar-se em desacordo com a esperada cooperação, criando 230 obstáculos injustificados, por exemplo, a que o outro possa obter a satisfação dos seus interesses que buscava atender a partir do negócio jurídico, e nesse caso a atuação do juiz deverá ser no sentido de reprimir essa conduta inadequada, que desatende à solidariedade social, sendo que essa repressão poderá se concretizar por vários modos, como veremos logo adiante, neste mesmo item. No entanto, em muitos casos também poderá ocorrer que uma pessoa tenha se comportado de boa-fé, conduzindo-se conforme as justas e legítimas expectativas criadas a partir das circunstâncias peculiares ao negócio, sendo que, posteriormente, essas expectativas foram frustradas por motivos estranhos à outra parte, uma vez que esta, em nenhum momento, adotou comportamento que pudesse ser apontado como contrário à boa-fé. Em outras palavras, um dos sujeitos agiu de boa-fé, e essa boa-fé poderá ser digna de proteção, independentemente do fato de não ter havido má-fé por parte do outro sujeito. Essa seria a hipótese, por exemplo, da conversão do negócio jurídico nulo em um outro negócio, cujos requisitos de validade estão atendidos, e que também se mostra adequado para o atendimento aos objetivos do negócio jurídico inicialmente entabulado entre as partes (veja-se, retro, o item 1.6). Seria o caso, ainda, da pessoa que, sem saber da existência da incapacidade, celebrou negócio com sujeito que, por deficiência mental, não tem discernimento para praticar os atos da vida civil (incapaz absoluto), mas que não estava interditada, sendo que tal negócio foi celebrado em condições consideradas normais, dentro dos valores normalmente praticados no mercado para os negócios daquela espécie. 231 Nessa situação, descrita no parágrafo anterior, a boa-fé do sujeito, que agiu sem ter conhecimento e sem ter meios de descobrir a incapacidade do outro, poderá ser protegida, reconhecendo-se efeitos ao contrato, e, no entanto, é evidente que não se pode falar em má-fé do absolutamente incapaz, ou seja, protege-se a boa-fé de um, mas sem que isso implique, necessariamente, em reprimir a má-fé do outro co-partícipe. Essa questão voltará a ser abordada, em mais detalhes, mais à frente. A hipótese, contudo, que nos parece mais clara, no sentido de proteção à boa-fé de um sujeito independentemente de não ter havido má-fé por parte do outro, é a que se relaciona ao erro (defeito do negócio jurídico), para cuja configuração o atual Código Civil, ao contrário do que fazia o anterior, passou a exigir o requisito da recognoscibilidade. Com efeito, veja-se que o artigo 138, do Código Civil brasileiro, expressamente indica que o negócio jurídico será anulável em virtude do “erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio”. A primeira observação a ser feita, sobre o referido artigo, para que possamos prosseguir na sua análise em relação à boa-fé, diz respeito a quem seria essa “pessoa de diligência normal”, se aquele que declarou sua vontade em virtude do erro, ou se o outro sujeito, com quem negociou o que incidiu em erro. Assim, por exemplo, suponha-se que A e B celebraram contrato de compra e venda, tendo A adquirido de B um objeto dourado, que acreditava ser de ouro. A, portanto, participou do negócio em virtude de erro substancial, referente a qualidade essencial da coisa adquirida. A questão inicial que se nos apresenta, pois, refere-se a saber se a “pessoa de diligência normal”, a que se 232 refere o artigo 138, seria A, que emitiu a vontade defeituosa, ou B, pessoa com quem A negociou e para quem foi dirigida a vontade deste. Parece-nos muito claro que tal pessoa só pode ser B, a quem a vontade de A foi dirigida. Ora, se a norma legal estivesse querendo se referir ao sujeito A, estaria dizendo que haveria o erro substancial, e por isso o negócio seria anulável, ainda quando o mesmo decorresse da negligência do declarante, ou seja, uma pessoa normal teria percebido que a coisa não era de ouro, e sim dourada. A, no entanto, não foi diligente e por isso não percebeu o que deveria ser óbvio para qualquer pessoa normal, e mesmo assim teria a sua negligência aquinhoada com a possibilidade de desfazimento do negócio. É evidente que tal interpretação, mencionada ad argumentandum no parágrafo anterior, conduz a conclusão absurda, resultando em séria ameaça à segurança dos negócios jurídicos, e por isso deve ser de logo descartada. Logo, o único sentido que se mostra possível para a norma é o de se entender que a lei pretendeu se referir a B, ou seja, à pessoa para quem A dirigiu a sua declaração de vontade. Assim, se o erro de A foi tal que B, com um mínimo de atenção e diligência, poderia ter percebido que a declaração de vontade era defeituosa (esteada no erro), ou seja, se B poderia ter reconhecido o erro (requisito da recognoscibilidade), neste caso, e somente neste caso, é que o negócio jurídico será anulável. Pode-se verificar, portanto, contrario sensu, que apesar de A ter incidido em erro, ao declarar sua vontade, se B não tinha condições de perceber esse mesmo erro, o negócio será por isso mantido, para a proteção da boa-fé de B, que tem a justa expectativa dessa manutenção, pois apesar de sua diligência normal nada percebeu que pudesse macular esse mesmo negócio. Nesse sentido, “vê-se bem que o legislador de 2002 optou pela proteção do contratante que negocia com o que errou. Prestigiou a doutrina da 233 confiança” 241 (no exemplo acima, a confiança de B em que o negócio jurídico foi validamente celebrado e que por isso será cumprido) Vejamos um exemplo mais detalhado, de ocorrência prática um tanto quanto improvável, mas que nos parece eficaz para ajudar na melhor compreensão do tema. Suponha-se que B é um vendedor de bijuterias em uma feira livre, que funciona apenas aos domingos, em uma praça da cidade, e expôs à venda uma pulseira dourada, no valor de R$ 80,00, sendo que uma pulseira idêntica, se feita de ouro, custaria em torno de R$ 2.000,00. A, visitando a feira, resolve comprar essa pulseira exposta, acreditando que a mesma é de ouro, e, não tendo dinheiro consigo no momento, pede que B a reserve, informando que retornará em algumas horas e que pretende pagar por ela R$ 90,00, para compensar a reserva feita, e efetivamente retorna e a venda é realizada. Ora, pelo preço oferecido, que se mostra bastante próximo àquele que estava sendo inicialmente pedido por B, este não tem como saber que A acredita que a pulseira seja feita de ouro, pois se o fosse o preço seria muito superior, em patamar completamente distinto. Nesse caso, apesar do erro de A, o negócio será mantido, em proteção à boa-fé do vendedor, em cujo procedimento está implícita a confiança em sua manutenção, pois é claramente legítima a expectativa de B nessa mesma manutenção. Faltaria, aí, portanto, o requisito da recognoscibilidade, para que o negócio pudesse ser anulado em virtude do erro de A. 241 Paulo Gustavo Gonet Branco, Em torno dos vícios do negócio jurídico – A propósito do erro de fato e do erro de direito. In: Franciulli Netto, Domingos; Mendes, Gilmar Ferreira e Martins Filho, Ives Gandra da Silva (Coord.). O Novo Código Civil – Estudos em Homenagem ao Prof. Miguel Reale, p. 140. E esclarece o autor, na mesma obra e local, que o relatório da Comissão Revisora do projeto que deu origem ao Código Civil confirma expressamente o propósito do legislador de proteger a boa-fé daquele que não tinha como suspeitar do erro do outro com quem contratou, o que se verifica na justificativa da recusa à Emenda nº 176. 234 No mesmo exemplo, contudo, suponha-se que A, ao pedir que reservasse a pulseira, informasse que pretendia retornar e pagar pela mesma a quantia de R$ 1.800,00. Em tal hipótese, como resulta evidente, B teria todas as condições de perceber com facilidade que A estava manifestando sua vontade com esteio em erro, pois o disparate entre o valor da pulseira e o preço oferecido seria tão grande que jamais poderia passar despercebido a qualquer pessoa de diligência normal. Nesse caso, portanto, o negócio seria anulável em virtude do erro substancial de A, eis que se verificou o requisito da recognoscibilidade (por B), e portanto não se poderia falar em proteção à boa-fé deste, uma vez que tal boa-fé não pode ser detectada a partir da conduta do vendedor. Analisamos, até aqui, além do conceito e do fundamento constitucional do princípio da boa-fé em si mesmo, diversas situações genéricas de desobediência ao mesmo, inclusive quando tal princípio se manifesta, nas relações obrigacionais, sob a forma de variados deveres acessórios. E vimos, em tais situações, as conseqüências possíveis desse mesmo desatendimento. Neste ponto da nossa pesquisa, tornamos a fazer essa mesma análise, acerca das conseqüências do desatendimento ao princípio da boa-fé (ou da simples aplicação do princípio, em proteção ao sujeito de boa-fé), só que agora buscando uma sistematização do assunto. Começamos pela observação no sentido de que a infração ao princípio da boa-fé não resulta, em geral, na nulidade do negócio jurídico onde isso se deu, pois proteger a boa-fé de um dos sujeitos significa fazer com que sejam satisfeitas as expectativas geradas a partir do negócio jurídico, e não a sua frustração de uma vez por todas, o que ocorreria com a nulidade do negócio. 235 Aliás, muito pelo contrário, como veremos de modo minucioso, mais à frente, a proteção à boa-fé de um dos sujeitos pode mesmo resultar – e muitas vezes resulta – na superação de uma nulidade do negócio jurídico, de modo a que venham a ser produzidos os efeitos normais, como se esse negócio fosse válido, de modo tal que sejam atendidas as expectativas do sujeito. Com efeito, em virtude da desobediência ao princípio da boa-fé, como já vimos anteriormente, as conseqüências podem ser de diversas ordens, tais como a anulação de uma cláusula contratual que se mostre abusiva, a modificação de uma cláusula que esteja provocando grave desequilíbrio entre as partes, a imposição do dever de reparar os danos causados em virtude da falta de cooperação, a imposição do dever de prestar as informações necessárias, etc. Antes de prosseguirmos, contudo, convém alertar que, na realidade, o máximo que se pode fazer, além de realçar que a atuação do princípio da boa-fé não se constitui em causa de nulidade dos negócios jurídicos, é a indicação e a análise das conseqüências mais comuns do descumprimento do princípio da boa-fé, assim como qual seria o melhor modo de intervenção com o escopo de proteção a essa mesma boa-fé, sendo, no entanto, impossível uma sistematização capaz de traçar as linhas mestras para todas as hipóteses possíveis de ocorrência em situações concretas. Essa impossibilidade, como nos parece evidente, resulta do fato de que o princípio da boa-fé, como já examinamos anteriormente (veja-se, retro, o item 1.1), funciona como o instrumento de uma justiça caso a caso, ou seja, cuja concretização do conteúdo só pode ser feita na análise das circunstâncias do caso concreto, em função das quais o juiz deverá aferir qual o conteúdo do princípio para aquela hipótese em particular. 236 Ora, se o conteúdo exato do princípio da boa-fé, para fins de sua aplicação concreta, só poderá ser determinado depois de serem examinadas e sopesadas as peculiaridades de cada situação, e se com essa atuação ao caso concreto o que se busca é, precisamente, corrigir os desvios decorrentes do desatendimento ao princípio, é evidente que o modo de fazer atuar o princípio da boa-fé (e, portanto, as conseqüências jurídicas dessa atuação) só poderá ser aferido também no caso concreto que se encontra sob exame. Além disso, é certo que, em determinadas situações, o desatendimento ao princípio da boa-fé poderá trazer conseqüências em outras áreas do direito, como por exemplo na esfera penal. Assim, por exemplo, suponha-se que uma pessoa que vive em união estável adquiriu, a título oneroso, na constância da mesma, um imóvel, que foi registrado exclusivamente em seu nome. Se esse companheiro aliena o imóvel para terceiro, deverá informar ao adquirente sobre o seu estado civil, para evitar o prejuízo à companheira e mesmo uma possível argüição, por parte desta, da anulabilidade do negócio. Tem-se aí, portanto, o dever acessório de informação. No entanto, essa falta de informação, no caso hipotético apresentado, poderá, em tese, ser considerado como estando incluso no crime tipificado no artigo 299, do Código Penal brasileiro, que se refere, dentre outros tipos, à omissão, em documento público ou particular, de declaração que dele deveria constar 242. Por razões óbvias, contudo, decorrentes do objetivo do presente trabalho, limitar-nos-emos ao exame das conseqüências jurídicas situadas na esfera civil, deixando as conseqüências penais para os estudiosos do assunto. 242 O exemplo é de Nicolau Eládio Bassalo Crispino, A união estável e a situação jurídica dos negócios entre companheiros e terceiros, pp. 252-253. 237 Vejamos, então, em seguida, as hipóteses mais freqüentes de conseqüências jurídicas possíveis, face ao descumprimento do multicitado princípio da boa-fé, buscando apresentar exemplos de cada uma delas. a) declaração de invalidade de uma cláusula contratual específica. Em algumas situações concretas, o que se verifica é que uma das cláusulas negociais confere a uma das partes um poder tão grande, em relação ao negócio jurídico, que esse sujeito adquire a possibilidade de impor livremente a sua vontade ao outro, o que pode transformar em abusiva a mencionada cláusula. O negócio, uma vez desconsiderado esse item abusivo, é perfeitamente válido. Nessas condições, nada justificaria que se considerasse inválido todo o ato volitivo, por isso que se mostra suficiente que apenas a cláusula em questão seja retirada do mesmo. Suponha-se que em um contrato de abertura de crédito, celebrado entre um comerciante e um banco, este, depois de ter liberado algumas parcelas, de modo súbito e injustificado, resolve não liberar mais um único centavo e, além disso, exigir o imediato pagamento de todos os valores já liberados, uma vez que existia cláusula contratual que lhe permitia agir dessa forma 243. Ora, parece evidente que, apesar da existência da referida cláusula, esse comportamento de um dos sujeitos do negócio (o banco, no caso), surpreendendo o outro e podendo causar-lhe graves prejuízos, viola o dever de se conduzir conforme a boa-fé, por ter sido brusca e sem aviso prévio a ruptura do crédito e a exigência do pagamento, e por essa razão a cláusula 243 O exemplo é mencionado por Béatrice Jaluzot, La bonne foi dans les contrats: Étude comparative de droit français, allemand et japonais, p. 338, n° 1201. 238 poderá ser declarada judicialmente inválida, fixando o juiz um prazo para que o banco possa fazer tais exigências. Cabe recordar que o Código de Defesa do Consumidor, de modo expresso, fulminou com a nulidade as cláusulas que se mostrem abusivas, em desfavor do consumidor, como se pode observar na regra que se encontra insculpida nos artigos 51 e seguintes do referido Código, dentre elas inserindo explicitamente aquelas que se mostrem incompatíveis com a boa-fé (art. 51, IV). Além disso, observe-se, ainda, que poderia surgir, também, no exemplo acima, a obrigação de reparar os danos porventura sofridos pelo comerciante, em decorrência do brusco e não avisado rompimento. Vejamos um outro exemplo, este ligado do Direito do Trabalho, e no qual também poderia ser declarada a invalidade de uma cláusula contratual específica. Suponha-se que, ao ser contratado um empregado, por empregador que mantém estabelecimentos em várias cidades do Brasil, do contrato constou, expressamente, que o mesmo poderia ser transferido pelo empregador, unilateralmente, a qualquer momento, para qualquer desses estabelecimentos, desde que houvesse necessidade do serviço, a justificar essa transferência. Essa possibilidade de transferência unilateral, é importante que se ressalte, quando prevista implícita ou expressamente no contrato e no caso de haver necessidade do serviço, é expressamente admitida pelo artigo 469, § 2°, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). No entanto, durante vários e longos anos, o empregado permaneceu trabalhando e residindo sempre naquela mesma cidade na qual foi admitido, sendo que na mesma já adquiriu imóvel, casou-se, matriculou os filhos na escola, associou-se a alguns clubes locais, etc. Enfim, depois de vários anos, o empregado já construiu toda a sua vida social nessa cidade onde 239 foi contratado e onde sempre trabalhou. Decorridos quinze ou vinte anos, vem o empregador a pretender exercer a cláusula que permite a transferência, determinando ao empregado que se apresente, dali a alguns dias, em uma outra cidade, em um outro Estado da Federação. Será válida essa determinação de transferência, feita pelo empregador ao empregado? Apesar da existência da cláusula contratual expressa, parece-nos que claramente a resposta negativa se impõe, uma vez que tal determinação viola o princípio da boa-fé, eis que o longo tempo decorrido, desde a contratação, já havia feito surgir no empregado a legítima expectativa de que não precisaria ser transferido para outra localidade, e a determinação, por isso, quebra a confiança que justificadamente havia surgido no trabalhador. Trata-se, na hipótese, de um caso particular de venire contra factum proprium, que por suas características se enquadra dentro da assim denominada suppressio (veja-se, adiante, o item 2.5). Não é demais observar que, ao apreciar as circunstâncias específicas do caso concreto, para aferir se um determinado comportamento viola ou não o princípio da boa-fé, um elemento que se apresenta como de fundamental importância é precisamente o tempo já decorrido, ou seja, quanto maior for o tempo durante o qual a parte se comportou de uma determinada maneira (no caso, não exercendo o direito de transferir o empregado), mais facilmente poderá ser considerado como abusiva (por violar a boa-fé) a mudança de comportamento (o exercício desse mesmo direito). Veja-se, mais adiante, no item 2.3.1, explicação mais minuciosa sobre essa questão do tempo decorrido. No caso concreto, portanto, parece-nos que ao juiz, ao ser provocado pelo empregado, não restará outra opção, a não ser declarar a 240 invalidade da cláusula constante do contrato laboral e determinando que o empregador se abstenha de insistir na transferência do seu empregado. a.1) modificação eqüitativa de uma cláusula contratual. Vimos, acima, a hipótese na qual o juiz poderia, simplesmente, invalidar uma cláusula contratual, e, portanto, desconsiderá-la, ao buscar a solução para o caso concreto. Poderia ocorrer, no entanto, de se tratar de cláusula necessária, e que por essa razão não pode ser simplesmente eliminada do negócio, mas cujo quantitativo se apresenta visivelmente abusivo. Em tal situação, parece evidente que o juiz não poderá desconsiderar a mencionada cláusula, mas poderá reduzir esse quantitativo, de modo a torná-lo mais adequado às circunstâncias do caso concreto. Vejamos um exemplo. Suponha-se que em uma pequena cidade, na qual existem apenas três médicos-cirurgiões, uma pessoa sente-se mal e necessita de uma urgente intervenção cirúrgica. Nessa ocasião, dois dos cirurgiões estão ausentes da cidade, e o deslocamento do paciente para alguma outra cidade vizinha não se mostra seguro, em virtude do precioso tempo que seria perdido e também em virtude do desconforto físico da viagem. Não tendo outra opção, o doente procura o único cirurgião que se encontra presente na cidade, sendo que este, para realizar a cirurgia, cobra honorários exorbitantes, em valor várias vezes superior ao que normalmente seria cobrado para aquele tipo específico de intervenção cirúrgica. Novamente por não ter opção, diante da urgência de sua situação, o doente concorda com o valor cobrado, sendo firmado contrato nesse sentido, e desde logo adiantado o pagamento no todo ou em parte. 241 Posteriormente, contudo, depois de realizada a cirurgia, o paciente decide questionar judicialmente (como autor ou ao contestar ação de cobrança movida pelo médico, tanto faz) a cláusula referente ao valor dos honorários médicos, alegando que a mesma foi extorsiva, tendo o profissional se valido da urgência da situação para pleitear honorários em valor exorbitante e irreal. O juiz, examinando as circunstâncias do caso concreto, conclui que, de fato, o valor cobrado foi exorbitante, não podendo ser aplicada aquela cláusula contratual para forçar o paciente a pagar a abusiva quantia. Ora, é evidente que, em tal caso, não poderá o juiz simplesmente invalidar e desconsiderar a cláusula contratual, pois é certo que o médico-cirurgião, tendo prestado o serviço ao qual se comprometeu, deverá ser por ele remunerado, com o pagamento dos honorários devidos. Nesse caso, portanto, a intervenção judicial não consistirá na pura e simples eliminação da cláusula contratada, mas na sua adequação à realidade fática do caso concreto, vale dizer, com a sua redução proporcional e eqüitativa, para um valor que possa ser considerado como normal e adequado para aquela espécie de cirurgia. Ou seja, mantém-se a cláusula contratual, mas adapta-se o quantitativo inadequado, para que melhor se harmonize com a situação do caso concreto. Não é demais observar que o caso acima narrado nada mais é do que a hipótese de estado de perigo, prevista no artigo 156, do Código Civil brasileiro, sendo que, no caso, não é possível anular o negócio em virtude do vício apresentado, uma vez que o médico já havia cumprido a sua prestação, cuja devolução se mostra impossível. Logo, deverá o juiz se valer do artigo 182, do mesmo Código, para estipular qual seria a adequada retribuição a ser paga ao médico prestador do serviço. 242 b) determinação para que o sujeito adote um certo comportamento: imposição de obrigação de fazer. A boa-fé, como já vimos (veja-se, retro, o item 1.6.1), tem assento constitucional, fundando-se no princípio da solidariedade social, que se apresenta como um dos objetivos fundamentais da nossa República (Constituição Federal, art. 3°, I), e essa solidariedade impõe, dentre outros comportamentos, o dever de cooperação entre os sujeitos de um negócio jurídico, significando, por exemplo, que cada um deles deve não apenas abster-se de colocar obstáculos para que o outro possa cumprir suas prestações, mas, ainda mais do que isso, deverá cada um deles agir de modo a possibilitar esse mesmo cumprimento. Logo, em muitos casos a atuação da boa-fé poderá implicar exatamente na determinação para que o sujeito adote esse comportamento específico, que no caso concreto possa se mostrar capaz de facilitar ou possibilitar à outra parte o cumprimento de suas prestações. Suponha-se, por exemplo, que em um contrato de compra e venda, no qual o comprador é um comerciante e o vendedor é o fabricante de um determinado produto alimentício, houve a descrição detalhada sobre as condições nas quais esse produto deveria ser entregue, sendo descrito, por exemplo, que cada embalagem individual deveria conter quinhentos gramas do mesmo, e que em cada caixa deveria haver vinte dessas embalagens. O fabricante, no entanto, remete ao comprador o produto em caixas que contêm, cada uma, doze embalagens de quinhentos gramas. O comprador, imediatamente, devolve a mercadoria e requer a resolução do contrato. O vendedor, contudo, oferece ao comprador uma nova e imediata 243 remessa, desta vez com o pleno atendimento das condições pactuadas, ou seja, em caixas de vinte embalagens, mas o comprador persiste no seu propósito de desfazer o contrato. Em tal situação, salvo a ocorrência de circunstâncias especiais, que poderiam justificar a recusa por parte do comprador, parece-nos que este estará descumprindo o seu dever de cooperação, ao recusar o recebimento do produto que esteja dentro das condições especificadas. Assim, por exemplo, é possível que ao comprador só interessasse o fornecimento da mercadoria até uma certa data, para que pudesse atender a sua clientela, e por isso estaria justificada a recusa de uma nova remessa. Não havendo, contudo, qualquer justificativa para tal recusa, parece-nos que a mesma se afigura como abusiva, e por essa razão poderá ser judicialmente imposta a aceitação, por parte do adquirente, rejeitando-se o pedido de resolução contratual. E essa obrigação de fazer, muitas vezes, aparece sob a forma de prestação de alguma informação, podendo ser, por exemplo, a confecção e entrega 244 de um documento do qual o outro sujeito necessita. Suponha-se, por exemplo, que um determinado empresário pretende montar um “cyber café”, estabelecimento no qual existem dezenas de computadores, todos ligados à rede mundial de computadores (internet) e interligados entre si, de modo a permitir que os clientes possam tanto ter acesso à internet quanto participar de jogos, uns com os outros, com jogadores individuais ou participantes de equipes. 244 Não é demais recordar a lição do mestre Washington de Barros, no sentido de que, quando a obrigação consiste na entrega de alguma coisa, mas para que possa entregá-la, primeiro precisará confeccioná-la, então a obrigação, tecnicamente, é de fazer, e não de dar. Cf. Washington de Barros Monteiro, Curso de Direito Civil, v. 4, p. 87. 244 Como o negócio requer um alto investimento, face à grande soma necessária para a reforma e adaptação do imóvel, aquisição dos computadores e outros equipamentos, conexão com a rede mundial, etc, o empresário pleiteia, junto a um banco, a obtenção de um empréstimo. O banco, contudo, dentre a documentação exigida, pede que o empresário apresente o projeto de reforma do prédio, bem como um relatório da fase em que essa mesma reforma se encontra; pede, ainda, o projeto referente à instalação dos computadores. O empresário, para poder atender às exigências do banco, solicita tais documentos aos responsáveis por ambos os projetos, de engenharia e de instalações técnicas dos equipamentos de informática, que injustificadamente não os fornecem, levando o banco a negar a concessão do empréstimo. Poderia esse empresário, pela via judicial, dentre outras medidas possíveis (por exemplo, a reparação dos danos sofridos), buscar obter ordem para que os documentos necessários, solicitados pelo banco, sejam imediatamente fornecidos. b.1) rescisão contratual justificada. No item acima, observamos que uma das medidas possíveis, na proteção à boa-fé do sujeito, é a imposição de uma obrigação de fazer, ou seja, a imposição de que seja adotado um comportamento específico, pelo outro envolvido no negócio jurídico. Ocorre que, em algumas situações, essa obrigação de fazer se apresenta como personalíssima, só podendo ser cumprida, pois, pelo devedor, e sua imposição não pode ser admitida em virtude de outros princípios e direitos fundamentais, também merecedores de 245 proteção, como seria o caso da prestação de fazer que se liga aos próprios direitos da personalidade do devedor. Em tal situação, a única solução possível será permitir que o outro sujeito, aquele cuja boa-fé está sendo protegida, possa considerar rescindido, por justa causa, o negócio entre ambos firmado, sendo essa rescisão acompanhada ou não do dever de reparação dos danos. Esse seria o caso, por exemplo, no qual a obrigação de fazer a ser imposta, como medida de proteção à boa-fé, fosse uma prestação pessoal de serviços, como é o caso da prestação principal do empregado, em um contrato de trabalho. Em tal caso, como essa prestação se liga ao próprio corpo, à força física do empregado, e só por ele poderia ser cumprida, é evidente que não será possível a sua imposição forçada, não restando outro meio que não seja a permissão ao empregador para que considere o contrato rompido por justa causa imputável ao empregado. Considere-se uma situação na qual o empregado, trabalhando há longos anos para a mesma empresa, foi sendo paulatinamente qualificado para que pudesse ocupar cargos mais elevados, de maior remuneração e também de maior responsabilidade, dentro do organograma da empresa. Assim, ao longo dos anos, o empregado participou de vários cursos, recebeu orientações e ensinamentos práticos no próprio local de trabalho, exerceu substituições eventuais, nas ausências dos titulares desses cargos mencionados, etc. Um certo dia, contudo, surgindo uma vaga em um determinado cargo, para o qual o empregado já se encontra plenamente habilitado, o empregador pretende nomeá-lo, para que passe a ocupar tal cargo de modo definitivo. O empregado, no entanto, sem apresentar qualquer justificativa, simplesmente recusa a promoção, frustrando a legítima expectativa do empregador, que ao longo de vários anos investiu na formação e no 246 treinamento desse empregado com o intuito de vê-lo ocupar, na empresa, cargos de maior responsabilidade. Essa frustração da expectativa, levada a termo pelo empregado, segundo nos parece, viola o princípio da boa-fé, infringindo os deveres de solidariedade e de cooperação que devem dirigir as relações entre as partes contratantes e quebrando a confiança que se havia formado no empregador 245. No entanto, é evidente que a repressão à má-fé do empregado (e a proteção à boa-fé do empregador), em tal caso, não poderá ser dada pela imposição, ao empregado, da aceitação do novo cargo, pois tal medida equivaleria a imporlhe um trabalho físico forçado, medida cuja imposição manu militari não pode ser aceita. A única solução viável, ao que nos parece, seria permitir ao empregador o rompimento do contrato de modo justificado, face ao comportamento reprovável do empregado 246. E acrescente-se que, face aos princípios peculiares do Direito do Trabalho, dentre os quais o da proteção e o da atribuição dos riscos da atividade ao empregador, não seria possível condenar-se o empregado ao pagamento de qualquer indenização ao 245 Nesse sentido a lição de Délio Maranhão e Luiz Inácio B. Carvalho, que ao tratar do tema (recusa à promoção, pelo empregado), ensinam que “a recusa somente se justificará por motivos ponderosos. O empregado participa de uma organização econômica e, ao fazer o contrato do qual decorre essa participação, tomando conhecimento da possibilidade de acesso, com isto, tacitamente, concorda. Interessa, também, ao empregador a promoção do empregado, por lhe interessar, logicamente, a melhoria qualitativa do seu quadro de pessoal. O empregado que foge À responsabilidade de cargo de maior importância, sendo, está claro, normal o acesso em relação à função exercida, frustra a justa expectativa do empregador, que o levou a contratá-lo”. Délio Maranhão e Luiz Inácio B. Carvalho, Direito do Trabalho, p. 227. 246 Embora não mencionando expressamente a possibilidade de ruptura justificada do contrato, pelo empregador, também Orlando Gomes aponta que não poderia o empregado, injustificadamente, recusar-se a aceitar a promoção que não lhe ofereça qualquer risco ou desvantagem. Cf. Orlando Gomes e Élson Gottschalk, Curso de Direito do Trabalho , p. 375. no mesmo sentido a lição de Maurício Godinho Delgado, para quem “constitui obrigação de o empregado aceitar a promoção, quando configuradas as situações prefixadas no regulamento empresarial. É bem verdade que se pode admitir a validade da recusa obreira, desde que com justificativa contratual efetivamente ponderável”. Cf. Maurício Godinho Delgado, Curso de Direito do Trabalho, p. 1.019. 247 empregador, limitando-se a solução, tão-somente, à ruptura justificada do contrato, como já foi mencionado. b.2) determinação de manutenção do contrato. Vimos, no subitem anterior, hipótese na qual a solução mais adequada se mostrava como sendo a possibilidade de rompimento justificado do contrato. Em outras situações, no entanto, nas quais não esbarra o juiz no mesmo problema acima mencionado, ou seja, nas quais não se verifica a impossibilidade de imposição de uma determinada prestação ao sujeito, é possível que a solução a ser alvitrada seja exatamente a inversa, ou seja, no sentido de determinar aos sujeitos que o contrato seja mantido, impedindo que um dos contratantes possa exercer seu direito de rompê-lo sem causa justificada. Não é demais recordar que os contratos podem ser extintos, dentre outros modos, pela resilição, ou seja, em virtude da vontade de um ou de ambos os contratantes. Nos contratos que não sejam de trato sucessivo, assim como naqueles que o são, mas que têm prazo determinado, em regra a resilição só poderá ocorrer de modo bilateral, caracterizando a figura do distrato. Nos contratos de execução continuada, contudo, cujo prazo de duração seja indeterminado, é tranqüila a aceitação da possibilidade de resilição unilateral247, desde que mediante concessão de aviso prévio (denúncia) à outra parte, sendo este o sentido do que se encontra disposto no 247 No mesmo sentido a opinião de Béatrice Jaluzot, La bonne foi dans les contrats: Étude comparative de droit français, allemand et japonais, p. 350, n° 1238. 248 artigo 473, do Código Civil, quando se refere aos casos nos quais a lei implicitamente admite a resilição unilateral. No entanto, esse direito que tem o contratante de proceder à denúncia unilateral e injustificada do contrato, a toda evidência, não é e nem pode ser considerado como absoluto, o que aliás fica muito claro pelo simples fato de que a norma legal acima mencionada exige que seja concedido um aviso prévio, acerca da ruptura do contrato. Em outras palavras, ainda que se reconheça o direito de resilição unilateral, nessa hipótese onde não foi previsto qualquer termo para o contrato, é certo que a ruptura contratual não pode ser feita de modo brusco e abrupto, sob pena de se tolerar o abuso do direito e de se permitir que a parte contratualmente mais fraca fique à inteira mercê da mais forte. Dessas afirmações já se pode constatar que o direito de resilição unilateral do contrato, nos casos em que é admitido, pode ser – e é – limitado em virtude do princípio da boa-fé, por isso que se exige a concessão do aviso prévio. No entanto, se em algumas situações a concessão do aviso prévio já se mostra suficiente para a proteção à boa-fé do contratante, por outro lado, é certo que, em algumas hipóteses, isso não se mostrará o bastante, sendo necessário, para que tal proteção se mostre efetiva, que o contrato venha a ser mantido por mais algum tempo, simplesmente “suspendendo-se”, de modo temporário, o direito de resilição do mesmo pelo contratante. Essa situação ocorreria, por exemplo, na hipótese referida no parágrafo único, do artigo 473, do Código Civil, vale dizer, na situação onde um dos contratantes, para que fosse possível cumprir o contrato, precisou realizar investimentos consideráveis. Nesse caso, se ainda não decorreu o tempo suficiente para a recuperação do investimento feito, a denúncia do contrato (e, portanto, a sua resilição) só produzirá efeitos depois que tiver 249 transcorrido esse tempo suficiente. Em tal situação, poderá o contratante prejudicado (o que efetuou os investimentos consideráveis) recorrer ao judiciário, pleiteando que seja imposta ao outro a manutenção do contrato, até que tenha fluído o tempo necessário, conforme o caso concreto, para que o seu investimento possa ser recuperado. Veja-se que se trata, de modo claríssimo, da aplicação do princípio da boa-fé, pois é certo que o contratante autor dos investimentos só os efetuou porque contava em recuperá-los, com o passar do tempo, na exploração do negócio. Logo, se ao outro sujeito fosse permitida a ruptura imediata (ou após a fluência de um curto aviso prévio), estaria sendo frustrada essa legítima expectativa gerada no investidor, restando pois desprotegida a confiança do sujeito, sendo evidente que a proteção adequada dessa confiança, no caso, é precisamente a determinação no sentido de que o contrato venha a ser mantido por mais algum tempo. Convém acrescentar, ainda, que o caput do artigo 473, ao se referir à necessidade de “denúncia notificada à outra parte”, para fins de resilição unilateral, não menciona o prazo da mesma, ou seja, não esclarece qual é a antecedência que deve ser observada, por ocasião do aviso prévio de que o contrato será em breve rompido. Mas é evidente, contudo, que isso não significa que o denunciante poderá valer-se de qualquer prazo, por menor que seja, para comunicar sua intenção de romper unilateralmente o negócio. Na realidade, quando as partes contratantes, na elaboração do contrato, silenciam sobre o prazo do aviso prévio, em caso de resilição unilateral, isso significa que a disposição do referido caput do artigo 473 adere ao contrato, passando a valer como se fosse uma cláusula do mesmo. Logo, essa mencionada cláusula, ao ser interpretada, deverá sê-lo na conformidade 250 do que dispõe o artigo 113, também do Código Civil, ou seja, deverá ser interpretada conforme a boa-fé e os usos do lugar. Dessa forma, conforme o caso concreto, a denúncia deve ser feita em um prazo que se mostre razoável para que o outro contratante não venha a sofrer prejuízos consideráveis, ou seja, para que tenha tempo de se preparar para a ruptura, minimizando as suas eventuais perdas, e é certo que o tempo necessário para que isso possa ser feito dependerá das circunstâncias que acompanham o caso, tais como a natureza jurídica do contrato, o vulto econômico do mesmo, a maior ou menor estrutura organizacional dos envolvidos, etc. E, por último, na realidade se pode apontar que mesmo o parágrafo único, do artigo 473, nada mais é do que uma situação peculiar dessa interpretação conforme a boa-fé, caracterizando-se pelo fato de ter havido investimentos de alto valor e por não ter ainda decorrido um tempo razoável para a recuperação dos mesmos, e por essa razão a denúncia terá que ser feita com um prazo bastante longo, precisamente para permitir que o outro contratante consiga minimizar os seus prejuízos, pelo menos recuperando o seu investimento. c) condenação ao pagamento de uma indenização. Na realidade, nas situações examinadas nas duas alíneas anteriores, as soluções alvitradas poderão ser também acompanhadas com a imposição, a um dos sujeitos, de ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo outro. A indenização pura e simples, desacompanhada de outras medidas capazes de proteção à boa-fé, só se mostrará como adequada nos casos em que 251 não for possível a adoção de outras medidas mais eficientes e aptas à proteção do sujeito. Contudo, deve-se alertar para um importante aspecto: logo ao iniciarmos o presente item, esclarecemos a diferença entre a proteção à boa-fé e a violação do princípio da boa-fé, eis que, em muitos casos, a atuação do juiz buscará proteger a boa-fé de um dos sujeitos envolvidos no negócio, mas sem que isso signifique, necessariamente, que o outro sujeito tenha infringido o princípio da boa-fé (remetemos o leitor à leitura dos primeiros cinco parágrafos do presente item, para mais detalhadas explicações). Ocorre que, para que seja cabível a imposição do dever de indenizar, é indispensável que tenha ocorrido a infração ao princípio da boafé, ou seja, se apenas se tratar de proteger a boa-fé de um dos sujeitos, mas sem que o outro tenha violado o multicitado princípio, não deverá ser imposta indenização alguma. Em outras palavras, um dos sujeitos será condenado a ressarcir os prejuízos unicamente se atuou de modo a infringir o princípio da boa-fé, ou seja, se atuou de má-fé, não cabendo tal condenação apenas como simples meio de proteção à boa-fé do outro. Assim, por exemplo, na hipótese acima figurada, da pessoa que, estando de boa-fé, celebrou contrato com o absolutamente incapaz, já vimos que a intervenção judicial não tratará de reprimir o comportamento do incapaz, mas sim de atribuir efeitos ao negócio jurídico, de modo a proteger a boa-fé do que com o incapaz negociou. Ora, mesmo que essa pessoa de boa-fé tenha sofrido prejuízos, parece-nos evidente que o incapaz não será condenado a indenizá-los, exatamente pelo fato de que não se cogita de sua atuação ter violado o princípio da boa-fé. Não é demais lembrar que a reparação dos danos só se mostra cabível em virtude de uma atuação ou omissão capaz de causar dano a alguém 252 ou de violar direito de outrem, como se observa nos artigos 186 e 187, ambos do Código Civil. Nas hipóteses que estamos examinando, portanto, a imposição do dever de indenizar só será possível quando houver uma atuação ou omissão de um dos sujeitos, que tenha violado o princípio da boa-fé e causado dano a alguém. Fora dessa situação, não será cabível indenização alguma. d) consideração dos efeitos jurídicos do negócio, embora este seja nulo. Em outras hipóteses, ainda, a proteção à boa-fé funciona como elemento de superação da nulidade do negócio jurídico, ou seja, com o escopo explícito de protegê-la, torna-se possível considerar que um determinado negócio, embora nulo, possa produzir seus efeitos normais, como se fosse válido. Esse seria o caso, por exemplo, onde a nulidade decorresse de um vício formal, sendo que tal vício tivesse sido provocado por um dos sujeitos do negócio, sendo que esse mesmo sujeito foi quem veio, posteriormente, a pleitear a declaração de nulidade absoluta, em função da invalidade a que ele mesmo deu causa. Seria a hipótese, também, daquele que negociou com o absolutamente incapaz, sem saber (e sem ter condições de descobrir) que se tratava de incapaz absoluto, sendo que o negócio foi celebrado em condições que podem ser consideradas como normais, para os negócios daquela espécie e segundo as circunstâncias do caso concreto (veja-se, adiante, o item 2.3.2.2, onde esse negócio celebrado pelo incapaz absoluto é examinado em seus pormenores). 253 Em alguns casos, em proteção à boa-fé, a própria lei cuida de manter os efeitos do negócio jurídico. Seria o caso, por exemplo248, da sucessão causa mortis, na qual o juiz homologou a partilha em favor do herdeiro aparente que já estava com a posse do bem, sendo que esse herdeiro, algum tempo depois, vende esse bem a um terceiro. Posteriormente, um outro herdeiro ajuíza ação de exclusão por indignidade, e o alienante do bem vem a ser declarado indigno, e, portanto, despido da condição de herdeiro. Veja-se que, em relação ao indigno, a exclusão retroage, fazendo com que tenha que devolver ao monte todos os bens que recebeu. No entanto, em relação ao terceiro que estava de boa-fé, e que em função da aparência de que estava negociando o bem com o herdeiro, seu legítimo proprietário, firmou a confiança na legitimidade da sua aquisição, ou seja, criou a justa expectativa de que estava adquirindo válida e regularmente esse mesmo bem, os efeitos do negócio serão mantidos, ou seja, a aquisição será considerada válida, e o herdeiro aparente, agora excluído por indignidade, deverá devolver ao monte o valor que recebeu, pois o bem em si mesmo permanecerá com o adquirente, como se encontra expresso no artigo 1.817, do nosso Código Civil. De qualquer modo, essa possibilidade de superação da nulidade do negócio jurídico, em se tratando de tema ligado ao objeto principal da presente pesquisa, será novamente abordada, em maiores minúcias, mais à frente, motivo pelo qual, no presente item, limitamo-nos a dar notícia sobre a mesma. d.1) consideração de efeitos típicos do contrato, ainda que contrato não exista. 248 41. O exemplo é de Vitor Frederico Kümpel, A teoria da aparência no novo Código Civil brasileiro, p. 254 Vimos, no item 1.8, supra, que, em algumas situações, é até mesmo possível que não tenha havido uma declaração da vontade, mas que apesar disso serão produzidos efeitos jurídicos idênticos aos de um contrato, ainda que contrato não tenha havido, em virtude da aplicação do princípio da boa-fé. Seria o caso, narrado no local mencionado, do furto de um carro deixado por um cliente em um estacionamento oferecido gratuitamente pelo banco. Ainda que se entenda que não houve contrato de depósito, entre o cliente e o banco e em relação ao carro, mesmo assim terá havido, em virtude desse contato social entre ambos, uma relação contratual de fato, ou seja, um comportamento social típico, que por si só já é capaz de gerar o dever acessório de proteção à pessoa e aos bens (no caso, o carro) do cliente, e por isso o banco responderá pelos prejuízos, por não ter se desincumbido adequadamente desse dever de proteção. Como se vê, portanto, ainda que se entenda que não houve contrato, tal discussão se torna supérflua, pois os efeitos jurídicos que serão produzidos, no que se refere aos deveres acessórios, serão idênticos aos de um contrato, e por isso, para efeitos práticos, não se vislumbra diferença entre o enquadramento contratual ou aquiliano do dever de proteção, nesse caso específico. 255 2. Violações típicas da boa-fé. 2.1. Considerações gerais. O objetivo precípuo do presente estudo, como desde o início já o dissemos, é o exame dos elementos característicos e das conseqüências da chamada teoria dos atos próprios (venire contra factum proprium), fazendo dela um cotejo com outros institutos assemelhados, todos eles tendo em comum o fato de que se constituem em violações dos comportamentos que, a partir do exame à luz da boa-fé, seriam aqueles esperados para o caso concreto que está sendo apreciado. Tendo em vista tal objetivo, e levando em conta precisamente o fato de que a boa-fé é o elemento que se mostra como fator de ligação entre os diversos institutos a serem cotejados, foi que começamos nossa análise a partir de algumas digressões sobre a boa-fé, traçando um rápido panorama sobre a evolução da mesma, desde a bona fides dos romanos, com caráter subjetivo, até chegarmos à boa-fé como uma norma de conduta, de caráter objetivo, que impõe aos sujeitos a observância dos deveres colaterais, consistindo estes na adoção de um comportamento que se mostre adequado e necessário ao atingimento do resultado final esperado para o negócio. No presente capítulo, continuaremos a analisar essas violações dos comportamentos apurados como sendo os adequados para cada caso concreto, mas agora o enfoque principal deixa de ser na boa-fé em si mesma249 249 Mas não se pode perder de vista que, na realidade, essa divisão da matéria “conforme padrões” é, acima de tudo, para mais fácil compreensão do tema e grupamento das soluções de situações que se mostrem similares umas às outras, pois na realidade continua-se a tratar da própria boa-fé, eis que as situações dela derivadas, a toda evidência, não perdem suas características, ou seja, continuam a ter os mesmos efeitos e o mesmo alcance do princípio geral da boa-fé. Nesse sentido, pode-se dizer que “las consecuencias o las derivaciones inmediatas del principio general de la buena fe, construidas doctrinal o jurisprudencialmente, 256 e passa a se concentrar nas violações, que são reunidas conforme alguns padrões que se manifestam com maior freqüência, nos negócios jurídicos, e que receberam denominações específicas da doutrina. Esse é o caso do próprio venire contra factum proprium, que de modo extremamente sintético pode ser descrito como sendo a infração do dever de coerência, que se manifesta como um subproduto do dever de lealdade, conforme veremos adiante. Nosso exame, contudo, começará pela figura mais ampla do abuso do direito, que na realidade se constitui em instituto de maior generalidade, e por isso capaz de abranger diversas outras violações de caráter mais restrito (inclusive o venire), também configuradas a partir de comportamentos-tipos. Com efeito, e desde logo adiantando o tema do subitem seguinte, pode-se observar que as legislações em geral definem o abuso do direito como uma violação dos limites impostos pela boa-fé, ou seja, trata-se de uma desobediência genérica à conduta aferida a partir da boa-fé. Dentro dessa descrição genérica, contudo, enquadram-se outras, que têm características mais específicas e bem definidas, e que também implicam em violação dos limites impostos pela boa-fé, inclusive o venire contra factum proprium. Antes de nos lançarmos na análise dessas figuras mencionadas, que se constituem em violações específicas do comportamento que deveria ser adotado, conforme as imposições decorrentes da boa-fé, mais algumas observações, de cunho geral, se fazem indispensáveis. en torno a particulares situaciones de intereses, de carácter típico, tienen el mismo valor y el mismo alcance que el principio general de que dimanan y en que inmediatamente se fundan”. Cf. DÍEZ-PICAZO, La doctrina de los propios actos, pp. 139-140, apud José Luis de Los Mozos, El Principio de La Buena Fe, p. 38. Aliás, é exatamente por essa razão, ou seja, porque continua a se tratar de análise do princípio da boa-fé, que logo em seguida veremos, nesse mesmo item referente às violações típicas da boa-fé, os institutos jurídicos nos quais são agrupadas essas violações, tais como o venire contra factum proprium, o abuso do direito, a exceptio doli, etc. 257 Em primeiro lugar, como bem observa DÍEZ-PICAZO250, a norma que ordena que se tenha um comportamento conforme os ditames da boa-fé é um princípio geral do direito, e por essa razão tem o caráter de fonte secundária do Direito, ou seja, dentre outras funções servindo como elemento de integração das lacunas da lei. Desse modo, não havendo norma especial que se mostre adequada para a solução daquele caso concreto que se encontra em exame, tal princípio deve ser aplicado para a solução do litígio. Em segundo lugar, convém recordar que a boa-fé pode se apresentar sob as mais diversas modalidades, em cada um dos casos concretos, sendo certo que a divisão precisa entre os diversos deveres acessórios só existe mesmo para fins didáticos, pois é muito comum que, em uma situação real, um determinado dever acessório esteja abrangendo um outro, como logo em seguida exemplificaremos. De um modo genérico e abrangente, há quem prefira apontar que o comportamento que viola o princípio da boa-fé é aquele que se apresenta como desleal, qualquer que seja o modo pelo qual essa deslealdade se concretize, sendo que o que de fato vai interessar é que as conseqüências, para a outra parte, sejam bastante graves. Nesse sentido a lição de Béatrice Jaluzot 251. Além disso, como mencionamos brevemente, acima, não existe uma separação rígida, clara e perfeitamente delineada, entre os diversos deveres colaterais, por isso que tal separação apenas cumpre finalidade didática. Comentamos, retro, por exemplo, separadamente, sobre os deveres acessórios de proteção e de informação (item 1.8). Muitas situações podem 250 DÍEZ -PICAZO, La doctrina de los propios actos, p. 39, apud José Luis de Los Mozos, El Principio de La Buena Fe, p. 38. 251 Béatrice Jaluzot, La bonne foi dans les contrats: Étude comparative de droit français, allemand et japonais, p. 89, n° 325. 258 ocorrer, no entanto, em que a informação deve ser prestada, por um dos sujeitos ao outro, sob pena de sérios danos à pessoa ou ao patrimônio. Seria o caso, por exemplo, das informações necessárias para o manuseio seguro de uma máquina que funciona sob pressão, informações essas sem as quais há o sério risco até mesmo de forte e grave explosão. Ora, como determinar se, em tal caso, estamos diante do dever acessório de informação ou do dever de proteção? Simplesmente não é possível esse enquadramento preciso, pois a situação apresenta traços que permitem classificá-la tanto em um quanto em outro dos dois deveres acessórios, que no caso se mesclam de modo inseparável. De qualquer modo, por outro lado se percebe que o que se mostra mais do que suficiente é que se possa identificar se houve ou não, no caso, situação na qual se poderá apontar que foi violado o princípio da boa-fé. Uma vez identificada tal violação, haverá de se mostrar completamente irrelevante, para qualquer finalidade prática que seja, determinar-se se o dever lateral violado foi o de proteção ou o de informação. 2.2. O abuso do direito. Antes do exame do instituto em si mesmo, tracemos algumas breves considerações sobre a denominação do mesmo. O problema é que encontramos, com alguma freqüência, no texto de alguns ilustres autores, a referência ao “abuso de direito”252, o que, com todo o respeito devido a tão 252 Dentre outros: Renan Lotufo, Código Civil Comentado – v. 1, p. 187 e ss.; Cristiano Chaves de Farias, Direito Civil – Teoria Geral, p. 468; Sílvio Venosa, Direito Civil – Parte Geral, p. 492; J. Franklin Alves Felipe e Geraldo Magela Alves, O Novo Código Civil Anotado, p. 44; Maria Helena Diniz, Curso de Direito Civil Brasileiro – v. 1, p. 462. Esta última e ilustre autora, inclusive, usa indistintamente as expressões “abuso do direito” e “abuso de direito”, ambas na p. 462, da obra citada. Com a mesma imprecisão 259 eminentes juristas, não se mostra adequado, eis que mais correto se mostraria falar em “abuso do direito”. Com efeito, como veremos em detalhes, logo em seguida, a figura do abuso do direito se relaciona, invariavelmente, com um direito subjetivo, que ao ser exercido por seu legítimo titular, ultrapassa certos limites (um dos quais é a boa-fé, daí o nosso interesse no tema). Poder-se-ia falar, portanto, de modo mais completo, em “abuso no exercício do direito”, por parte de seu titular. Em outras palavras, quando se usa a expressão “abuso do direito”, fica claro que se trata de um direito (subjetivo) que foi exercido de modo irregular, por seu titular. Por outro lado, a expressão “abuso de direito” pode causar a (falsa) impressão de que se trata de um abuso que integra o direito, ou seja, um abuso que é tolerado e regido pelo direito, o que a toda evidência se mostraria uma expressão contraditória em si mesma, pois se o comportamento se mostrar abusivo, é evidente que não estará dentro do campo protegido pelo direito, será por este rejeitado, e não regido. Mesmo em linguagem corriqueira, do quotidiano, quando se fala que alguma coisa é de direito, quer-se sempre significar que tal coisa está amparada pelo direito, encontra respaldo nas normas jurídicas. Assim, por exemplo, quando A tem um crédito contra B, já vencido, e resolve cobrá -lo, é comum que A diga algo como “é de direito que eu cobre o que B me deve”, e, quem quer que o ouça, imediatamente compreenderá que A pretendeu dizer que a cobrança que pretende fazer está amparada pelas normas jurídicas. Da mesma forma, quando se comenta, em relação a um trabalhador, que “é de direito que receba o pagamento dos dias que terminológica, usando as duas expressões, Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, Novo Curso de Direito Civil – Parte Geral, v. 1, p. 467. 260 trabalhou”, o sentido, facilmente captado por qualquer ouvinte, é que o direito dá amparo a que esse trabalhador receba o pagamento que lhe é devido, referente aos dias em que efetivamente trabalhou. Por último, embora infinitas situações pudessem ser ainda mencionadas, tome-se, à guisa de comparação, como um derradeiro exemplo, a expressão “Instituto de direito”, na qual fica fácil de perceber que se está a referir a um instituto, seja ele qual for, que é regido e protegido pelas normas jurídicas, o que não ocorre com o abuso, que por isso não pode ser de direito, mas sim do direito. Não foi sem razão, portanto, que o ilustre Pontes de Miranda253 anotou que “a expressão ‘abuso de direito’ é incorreta. Existe ‘estado de fato’ e ‘estado de direito’; porém, não ‘abuso de fato’ ou ‘abuso de direito’. Abusase de algum direito, do direito que se tem. Leis falam de ‘abuso de direito’, expressão que aparece em certos juristas desatentos à terminologia científica e indiferentes à sua exatidão. ‘Abuso do direito’, ou abuso do exercício do direito é que é. Recebemo-la dos livros franceses e, lá, só se usa ‘abus du droit’.”. No mesmo sentido a lição de Rizzatto Nunes254, que aponta ser correta a expressão abuso do direito, e não abuso de direito. E o mesmo se pode apontar, ainda, em relação à obra clássica de Pedro Baptista Martins 255, que desde o título já se vale da expressão correta. E nem se argumente, em sentido contrário, que a própria lei usa a expressão “abuso de direito” (Código de Processo Civil, art. 273, II), pois é certo que nem mesmo a lei poderá passar por cima das barreiras lingüísticas para transformar em certo o errado. A expressão usada pelo texto legal, abuso 253 254 255 Pontes de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, t. I, arts. 1°-45, pp. 382-383. Luiz Antônio Rizzatto Nunes, Manual de Introdução ao estudo do direito, p. 144. Pedro Baptista Martins, O Abuso do Direito e o Ato Ilícito, passim. 261 de direito, apenas significa que o legislador também deve se juntar às fileiras dos muitos que usam com erronia a expressão. Aliás, nosso legislador nunca serviu como parâmetro para aferição do apuro técnico, e tanto é assim que esse mesmo legislador pátrio, na Lei de Greve (Lei nº 7.783/89), já se refere ao abuso do direito, em franca contradição consigo mesmo. Ainda em relação à denominação dessa figura, convém uma segunda observação. É que a boa-fé, como já vimos, em sua função essencial de critério limitador, impõe limites não apenas em relação ao exercício dos direitos, mas também quanto ao cumprimento de deveres e, de modo ainda mais amplo, em relação a todas as condutas capazes de gerar conseqüências jurídicas (veja-se, retro, o item 1.8). Cabe, então, indagar o porquê de apenas se fazer referência ao exercício dos direitos, silenciando-se sobre essa questão dos deveres e sobre as demais condutas do sujeito. Na realidade, essa denominação restrita, que não corresponde à realidade mais ampla do papel limitador da boa-fé, decorre de circunstâncias históricas 256. O que ocorreu foi que, no século XIX, o liberalismo e o individualismo foram elevados à máxima potência pelo Direito, o que fez com que os direitos subjetivos fossem considerados quase que como sendo absolutos, ou, pelo menos, com uma amplitude muito grande, o que levou a excessos claramente inaceitáveis no exercício de tais direitos, mostrando a necessidade de que fossem impostos alguns limites. Nesse sentido, pode-se dizer, com Alvino Lima257, que com a teoria do abuso do direito foi modelado um novo conceito de dir eito subjetivo, que buscou exatamente se contrapor à noção clássica, vale dizer, buscou-se a revisão de um conceito já secular, que se baseava no individualismo e no 256 257 Delia Matilde Ferreira Rubio, La Buena Fe: el principio general em el derecho civil, pp. 219-220. Alvino Lima, Culpa e Risco, pp. 215-216. 262 absolutismo dos direitos258. Contra tal noção de direitos subjetivos absolutos, veio a ser construída a idéia de que existe uma missão social do direito. Dessa forma, como veremos logo em seguida, ainda no presente item, os tribunais começaram a tratar do tema a partir da análise, nos casos concretos que lhes eram apresentados, de situações nas quais se verificava que o titular de um direito o havia exercido de um modo inaceitável, e embora não lhe fosse negado o direito em questão, era-lhe negado exercê-lo daquele modo, e por isso a decisão era desfavorável ao próprio titular do direito. Assim, foi tão-somente pelo fato da necessidade de limitações ter sido constatada em situações referentes ao exercício de direitos que essa figura recebeu denominação restritiva, abrangente de apenas um dos seus vários aspectos. Além disso, convém alertar que, embora a figura do abuso do direito encontre o seu campo primordial de atuação no domínio das relações contratuais 259, na realidade a mesma é aplicável a todos os direitos subjetivos, inclusive em relação ao exercício do direito de ação. Com efeito, como ensina Pedro Baptista Martins 260, “o exercício da demanda não é um direito absoluto, pois que se acha, também, condicionado a um motivo legítimo. Quem recorre às vias judiciais deve ter um direito a reintegrar, um interesse legítimo a proteger, ou pelo menos, como se dá nas ações declaratórias, uma razão séria para invocar a tutela jurídica. Por isso, a parte que intenta ação vexatória incorre em responsabilidade, porque abusa de seu direito. E esse abuso pode verificarse também no exercício da defesa...”. 258 O dogma do absolutismo dos direitos subjetivos, explica Josserand, foi reforçada, em França, a patir da Revolução Francesa, notadamente com a Declaração dos Direitos do Homem, pois o direito revolucionário estava impregnado de um individualismo intenso, pois considerava o homem como um fim em si mesmo, mais do que como um elemento integrante da comunidade; como um indivíduo, mais do que como a célula primeira da sociedade. Cf. Louis Josserand, Cours de Droit Civil Positif Français, v. I, p. 118, n° 161. 259 Pedro Baptista Martins, O Abuso do Direito e o Ato Ilícito, p. 5. 260 Pedro Baptista Martins, O Abuso do Direito e o Ato Ilícito, p. 71. 263 No mesmo sentido a opinião de Cléber Lúcio de Almeida 261, Juiz do Trabalho das Minas Gerais, que ensina que o exercício do direito de ação tem como pressuposto a necessidade de proteção jurídica, como se encontra insculpido no art. 3º, do Código de Processo Civil brasileiro. Logo, se a efetiva proteção jurídica não for o objetivo daquele que busca o Judiciário, estará configurado o abuso do direito de ação, uma vez que tal direito, de modo claro e inegável, estará sendo exercido com desvio de sua finalidade. Um outro esclarecimento, que deve ser trazido desde logo, é o que se refere ao foco a ser dado no presente item deste estudo. É que a teoria do abuso do direito causou o surgimento de duas correntes doutrinárias opostas, uma que o abordou sob o aspecto subjetivo, e outra que o considerou sob o ponto de vista objetivo. Para os adeptos da primeira corrente, o abuso do direito ocorre quando o seu respectivo titular exercita seu direito sem que tenha necessidade de fazê-lo, apenas movido pela intenção de prejudicar; para a segunda, no entanto, para que se configure o abuso, é suficiente que ocorra o exercício anormal do direito, ou seja, que não esteja de acordo com sua finalidade econômica ou com sua função social262. No entanto – e este é o esclarecimento a ser dado –, no presente trabalho apenas examinaremos a figura do abuso do direito sob o prisma objetivo, ou seja, considerando-se a a finalidade econômica e social do direito subjetivo, pois foi essa a posição adotada de modo claro e expresso pelo nosso Código Civil, em seu artigo 187, embora não se possa deixar de observar que ainda existem resquícios, em nosso Diploma Civil, da teoria subjetiva, como 261 Cléber Lúcio de Almeida, Abuso do Direito no processo do trabalho, p. 37. Francisco Amaral, Os Atos Ilícitos. In: Franciulli Netto, Domingos; Mendes, Gilmar Ferreira e Martins Filho, Ives Gandra da Silva (Coord.). O Novo Código Civil – Estudos em Homenagem ao Prof. Miguel Reale, p. 161. 262 264 ocorre em relação ao artigo 1.228, § 2º, sobre o qual teceremos alguns comentários adiante. Feitas essas pequenas ressalvas, prossigamos. A questão do abuso do direito foi tratada, no Código Civil pátrio, no artigo 187, o qual estabelece que também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Expressamente, como se vê, nosso Código Civil indicou como ilícito o exercício abusivo do direito, ao lado do ato ilícito previsto no artigo anterior (art. 186). E esclareçase que o artigo 186 trata do ato intrinsecamente ilícito, ou seja, ilícito em si mesmo, por violar seus limites internos, enquanto o artigo 187 se refere ao ato extrinsecamente ilícito, ou seja, que o é por ter violado seus limites externos263. Como se vê, a idéia que se destaca como básica é a de que os direitos subjetivos têm limites ao seu exercício 264, limites esses que podem ser 263 A distinção é feita por Josserand, que ensina que “le refus de contracter peut revêtir plus qu’un caractère abusif; il peut se présenter à nous comme un acte illégal, intrinsèquement illicite”. Cf. Louis Josserand, L’Esprit des Droits et de leur Reativité – Théorie dite de l’Abus des Droits, p. 127. 264 Nesse sentido, ensinam Diez-Picazo e Antonio Gullon que “Definido el derecho subjetivo como una situación de poder que el ordenamiento jurídico atribuye o concede a la persona como un cauce de realización de legítimos intereses y fines dignos de la tutela jurídica, resulta evidente que este poder tiene que estar de algún modo limitado, pues sin límites sería la justificación de la absoluta arbitrariedad”. Cf. Luis Diez-Picazo y Antonio Gullon, Sistema de Derecho Civil – v. 1 – Introdución – Derecho de La persona – Negocio Jurídico, p. 517. No mesmo sentido, ainda, a lição de Béatrice Jaluzot, para quem “La conséquence juridique essentielle qu’entraîne l’abus de droit et qui donne tout son sens à l’institution est la limitation des droits subjectifs... La notion d’abus de droit ne peut resteur cohérente que si l’on respecte l’idée générale qui la gouverne: elle permet au juge de contrôler l’exercise des droits subjectifs”. Cf. Béatrice Jaluzot, La bonne foi dans les contrats: Étude comparative de droit français, allemand et japonais, p. 406, n°s 1418 e 1420. Mas a autora, na mesma obra (p. 408, n° 1426), faz interessante observação, no sentido de que a figura do abuso do direito, quando coloca limites ao exercício do direito subjetivo de uma pessoa, ao mesmo tempo faz nascer um novo direito para a outra. Assim, por exemplo, quando se proíbe a um dos contratantes o exercício do direito de resilir unilateralmente o contrato, ao mesmo tempo se está dando ao outro o direito de ver o contrato prosseguir. Nesse mesmo sentido é a lição de Menezes Cordeiro, que ao colocar em cotejo as figuras da suppressio e da surrectio, na demonstração de que aquela é a conseqüência, o subproduto desta, ensina que “quando, porém, o beneficiário incorra numa vantagem específica e autônoma, há, para ele, um direito subjetivo novo: ocorre um fenômeno de surrectio. Paralelamente, sendo esse direito novo um direito relativo, adstringe-se a contraparte a um dever. Da mesma forma, o titular-exercente pode, por força das regras que vedam o abuso do direito, ver um direito seu de tal forma coarctado pela restrição ou, simplesmente, 265 impostos não apenas pela boa-fé, mas por parâmetros outros, como os bons costumes e a finalidade econômica ou social. A boa-fé e os bons costumes não estão vinculados a cada direito subjetivo, sendo de natureza genérica, face ao seu conteúdo normativo, enquanto a finalidade econômica ou social, a toda evidência, está diretamente ligada ao direito de que se trata. Para Louis Josserand 265, os direitos subjetivos são produtos sociais, concedidos pela sociedade, mas que não nos são atribuídos abstratamente e para que os usemos de modo discricionário, pois cada um deles tem uma razão de ser e está animado de um certo espírito, que não pode ser desconsiderado por seu titular, e sempre que tais direitos são exercidos, devemos nos conformar a esse espírito e permanecer dentro das linhas em que o direito foi instituído, pois caso contrário estaríamos desviando o direito de sua destinação, ou seja, estaríamos cometendo abuso capaz de nos atribuir a correspondente responsabilidade. Em relação à finalidade econômica e social do direito subjetivo, já em 1960 ensinava Alvino Lima 266 que, além dos limites objetivos, que são fixados pela lei, os direitos subjetivos também possuem limites de ordem teleológica ou social, e que a teoria do abuso do direito nada mais é do que a manifestação concreta dessas idéias. Dizia o mestre que, em vez do direitoincompatibilizado com um novo direito surgido na esfera da contraparte beneficiária, que caiba falar de uma verdadeira extinção”. Cf. Antônio Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro, Da boa-fé no Direito Civil, p. 826. Mas é de se observar que o ilustre autor português inverte os termos da equação, vale dizer, aponta que primeiro surge o direito da contraparte, e a partir daí é que os direitos do sujeito que se mostrarem incompatíveis com esse direito recém-surgido poderão sofrer redução ou mesmo ser extintos. A questão será retomada no item 2.5, quando examinarmos as figuras da suppressio e da surrectio, e para lá remetemos o leitor. 265 Louis Josserand, Cours de Droit Civil Positif Français, v. II, p. 224, n° 224. “Les droits subjectifs, produits sociaux, concédés par la société, ne nous sont pas attribués abstraitement et pour que nous en usions discrétionnairement, ‘ad nutum’; chacun d’eux a sa raison d’être, sa mission à accomplir; chacun d’eux est animé d’un certain esprit qu’il n’appartient pas à son titulaire de méconnaitre ou de travestir; lorsque nous les exerçons, nous devons nous conformer à cet esprit et demeurer dans la ligne de l’institution; sans quoi, nous détornerions le droit de sa destination, nous en abuserions, nous commettrions une faute de nature à engager notre responsabilité”. 266 Alvino Lima, Culpa e Risco, p. 217. 266 poder, como prerrogativa soberana concedida ao seu titular, o que se tem é o direito-função, concedido à pessoa para que possa auferir todos os proveitos que a lei lhe confere, mas desde que o faça sem ofender aos interesses da comunhão social267. Complementa essa idéia a lição de Francisco Amaral268, segundo a qual deve-se entender como fim econômico ou social “a função instrumental própria de cada direito subjetivo”, sendo essa função instrumental que justifica que esse mesmo direito tenha sido atribuído ao seu titular e que condiciona o seu exercício. Em outras palavras, ainda na lição do ilustre Professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, essa concepção parte da idéia de que os direitos subjetivos são atribuídos para que sirvam de instrumento à realização de interesses, e por isso só podem ser exercidos em atenção a essa instrumentalidade, sob pena de se configurar o abuso. Pode-se ainda acrescentar, a partir do artigo 187, supra transcrito, que a boa-fé referida no mesmo, claramente, é a boa-fé objetiva, ou seja, a boa-fé norma comportamental. Com efeito, o que se vê no texto legal é que o abuso não decorre da intenção que moveu o titular do direito ao exercê-lo, mas do exercício em si mesmo, ou seja, a norma legal apanhou o comportamento do titular do direito, impondo-lhe que, por ocasião do seu exercício, adote conduta que esteja situada dentro dos limites impostos pelos diversos fatores mencionados, dentre os quais a boa-fé. Não é demais recordar que uma das 267 No mesmo sentido é o entendimento de Antônio Chaves, para quem “os direitos subjetivos, produtos concedidos, pela sociedade, não nos são atribuídos abstratamente, e para que deles usemos discricionariamente, ad nutum; cada um deles tem sua razão de ser, sua missão a cumprir, cada um deles é animado de um certo espírito, que seu titular não pode desconhecer ou disfarçar. Quando exercemos, devemos conformar-nos com esse espírito e permanecer na linha da intuição, sem o que desviaríamos o direito do seu destino, abusaríamos dele, cometeríamos uma falta de natureza e comprometeríamos nossa responsabilidade”. Cf. Antônio Chaves, Responsabilidade Pré Contratual, p. 124. 268 Francisco Amaral, Os Atos Ilícitos. In: Franciulli Netto, Domingos; Mendes, Gilmar Ferreira e Martins Filho, Ives Gandra da Silva (Coord.). O Novo Código Civil – Estudos em Homenagem ao Prof. Miguel Reale, p. 162. 267 funções essenciais da boa-fé é exatamente servir como critério limitador do exercício dos direitos (veja-se, acima, o item 1.8). E ainda convém que se observe que, em se tratando de limites impostos a direitos subjetivos, além dos que se encontram previstos no dispositivo legal mencionado (art. 187, Código Civil brasileiro), a toda evidência também existem outros limites, trazidos pelas normas que criam cada um desses direitos subjetivos. Para que se chegue a tal conclusão, basta que se recorde que os direitos subjetivos nada mais são do que uma liberdade de atuação que a lei confere ao sujeito, para que possa auferir vantagens, mas que o faz desde logo impondo limites, ou seja, a própria norma legal que reconhece ao sujeito a faculdade de agir (facultas agendi) já o faz dizendo quais são os limites dentro dos quais deve se dar essa mesma atuação 269. Como didaticamente esclarece Delia Rubio 270, a respeito dessa temática da limitação dos direitos subjetivos, a mesma pode ocorrer por diversos caminhos, como as restrições concretas referentes a cada espécie de direito (seria o caso, por exemplo, das restrições à propriedade em virtude das relações de vizinhança), as restrições administrativas quanto ao exercício de 269 Nesse sentido, referindo-se precisamente aos limites impostos aos direitos subjetivos, esclarecem Diez-Picazo e Antonio Gullon que “¿Cuáles son estos límites a que debe someterse o entenderse sometido el derecho subjetivo? Hay, en primer lugar, unos límites a los que se puede llamar ‘naturales’, toda vez que derivan de la natureza propia de cada derecho y de la manera como es configurado de acuerdo con la función económica o social que a través de él se trata de realizar. El derecho aparece definido en la ley en virtud de esta naturaleza y la definición legal implica ya el establecimiento de sus linderos o confines...Al lado de los límites que hasta ahora hemos mencionado, es posible encontrar unos límites genéricos aplicables a todos los derechos, y que se fundamentan en la idea misma de lo que el derecho sea y de la finalidad para cual es concedido o atribuido al particular. Estos límites genéricos o institucionales se apoyan sobre estas bases: 1ª. El ejercicio del derecho debe hacerse conforme a las convicciones éticas imperantes en la comunidad. 2ª El ejercicio de un derecho debe ajustarse a la finalidad económica o social para la cual ha sido concedido o atribuido al titular. La primera consideración lleva a la exigencia de que el ejercicio de un derecho subjetivo se ajuste a los dictados de la buena fe. La segunda impone la prohibición del abuso del derecho. Cf. Luis Diez-Picazo y Antonio Gullon, Sistema de Derecho Civil – v. 1 – Introdución – Derecho de La persona – Negocio Jurídico, pp. 517-519. 270 Delia Matilde Ferreira Rubio, La Buena Fe: el principio general em el derecho civil, p. 222. 268 certas atividades, ou as restrições municipais quanto ao direito de construir, e assim por diante. Tratando sobre o tema, diz Pietro Perlingieri271 que a noção do abuso do direito não se exaure na configuração dos limites de cada poder, devendo-se ainda observar a correlação à mais ampla função da situação global, da qual esse mesmo poder é expressão, sendo por isso possível apresentar uma grande variedade de comportamentos em relação a cada situação e à sua concreta função. À guisa de exemplo do que foi dito nos três parágrafos anteriores, sobre essa diversidade de limites possíveis, veja-se que o proprietário de um terreno, quando vai exercer seu direito subjetivo de construir nesse seu imóvel, sofre, dentre outras, duas restrições: a) não poderá abrir janela a menos de metro e meio da linha divisória; b) não poderá erguer alta coluna, próxima à linha divisória, que não tenha qualquer outra finalidade além de impedir a iluminação e a ventilação da construção existente no terreno vizinho. A primeira restrição é inerente ao direito subjetivo de construir, ou seja, nasce junto com ele, faz parte de sua gênese, pois já consta do proprio texto legal que o reconheceu. A segunda, no entanto, não está mencionada na origem genética desse direito, mas decorre da previsão genérica do artigo 187, ou seja, decorre da consideração sobre a abusividade do modo como está sendo exercido o direito de construir. Assim, pode-se facilmente concluir que cada direito subjetivo encontra duas ordens de limitações, uma que faz parte da sua gênese, ou seja, o direito já nasceu enquadrado dentro de limites previstos na própria lei que o 271 Pietro Perlingieri, Perfis do Direito Civil – Introdução ao Direito Civil Constitucional (trad. Maria Cristina De Cicco), p. 122. 269 criou, e outra que se encaixa na questão dos parâmetros vistos acima, que servem para demarcar o campo onde termina o exercício regular e onde começa o exercício abusivo do direito. Mas deve-se observar que, quando são ultrapassados os limites previstos na própria lei que criou o direito subjetivo, o que se tem, tecnicamente, não é o abuso do direito, mas uma ilegalidade. A explicação se faz necessária porque é muito comum que se encontre, em decisões judiciais, a referência ao abuso do direito, quando na verdade o que se tem é a pura e simples violação da norma legal explícita, a ilegalidade manifesta. Assim, por exemplo, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CABIMENTO ART. 535 CPC. EMBARGOS PROTELATÓRIOS - MULTA (CPC, ART. 538). - Não pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Se não há contradição ou omissão a suprir, os embargos declaratórios merecem rejeição. - O abuso do direito ao recurso, contribuindo para inviabilizar, pelo excesso de trabalho, o Superior Tribunal de Justiça, presta um desserviço ao ideal de Justiça rápida e segura. - Se os embargos declaratórios envolvem intuito protelatório, aplica-se a multa cominada pelo Art. 538, Parágrafo Único, do CPC.272 Na ementa acima, como se vê, tratou-se da apresentação de Embargos Declaratórios de cunho procrastinatório, situação que já se encontra expressamente prevista no Código de Processo Civil, nos artigos 535 e seguintes, tanto em relação aos contornos precisos de cabimento do recurso em questão (art. 535) quanto em relação às conseqüências jurídicas quando tais contornos são ignorados, com o cabimento da multa respectiva (CPC, art. 272 EDcl no AgRg no REsp 164648/MG; Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial 1998/0011629-0, 1ª T. Ac. unânime. Relator Min. Humberto Gomes de Barros, j. 03/08/1999, p. DJ 13.09.1999, p. 42. 270 538, parágrafo único). Logo, parece-nos que se mostra completamente desnecessário o recurso à figura do abuso do direito. Por outro lado, somos forçados a reconhecer que, no caso, não se vislumbra qualquer conseqüência jurídica em decorrência de se ter feito a referência à figura do abuso, em vez de simplesmente ser apontada a infração à norma legal. Tratou-se, portanto, de simples reforço lingüístico. Antes de prosseguirmos, importante observação se mostra necessária. É que, como acabamos de ver, os limites dos direitos subjetivos, cuja transposição implica na figura do abuso do direito, estão sempre ligados às finalidades desse mesmo direito, ou seja, à “causa” em virtude da qual esse direito foi atribuído ao seu titular. Por essa razão, ensina Josserand 273 que existem alguns poucos direitos que não são motivados, ou seja, não possuem uma causa específica (“não causais”), pois em si mesmos contêm sua própria finalidade, e por isso escapam à disciplina do abuso do direito, tendo caráter absoluto, e por isso seus titulares podem exercê-los para todos os fins, para qualquer que seja o objetivo, ainda que malicioso, sem riscos de serem responsabilizados por isso. Como exemplos de tais direitos que seriam absolutos, aponta o respeitado jurista francês, como exemplos, o direito dos ascendentes de não autorizarem o casamento do seu descendente menor, o direito do ascendente de deserdar os seus filhos, nos casos legais, o do co-proprietário, de requerer a partilha dos bens indivisos, etc. Cometeremos, neste ponto, a enorme imprudência de discordar de tão ilustre e conhecido autor, pois nos parece que mesmo tais direitos são passíveis de incidência na figura do abuso, mesmo porque não existe, no nosso entendimento, direito que possa ser livremente usado com objetivo malicioso. 273 Louis Josserand, Cours de Droit Civil Positif Français, v. I, p. 120, n° 164. 271 É verdade, desde logo se adianta que com isso concordamos, que seus titulares não poderão ser civilmente responsabilizados, em caso de exercício inadequado, o que por si só não significa que não possa haver abuso, mas tãosomente quer dizer que, nesses casos, o combate ao abuso poderá ser feito através do desfazimento judicial da situação criada em virtude do exercício abusivo. Assim, por exemplo, suponha-se que os pais decidiram não autorizar o casamento do seu descendente menor apenas com o intuito de não vê-lo emancipar-se, passando a partir daí a gerir o seu próprio patrimônio. Ora, é evidente que o filho menor, em tal caso, poderá sempre recorrer ao juiz para obter o suprimento judicial à autorização negada, de modo a contornar essa negativa despropositada dos seus próprios pais, como aliás se encontra expresso no artigo 1.519, do nosso Código Civil, que explicitamente se refere à negativa injusta da autorização. Da mesma forma, se um dos condôminos requer a súbita divisão do bem comum, apenas com a finalidade de atrapalhar o negócio que estava sendo entabulado por outro condômino, em relação à sua quota ideal, causando-lhe grave prejuízo, parece-nos que este último poderá requerer ao juiz que a indivisão seja mantida por mais algum tempo (desde que seja breve), até a conclusão do negócio em curso. Prossigamos. A expressão “abuso do direito” foi cunhada pelo jurista belga Laurent274, em 1883, após estudar uma série de decisões das cortes francesas, ainda no século XIX, nas quais era reconhecido o direito do réu, mas apesar disso o mesmo era condenado, por ter exercido esse direito de um modo tido por irregular. Assim, por exemplo, um determinado proprietário resolveu 274 Cf. Béatrice Jaluzot, La bonne foi dans les contrats: Étude comparative de droit français, allemand et japonais, p. 427, n° 1489. 272 construir, em seu terreno, uma falsa chaminé, que para nada lhe serviria, mas tão-somente tinha a finalidade de vedar a claridade em uma janela do imóvel vizinho. Entendeu o tribunal que construir era um direito do proprietário, mas fazê-lo naquelas condições equivalia a exercer de modo irregular esse mesmo direito. A figura do abuso do direito, como hoje o conhecemos, não encontra suas raízes históricas no direito romano. É que os romanos, com o seu senso eminentemente prático, não buscavam teorizações genéricas, com conceitos que se mostrassem aplicáveis a todos os temas jurídicos. Muito pelo contrário, o que se via no direito romano era a adoção de soluções jurídicas específicas para cada tipo de situação, ou seja, institutos localizados, válidos apenas para os casos que apresentassem em comum uma determinada característica. É possível encontrarmos semelhanças do abuso do direito com alguns institutos isolados do direito romano, tais como a aemulatio, a exceptio doli e as relações de vizinhança 275, mas nenhum desses, repete-se, foi marcado por uma generalização que lhes permitisse atingir todo o campo das relações sociais reguladas pelo direito, vale dizer, nenhum desses institutos poderia ser considerado como sendo um limite genérico, válido para todos os direitos subjetivos. A aemulatio era o exercício de um direito que não trazia qualquer utilidade para o seu titular, e apenas era impulsionado pela intenção de causar prejuízo a outrem, ou seja, era de cunho marcadamente subjetivo, centrandose no aspecto psicológico da intenção do agente 276. Os atos de emulação 275 Cf. Antônio Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro, Da boa-fé no Direito Civil, p. 673. Não se pode deixar de observar que há autores que vêem nessa “intenção de prejudicar” (animus nocendi) o critério mais antigo para a identificação do abuso do direito, sendo evocado pela doutrina e pela jurisprudência dos mais diversos países. Nesse sentido, por exemplo, é a opinião de Béatrice Jaluzot, La 276 273 tiveram grande repercussão nas relações de vizinhança, constituindo-se em importante limitação ao direito de propriedade, não sendo despiciendo recordar que o nosso Código Civil, ainda hoje, ao tratar do direito de propriedade, de modo expresso proibiu os atos de emulação 277, como se vê no artigo 1.228, § 2º, que se refere aos atos que não tragam ao proprietário qualquer comodidade ou utilidade e que sejam animados pela intenção de prejudicar outrem278. A exceptio doli, no direito romano, correspondia às atuais exceções substanciais, ou seja, uma defesa indireta alegada pelo réu, na qual não se negava o mérito do direito invocado pelo autor, mas apontavam-se razões de outra ordem para obstaculizá-lo. Essas razões tinham um conteúdo substantivo, isto é, diziam respeito à própria substância do comportamento do autor, que havia agido de modo doloso. Essa figura, que ainda hoje encontra grande aplicação prática, foi absorvida pela figura mais ampla do abuso do direito, e por isso não costuma ser mencionada expressamente, nas diversas decisões dos tribunais onde se pode identificá-la. bonne foi dans les contrats: Étude comparative de droit français, allemand et japonais, p. 413, n° 1447. O que nos parece oportuno esclarecer é que os contornos do abuso do direito, como hoje é conhecido, são completamente distintos da figura da aemulatio, e foi por isso que mencionamos, acima, que as origens da figura não se encontram no direito romano, precisamente por serem diferentes as características dos institutos que eram encontrados neste. E tanto é assim que a própria Béatrice Jaluzot reconhece, na mesma obra, pouco mais à frente, que a intenção de prejudicar é um critério que se mostrou insuficiente, e que hoje é rejeitado pela maior parte dos sistemas jurídicos (p. 414, n° 1450). 277 Na realidade, o Diploma Civil apenas repete posição que ainda se mostra bastante influente entre nós, uma vez que, como bem aponta Cristiano de Sousa Zanetti, Responsabilidade pela ruptura das negociações no direito civil brasileiro, p. 108, “o recurso à boa-fé para fundamentar o abuso do direito não pode ser encontrado na tradição brasileira que, muito apegada ao direito francês, sempre procurou caracterizar o instituto com arrimo na teoria dos atos emulativos...”. 278 Embora, como apontamos acima, existam nítidas diferenças entre a aemulatio romana e a figura atual do abuso do direito, não se pode deixar de observar que a opinião dos juristas medievais, sobre a ilicitude dos atos de emulação – notadamente no direito de vizinhança – se constituiu em precedente imediato e importante da teoria do abuso do direito, pois trouxe a lume a tese da necessidade de limitação do exercício dos direitos subjetivos conforme os limites decorrentes de sua própria finalidade social e econômica, sendo, pois, o primeiro passo para a superação da concepção absolutista do direito subjetivo. Cf. Francisco Amaral, Os Atos Ilícitos. In: Franciulli Netto, Domingos; Mendes, Gilmar Ferreira e Martins Filho, Ives Gandra da Silva (Coord.). O Novo Código Civil – Estudos em Homenagem ao Prof. Miguel Reale, pp. 160-161. 274 Assim, por exemplo, figure-se a hipótese na qual uma empresa construtora, depois de ter oferecido ao público em geral a aquisição das unidades autônomas de um condomínio edilício recém-construído, e vindo a celebrar diversos compromissos de compra e venda em relação a tais unidades, contrai uma dívida e oferece em garantia hipotecária o terreno onde foi erguido o condomínio e as construções nele feitas. O credor, embora tendo conhecimento de que vários dos promitentes compradores já estão ocupando as unidades autônomas, comparece ao registro imobiliário e verifica que não foram registrados os compromissos de venda e compra, e por essa razão aceita a garantia hipotecária, vindo a registrar sua hipoteca no Cartório do Registro Imobiliário. Essa situação acima descrita, que é de ocorrência prática corriqueira, atribui ao credor hipotecário, em caso de não pagamento da dívida, a possibilidade de excutir o imóvel hipotecado, inclusive em relação àquelas unidades autônomas que já estão ocupadas pelos promitentes compradores cujos compromissos não foram registrados? Um exame formal da situação, tão-somente à letra do texto legal, levaria à resposta positiva, pois a hipoteca, sendo direito real, adere ao imóvel e atribui ao seu titular, o credor, a preferência sobre qualquer outro direito subjetivo (exceto os direitos reais registrados há mais tempo, o que no caso não existe), permitindo-lhe, pois, levar o imóvel à venda e ter preferência, no pagamento, sobre todos os demais credores, como se vê no artigo 1.422, do Código Civil. No entanto, nessa mesma situação acima hipotetizada, são inúmeras as decisões do Superior Tribunal de Justiça nas quais se reconheceu que o mutuante, sendo notório que várias das unidades autônomas já haviam sido negociadas com os promitentes compradores (e estavam sendo por eles 275 ocupadas) antes mesmo da constituição da hipoteca, não poderia fazer com que seu direito de credor hipotecário viesse a prevalecer sobre os direitos dos possuidores dos imóveis, promitentes compradores, ainda que tais direitos não fossem reais, mas meramente pessoais, eis que não havia sido feito o registro. Sobre o tema, em relação à posição do STJ, já escrevemos, alhures, que “ E também decidiu a Corte Superior, na mesma linha indicada no parágrafo anterior, que quando é celebrado o contrato de financiamento da construtora, é a instituição financeira que deve buscar se inteirar das condições do imóvel, verificando se os mesmos já foram alienados ao público (pois a isso de destinam) e se o preço já foi parcial ou totalmente pago pelos adquirentes, que são terceiros de boa-fé 279 . Não fazendo tal verificação, terá procedido a instituição financeira de modo negligente, não podendo pois argüir que os compromissos de compra e venda não estavam registrados 280 ”. 281 É possível identificar em tais decisões, como se vê, a exceptio doli, pois o credor, sabendo (ou devendo saber) desde logo que as unidades autônomas já haviam sido negociadas com terceiros, que por elas já estavam pagando, agiu com dolo ao recebê-las como parte de sua garantia, que apenas se poderia estender às unidades que ainda não houvessem sido prometidas aos adquirentes. Logo, a defesa dos promitentes compradores não poderá negar os direitos do credor hipotecário, que estão expressamente previstos na lei, mas deverá impor-lhes o obstáculo do comportamento doloso, a exceptio doli. No entanto, dentro do aspecto histórico que no momento nos interessa, o que se verifica é que a exceptio doli, embora possa facilmente receber uma generalização que lhe confira aplicabilidade em áreas diversas do 279 STJ, 4ª Turma, Ac. unânime, REsp 287774/DF, Relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar, j. 15.02.01, DJ 02.04.01, p. 302. 280 STJ, 4ª Turma, Ac. unânime, REsp 329968/DF, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 09.10.01, DJ 04.02.02, p. 394. 281 Aldemiro Rezende Dantas Júnior, Comentários ao Código Civil, v. XIII (Coord. Arruda Alvim e Thereza Alvim), p. 521, comentário ao artigo 1.473. 276 direito, entre os romanos era usada em situações específicas, de modo casuístico, e portanto não pode ser apontada como sendo a origem do abuso do direito, que se constitui limitação genérica aos direitos subjetivos. De qualquer modo, em relação ao instituto da exceptio doli, dele falaremos em maiores detalhes, adiante, para que possa ser cotejado com a figura do venire contra factum proprium. E quanto às relações de vizinhança, finalmente, é certo que aqui se tem um grande foco de concentração de situações onde o comportamento de um dos vizinhos influirá negativamente na órbita dos outros, o que a cada dia mais se agrava pelo fato de que as pessoas moram cada vez mais concentradas, cada vez mais próximas umas das outras, face à grande proliferação dos condomínios em edificações. Trata-se de campo fértil, portanto, para o surgimento do abuso do direito. No entanto, não se pode deixar de observar que as relações de vizinhança, ao contrário do que ocorre com a aemulatio e com a exceptio doli, não se constituem em um instituto jurídico propriamente dito, mas tãosomente em um âmbito de convívio social, para o qual o ordenamento jurídico destinou inúmeras regras, como podemos ver nos artigos 1.277 a 1.313, do Código Civil, lembrando ainda que diversas outras normas expressas também interferem nessas relações, impondo-lhes limites, como é o caso, por exemplo, dos “regulamentos administrativos”, expressamente indicados pelo artigo 1.299 do mesmo Código. Nessas condições, cabe recordar o que já dissemos acima, no sentido de que a violação dos limites impostos pela lei não deve ser enquadrada como sendo caso de abuso do direito, mas sim de manifesta ilegalidade. Logo, no campo das relações de vizinhança, pelo fato de existirem, em grande quantidade, essas normas que se inserem na limitação 277 genética dos direitos subjetivos dos vizinhos, torna-se restrito o cabimento do abuso do direito, uma vez que este não se confunde com a violação das referidas normas, embora sua ocorrência seja possível, em relação às situações de vizinhança para as quais não haja sido feita a expressa limitação pela lei. De todo modo, mais uma vez em relação ao aspecto histórico, é certo que no direito romano as relações de vizinhança traziam uma série de limitações aos comportamentos dos vizinhos – como até hoje o fazem –, mas que apenas o faziam para aquelas hipóteses específicas e casuísticas, não tendo qualquer caráter de generalidade de aplicação. Também não se encontra aí, portanto, a origem histórica do abuso do direito. É importante, contudo, continuarmos nossa investigação, inclusive para que se possa aferir se a figura do abuso do direito que se encontra no artigo 187, do nosso Código Civil, é a mesma que foi assim batizada por Laurent, no estudo da jurisprudência francesa. O Código Civil francês não trouxe qualquer dispositivo legal que possa ser entendido como a positivação, em França, do abuso do direito. É certo que o referido Código trouxe inúmeras limitações aos direitos subjetivos, mas já vimos que tais limitações não se confundem com o abuso do direito, que se refere a limites de outra ordem. Em outras palavras, é evidente que o Código de Napoleão, ao criar direitos subjetivos, o fez prevendo limites, como sói ocorrer com todos os direitos subjetivos, que são sempre limitados, mas sendo que tais limites, que se integram à gênese de cada direito, e por isso são específicos para o mesmo, não são idênticos aos do abuso do direito, que são genéricos, e com eles não se confundem. O abuso do direito, portanto, surge como construção dos próprios tribunais franceses, que não puderam se valer de textos legais, eis que estes simplesmente não existiam, e nem da recepção do direito romano, que não 278 apresentava qualquer instituto a partir do qual tivesse havido a generalização das características do instituto, como vimos. Surge, contudo, sem que houvesse uma fundamentação muito clara, ora esteando-se na necessidade de respeitar os direitos alheios, ora na desconsideração da finalidade prevista pela lei, na criação do direito, e ora havendo mesmo quem negasse a possibilidade de existência do abuso do direito, sob o argumento que pode ser assim sintetizado: se é abuso, está fora do direito, e se é direito, não é abuso. Veio de Planiol282 a negativa mais contundente, apontando o mestre que as doutrinas que insistiam em afirmar que o uso de um direito poderia se transformar em um abuso e constituir uma falta, estavam inteiramente esteadas em uma linguagem insuficientemente estudada, pois a fórmula “uso abusivo dos direitos” seria uma logomaquia, porque quando se usa de um direito, o ato é necessariamente lícito; e quando tal ato é ilícito, é porque já foi ultrapassado o campo do direito, e o titular agiu sem direito, naquilo que a Lei Aquilia chamava de injúria. Josserand 283, contudo, no nosso entendimento com ampla vantagem, respondeu a essas críticas de Planiol, apontando que a contradição e a logomaquia por ele apontadas não existem, e para afastá-las é suficiente que se recorde que a palavra “direito” possui dois sentidos completamente 282 Marcel Planiol, Traité Élémentaire de Droit Civil, t. II, p. 282, n° 871. “Les jurisconsultes et les législateurs modernes ont au contrairie une tendance à considérer l’usage d’un droit comme pouvant devenir un abus, et par suite constituer une faute. Ils parlent volontiers de l’usage abusif des droits... Cette nouvelle doctrine repose tout entière sur un language innsuffisamment étudié; sa formule ‘usage abusif des droits’est une logomachie, car si j’use de mon droit, mon acte est licite; et quand il est illicite, c’est que je dépasse mon droit et que j’agis sans droit, ‘injuria’, comme disait la loi Aquilia ”. 283 Louis Josserand, Cours de Droit Civil Positif Français, v. II, p. 231, n° 436. “Cependant, cette contradiction et cette logomachie n’existent point; pour les faire se dissiper il suffit de se rappeler que le mot ‘droit’ a deux sens très différents; tantôt il designe l’ensemble de la règle sociale, la ‘juricité’, et tantôt il s’applique à un droit subjective, isolément envisagé. C’est dans cette seconde acception seulment, qu’il peut être question d’abus. Il y a droit et droit; l’acte abusif est celui qui, accompli en vertu d’un droit subjectif dont les limites ont été respectées, est cependant contrairie au droit envisagé dans sons ensemble; on peut avoir pour soi tel droit déterminé et avoir cependant contre soi le droit tout entier; c’est à cette situation que correspondent l’adage summum jus summa injuria et la théorie de l’abus. 279 diferentes, tanto servindo para designar o conjunto de regras sociais, quanto para indicar um determinado direito subjetivo, isoladamente considerado. E é só nessa segunda acepção que se pode questionar o abuso. O ato abusivo seria aquele ligado a um direito subjetivo cujos limites internos foram respeitados, mas que se mostra contrário ao direito enquanto conjunto de regras. O titular pode ter por si o direito determinado, e contra si todo o conjunto em que consiste o direito. Essas observações servem para destacar que, no seu nascimento, nos tribunais franceses, o abuso do direito não era uma conseqüência de uma conduta exigida pela boa-fé, ou pelo menos não havia qualquer associação feita pela doutrina entre o comportamento abusivo e a boa-fé. Da França, a figura do abuso do direito foi recebida na Alemanha, e inclusive incluída expressamente no Código Civil alemão, ao contrário do que ocorreu no país de onde se originou. No entanto, a inclusão no BGB foi feita em uma regra tímida, o que se explica pelo fato de que esse Código, sendo elaborado depois que os tribunais franceses já haviam se defrontado com diversas situações que levaram ao surgimento da figura do abuso do direito, aproveitou para inserir várias limitações aos direitos subjetivos na própria norma que os criava, notadamente nas relações de vizinhança, o que tornava menos necessário o recurso à figura do abuso do direito284. 284 Mas há outras diferenças significativas no modo como o abuso do direito é visto na França e na Alemanha. Assim, por exemplo, observe-se que os direitos contratuais podem ser provenientes diretamente das vontades das partes contratantes, ou seja, sua fonte é a autonomia privada, ou podem ser provenientes da lei, apresentando-se como disposições previstas pelo legislador para aquele tipo específico de contrato. Em relação à primeira categoria de direitos, ou seja, aqueles que provêm da vontade das partes, não há qualquer divergência quanto à sua limitação pela figura do abuso do direito. No entanto, em relação à segunda, vale dizer, aqueles que têm origem diretamente na lei, enquanto a jurisprudência alemã não vê qualquer obstáculo à sua limitação em virtude do abuso do direito, os juízes franceses entendem que essa limitação não é possível, pois os direitos cuja origem se encontra diretamente na lei não estariam sujeitos aos limites decorrentes da figura do abuso do direito. Cf. Béatrice Jaluzot, La bonne foi dans les contrats: Étude comparative de droit français, allemand et japonais, p. 410, n° 1434. Veja-se que essa questão apresenta grande interesse prático, o que pode ser facilmente demonstrado com o cotejo de dois dispositivos do Código Civil brasileiro: a) o artigo 575, do referido Código, prevê que o locatário, se não restituir a coisa ao término 280 Dessa forma, a figura do abuso do direito chegou ao Código Civil alemão no artigo 226, segundo o qual “o exercício de um direito é inadmissível se ele tiver por fim, somente, causar um dano a outrem” 285. Temse aí, como se vê, uma norma de cunho objetivo, pois não há qualquer referência à intenção ou à culpa do titular do direito subjetivo, mas sim à característica do direito em si mesmo, que foi exercido com o objetivo de causar dano a outrem. Mas a maior vantagem foi o fato de tal dispositivo ter sido incluído na Parte Geral do Código Civil, o que o desvinculou das relações de vizinhança ou de qualquer outro ramo específico do direito, permitindo sua invocação, portanto, para todo o direito privado. do contrato, apesar de notificado pelo locador, pagará o aluguel que este vier a arbitrar, mas o parágrafo único esclarece que, se esse valor arbitrado para o aluguel for manifestamente excessivo, o juiz poderá reduzi-lo, embora sem perder de vista o seu caráter de penalidade; b) no artigo 582, por sua vez, referente ao contrato de comodato, prevê o Código Civil que o comodatário constituído em mora pagará, até restituir o bem, o aluguel que for arbitrado pelo comodante, sem que seja feita qualquer ressalva quanto ao valor arbitrado de modo excessivo. A questão que se coloca, portanto, é a de se saber se o comodante, ao exercer seu direito, diretamente decorrente da lei, de fixar o valor do aluguel, estará limitado pela figura do abuso do direito ou se, ao contrário, poderá exercê-lo livremente, sem qualquer restrição, uma vez que quando o legislador quis impor limites, o fez de modo claro, como se vê no artigo 575, referente ao contrato de locação. Segundo a visão da jurisprudência francesa, em se tratando de direito cuja fonte direta é a lei, não se aplica a figura do abuso do direito; conforme a jurisprudência alemã, contudo, o controle judicial se mostra cabível, podendo o juiz reduzir o valor arbitrado de modo manifestamente excessivo, por se caracterizar a figura do abuso do direito. Entre nós, as opiniões doutrinárias são divididas. Para Caio Mário da Silva Pereira, por exemplo, o aluguel deverá ser pago na quantia fixada pelo comodante, “mesmo que em cifra exageradamente elevada, pois não se trata de retribuição correlativa da utilidade, mas de uma pena a que se sujeita o contratante moroso” (Instituições de Direito Civil, v. III, p. 238). Na lição de Paulo Nader, contudo, embora a lei não sinalize qualquer parâmetro para o aluguel, este “deverá corresponder ao valor da época e do lugar, não se justificando uma cifra elevada” (Curso de Direito Civil – Contratos, p. 347). De nossa parte, pensamos que ambos estão equivocados. Em relação à opinião de Caio Mário, o fato de não se tratar de retribuição, mas sim de uma penalidade, claramente não se mostra suficiente para que se entenda que o comodante pode fixar livremente o valor, ainda que em quantia exageradamente elevada, e tanto assim que o Código Civil, alguns artigos antes (art. 575, parágrafo único), refere -se à redução do valor manifestamente excessivo, mas sem perder de vista que se trata de uma penalidade, ou seja, aponta de modo claro para a conciliação entre as duas figuras, a da penalidade e a da vedação ao abuso do direito. E quanto à lição de Paulo Nader, basta que se observe que, se for fixado o valor correspondente ao aluguel da coisa, naquela época e lugar, estará simplesmente sendo arbitrada uma retribuição, transformando-se de modo forçado o comodato em aluguel e perdendo-se de vista o caráter de penalidade. Pensamos, portanto, que Caio Mário está equivocado por admitir a fixação de valor exageradamente elevado, enquanto Paulo Nader está equivocado por admitir a fixação de valor muito baixo, insuficiente para funcionar como retribuição e penalidade. Assim, o que nos parece é que o valor deverá ser sempre moderadamente (e não exageradamente) superior ao do que corresponderia ao aluguel da coisa, ou seja, deverá ser um valor tal que, simultaneamente: a) implique em uma retribuição pelo uso da coisa; b) imponha ao comodatário moroso uma penalidade; c) não seja tão elevado ao ponto de caracterizar o abuso do direito. 285 Tradução de Souza Diniz, Código Civil Alemão. 281 No entanto, a regra trazida pelo BGB apresentou um grave e evidente inconveniente, que foi o de fazer menção ao exercício do direito cujo fim somente tem o objetivo de infringir dano a outrem, e por isso não satisfez às necessidades da vida social, pois é certo que, quase sempre, é possível encontrar mais de um objetivo possível para o mesmo exercício de um direito, e se tal ocorrer, a dicção expressa do Código alemão impede que o comportamento possa ser caracterizado como sendo abusivo. Caracterizada tal insuficiência, começaram os alemães a buscar fundamentos mais adequados para a caracterização do abuso do direito, e em um primeiro momento buscaram socorro no artigo 826, do próprio Código Civil, segundo o qual “quem, de um modo atentatório contra os bons costumes, causar, dolosamente um dano a um outro, estará obrigado, para com o outro, à indenização do dano” 286. A idéia, declaradamente, era a de complementar as deficiências do artigo 226 287. Passa-se, então, a considerar como elemento central do abuso do direito a figura dos bons costumes. Contornou-se, assim, o problema do “escopo único”, que tanto dificultou a utilização do artigo 226. No entanto, outros três problemas surgiram, de igual ou maior gravidade. Em primeiro lugar, o artigo 826 exigia que tivesse havido atuação dolosa, o que impedia que também fossem considerados abusivos atos onde houvesse negligência ou imprudência, ou nos quais não houvesse meios de demonstrar o dolo do agente. Em segundo lugar, a solução legal era dirigida para a indenização do dano, e não para a cessação do abuso, sendo certo que, muitas vezes, interessa muito mais à vítima que o abuso termine do que a indenização do prejuízo. Ou seja, a solução mais adequada, em grande parte dos casos, seria a 286 287 Tradução de Souza Diniz, Código Civil Alemão. Cf. Antônio Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro, Da boa-fé no Direito Civil, p. 693. 282 de estipular um comportamento a ser seguido pelo sujeito, mas a solução do texto legal sempre apontava para a solução das perdas e danos, caso a conduta adequada não tivesse sido adotada. Por último, havia a imprecisão conceitual sobre o que se deveria entender por “bons costumes”, uma vez que não estava preenchido o conteúdo do mesmo pelo direito, mostrando-se por isso indispensável o recurso a elementos metajurídicos, providência essa que não era – e não é – bem vista pelos juristas alemães, sempre notabilizados pelo pragmatismo. Assim, também o artigo 826, embora tenha servido de base para a solução de inúmeros casos concretos, veio a se mostrar insuficiente para a largueza da vida real, pois diversas hipóteses, nas quais havia comportamento claramente inadmissível, ficaram de fora do seu alcance, em virtude dos problemas acima relatados. Continuou a busca, portanto, por uma outra norma legal que se mostrasse mais adequada, e que veio a ser encontrada no artigo 242, do BGB, segundo o qual “o devedor está obrigado a executar a prestação como a boa-fé, em atenção aos usos e costumes, o exige”288. O artigo 242, portanto, apresentava algumas vantagens bastante óbvias, podendo-se apontar, em primeiro lugar, o fato de ser esteado em uma regra aberta, capaz de abarcar uma grande generalidade de situações, em vez de ficar limitada a uma situação específica. Além disso, não traçava considerações subjetivas em relação ao agente, não se preocupando em buscar se o comportamento do mesmo havia sido doloso ou culposo ou qual teria sido a intenção do agente ou o escopo do ato. Por último, a solução alvitrada pelo texto legal passava pela imposição, ao sujeito, de uma conduta adequada para o caso concreto, conforme os ditames da boa-fé e os costumes referentes àquele tipo de negócio. 288 Tradução de Souza Diniz, Código Civil Alemão. 283 E assim foi que, dos bons costumes, passou-se a considerar a boafé como o elemento central para a determinação dos limites que, uma vez ultrapassados, estaria caracterizado o abuso do direito. Béatrice Jaluzot289 resume essa evolução da seguinte forma: “Progressivamente, a jurisprudência alemã veio a vincular a doutrina do abuso do direito à boa-fé, mais exatamente ao artigo 242 do BGB... em concorrência com a boa-fé, era a noção de violação dos bons costumes, do artigo 138 do BGB, que também oferecia um fundamento adequado. Contudo, a questão foi delineada pela jurisprudência do Tribunal do Império em uma série de decisões tomadas durante a segunda guerra mundial, e a partir daí a Corte federal se apoiou na boa- fé do artigo 242. As razões dessa vinculação foram que só a noção de boa-fé era capaz de abranger todos os casos nos quais a jurisprudência havia aplicado o abuso do direito: enquanto não podia ser aplicado o artigo 226, em razão de sua condição muito estreita, a intenção de prejudicar, e que o artigo 826 não abrangia todos os casos, particularmente aqueles de abuso do direito simplesmente objetivo e sem culpa, e também porque nem todo abuso do direito é uma violação dos bons costumes, o artigo 242 foi considerado como o único fundamento jurídico para a interdição do abuso do direito, na medida em que limita o exercício dos direitos” (tradução livre). E é certo que essa evolução viria a influenciar, posteriormente, a recepção, pelo Código Civil brasileiro (e vários outros, pelo mundo afora), das idéias alemães sobre o abuso do direito, ainda que, curiosamente, nada conste sobre as mesmas no Código Civil alemão (pelo menos, não com a clareza dos 289 Béatrice Jaluzot, La bonne foi dans les contrats: Étude comparative de droit français, allemand et japonais, p. 432, n°s 1503 e 1504. “Progressivement la jurisprudence allemande en est venue à rattacher la doctrine de l’abus de droit à la bonne foi, plus exactment au § 242 BGB... En concurrence avec la bonne foi venait la notion de contravention aux bonnes moeurs du § 138 BGB qui offrait elle aussi um fondement adéquat. Cependant, la question a été tranchée par la jurisprudence du Tribunal d’Empire dans une série de décisions rendues durant la seconde guerre mondiale et la Cour fédérale s’appuie depuis lors sur la bonne foi et le § 242. Les raisons de ce rattachement sont que seule la notion de bonne foi était à même d’embrasser tous les cas dans lesquels la jurisprudence avait appliqué l’abus de droit: alors qu’il ne pouvait être question du § 226 en raison de sa condition trop étroite, l’intention de nuire, et que le § 826 n’embrasse pas tous les cas, en particulier ceux d’un abus de droit simplement objectif et sans faute, et aussi parce que tout abus de droit n’est pas une violation des bonnes moeurs, le § 242 a été considere comme seul fondement juridique pour l’interdiction de l’abus de droit, en t ant que limite à l’exercice des droits”. 284 outros Códigos Civis, como é o caso do art. 187, do Código brasileiro). Vejamos como se deu essa recepção. Cabe observar, de início, que o nosso Código Civil anterior, de 1916, não se referia expressamente ao abuso do direito, apenas trazendo disposição, no artigo 160, I, segundo a qual não se constituía em ato ilícito aquele que se apresentava como o exercício regular de um direito. A partir dessa disposição legal, extraiu a nossa doutrina 290 a conclusão de que, contrario sensu, o exercício irregular desse mesmo direito, que seria o abuso do direito, constituiria ato ilícito. Adotou o nosso Código Civil antigo, portanto, a mesma falta de clareza do Código Civil suíço, cujo artigo 2º, segunda parte, dispõe que “O abuso evidente de um direito não encontra proteção legal” 291. Com efeito, facilmente se percebe que em ambos os códigos faltou a apresentação de qualquer parâmetro, que pudesse permitir ao juiz, no caso concreto, a aferição segura sobre se teria ou não havido o abuso, uma vez que não houve sequer uma pista sobre quais seriam as características para a identificação do mesmo. O Código Civil pátrio se limitou a mencionar o exercício irregular, enquanto o suíço apenas se referiu à figura do abuso do direito, ambos se mostrando incompletos, portanto. Necessário, neste ponto, um deslocamento até a Grécia, País onde vigorou, em todo o século XIX e nos primeiros quarenta anos do século XX, o Corpus Iuris Civilis, recebido dos romanos. Ocorre que a doutrina alemã, como já vimos linhas atrás, foi dominada, no século XIX, pela chamada Escola Histórica, que havia tomado como ponto de partida, para o estudo do Direito Civil o direito romano, mas cuidando de mesclá-lo com os valores 290 Nesse sentido, por todos, veja-se a lapidar obra de Pedro Baptista Martins, O Abuso do Direito e o Ato Ilícito, p. 92. 291 Tradução de Souza Diniz, Código Civil suíço. 285 culturais atualizados do povo alemão. Por essa razão, a doutrina alemã teve enorme influência no Direito Civil grego, uma vez que serviu de base para que os gregos absorvessem o direito romano adaptado para os tempos atuais. Em 1946, finalmente, os gregos adotaram o seu próprio Código Civil, sendo evidente que a elaboração do mesmo foi fortemente influenciada pela doutrina originária da Alemanha, que já havia sido recebida pela forma descrita no parágrafo anterior, e por isso o Código Civil alemão foi o ponto de referência do Código Civil grego. Só que, na década de 40, em pleno século XX, a doutrina alemã, como vimos retro, já havia interpretado e modificado o conteúdo do Código Civil alemão, e por isso os gregos se utilizaram não apenas do texto original do BGB, mas o fizeram considerando as interpretações doutrinárias e jurisprudenciais, referentes às dificuldades que haviam surgido na prática e que a doutrina e a jurisprudência já haviam superado. Ora, vimos há pouco que os alemães, em relação à figura do abuso do direito, haviam passado, sucessivamente, do ato que só pudesse ter o objetivo de causar dano a outrem (art. 226) para os bons costumes (art. 826) e a boa-fé (art. 242), e nesta última fase se encontrava o direito alemão (impondo os limites do abuso do direito com base nos bons costumes e na boa-fé) quando foi elaborado o Código grego, que ainda buscou, no projeto do Código Civil italiano, a referência à finalidade social e econômica do direito292. Desse modo, o artigo 281, do Código Civil grego, estabeleceu que “o exercício é proibido quando exceda manifestamente os limites impostos pela boa-fé, pelos bons costumes ou pelo escopo social ou econômico do direito”. 292 Cf. Antônio Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro, Da boa-fé no Direito Civil, p. 715. 286 Em 1966 entrou em vigor a segunda codificação civil portuguesa, que recebeu, em seu artigo 334, o artigo 281 do Código Civil grego. Com efeito, lê-se no artigo 334, do Código Civil luso, que “é ilegítimo o exercício de um direito, quando o titular exceda manifestamente os limites impostos pela boa fé, pelos bons costumes ou pelo fim social ou económico desse direito”, recebendo de modo muito claro e nítido a influência do mencionado dispositivo do Código Civil grego. O artigo 187, do Código Civil brasileiro, por sua vez, foi claramente inspirado no artigo 334 do Código Civil português, inclusive com a classificação do ato abusivo como ato ilícito (ilegítimo). Em doutrina, convém que se alerte, discute-se se o abuso do direito é ou não ato ilícito. Para nós, no entanto, a discussão se mostra estéril, pois cabe à lei definir quais são os limites da licitude, e a norma legal foi expressa em mencionar que o abuso do direito ultrapassa tais limites, devendo pois ser considerado como ato ilícito. De ato ilícito, então, se trata, e passaremos ao largo da referida polêmica, por falta de interesse para o presente trabalho. Também o Código Civil argentino, adotando a mesma linha de conceituação, aponta em seu artigo 1.071 que “la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considerará tal al que contraríe los fines que aquélla tuvo em mira al reconocerlos o al que exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres”. O que se verifica é que, de modo concreto, a identificação do abuso do direito, no nosso Código Civil e no argentino, adotou o critério da função social do direito, ou seja, estará caracterizado o abuso do direito toda vez que um determinado direito tiver sido desviado de sua função social, uma vez que os direitos subjetivos existem essencialmente, dentro de um interesse social, e não apenas dentro do interesse de seus titulares, e por essa razão o 287 seu exercício deve ser limitado pelo interesse social a que devem servir 293. É interessante notar que muda por completo o enfoque dos direitos subjetivos, que deixam de ser vistos sob o prisma de sua estrutura e passam a ser considerados sob a ótica de sua função, vale dizer, tais direitos são funcionalizados aos valores eleitos pelo ordenamento294. Na verdade, o que se pode constatar é que, uma vez revelada pela doutrina alemã a íntima ligação entre a boa-fé e a figura do abuso do direito, os Códigos Civis em geral se valeram da primeira para poder apresentar um conceito para o segundo, ou seja, para caracterizar o abuso do direito em função da boa-fé, sendo que aquele começa a partir do ponto em que cessam as condutas admissíveis, pois estas se encontram no domínio da boa-fé, e além delas já se adentra pelo campo do abuso do direito. Usando interessante descrição feita pela doutrina 295, pode-se dizer que, representando-se o caminho de um certo comportamento jurídico, ambas as figuras, a boa-fé e o abuso do direito, encontram-se no mesmo ponto limite. Contudo, antes desse ponto têm-se os comportamentos pautados pela boa-fé, que se faz presente em todo o setor das condutas admissíveis, enquanto que, além desse mesmo ponto, tem-se a presença do abuso em todo o trajeto, sendo ultrapassado o limite dos comportamentos aceitáveis pelo Direito. Só a título de melhor esclarecimento do que já foi visto anteriormente, e aproveitando essa mesma figura utilizada no parágrafo anterior, veja-se que a boa-fé não se limita a esse ponto mencionado, além do qual se terá o abuso do direito, mas está presente em todo o caminho percorrido até que seja atingido tal ponto, ou seja, estará presente em todos os 293 Béatrice Jaluzot, La bonne foi dans les contrats: Étude comparative de droit français, allemand et japonais, p. 418, n° 1461. 294 Gustavo Tepedino, Temas de Direito Civil, p. 9, nota de rodapé nº 8. 295 Delia Matilde Ferreira Rubio, La Buena Fe: el principio general em el derecho civil, p. 223. 288 comportamentos adotados pelo sujeito do negócio jurídico. É por isso que comentamos, por exemplo (veja-se, retro, o item 1.8), que a boa-fé permeia não apenas o momento da celebração ou o da execução do contrato, mas também os momentos que o antecedem e aqueles que se seguem à sua extinção296. Na realidade, contudo, como bem esclarece Menezes Cordeiro 297, o abuso do direito representa um gênero, que toma por base as condutas situadas além das que são ditadas pela boa-fé, e que é formado por diversas espécies, todas elas tendo suporte na boa-fé, mas cada uma tendo suas próprias peculiaridades, e para a solução dos casos reais não é na figura do abuso do direito que se encontram as soluções, mas nessas espécies que com ele têm em comum a ordenação pela boa-fé. O abuso do direito, portanto, sob essa ótica, apenas serve como ponto de referência para que sejam reunidas de modo sistemático essas espécies, cujo estudo faremos em seguida, examinando de modo mais detalhado, contudo, a figura do venire contra factum proprium, que nos servirá de parâmetro para a comparação com as demais espécies ligadas ao abuso do direito. 2.2.1. A exceptio doli. Ensina Menezes Cordeiro 298 que a exceção, em Direito substantivo, é a situaçao na qual a pessoa que se encontra adstrita a um dever pode, licitamente, recusar a efetivação da pretensão correspondente. Na lição de Ovídio da Silva, vemos que a exceção é uma defesa indireta apresentada 296 Nesse sentido, mas especificamente em relação à figura do abuso do direito, ensina Pedro Baptista Martins que “o abuso do direito pode manifestar-se em qualquer de suas fases: pré-contratual, contratual e pós-contratual”. Cf. Pedro Baptista Martins, O Abuso do Direito e o Ato Ilícito, p. 38. 297 Antônio Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro, Da boa-fé no Direito Civil , p. 706. 298 Antônio Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro, Da boa-fé no Direito Civil , p. 719. 289 pelo réu, sendo assim classificada porque não tem por finalidade negar a existência do direito do autor. Muito pelo contrário, quando o réu se defende argüindo exceção substancial, está reconhecendo que tal direito existe, mas ao mesmo tempo está apontando que o pedido deve ser julgado improcedente, em virtude da existência de algum elemento extrínseco que pode ser oposto ao autor, impedindo, modificando ou mesmo extinguindo a eficácia do seu direito299. A exceptio doli, ou exceção de dolo, portanto, significa, como o próprio nome indica, uma defesa indireta, da qual o réu poderá se valer para repelir a pretensão do autor, embora sem negar-lhe o direito, tendo por suporte o fato de que tal direito foi exercido de modo doloso, tendo havido comportamento que implicou em violação da boa-fé, por parte do seu titular. No caso da exceção de dolo, o “elemento extrínseco” que poderá ser oposto contra o autor consistirá no dolo deste, ou seja, a pretensão do autor será repelida sob o argumento de que o mesmo agiu de modo doloso. Representa, de certo modo, “a proteção de um direito contrário ao exercitado pelo autor e, em tal sentido, um instrumento de flexível proteção da eqüidade e da boafé” 300. Dito em outras palavras, a exceptio doli foi um meio processual genérico de defesa, criado pelos romanos para obstaculizar as ações que se fundavam no dolo do autor, sendo depois ampliada para abranger qualquer atuação que se mostrasse iníqua ou contrária à bona fides, o que levou a apresentar conteúdo difuso, capaz de abranger um grande número de hipóteses, cujo ponto em comum é precisamente a presença do dolo do autor, 299 300 Ovídio A. Baptista da Silva, Curso de Processo Civil, v. 1: Processo de Conhecimento, p. 319. Alfonso de Cossío y Corral, El dolo en el derecho civil, p. 210. 290 em algum momento de sua atuação301, sendo certo, contudo, como veremos logo em seguida, que essa indefinição conceitual acabou por levar ao abandono dessa exceptio. Em sua origem, no Direito romano, a exceção de dolo cumpria um duplo papel, dividindo-se em exceptio doli praeteriti (ou specialis) e exceptio dolis praesentis (ou generalis). A primeira, exceptio doli specialis, era apontada pelo réu quando o dolo do autor havia ocorrido no momento em que a relação jurídica material se formara, ou seja, em um momento anterior à ação (em momento pretérito). A segunda, exceptio doli generalis, por sua vez, indicava o dolo em que havia ocorrido o autor no momento em que se deu a discussão da causa (ou seja, no momento presente, em relação à ação) 302. Sem maiores investigações pode-se concluir que a exceptio doli specialis perdeu a sua finalidade, a partir do surgimento da figura dos vícios da vontade, na formação do negócio jurídico. Com efeito, em se tratando de dolo de um dos sujeitos, no momento mesmo em que se deu o surgimento da relação material, ou seja, no momento em que ocorreu o negócio jurídico, parece evidente que essa espécie de exceptio foi absorvida pela figura do dolo, de um modo geral, podendo esse surgir, também, sob a forma de dolo de aproveitamento, no caso específico do estado de perigo. Restou apenas, portanto, a figura da exceptio dolis generalis. Na realidade, a exceptio doli foi usada, notadamente pela jurisprudência alemã, para abranger situações diversificadas, às quais não se conseguia dar uma unidade sistemática, e acabou se transformando em mero sinônimo de resistência a um direito cujo titular agiu em desconformidade com a boa-fé. Tal idéia, como se vê, é por demais ampla, pois não se esclarece 301 Anderson Schreiber, A Proibição de Comportamento Contraditório – Tutela da confiança e venire contra factum proprium, pp. 169-172. 302 Antônio Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro, Da boa-fé no Direito Civil , p. 722. 291 de modo preciso em que consistiria essa violação da boa-fé, ou seja, qual o parâmetro a ser considerado para aferir essa atuação desconforme. Como explica Béatrice Jaluzot 303, enquanto nos tribunais franceses a jurisprudência referente à boa-fé se esteava no abuso do direito, na Alemanha, ao contrário, o fundamento primeiro era a exceptio doli generalis. O grande desenvolvimento da jurisprudência nesses dois países levou à aproximação das duas teorias, mas sendo que o instituto do Direito romano não garantia os fundamentos teóricos suficientes para as decisões, e mesmo se tratava de uma qualificação inadequada, pois em muitos casos a presença da exceptio era reconhecida sem que tivesse havido um comportmento doloso, ou seja, um comportamento conscientemente ilícito, ou mesmo que nem se tratasse de uma exceção, que as partes pudessem relevar, mas sim de um obstáculo jurídico que o juiz poderia considerar ex officio. E nem se diga, como pretenderam alguns doutrinadores de escol304, sustentar que mediante o recurso à exceptio doli não se buscaria sancionar uma conduta culposa, mas sim evitar-se um resultado imoral e injusto, o que se apresentaria como uma situação objetiva, e não de cunho subjetivo. Em palavras mais claras, a exceção de dolo teria um fundamento de natureza objetiva, situado fora da intenção do agente. Data venia, pretender falar-se em dolo fora do âmbito das intenções, significa das duas uma: ou se trata de mero jogo de palavras, ou, então, trata-se de qualquer outra coisa, mas não de exceção de dolo, sob pena de termos um absurdo similar ao do abuso do direito sem o exercício de um direito. 303 Béatrice Jaluzot, La bonne foi dans les contrats: Étude comparative de droit français, allemand et japonais, p. 428, n° 1492. 304 Alfonso de Cossío y Corral, El dolo en el derecho civil, pp. 243-244. O ilustre autor espanhol aponta que buscar para a exceção de dolo um fundamento objetivo, que esteja fora da intenção do agente, pode parecer contraditório (p. 244). Na verdade, não parece contraditório, é amplamente contraditório. 292 Por essa razão, há quem aponte que a exceptio doli foi atingida pelo desinteresse da doutrina e da jurisprudência 305, importando mais pelo relevante papel histórico que desempenhou, enquanto se tentava fincar as fundações de normas esteadas na boa-fé, uma vez que hoje encontra maior aplicação a análise de violações mais específicas e mais precisamente delimitadas da boa-fé, e que por isso encontram aplicação concreta de modo mais científico, em vez de, como ocorria com a exceptio doli, apenas servir de reforço lingüístico para decisões já anteriormente tomadas, em casos de violação da boa-fé. De modo semelhante, aponta Jaluzot306 que os autores começaram a descrever as duas teorias, a exceptio doli e o abuso do direito, como sendo duas aparições paralelas, que se identificavam reciprocamente em sua essência, e com isso as duas teorias foram progressivamente sendo assimiladas, o que acabou por resultar na substituição progressiva da terminologia usada na Alemanha, ou seja, os juristas alemães descartaram a expressão latina e passaram a usar a tradução literal da noção francesa do abuso do direito. E também os tribunais alemães passaram a invocar a teoria francesa, para justificar suas decisões, chegando a apontar de modo expresso que o abuso do direito, que fora desenvolvido a partir da exceptio doli generalis e da figura correspondente no direito francês, era reconhecido de um modo geral. E a terminologia latina começa a ser abandonada. Na realidade, desde a entrada em vigor do Código Civil alemão, em 1900, a aplicabilidade da exceptio doli já havia sofrido um baque, eis que o BGB simplesmente não tratou da mesma, o que desde logo levou a doutrina a 305 Antônio Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro, Da boa-fé no Direito Civil , p. 741. Béatrice Jaluzot, La bonne foi dans les contrats: Étude comparative de droit français, allemand et japonais, pp. 428-429, n°s 1493 e 1494. 306 293 discutir acerca da sua sobrevivência no direito germânico. Apesar desse silêncio, principalmente em virtude de sua tradição, a jurisprudência alemã continuou a fazer referência à exceptio, mesmo após a entrada em vigor do Código Civil, pois se este, por um lado, não a mencionou, por outro, também não a afastou. Só que a exceptio se apresentava muito ampla, muito fluida, e a doutrina começa a apontar que os casos onde a mesma era invocada, em sua maioria, nada mais eram do que hipóteses de interpretação da lei, e não, verdadeiramente, hipótese da exceptio307, o que conduziu à sua absorção pela figura do abuso do direito, acima mencionada. Os tribunais que continuavam a fazer referência à exceptio doli generalis, na realidade, valiam-se da valoração dos problemas concretos à luz das normas legais que constavam do Código Civil alemão, notadamente as que se referiam à boa-fé e aos bons costumes e, depois de atingida a solução, faziam uma referência à exceptio, como reforço dos argumentos expendidos. Ou seja, usava-se um conceito central, codificado, para atender às situações periféricas da vida real, e depois se mencionava a exceptio doli, que apenas servia como reforço lingüístico. Não havia, portanto, a preocupação de deduzir da própria figura da exceptio as soluções possíveis para cada situação concreta308. Por todas essas razões, as referências à exceptio doli generalis começaram a rarear na jurisprudência. Desse modo, tendo a figura desaparecido dos tribunais, sobreveio também, como conseqüência, a escassez doutrinária, pois deixou-se de pesquisar o tema porque o mesmo não era mais visto em debate nos tribunais, em casos concretos. De fato, atualmente, há pouca ou quase nenhuma referência doutrinária ao instituto da exceptio doli, 307 308 Antônio Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro, Da boa-fé no Direito Civil , pp. 723-730. Antônio Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro, Da boa-fé no Direito Civil , p. 733. 294 decorrendo principalmente, como já comentamos, supra, da mesma ter sido fundida com a figura do abuso do direito, sendo esta que é mencionada em situações nas quais se mostra dificil a sistematização do desrespeito à boa-fé, sem a preocupação de reconhecimento da exceptio doli. A exceptio doli, de fato, é figura de amplitude e generalidade significativas, e por isso a sua topologia adequada é aqui, como um subitem do abuso do direito. De qualquer modo, no aspecto que nos interessava, que era o de um cotejo com a figura do venire contra factum proprium, já podemos apontar com facilidade a crucial diferença entre ambas, consistente no fato de que a exceptio doli pressupõe, como é evidente, o dolo do sujeito, exigência essa que não se encontra no venire, como passaremos a examinar logo em seguida. 2.3. O venire contra factum proprium. 2.3.1. Considerações gerais. A expressão venire contra factum proprium, que poderia ser vertida para o vernáculo em tradução que se apresentaria em algo do tipo “vir contra seus próprios atos”, ou “comportar-se contra seus próprios atos”, pode ser apontada, em uma primeira aproximação, como sendo abrangente das hipóteses nas quais uma mesma pessoa, em momentos distintos, adota dois comportamentos, sendo que o segundo deles surpreende o outro sujeito, por ser completamente diferente daquilo que se poderia razoavelmente esperar, em virtude do primeiro. Em outras palavras, há uma contradição entre os dois comportamentos, pois a partir da análise do primeiro havia surgido a legítima 295 expectativa de que outra seria a conduta a ser adotada por ocasião do segundo. Nas palavras de Béatrice Jaluzot 309, todo comportamento será contrário à boafé se for qualificado como contraditório, o que ocorre quando se mostra contrário a um comportamento anterior da mesma pessoa. O primeiro comportamento, portanto, é o “factum proprium”, e o segundo, é o “venire”. Quando os dois são contraditórios, ou seja, quando o venire (segundo comportamento) se mostra contrário ao factum proprium, é que poderá ser caracterizada a figura do venire contra factum proprium, dependendo ainda, contudo, da presença de outros elementos, como veremos em seguida. A proibição do venire310, como facilmente se pode identificar, refere-se à proteção da boa-fé 311, ou melhor, refere-se à necessidade de que cada um dos sujeitos de um negócio jurídico adote conduta que seja consentânea com a boa-fé, o que, em última análise, como já vimos, retro, significa que cada um desses sujeitos deverá respeitar os deveres laterais que surgem em todos os negócios jurídicos, e que são impostos exatamente em função da necessidade de observância da boa-fé. E qual seria esse dever acessório, a ser observado, e cuja inobservância estaria a caracterizar o venire? 309 Béatrice Jaluzot, La bonne foi dans les contrats: Étude comparative de droit français, allemand et japonais, p. 89, n° 326. “Tout comportement sera contraire à la bonne foi s’il est qualifié de contradictoire c’est-à-dire s’il est contraire à um comportement antérieur de la même personne”. (Tradução livre). 310 Mas desde logo observando que por vezes, levando em conta outros valores, a própria lei permite, expressamente, esse comportamento contraditório, ou seja, nem sempre é proibido o venire contra factum proprium. Assim, por exemplo, os pais, tutores ou curadores que já se manifestaram no sentido de conceder a autorização para o casamento do menor púbere, podem revogá-la enquanto não se der a celebração do matrimônio (Código Civil, art. 1.518), ou seja, podem adotar um segundo comportamento que é exatamente o oposto do primeiro, tendo força para desfazê-lo. Da mesma forma, a autorização dada pelos pais, para que seu filho seja adotada, pode ser revogada enquanto não tiver sido publicada a sentença que constitui a adoção (art. 1.621, § 2º). E outros exemplos poderiam ser citados, como veremos adiante. 311 No entanto, convém ressaltar que essa ligação tão estreita entre a boa-fé e o venire contra factum proprium não se mostra assim tão pacífica, sendo contestada por autores de nomeada. Nesse sentido, por exemplo, José Luis de Los Mozos, após afirmar que não há dúvidas acerca da relação entre atos próprios e boa-fé, alerta que na especial conduta contraditória que informa a doutrina dos atos próprios, intervêm outros ingredientes, que não decorrem da simples aplicação da boa-fé, e que por essa razão não se pode reconduzir essa matéria (a doutrina dos atos próprios) a qualquer dos tipos de boa-fé, objetiva ou subjetiva, por mais que se pretenda fazer generalizações. Cf. José Luis de Los Mozos, El principio de la buena fe, pp. 183-184. 296 Se tomássemos como embasamento apenas este começo de abordagem do tema, poderíamos ser tentados a mencionar um dever lateral de coerência, uma vez que o venire contra factum proprium, conforme acabamos de mencionar, abrange as situações onde há comportamentos contraditórios, ou seja, nas quais não há coerência entre os dois comportamentos adotados, em momentos distintos, em relação ao mesmo negócio jurídico e pelo mesmo sujeito. Ou, em vez de um “dever de coerência”, poderíamos optar por um mais claro e significativo “dever de não ser contraditório”. Tais denominações, no entanto, haveriam de se mostrar tão precipitadas quanto inverídicas, uma vez que não estariam espelhando o aspecto que se revela como sendo o verdadeiro eixo de sustentação do venire. Com efeito, como veremos em maiores detalhes, logo à frente, em muitas ocasiões a falta de coerência do sujeito não é proibida e nem gera conseqüências jurídicas quando vem a ser constatada. Dito de outra forma, nem toda incoerência comportamental pode ser descrita como sendo caso de venire, ou seja, nem toda conduta que venha a se revelar contraditória com uma conduta anterior pode ser descrita como sendo hipótese de venire contra factum proprium. À guisa de rápido exemplo pode-se apontar a hipótese daquele que envia, a pessoa ausente, proposta de contrato. É certo que esse proponente poderá se retratar, enquanto a proposta não tiver chegado ao conhecimento daquele a quem se destinava, ou se ambas, a proposta e a retratação, chegarem juntas a esse mesmo destinatário. Veja-se que o segundo comportamento, ou seja, a retratação, é nitidamente contraditório em relação ao primeiro, a proposta, e tanto assim que o desfaz por completo. E, no entanto, essa incoerência não é proibida e nem vai gerar qualquer conseqüência jurídica, simplesmente prevalecendo a 297 retratação sobre a proposta, ou seja, prevalecendo o segundo comportamento sobre o primeiro, eis que os dois são incompatíveis entre si, e portanto não haveria como fazer-lhes a conciliação. Logo, fica assim demonstrado que a referência a um eventual dever de coerência (ou dever de não ser contraditório), na realidade, em termos científicos, não significa absolutamente nada, eis que não permite identificar o fenômeno sob estudo, por abordar apenas um invólucro maior, no qual estão inseridas diversas outras espécies de violações da coerência. Não serve, portanto, como paradigma para a busca que estamos a empreender. A questão que se apresenta como sendo de nuclear importância, portanto, é a identificação precisa dessa espécie de coerência ou, por outras palavras, a apuração de quais são as situações nas quais a incoerência (a contradição) não poderá ser tolerada. Em relação ao tema, desde cedo adiantamos o que será demonstrado logo adiante: a incoerência que se caracteriza como venire é tãosomente aquela que destrói a confiança que havia surgido na outra parte, ou seja, a partir do primeiro comportamento adotado por um dos sujeitos, o outro passou a acreditar (a confiar) que em um segundo momento a conduta a ser adotada seria no mesmo sentido da primeira, seria coerente com ela, e essa crença vem a ser destruída pelo comportamento que se choca com o anterior. Para que se chegue a tal conclusão, convém recordar o que já vimos, retro (item 1.9), no sentido de que não se está buscando, primordialmente, a repressão à má-fé de um dos sujeitos, mas sim a proteção à boa-fé do outro. Ora, a questão da coerência é ligada à pessoa do sujeito cuja atuação não será admitida, enquanto a confiança se refere ao outro sujeito, cuja boa-fé se busca proteger. Em outras palavras, se a idéia central fosse a repressão à incoerência, isso equivaleria à busca da punição à má-fé. 298 O que se buscará, portanto, é proteger a confiança do outro sujeito, pois aí se estará voltando o foco para a proteção à boa-fé, e não para a punição à má-fé. Pode-se dizer, portanto, que o venire contra factum proprium tem como foco um elemento externo à pessoa que adota os dois comportamentos que se mostram incoerentes, sendo tal elemento externo a confiança que se formou no outro sujeito. A incoerência em si mesma, portanto, se mostra irrelevante, apenas interessando as suas conseqüências quanto ao outro sujeito, vale dizer, se houve ou não o surgimento da confiança. No dizer de Béatrice Jaluzot 312, um comportamento contraditório será abusivo (e, portanto, não será tolerado) quando um elemento de confiança havia surgido na outra pessoa, ou quando as circunstâncias particulares do caso concreto fazem com que o exercício de um direito se apresente como sendo desleal, sendo certo que o elemento temporal se apresenta como um argumento de peso (embora não seja o único) para essa caracterização. Assim, mais claramente será caracterizado o comportamento contraditório como abusivo se a parte, durante longo tempo, se comportou de uma certa forma, e subitamente mudou o seu comportamento. Poderia ser enquadrada a proibição do venire dentro do dever de lealdade, que por nós já foi examinado, mas ainda assim o espectro ficaria muito amplo, pois é de um aspecto específico da lealdade que se trata, ou seja, de não frustrar a confiança que foi criada no outro agente do negócio jurídico. O que efetivamente se mostra mais adequado, portanto, é o falar-se em proteção à confiança. 312 Béatrice Jaluzot, La bonne foi dans les contrats: Étude comparative de droit français, allemand et japonais, pp. 89-90, n°s 327 e 328. 299 E é importante destacar que o repúdio ao venire contra factum proprium nada tem a ver com a questão do pacta sunt servanda, e sim com a aparência, com o fato exterior (o comportamento inicialmente adotado) que fez surgir a interior confiança por parte do outro sujeito 313. Se no caso concreto se mostra razoável supor que dessa aparência resultou a formação da confiança, no íntimo do outro sujeito, então a sua quebra será inadmissível, sendo atraídas as regras do instituto em exame. Neste ponto abriremos breve parêntese para alargar e fundamentar a afirmação feita nos parágrafos imediatamente anteriores, no sentido de que o comportamento contraditório será caracterizado como abusivo. É que a figura do venire contra factum proprium, de fato, enquadrase na figura mais ampla do abuso do direito, ou seja, este constitui o gênero mais amplo, enquanto o venire se apresenta como uma de suas espécies, ou seja, como uma das situações de ocorrência concreta do abuso, o que pode ser facilmente demonstrado. Para tanto, basta que se observe que o abuso do direito, em simplificada explicação, pode ser descrito como o exercício do direito de modo contrário à boa-fé ou às suas finalidades social e econômica, como já vimos. Ora, é evidente que a ocorrência do venire, quebrando a confiança que foi despertada na outra parte, não apenas viola a boa-fé, mas além disso ainda agride as finalidades do direito subjetivo, pois é claro que, diante dos princípios da dignidade humana e da solidariedade social, não se poderia conceber que um determinado direito subjetivo, qualquer que seja tal direito, pudesse ter sido criado com a finalidade de frustrar as expectativas legitimamente criadas pela contraparte. Logo, se frustrar as expectativas não era a finalidade, mas apesar disso a frustração ocorreu, pode-se afirmar que foi 313 Vitor Frederico Kümpel, A teoria da aparência no novo Código Civil brasileiro, p. 44. 300 desatendida a finalidade para a qual o direito subjetivo havia sido reconhecido à parte. Assim, é fácil de concluir que toda ocorrência do venire contra factum proprium, traduzindo uma agressão à boa-fé e um desvio da finalidade para a qual o direito subjetivo havia sido reconhecido ao seu titular, poderá sempre ser enquadrada como um caso de abuso do direito. Apenas se complementa essa afirmação observando-se que, esse caso particular de abuso, por ter características próprias e bem definidas, e por se tratar de situação de ocorrência concreta freqüente, passa a ser estudado em separado, por suas próprias características, que se destacam dentro da figura mais ampla do abuso do direito, embora seja um caso peculiar deste. Encerrando essas observações iniciais, convém realçar um importante aspecto, que muitas vezes passa despercebido, quando se examinam as questões ligadas à boa-fé, e para o qual já havíamos chamado a atenção, poucas linhas atrás. É que, em verdade, a proibição do venire contra factum proprium, muito mais do que destinada à proibição da conduta de máfé, na realidade destina-se, precipuamente, à proteção da confiança (rectius: proteção da boa-fé), e essa diferença gera importantes conseqüências práticas, conforme veremos mais adiante. Assim, por exemplo, se um dos sujeitos não se comporta conforme os ditames da boa-fé objetiva, assumindo comportamento claramente contraditórios, mas o primeiro desses comportamentos, por alguma razão, não havia feito surgir a confiança no espírito do outro sujeito, não se terá aí hipótese de venire, pois o que de fato interessaria seria a quebra da confiança, para caracterizá-lo, e não a simples contradição que poderia tê-la quebrado, mas que na realidade não o fez. 301 2.3.2. Elementos característicos. Comecemos observando que não há, no nosso ordenamento jurídico, qualquer regra que possa ser apontada com uma proibição geral de que um sujeito adote comportamentos contraditórios entre si, e por isso não é possível a análise minuciosa de um dispositivo legal específico, a partir do qual possam ser extraídas as características que ora buscamos. Na realidade, pode-se mesmo apontar que nos ordenamentos jurídicos em geral não se costuma encontrar uma regra que, de modo genérico, proíba a adoção de comportamentos contraditórios. No entanto, como veremos logo em seguida, há no nosso ordenamento jurídico (e nos ordenamentos em geral) diversas disposições legais, a partir das quais se pode apreender a idéia da proibição de comportamentos contraditórios, atendidos alguns outros requisitos. Vimos, reiteradas vezes, que o venire contra factum proprium consiste em um comportamento que viola o dever de portar-se conforme os ditames da boa-fé. Vimos, em um segundo momento, que o venire se insere na figura do abuso do direito. A boa-fé objetiva e o abuso do direito, portanto, podem mostrar-se como pontos de partida para o exame do instituto em estudo, mesmo porque ambos têm em seu favor a vantagem da positivação expressa, como já vimos, estando a boa-fé prevista no artigo 422 e o abuso do direito (também com menção à boa-fé) no artigo 187, ambos do Código Civil brasileiro. No entanto, é evidente que nenhuma dessas duas vinculações, com o abuso do direito e com a boa-fé, tem precisão terminológica suficiente para que, a partir delas, possam ser apontadas as características do venire. E é fácil de se chegar à conclusão dessa insuficiência, uma vez que tanto a 302 conduta de boa-fé quanto o abuso do direito são expressões por demais amplas, como já examinamos, que comportam diversas hipóteses, cada uma delas com suas próprias e diversas características, e das quais o venire é apenas uma. Apesar de insuficiente, por si só, para a identificação do venire contra factum proprium, é evidente que essa inserção do mesmo nos vastos domínios da boa-fé (e apenas vamos nos referir a esta, uma vez que a violação da boa-fé já se insere na figura do abuso do direito) já funciona como uma primeira orientação para a nossa busca. Sabemos, a partir daí, que o venire consiste em uma conduta que viola a boa-fé, ou seja, que infringe algum dos deveres colaterais que da boa-fé decorrem. Resta-nos identificar qual é esse dever, o que faremos logo em seguida. Além disso, também sabemos que o venire, por definição, consiste em um comportamento que se mostra contraditório com um outro comportamento anterior, do mesmo sujeito. Nessas condições, é mais do que evidente que a primeira exigência a ser apontada, de modo amplo, para que se possa reconhecer a ocorrência do venire, é a existência de dois comportamentos, de um mesmo sujeito, que entre si são contraditórios, de um modo tal que essa contradição viola pelo menos um dos deveres acessórios que decorrem da boa-fé. Essa idéia inicial sobre o venire contra factum proprium, como dissemos acima, pode ser apreendida a partir de várias disposições positivadas no nosso ordenamento jurídico. Examinemos algumas dessas disposições, antes de uma análise mais minuciosa e detalhada dos elementos que podem caracterizar o venire, desde logo observando, no entanto, que nessas situações expressamente retratadas pelo Código Civil o operador não poderá se valer da figura do venire contra factum proprium, uma vez que existe disposição 303 normativa própria para a espécie, e em tais condições, como, de modo breve, já vimos anteriormente, não faria qualquer sentido que se buscasse a solução supletiva da figura do venire. Portanto, faremos referência aos dispositivos legais apenas para que, a partir deles, possamos tentar extrair os elementos necessários à caracterização do venire contra factum proprium, mas nas situações neles retratadas não se deverá recorrer a esse instituto. Essa questão do não uso da figura do venire quando existe norma legal expressa para a questão, será vista em detalhes logo adiante, no próximo subitem. a) em relação à formação dos contratos, dispõe o artigo 427, do Código Civil, que a proposta vincula o proponente, salvo natureza ou circunstâncias especiais do negócio. No entanto, esclarece logo em seguida o mesmo Diploma Civil, no artigo 428, IV, que não haverá essa vinculação quando a proposta tiver sido enviada por correspondência e, antes dela, ou pelo menos simultaneamente com ela, chegar ao conhecimento da outra parte a retratação do proponente. Duas situações distintas são enfocadas pelo Código Civil, como se vê nos dois dispositivos legais supramencionados. Na primeira, o destinatário da proposta já tomou conhecimento desta, e por isso não mais se admite a retratação. Na segunda, no entanto, o destinatário ainda não havia tomado ciência dos termos da proposta, e neste caso o proponente será admitido a se retratar. O que essas duas situações têm em comum e o que têm de diferente? Vejamos. Em comum, ambas as disposições legais apresentam como integrantes de seu conteúdo dois comportamentos que se mostram contraditórios entre si. Com efeito, nas duas situações enfocadas a norma legal 304 trata, em primeiro lugar, da proposta de contrato e, em segundo, da retratação referente a essa mesma proposta. Ou seja, o primeiro comportamento do sujeito, tratado pela norma, é a apresentação de uma oferta, tendo em vista a celebração de um contrato; o segundo, contraditório em relação ao primeiro, é exatamente o oposto deste. No entanto, em um dos casos o comportamento contraditório é proibido, enquanto no outro é expressamente admitido, sendo certo que essa diferença de soluções decorre da diferença entre as duas situações, a ser vista em seguida. A diferença é bastante simples de ser identificada. É que, no primeiro caso, como o outro sujeito, destinatário da oferta, dela já tomou conhecimento, já se formou, em seu íntimo, a expectativa de celebrar o contrato, e portanto o legislador resolveu proibir o proponente de frustrar essa mesma expectativa, legitimamente formada. No segundo, no entanto, a proposta ainda não havia chegado ao conhecimento do destinatário, e por esta razão ainda não havia surgido no mesmo a expectativa de celebrar o contrato, e por isso o comportamento contraditório foi admitido, eis que nenhuma expectativa será por ele frustrada. E essa conclusão pode ser ainda reforçada se observarmos que, mesmo nos casos em que a proposta já havia chegado ao conhecimento do destinatário, ainda assim poderá ser admitido o comportamento contraditório do proponente, consistente na retratação, desde que a oferta tenha sido formulada em termos ou em circunstâncias tais que não permitam o surgimento da expectativa em relação ao destinatário (art. 427, 2ª parte). Seria o caso, por exemplo, da proposta formulada de modo condicional ou com a ressalva de que ainda dependeria de uma confirmação da existência em estoque ou de algum outro fator, mas sempre de modo a deixar claro que o proponente ainda não estava definitivamente vinculado aos seus termos. 305 Esse primeiro dispositivo observado mostra, de modo muito claro, um aspecto relevantíssimo no estudo do venire contra factum proprium, ao qual já havíamos nos referido, que é o fato de que nem toda incoerência ou contradição de comportamentos é proibida, mas tão-somente se proíbe aquela capaz de repercutir na esfera jurídica alheia, mediante a frustração das expectativas legitimamente geradas. Essa abordagem será aprofundada por ocasião do exame dos elementos caracterizadores do venire, no subitem próximo. E, ainda mais, pode-se desde logo também apontar que, mesmo em relação aos comportamentos que se mostram capazes de repercussão na esfera jurídica alheia, criando expectativas acerca do desfecho de um negócio jurídico, ainda assim nem toda contradição é rejeitada pelo ordenamento jurídico, vale dizer, nem todo comportamento contraditório será caracterizado como venire inadmissível. Tomemos, para mais fácil análise, o seguinte exemplo: uma pessoa, mediante testamento público, nomeou A e B como seus herdeiros. Veja-se que a disposição testamentária, se vier a ser cumprida, repercutirá na esfera jurídica dos herdeiros testamentários. Além disso, em se tratando de testamento público, A e B logo tomaram conhecimento de tais disposições, e por isso ambos têm a expectativa de receber uma quota do patrimônio, quando vier a ser aberta a sucessão do de cujus. Apesar disso, o testador, a qualquer instante, poderá mudar de idéia e revogar todas as disposições patrimoniais contidas em seu testamento anterior, para isso bastando que elabore um novo testamento, nos termos do artigo 1.969, do Código Civil. Nesse caso, como se vê, houve um primeiro comportamento (a nomeação dos herdeiros testamentários) que veio a ser contraditado pelo segundo (o desfazimento dessa mesma nomeação), afetando a esfera jurídica 306 alheia e frustrando as expectativas dos possíveis herdeiros, que subitamente deixaram de sê-lo, em virtude da revogação do testamento. E apesar disso tudo, a lei expressamente permite essa contradição, que em hipótese nenhuma poderá ser caracterizada como venire contra factum proprium. O problema, como veremos adiante (veja-se, infra, o item 2.3.2.2), é que se assim não fosse, vale dizer, se não houvesse a tolerância em relação a determinadas contradições, todo o comportamento humano posterior, em relação a um certo negócio jurídico, seria desde logo previsível, ou seja, após ter sido adotado um primeiro comportamento, os demais já poderiam ser previamente descritos, caso não se admitisse a hipótese de contradição alguma. E a permissão normativa para a atuação humana se esgotaria logo na primeira conduta, pois as demais apenas se apresentariam como uma simples e previsível conseqüência da mesma. Na realidade, o legislador sopesa os elementos envolvidos na situação específica de comportamentos contraditórios, e em alguns casos conclui que permitir a contradição é menos nocivo à harmonia do sistema jurídico do que proibi-la. Em outras situações, no entanto, considerados os elementos e os valores envolvidos na situação concreta, o legislador decide proibi-la. Aproveitemos esse mesmo exemplo do testamento para tratarmos dessa segunda hipótese, ou seja, quando o legislador, em virtude dos valores e dos elementos do caso concreto, opta por proibir a contradição entre as condutas. Suponha-se que, no mesmo testamento onde A e B foram nomeados como herdeiros, o testador também reconheceu C como sendo seu filho, havido fora do casamento. Em relação ao reconhecimento do filho, como se sabe, o testamento não poderá ser revogado, tendo o nosso Código Civil cuidado de proibi-lo até mesmo em dois dispositivos diferentes, como se 307 vê nos artigos 1.609 e 1.610. Veja-se, portanto, que em relação ao mesmo negócio jurídico, uma parte admite a contradição, ou seja, a nomeação dos herdeiros pelo testador, enquanto a outra, a que se refere ao reconhecimento da filiação, não a admite. Nessas condições, é fácil de se perceber que a diferença entre as soluções passa pelos valores envolvidos em cada uma das situações. No primeiro caso, de um lado tem-se a autonomia da vontade do testador e, do outro, as atribuições patrimoniais por ele feitas, e o legislador optou por preservar a autonomia da vontade, por isso que, mesmo depois de ter sido feita uma primeira atribuição, poderá o testador, a qualquer tempo, optar por modificá-la, não precisando de qualquer justificação para fazê-lo, sendo suficiente a sua vontade livre. Na segunda hipótese, contudo, embora de um lado esteja presente a autonomia da vontade (no sentido de que o testador poderia não ter feito o reconhecimento do filho no testamento, e optou livremente por fazê-lo), do outro está um valor maior, que em última análise é o da própria dignidade da pessoa humana, que envolve o direito à filiação, ao reconhecimento de sua origem familiar. Assim, ponderados tais valores em conflito, adequadamente concluiu o legislador que a dignidade do filho reconhecido não poderia ficar flutuando ao sabor das mudanças de humor do testador, e por isso vetou a possibilidade da contradição. Além do mais, não se pode deixar de mencionar que, no caso do reconhecimento do filho, ao contrário do que ocorre quanto à atribuição de um quinhão hereditário ao herdeiro testamentário, o que se está fazendo é o reconhecimento de que um fato efetivamente ocorreu. Ora, em relação à veracidade de um fato, é possível apenas uma escolha binomial: ou o fato é verdadeiro, ou o fato não é verdadeiro. Assim, a partir do momento em que o 308 testador disse que o fato é verdadeiro, não mais será admitido a se desdizer, sem qualquer justificativa. Essas questões, como já mencionamos acima, serão discutidas em maiores detalhes no item seguinte, mas desde logo já servem para antecipar as enormes dificuldades que se tem em obter uma conceituação precisa para o venire contra factum proprium, uma vez que as particularidades de cada hipótese concreta conduzem a soluções diferentes para situações que, a uma primeira vista, apresentam os mesmos elementos formadores. b) no Direito de Família, ao tratar da separação judicial litigiosa, dispõe o artigo 1.572, do Código Civil, que qualquer dos cônjuges poderá propor a respectiva ação, imputando ao outro qualquer ato que importe grave violação dos deveres do casamento e torne insuportável a vida em comum. Assim, por exemplo, no caso de adultério (art. 1.573, I), o cônjuge inocente pode, imediatamente, repudiar a vida em comum com o outro e propor a ação mencionada. No entanto, da simples leitura do artigo 1.572 se verifica que o elemento fundamental, para que seja possível a obtenção da separação judicial litigiosa, é que a vida em comum tenha se tornado insuportável, o que vem a ser ratificado no parágrafo único do artigo 1.573, que permite ao juiz o acolhimento de outros fatos, não previstos expressamente na lei, mas que tornem evidente a impossibilidade da vida em comum. Logo, contrario sensu da disposição legal comentada, se a vida em comum não se tornou insuportável, não deverá ser deferido o pedido de separação judicial litigiosa. Dessa forma, suponha-se que, mesmo após a descoberta do adultério, o outro cônjuge resolveu continuar a conviver com o adúltero. Se, algum tempo depois, o cônjuge inocente decidir separar-se do adúltero, poderá 309 fazê-lo de modo consensual ou em virtude de alguma outra conduta culposa de seu cônjuge, mas não em virtude daquele adultério, cuja descoberta não impediu que ambos continuassem a vida em comum, ou seja, não a impossibilitou. Veja-se que, no fundo, o que o legislador fez foi proibir que o cônjuge inocente adotasse comportamento contraditório. Com efeito, se após ter descoberto o adultério (ou qualquer outra grave violação dos deveres do casamento) o primeiro comportamento do cônjuge foi uma abstenção, ou seja, absteve-se de tomar qualquer providência para a ruptura litigiosa da sociedade conjugal, não lhe será permitido que, posteriormente, venha a adotar um segundo comportamento, contraditório em relação ao primeiro, que seria a propositura da ação de separação judicial, mesmo porque a primeira abstenção fez surgir no cônjuge infrator a expectativa de que seria possível, apesar da descoberta de sua infração, a continuidade da vida conjugal. O mesmo desenvolvimento, feito nos parágrafos anteriores, poderia ser apresentado também para a anulação do casamento em virtude de erro essencial de um dos cônjuges, ao consentir, sobre a pessoa do outro (arts. 1.556 e 1.557). Com efeito, nos diversos incisos do artigo 1.557 encontra-se muito clara a idéia de que não basta o erro sobre a pessoa do cônjuge, sendo ainda indispensável que em virtude da descoberta do mesmo a vida em comum se torne insuportável. Logo, se após a descoberta do erro o cônjuge enganado continua a coabitar com o outro (salvo nos casos de doença física ou mental), esse seu primeiro comportamento, tolerando a convivência em comum, não lhe permitirá que, posteriormente, venha a ajuizar a ação de anulação do casamento em virtude desse mesmo erro, uma vez que esse segundo 310 comportamento se apresenta como sendo claramente contraditório, em relação ao primeiro. Aproveitam-se os dispositivos acima mencionados para observar, como será exposto de modo mais minucioso algumas linhas à frente, que os comportamentos contraditórios podem ser omissivos ou comissivos, ou seja, tanto o primeiro quanto o segundo dos comportamentos podem consistir em uma ação ou em uma omissão, um fazer ou um não fazer, sendo tal aspecto irrelevante para a caracterização do venire, desde que fique clara a contradição, além dos outros elementos que serão examinados. c) ao estabelecer as disposições gerais acerca dos negócios jurídicos, dispõe o Código Civil, no artigo 111, que o silêncio implicará em anuência quando as circunstâncias ou os usos autorizarem que assim se entenda, e não for necessária a declaração de vontade expressa. O silêncio que autoriza a que se entenda que o mesmo implica em uma declaração de vontade, ou seja, implica em anuência, é o chamado silêncio qualificado (pelas circunstâncias especiais). Logo, não é qualquer silêncio, diante de uma declaração de vontade, que implicará em concordância com essa mesma declaração. Assim, por exemplo, se A apresenta a B uma proposta de contratar, se este último nada responder, seu silêncio não poderá ser compreendido como sendo uma aceitação da proposta que lhe foi dirigida. Essa situação, há até poucos anos, era muito comum entre nós: algumas empresas, notadamente administradoras de cartões de crédito, enviavam seus produtos com a observação de que, caso o destinatário não os desejasse, deveria telefonar para um determinado número e informar que não tinha a intenção de contratar. Caso o destinatário não se manifestasse, a 311 empresa considerava o contrato perfeito, e passava a enviar as faturas ao “cliente”314. Na realidade, essa falta de manifestação do cliente, esse silêncio, não pode ser interpretada como concordância com o aperfeiçoamento do contrato. Em circunstâncias especiais, aí sim é que o silêncio poderá ser entendido como manifestação da vontade. Seria o caso, por exemplo, de dois sujeitos que já mantêm entre si um longo histórico negocial, da seguinte forma: um deles, sendo fabricante de enfeites natalinos, todos os anos, em meados de outubro, independentemente de pedido, envia para o outro, que é comerciante, um lote com diversos enfeites. O comerciante recebe esses enfeites, coloca-os à venda em sua loja e, no final do mês de dezembro, envia ao fabricante o pagamento referente aos mesmos. Esse negócio, com essas mesmas condições, já se repete há vários anos. Em um certo ano, contudo, o comerciante decidiu mudar de ramo, passando a vender outros produtos, e não mais pretende comercializar enfeites de natal em sua loja. Em meados de outubro, no entanto, o fabricante, sem saber do que estava acontecendo, envia para o outro, como vem fazendo há vários anos, os enfeites. O comerciante, ao recebê-los, não se manifesta, não dizendo que os aceita e nem que os rejeita. Neste caso específico, o silêncio do comerciante implicará em anuência com o negócio, que se aperfeiçoará com essa declaração silenciosa da vontade. A diferença entre as duas hipóteses, por óbvio, reside no fato de que, na primeira, não havia qualquer razão para que a administradora de cartões de crédito pudesse criar a expectativa de que o contrato seria efetivamente celebrado, e por isso o silêncio não pôde ser entendido como 314 Essa prática, ao que parece, hoje foi abandonada, pois formou-se de modo unânime a opinião acerca de sua abusividade. 312 sendo concordância com a proposta. Na segunda, no entanto, o histórico dos negócios que vinham se repetindo há longo tempo entre as partes fez com que o silêncio do comerciante fosse interpretado pelo fabricante como sendo uma declaração da vontade, e por isso criou nesse fabricante a legítima expectativa de que o negócio, como ocorria todos os anos, estava aperfeiçoado. Em outras palavras, em uma das situações o silêncio de um dos sujeitos (aqui entendido como falta de rejeição explícita) não serviu para a criação de qualquer expectativa, em relação ao outro, e por isso, se esse silêncio vier a ser posteriormente rompido (mediante a rejeição explícita do aperfeiçoamento do contrato), esse comportamento contraditório não estará violando qualquer expectativa, e por isso será tolerado. Na outra situação, contudo, esse mesmo silêncio (falta de rejeição explícita) fez com que surgisse, no espírito do outro envolvido, a certeza de que o contrato estaria firmado, sendo que a rejeição posterior estaria quebrando essa certeza sobre o aperfeiçoamento da avença, e por isso não será permitida, por se constituir essa contradição em exercício do direito de um modo que não se admite. Hipótese interessante, positivada em nosso ordenamento apenas a partir da vigência do atual Código Civil, e que engloba o silêncio nas duas situações acima examinadas, ou seja, sem que possa ser considerado como manifestação da vontade e podendo ser feita tal consideração, é a que se refere à assunção de dívida. Com efeito, em relação ao instituto da assunção de dívida, para que a mesma se aperfeiçoe, conforme exigência que é apresentada de modo explícito, no artigo 299, do Código Civil, é indispensável o consentimento expresso do credor. Logo, se é exigida a declaração de vontade expressa do credor, é evidente que se deve concluir que o silêncio deste, ao ser notificado 313 para dizer se concorda com a transferência da dívida para um outro devedor, não pode ser interpretado como anuência. Essa conclusão, mencionada no parágrafo anterior, e que já poderia ser obtida a partir do artigo 111, que como vimos afasta a possibilidade de se interpretar o silêncio como concordância, nos casos em que a lei exige manifestação expressa da vontade, foi ainda repetida no parágrafo único, do artigo 299, que de modo claro estabeleceu que, caso o credor venha a ser notificado pelo devedor, ou pelo que pretende assumir o lugar deste, para dizer se concorda ou não com a assunção, o silêncio deverá ser interpretado como recusa. Em outras palavras, se o credor simplesmente não se manifestar acerca da notificação, isso não o impedirá de, mais tarde, alegar que a transferência da dívida é ineficaz, em relação a ele, credor, uma vez que não manifestou o seu assentimento em relação à mesma. Isto acontece porque o simples envio da notificação, sem qualquer indicação sobre qual poderá ser a resposta do credor, não permite aos notificantes que venham a concluir pela possibilidade de que tal concordância seja dada, ou seja, não permite que se crie a expectativa do aperfeiçoamento da transferência da dívida para o novo devedor. Logo, se a qualquer momento o credor vier a romper o seu silêncio, manifestando-se expressamente pela rejeição da assunção, não se poderá apontar, aí, o comportamento contraditório (silêncio-manifestação) capaz de caracterizar o venire contra factum proprium, uma vez que não houve a frustração de qualquer expectativa gerada no outro sujeito. No entanto, nessa mesma hipótese de assunção de dívida, suponha-se que esta se encontra garantida pela hipoteca que recai sobre um imóvel do devedor, e que esse sujeito que pretende assumir a dívida e passar a 314 ser o novo devedor é o comprador desse imóvel hipotecado. Nesta situação, o adquirente notifica o credor sobre a assunção, para que diga se concorda ou não com a mesma. Neste caso, contudo, diferentemente do anterior, o silêncio do credor, caso este não se manifeste em 30 dias, implicará em concordância do mesmo com a transferência do débito (art. 303). A diferença, entre essas duas variantes da assunção de dívida, é que no primeiro caso a pessoa do devedor é essencial para o cumprimento da obrigação, uma vez que, caso não haja o pagamento voluntário, será o patrimônio do próprio devedor que irá servir para que o credor possa exigir o pagamento forçado. Logo, a mudança da pessoa do devedor pode conduzir a uma situação em que o novo devedor seja desprovido de patrimônio, o que vai causar transtornos ao credor. No segundo caso, no entanto, existe um bem imóvel que se encontra vinculado ao cumprimento da obrigação, e por isso, em princípio, a pessoa do devedor não fará muita diferença para tal cumprimento, uma vez que o credor será preferencialmente satisfeito com a venda do bem oferecido em garantia hipotecária, independentemente de quem seja o devedor ou de quem seja o proprietário do imóvel. Logo, nesse segundo caso, é bastante razoável que se suponha que o credor não se oporá à transferência do débito, eis que a mesma em nada o afetará, e por isso se mostra razoável que, com o silêncio do credor, surja no adquirente do imóvel hipotecado a legítima expectativa no sentido de que esse silêncio implica em concordância, e por isso não será permitido ao credor, posteriormente, insurgir-se contra a assunção, uma vez que tal insurgência, revelando-se contraditória com o silêncio inicial, estaria frustrando a legítima expectativa do outro sujeito. 315 Dito de outra forma, e utilizando a terminologia acima mencionada, pode-se dizer que, no segundo caso, ou seja, quando existe a garantia hipotecária da dívida, o silêncio do credor estará qualificado pelas circunstâncias especiais (precisamente a existência da garantia real), e por isso poderá ser entendido como uma declaração de vontade, como um primeiro comportamento. Na outra hipótese (quando não há a garantia), contudo, não é isso o que acontece, ou seja, não há as circunstâncias especiais capazes de adjetivar o silêncio e transformá-lo em declaração de vontade, e por isso não se poderá entendê-lo como um fato próprio do credor. d) situação recentemente positivada em nosso direito, e que serve para um perfeito contraste entre os comportamentos contraditórios que se caracterizam como venire contra factum proprium e os comportamentos contraditórios que se constituem em descumprimento de determinação legal, é a que diz respeito ao contrato de empreitada, mais especificamente no que se refere ao aumento da obra sem que tenha havido instruções escritas do dono da mesma. No Código Civil de 1916, dispunha o artigo 1246 que, quando o empreiteiro (arquiteto ou construtor) tivesse aceito a incumbência de executar uma obra segundo o plano previamente ajustado com o dono da mesma, se porventura esse mesmo empreiteiro viesse a alterar ou aumentar a obra pactuada, em relação à planta, sem que para isso tivesse recebido instruções escritas do outro contratante, não poderia reclamar qualquer complemento no preço ajustado, ainda que em virtude de tais aumentos ou alterações viessem a ser majorados os seus gastos com a obra e ainda mesmo que em virtude dessa alteração a obra se tornasse mais valiosa. 316 Em outras palavras, na hipótese de eventual alteração da obra, em relação ao plano ajustado anteriormente entre os contratantes, não se permitiria ao empreiteiro pleitear qualquer pagamento a maior, além de sujeitá-lo a ter a obra rejeitada, em virtude do descumprimento do contrato, não lhe socorrendo o argumento de que, em virtude das alterações, a obra teria ficado melhor, ou mais valiosa, ou mais útil, etc. Tão-somente interessava era o fato de que a alteração não havia sido autorizada. No entanto, o que nos casos concretos muitas vezes se verificava, era que o dono da obra, embora ciente da efetivação das alterações, seja porque lhe haviam sido comunicadas verbalmente, pelo empreiteiro, ou então porque costumava acompanhar de perto os trabalhos, comparecendo freqüentemente ao local, às mesmas não se opunha, uma vez que, de fato, tornariam o resultado final melhor, mais agradável ou mais valioso do que aquele que havia sido previamente ajustado. Posteriormente, no entanto, quando o empreiteiro, por ter efetuado maiores gastos do que os previstos inicialmente, em virtude das alterações, ou por ter tido um maior trabalho, pleiteava um acréscimo no pagamento, o dono da obra recusava-se a pagá-lo, sob a alegação de que não havia autorizado por escrito a efetivação das alterações, e por essa razão não estava obrigado ao pagamento de qualquer adicional ao valor inicialmente convencionado. Seria o caso, por exemplo, da construção de uma casa em um amplo terreno, sendo que da planta constavam apenas quartos de dormir, nas não suítes. O empreiteiro, considerando que havia muito terreno disponível, e que o material já adquirido se mostrava suficiente, toma a iniciativa de acrescentar um banheiro a dois dos quartos, transformando-os em suítes. O dono da construção, que todos os dias visitava a mesma, tomou inequívoco 317 conhecimento da alteração, viu que havia quartos da casa sendo transformados em suítes, mas nada disse sobre a modificação. Mais tarde, no entanto, recusou-se a pagar qualquer valor adicional pela mesma, ao argumento de que não a havia autorizado por escrito. Veja-se que se tratava, claramente, de venire contra factum proprium, por parte do dono da obra, conforme os elementos caracterizadores dessa figura, que veremos logo adiante, no item seguinte: o primeiro comportamento do dono da obra, o factum proprium, havia consistido em uma omissão, ou seja, não se opusera a que o empreiteiro efetivasse alterações na planta convencionada, apesar de ter plena ciência sobre as mesmas, e não o fizera, obviamente, por serem do seu interesse, uma vez que a obra resultaria, em virtude de tais alterações, mais valiosa, mais útil ou mais agradável. Essa omissão levou o empreiteiro a acreditar que o outro contratante tinha interesse em que as modificações fossem feitas, e por isso continuou a fazê-las, ainda que não dispondo da autorização formal, por escrito, pois supunha que havia a autorização tácita. Mais tarde, no entanto, o segundo comportamento, o venire, contrariava essa expectativa, pois o dono da obra, em relação ao qual o empreiteiro acreditara que concordava e aceitava as modificações introduzidas, simplesmente recusava-se a pagar por elas em virtude do não atendimento a uma exigência formal, como se nelas não tivesse interesse algum, em nítido exemplo de comportamento contraditório e inaceitável. Em outras palavras, o primeiro comportamento fizera surgir uma justificada expectativa no empreiteiro, em relação ao interesse que o dono da obra teria em vê-la modificada para melhor, sendo que essa mesma expectativa veio a ser frustrada pelo segundo dos comportamentos, que violava a conduta imposta pela boa-fé. 318 O Código Civil de 2002, ao tratar desse mesmo tema, estabeleceu no artigo 619, de modo semelhante ao que fazia o revogado Código, que não terá direito a exigir qualquer acréscimo no preço o empreiteiro que, depois de ter aceito a tarefa de executar uma obra conforme o plano aceito pelo dono da mesma, venha a introduzir modificações no projeto original, a não ser que tais alterações tenham resultado de instruções escritas, passadas pelo dono da obra. Até aí, como se vê, exatamente igual ao que dispunha o Código Civil anterior. No entanto, o parágrafo único desse mesmo artigo 619, trouxe o acréscimo de regra que não constava do Diploma Civil antigo, e que teve precisamente a finalidade de coibir essa atuação de má-fé, que violava a legítima expectativa do empreiteiro. Com efeito, estabelece o parágrafo único, do artigo 619, do Código Civil, que mesmo que não tenha havido a autorização escrita, o dono da obra terá que pagar ao empreiteiro os aumentos e acréscimos, conforme o que for arbitrado para o caso em questão, se se fez sempre presente à obra, mediante continuadas visitas, e portanto não havia como desconhecer as alterações efetuadas, e mesmo assim nunca protestou contra as mesmas. Como se vê, preocupou-se o legislador do novel Diploma Civil em proibir especificamente que o dono da obra pudesse adotar o comportamento contraditório acima mencionado e dele buscar obter vantagens, ou seja, uma omissão capaz de gerar legítima expectativa no empreiteiro, seguida de uma recusa quanto ao pagamento dos acréscimos decorrentes das alterações feitas na obra. E é importante realçar que, na verdade, a lei adotou como parâmetro, tão-somente, a conduta do dono da obra em si mesma, sem se preocupar com outras considerações como a valorização da obra, se a mesma se tornou mais bonita, mais agradável, se o dono gostou do resultado final, etc. 319 O que interessa, tão-somente, é se ele se omitiu, e se essa conduta omissiva foi suficiente para provocar a legítima expectativa do empreiteiro, sendo tal expectativa frustrada pela subseqüente recusa quanto ao pagamento. Se isso ocorreu, quaisquer outras considerações se mostram completamente desnecessárias. Veja-se, portanto, que aqui se tem um claríssimo exemplo do contraste acima mencionado: na vigência do Código Civil anterior, se a nítida injustiça da situação levasse o juiz a decidir, em um caso concreto, que o dono da obra teria que pagar pelo acréscimo, mesmo que não houvesse a autorização escrita (e na verdade já era essa a posição da jurisprudência 315), esse juiz não encontraria apoio em texto legal expresso, e por essa razão teria que se valer da idéia de violação da conduta conforme os ditames da boa-fé, vale dizer, teria que se valer, em última análise, do próprio instituto do venire contra factum proprium. Na vigência do Código Civil atual, contudo, esse suporte não mais precisa ser buscado na figura do venire, pois o próprio texto legal já cuidou, expressamente, de afirmar que a contradição comportamental é proibida, e que por isso, caso ocorra, será repelida no caso concreto, uma vez que o dono da obra dela não se poderá valer, tendo que pagar pelos acréscimos ainda que não tenha manifestado por escrito a sua concordância ou a sua autorização, mas simplesmente porque se omitiu e com isso gerou legítima expectativa na outra parte contratante. Não haveria qualquer sentido, portanto, 315 DIREITOS CIVIL E ECONÔMICO. CONTRATO DE EMPREITADA. SUBEMPREITADA. ALTERAÇÃO DO VALOR DO PREÇO. EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO À VISTA DO SUBEMPREITEIRO QUE INCLUSIVE FISCALIZOU E ACOMPANHOU A OBRA. AUTORIZAÇÃO TÁCITA. VALIDADE. INTERPRETAÇÃO AO ART. 1.246 DO CÓDIGO CIVIL. DOUTRINA. RECURSO DESACOLHIDO. Interpretando o art. 1.246 do Código Civil, a doutrina acolhe a tese de que, se o serviço extraordinário foi executado às claras, inclusive sob a supervisão de prepostos da subempreiteira, tem-se como pertinente a cobrança dos seus valores, independentemente de autorização por escrito. STJ, REsp 103715/MG, 4ª. Turma, Ac. unânime. Re l. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira. J. 05.10.1999. DJ 288.02.2000, p. 84. 320 na presença desse texto legal expresso, que o juiz buscasse socorro na figura mais instável e menos precisa da boa-fé. e) uma última situação, embora não versando diretamente sobre comportamentos contraditórios proibidos (muito pelo contrário, trata-se de hipótese na qual a contradição é expressamente admitida), servirá para que possamos extrair mais algumas observações sobre os elementos que caracterizam o venire contra factum proprium. Trata-se do instituto da lesão, defeito do negócio jurídico previsto no artigo 157, do nosso atual Código Civil, e que se concretiza quando uma pessoa, em virtude de premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional à contraprestação que irá receber. Concretizada a lesão, a conseqüência, da mesma forma que ocorre em relação a todos os demais vícios da vontade, é a anulabilidade do negócio, cuja anulação poderá ser requerida pela parte prejudicada, ou seja, pela parte que, em virtude de sua situação difícil, concordou em receber prestação muito inferior à que irá cumprir em favor do outro sujeito. Veja-se, portanto, que o próprio sujeito que celebrou o negócio mais adiante poderá requere-lhe a anulação, o que sem sombra de dúvida caracteriza a contradição entre os dois comportamentos, o primeiro consistente na celebração do negócio, e o segundo, no pedido de anulação do mesmo. Suponha-se, por exemplo, que uma pessoa, cujo filho se encontra gravemente enfermo, necessitando de um tratamento médico urgente, inclusive com uma delicada e cara intervenção cirúrgica, possui um imóvel avaliado em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Essa pessoa, para poder custear o tratamento de saúde do filho que se encontra enfermo, oferece o 321 imóvel à venda, solicitando pelo mesmo o preço da avaliação, ou seja, um milhão de reais. Ocorre que, como se sabe, não é muito fácil e nem muito rápido que se consegue vender um imóvel de tão grande valor. Assim, passado um mês, o imóvel ainda não foi vendido. O pai e proprietário, preocupado com o estado de saúde do filho, que estava se agravando, reduz o preço para novecentos mil reais, mas ainda assim, mais um mês se passa e o imóvel não é vendido, enquanto mais e mais se deteriora a saúde do filho. E, assim, o preço vai sendo reduzido mas o imóvel não consegue ser vendido. Decorridos seis meses, o preço já tendo sido reduzido para quinhentos mil reais, o imóvel continua em mãos do desesperado pai, que é então informado pelo médico que a situação do filho, em breve, será irreversível. O pai, então, oferece o imóvel à venda por cem mil reais, valor suficiente para que seja pago todo o tratamento de saúde do seu filho, embora muito abaixo do valor real do imóvel. Depois dessa redução para apenas dez por cento do valor real, o imóvel vem a ser rapidamente vendido, permitindo ao pai, finalmente, o custeio do tratamento de saúde que poderia salvar a vida do filho. Eis aí a lesão, onde a prestação que um dos sujeitos vai cumprir, qual seja, a entrega do imóvel, é manifestamente desproporcional à contraprestação que irá receber, pois enquanto entregará um bem cujo valor é de um milhão de reais, apenas receberá, como contraprestação, o preço de cem mil reais. Esse vício da lesão permite que o vendedor, futuramente, venha a buscar o desfazimento do negócio, em virtude de sua anulabilidade. No entanto, é fácil de identificar, no caso, a existência de dois comportamentos contraditórios, adotados pelo mesmo sujeito. No primeiro deles, o próprio vendedor tomou a iniciativa de oferecer seu bem à venda pelo 322 preço de cem mil reais. No segundo comportamento, no entanto, depois de já estar aperfeiçoado o contrato de compra e venda, o próprio vendedor toma a iniciativa de requerer-lhe a decretação da invalidade, por haver enorme desproporção entre as duas prestações principais. Só que, na hipótese, esse caso de comportamentos contraditórios é expressamente previsto pela lei, que permite seja pedida a decretação da anulação (Código Civil, artigo 171, II). O motivo dessa permissão de comportamentos incompatíveis entre si, como facilmente se conclui, é que no caso existe uma justificativa para a contradição, decorrente do fato de que, no primeiro desses comportamentos, a vontade do sujeito não foi perfeita, mas viciada pelo vício da lesão. O que se buscará demonstrar, portanto, ao ser requerida a anulação do negócio, é precisamente esse fato de que a primeira atuação do sujeito não deve ser considerada, pois contém vício que permite pleitear-lhe a decretação da invalidade. Ora, uma vez sendo invalidado o primeiro comportamento, não haverá o fato próprio, ou seja, o segundo comportamento não será contraditório a coisa alguma, eis que o primeiro foi retirado do mundo jurídico. Na realidade, embora o exemplo acima tenha sido referente, especificamente, ao vício da lesão, de modo mais amplo pode-se apontar que será admitido o comportamento contraditório sempre que no primeiro dos comportamentos a vontade do sujeito tiver sido afetada por um dos vícios da vontade. Assim, por exemplo, na hipótese da assunção de dívida, examinada na alínea anterior, ainda que o credor tivesse concordado expressamente com a mesma, poderia posteriormente impugná-la, não ficando livre o antigo devedor, se este, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava. No caso, como se vê, o primeiro comportamento do credor, a concordância com a assunção, teria sido viciado pela ocorrência do erro ou ignorância, e por 323 isso esse credor poderia, futuramente, impugnar a liberação do devedor antigo, ainda que tivesse expressamente concordado com a substituição dele pelo novo devedor. Ainda de modo semelhante, o artigo 814 do Código Civil estabelece que as dívidas de jogo não obrigam o pagamento, mas também dispõe que não se pode recobrar a quantia voluntariamente paga, salvo se foi ganha por dolo ou se o que perdeu e pagou é menor ou interdito. Assim, a dívida de jogo é inexigível, mas se foi voluntariamente paga (primeiro comportamento), não pode o que pagou pleitear a devolução (segundo comportamento), face à evidente e incontornável contradição entre essas duas atuações do perdente. No entanto, a existência do dolo (vício da vontade) na formação da dívida justificaria esse comportamento contraditório. Aproveitemos o exemplo acima, referente ao pagamento de dívida de jogo, para ampliarmos ainda um pouco mais a nossa abordagem. É que o referido artigo 814, na realidade, não faz exceção apenas no caso do dolo, mas também na hipótese de ser incapaz (menor ou interdito) o que perdeu e pagou. Como se vê, portanto, tem-se aí, de modo mais amplo, uma causa de invalidade do primeiro comportamento, o que engloba, é evidente, também os casos de vício da vontade. Dito, portanto, de modo mais amplo, podemos afirmar que, em regra, quando ocorrer uma causa de invalidade, em relação ao primeiro dos comportamentos do sujeito, estará justificada a contradição, e havendo tal justificativa, é de clareza solar que não se poderá falar em venire contra factum proprium. No entanto, desde logo se adiante que, em certos casos, mesmo a invalidade do primeiro comportamento não será capaz de afastar a configuração do venire contra factum proprium, como teremos a oportunidade de examinar mais à frente. 324 A partir dessa primeira abordagem, ainda que de situações específicas e delimitadas, já puderam ser colhidos – e poderão ser generalizados – alguns caracteres dos elementos que devem estar presente para que se possa aferir a presença do venire contra factum proprium, e a partir de tal constatação podemos agora partir para a análise individualizada e mais pormenorizada de cada um dos três elementos essenciais que integram o instituto, ou seja, seccionando-o quanto aos comportamentos, quanto à contradição em si mesma, e quanto ao dever acessório que está sendo violado. Comecemos pela análise dos comportamentos. 2.3.2.1. Os comportamentos contraditórios. a) validade de cada comportamento, individualmente considerado. Aponte-se, desde logo, que no venire, cada um dos comportamentos, quando individualmente considerado, mostra-se válido, mesmo porque, se não o fosse, não estaríamos na seara do venire contra factum proprium, mas no puro e simples campo da ilegalidade. O que vem a se mostrar ilícito, portanto, não é o considerar isolado de qualquer dos dois comportamentos, mas a conduta do sujeito considerada de modo global, ou seja, a conduta considerada como o conjunto dos dois comportamentos mencionados. Assim, por exemplo, suponha-se que em sua primeira atuação, o sujeito gerou no outro a expectativa de que lhe venderia um determinado bem, sendo que, posteriormente, um segundo comportamento desse mesmo sujeito frustrou essa expectativa que havia sido gerada. Parecem estar presentes, no 325 caso, as características do venire contra factum proprium. No entanto, suponha-se que esse bem, em relação ao qual surgiu a expectativa da venda, era um bem público ou pertencente a um terceiro. Nesse caso, não se tratará de venire, mas sim de um ato ilegal, inválido em si mesmo, sendo desnecessário que se considere a conduta global para que seja aferida essa ilegalidade. Interessantes hipóteses concretas, que surgiram e surgem com grande freqüência em nossos tribunais, e que se enquadram na situação acima descrita, ou seja, aquela na qual o primeiro comportamento é inválido em si mesmo, são as que se relacionam com a fiança locatícia e com o oferecimento do bem imóvel em garantia real hipotecária, e a possibilidade de ser posteriormente penhorado o imóvel que se constitui em bem de família. Vejamos essas duas hipóteses. A Lei nº 8.009/90, ao dispor sobre o bem de família legal, estabeleceu como regra central a impenhorabilidade do mesmo. No entanto, essa mesma regra legal cuidou de apresentar, em seu artigo 3º, algumas dívidas capazes de excepcionar a impenhorabilidade, ou seja, dívidas para cujo atendimento se mostra permitida a penhora do imóvel, ainda que se trate de bem de família. Dentre tais exceções, a Lei 8.009/90 incluiu a hipótese de execução da hipoteca quando o imóvel tivesse sido oferecido como garantia real pelo próprio casal ou entidade familiar (art. 3º, V), e a Lei nº 8.245/91, posteriormente, introduziu a exceção referente às obrigações decorrentes de fiança locatícia (art. 3º, VII). Suponha-se, portanto, que em um caso concreto, aquele que se ofereceu como fiador, em um contrato de locação, veio a ter seu único imóvel residencial (e, portanto, bem de família) penhorado. Ou, então, que o devedor, tendo oferecido seu único imóvel como garantia real, ao deixar de cumprir a prestação a que se comprometera, vem a ter esse mesmo imóvel penhorado. O 326 fiador (ou o devedor), em tais condições, deduz embargos de terceiro, esteado no argumento de que aquele imóvel, por sua qualidade (bem de família), não pode ser atingido pela apreensão judicial, nos termos do Código de Processo Civil, art. 1.046, § 2º. À primeira vista, aparentam estar presentes os elementos que caracterizam o venire contra factum proprium, ou seja, a existência de dois comportamentos que se mostram contraditórios entre si, e sendo que o segundo tem força suficiente para frustrar a expectativa que havia sido criada pelo primeiro, no sentido de que o bem imóvel em questão poderia ser utilizado como garantia patrimonial para o pagamento da dívida. No entanto, de venire não se trata, uma vez que se esbarra no primeiro dos requisitos, ora em exame, ou seja, não se tem um comportamento inicial válido, eis que o imóvel que se constitui em bem de família não poderia ter sido oferecido como garantia real hipotecária, ainda que com tal oferta tivesse inicialmente concordado o casal ou entidade familiar. Com efeito, após muita celeuma surgida entre os doutrinadores e mesmo nos tribunais, vieram as Cortes Superiores a decidir que não é possível a renúncia à garantia de impenhorabilidade do bem de família, uma vez que o direito à moradia se constitui em direito fundamental (Constituição Federal, art. 6º), e por isso não pode ser objeto de renúncia 316. 316 PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - COISA JULGADA - TERCEIRO - INEXISTÊNCIA - ART. 472 CPC - FIANÇA - OUTORGA UXÓRIA - AUSÊNCIA - INEFICÁCIA TOTAL DO ATO FIADOR. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 3º, VII, DA LEI Nº 8.009/90. NÃO RECEPÇÃO. I - A coisa julgada incidente sobre o processo de conhecimento e conseqüente embargos opostos por um cônjuge não pode atingir o outro, quando este não tiver sido parte naqueles processos. (art. 472, do Código de Processo Civil). II - A ausência de consentimento da esposa em fiança prestada pelo marido invalida o ato por inteiro. Nula a garantia, portanto. Certo, ainda, que não se pode limitar o efeito dessa nulidade apenas à meação da mulher. III - Com respaldo em recente julgado proferido pelo Pretório Excelso, é impenhorável bem de família pertencente a fiador em contrato de locação, porquanto o art. 3º, VII, da Lei nº 8.009/90 não foi recepcionado pelo art. 6º da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº 26/2000). Recurso provido. 327 Ressalte-se, contudo, antes de prosseguirmos, que será possível a caracterização do venire contra factum proprium, mesmo na hipótese de ter sido inválido o primeiro negócio jurídico, quando essa invalidade decorre de vício formal do negócio, mas não tendo havido dolo das partes envolvidas e nem tendo sido afetada a vontade que cada um declarou para a celebração de tal negócio. Esta hipótese será retomada adiante, ao tratarmos das situações onde o sujeito que se comportou de modo contraditório não havia ficado vinculado em função do seu primeiro comportamento. b) cada comportamento deve ser uma atuação jurídica, e não simples ato material. Além disso, ou seja, além da exigência de validade individual de cada um dos dois comportamentos, tem-se ainda que cada um deles deve se constituir em uma atuação jurídica, vale dizer, deve ser capaz de repercutir na esfera jurídica de alguém, não podendo se falar em venire contra factum proprium quando se tem a contradição ocorrendo tão-somente entre atos materiais. Tomemos um exemplo banal, mas que com extrema facilidade servirá para a demonstração do que acabamos de afirmar. Um transeunte decide atravessar uma rua. Chegando ao outro lado, no entanto, muda de idéia e decide atravessar de volta, retornando para o ponto de onde havia saído. É evidente, em tal exemplo, que se pode apontar a existência de contradição entre os dois comportamentos adotados pelo transeunte, ou seja, o atravessar da rua em um sentido e, logo em seguida, no outro. No entanto, não se consegue vislumbrar, em cada um dos atos praticados, qualquer eficácia jurídica, e por esse motivo essa contradição se mostra juridicamente 328 irrelevante. Ora, se a contradição não tiver interesse jurídico, é evidente que não se poderá falar na ocorrência do venire. Deve-se tomar cuidado, no entanto, com as palavras usadas para a descrição dessa característica acima enunciada. Com efeito, parece-nos equivocado o ensinamento de Anderson Schreiber 317, quando sustenta que o factum proprium não precisa ser “juridicamente relevante”, podendo se apresentar como um fato “inapto a produzir quaisquer efeitos jurídicos”, ou seja, um fato que “na maior parte dos casos... é absolutamente desconsiderado pelo direito positivo”. Em conclusão, diz o ilustre autor, não se exige do factum proprium que seja juridicamente relevante, mas sim que possa “repercutir na esfera alheia, gerando legítima confiança”, eis que “não se pode aceitar como factum proprium aquela conduta que não seja capaz de repercutir sobre outras pessoas”. Ora, mas a partir do momento em que o comportamento do sujeito repercute na esfera alheia, passou a ser juridicamente relevante, ou seja, passou a ser um fato jurídico, capaz de provocar conseqüências jurídicas relevantes. Não é demais recordar a clássica lição de Miguel Reale 318, que ao falar sobre o fato jurídico esclarece que se trata daquele que se trata de todo e qualquer fato da vida social que venha a corresponder ao modelo de comportamento previsto na norma de direito, ou seja, é o fato capaz de provocar conseqüências jurídicas. Logo, se o factum proprium é aquele que repercute na esfera jurídica alheia, então provoca conseqüências jurídicas, ou seja, é um fato jurídico, é juridicamente relevante. Na verdade, no essencial não há qualquer distinção entre a conclusão alcançada por Anderson Schreiber e a que foi por nós mencionada, 317 Anderson Schreiber, A Proibição de Comportamento Contraditório – Tutela da confiança e venire contra factum proprium, pp. 129-130. 318 Miguel Reale, Lições Preliminares de Direito, pp. 201-202. 329 poucas linhas acima: o factum proprium deverá, necessaria mente, repercutir na esfera jurídica alheia. Apenas não nos parece adequado o caminho percorrido pelo ilustre jurista para tentar explicar como teria chegado a tal conclusão. c) o segundo comportamento não pode ser descumprimento de vinculação decorrente do primeiro. Ainda em relação aos comportamentos, é necessário que o segundo não corresponda à violação de uma obrigação decorrente do primeiro319, ou seja, os dois comportamentos devem ser independentes, sendo o segundo autônomo em relação ao primeiro. Dito em outras palavras, o primeiro comportamento (o factum proprium), se isoladamente considerado, não é vinculante, não vincula o sujeito a um específico e determinado comportamento posterior. A vinculação surgirá apenas porque, no contexto da situação, verificou-se o surgimento da confiança no segundo sujeito, e proteção a esse confiança é que conduzirá à necessidade de que o segundo comportamento se mostre coerente, rejeitando-se o que seja contraditório (o venire). Ora, se do primeiro comportamento já tivese decorrido para o sujeito a obrigação de se comportar de uma determinada forma, e se tal obrigação não fosse cumprida, o que se teria seria o inadimplemento de uma relação obrigacional, e não o venire contra factum proprium, ou seja, o problema estaria situado no campo do inadimplemento obrigacional, e não no campo dos comportamentos regidos pela boa-fé. 319 No mesmo sentido a lição de Anderson Schreiber, A Proibição de Comportamento Contraditório – Tutela da confiança e venire contra factum proprium, pp. 126-127. 330 Assim, por exemplo, suponha-se que A e B celebraram um contrato de compra e venda, sendo A o vendedor. Desse primeiro comportamento – a celebração do contrato – decorre uma obrigação, a ser concretizada em um segundo comportamento, que será o de entregar a coisa vendida ao comprador. Se A, contudo, no momento em que deveria entregar o bem a B, não o fizer, é evidente que se terá aí um comportamento contraditório, mas também o é que não se faz necessário o recurso à figura do venire, uma vez que, na realidade, o que houve foi o descumprimento de uma prestação obrigacional. E a solução será dada pela norma específica que trata do inadimplemento das obrigações, não se deixando ao juiz qualquer campo para que possa construir uma solução por meio do venire. Na realidade, ao contrário do que afirma Menezes Cordeiro 320, não é que em tal hipótese não ocorra o venire contra factum proprium, mas sim que não há necessidade de se recorrer à figura do mesmo, uma vez que o venire – como os demais institutos ligados à boa-fé –, como já vimos, tem caráter apenas complementar, supletivo, atuando tão-somente quando não existe solução legal específica para aquela situação. No entanto, não se pode negar que estão presentes todos os elementos necessários à caracterização do venire, ou seja, do primeiro comportamento (a celebração do contrato) surgiu para o outro sujeito a legítima expectativa de que o segundo seria a entrega da coisa, e essa expectativa foi injustificadamente frustrada. Houve, portanto, a frustração da expectativa criada, e isso nada mais é do que a violação de um dever lateral oriundo da boa-fé. Não é demais observar que, quando o artigo 422, do Código Civil, impõe aos contratantes o dever de observar, na execução do contrato, o princípio da boa-fé, não está se referindo apenas aos deveres acessórios, mas também, como se mostra 320 Antônio Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro, Da boa-fé no Direito Civil, p. 746. 331 evidente, aos deveres centrais do contrato, mesmo porque é em função destes últimos que aqueles devem ser observados. Logo, se o não cumprimento de um dever acessório significa não se comportar conforme os ditames da boa-fé, o descumprimento dos deveres principais também significa a mesma coisa. A diferença, que se mostra óbvia, entre as duas hipóteses mencionadas, é que para o descumprimento dos deveres centrais já existe previsão legal específica, eis que se trata do próprio descumprimento do contrato, e por isso não se faz necessário o recurso à figura mais ampla e mais genérica da violação da boa-fé. Dito em outras e, esperamos, mais claras palavras, o princípio da boa-fé, que deve ser observado na conclusão e na execução dos contratos (art. 422), impõe a observância dos deveres laterais, mas também impõe o cumprimento da prestação em si mesma, ou seja, a observância do dever principal. Cumprir a prestação pactuada nada mais é do que observar o princípio da boa-fé. Só que, em relação ao descumprimento dos deveres laterais a lei nada diz (e nem poderia, pois os mesmos só são aferíveis em concreto, como já vimos), e por isso se faz necessária a invocação da figura mais ampla e genérica da boa-fé, enquanto que, em relação à prestação em si mesma (dever central), houve o tratamento legal específico, por isso que se mostra desnecessário falar-se, no caso concreto, em violação da boa-fé. De uma certa forma, portanto, pode-se até mesmo dizer que existe um certo paralelismo entre o instituto do venire contra factum proprium e o princípio da obrigatoriedade das convenções (pacta sunt servanda). Com efeito, em uma certa medida pode-se dizer que ambos vinculam, sendo que a obrigatoriedade das convenções atua nesse sentido (vinculando o sujeito) quando o negócio jurídico se aperfeiçoou e dele decorre a vinculação quanto ao cumprimento da prestação central; o venire, por sua vez, vincula o sujeito 332 precisamente naqueles casos em que, ou não se aperfeiçoou o negócio jurídico ou, então, do aperfeiçoamento não decorre a vinculação do pacta sunt servanda. Este, portanto, vincula em alguns negócios jurídicos, enquanto aquele funcionará como vínculo apenas na falta deste. Retornando, agora, ao ponto de partida das digressões acima, ou seja, à classificação jurídica do descumprimento da prestação contratual como sendo hipótese de venire contra factum proprium, o que podemos observar é que, no descumprimento da prestação, houve comportamentos contraditórios entre si, como já vimos acima, e essa contradição implicou na injustificada frustração de uma expectativa que havia surgido no espírito do outro contratante. E isso é precisamente o venire, ou seja, a inexecução da prestação contratual pode ser classificada como hipótese de venire contra factum proprium, só que uma hipótese que já encontra previsão legal mais precisa e específica. No entanto, não se pode deixar de observar que, ainda que de venire se trate, no caso concreto o juiz, mais do que não deverá, não poderá valer-se da figura do venire ao buscar a solução, sendo-lhe imposto o recurso à figura do inadimplemento contratual. É que o venire, como todas as figuras que decorrem da boa-fé, mostra contornos que em abstrato são imprecisos, e só podem ser delimitados com precisão em cada caso concreto, o que sempre deixa alguma margem para a atuação conforme o sentimento de equidade do juiz, que terá que construir a solução para aquele caso específico, o que pode servir como amplificador para uma certa insegurança jurídica. Esclareça-se que não se trata de fazer da segurança jurídica um valor absoluto, dentro do ordenamento jurídico. Muito pelo contrário, pois se por um lado é certo que a segurança jurídica é um dos valores que devem ser considerados, dentro do ordenamento, por outro, também é certo que não é o 333 único. Por essa razão, ocorrem situações onde se faz necessário o aparente sacrifício da segurança jurídica, para que se possa evitar a concretização de uma manifesta e inaceitável injustiça 321, e se necessário for, deverá ser afastada sem maiores cerimônias a norma legal322, que será substituída pelos 321 Não se pode deixar de mencionar, ainda que brevemente, acerca do tema “segurança juridica”, as certeiras colocações disparadas por Maria Celina Bodin de Moraes, Danos à Pessoa Humana – Uma Leitura Civil-Constitucional dos Danos Morais, pp. 59-75, que apresenta uma muito bem elaborada descrição da passagem do “mundo da segurança”, em que tudo era estável e previsível (em relação ao Direito Civil, a previsibilidade decorria do fato de estar todo ele contido no Código Civil – a “era dos códigos”), para uma era de incertezas e de instabilidades, onde a busca da prevenção contra o totalitarismo e as arbitrariedades das ditaduras levou ao abandono da legalidade estrita, acima da qual foram colocados valores fundamentais, tais como a dignidade e a solidariedade, que não podem jamais ser ignorados. Isso tem gerado, explica a autora, uma crise de identidade sem precedentes na aplicação do Direito Civil, uma vez que há profundo descompasso entre seus conceitos essenciais, formulados no Direito romano, em um contexto completamente distinto e em nenhuma hipótese harmonizável com o panorama dos dias atuais, e mesmo assim, muitas vezes, o que se vê é a invocação pura e simples de tais conceitos, para aplicação direta em casos concretos atuais, com resultados obviamente catastróficos. Essa falta de percepção da mudança do contexto – e, de modo mais preciso, da mudança dos paradigmas do direito civil – pode ser muito claramente percebida, ao que nos parece, com todo o respeito devido ao autor, no texto de Flávio Tartuce, A revisão do contrato pelo novo Código Civil. Crítica e proposta de alteração do art. 317 da Lei 10.406/02. In: Delgado, Mário Luiz e Alves, Jones Figueirêdo, Novo Código Civil – Questões Controvertidas, pp. 131 e seguintes. Após passar várias páginas reproduzindo velhos conceitos, tais como autonomia da vontade, força obrigatória dos contratos, pacta sunt servanda, o contrato tem, entre os contratantes, a mesma força obrigatória que uma lei, etc., inclusive mencionando, expressamente a “previsão já no Direito Romano” (p. 132), e a presença de alguns institutos mencionados “desde a antiguidade” (p. 141), busca o autor concluir (pp. 143 e seguintes) sobre qual seria o fundamento legal, em nosso direito, da possibilidade de revisão dos contratos, se o artigo 478 ou o artigo 317, ambos do Código Civil, e acaba por concluir que é o segundo deles, o 317. Ora, data venia, na realidade nenhum dos dois dispositivos mencionados é o verdadeiro fundamento da possibilidade de revisão do contrato, pois tal fundamento, na realidade, encontra seu suporte diretamente na tábua axiológica que salta aos olhos a partir do texto constitucional, notadamente os princípios da dignidade humana e da solidariedade social, dos quais decorre a imposição do equilíbrio contratual, sob pena de revisão ou mesmo resolução do contrato. Logo, se fossem retirados do Código Civil os dois dispositivos mencionados, ainda assim não fariam falta alguma, pois continuaria sendo possível a revisão do contrato onde as prestações, por força de inesperada alteração das circunstâncias, viessem a apresentar inaceitável desequilíbrio, em extremo desfavor de um dos contratantes. 322 Ao traçar a diferença entre os princípios fundamentais e o que ele denomina de “normas restritas” (as regras), aponta Juarez Freitas, A interpretação sistemática do direito, p. 56, que a principal diferença não é a que se refere à maior generalidade dos princípios, mas sim à sua qualidade argumentativa superior. Por essa razão, prossegue, havendo colisão, deve-se proceder à interpretação em conformidade com os princípios, sem que as regras devam preponderar por apresentarem, supostamente, fundamentos definitivos. Tal primazia faz que, tanto na colisão de princípios quanto no conflito de regras, seja sempre um princípio, e não uma regra, que deverá ser erigido como preponderante para aquela situação concreta, e arremata dizendo que “jamais haverá um conflito de regras que não se resolva à luz dos princípios”. Dessarte, hoje nos parecem completamente inaceitáveis e ultrapassadas as posições que sustentam que os princípios gerais adquirem força normativa na falta de disposição legal, direta ou indireta, e que por isso o juiz não poderá aplicá-los se isso “contravir a uma disposição certa de lei” (Vicente Ráo, O Direito e a Vida dos Direitos, pp. 274-275). Na verdade, é a lei que não poderá ser aplicada quando violar algum dos princípios fundamentais. 334 valores fundamentais eleitos pelo texto constitucional, tais como a dignidade humana, a solidariedade social, a isonomia, a liberdade, etc323. Nesse sentido, referindo-se especificamente à questão dessa possibilidade de afastamento da norma legal que se apresente em choque com o princípio da boa-fé, são claras e taxativas as palavras de Karl Larenz324, para quem “Pero se pregunta si el § 242 [do Código Civil alemão] es solamente uma norma, que como otros preceptos jurídicos coactivos rige tambiém, como éstos, junto a todas las demás normas (dispositivas o coactivas) y tiene el mismo ámbito de aplicación, o si representa un ‘princípio supremo’ del Derecho de las relaciones obligatorias, de forma que todas las demás normas han de medirse por él y en cuanto se le opongan han de ser en princípio pospuestas. La jurisprudencia se ha decidido, hace ya mucho tiempo, por la segunda posición y conforme a este criterio no es raro que limite la aplicabilidad de otros preceptos legales cuando ello pueda conducir de algún modo a un resultado injustificado según la buena fe”. Na verdade, contudo, esse sacrifício da segurança jurídica é tãosomente aparente, pois não se pode confundir esse valor “segurança” com o cumprimento literal da norma legal, sem levar em conta a questão dos valores envolvidos e uma possível injustiça manifesta como o resultado a ser obtido. Segurança jurídica não é sinônimo de fossilização e de cumprimento estrito e impensado da norma legal 325. Na realidade, portanto, o que de fato está ocorrendo, quando se dá prevalência à boa-fé sobre a aplicação de um texto legal literal e expresso, é que se está buscando a realização da justiça do caso concreto, e ao serem sopesadas as circunstâncias e as características desse caso concreto, 323 Maria Celina Bodin de Moraes, Danos à Pessoa Humana – Uma Leitura Civil-Constitucional dos Danos Morais, pp. 67-68. 324 Karl Larenz, Derecho de obligaciones, v. I, pp. 145-146. Aliás, o próprio título dado pelo ilustre jurista alemão ao item onde trata desse tema já se mostra bastante esclarecedor: “La buena fe como principio fundamental de la relación obligatoria” (p. 142). 325 Delia Matilde Ferreira Rubio, La Buena Fe: el principio general em el derecho civil, p. 166. 335 interpretando-se sistematicamente (não nos esqueçamos que a boa-fé também é uma norma que integra esse mesmo sistema) o texto legal, achou-se por bem afastar sua aplicação na hipótese em exame. Essa questão da interpretação sistemática será retomada mais à frente, de modo minucioso (veja-se, adiante, o item 2.3.3). Assim, repete-se, não se trata de elevar o valor segurança jurídica a um patamar tão elevado que possa se tornar inatingível pelos outros valores também envolvidos. No entanto, é certo que a segurança jurídica não poderá ser afastada de modo imotivado. Havendo justificativa para o seu sacrifício (aparente, como vimos), o mesmo deverá ser feito sem maiores hesitações. Não existindo tal justificativa, no entanto, é certo que se deverá atender ao valor em questão. No caso em exame, se a própria lei já expusesse solução satisfatória para o caso a ser decidido pelo juiz, não faria sentido admitir-se que este pudesse criar soluções outras, sob pena de desnecessário sacrifício da tão comentada segurança jurídica. Desse modo, embora seja certo que ao juiz não se pode negar um espaço onde possa atuar com liberdade, por outro lado esse espaço não pode fugir daquele que é delimitado pela própria lei, e nos casos onde a lei já dispôs sobre a solução a ser adotada, não poderá o juiz ignorar o texto legal para a construção de soluções outras. O que se vê, portanto, é que embora o descumprimento contratual possa ser juridicamente classificado como hipótese de venire contra factum proprium, na prática isso de pouco ou nada servirá, eis que se trata de hipótese de venire onde a solução já foi previamente fixada pelo legislador, não se deixando margem para a construção judicial. c.1) a expectativa sem que tenha havido vinculação. 336 Questão secundária, mas de grande relevância, que deve ser agora examinada, é a seguinte: dissemos, logo acima, que o primeiro comportamento não pode ter causado uma vinculação tal que o segundo se constitua, tão-somente, em um descumprimento de obrigação anteriormente assumida. A questão que se coloca, então, é a de perquirir como é possível que um dos sujeitos, não tendo se vinculado ao cumprimento de qualquer obrigação, ainda assim possa frustrar a expectativa alheia. Em outras palavras, se não houve a vinculação, não seria de se admitir que, no exercício de sua autonomia da vontade, o segundo comportamento fosse livre, podendo ser adotado qualquer comportamento que não seja em si mesmo ilícito? Na realidade, o que de fato interessa é que tenha havido a frustração de uma expectativa, sendo que essa inexistência da vinculação pode decorrer de fatores diversificados, tanto em um contrato nulo quanto em um contrato válido. Tome-se a hipótese de um contrato que seja nulo em virtude da ocorrência de um vício formal, como por exemplo o fato de ter sido celebrado mediante escrito particular, quando a lei exigia a solenidade da escritura pública. Depois de celebrado e cumprido o contrato, vem um dos contratantes a argüir-lhe a nulidade, pleiteando a restituição das coisas ao seu status quo ante. De fato, isoladamente considerada a questão do desrespeito à exigência de escritura pública, a nulidade existe, por não ter sido respeitada a determinação legal quanto à forma, nos termos do art. 166, IV, do Código Civil. No entanto, na situação acima descrita, é evidente que esse contratante, ao requerer o desfazimento dos efeitos de um contrato que por ele mesmo havia sido livremente celebrado, sem que tenha havido qualquer 337 mácula na formação e na manifestação de sua vontade, estará incidindo em inadmissível venire contra factum proprium, por isso que esse segundo comportamento se mostra claramente inconciliável com o primeiro. Uma vez celebrado – e mesmo cumprido – o contrato, era razoável supor que cada um dos contratantes contasse com a manutenção da prestação recebido em virtude do mesmo, e por isso tais prestações deverão ser mantidas, apesar da nulidade contratual. E aqui já destacamos, em adiantado, que por efeito do venire contra factum proprium é possível que determinados dispositivos legais devam ser relidos ou reinterpretados, de modo a que não ocorram contradições no sistema jurídico como um todo. Trataremos do tema de modo mais minucioso, adiante, ao examinarmos as conseqüências jurídicas, em relação ao negócio, da identificação do comportamento que se constitui em venire contra factum proprium. Ainda em relação ao exemplo acima, é evidente que não pode ter havido dolo por parte do que foi vítima do comportamento contraditório. Assim, por exemplo, se os contratantes deliberadamente não cumpriram a formalidade exigida pela lei porque pretendiam furtar-se ao pagamento de um determinado tributo, por exemplo, é evidente que não poderá alegar que a contradição comportamental do outro frustrou sua a legítima expectativa, eis que ninguém será ouvido quando alegar em seu favor a própria torpeza. Suponha-se, em outro exemplo ligado ao vício de forma, que uma doação foi feita verbalmente, dizendo o doador ao donatário que estava lhe dando um presente (situação, como se vê, bastante corriqueira no quotidiano). Ocorre que esse presente não era um bem de pequeno valor ou não se lhe seguiu a imediata tradição. 338 Em qualquer desses casos, conforme texto legal expresso, a doação deve ser feita por escrito, mediante instrumento público ou particular, como se vê no artigo 541, do Código Civil. Ressalte-se, por óbvio, que no caso não existe qualquer dolo ou má-fé do donatário, uma vez que é bastante comum que as pessoas pensem que doações (“presentes”) podem ser feitas sem maiores formalidades, bastando as vontades de quem doa e de quem recebe. Algum tempo depois, contudo, já tendo havido a tradição e estando a coisa doada em poder do donatário, o doador ajuíza ação na qual pleiteia a declaração de nulidade do contrato, sob a alegação de vício de forma. De fato, como já comentamos acima, por não ter sido atendida a exigência legal quanto à forma a ser adotada, o contrato de doação, neste caso, mostra-se inválido. No caso em tela, no entanto, o comportamento do doador implica, de modo claro, em venire contra factum proprium, por isso que se mostra completamente inconciliável com sua primeira atitude, ao manifestar de modo inequívoco o seu animus donandi, ainda que não se tenha valido da formalidade imposta pela norma legal. Cabe, aqui, a lapidar afirmação de Pontes de Miranda326, segundo a qual “a ciência jurídica e a técnica jurídica legislativa foram descobrindo casos em que seria proveitoso amparar o que confiou, dando-se eficácia a negócios jurídicos, que não na teriam, sem novas regras jurídicas sobre a boa-fé”. Nos dois exemplos acima, embora tenha sido gerada a confiança do outro contratante, no sentido de que poderia aproveitar a prestação que lhe fora entregue, na realidade não havia uma vinculação do sujeito que veio a se comportar de modo contraditório, uma vez que o primeiro comportamento 326 Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, V. 1, pp. 192-193. 339 consistiu na celebração de um contrato nulo, e este, como se sabe, não deve vincular o contratante. Além das situações acima, nas quais é inválido o negócio jurídico que foi celebrado com o primeiro dos comportamentos contraditórios, e por isso não houve vinculação, também é possível que esta não se verifique ainda mesmo que se trate de negócio jurídico válido. Seria o caso, por exemplo de uma pessoa que prometesse a outra que faria uma doação em favor desta última. Posteriormente, no entanto, o contrato de doação não vem a ser celebrado. Neste caso, opinam os doutrinadores327 que o “promitente donatário” não pode exigir o cumprimento da promessa, uma vez que a doação exige que ainda esteja presente, no momento de celebrar o contrato, o animus donandi. No entanto, embora não seja exigível o cumprimento da doação prometida, facilmente se constata que o segundo dos comportamentos mostrou-se contraditório com o primeiro, e veio a frustrar a expectativa do outro sujeito, no sentido de receber a liberalidade prometida. Logo, esse descumprimento da promessa implica em venire contra factum proprium, e poderá dar origem ao pleito de perdas e danos, por iniciativa do “promitente donatário” frustrado. Na realidade, não se pode deixar de observar que essa situação acima descrita foi expressamente enfocada pelo nosso atual Código Civil. De fato, ao tratar dos contratos preliminares, dispôs o Código, em seu artigo 464, que o interessado poderá requerer ao juiz que supra a vontade da parte inadimplente, que deixou de cumprir a promessa objeto do contrato 327 Por todos, Caio Mário da Silva Pereira, Instituições de Direito Civil, v. III, p. 178, que ensina que “se o promitente-doador recusasse a prestação, o promitente-donatário teria ação para exigi-la, e, então, ter-seia uma doação coativa, doação por determinação da Justiça, liberalidade por imposição do juiz e ao arrepio da vontade do doador... nada disto se coaduna com a essência da doação”. Mas a questão desperta alguma polêmica, entre os doutrinadores, como aponta o ilustre jurista mineiro, na mesma obra e local. 340 preliminar, salvo se a isto se opuser a natureza da obrigação, caso em que a solução se dará em perdas e danos (art. 465). É precisamente esse o caso da promessa de doação, ou seja, a natureza da obrigação impede que lhe seja exigida a execução em espécie, e por isso se transmuda em perdas e danos, que em última análise estarão sendo referentes à frustração da expectativa gerada. Situação que se tem repetido com freqüência, na prática, e que já comentamos brevemente, linhas atrás (veja-se o item 1.7, na primeira parte deste estudo), é aquela onde a Administração Pública contrata trabalhador sem que tenha havido a aprovação prévia do mesmo em concurso público. Posteriormente, ao dispensar esse mesmo trabalhador, a própria Administração Pública sustenta que a contratação do mesmo foi irregular, e por isso não poderá gerar os efeitos normais de um contrato de trabalho. Como se vê, há um claríssimo comportamento contraditório, adotado pela Administração Pública, em relação à sua primeira atuação, que consistiu na contração em si mesma. E não é demais recordar, como já vimos em minúcias, supra, que também à Administração Pública, nas suas relações com os administrados, se impõe a observância da boa-fé objetiva, como regra de conduta, sendo-lhe proibido o venire contra factum proprium. E convém recordar, também, que em virtude do princípio da impessoalidade, que se encontra insculpido no artigo 37, da Constituição Federal, pouco importa que tenha mudado a pessoa do administrador, para a caracterização do venire, pois os comportamentos contraditórios são da Administração Pública, e não do administrador público que lhes dá concreção. A observação é feita porque temos visto, no exercício diário das atividades jurisdicionais, a alegação do administrador de que teria sido o seu 341 antecessor, e não ele, o responsável pela contratação irregular. Na realidade, em relação ao trabalhador, quem responderá será a Administração Pública que o contratou, e não a pessoa mesma do administrador. Logo, foi a Administração Pública (e não o administrador) quem contratou de modo irregular, e é essa mesma Administração Pública que agora, ao dispensar esse mesmo trabalhador, pretende escapar dos efeitos jurídicos do contrato sob a alegação de que o mesmo foi nulo. Caracterizada, portanto, a seqüência de comportamentos contraditórios, adotados pela mesma pessoa (de direito público). Prosseguindo, veja-se que o contrato celebrado nessas condições acima mencionadas, vale dizer, sem que tenha sido aprovado em concurso público o servidor contratado, de fato é nulo de pleno direito, pois assim o diz, de modo expresso, o artigo 37, § 2°, da Constituição Federal. No entanto, quem deu causa a essa nulidade foi a própria Administração Pública, pois é para ela, Administração, e não para o trabalhador, que se dirige a norma insculpida no artigo 37, II, da Lex Mater, que exige a aprovação em certame público, salvo para os cargos em comissão que tenham sido declarados em lei como sendo de livre nomeação e exoneração. Logo, quando a própria Administração Pública, depois de ter violado a norma que restringia as contratações, e com isso dado causa à nulidade absoluta do contrato, por vício formal (a não obediência à formalidade do concurso público), vem, em um momento posterior, a pleitear o reconhecimento da nulidade, com a conseqüente ausência de efeitos jurídicos em favor do contratado, tem-se aí um caso muito claro de venire contra factum proprium328. O Tribunal Superior do Trabalho, embora tenha 328 Na realidade, essa situação se encontra em uma zona limítrofe entre o venire contra factum proprium e o tu quoque. O problema é que a grande diferença entre ambos se dá pelo enfoque principal: enquanto no 342 repelido a pretensão de que de tal ato não poderia produzir efeitos (Súmula 363), fê-lo de modo tímido, que se tem mostrado claramente insuficiente para desestimular o primeiro dos comportamentos, ou seja, a contratação irregular, sem o concurso público prévio 329. venire o objetivo principal é a tutela da confiança do outro sujeito, ou seja, o objetivo primordial é a proteção à boa-fé desse sujeito, no tu quoque, como veremos adiante (item 2.4), o escopo principal é a repressão à máfé, e não a proteçao à confiança. Nesse caso da contratação sem concurso, pela administração pública, a experiência quotidiana tem mostrado que, no mais das vezes, surge no contratado a esperança de que será mantida sua vinculação com o serviço público, pelo simples fato de que o contratado, em geral pessoa de pouca qualificação e nenhum estudo, acredita que se o ato de sua contratação foi praticado pelo administrador público, então o mesmo é lícito e válido. E essa confiança, ao ser protegida mediante o reconhecimento de efeitos jurídicos do contrato nulo, se apresenta como hipótese de venire. Por outro lado, no entanto, vê-se claramente a presença, também, da má -fé da administração pública, que na hora de contratar simplesmente ignora a clareza do texto constitucional, que proíbe a contratação sem concurso público, e futuramente, ao dispensar o trabalhador, adota posição jurídica diametralmente diversa, ou seja, invocando em seu favor a norma que ela mesma, administração, descumpriu, e essas características permitem identificar a figura do tu quoque. 329 O Tribunal de Justiça de Minas Gerais aprovou Acórdão do qual constam as três coisas mencionadas no texto (Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 5ª Câmara Cível, Ac. unânime. Apelação Cível nº 000.261.310-7/00. Rel. Desembargadora Maria Elza. Data do Acórdão: 16.05.2002. Publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 02.08.2002): a) a atuação da Administração se constitui em venire contra factum proprium; b) embora nula a contratação, serão produzidos diversos efeitos desse contrato nulo, e não apenas o pagamento dos salários; c) a Súmula 363, do TST, é inconsistente, por reconhecer que a inadmissível atuação contraditória da Administração Pública teria força para afastar a produção dos efeitos jurídicos. Face à clareza e didatismo da referida decisão, pede-se venia para a transcrição de longo trecho da mesma: “ Se a nulidade é bastante clara, o mesmo não se pode dizer em relação à amplitude de seus efeitos, que é objeto de divergência jurisprudencial. O Tribunal Superior do Trabalho tem jurisprudência firme no sentido de que a decretação da nulidade tem efeitos retroativos, razão pela qual o servidor contratado com ofensa à Constituição teria direito apenas a salário, excluídas todas as demais parcelas remuneratórias. Tal entendimento, utilizado como base pelo magistrado a quo, foi consolidado no enunciado 363 da Súmula do Tribunal e no item 85 da Orientação Jurisprudencial de sua Subseção I de Dissídios Individuais, que dizem, respectivamente, o seguinte: "363. Contrato nulo. Efeitos A contratação de servidor público, após a Constituição de 1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no seu art. 37, II, e § 2º, somente conferindo-lhe direito ao pagamento dos dias efetivamente trabalhados segundo a contraprestação pactuada." "85 - Contrato nulo. Efeitos. Devido apenas o equivalente aos salários dos dias trabalhados. A contratação de servidor público, após a CF/88, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no art. 37, II, da CF/88, sendo nula de pleno direito, não gerando nenhum efeito trabalhista, salvo quanto ao pagamento do equivalente aos salários dos dias efetivamente trabalhados." No entanto, em duas oportunidades, o Superior Tribunal de Justiça, por sua Primeira Turma, se pronunciou em sentido frontalmente contrário. A primeira foi no Recurso Especial 284.250/GO (DJU 12-11-2001, p. 128), relator o Ministro Humberto Gomes de Barros, e a segunda foi no Recurso Especial 326.676/GO (DJU 04-03- 2002, p. 196), relator o Ministro José Delgado, este último assim ementado, no que interessa: 343 "1. A declaração de nulidade de contrato de trabalho, por inobservância do art. 37, II, da CF/88 (ausência de concurso público), gera efeitos ex nunc, resultando para o empregado o direito ao recebimento dos salários e dos valores existentes nas contas vinculadas ao FGTS em seu nome. 2. O empregado não concorre diretamente para a prática de ato ilícito cometido pelo empregador, quando o contrata sem concurso público, afrontando o art. 37, II, da CF. 3. Aplicação do princípio da boa-fé e da primazia da realidade." A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é mais consistente, por ser mais adequada à concretização do princípio constitucional da moralidade administrativa (art. 37, caput, da Constituição). A doutrina e a jurisprudência mais recentes vêm entendendo o princípio da moralidade administrativa como veiculador do dever de boa-fé para a Administração Pública. É neste sentido o posicionamento doutrinário de Celso Antônio Bandeira de Mello, ao discorrer sobre o citado princípio: "Compreendem-se em seu âmbito, como é evidente, os chamados princípios da lealdade e boa-fé". (Curso de Direito Administrativo. 12ª ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 89) Também é este o posicionamento de José Guilherme Giacomuzzi, autor de preciosa monografia sobre o tema: "A boa-fé objetiva terá, na tentativa de encontrar o conteúdo dogmá tico do princípio da moralidade (art. 37 da CF de 1988), a maior relevância. É ela, em suma, que preencherá o espaço objetivo - do princípio, o qual tem por função veiculá -la." (A moralidade administrativa e a boa-fé da Administração Pública. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 226-227). O Superior Tribunal de Justiça já aceitou a aplicação da boa-fé no Direito Público, como conseqüência da consagração constitucional do princípio da moralidade administrativa. É o que se vê no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança 6.183/MG (DJU 18-12-1995, p. 44.573; LEXSTJ 82/90), por sua Quarta Turma, relator o Ministro Ruy Rosado de Aguiar, que, em seu voto condutor do acórdão, pontuou o seguinte: "No direito civil, desde os estudos de Jhering, admite-se que do comportamento adotado pela parte, antes de celebrado o contrato, pode decorrer efeito obrigacional, gerando a responsabilidade précontratual. O princípio geral da boa-fé veio a realçar e deu suporte jurídico a esse entendimento, pois as relações humanas devem pautar- se pelo respeito à lealdade. O que vale para a autonomia privada vale ainda mais para a Administração Pública e para a direção das empresas cujo capital é predominantemente público, nas suas relações com o cidadão. É inconcebível que um Estado Democrático, que aspire a realizar a justiça, esteja fundado no princípio de que o compromisso público assumido pelos seus governantes não tem valor, não tem significado, não tem eficácia. Especialmente quando a Constituição da República consagra o princípio da moralidade administrativa". É contrário à boa-fé permitir que a Administração municipal se aproveite de uma ilegalidade por ela mesma cometida. É ínsito à boa-fé e à moralidade administrativa proibir o venire contra factum proprium, ou seja, proibir que quem deu causa, por ato próprio, a uma ilicitude, dela se aproveite. Neste sentido são os posicionamentos doutrinários de José Guilherme Giacomuzzi (Ob. cit., p. 275) e Egon Bockmann Moreira, este último no seguinte trecho: "Do princípio da boa-fé objetiva deriva, quando menos, o seguinte: (...) b) proibição do venire contra factum proprium (conduta contraditória, dissonante do anteriormente assumido, ao qual se havia adaptado a outra parte e que tinha gerado legítimas expectativas)". (Processo administrativo. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 91). Sobre tal proibição, explica Arruda Alvim: "O que se diz a esse respeito é que ‘o exercício de um direito constitui inadmissível abuso de direito, quando o exercício atual do direito não é conciliável com a conduta anterior do autor’. Na jurisprudência espanhola anotam-se os seguintes entendimentos: a) ‘é jurisprudência estabelecida por este Supremo Tribunal que aquele que reconheceu a validade de um ato não pode sucessivamente invocar contra os seus próprios atos’; b) similarmente, o autor espanhol diz que ‘cada um é livre para determinar-se e atuar livremente em qualquer direção, mas, uma vez realizado o ato, a pessoa não pode subtrair das conseqüências do ato, que são para ela como que vinculantes’". (Juiz Federal. Lista Tríplice. Alegada Inobservância do art. 93, II, da Constituição Federal. Revista de Direito 344 Com efeito, o Tribunal Superior do Trabalho, em um primeiro momento, aprovou a Súmula 363, prevendo que em favor do servidor contratado sem concurso apenas seria devido o salário dos dias efetivamente Constitucional e Internacional. Ano 9, nº 36. São Paulo, Revista dos Tribunais, julho-setembro de 2001, p. 291) Portanto, se o Município réu contratou os autores, pagando-lhes, além do salário, outras parcelas remuneratórias previstas em lei, gerou nos mesmos legítimas expectativas que não devem ser frustradas. Não pode o Município, de uma hora para outra, deixar de reconhecer os efeitos pretéritos de atos por ele praticados, aproveitando-se da situação e violando o princípio da moralidade administrativa. Tal entendimento já foi acolhido pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 184.487/SP (DJU 03-05-1999, p. 153; RSTJ 120/386), por sua Quarta Turma, relator o Ministro Ruy Rosado de Aguiar, assim ementado, no que interessa: "A teoria dos atos próprios impede que a administração pública retorne sobre os próprios passos, prejudicando os terceiros que confiaram na regularidade do seu procedimento." Em seu voto condutor do acórdão explicou o Ministro Ruy Rosado de Aguiar, citando entendimentos doutrinários, inclusive o de Celso Antônio Bandeira de Mello: "Sabe-se que o princípio da boa-fé deve ser atendido também pela administração pública, e até com mais razão por ela, e o seu comportamento nas relações com os cidadãos pode ser controlado pela teoria dos atos próprios, que não lhe permite voltar sobre os próprios passos, depois de estabelecer situações em cuja seriedade os cidadãos confiaram. ‘A salvaguarda da boa-fé e a manutenção da confiança formam a base de todo o tráfego jurídico e em particular de toda a vinculação jurídica individual. Por isso, não se pode limitá-las às relações obrigacionais, mas aplicá-lo sempre que exista qualquer vinculação jurídica, ou seja, tanto no Direito Privado, como no Direito Público’ (Karl Larenz, Derecho de Obligaciones, I/144. Insistindo nesse ponto de vista, Jesus Gonzales Peres, no seu ‘El principio general de la buena fe em el Derecho Administrativo’, observa que todas as pessoas, inclusive as de Direito Público, devem pactuar sua conduta de acordo com o princípio da lealdade, sendo improcedente a pretensão dirigida à anulação por defeitos formais do ato praticado por quem aceitar o cumprimento da outra parte (pág 82). Isso porque, como ensinava o mestre Clóvis do Couto e Silva, o primeiro no Brasil a acentuar a importância do tema e divulgá-lo em seus escritos, a boa-fé objetiva é o princípio orientador do ordenamento jurídico. (...) No caso dos autos, o Município criou todas as condições para que o negócio se realizasse assim como se realizou, não sendo conforme à boa-fé alegar defeito no parcelamento que ele mesmo implantou, frustrando a expectativa daqueles que confiaram na regularidade do ato da autoridade pública. ‘Se o ato nulo ou anulável produziu relação jurídica da qual resultaram prestações do administrado (pense-se em certos casos de permissão de uso de bem público ou de prestação de serviço público) e o administrado não concorreu para o vício do ato, estando de boa-fé, a invalidação do ato não pode resultar em locupletamento da Administração à custa do administrado e causar-lhe um dano injusto em relação a danos patrimoniais passados. (...) Com efeito, se o ato administrativo era inválido, isto significa que a Administração ao praticá-lo feriu a ordem jurídica. Assim, ao invalidar o ato estará, ipso facto, proclamando que fora autora de uma violação da ordem jurídica. Seria iníquo que o agente violador do Direito, confessando-se tal, se livrasse de quaisquer ônus que decorreriam do ato e lançasse sobre as costas alheias todas as conseqüências patrimoniais gravosas que daí decorreriam, locupletando-se, ainda, à custa de quem, não tendo concorrido para o vício, haja procedido de boa-fé. Acresce que, notoriamente, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade. Donde, quem atuou arrimado neles, salvo se estava de má-fé (vício que se pode provar, mas não pressupor liminarmente), tem o direito de esperar que tais atos se revistam de um mínimo de seriedade. Este mínimo consistente em não serem causas potenciais de fraude ao patrimônio de quem neles confiou, como, de resto, teria de confiar.’ (Celso Antônio, Boletim de Licitações e Contratos, Ano XI, nº 4, Abril/1998)." 345 trabalhados, e nada mais: férias, 13° salário, anotação da Carteira de Trabalho e Previdência Social, FGTS, etc., nada disso seria devido a esse trabalhador. Posteriormente, com a inclusão do artigo 19-A330, na Lei 8.036, de 11.05.1990 (dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS), foi que o TST passou a admitir que, além dos salários, também seria devido o FGTS sobre o mesmo331. De qualquer forma, como se vê, embora essa admissão dos efeitos do ato nulo já seja uma forma de combater a contradição entre os comportamentos da Administração Pública, é muito tímida, pois há inúmeros outros efeitos que também deveriam ser admitidos, e que deixamos de abordar, no presente estudo, por fugirem ao estreito âmbito de abrangência do mesmo. Vimos, acima, a hipótese de ser nula a contratação, por infringência ao dispositivo constitucional (art. 37, II e § 2°) que exige a prévia aprovação em concurso público, para que haja a contratação pela Administração Pública. Vimos, ainda, que quando a Administração, posteriormente, tenta escapar dos efeitos jurídicos da contratação irregular, alegando a nulidade a que ela mesma deu causa, tem-se aí hipótese de venire contra factum proprium, que também à Administração se proíbe, sendo que, por isso, alguns dos efeitos do contrato de trabalho serão produzidos, ainda que tal contrato seja nulo, devendo ser pagos ao trabalhador os salários dos dias efetivamente trabalhados e o FGTS incidente sobre tais salários. Outra situação que também pode ser relacionada a essa primeira, é a do empregador que contrata, como empregado, menor de 16 anos, sem que o seja na qualidade de aprendiz. Lembremos, inicialmente, que o art. 7°, XXXIII, da Constituição Federal, proíbe qualquer trabalho ao menor de 330 A inclusão do referido artigo foi feita pela Medida Provisória 2.164-1, de 24.08.2001. A Súmula 363 foi alterada, passando a prever também o cabimento do FGTS, pela Resolução 121/2003, publicada no Diário de Justiça de 21.11.2003. 331 346 dezesseis (16) anos, salvo na qualidade de menor aprendiz, a partir dos quatorze (14) anos de idade. Logo, se for contratado o menor de 16 anos, por empregador, tal contrato será nulo de pleno direito, por ter sido descumprida a idade mínima fixada para a contratação válida de empregado, mas essa nulidade não poderá ser argüida pelo próprio empregador que lhe deu causa, sob pena de se configurar o venire contra factum proprium. Assim, suponha-se que o empregador tenha celebrado essa contratação ilegal, ou seja, tenha contratado empregado que ainda não completou a idade mínima de dezesseis anos. Posteriormente, ao dispensar esse empregado, pretende o empregador, alegando em seu próprio favor a nulidade da contratação, que desse contrato não decorra qualquer efeito jurídico, uma vez que o mesmo encontra-se fulminado pela nulidade absoluta. Ora, é evidente que essa pretensão do empregador irá configurar a atuação contraditória, o venire contra factum proprium, uma vez que estará alegando a nulidade a que ele mesmo, empregador, deu causa. E, nessa hipótese, serão gerados não apenas alguns dos efeitos jurídicos do contrato de trabalho, mas todos os efeitos de um contrato válido, tais como o aviso prévio, as férias, o 13° salário, o FGTS com a multa de 40%, etc. Mas qual seria o motivo dessa solução assim tão diferenciada, ou seja, embora nas duas hipóteses se configure, sem qualquer dúvida, o venire, na primeira delas (contratação sem concurso) apenas são produzidos uns poucos efeitos (pagamento dos salários e do FGTS), enquanto na segunda (contratação de menor de 16 anos) todos os efeitos normais de um contrato válido serão produzidos? A diferença, na realidade, decorre do fato de que, no primeiro caso, há patrimônio público em jogo, ou seja, o pagamento das parcelas trabalhistas seria feito pela Fazenda Pública, o que em última análise significa que a conta seria paga por toda a sociedade, enquanto que no 347 segundo caso a conta será paga, exclusivamente, pelo empregador que contratou de modo irregular. Assim, na primeira hipótese, de um lado se encontra a proteção ao trabalho humano, e do outro se encontra a proteção ao patrimônio público, que diz respeito a toda a sociedade, e o Tribunal Superior do Trabalho entendeu que, no confronto entre ambos, este último é que deveria receber a maior proteção, apenas sendo devidos os salários e o FGTS para evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública. Na segunda hipótese, contudo, de um lado encontra-se a proteção ao trabalho humano (e, por que não, a proteção ao menor), e do outro se encontra o interesse particular de um indivíduo, que é o empregador, sendo óbvio que a prevalência deverá ser da proteção ao trabalho humano332. De tudo o que foi dito no presente subitem, destacamos o fato de que a inocorrência da vinculação em nada depende de ter sido válido ou inválido o negócio jurídico formado a partir do primeiro dos dois comportamentos do sujeito que serão cotejados, por isso que o venire contra factum proprium poderá surgir tanto numa quanto noutra hipótese, vale dizer, tenha sido válido ou inválido tal negócio. Além disso, como veremos em maiores detalhes, mais à frente, cumpre também realçar que os efeitos do reconhecimento do venire podem variar, em cada caso concreto, conforme os demais interesses que se encontrem envolvidos em cada situação concreta. d) comportamentos podem implicar em uma ação ou em uma omissão. 332 Apenas estamos apontando as razões que têm levado o Tribunal Superior do Trabalho a decidir de modo tão diferente, em dois casos de nulidade, sendo que em ambos se caracteriza o venire contra factum proprium, o que não significa, em absoluto, que concordemos com a solução adotada pelo TST. Muito pelo contrário, em relação ao trabalhador contratado sem concurso parece-nos que errou fragorosamente a Corte Superior Trabalhista, assistindo total razão ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, como vimos retro, nas duras críticas tecidas à Súmula 363. 348 Prosseguindo-se na análise desses comportamentos, pode-se em seguida mencionar que cada um deles poderá se constituir em uma ação ou em uma omissão, sendo tal fato absolutamente irrelevante, eis que a contradição não depende especificamente de um comportamento ativo ou passivo para surgir. Aliás, bastante comum, na prática, é que o primeiro comportamento, embora sem conter uma vinculação, transmita indícios claros de que o sujeito irá cumprir um não fazer, ou seja, irá tolerar uma certa situação, a qual não estaria normalmente obrigado a tolerar, ou irá se abster de praticar um determinado ato que, em regra, poderia praticar sem qualquer obstáculo. Só que, posteriormente, vem a atacar a situação que deveria tolerar ou a praticar o ato de que se deveria abster. O primeiro comportamento deu origem ao que se costuma chamar de renúncia tácita, ou seja, causou no outro sujeito a nítida impressão de que o omisso havia renunciado à prática do ato. Ou, ao contrário, o primeiro comportamento, ainda que não vincule o sujeito, transmite a clara idéia de que o mesmo adotará um determinado comportamento positivo, gerando no outro a expectativa de que um ato específico será praticado, sendo que isso não ocorre. O Direito do Trabalho se mostra campo fértil para todos esses tipos de situações acima mencionadas, e nesse campo trabalhista é que iremos buscar alguns exemplos, que nos ajudarão a obter uma melhor compreensão do tema. Suponha-se que em uma determinada organização empresarial, ficou vago um certo cargo, para o qual se mostram indispensáveis a participação em um treinamento específico, que é realizado fora do horário de trabalho, e a disponibilidade de condução própria. Nessas condições, o 349 empregador designa um de seus empregados para participar desse treinamento, sem que lhe tenha, contudo, prometido nomeá-lo para a vaga. O empregado, para quem a nomeação significaria uma ascensão funcional, inclusive com melhoria do patamar remuneratório, adquire uma motocicleta, para pagar em prestações, por saber da indispensabilidade de uma condução própria. O empregado conclui com êxito o treinamento, mas apesar disso o empregador não o nomeia, sem apresentar qualquer justificativa para isso. Ora, é certo que o empregador não estava obrigado à nomeação do empregado, eis que a nada se comprometera, assim como também é certo que pode nomear quem bem entender para a vaga. No entanto, ao designar aquele empregado específico para participar do treinamento, deu indícios claros de que tinha a intenção de nomeá-lo para a vaga que estava aberta. Esse empregado, portanto, ficou na legítima expectativa de que poderia ser nomeado, caso obtivesse sucesso no treinamento, e em virtude disso não apenas investiu seu dinheiro, na compra de um veículo próprio de transporte, mas além disso investiu seu tempo disponível, para poder habilitar-se à vaga. Ao exercer o seu poder de nomear outro trabalhador para o cargo, portanto, o empregador agiu de modo contraditório, ou seja, primeiro deu sinais claros de que iria praticar um determinado ato (nomear aquele empregado para o cargo), mas depois comportou-se de modo contrário ao que se poderia esperar, a partir da análise de seu comportamento anterior (ou seja, deixou de praticar o ato sobre cuja prática dera indícios). Tem-se aí um caso claro de venire contra factum proprium, cuja conseqüência, provavelmente, seria a condenação do empregador a indenizar os danos causados ao empregado, já que, em princípio, não caberia ao juiz interferir na organização empresarial e determinar que o empregado em questão é que passasse a ocupar o cargo disputado. 350 Mostramos, acima, exemplo onde o primeiro comportamento transmitiu a idéia de que um determinado ato seria praticado, sendo no entanto que o segundo comportamento consistiu precisamente na abstenção desse ato que se supunha seria praticado. Vejamos, agora, a hipótese inversa, ou seja, hipótese na qual o sujeito dá sinais de que não praticará um determinado ato ou que irá tolerar uma certa situação, mas em seguida vem a praticá-lo ou a atacar essa mesma situação. Suponha-se, novamente na esfera das relações de trabalho, que um empregado, tendo recebido proposta de melhor emprego, resolveu pedir dispensa, dando imediatamente aviso prévio ao empregador. Este, no entanto, sabendo que se trata de um bom empregado, produtivo, dedicado, honesto e leal, decide tentar mantê-lo na empresa e, para tanto, oferece-lhe um aumento salarial, de modo a igualar a proposta feita pela outra empresa. O empregado, diante da proposta, decide aceitá-la, rejeitando por isso a outra proposta de emprego que recebera. Poucos meses depois, contudo, o empregador vem a dispensá-lo. Ora, se por um lado não se pode negar que é direito potestativo do empregador dispensar o empregado, desde que lhe pague todas as parcelas rescisórias, por outro, não se pode deixar de constatar que, no caso, o primeiro comportamento do empregador, tentando convencer seu empregado a não deixar a empresa, inclusive apresentando proposta de majoração salarial, como forte argumento para o convencimento do trabalhador, transmitiu ao obreiro sinais claros de que a intenção do empregador era a de se abster da prática desse ato, ou seja, de não exercer esse direito potestativo de dispensálo. Nessas condições, quando o empregador praticou o segundo ato, agiu em clara contradição com o seu comportamento anterior, uma vez que 351 praticou ato em relação ao qual fizera surgir no outro sujeito a justa expectativa de que se absteria, ou seja, exerceu direito em relação ao qual havia manifestado sua intenção, ainda que de forma indiciária, no sentido de que não pretendia exercê-lo. Ao fazê-lo, esse comportamento contraditório esvaziou a expectativa legitimamente criada pelo empregado, e por isso tem-se, aí, mais uma vez, hipótese cristalina de venire contra factum proprium, cuja conseqüência poderia ser a indenização a ser paga ao empregado, em virtude da expectativa frustrada e levando ainda em conta o emprego ao qual renunciou, ou mesmo, conforme a situação, a determinação de reintegração do empregado ao emprego, com a manutenção no mesmo por um período razoável, a critério do juiz, para compensar o outro emprego dispensado. Mas deve-se observar que o empregador, para que se configure o venire, não prometeu ao empregado que o manteria no emprego, mas apenas deu indícios de que isso ocorreria. É que, caso tivesse havido a efetiva promessa de que o empregado não seria dispensado, aí se trataria de estabilidade no emprego, provisória ou definitiva, com direito à reintegração sem maiores considerações sobre a expectativa frustrada ou sobre a contradição entre os dois comportamentos. Em um caso concreto, no qual tivemos a chance de orientar um dos envolvidos, um técnico em manutenção de computadores era titular de uma microempresa, cuja atividade-fim consistia precisamente em prestar atendimento aos clientes quanto à manutenção de hardwares e softwares. A folha de clientes da empresa não era muito grande, e por essa razão o titular da mesma acabou aceitando uma proposta de emprego de uma empresa maior, para trabalhar como técnico de manutenção de computadores, mas agora na condição de empregado. 352 Ao ser admitido, contudo, o trabalhador informou ao empregador que tinha alguns clientes antigos, para os quais já prestava a manutenção há bastante tempo, e que tinha a intenção de continuar prestando tais serviços, independentemente de sua prestação de trabalho decorrente da relação de emprego, apenas tomando o cuidado de fazê-lo em suas horas de folga, após a jornada de trabalho ou nos finais-de-semana. O dono dessa empresa de maior porte, empregadora, comentou que, nessas condições, não haveria qualquer problema em que o empregado continuasse, paralelamente, prestando seus serviços de assistência técnica na qualidade de autônomo. Algum tempo depois, no entanto, o empregador determinou ao empregado que cessasse o atendimento à sua própria clientela, sob pena de caracterizar a falta grave denominada de concorrência desleal, prevista no art. 482, c, da Consolidação das Leis do Trabalho, e que consiste precisamente na negociação habitual, por conta própria, em concorrência com a empresa, ou seja, o empregado atua na mesma área de atuação de seu empregador, e com isso tem condições de captar a clientela que foi captada por seu empregador à custa de investimentos na divulgação do negócio. Em regra, nessa situação acima descrita, de fato o empregador poderia exigir que seu empregado cessasse a atuação em área que implica em concorrência direta com a da atividade empresarial, sob pena mesmo de restar caracterizada a falta grave do empregado, consistente na concorrência desleal. Nesse caso, no entanto, parece muito claro que essa exigência se constituiria em venire contra factum proprium, uma vez que o segundo comportamento se põe de modo oposto ao que se poderia esperar a partir do primeiro, frustrando a expectativa gerada para o empregado. Com efeito, percebe-se que o empregador, ao mencionar, no ato da admissão, que não se opunha a que o empregado pudesse conservar o 353 atendimento à sua própria clientela, ainda que se tratasse de atuação na própria área onde atuava a empresa empregadora, transmitiu indícios claros de que iria tolerar aquela situação, ainda que, nas hipóteses normais, não estivesse obrigado a tolerá-la. No entanto, em um segundo momento, resolveu não mais tolerar aquela concorrência que contra si desenvolvia o empregado, e ao fazêlo frustrou a expectativa que ele mesmo havia gerado no empregado com o seu comportamento anterior. Caso de venire, portanto, como se disse acima. De um modo geral, a doutrina333 e a jurisprudência 334 trabalhistas se valem da noção do venire – muito embora sem usar a expressão – em um caso de omissão ligado à justa causa para a dispensa do empregado. Trata-se da hipótese que em regra é denominada de “perdão tácito”, mas que nada mais é do que uma hipótese de venire contra factum proprium, onde o primeiro comportamento consistiu em uma omissão. Suponha-se que um empregado cometeu uma falta muito grave, que justificaria a imediata ruptura do contrato pelo empregador. Este, contudo, embora tenha tomado conhecimento do ato praticado pelo empregado, simplesmente deixa passar o tempo sem adotar qualquer medida punitiva. Nesse caso, não mais se admitirá que o empregador, decorrido longo tempo do momento em que teve ciência da prática do ato faltoso, venha a punir o empregado com a justa causa. A doutrina e a jurisprudência, como vimos acima, referem-se à ocorrência do “perdão tácito”, mas na verdade, é de fácil percepção que se trata de hipótese de venire. Com efeito, o primeiro comportamento do empregador foi a omissão, por isso que o mesmo se 333 334 Amauri Mascaro Nascimento, Curso de Direito do Trabalho, pp. 698-699. JUSTA CAUSA. PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA. A não observância ao princípio da imediatidade na aplicação da penalidade máxima, ante a ocorrência de falta reputada grave pelo empregador, atrai a presunção de perdão tácito. A questão não se caracteriza apenas pelo transcurso do tempo, mas também por qualquer medida adotada pelo empregador reveladora da inequívoca intenção de manter o empregado em seus quadros. TRT 2ª Região (SP), 4ª T., Acórdão n° 20050455057, unânime. Relator Juiz Paulo Augusto Câmara. J. 12.07.2005, p. DOE SP 22.07.2005. 354 absteve de adotar qualquer medida punitiva, continuando a manter o empregado em seu ambiente de trabalho. Logo, não poderá esse empregador, posteriormente, atuar de modo contraditório, dispensando o empregado por justa causa em virtude desse mesmo fato, em relação ao qual se omitira, uma vez que a partir dessa omissão foi criada no empregado a justa expectativa de que não seria dispensado por justa causa. Deve-se desde logo ressaltar, contudo, dois aspectos que mais à frente serão examinados de modo detalhado. O primeiro deles é que essa demora do empregador em punir, primeiro se omitindo de adotar qualquer punição e depois dispensando por justa causa, não pode ser justificada, pois, se o for, não se caracterizará o venire, e a dispensa por justa causa será válida (veja-se, adiante, o item 2.3.2.2). E o segundo é que essa demora injustificada, de fato, faz surgir no empregado a expectativa de que o mesmo não mais será dispensado por justa causa, pois transmite-lhe a impressão de que, apesar da falta, não houve a quebra da fidúcia que é inerente ao contrato de trabalho, e o surgimento dessa expectativa é essencial à caracterização do venire contra factum proprium (veja-se, à frente, o item 2.3.2.3). Na hipótese acima, vimos situação onde a contradição foi detectada no comportamento do empregador, que, após uma omissão, pretendeu uma atuação, sendo que esta era contraditória com aquela. Vejamos, agora, hipótese semelhante, mas sendo que o comportamento contraditório é do empregado, observando que se trata de questão enfrentada nos tribunais trabalhistas com enorme freqüência. A Constituição Federal assegurou à empregada gestante a proteção contra a dispensa imotivada, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, sendo que tal proteção é de natureza objetiva, como já comentamos linhas atrás (item 1.8), ou seja, protege-se a gravidez em si 355 mesma, e não o seu conhecimento por parte do empregador ou mesmo por parte da empregada. Dito de modo mais claro, a garantia ao emprego será mantida ainda que, no momento da dispensa da empregada, nem ela mesma soubesse que estava grávida, sendo irrelevante esse aspecto subjetivo. Nessas condições, é corriqueiro que uma empregada grávida venha a ser dispensada no momento em que o empregador (e, por vezes, a própria empregada) não sabia do estado gravídico. Descoberta a gravidez, a empregada pode requerer sua reintegração ao emprego, em sede administrativa ou, se necessário, mediante o ajuizamento de ação trabalhista. Por outro lado, sabe-se o prazo prescricional, em relação às pretensões do empregado que sejam resultantes das relações de trabalho, é de dois anos após o término do contrato, nos termos do artigo 7°, XXIX, da Constituição Federal. A empregada, então, deixa transcorrer in albis o período de gestação, até que seu filho venha a nascer, em nenhum momento informando ao seu antigo empregador que estava grávida, no momento da dispensa, e nem ajuizando a reclamatória trabalhista. Após o nascimento de seu filho, a empregada ainda aguarda mais uns cinco ou seis meses, e só aí ingressa com a ação trabalhista, deduzindo sua pretensão contra o seu antigo empregador. Importante observar que, transcorridos os nove meses da gestação e mais os cinco ou seis meses após o nascimento, ainda não houve a fluência integral do prazo prescricional, que é de dois anos. Ou seja, a pretensão deduzida pela empregada ainda não foi fulminada pela prescrição. Por outro lado, o período de garantia do emprego era de aproximadamente 14 meses (os nove meses da gestação e mais cinco meses após o parto), o que significa que tal período, no momento em que a ação foi ajuizada, já havia se esgotado. Logo, não faria mais sentido que a empregada 356 pleiteasse a sua reintegração ao emprego, pois esta não lhe é mais garantida, e dessa forma o pedido que vem a ser apresentado, invariavelmente, é o de pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas referentes aos 14 meses de garantia de emprego. Ocorre que a garantia constitucional não se refere ao pagamento dos salários referentes a um período não trabalhado, mas sim à permanência no emprego por um determinado período. Logo, se a empregada deixou transcorrer, sem qualquer providência, esse mesmo prazo, esse seu primeiro comportamento (a omissão, quanto às providências que poderia ter adotado) parece indicar que a mesma não tem qualquer interesse em retornar ao trabalho. Por isso, o segundo comportamento – o ajuizamento da ação – se mostra contraditório, pois foi deduzido pleito que é uma mera decorrência do direito de retornar ao trabalho, direito esse que foi inviabilizado pela inatividade de sua própria titular. Pode-se vislumbrar aí, portanto, a ocorrência do venire contra factum proprium335. 335 Convém observar, contudo, que não é essa a posição do Tribunal Superior do Trabalho, que em recentes decisões vem admitindo que o fato de já se ter esgotado o prazo de estabilidade, quando do ajuizamento da ação, não impede que se defira à empregada a indenização do período correspondente. Pensamos que está equivocada aquela Corte Superior Trabalhista, mas deixamos de enfrentar a polêmica, por não se constituir a mesma no foco do presente estudo, onde apenas se pretendeu apontar um possível caso de venire e, por questão de lealdade ao leitor, optou -se por noticiar que a posição contrária é a que predomina no Tribunal Superior do Trabalho. Assim, por exemplo, no Recurso de Revista RR - 75656/2003-900-02-00, publicado no DJ - 05/08/2005, 2ª Turma, Ac. unânime, Rel. Min. José Simpliciano Fontes de F. Fernandes, cuja ementa ficou assim redigida: FGTS. VERBA INDENIZATÓRIA. O empregador não pode se eximir de cumprir a obrigação de pagar o FGTS e multa, se único responsável pela dispensa indevida da Reclamante, pois detentora de estabilidade gestante, e devidos no caso de cumprimento do contrato de trabalho regularmente. Recurso não conhecido. ESTABILIDADE. DEMORA NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CONSEQÜÊNCIAS. A demora no ajuizamento da ação não importa renúncia de direito, pois devida a indenização no caso de o período estabilitário já ter se exaurido (Súmula 244, II, do TST). Recurso de Revista conhecido e não provido. E no voto desse mesmo Acórdão ficou anotado que: .................... 2 - ESTABILIDADE. DEMORA NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CONSEQÜÊNCIAS a) Conhecimento O Tribunal Regional analisou a questão no julgamento dos Embargos Declaratórios da Reclamada. Concluiu: “A reclamante propôs a ação dentro do biênio constitucional, em que é pleno o seu direito 357 Mas veja-se que estamos nos referindo à hipótese na qual o período de garantia de emprego se escoou diante de omissão absoluta da empregada, daí a contradição. É evidente que completamente diversa seria a situação se a empregada tivesse desde logo requerido a sua reintegração, em sede administrativa, mas não fosse atendida pelo empregador. Ou, então, a hipótese na qual a empregada tivesse ajuizado sua ação, que foi contestada pelo empregador, sendo que o trânsito em julgado da decisão que mandou reintegrá-la só veio a ocorrer após o transcurso integral do prazo de garantia do emprego. Em tais casos não haveria comportamento contraditório algum, mesmo porque nem ao menos houve qualquer omissão da empregada. Essa hipótese, na realidade, da empregada que deixa transcorrer in albis o período de sua estabilidade, para só depois apresentar reclamação, mais se aproxima da figura da suppressio, e por isso será explorada um pouco mais, quando nos debruçarmos sobre tal instituto. de ação. A alegação de que a propositura tardia da ação afastaria o direito à estabilidade é impertinente” (fl. 329). A Reclamada defende a tese de que o ajuizamento tardio da presente reclamação afasta a pretensão da Reclamante. Transcreve arestos para o cotejo de teses. Os arestos de fl. 337 autorizam o conhecimento do Recurso, pois trazem tese no sentido de que a demora no ajuizamento da ação importaria na renúncia da garantia do emprego. Conheço, por divergência jurisprudencial. b) Mérito O artigo 10, II, “b”, do ADCT assegura à gestante, estabilidade no emprego desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. A dispensa realizada em confronto com a referida norma, é nula, sendo necessária a reintegração da empregada no emprego ou, no caso de exaurido o período estabilitário, o pagamento dos salários correspondentes ao período. Esse o entendimento pacificado pelo Tribunal Superior do Trabalho, conforme dispõe a Súmula 244, II: “Gestante. Estabilidade provisória. (incorporadas as Orientações Jurisprudenciais nºs 88 e 196 da SDI-1) - Res. 129/2005 DJ 20.04.05 I - O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade. (art. 10, II, "b" do ADCT). (ex-OJ nº 88 - DJ 16.04.2004) II - A garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração se esta se der durante o período de estabilidade. Do contrário, a garantia restringe-se aos salários e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade. (ex-Súmula nº 244 - Res. 121/2003, DJ 21.11.2003) III Não há direito da empregada gestante à estabilidade provisória na hipótese de admissão mediante contrato de experiência, visto que a extinção da relação de emprego, em face do término do prazo, não constitui dispensa arbitrária ou sem justa causa. (ex-OJ nº 196 - Inserida em 08.11.2000)” Assim, o fato da reclamação ter sido ajuizada após o período estabilitário, não prejudica a Autora, pois devidos os salários e demais direitos relativos ao período estabilitário. 358 Há uma outra situação que é de grande importância no Direito do Trabalho, mas que também pode interessar ao campo do Direito Administrativo, e cuja freqüência com que se verifica na prática justifica que façamos, aqui, a sua minuciosa abordagem. Trata-se de situação que pode ser desdobrada em duas hipóteses, na primeira das quais o empregado é enviado, pelo empregador, para fazer um curso no exterior (ou mesmo dentro do Brasil), para aperfeiçoamento no serviço ou para que possa começar a operar com um equipamento específico, sendo esse treinamento de vários meses de duração, com todas as despesas pagas pela empresa e com a manutenção do pagamento normal do salário. Encerrado o curso, no entanto, pouco depois do empregado ter retornado ao seu trabalho normal, o mesmo vem a ser dispensado pelo empregador, sem que para isso tenha dado qualquer causa justificadora dessa brusca ruptura do contrato de trabalho. Qualquer das partes contratantes, em um contrato de trabalho por prazo indeterminado, empregado e empregador, como já mencionamos acima, tem o direito potestativo de romper esse mesmo contrato (salvo nas hipóteses de estabilidade, onde o empregador perde tal direito), bastando que avise previamente ao outro contratante. Neste caso específico, no entanto, o exercício de tal direito por parte do empregador se constitui em inadmissível quebra de coerência, que vem a frustrar expectativa legitimamente surgida, caracterizando-se portanto o venire. Com efeito, fácil é de se perceber que o empregador, ao enviar seu empregado para participar de um curso no exterior, fazendo alto investimento financeiro nesse aprimoramento do trabalhador, fez com que este último acreditasse que, no regresso, teria o seu emprego assegurado. Com efeito, é bastante razoável que se suponha que quando uma empresa investe 359 altas somas na formação e aperfeiçoamento de um funcionário, fá-lo por pretender contar com tal empregado em seus quadros, e não por ter a intenção de dispensá-lo. Logo, a dispensa imotivada desse mesmo empregado se caracteriza em comportamento contraditório inadmissível. E é de se ver que o empregado, em virtude da expectativa de que seria mantido em seu emprego, também fez investimentos de ordem pessoal, concordando em ficar longe da família e longe de seu centro habitual de ocupações e de convivência social, para poder participar do treinamento que lhe permitiria um melhor aproveitamento nos quadros da empresa. Logo, essa expectativa frustrada deverá ser reparada mediante o pagamento de indenização ou pela reinserção desse empregado nos quadros da empresa, conforme se mostrar mais conveniente no caso concreto. Nessa primeira hipótese, acima exemplificada, o interesse maior, presente no primeiro comportamento, era o do empregador, que pretendia que seu empregado recebesse um treinamento voltado para aperfeiçoá-lo no desempenho de suas tarefas. Mas também é corriqueira a situação na qual o interesse principal é do empregado ou, pelo menos, de ambos, empregado e empregador, conjuntamente. É o que se dá, por exemplo, quando um empregado de uma empresa (ou um servidor público) é liberado de suas funções, sem prejuízo do salário (ou dos vencimentos), para poder participar de um curso de natureza científica, como mestrado, doutorado ou pós-doutorado. Veja-se que o empregador (ou a Administração Pública) não terá um benefício direto, pois o empregado não estará sendo treinado especificamente para um melhor desempenho no serviço. No entanto, é evidente que esse tomador dos serviços, seja ele um empregador particular ou seja a Administração Pública, tem a expectativa de 360 que, no retorno do trabalhador, estando este com um melhor embasamento científico, será possível um ganho na produtividade ou na qualidade dos serviços. E essa confiança na obtenção de um melhor desempenho, como é bastante intuitivo, engloba a idéia de que o empregado (ou servidor), após o retorno às atividades, deverá prestar seus trabalhos para aquele mesmo tomador que lhe custeou os estudos. Muitas vezes, no entanto, tão logo retorna ao trabalho, esse empregado ou servidor público, agora com uma formação científica mais sólida, recebe uma proposta de um outro emprego, com melhor salário (pois o novo empregador nada desembolsou para essa sua melhor formação), e se despede do emprego ou pede exoneração do serviço público. Nesse caso, foi o empregado que exerceu de modo inadmissível seu direito potestativo de romper o contrato, incidindo em venire contra factum proprium. Com efeito, quando o empregado pediu afastamento para poder estudar, custeado pelo empregador, surgiu neste a expectativa de que obteria retorno, uma vez que o empregado retornaria ao trabalho com uma maior qualificação, ainda que o curso para o qual se afastara não fosse diretamente ligado às atividades inerentes a sua função na empresa. Ao pedir demissão, após a conclusão com êxito desse mesmo curso, o empregado frustrou as expectativas legitimamente criadas pelo empregador, e por isso deverá reparar os prejuízos causados. Tais situações, na prática, geralmente envolvem um aditivo contratual, no qual se prevê que o empregado, em troca do custeio dos seus estudos, a ser feito pelo empregador, se compromete a não pedir demissão durante um determinado prazo, que se mostre razoável para que o empregador possa recuperar seu investimento, sob pena de ter que indenizar o empregador. Discute-se, em Direito do Trabalho, se é válido ou não esse tipo de cláusula. 361 Penso não haver qualquer dúvida sobre a validade da mesma, pois nada mais faz do que preservar a conduta de boa-fé das partes contratantes. O que não é válido, isso sim, é a previsão contratual da qual conste, simplesmente, que o empregado não poderá pedir dispensa, durante um determinado tempo, pois é direito fundamental o exercício livre de qualquer trabalho ou profissão (CF, art. 7º, XIII), não se podendo forçar a manutenção do vínculo do trabalhador a um determinado contrato (CF, 7º, XX), notadamente quando se observa que, no contrato de trabalho, a prestação a ser fornecida pelo empregado diz respeito, diretamente, à sua própria dignidade, pois é a sua força física, óbvia e indissoluvelmente ligada à sua pessoa, que estará sendo colocada à disposição do empregador. E exatamente esse mesmo raciocínio pode ser desenvolvido quanto à relação entre o servidor público e a Administração Pública. Só que não é disso que se trata, mas sim da indenização a ser paga pelo empregado ao empregador. O empregado, portanto, não poderá ser forçado a manter-se vinculado ao contrato, dele podendo se desvencilhar a qualquer tempo. No entanto, se essa for a sua opção, deverá arcar com as conseqüências da mesma, inclusive o pagamento da indenização ao seu empregador. Em outras palavras, o empregado sempre terá a liberdade de escolher entre continuar prestando seus trabalhos àquele mesmo empregador, durante um tempo razoável, ou então indenizá-lo em virtude do investimento frustrado. Na realidade, parece-me que mesmo que não houvesse qualquer cláusula contratual prevendo a mencionada indenização, ainda assim a mesma seria devida, pelo empregado ao empregador. É que a hipótese, nitidamente, como já vimos, é de venire contra factum proprium, ou seja, de um comportamento contraditório que frustra expectativa legítima, e por isso 362 deverá indenizar essa frustração. A única diferença é que, quando existe a cláusula contratual (e na prática ela sempre existe), a questão será resolvida mediante o recurso à previsão legal já existente, e que se refere ao inadimplemento das obrigações, como já vimos linhas atrás. E, não existindo tal cláusula, deverá o sujeito prejudicado (no caso, o empregador) valer-se da figura do venire, para buscar o ressarcimento dos seus prejuízos. e) O segundo comportamento deve piorar a situação do outro sujeito. Por último, em relação aos comportamentos contraditórios, podese observar – embora a observação seja tão óbvia que possa parecer tautológica – que a caracterização do venire contra factum proprium se dará tão-somente quando, entre os dois comportamentos contraditórios, o segundo, em relação ao primeiro, estiver piorando a situação do outro sujeito, aquele no qual se formou a expectativa acerca de um negócio jurídico. Se o segundo melhorar a situação do outro sujeito, é evidente que não se poderá falar em venire. Com efeito, a idéia que se encontra subjacente ao instituto do venire – e, de modo geral, a todos os institutos decorrentes da boa-fé como norma de conduta – é a proteção de um sujeito que, em virtude de um primeiro comportamento de um outro (o factum proprium), criou uma legítima expectativa, em relação a um determinado negócio jurídico. Logo, para se protegê-lo é que não se admite o comportamento contraditório, ou seja, um segundo comportamento (o venire) que venha a frustrar a expectativa razoavelmente gerada a partir do primeiro. Assim, se o que se quer impedir é que o venire (a segunda conduta) venha a frustrar a confiança que o outro sujeito depositou no 363 negócio, parece evidente que se pode concluir que o que não se admitirá é que essa segunda conduta venha a impedir que se mantenha ou concretize aquele negócio que se esperava, criando uma situação nova que se mostra desfavorável a esse sujeito a quem se pretende proteger. Mas se, ao contrário, o segundo comportamento, ao se mostrar contraditório com o primeiro, melhora a situação do outro sujeito, ou seja, torna-lhe mais favorável a situação jurídica que era esperada a partir da primeira conduta, é claro que não se terá aí a ocorrência do venire contra factum proprium. Se não fosse assim, o instituto criado para proteger o sujeito estaria sendo invocado para prejudicá-lo, o que a toda evidência se mostra inaceitável. A título de exemplo, para mais fácil compreensão do que acima se disse, examinemos alguns fatos ocorridos em uma situação concreta, na qual houve um claríssimo comportamento contraditório, mas de modo tal que o segundo comportamento favoreceu o outro sujeito, e por isso, sem qualquer dúvida, foi considerado como válido. No caso em questão, um determinado empregado, que gozava de estabilidade decenal, ou seja, aquela que, antes da vigência da atual Constituição Federal336, era assegurada a todos os empregados que, não sendo optantes do FGTS, tivessem pelo menos dez anos de serviço na mesma empresa, teria supostamente cometido uma falta grave, especificamente a de desídia (em outras palavras, o empregado teria sido negligente), motivo pelo 336 A estabilidade decenal, prevista no artigo 492 da CLT, é incompatível com o regime do FGTS. Assim, até 1966, data em que foi instituído o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (Lei n° 5.107/66), todos os empregados adquiriam essa mencionada estabilidade, tão logo completassem dez anos de serviço na empresa. A partir da instituição, como a adesão ao FGTS dependia de opção do trabalhador, os empregados optantes deixaram de adquirir a estabilidade, ao completar dez anos de serviço, sendo a mesma mantida, no entanto, para os não-optantes do regime. A partir da Constituição Federal de 1988, no entanto, todos os empregados passaram a ser, obrigatoriamente, vinculados ao regime do FGTS, e por isso todos os contratos de trabalho celebrados após 05.10.1988 se tornaram incompatíveis com a aquisição da estabilidade prevista no artigo 492, da CLT. 364 qual o empregador resolveu dispensá-lo por justa causa. Com tal finalidade, o empregador ajuizou inquérito para apuração de falta grave 337. No entanto, no curso desse processo judicial para apuração da suposta desídia do empregado, o empregador, no caso um grande banco, enviou para esse empregado supostamente desidioso o comunicado de que o mesmo estava sendo promovido por merecimento. Ora, é evidente que a imputação de conduta desidiosa (negligente) ao empregado é absolutamente incompatível com a promoção por merecimento, pois não há como se admitir que o empregado, se realmente fosse negligente, pudesse ser merecedor da ascensão funcional. Logo, o segundo comportamento do empregador (a promoção) mostrou-se contraditório, em relação ao primeiro (a dispensa por desídia). Só que essa contradição, no caso, ocorreu de um modo tal que veio a melhorar a situação jurídica do outro sujeito (o empregado), ou seja, veio a retirá-lo de uma situação em que estava sendo acusado de negligente para uma outra, na qual foi apontado como merecedor de promoção, e portanto esse venire, ou seja, esse segundo comportamento contraditório, mostra-se plenamente admissível, não se podendo falar na ocorrência do venire contra factum proprium. Não é demais lembrar que a figura do venire contra factum proprium foi criada para conferir proteção ao sujeito que poderia ser afetado pelos comportamentos contraditórios (no caso apontado, o empregado), pois em virtude destes poderia ter frustradas suas expectativas que foram válida e razoavelmente criadas. Logo, não haveria o menor sentido em que se 337 O empregado estável, esclareça-se, só pode ter o seu contrato resolvido por iniciativa do empregador se vier a cometer falta grave, devidamente reconhecida em processo judicial (o inquérito), pois apenas a decisão judicial transitada em julgado é que terá força para resolver o contrato, nos termos do artigo 494, da CLT. 365 invocasse essa mesma figura do venire contra factum proprium em desfavor daquela pessoa a quem se deseja proteger, vale dizer, seria ilógico que se apontasse a contradição entre as condutas para manter o primeiro dos comportamentos (a dispensa por desídia), afastando-se os efeitos do segundo (o reconhecimento do mérito do empregado). 2.3.2.2. A contradição. Examinado o primeiro dos elementos que devem estar presentes, para que se caracterize o venire contra factum proprium, passemos agora ao exame do segundo desses elementos, ou seja, a contradição em si mesma. Uma primeira observação, que na verdade ressalta de alguns dos dispositivos legais que já examinamos, é que a contradição verificada entre os comportamentos do sujeito deve ser injustificada. Assim, por exemplo, se a contradição foi aferida no cotejo de um comportamento atual com um anterior, sendo que neste (o primeiro comportamento) se tratou de situação na qual era inexigível que o sujeito se comportasse de outra forma, não se terá concretizado o venire, pois a contradição, no caso, está justificada. E é interessante ressaltar que essa ocorrência da inexigibilidade de conduta diversa, capaz de justificar a contradição e impedir que se caracterize o venire, vai se manifestar, sempre, em relação ao primeiro dos comportamentos, pois o segundo servirá exatamente para o desfazimento do primeiro. À guisa de exemplo, podemos nos reportar ao caso da lesão, previsto no artigo 157, do Código Civil brasileiro. No exemplo que examinamos, linhas atrás, um pai, precisando custear o tratamento de saúde que o filho necessita com a máxima urgência, oferece à venda, por cem mil reais (R$ 100.000,00), um imóvel de sua 366 propriedade, cujo valor real é de um milhão de reais (R$ 1.000.000,00). Mais tarde, no entanto, esse pai, vendedor, busca a anulação do negócio, face à manifesta desproporção entre a prestação que recebeu e a que entregou. Como se percebe, na situação acima descrita há uma evidente contradição entre os dois comportamentos, aquele no qual foi pactuada a venda e aquele no qual se pleiteou o desfazimento dessa mesma venda. No entanto, no caso não se verifica o venire contra factum proprium, uma vez que, por ocasião do primeiro comportamento, o vendedor não agiu de forma verdadeiramente livre, mas o fez pressionado pela urgência das circunstâncias, eis que precisava arcar com as despesas do tratamento. Destaque-se, contudo, que a inexigibilidade de conduta diversa não é a única justificativa possível para a contradição, capaz de afastar a figura do venire. Basta que reexaminemos a figura da assunção de dívida, por nós já abordada, retro. O credor, mesmo tendo concordado com a substituição do devedor por outro, poderá buscar a responsabilidade do antigo devedor se o novo era insolvente, ao tempo da assunção, e ele, credor, não o sabia (art. 299, parte final). Veja-se que não se pode falar, na hipótese, de inexigibilidade de conduta diversa, pois o credor poderia, no primeiro comportamento, ter adotado uma outra conduta, não concordando com a assunção. O que ocorre, portanto, nessa situação retratada no artigo 299, do Código Civil, como já havíamos comentado linhas atrás, é que se verifica a ocorrência do erro ou ignorância do credor, ou seja, há um vício da vontade, e este é capaz de justificar a contradição, afastando a caracterização do venire contra factum proprium. O que as duas situações têm em comum, portanto, é o fato de que, em ambas, no primeiro comportamento, a vontade do sujeito não foi verdadeiramente livre, mas viciada pelas circunstâncias, quer pela urgência por elas imposta, quer por desconhecê-las. 367 Em uma primeira aproximação, na tentativa de sistematizar essa questão da justificativa da contradição, portanto, podemos dizer que estaria a mesma justificada, afastando a caracterização do venire, sempre que se apurasse que, no primeiro dos comportamentos, não se tratou de um ato da vontade livre, ou seja, houve algum vício na vontade do sujeito. Se bem observarmos, essa afirmação acaba por se confundir com o requisito de que tenha sido válido cada um dos comportamentos contraditórios (veja-se, retro, o item 2.3.2.1, a), pois se tivesse havido o vício da vontade, o primeiro comportamento teria sido inválido, o que em regra, como já vimos, afasta a ocorrência do venire. O problema é que essa falta da vontade livre, no primeiro dos comportamentos, não se mostra como suficiente para justificar a contradição, por isso que haverá situações em que, mesmo não tendo havido vontade livre na primeira das duas atuações (ou omissões), ainda assim poderá ser caracterizada a ocorrência do venire. Por outro lado, há hipóteses nas quais não houve qualquer vício da vontade, no primeiro comportamento (ou seja, a vontade do sujeito estava livre de defeitos), e mesmo assim a contradição poderá ser justificada. Vejamos. Suponha-se que um determinado bem, que havia sido avaliado por um perito em duzentos mil reais (R$ 200.000,00), foi vendido por seu proprietário, sendo o preço ajustado em cento e noventa e cinco mil reais (R$ 195.000,00). O comprador, até o momento da celebração do contrato, nem ao menos conhecia o vendedor. Posteriormente, no entanto, constata-se que o vendedor, em virtude de deficiência mental, é pessoa absolutamente incapaz, não tendo o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil, sendo que a perícia médica, no processo de interdição, constata que esse 368 estado já existia no momento em que foi celebrado o contrato de compra e venda acima mencionado. Desse modo, tendo em vista a incapacidade absoluta do vendedor, este, devidamente representado por seu curador, ajuíza ação de nulidade, para desfazer o negócio de compra e venda. Em tal caso, poderá o comprador alegar a ocorrência do venire contra factum proprium, ou seja, poderá ele apontar que o comportamento do vendedor (embora representado, no segundo momento), sendo contraditório com o primeiro, se apresenta como capaz de frustrar sua boa-fé? Não temos dúvidas em afirmar que sim: o comprador poderá opor, à pretensão de desfazimento do contrato, sua boa-fé e a legítima expectativa que do negócio havia surgido, apesar da inexistência de previsão legal, em nosso Código Civil, ao contrário do que ocorre em algumas legislações alienígenas. Com efeito, em vários outros Códigos Civis (Código Civil francês, art. 503338; Código Civil italiano, art. 428339; Código Civil português, arts. 150 c/c art. 257340), existe a previsão explícita de que os atos anteriores à 338 Art. 503. Les actes antérieurs pourront être annulés si la cause qui a déterminé l’ouverture de la tutelle existait notoirement à l’époque où ils ont été faits. 339 Art. 428. ATTI COMPIUTI DA PERSONA INCAPACE D’INTENDERE O DI VOLERE. – Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d’intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su instanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all’autore. L’annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d’intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell’altro contraente. (grifei) ................ A necessidade de que tenha havido má -fé, por parte do outro contratante, para que o contrato possa ser anulado, atende à exigência de tutela da confiança da contraparte. De fato, quando a outra parte tem conhecimento do estado psíquico do sujeito, não houve confiança em relação à validade do contrato, e por isso será possível a anulação. Mas essa possibilidade não existirá, ao contrário, se o outro contraente, não conhecendo o estado de incapacidade, adquiriu confiança sobre a validade do contrato. Nesse caso, a exigência de tutela da confiança prevalece sobre a exigência de tutela do incapaz, e o contrato permanecerá válido. Cf. F. del Giudice (Coord.), Codice Civile spiegato Articolo per Articolo, v. 1, p. 273, nota 4 ao artigo 428. 340 ARTIGO 150º (Actos anteriores à publicidade da acção). 369 sentença de interdição (no caso do Código português, a observação se refere aos atos anteriores à propositura da ação, e não à sentença de interdição) também poderão ser anulados em virtude da incapacidade, se esta já existia, mas desde que fosse notória ou existissem razões para que fosse conhecida pela outra parte. Contrario sensu, portanto, esses atos deverão ser mantidos, ainda que a loucura já existisse, mas se a mesma não era notória e nem havia qualquer razão para que a outra parte dela tivesse conhecimento, uma vez que o negócio se realizou nas condições normais para os negócios daquela espécie. No nosso ordenamento, no entanto, não existe norma legal semelhante, e por essa razão seria possível apontar-se que o negócio praticado pelo amental seria sempre nulo, pouco importanto se já existe ou não a sentença de interdição. Ocorre que, como aponta Sílvio Rodrigues341, “tal solução é demasiado severa para com os terceiros de boa-fé que com ele negociaram, ignorando sua condição de demente. De modo que numerosos julgados têm aplicado, entre nós, aquela solução encontradiça alhures, segundo a qual o ato praticado pelo psicopata não interditado valerá se a outra parte estava de boa-fé, ignorando a doença mental que o afetava”. E prossegue o mestre, na mesma obra e local342, e ainda comentando sobre o tema, dizendo que “A meu ver tal solução não destoa da lei. O interesse geral, representado pelo anseio de infundir segurança aos negócios jurídicos, impõe que se prestigie a boa- fé. Dessa maneira, devem prevalecer os negócios praticados 341 342 Aos negócios celebrados pelo incapaz antes de anunciada a proposição da acção é aplicável o disposto acerca da incapacidade acidental. ARTIGO 257º (Incapacidade acidental). 1. A declaração negocial feita por quem, devido a qualquer causa, se encontrava acidentalmente incapacitado de entender o sentido dela ou não tinha o livre exercício da sua vontade é anulável, desde que o facto seja notório ou conhecido do declaratório. 2. O facto é notório, quando uma pessoa de normal diligência o teria podido notar. Sílvio Rodrigues, Direito Civil, v. 1: Parte Geral, p. 49. Sílvio Rodrigues, Direito Civil, v. 1: Parte Geral, pp. 49-50. 370 pelo amental não interditado, quando a pessoa que com ele contratou ignorava e carecia de elementos para verificar que se tratava de um alienado. Entretanto, se a alienação era notória; se o outro contratante dela tinha conhecimento; se podia, com alguma diligência, apurar a condição de incapaz; ou, ainda, se da própria estrutura do negócio ressaltava que seu proponente não estava em seu juízo perfeito, então o negócio não pode ter validade, pois a idéia de proteção à boa-fé não mais ocorre”. No entanto, veja-se que no presente exemplo, no que diz respeito à vontade, a situação mostra-se ainda mais grave do que nos exemplos anteriores. Com efeito, nas situações anteriormente abordadas (a do pai que vendia o imóvel por um décimo do seu valor e a do credor que concordava com a assunção da dívida sem saber do estado de insolvência do novo devedor), havia um vício da vontade, o que significa que pelo menos havia uma vontade, embora viciada (no primeiro caso, pela lesão, e, no segundo, pelo erro). No caso do amental, no entanto, ora figurado, simplesmente não há vontade alguma, por isso que se trata de pessoa absolutamente incapaz, privada por completo de seu discernimento. Apesar disso, ou seja, apesar de ser mais grave o defeito da vontade, conforme as diferenças apontadas no parágrafo anterior, ainda assim pensamos que, no caso da venda do imóvel pelo incapaz absoluto, o negócio deverá ser mantido, rejeitando-se a pretensão de que seja declarada a nulidade do mesmo, uma vez que tal nulidade teria o efeito de frustrar a boa-fé do comprador, e é precisamente em homenagem e proteção a essa boa-fé que o contrato, no caso, não poderá ser anulado, inobstante se trate de nulidade absoluta. Vejamos, agora, a hipótese inversa, ou seja, aquela na qual houve a contradição (pelo menos aparentemente), não se verificou qualquer vício da vontade no primeiro dos comportamentos do sujeito, e mesmo assim a contradição poderá ser considerada como justificada. 371 Vimos, no subitem anterior (veja-se, retro, 2.3.2.1), que no caso do empregado ter cometido falta grave, a demora do empregador na adoção de medidas punitivas, mesmo já tendo ciência da ocorrência do ato faltoso, se caracterizará como caso de venire contra factum proprium (denominado pela doutrina especializada de “perdão tácito”), e o empregador não mais poderá punir o seu empregado, posteriormente, em virtude desse mesmo fato. No entanto, suponha-se que o empregador, após ter tomado conhecimento da prática do ato pelo seu empregado, não adotou de imediato qualquer medida punitiva, mas não o fez porque decidiu apurar minuciosamente o ocorrido, inclusive com a abertura de chance de ampla defesa para o empregado. Ora, em tal situação, dependendo do maior ou menor porte e da complexidade da estrutura organizacional da empresa empregadora, é possível que essa apuração demore alguns meses, e portanto a demora na aplicação da punição não poderia caracterizar o venire, eis que estaria justificada pelo fato do empregador ter sido cauteloso, não dispensando o empregado sem a prévia e completa apuração dos fatos. Nesse mesmo sentido, a jurisprudência 343 dos nossos tribunais trabalhistas, embora sem fazer qualquer referência ao venire contra factum proprium (ainda que para afastá-lo), é tranqüila em admitir que a estrutura complexa de uma empresa, na qual existam diversos níveis hierárquicos e uma rígida descrição, feita pelo regulamento da empresa, sobre os procedimentos a 343 EMENTA: JUSTA CAUSA. IMEDIATIDADE. PERDÃO TÁCITO. Diante da complexidade do sistema financeiro em geral, bem como do número de correntistas envolvidos em trama de monta articulada por empregado bancário, claro que a empresa necessita de um tempo para realizar todo o levantamento das operações irregulares imputadas aotrabalhador. Assim, tem-se que o lapso de 4 meses, havido entre a ciência da infração e a efetivação da rescisão é razoável, justificando-se pela cautela em se apurar melhor as evidências e, ainda, pela necessidade das providências administrativas centralizadas em empresa de grande porte e de complexa administração, não havendo falar em perdão tácito ou decadência do direito de punir, nem em inobservânica de imediatidade, posto que não é ela sinônimo de automaticidade irrefletida. TRT 3ª Região (MG), Processo n° 01105-2001-080-03-00, 8ª T., Ac. unânime, Rel. Juiz Paulo Maurício Ribeiro Pires. J. 07.08.2002, p. DJMG 22.08.2002, pág. 17. 372 serem adotados para a apuração de atos faltosos do empregado, justifica que a aplicação da punição se dê de modo mais demorado do que ocorreria em uma empresa de estrutura simplificada. Em outras palavras, portanto, justifica a aparente contradição. Como se vê, portanto, voltando ao que mencionamos linhas atrás, o simples fato da vontade não ser efetivamente livre, ou seja, de ser viciada, não é suficiente para justificar a contradição e ter o efeito de afastar a caracterização do venire; por outro lado, o fato de ter sido livre a vontade não impede que possa ser justificada a contradição. Há, portanto, mais um fator a ser considerado, e que é o que poderíamos denominar de “normalidade do negócio”. Em outras palavras, o vício da vontade, em si mesmo, não é o aspecto mais relevante, para que se considere a contradição como sendo justificada, e com isso se afaste a ocorrência do venire. O que de fato interessa é perquirir se o negócio jurídico foi ou não celebrado dentro das condições de normalidade, para aquele tipo de negócio. Se o foi, então é legítima a expectativa do outro sujeito, no sentido de que o negócio deva ser mantido. Em caso contrário, vale dizer, se as condições do negócio claramente se mostram inadequadas para aquele tipo de situação, ainda que o outro sujeito não tenha conhecimento de qualquer defeito relativo à vontade, ainda assim não poderá alegar que em virtude desse negócio formou-se em seu íntimo a expectativa de sua manutenção. Em confirmação dessas observações, dentre os três exemplos acima, trazidos a exame, veja-se que, no caso do incapaz absoluto, apesar de tal incapacidade, nada há de anormal no negócio, pois a coisa vendida havia sido avaliada em duzentos mil reais, e o valor venal foi de cento e noventa e cinco mil reais, sendo certo que é bastante comum e razoável que haja uma ligeira flutuação no preço, para mais ou para menos, quando cotejado com o 373 valor da avaliação previamente feita. E é precisamente por ter o primeiro dos comportamentos (a celebração do negócio) apresentado todos os traços de normalidade, ou seja, por ter sido contratado nas mesmas condições em que normalmente seriam celebrados os contratos, nessa mesma situação, foi que surgiu no outro sujeito a expectativa que impedirá o desfazimento contratual. Nos outros dois exemplos, no entanto, diferente é a situação, pois tanto no caso da lesão quanto no caso da concordância com a assunção de dívida, é de se observar que o sujeito, no primeiro dos seus comportamentos, agiu de um modo que não seria o normal para aquele tipo de situação. No caso da lesão, as condições do negócio são claramente inadequadas, não se podendo considerar como normal que um imóvel cujo valor situa-se em torno de um milhão de reais venha a ser vendido pelo preço de cem mil reais. E veja-se que, mesmo que o comprador não saiba do problema de saúde do filho do vendedor (na verdade, se soubesse, não seria hipótese de lesão, mas de estado de perigo), ainda assim, qualquer pessoa mediana saberia identificar que o valor da venda se mostra completamente irreal, sendo tão grande a desproporção entre as prestações que não poderá esse comprador pretender-se opor ao desfazimento do negócio sob a alegação de que havia legitimamente acreditado que o mesmo não apresentava nada de anormal e por isso deveria ser mantido. Esse padrão de normalidade, como é evidente, só pode ser aferido em cada circunstância concreta, e não depende do conhecimento (ou da falta dele) por parte do comprador. No terceiro dos exemplos, ou seja, no caso da assunção de dívida, pode-se com facilidade chegar à mesma conclusão acima, ou seja, o primeiro dos comportamentos do credor, ao concordar com a assunção da dívida pelo novo devedor, fugiu do comportamento que poderia ser considerado como normal. Com efeito, parece evidente que o credor, se soubesse da situação de 374 insolvência do novo devedor, que lhe foi apresentado pelo antigo, não teria concordado com a substituição. Logo, a concordância fugiu ao que se poderia considerar como normal, pois a normalidade, ao contrário, seria exatamente a não concordância. E também aí, nesse caso do erro ocorrido no assentimento referente à assunção de dívida, pode-se mais uma vez observar que se mostra absolutamente irrelevante o fato do antigo devedor de nada saber sobre o estado de insolvência do novo, pois ainda assim aquele poderá ser responsabilizado pelo credor, que dele poderá exigir o pagamento da obrigação. É que o antigo devedor tinha o dever de ter investigado a situação patrimonial do devedor por quem se pretende fazer substituir. Se não o fez, foi negligente; se o fez e descobriu a situação ruinosa do novo devedor, e sobre ela silenciou, então agiu com dolo. E se diligenciou para averiguar essa situação patrimonial do novo devedor, mas sobre a mesma nada descobriu, de qualquer forma agiu com culpa in eligendo, e continuará a ser responsável. Após essas observações, podemos tentar formular uma primeira conclusão sobre as características da contradição em si mesma, ou seja, no sentido de que a mesma, para que se possa caracterizar o venire contra factum proprium, deve ser injustificada. O que se pode concluir, a partir da análise até aqui feita, é que será justificada a contradição, e por isso não se poderá argüir a ocorrência do venire contra factum proprium, quando o defeito no primeiro comportamento disser respeito à declaração de vontade, sendo que em virtude desse defeito essa declaração não ocorreu dentro dos padrões de normalidade dos negócios da espécie, e por isso poderia – e mesmo deveria – ter sido detectada a falha pelo outro sujeito, impedindo a formação da legítima expectativa. 375 Quando, ao contrário, apesar do defeito no primeiro comportamento dizer respeito à declaração de vontade, essa declaração levou a que o negócio fosse celebrado dentro das condições normais, assim entendidas aquelas que se poderia esperar para os negócios daquele tipo, neste caso a contradição não se justifica, uma vez que a falha detectada no primeiro comportamento não impediu que fosse criada no outro sujeito a legítima expectativa da correção e da adequação do negócio, e este, por tal razão, deverá ser mantido, sendo o vício, no caso, irrelevante. Convém observar, neste ponto, que a extrema dificuldade em se chegar a uma conclusão sobre as características dessa contradição, especificamente na apuração dos casos em que a mesma pode ser considerada como justificada, e por isso capaz de afastar o reconhecimento da ocorrência do venire, é inerente às características da própria figura em exame. Ora, o venire contra factum proprium, como já vimos reiteradas vezes, está enquadrado no espectro mais amplo da violação dos deveres acessórios que decorrem da boa-fé como norma de conduta, ou seja, da boa-fé objetiva. Portanto, se a boa-fé em si mesma, em seu aspecto objetivo, não pode ser conceituada de um modo único, que seja amplo o bastante para abarcar, em um conceito teórico, todas as ocorrências práticas possíveis, uma vez que suas características sempre dependerão das circunstâncias do caso concreto, parece bastante evidente que também as situações capazes de serem identificadas como sendo de violação dessa mesma boa-fé, seja em virtude da contradição ou de qualquer outro motivo, também não poderão ser enquadradas em uma conceituação única, capaz de abarcar e permitir aprioristicamente a identificação de todas as situações concretas. Essas colocações vêm com a finalidade de se alertar que, em verdade, no máximo se consegue alcançar uma aproximação de um conceito 376 amplo – e foi a esse resultado que chegamos acima –, que possa permitir a identificação do maior número de casos possíveis, mas sem perder de vista que a riqueza de situações da vida quotidiana sempre poderá trazer nuances que surpreendam e afastem o cabimento do conceito elaborado. Em outras palavras, sempre haverá situações que, não tendo embora as características apontadas acima, poderão ser identificadas como sendo de contradição que, no caso, se mostra amplamente justificada. Ou, ao contrário, situações que, embora apresentando os caracteres acima identificados, no caso concreto não afastarão a caracterização do venire contra factum proprium. Assim, por exemplo, dentro dessas inúmeras variantes que podem ocorrer em cada caso concreto, pode-se apontar que se o vício, em vez de ser referente à capacidade do agente, dissesse respeito à forma, neste caso, como já examinamos (veja-se, retro, o item 2.3.2.1, c.1), a desobediência à previsão legal sobre a forma não afeta a correspondência entre a vontade real do agente e aquela que foi efetivamente externada, e por essa razão pode-se apontar que o vício de forma, em regra, não afeta as condições normais do contrato, por isso que tal vício, no que se refere a obstaculizar a ocorrência do venire contra factum proprium, se mostrará completamente irrelevante. Continuando o exame da contradição que se mostra capaz de marcar a conduta do sujeito como venire contra factum proprium, pode-se em seguida apontar que não é todo e qualquer comportamento contraditório que dá origem ao venire, independentemente de ser ou não justificada a contradição. Ora, basta que se observe que se toda e qualquer contradição fosse proibida, assim que uma pessoa tomasse uma posição, em relação a um certo e determinado negócio, a partir daí já estaria irremediavelmente vinculada, e todos os seus comportamentos posteriores, referentes a esse 377 mesmo negócio, já seriam previamente conhecidos, face à proibição absoluta de que viessem a ser contraditados. Se fosse admissível tamanha rigidez, nessa hipótese, como acertadamente aponta Menezes Cordeiro344, “as permissões normativas esgotar-se-iam no primeiro exercício e todo o relacionamento social converter-se-ia num edifício rígido de deveres irrecusáveis”, ou seja, a partir de um primeiro comportamento, qualquer que fosse ele, a pessoa acabaria vinculada, de modo que todos os seus comportamentos posteriores tivessem que mostrar absoluta coerência, o que se mostraria contra a natureza humana e mesmo contra a própria natureza do Direit o, sendo por isso uma idéia inconcebível e inaceitável. Assim, a contradição deverá sempre se verificar entre comportamentos humanos que, no caso concreto, possam ser considerados como juridicamente relevantes. Tal afirmação, contudo, longe de por fim à questão, suscita uma outra e evidente pergunta, sobre quais os critérios para que um determinado comportamento possa ser considerado juridicamente relevante em relação a um determinado caso concreto. É certo que a maior ou menor relevância de um determinado fato jurídico, no que se refere a um negócio jurídico específico, estará sempre a depender do ângulo que se queira examinar, desse mesmo negócio. Assim, por exemplo, se o que se pretende examinar é se houve ou não a ocorrência da prescrição, o fato essencial a ser examinado é o transcurso do tempo, sendo o que se mostra de maior relevância jurídica. Em relação à ocorrência dessa prescrição, em regra se mostrará irrelevante perquirir se uma obrigação é portável ou quesível. 344 Antônio Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro, Da boa-fé no Direito Civil , p. 751. 378 No entanto, caso se pretenda examinar se o devedor, que não procurou o credor para efetuar o pagamento, está ou não em mora, se dará exatamente o inverso da situação acima descrita, ou seja, agora é o decurso do tempo que se mostrará juridicamente irrelevante, enquanto que a caracterização da obrigação como sendo quesível ou portável se mostrará como o fator de maior relevância jurídica. Da mesma forma, pode-se apontar que, para fins de caracterização da fraude contra credores, em caso de perdão de dívida, oferta de garantia, ou de transmissão gratuita de bens, quando tais atos sejam praticados por devedor insolvente ou que, em virtude deles, seja levado ao estado de insolvência, mostra-se absolutamente irrelevante perquirir se o devedor perdoado, o credor que recebeu a garantia ou o adquirente dos bens, ou o próprio devedor insolvente, sabiam ou não do estado de insolvência, pois em qualquer dos casos estará caracterizada a fraude e poderão os credores quirografários, prejudicados pelo desfalque do patrimônio do devedor, buscar a anulação do negócio jurídico. No entanto, quando o que se quer é examinar se o alienante de um determinado bem, em contrato comutativo, apenas restituirá o preço recebido, em caso de vício redibitório, ou se, ao contrário, além do preço também responderá pelas perdas e danos sofridas pelo adquirente, nesse caso já se mostrará essencial examinar se o alienante sabia ou não da existência do defeito oculto, capaz de tornar a coisa imprestável para o seu uso normal ou reduzir-lhe de modo acentuado o valor. E mesmo a ciência do adquirente se mostra relevante, pois se sabia do vicio, então nem ao menos se trata de vício redibitório. Pois bem, todas essas comparações acima foram apenas para realçar que o que se mostra juridicamente relevante, em cada análise de um 379 negócio jurídico, depende da finalidade que se pretende obter com a análise em questão. No caso específico que estamos examinando, o que se pretende é a identificação de quais os comportamentos humanos que se mostram relevantes para fins de, identificada a contradição entre eles, ser também identificada a ocorrência do venire contra factum proprium. Em relação a tal finalidade, é fácil de se perceber que o comportamento juridicamente relevante será tão-somente aquele que, nas circunstâncias do caso concreto, mostrou-se capaz de causar, no outro sujeito, a expectativa de que o negócio seria celebrado ou mantido. Além disso, pode-se ainda acrescentar que essa possibilidade de que seja formada a expectativa, quanto ao negócio jurídico, deve ser aferida em relação ao sujeito mediano, normal, e não em relação àquela pessoa que se mostra demasiadamente crédula. Em outras palavras, o comportamento mencionado deve ser suficiente para gerar a legítima expectativa em pessoa mediana, não servindo como referência a pessoa que, sem qualquer análise crítica, cria essa expectativa a partir de qualquer situação ainda que as circunstâncias desta indiquem que seja muito pouco provável que venha a se confirmar o negócio jurídico. Ora, se o “grau de credulidade” tivesse que ser levado em conta, para fins de verificação da ocorrência do venire contra factum proprium, aí já não teríamos mais a análise de comportamentos contraditórios, mas sim o exame do maior ou menor grau de percepção do outro sujeito, e duas situações idênticas, com exatamente as mesmas características, poderiam ou não se caracterizar como venire, conforme fosse maior ou menor esse grau, o que teria o evidente efeito de aumentar de modo indesejado a insegurança dos negócios jurídicos e, principalmente, a insegurança na aferição do que deve 380 ser, em cada caso, a conduta conforme a boa-fé, que deixaria de ter análise objetiva. Como fecho do presente subitem, convém que se aponte que essa convivência de casos onde a contradição entre os comportamentos não é tolerada, fazendo com que se caracterize o venire, com situações nas quais a contradição encontra-se justificada (e mesmo expressamente admitida pela norma legal), e por isso não há que se falar em ocorrência do venire contra factum proprium, não quebra a harmonia do sistema jurídico, mas apenas lhe confere maleabilidade e amplitude suficientes para que a partir dele se possa fazer o enfrentamento de situações diversificadas. Ora, já examinamos, por diversas vezes, que a boa-fé, enquanto regra de conduta, não poderá jamais ser enclausurada em um conceito teórico previamente formulado de modo completo e acabado, pois sempre serão necessários e indispensáveis a avaliação e o enquadramento conforme as circunstâncias do caso concreto. Logo, no examinar dessas circunstâncias serão enfocadas tanto as hipóteses nas quais a contradição será admitida quanto aquelas nas quais a contradição será considerada como comportamento inadmissível. E isso, repete-se, não rompe a harmonia do sistema, mas apenas o deixa aberto, para ser completado pelo operador do direito na análise das circunstâncias de cada caso concreto. 2.3.2.3. O dever acessório que está sendo violado. Examinamos, até aqui, cada um dos comportamentos contraditórios do sujeito, assim como a própria contradição, buscando extrair os sinais característicos desses elementos, de modo a detectar quando a sua presença será indicativa da ocorrência do venire contra factum proprium. 381 Nessa análise, repetidas vezes mencionamos que a contradição entre as duas condutas do sujeito caracterizará o venire todas as vezes em que for violado um dever acessório, decorrente da necessidade de que os sujeitos, em um negócio jurídico, adotem conduta compatível com os ditames da boa-fé. Neste item, portanto, nosso exame incidirá precisamente sobre esse dever acessório, cuja violação se mostra indispensável à configuração do venire. É certo que o venire pode ser descrito com o auxílio à fórmula mais ampla de aplicação da boa-fé, ou seja, pode-se dizer, com acerto, que o comportamento que de modo inadmissível afronta a conduta anterior do sujeito, é inadmissível exatamente porque se constitui em um procedimento que se mostra contrário à boa-fé. Só que também é certo que essa descrição se mostra por demais imprecisa, não permitindo um critério sequer razoável para a identificação do venire. O problema é que a boa-fé, como já examinamos na primeira parte do presente estudo, é demasiadamente ampla, dela decorrendo inúmeros deveres acessórios, cuja violação pode ser caracterizada de diversas formas, nem sempre se constituindo em venire, sendo certo que o Direito, enquanto ciência, não se compraz com essa imprecisão terminológica, ou seja, com o uso de termos que abrangem muito mais do que aquilo que com eles se pretende descrever. Logo, não é aceitável que se pretenda descrever o venire contra factum proprium, simplesmente, como sendo uma “violação da boafé”, uma vez que dentro dessa mesma expressão “violação da boa-fé” outros institutos também estão contidos. Na realidade, jamais se pode perder de vista um balizamento que se mostra essencial para o cientista do direito, que é a permanente necessidade 382 de busca da precisão terminológica. Assim, como ensina Bobbio 345, mostra-se completamente inadmissível essa ambigüidade de expressões, uma vez que o jurista – ou, de modo mais amplo, qualquer cientista, ao examinar seu ramo das Ciências – necessariamente terá que iniciar o exame do instituto em foco com a determinação do significado das palavras que passam a fazer parte da proposição normativa a ser examinada, devendo tal significado ser mantido de modo uniforme, até o final da pesquisa, sob pena de se tornar incompreensível o resultado obtido. A idéia, portanto, é que em tal análise terminológica venha a ser fixado o conjunto de regras que estabelecem o uso de determinada palavra, ou seja, deverá ser fixado o conceito correspondente a essa palavra. E não é despiciendo observar que é essa definição precisa que marca de modo claro a diferença entre um termo científico e um não científico: o primeiro corresponde a um conceito exatamente definido, com significação precisa, enquanto o segundo é usado de diversos modos. O jurista, enquanto cientista, com seu trabalho intelectual, tende à construção de termos definidos com exatidão, sendo certo que não há qualquer rigor científico quando se procede, com indiferença ao emprego de um ou outro termo para expressar o mesmo instituto jurídico ou, ao contrário, quando se usa um único termo que é capaz de abranger diversos institutos jurídicos, cada um com suas próprias características. Por outro lado, é evidente – e não se pode deixar de reconhecê-lo – que nem sempre se mostra fácil essa busca de determinação da terminologia precisa, e é exatamente em virtude dessa dificuldade que muitas vezes nos deparamos com estudos que optam pelo caminho mais fácil da imprecisa 345 Norberto Bobbio, Teoria della scienza giuridica, passim. 383 generalização terminológica, renunciando à busca de perseguir o rigor para um termo ou grupo de termos. Nesse sentido, especificamente em relação ao venire contra factum proprium, assiste ampla razão a Menezes Cordeiro 346 quando afirma que se tornou comum, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, a afirmação genérica de que o venire é aplicação da boa-fé. Ou, então, a também genérica afirmação de que o assumir de comportamentos contraditórios viola a regra da observância da boa-fé. O problema é que essa falta de rigor terminológico abala todo o sistema, tendo o indesejado efeito localizado de tornar muito vaga – e, por isso, insegura – a justificação científica do venire. Trazendo o enfoque para o nosso trabalho, podemos então afirmar que a conceituação do venire apenas com base na violação genérica da boa-fé, ao lado de se mostrar inútil para a identificação do instituto, não se mostra capaz de dar esteio à justificação científica do mesmo. Faz-se necessária, portanto, a apuração mais precisa e cirúrgica sobre qual é o aspecto da boa-fé que está sendo violado. De modo mais claro, necessário se mostra que identifiquemos, dentre os diversos deveres laterais que derivam da boa-fé, qual é o que está sendo violado pela contradição dos comportamentos, de modo a caracterizar a ocorrência do venire contra factum proprium. Ao examinarmos a questão dos comportamentos contraditórios (item 2.3.2.1, supra), por várias vezes mencionamos que estaria caracterizado o venire contra factum proprium quando, em virtude do primeiro comportamento, o outro sujeito tivesse legitimamente criado a expectativa de que o negócio seria celebrado ou mantido, sendo que essa expectativa veio a ser frustrada pelo segundo dos comportamentos. Logo, de modo amplo, podese apontar que o venire se liga ao dever que o sujeito tem de não frustrar a 346 Antônio Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro, Da boa-fé no Direito Civil , p. 752. 384 expectativa que, em virtude do seu comportamento, foi criada pelo outro sujeito. Esse dever de não frustrar a expectativa para cuja criação se contribuiu, a partir de uma primeira conduta, como facilmente se percebe, pode ser inserido no dever acessório de lealdade. Só que esse contexto – dever de lealdade – ainda se encontra mais amplo do que o desejado, sendo necessário que façamos delimitação ainda mais precisa. Com efeito, já verificamos, ao examinarmos os deveres laterais das obrigações, que o dever de lealdade pode se manifestar de diversas formas: dever de não abandonar injustificadamente as negociações, dever de não fazer concorrência desleal com o outro sujeito (tanto no caso do empregado quanto no caso de alienação de um fundo de comércio), dever de prestar assistência, mesmo após a extinção do contrato em virtude do cumprimento, etc. Dessa forma, como já havíamos comentado superficialmente, linhas atrás, de modo mais específico, dentro do dever acessório de lealdade, a violação do mesmo que se mostra capaz de caracterizar o venire é aquela que viola a confiança de uma das partes de que o negócio seria concluído ou mantido em determinadas condições, confiança essa que se formou de modo legítimo, em um dos sujeitos, por ser a conclusão ou a manutenção das condições a conseqüência natural do anterior comportamento do outro agente347. Mas veja-se que essa ligação específica do venire contra factum proprium com a quebra da confiança, deixando-se de lado o enquadramento do mesmo no instituto mais amplo da boa-fé, é relativamente recente, tendo 347 De Los Mozos explica que a confiança tem sua origem em um dos aspctos da fides romana, mais especificamente a fidelidade, que se apresenta como um fundamento natural das relações humanas, dela derivando a confiança. José Luis de Los Mozos, El Principio de La Buena Fe, pp. 22. 385 sua origem nos estudos da doutrina alemã, já na segunda metade do século XX, mais especificamente nos estudos desenvolvidos por Canaris, conforme noticia Menezes Cordeiro348, esclarecendo o ilustre jurista português, contudo, que é possível a ocorrência de casos de venire nos quais não se tenha uma situação clara de violação da confiança 349. Temos, portanto, que haverá a caracterização do venire contra factum proprium sempre que um sujeito, comportando-se em contradição com o seu próprio comportamento anterior, frustrar a confiança que em virtude deste havia feito surgir no outro envolvido no negócio. Veja-se que essa delimitação mais precisa, saindo-se do campo amplo da frustração à boa-fé, para o campo mais claramente delimitado da quebra da confiança, torna mais clara e confiável a identificação do venire, pois fornece parâmetro mais preciso, e por isso mesmo mais capaz de emprestar consistência e segurança à identificação do venire em situações concretas, afastando ou pelo menos reduzindo a margem de subjetividade do julgador. Vejamos um exemplo, para o mais fácil entendimento dessas colocações acima. Vimos, retro (veja-se o item 2.3.2.1), exemplo no qual o empregador, embora ciente de que o seu empregado havia cometido falta grave, nada fez, abstendo-se de adotar qualquer medida punitiva em desfavor 348 Antônio Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro, Da boa-fé no Direito Civil , p. 742. Idem, ob. cit., p. 755, nota n° 413. O jurista se refere à situação onde uma pessoa, perante o tribunal arbitral, argüiu que a competência seria do tribunal comum; posteriormente, perante o tribunal comum, argüiu que havia sido firmado compromisso arbitral, e portanto a demanda deveria ser remetida para o juízo arbitral. Mas esclarece o mestre que essa situação só pode ser enquadrada como sendo hipótese de venire contra factum proprium se a este for dado um sentido amplo. Perante o nosso direito positivo, contudo, se por um lado é certo que tal comportamento violaria o dever de proceder com lealdade e boa-fé, expressamente imposto no artigo 14, II, do Código de Processo Civil, por outro lado, não nos parece que se concretize, aí, a figura do venire, mas sim a figura da litigância de má -fé, expressamente prevista no artigo 17, IV, do Código de Processo Civil, por estar a parte opondo resistência injustificada ao andamento do processo. Podemos apontar, no nosso direito positivo, situação semelhante à do exemplo mencionado por Menezes Cordeiro, e que se encontra expressamente vedada pela norma legal: trata-se da hipótese prevista no artigo 806, do Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho), que de modo explícito proíbe à parte a argüição de conflito de competência (conflito “de jurisdição”, na dicção legal), quando já houver oposto na causa a exceção de incompetência. 349 386 do mesmo. Ora, é pacífica a doutrina trabalhista ao afirmar que a fidúcia, ou seja, o elemento confiança, do empregador em relação ao empregado, é indispensável à manutenção do contrato de trabalho, e tanto assim que as hipóteses de justa causa são descritas pela doutrina como sendo casos nos quais o empregado agiu de modo a quebrar tal fidúcia. Assim, quando o empregador tomou conhecimento do ato faltoso, praticado pelo seu empregado, poderia ter sido quebrada essa fidúcia, se a falta foi grave o bastante para quebrá-la. No entanto, se o empregador, mesmo após tal descoberta, manteve o empregado no mesmo posto de trabalho, ou seja, se manteve intocado o contrato, tal comportamento leva a crer que a fidúcia não foi afetada, apesar da falta cometida, pois se tivesse sido, não faria sentido que o contrato de trabalho fosse mantido sem um de seus elementos naturais. Logo, essa omissão do empregador, que se constituiu no primeiro comportamento do mesmo, foi suficiente para gerar no empregado a confiança de que seu contrato será mantido, ou seja, de que em virtude daquela falta específica o mesmo não será desfeito por justa causa, e por isso não será admissível que esse empregador, posteriormente, venha a agir de modo a frustrar essa confiança, vale dizer, venha a se valer daquela falta grave, em relação à qual nada fizera, para depois dispensar o empregado por justa causa, quando este já tinha razões para acreditar que isso não mais ocorreria. No entanto, se o falar-se em “confiança” mostra-se adequado para a solução de um problema, qual seja o de maior precisão e segurança na identificação dos casos de venire, por outro lado, vem a gerar um outro obstáculo, que precisa ser desde logo superado, sob pena de emperrar todo o estudo do tema. 387 O problema é que até agora centramos nosso estudo na questão da boa-fé enquanto norma de conduta, ou seja, a boa-fé objetiva, imune a aspectos subjetivos como culpa, dolo, intenção, etc. Ora, nessas condições, como se poderá fazer para identificar a confiança, uma vez que esta se forma no íntimo do sujeito, ou seja, tem contornos nítida e predominantemente subjetivos? Não estaria essa busca de um elemento subjetivo subvertendo toda a estrutura doutrinária referente à boa-fé enquanto fonte dos deveres acessórios dos negócios jurídicos, ou seja, não se estaria a subjetivar um instituto que, para a finalidade do presente estudo, só interessa no seu aspecto objetivo? Na realidade, essa dificuldade é apenas aparente. Em primeiro lugar, pode-se com tranqüilidade apontar que não há subversão de coisa alguma, pois a análise objetiva da boa-fé é feita em relação ao sujeito que atua de modo contraditório, em seus dois comportamentos, e não em relação ao outro sujeito, no qual se forma a confiança. Dito de outro modo, o aspecto objetivo deve ser aferido no sentido de que, uma vez verificada a contradição do segundo comportamento, em relação ao primeiro, pouco importa se o sujeito que agiu dessa forma incoerente sabia da contradição, se a provocou intencionalmente ou pelo menos por sua culpa, etc. Todos esses detalhes são absolutamente irrelevantes, pois só o que interessa é que a contradição em si mesma tenha existido. Logo, podemos apontar que a objetividade da avaliação se refere ao agente dos comportamentos contraditórios, em relação ao qual serão desconsiderados os fatores de subjetivação, e não em relação ao agente confiante, vale dizer, aquele no qual foi criada a confiança como decorrência da conduta original do outro. 388 Em segundo lugar, pode-se também mencionar que, embora de fato haja a subjetivação, em relação ao “agente confiante”, nessa aferição do surgimento ou não da confiança, é possível aproximá-la de uma análise objetiva. Procede-se a essa aproximação de diversas formas. Assim, por exemplo, em vez de serem consideradas as características específicas do confiante, seu grau de instrução, sua crença religiosa, sua maior ou menor idade, etc., deve-se buscar fazer a análise em relação a uma pessoa mediana da sociedade. Em outras palavras, o que se deve perquirir é se, naquelas mesmas condições, seria razoável que uma pessoa normal, de inteligência mediana, acreditasse (confiasse), a partir do comportamento do outro sujeito, que o negócio seria celebrado ou mantido naquelas condições. Veja-se que, a não ser assim, seria praticamente impossível a aferição do surgimento – ou não – da confiança, pois teriam que ser levados em conta fatores que se mostram quase como impenetráveis, tais como a maior ou menor fé religiosa do confiante, a existência de uma intuição mais apurada do que a média, o grau de credibilidade no que é dito pelas demais pessoas, etc. O juiz, portanto, em um caso concreto, deve ignorar essas características pessoais que nos diferenciam uns dos outros, considerando um sujeito médio, comum. No exemplo apresentado acima, onde o empregador, embora ciente do grave ato faltoso cometido por seu empregado, não adotou qualquer medida punitiva, qualquer pessoa mediana, que estivesse no lugar do empregado, naquelas mesmas condições, ou seja, vendo o tempo passar sem que contra ele fosse adotada qualquer providência, justificadamente acreditaria que o empregador, apesar de conhecer a falta, decidira não aplicar ao empregado qualquer punição. Essa é a confiança capaz de assinalar a 389 ocorrência do venire contra factum proprium, aferida conforme os padrões médios da sociedade, vale dizer, conforme os padrões de normalidade. Nessa mesma linha de raciocínio, no exemplo que vimos acima (veja-se o item 2.3.2., b) na hipótese de separação judicial litigiosa com esteio no adultério ou em outra grave violação dos deveres do matrimonio, se mesmo após descoberta essa grave violação, o cônjuge inocente continua a conviver com o culpado, é de se imaginar que tal convivência ainda é possível, ou seja, que não se tornou impossível a vida em comum. Assim, dessa manutenção da vida em comum surge no cônjuge culpado, assim como surgiria em qualquer pessoa mediana, nos padrões de normalidade, a justa expectativa de que não haverá a ruptura da sociedade conjugal em virtude da atribuição de culpa, uma vez que tal ruptura pressupõe a impossibilidade da vida em comum, e no caso aparenta não haver tal impossibilidade. Dessarte, qualquer pessoa normal teria a confiança de que ainda será mantida a vida em comunhão, e por ter gerado essa confiança na manutenção dessa situação, ao concordar com a persistência da vida em comum mesmo após a descoberta da grave violação dos deveres conjugais, o cônjuge inocente não mais poderá, futuramente, valer-se dessa mesma violação para estear a separação litigiosa. Poderá separar-se de modo consensual ou com esteio em outra ocorrência que também se configure como grave violação dos deveres conjugais, mas não mais nesse fato que, mesmo depois de descoberto, não o afastou da vida em comum com o outro. Além disso, e também com forte traço de objetivação, em relação ao aspecto subjetivo da confiança, mostra-se importante o comportamento do “confiante”, adotado posteriormente ao primeiro dos comportamentos do sujeito que agiu de modo contraditório. Assim, se o primeiro dos comportamentos de um dos sujeitos (o factum proprium) faria com que um 390 sujeito médio acreditasse que o contrato seria fechado, e depois do mesmo o outro sujeito (o confiante) passou a efetuar despesas que não precisaria realizar, caso não fosse aperfeiçoada a avença, tem-se aí fortíssimo indício de que efetivamente houve o surgimento da confiança. Suponha-se, à guisa de exemplo, que as negociações diziam respeito à venda de um carro, e o vendedor se comportou de tal modo que levou o comprador a acreditar que o contrato seria efetivamente celebrado. O comportamento do vendedor foi de tal modo que qualquer pessoa normal acreditaria que de fato o pacto se aperfeiçoaria. O comprador, logo após essa conduta inicial do vendedor, mandou ampliar a garagem de sua casa, de modo a comportar mais um carro, e comprou acessórios automotivos que servem especificamente para aquele modelo que estava negociando com o vendedor. Todo esse conjunto de fatores permite uma avaliação esteada em elementos objetivos, extraídos da conduta de um dos sujeitos, mas de modo a aferir-lhe uma situação subjetiva, ou seja, se efetivamente houve a formação da confiança em que o negócio seria fechado. É que a idéia de inadmissibilidade do venire engloba a questão de ser inviável, salvo com a ocorrência de prejuízos, que o sujeito confiante simplesmente retorne à situação anterior, em virtude da não celebração do contrato ou da não manutenção das condições que esperava. Em outras palavras, o que se quer impedir é que o confiante, embora possa, material e juridicamente, retornar à situação anterior, tenha que arcar com os custos de fazê-lo, se isso decorre de injustificada contradição comportamental do outro sujeito, por isso que este é que deverá arcar com tais prejuízos. Mas algumas importantes observações devem ser feitas neste ponto. A primeira delas é que o surgimento da confiança se mostra indispensável, para que se possa caracterizar o venire contra factum proprium. 391 Logo, se por qualquer razão não houve a formação da confiança pelo sujeito, não se caracterizará o venire, pouco importando que uma pessoa normal, mediana, naquelas circunstâncias teria confiado no fechamento do contrato ou na manutenção de determinadas condições. Assim, por exemplo, no caso acima, referente à venda do veículo, suponha-se que, apesar do vendedor ter se comportado de modo tal que levaria qualquer pessoa mediana a acreditar que o carro lhe seria efetivamente vendido, o comprador, por alguma razão, não criou a expectativa de que tal venda seria realizada, ou seja, não teve no seu íntimo a formação da confiança. Neste caso, o eventual comportamento contraditório do vendedor, abandonando injustificadamente as negociações e desistindo da venda, não seria caracterizado como venire contra factum proprium. Além disso, essa confiança, ainda que tenha efetivamente surgido no íntimo do sujeito (o confiante), o que se pôde aferir, em um caso concreto, por exemplo, em virtude das despesas que esse sujeito realizou em função do negócio que esperava realizar, se a mesma decorre de excesso de ingenuidade ou de falta de diligência do confiante, em tais casos não se poderá falar em venire contra factum proprium. Nesse sentido foi que mencionamos, reiteradas vezes, o sujeito normal, mediano, ou seja, o sujeito que cria a expectativa quando a situação se mostra razoavelmente favorável a que a mesma seja criada, e que além disso tomou os cuidados necessários, para evitar que fosse ludibriado apenas em virtude de sua negligência. É que, em algumas situações, a própria lei cuida de estabelecer alguns requisitos de ordem prática, sendo certo que os mesmos se constituem em fatos que deverão ser atendidos para que se possa falar em surgimento da confiança. 392 Assim, suponha-se que dois sujeitos estão negociando a venda de um imóvel, sendo que o vendedor adotou comportamento tal que se mostrou suficiente para levar o comprador a acreditar que o negócio seria celebrado, ou seja, despertou no íntimo do comprador a confiança que se mostra necessária à caracterização do venire. O vendedor, por exemplo, pediu todos os dados do comprador para redigir a minuta do contrato, ou para redigir um contrato de promessa de compra e venda, referente ao imóvel. Posteriormente, no entanto, o vendedor simplesmente devolveu os documentos do comprador, sem maiores explicações, informando que o negócio não seria concretizado. Têm-se aí, aparentemente, todos os elementos necessários à caracterização do venire contra factum proprium. No entanto, suponha-se, ainda, que no caso em questão o imóvel não está e nunca esteve registrado em nome do vendedor, sendo que este não é e nunca foi o proprietário do mesmo, e nem ao menos está autorizado pelo proprietário a negociar a venda do bem. Ora, em tal caso, apesar de haver surgido a confiança no comprador, isso ocorreu em virtude da clara negligência do mesmo, que deixou de adotar um cuidado básico, indispensável a quem pretende comprar um imóvel, que é a aferição sobre a propriedade do bem, junto ao registro imobiliário, para verificar se está tratando com o proprietário ou, pelo menos, com a pessoa autorizada. Logo, em tal caso a confiança se formou sem qualquer embasamento que a justificasse, tratando-se de simples negligência do sujeito, e por isso não estará caracterizado o venire. Assim, em relação ao dever lateral que é violado, na caracterização do venire contra factum proprium, pode-se dizer, em resumo, que se trata da quebra da confiança que surgiu em um dos sujeitos em virtude do comportamento primário do outro, mas sendo que essa confiança precisa 393 ter surgido em uma situação na qual qualquer pessoa mediana, naquelas mesmas condições, também confiaria nas conseqüências jurídicas do negócio em questão. E, além disso, essa confiança não pode decorrer da ingenuidade ou do excesso de credulidade do confiante, bem como não pode ser decorrente de sua negligência, por ter deixado de tomar os cuidados necessários para a celebração dos negócios jurídicos daquela espécie. 2.3.2.4. Um conceito para o venire contra factum proprium. A partir desses elementos que caracterizam a ocorrência do venire contra factum proprium, acima examinados, já se mostra possível buscarmos um conceito abrangente, capaz de indicar com razoável precisão uma descrição para o instituto em questão. Assim, parece-nos que o venire pode ser conceituado como sendo uma seqüência de dois comportamentos que se mostram contraditórios entre si e que são independentes um do outro, cada um deles podendo ser omissivo ou comissivo e sendo capaz de repercutir na esfera jurídica alheia, de modo tal que o primeiro se mostra suficiente para fazer surgir em pessoa mediana a confiança de que um determinado negócio jurídico será concluído ou mantido em determinadas condições, enquanto o segundo vem a frustrar a legítima e razoável expectativa que havia sido criada no outro sujeito, sem que exista justificativa fática ou amparo legal que possa justificar a contradição entre os comportamentos e a conseqüente frustração da expectativa, sendo em tal caso irrelevante averiguar se houve dolo ou culpa do que agiu de modo contraditório. 2.3.3. Conseqüências jurídicas do venire contra factum proprium. 394 Vimos, até aqui, como se pode identificar, em uma situação concreta, a ocorrência do venire contra factum proprium. A etapa seguinte, portanto, consiste na aferição sobre quais são as conseqüências jurídicas dessa identificação, ou seja, o que fazer com os negócios jurídicos abrangidos pelo primeiro e pelo segundo dos comportamentos contraditórios. Esse exame, que agora se faz especificamente em relação ao venire contra factum proprium, já foi feito, linhas atrás, em relação às violações da boa-fé em geral (remetemos o leitor à leitura do item 1.9). Na realidade, ao longo do desenvolvimento feito nas linhas anteriores, apontamos diversas soluções diferentes, variando as conseqüências jurídicas conforme a situação específica de que se tratava. O problema é que não há possibilidade de se estabelecer uma solução única, devendo o juiz, em cada caso concreto, buscar a solução que melhor atenda aos interesses da parte prejudicada e sem que se constitua em ônus excessivo e desnecessário para o que agiu de modo contraditório, mas, ao mesmo tempo, também sem perder de vista que, em regra, existem ou podem existir normas de ordem pública, aplicáveis àquele caso concreto. É facilmente explicável o motivo da diversidade de soluções. É que a figura do venire, como já mencionamos diversas vezes, em última e ampla análise consiste na violação da conduta que era imposta em virtude da boa-fé, sendo que para a obediência a tal conduta devem ser observados deveres acessórios, e o venire se caracteriza pelo desrespeito de tais deveres. Ocorre que a conduta imposta pela boa-fé – e, em conseqüência, os deveres acessórios – só pode ser aferida na situação concreta, depois de observadas as peculiaridades de cada caso, não se podendo traçar previamente uma receita sobre qual seria tal conduta. 395 Ora, se a conduta esperada só pode ser aferida no caso concreto, então a violação dessa conduta terá conseqüências jurídicas que também só poderão ser aferidas em cada hipótese concreta, mesmo porque, como se mostra claro, o significado de “violar a conduta ditada pela boa-fé” não se mostra uniforme, variando para cada situação. Assim, o comportamento que em um caso concreto implica em violar a boa-fé objetiva, poderá ser perfeitamente válido em uma outra situação, e vice-versa. Da mesma forma, suponha-se que haja duas situações, as duas implicando em comportamentos que violam a boa-fé enquanto norma de conduta. Como se mostra evidente, conforme a hipótese que se examina, a violação da boa-fé poderá ser mais grave ou menos grave, e por isso poderá ser diversa a solução jurídica a ser adotada para cada uma delas. Assim, pode-se apontar que o balizamento a ser seguido como parâmetro, em cada caso concreto, será sempre a proteção da pessoa na qual surgiu a expectativa, a partir do primeiro comportamento, e cuja confiança veio a ser posteriormente quebrada, mas o modo pelo qual esse objetivo vai ser perseguido poderá variar de uma situação para outra. Com efeito, em algumas situações essa proteção à confiança se dará pela preservação dos efeitos jurídicos decorrentes do primeiro comportamento. Em outras, no entanto, essa preservação se mostrará impossível, e a proteção se dará mediante a estipulação de uma indenização. Em outras hipóteses, ainda, será necessário, para a proteção, que se afaste a aplicação de norma legal expressa, e assim por diante. Mas de qualquer modo deve ser destacado que a idéia básica, quando se examinam as conseqüências jurídicas do venire contra factum proprium, não é a manutenção do primeiro comportamento adotado pelo sujeito, ou dos seus efeitos jurídicos. O que de fato se busca, na realidade, é a 396 proteção da confiança surgida na outra pessoa, que de modo razoavelmente justificado acreditou que estaria perfeita essa primeira conduta. Agora, essa preservação da confiança pode se dar de variadas formas, inclusive pela preservação do primeiro dos comportamentos (ou dos seus efeitos jurídicos), sendo que não necessariamente isso ocorrerá. Tal preservação, portanto, como se vê, é meramente eventual, e não se confunde com a finalidade maior da rejeição do venire. Uma das possibilidades, que inclusive já foi por nós examinada, é a de que os efeitos jurídicos da ocorrência do venire consistam no afastamento das conseqüências da nulidade do negócio jurídico. Veja-se que não é a nulidade do negócio que estará sendo afastada, mas as suas conseqüências, ou seja, o negócio jurídico será nulo, nos termos determinados pela norma de ordem pública, mas essa nulidade, ao contrário do que seria o normal quando o negócio jurídico é nulo, deverá produzir os efeitos (ou pelo menos alguns deles) semelhantes aos de um negócio válido. Essa solução pode ser adotada em relação aos negócios jurídicos de efeitos continuados, ou seja, aqueles cuja execução e cujos efeitos se prolonguem no tempo, e a conseqüência jurídica será a produção dos efeitos em relação aos momentos que antecedem a declaração de nulidade, como meio de proteger o sujeito confiante, mas com o reconhecimento pleno da nulidade a partir de então. Em outras palavras, pode-se dizer que, em tal caso, a nulidade produzirá apenas efeitos ex nunc. Nessa situação se enquadra, por exemplo, a hipótese do menor de dezesseis anos, examinada linhas atrás, que foi contratado como empregado, sendo que o empregador, posteriormente, pretende invocar a nulidade absoluta da contratação (por infração ao artigo 7°, XXXIII, da Constituição Federal) em seu próprio favor, para furtar-se aos efeitos trabalhistas do contrato. Nesse 397 caso, será de fato declarada a nulidade absoluta do contrato, pois de fato o é, mas desse contrato de trabalho deverão decorrer, até o momento dessa declaração, todos os efeitos de um contrato válido. Assim, embora nulo o contrato, o empregador deverá pagar ao menor, ilegalmente contratado como empregado, as parcelas correspondentes ao aviso prévio, férias mais um terço, décimo terceiro salário, FGTS mais 40%, etc., ou seja, todas as parcelas que teria que pagar se a contratação tivesse sido válida. Veja-se que com essa solução, neste caso, consegue-se conciliar a obediência à norma legal, que preceitua a nulidade absoluta da contratação, com a proteção ao confiante, afastando a vantagem que o outro sujeito (o empregador) pretendia obter invocando sua própria conduta irregular. Outra situação onde poderia ser adotada solução semelhante, e que também já foi por nós examinada, é a do trabalhador contratado pela Administração Pública, sem que tenha sido previamente aprovado em concurso público de provas e títulos. Tal contrato, por força de disposição constitucional expressa (Constituição Federal, art. 37, § 2°), é nulo de pleno direito, mas apesar disso produzirá pelo menos alguns dos efeitos que decorreriam de um contrato validamente celebrado, como por exemplo o pagamento dos salários dos dias efetivamente trabalhados e o FGTS que sobre tais salários incide, nos termos da Súmula 363, do Tribunal Superior do Trabalho. Não é demais observar que, nos dois exemplos acima mencionados, verifica-se situação onde o negócio jurídico é nulo de pleno direito, mas apesar disso são produzidos efeitos jurídicos. No entanto, no primeiro dos exemplos são produzidos todos os efeitos de um negócio jurídico válido, enquanto no segundo são produzidos apenas alguns desses mesmos 398 efeitos. A diferença se encontra na qualificação dos interesses que se encontram contrapostos aos do sujeito confiante. No primeiro caso, trata-se dos interesses de um particular, o empregador, enquanto no segundo estão os interesses da Administração Pública, que acabam por envolver o interesse de toda a sociedade. Para maiores detalhes sobre essa divergência quanto à intensidade dos efeitos a serem produzidos, remetemos à leitura do item 1.7, retro, mas o que pode ser aqui destacado é que se aplica o princípio da proporcionalidade, fazendo-se um balanceamento dos interesses envolvidos e das conseqüências de se dar prevalência a um ou a outro deles. Outra solução possível, quando detectada a ocorrência do venire contra factum proprium, é o puro e simples afastamento da nulidade, ou seja, apesar do negócio jurídico ter sido celebrado em situação tal que a lei expressamente o fulmina com a nulidade absoluta, no caso em questão, suas peculiaridades, resultantes da conjunção do venire com a necessidade de proteção ao sujeito confiante, recomendam que não se declare a nulidade, mantendo-se o negócio como se fosse válido. Essa solução se mostra mais adequada aos negócios de execução instantânea, ou aqueles em relação aos quais, embora tenha havido uma dilação no tempo, o contrato já se esgotou por completo, e não seria possível a aplicação da solução acima alvitrada, ou seja, reconhecer os efeitos já produzidos mas declarar a nulidade daí para a frente, pelo simples fato de que, no caso, não existe mais qualquer efeito “daí para a frente”, eis que os efeitos que eram esperados do contratos já foram todos produzidos, e a discussão, na verdade, se limita em saber se serão mantidos ou se serão desfeitos. Nessa situação se enquadra, por exemplo, a hipótese que examinamos, referente à venda de um imóvel, feita por um vendedor absolutamente incapaz, em virtude de deficiência mental, mas em condições 399 que seriam as normais para os negócios daquela espécie, inclusive quanto ao preço ajustado, e sendo ainda que o comprador não conhecia o vendedor e não tinha qualquer razão para saber sobre sua incapacidade. Constatada a ocorrência do venire, embora o negócio seja nulo de pleno direito, nesse caso poderão ser produzidos os efeitos normais da compra e venda, ou seja, será transferida a propriedade para o comprador. E a mesma solução também pode ser aplicada em relação ao negócio jurídico onde houve vício formal, causado pelo próprio sujeito que depois busca a sua nulidade. Ora, apesar do vício formal, de fato, gerar a nulidade absoluta do negócio jurídico, nos termos do artigo 166, IV, do Código Civil, nessa situação, a caracterização do venire leva a que, para proteção do sujeito confiante, sejam mantidos os efeitos do negócio jurídico, como se o mesmo tivesse sido válido. Convém, neste ponto, que façamos um breve desvio do exame das conseqüências jurídicas da ocorrência do venire contra factum proprium e da gama de soluções possíveis, quando detectada tal ocorrência. É que nessas duas primeiras soluções alvitradas, em ambas a solução apontada resulta no afastamento da incidência de texto legal expresso. Com efeito, na primeira linha de solução foi preconizado o abandono das conseqüências da nulidade do negócio jurídico, ou seja, embora se reconheça tal nulidade, são mantidos os efeitos do negócio, o que parece contrariar o que se encontra expressamente disposto no artigo 182, do Código Civil, que determina que as partes sejam devolvidas ao estado anterior, e por isso inclui o desfazimento dos efeitos. Na segunda das soluções possíveis que apontamos, por sua vez, foi indicado o afastamento da nulidade, como se o negócio fosse válido, apesar de que, em um deles, o agente (o vendedor) era absolutamente incapaz, 400 enquanto no outro havia a desobediência à forma imposta pela lei, por isso que o afastamento da nulidade, em tais casos, parece infringir o que se encontra expressamente disposto nos incisos I e IV, ambos do artigo 166 do Código Civil, e que declaram a nulidade absoluta do negócio jurídico precisamente nessas hipóteses de incapacidade absoluta do agente e de não atendimento à forma prevista na lei. Cabe, por isso, investigar se é possível adotar tais soluções, uma vez que existem normas expressas dispondo em sentido contrário ao que ambas parecem indicar. Não seriam essas soluções, portanto, caso de inaceitável descumprimento da lei? A resposta que se impõe, na realidade, é a negativa. Ora, é evidente que não se pode pinçar a norma legal que estipula a nulidade do negócio jurídico quando o agente é absolutamente incapaz ou quando não foi obedecida a formalidade imposta pela lei (art. 166, do Código Civil), isolando-a das demais normas que constam do ordenamento jurídico. Em outras palavras, não é possível a interpretação de um texto legal isolado, considerado sozinho, em apartado das demais normas que compõem o sistema. Logo, o que se deve sempre buscar, como se sabe, é a interpretação do sistema como um todo, como um conjunto harmônico de normas jurídicas, não sendo aceitável o exame isolado de apenas uma dessas normas, destacada do todo. Ora, quando se considera o sistema como um todo, como já mencionamos linhas atrás (veja-se o item 2.3.2.2), encontramos, dentro dele, normas que são aparentemente contraditórias entre si, mas que na verdade podem e devem ser harmonizadas pelo operador do direito, conforme as peculiaridades de cada situação concreta. No entanto, quando se dá prevalência a uma dessas normas, por ser essa a solução recomendada pelas peculiaridades do caso concreto, isso não significa que a outra estará sendo 401 descumprida, mas sim que estará recebendo uma interpretação sistemática, capaz de harmonizá-la com as demais normas do sistema, e tal interpretação, no caso, recomenda a sua não aplicabilidade. Assim, por exemplo, se por um lado encontramos no sistema o artigo 166, do Código Civil, que estabelece a nulidade absoluta do negócio jurídico – e, portanto, a sua falta de efeitos jurídicos – quando não foi atendida a exigência legal quanto à forma, por outro lado, encontramos nesse mesmo sistema a regra insculpida no artigo 422, do mesmo Código Civil, que se apresenta como uma necessidade de observação de uma conduta conforme os ditames da boa-fé. Desse modo, casos haverá – como nos exemplos apresentados – nos quais o comportamento do sujeito poderá ser subordinado ao artigo 166 ou ao artigo 422, sendo que a prevalência de um desses dois dispositivos provocará o afastamento do outro, por se mostrarem inconciliáveis no caso concreto. Desse modo, se o negócio for considerado nulo, sendo afastada a produção das conseqüências jurídicas que lhe seriam naturais, estará sendo obedecida a regra do artigo 166, mas estará sendo admitido um comportamento que não se coaduna com os ditames da boa-fé objetiva, ou seja, estará sendo descumprido o artigo 422. E vice-versa, ou seja, se for rejeitada a conduta do sujeito que não se coaduna com as regras ditadas pela boa-fé objetiva, estará sendo obedecido o artigo 422, do Código Civil, mas por outro lado, estará sendo desatendido o artigo 166, do mesmo diploma legal. Em qualquer das hipóteses, portanto, caberá ao operador do direito, nas circunstâncias peculiares a cada um dos casos concretos, verificar qual dos dois dispositivos deve receber prioridade de aplicação, e qual deles deve ser afastado. E isso não significará, de modo algum, que um dos dispositivos esteja sendo violado, mas apenas que, na sua consideração como 402 parte de um sistema, ao ser cotejado com outra norma também aplicável, em tese, à mesma situação, tal dispositivo não se adequou às características da hipótese concreta, e por isso não encontra aplicação. Trata-se, em síntese, de uma solução sistemática para a problemática concreta, e não de uma solução contra legem. Prosseguindo nessa busca de soluções possíveis, podemos agora apontar, em uma terceira linha de raciocínio, que em outros casos, no entanto, é possível que não seja recomendável a manutenção de qualquer dos efeitos jurídicos decorrentes do primeiro dos comportamentos, devendo todos ser desfeitos, em virtude do segundo comportamento, cujo objetivo foi precisamente o de desfazer os efeitos do primeiro. Nesse caso, portanto, não se mostrando conveniente a preservação do primeiro comportamento, a solução poderá ser dada através da indenização dos danos causados ao outro sujeito, em virtude da quebra da confiança do mesmo. Isso acontece, por exemplo, em relação aos atos da Administração Pública, quando o segundo comportamento é ditado por razões de conveniência pública. Suponha-se, por exemplo, que o governo federal tenha autorizado a exploração de máquinas de jogos eletrônicos, tais como videopôquer e outras similares. Uma vez autorizada a exploração, também foi autorizada a importação e a venda dessas máquinas. Com base nessas medidas tomadas pela Administração Pública federal, alguns empresários investiram grandes somas na importação das mencionadas máquinas e na construção de lugares adequados à sua utilização pelo público pagante em geral. Poucos meses depois, contudo, diante da grande pressão feita por alguns setores organizados da sociedade civil, o governo federal volta atrás e decide proibir não apenas a importação e a venda das máquinas de jogos eletrônicos, mas também a sua exploração. Ora, é evidente que essa segunda 403 medida, a proibição, mostra-se em absoluta e inconciliável contradição com a primeira, a autorização para a importação e exploração, e frustra a expectativa dos empresários que, acreditando na liberação inicialmente feita pelo governo, investiram grandes somas de dinheiro na compra das máquinas e na preparação dos lugares onde o público pagante poderia ter acesso às mesmas. Caracteriza-se, portanto, de modo claro, o venire contra factum proprium. No entanto, parece também evidente que, em tal caso, a proibição se deu em virtude da discricionariedade do Administrador Púb lico, que entendeu que dessa forma estaria melhor atendendo aos interesses da sociedade como um todo, e por isso não poderão prevalecer os interesses dos particulares, vale dizer, dos empresários confiantes. Logo, a proibição atingirá, de imediato, todos os empresários, não se podendo abrir exceção para aqueles que realizaram investimentos quando ainda estava vigendo a liberação inicial, caso contrário o interesse público estaria sendo afastado para que prevalecesse o interesse dos particulares. Nessa situação, portanto, a melhor solução a ser dada ao caso concreto não será a preservação do comportamento inicial, ou seja, não será a manutenção da autorização para a importação e para a exploração das máquinas, mas sim a condenação do governo federal ao pagamento da indenização cabível, de modo que se possa proteger os empresários confiantes através da indenização dos seus prejuízos, e não da preservação do ato revogado. Veja-se que no exemplo acima, referente às máquinas de jogos, o primeiro comportamento foi simplesmente desprezado porque o segundo era o que melhor atendia à conveniência pública, conforme a apreciação discricionária da Administração Pública, e por isso a proteção ao outro sujeito, o confiante, foi resolvida mediante a indenização das perdas e danos. No 404 entanto, é possível que essa mesma solução, ou seja, mediante a indenização dos prejuízos, venha a ser adotada em virtude da impossibilidade de ser preservado o primeiro comportamento, e não em virtude da conveniência pública. Essa seria a hipótese, por exemplo, do abandono injustificado e abusivo, por um dos sujeitos, das negociações preliminares, ainda na fase précontratual, depois de ter induzido o outro a acreditar que o contrato seria efetivamente celebrado, sendo que, logo após o abandono, o sujeito torna impossível a celebração desse mesmo contrato. Vejamos um exemplo, para melhor compreensão. Suponha-se que estavam em curso, entre dois sujeitos, as negociações referentes à venda de um determinado imóvel, sendo que o vendedor adotou uma conduta tal que levou o comprador a confiar que o negócio seria efetivamente celebrado entre eles. O vendedor, por exemplo, pediu que o comprador desde logo redigisse a minuta do contrato e ambos combinaram acerca do comparecimento ao Cartório, para a lavratura da escritura pública. Só que o vendedor desistiu do negócio e recusou-se a comparecer ao Cartório. Logo em seguida, esse mesmo vendedor alienou, a título oneroso, o imóvel para outra pessoa, que de nada sabia sobre essas negociações que haviam sido feitas com o primeiro sujeito, sendo que o comprador, após ter sido lavrada a escritura pública, providenciou o imediato registro da mesma junto ao Cartório do Registro Imobiliário. Nesse caso, é bastante clara a ocorrência do venire contra factum proprium, pois o vendedor, ao adotar um venire (a desistência injustificada em relação ao fechamento do negócio) que se mostra inconciliável com seu factum proprium, quebrou o dever de lealdade, frustrando a confiança que o comprador havia firmado em relação ao fechamento do negócio. No entanto, 405 ao vender para terceiro de boa-fé esse mesmo imóvel que estava sendo negociado, o vendedor impossibilitou que se pudesse cogitar da atribuição judicial de efeitos jurídicos ao primeiro comportamento, ou seja, impediu que o quase-comprador pudesse buscar judicialmente a conclusão do negócio, e por isso a solução, forçosamente, se dará mediante a estipulação de uma indenização em favor do comprador confiante. Uma quarta linha de solução, que também pode ser adotada, é a de forçar-se o sujeito que quebrou a confiança à celebração do negócio jurídico que o outro sujeito, legitimamente, confiava que viria a ser celebrado. Mas essa solução, como se mostra evidente, só pode ser adotada se não houver qualquer impossibilidade a impedir esse aperfeiçoamento do negócio, como ocorreu no exemplo visto no parágrafo anterior, onde um fato superveniente e incontornável (a alienação para um terceiro) tornou impossível que se buscasse a concretização do negócio frustrado. Essa foi a solução (forçar a celebração do negócio) adotada em um rumoroso caso concreto350, no qual uma grande fábrica de extrato de tomate, todos os anos, distribuía aos produtores rurais de uma determinada região, próxima às instalações fabris, sementes de tomate, para que fossem plantadas, e na época da colheita essa mesma fábrica comprava toda a safra, pois os tomates eram a matéria-prima usada no seu produto. Em um determinado ano, contudo, depois de ter distribuído as sementes, como vinha fazendo em todos os anos, após a colheita da safra, a fábrica simplesmente recusou-se a comprar a produção dos agricultores, alegando que havia sido detectada uma redução no consumo, e que por essa razão precisaria também reduzir a sua produção, não sendo necessária a aquisição de todos aqueles tomates colhidos. 350 Cf. Judith Martins-Costa, A boa-fé no Direito Privado, pp. 473 e ss. 406 De tal situação, percebe-se com facilidade que o primeiro comportamento (o factum proprium), ou seja, a distribuição das sementes, foi contrariado pelo segundo (o venire), a recusa quanto à compra da safra, sendo certo que a partir da primeira conduta, levando-se em conta, inclusive, o histórico dos negócios jurídicos celebrados entre a fábrica alimentícia e os produtores rurais, estes confiaram, justificadamente, que toda a sua produção seria comprada pela fábrica em questão, e essa confiança foi quebrada, não tendo os produtores a quem vender todo o tomate colhido. Caracterizado está, portanto, o venire contra factum proprium. Não é demais lembrar, no sentido da observação já tantas vezes feita, que ainda que fosse verdade o motivo alegado pela fábrica, ou seja, ainda que efetivamente tivesse havido uma retração no consumo, para a caracterização do venire o que interessa é a conduta em si mesma, e não a sua motivação. Assim, se a conduta posterior do fabricante de extrato de tomate veio a se mostrar contraditória, em relação à conduta anterior, sendo que tal contradição quebrou a confiança gerada, é absolutamente irrelevante o motivo dessa segunda conduta, pois de qualquer modo estará caracterizado o venire contra factum proprium. A solução, em tal caso, que se mostra mais adequada, é a imposição, ao fabricante do extrato de tomates, da compra de toda a produção. Mas veja-se que, neste caso, o estabelecimento de uma indenização, a ser paga pelo fabricante em favor dos produtores rurais, englobando inclusive o lucro cessante, atenderia de modo adequado a proteção dos mesmos, mas não seria a melhor das soluções possíveis. Com efeito, como já comentamos linhas atrás, o que se deve buscar é a proteção que melhor atenda aos interesses do sujeito confiante, que se viu prejudicado, mas sem que se imponham ônus excessivos e desnecessários ao outro sujeito. 407 Logo, nessas condições, embora o puro e simples estabelecimento de uma indenização viesse a satisfazer os prejuízos sofridos pelos produtores, constituir-se-ia em desnecessário ônus para o fabricante, por isso que a imposição da conclusão do negócio, ao mesmo tempo em que proveria aos produtores prejudicados o pagamento que efetivamente esperavam obter com o negócio da venda dos tomates, permitiria ao fabricante, comprador forçado, ficar com a produção, para usá-la como e quando melhor lhe conviesse. Mas é evidente que se a conclusão do negócio se mostrasse impossível, por fato imputável ao fabricante, nesse caso, como já vimos poucas linhas atrás, a única solução possível seria efetivamente o estabelecimento de uma indenização. Seria o caso, por exemplo, de em virtude da demora na tramitação do processo judicial, ajuizado em face da recusa injustificada do fabricante em adquirir a produção dos tomates, estes tivessem apodrecido, sendo agora imprestáveis para qualquer coisa. Neste caso, a impossibilidade da aquisição dos tomates teria ocorrido em decorrência de fato atribuível ao fabricante, qual seja a recusa na aquisição dos tomates, e por isso simplesmente se resolveria mediante indenização. Uma outra possibilidade de efeitos jurídicos dos comportamentos inadmissivelmente contraditórios, dentro dessas múltiplas soluções que estamos examinando, seria a proibição de que o sujeito pudesse buscar proveito em virtude de situação anteriormente provocada por sua própria atuação dolosa. Assim, se a pessoa que se beneficiaria com a implementação de uma condição, maliciosamente vier a forçar o seu implemento, tal pessoa não se poderá valer de sua própria malícia, pois a lei determina que, em relação ao negócio jurídico em questão, a condição seja considerada como se não tivesse sido implementada. Por outro lado, se a pessoa que seria desfavorecida pelo 408 implemento da condição vier a, de modo malicioso, obstaculizar o seu implemento, para fins desse negócio jurídico a condição será havida como implementada. Ambas as hipóteses estão previstas no artigo 129, do Código Civil. Veja-se que, nesses casos, atentaria contra a conduta imposta pela boa-fé que o sujeito, após ter agido dolosamente para provocar uma certa situação que lhe interessava (o implemento de uma condição ou, ao contrário, o impedimento de que a mesma fosse implementada), pudesse invocar em seu favor a sua própria atuação dolosa, e por isso tal hipótese foi taxativamente rejeitada pela norma legal. Contudo, as situações descritas, referentes à condição, melhor se encaixam na figura do “Tu quoque”, e por isso serão examinadas logo adiante, quando fizermos a abordagem desse referido instituto. Como se viu, portanto, nos parágrafos anteriores do presente item, há uma enorme diversidade de soluções possíveis, podendo haver grande variação de um caso concreto para o outro. E o motivo dessa existência de uma ampla gama de soluções, em reforço ao que já foi dito anteriormente, pode ser encontrado no fato de que, em cada situação da vida real e concreta, não se buscará, como objetivo primordial, a repressão à má-fé de um sujeito, mas sim a proteção à boa-fé do outro (veja-se, a respeito, o que dissemos logo no começo do item 1.9), ou seja, o que serve como balizamento e parâmetro para o juiz é a busca da proteção ao prejudicado, mas ao mesmo tempo sem que haja prejuízo excessivo e desnecessário para o outro – e, eventualmente, ainda com atenção para o interesse público porventura envolvido no caso concreto. Logo, pode-se com tranqüilidade concluir que a solução a ser adotada sempre terá que seguir esses vetores acima mencionados, ou seja, a 409 proteção à boa-fé do sujeito como base, e o não prejuízo excessivo para o outro como complemento. Por isso, é claro que as medidas necessárias ao atendimento dessas orientações não se mostram uniformes, pois terão que ser variáveis e adaptáveis aos interesses do beneficiário a serem protegidos em cada uma situação concreta. Ora, podendo haver uma enorme variedade de interesses a serem protegidos, é evidente que terá que haver, simetricamente, uma enorme variedade de medidas de proteção. 2.4. Tu quoque. A figura em exame está ligada ao mesmo vetor axiológico que orienta o brocardo segundo o qual ninguém será ouvido quando invocar em seu favor a sua própria torpeza. De modo mais específico, se um sujeito violou uma determinada norma jurídica (que pode ser legal ou contratual), não lhe será possível que, posteriormente, venha a pretender exercer a mesma situação jurídica que essa norma lhe havia atribuido, pois é intuitivo que fere de morte a ética que uma pessoa possa desrespeitar um comando normativo e, ao depois, vir a pretender exigir que terceiros acatem esse mesmo comando por ela desrespeitado351. Veja-se que haveria evidente incoerência entre esses dois momentos da atuação do sujeito, o em que ele desrespeitou a norma e o em que ele pretende que outro venha a cumpri-la. Tendo em vista essa contradição acima mencionada, o tu quoque, aparentemente, nada mais seria do que um caso particular de venire contra factum proprium, que se caracterizaria pelo fato de que a contradição entre o primeiro e o segundo comportamentos ocorrem da seguinte forma: o factum proprium consiste numa atuação irregular do sujeito, sendo que o venire se 351 Antônio Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro, Da boa-fé no Direito Civil , p. 837. 410 concretiza no fato de que, posteriormente, esse mesmo sujeito tenta tirar proveito de sua própria atuação irregular. Aliás, a expressão significa, literalmente, algo como “até tu”, indicando a supresa pelo fato de que alguém tente se beneficiar de sua própria irregularidade no agir 352. Há, portanto, uma incoerência capaz de permitir a aproximação entre esta figura e o venire contra factum proprium. De fato, essa semelhança acentuada tem levado alguns autores a apontar que o venire e o tu quoque mantêm entre si uma relação de gênero e espécie, ou seja, o tu quoque seria uma subespécie do venire, sendo este o gênero e aquele a espécie. Nesse sentido as opiniões de Anderson Schreiber353 e Cristiano Chaves de Farias354. Na realidade, em que pese o alto gabarito dos autores mencionados, parece-nos que estão ambos equivocados, pois embora as semelhanças entre os institutos, de fato, existam, é certo que existe diferença de tal monta que impede essa assimilação de um pelo outro, como veremos logo adiante, podendo desde logo adiantar que a essência do venire repousa na proteção à boa-fé, enquanto o cerne do tu quoque se encontra na repressão à má-fé, diferença que por si só os torna inconfundíveis, embora existam algumas situações que podem ser enquadradas em qualquer das duas figuras, 352 Cristiano Chaves de Farias, Direito Civil – Teoria Geral, p. 478. Anderson Schreiber, A Proibição de Comportamento Contraditório – Tutela da confiança e venire contra factum proprium, pp. 177-178. O ilustre autor, em nota de rodapé, aponta que Menezes Cordeiro cogita dessa hipótese, ou seja, de que o venire seria o gênero e o tu quoque a espécie, e também da hipótese contrária, ou seja, de que o tu quoque seria o gênero, e o venire a espécie, vale dizer, este seria um subtipo daquele (p. 177, nota n° 292). Concessa venia, está equivocado o ilustre autor, uma vez que o festejado jurista português, embora de fato aponte essa possibilidade de que o venire e o tu quoque estejam um para o outro como um tipo e seu subtipo (p. 843), fá-lo apenas para fins de contraste com as idéias que sustenta logo em seguida, na mesma página 843 de sua obra, onde defende que mesmo que se adote uma concepção ampla do venire (o que aponta não ser recomendável), as especificidades do tu quoque são de tal ordem que não permitem a integração coerente e produtiva com o venire. A lém disso, aponta o ilustre autor do além-mar que no tu quoque não se faz necessária uma situação de confiança como a que informa o venire contra factum proprium. Cf. Antônio Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro, Da boa-fé no Direito Civil , p. 843. 354 Cristiano Chaves de Farias, Direito Civil – Teoria Geral, p. 478. 353 411 uma vez que, simultaneamente, ocorre um comportamento contraditório (o que permitiria a qualificação como hipótese de venire), ao mesmo tempo em que a contradição se revela como reprovável e inaceitável má-fé do agente, o que faz com que seja mais adequado o enquadramento na figura do tu quoque. De modo mais amplo, pode-se dizer que, em termos jurídicos, o tu quoque se caracteriza pela mudança de valoração em relação à mesma situação, ou seja, o sujeito, diante de duas situações idênticas, adota dois critérios valorativos completamente distintos, ou seja, vale-se da “utilização de dois pesos e duas medidas” 355. Ou, nas palavras de Menezes Cordeiro, na figura do tu quoque “a contradição não está no comportamento do titularexercente em si, mas nas bitolas valorativas por ele utilizadas para julgar e julgar-se” 356. Veja-se que nessa descrição mais ampla, feita no parágrafo anterior, enquadra-se perfeita e completamente aquela que foi feita no parágrafo que dá início a este item, ou seja, no caso da pessoa que primeiramente se comportou de uma certa forma, em relação a uma norma jurídica, vale dizer, desconsiderou-a, sendo que, posteriormente, tentou valorizar essa mesma norma, buscando proteção nas regras que ela contém. Hipótese na qual, no nosso entender, caracteriza-se a figura do tu quoque, é aquela na qual o sujeito, maliciosamente, força o implemento da condição que o favorece ou, ao contrário, impede o implemento da condição que o desfavorece (CC, art. 129). Vejamos um exemplo. Suponha-se que A fez em favor de B uma doação com cláusula de reversão, ou seja, com a 355 Antônio Junqueira de Azevedo. Interpretação do contrato pelo exame da vontade contratual. O comportamento das partes posterior à celebração. Interpretação e efeitos do contrato conforme o princípio da boa-fé objetiva. Impossibilidade do venire contra factum proprium e de utilização de dois pesos e duas medidas (tu quoque). Efeitos do contrato e sinalagma. A assunção pelos contratantes de riscos específicos e a impossibilidade de fugir do “programa contratual” estabelecido. Revista Forense – v. 351, p. 279. 356 Antônio Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro, Da boa-fé no Direito Civil , p. 843. 412 previsão de que se o doador A sobrevivesse ao donatário B, o bem doado retornaria ao patrimônio do primeiro (CC, art. 547). Nessas condições, estando A muito doente, prestes a morrer (o que afastaria a possibilidade de implemento da condição), o filho de A, na iminência de ver o bem doado definitivamente fora do seu alcance, mata o donatário B, forçando dolosamente o implemento da condição (o donatário morreu antes do doador). Se esse filho de A pretender se beneficiar da situação que ele mesmo criou, ou seja, pretender que o bem doado retorne ao patrimônio de seu pai para, logo em seguida, quando este morrer, passar para o seu próprio, parece-nos que caracterizado estará o tu quoque, ou seja, a busca de autofavorecimento em virtude da própria atuação irregular. E é por essa razão que o artigo 129, do Código Civil brasileiro, determina expressamente que, nesse caso, a condição resolúvel será considerada como não tendo sido implementada. Nesse mesmo caso de doação com cláusula de reversão, pode-se ainda supor a situação inversa, ou seja, é o donatário B quem se encontra em delicada situação de saúde, podendo morrer a qualquer instante, o que equivalerá ao implemento da condição, com o retorno do bem doado ao patrimônio do doador A. Para evitar que isso aconteça, o filho de B mata o doador A, e assim impede que a condição possa vir a ser implementada (o doador foi quem morreu antes do donatário). É evidente que, nessa situação descrita no parágrafo anterior, o filho de B não poderá pretender ser favorecido em virtude da situação que ele mesmo, dolosamente, provocou com sua atuação ilegal, ou seja, não poderá pretender receber o bem doado como parte da herança de seu pai, quando este vier a falecer, e é por isso que o Código Civil, no mesmo artigo 129, manda 413 que, em relação ao filho de B, a condição seja considerada como tendo sido implementada. A mesma opinião é sustentada por Menezes Cordeiro que, comentando o artigo 275 357, do Código Civil português, cuja alínea 2 é idêntica ao artigo 129 do Código Civil brasileiro, aponta que “no Código Civil [português], a regra-mãe do tu quoque tem consagrações dispersas múltiplas. O beneficiário da condição não pode aproveitar-se da sua verificação quando, contra a boa-fé, a tenha provocado; o prejudicado não pode, da mesma forma, beneficiar da não verificação quando, contra a boa-fé, a tenha impedido – art. 275°/2” 358. E, da mesma forma que ocorre no Código Civil português, também no Código Civil pátrio podemos encontrar, dispersas, várias situações que, na realidade, se constituem em aplicação da figura do tu quoque. Só que, em tais casos, como é evidente, não deverá o operador do direito valer-se da figura em exame (salvo como eventual reforço argumentativo), uma vez que já existe disposição legal expressa tratando do tema (veja-se, a respeito, o que dissemos no item 2.3.2.1.c). Assim, por exemplo, quando o artigo 105, do Código Civil brasileiro, esclarece que a incapacidade relativa de uma das partes não poderá ser invocada pela outra, em proveito próprio, nada mais está fazendo do que aplicar concretamente o tu quoque. Com efeito, veja-se que se um dos sujeitos, sendo plenamente capaz, negociou com outro, incapaz relativo, diretamente, ou seja, sem que tivesse havido a assistência pelo representante legal (e sem que se trate da 357 358 ARTIGO 275º (Verificação e não verificação da condição). 1. A certeza de que a condição se não pode verificar equivale à sua não verificação. 2. Se a verificação da condição for impedida, contra as regras da boa fé, por aquele a quem prejudica, tem-se por verificada; se for provocada, nos mesmos termos, por aquele a quem aproveita, considera-se como não verificada. Antônio Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro, Da boa-fé no Direito Civil , pp. 837-838. 414 ocultação maliciosa da idade, prevista no art. 180, do Código Civil), violou a norma legal que trata dos requisitos de validade do negócio jurídico (artigo 104, do Código Civil). Logo, não poderá posteriormente pretender invocar essa violação, que por ele mesmo foi cometida, para pretender beneficiar-se com a anulaçao do negócio viciado, mesmo porque o instituto da incapacidade tem como finalidade clara a proteção do incapaz, e não a da pessoa que com o incapaz negociou. Da mesma forma, quando o nosso Código Civil prevê a possibilidade de exclusão por indignidade do herdeiro que foi o autor, co-autor ou partícipe de homicídio doloso contra o de cujus (art. 1.814, I), está dando aplicação prática à regra do tu quoque, pois não faria o menor sentido, ferindo frontalmente a ética, que a própria pessoa que contribuiu para a morte do titular do patrimônio venha a se beneficiar dessa mesma morte, apresentandose como herdeiro do falecido e recolhendo seu quinhão hereditário no patrimônio que o mesmo deixou. E o mesmo raciocínio, ainda em tema de exclusão do herdeiro por indignidade, poderia ser apresentado em relação ao que impediu o de cujus de dispor livremente dos seus bens (art. 1.814, III). Especificamente em relação aos contratos, facilmente pode-se imaginar a ocorrência da figura do tu quoque. Imagine-se, por exemplo, que um dos contratantes deixou de cumprir o seu dever lateral de informação, não transmitindo ao outro a orientação precisa sobre o lugar onde a coisa devida teria que ser entregue. Posteriormente, não tendo ocorrido a entrega, pretende o credor que seja reconhecida a mora do devedor, e receber deste a indenização correspondente ao inadimplemento contratual. Ora, é evidente que o contratante que violou de modo significativo a norma contratual não poderá pretender, ao depois, exigir do outro o cumprimento rigoroso desse mesmo contrato. 415 Enquadra-se na figura do tu quoque, como é evidente, a chamada exceção do contrato não cumprido, ou seja, quem não cumpriu a sua prestação, no contrato sinalagmático, não poderá exigir que a parte contrária cumpra a sua contraprestação359. No entanto, deve-se ter cuidado com o alcance de tal afirmação. Começamos por observar que, no parágrafo anterior, nos reportamos a uma violação qualificada do contrato, ou seja, a uma violação que se mostre significativa. É que nem toda violação de uma obrigação, por um dos contratantes, terá o condão de liberar o outro do cumprimento de sua própria prestação, só ocorrendo tal liberação quando essa primeira violação tiver afetado a estrutura sinalagmática, ou seja, tiver afetado o equilíbrio das prestações recíprocas, como bem aponta Menezes Cordeiro 360. E o ilustre autor português exemplifica, na mesma obra e local citados, narrando o seguinte caso concreto, apresentado diante dos tribunais alemães. Os autores firmaram com o réu um contrato, do qual constava que iriam construir um imóvel residencial, constando do contrato, ainda, a opção de compra do imóvel, pelos autores. Para fins de experiência, quanto à moradia no imóvel, os autores poderiam ocupá-lo, como locatários, pelo prazo de três anos, sendo que o locador poderia rescindir o contrato a qualquer tempo, se houvesse uma causa que o justificasse. No momento da celebração do contrato, ajustou-se provisoriamente que os autores pagariam, pela aquisição, a quantia de 4 mil marcos alemães, sendo o valor definitivo deixado para fixação posterior, conforme os custos da construção. 359 Antônio Junqueira de Azevedo. Interpretação do contrato pelo exame da vontade contratual. O comportamento das partes posterior à celebração. Interpretação e efeitos do contrato conforme o princípio da boa-fé objetiva. Impossibilidade do venire contra factum proprium e de utilização de dois pesos e duas medidas (tu quoque). Efeitos do contrato e sinalagma. A assunção pelos contratantes de riscos específicos e a impossibilidade de fugir do “programa contratual” estabelecido. Revista Forense – v. 351, p. 280. 360 Antônio Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro, Da boa-fé no Direito Civil , p. 845. 416 Dois anos depois, o locador (réu) informa aos locatários (autores) que o valor definitivo, a ser por eles pago, é no valor de 8.253,68 marcos alemães, sendo que os locatários impugnam tal valor e pedem informações sobre como o mesmo foi apurado. O locador, sem responder, limita-se a perguntar se os locatários pagariam a quantia, e agora são os locatários que não respondem. O locador, então, rescinde o contrato, alegando que os rendimentos e as possibilidades de crédito dos locatários (dados que eram por ele conhecidos), não possibilitariam o pagamento da quantia necessária para a aquisição, e que isso era um fato importante, pois não faria sentido manter-se uma experiência que se destinava à aquisição do imóvel, se já estava caracterizado que tal aquisição não teria como ocorrer. Os locatários, então, ajuízam ação na qual sustentam que o locador havia descumprido sua obrigação de prestar informações, ao não esclarecer sobre o modo de apuração do montante a ser pago, e que por isso não poderia rescindir o contrato em virtude da suposta impossibilidade do mesmo vir a ser cumprido por eles, o que caracterizaria o tu quoque. O tribunal, no entanto, considerando como provada a impossibilidade dos autores adquirirem o referido imóvel, entendeu que, apesar de realmente ter havido o descumprimento contratual pelo locador, a falta de informação não chegou a perturbar a estrutura sinalagmática do contrato, pois ainda que tivesse sido cumprido esse dever de informar, de qualquer modo os locatários continuariam sem ter meios para a aquisição do prédio. Tais circunstâncias impediriam a caracterização do tu quoque, sendo tal solução aplaudida por Menezes Cordeiro 361. 361 Antônio Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro, Da boa-fé no Direito Civil, pp. 845-846. 417 Aproveitando situação descrita por Antônio Junqueira de Azevedo362, vejamos um outro exemplo. Aponta o ilustre Professor Titular da Faculdade de Direito da USP que “não tem sentido, como devedor, pagar com a correção monetária ‘X’ e querer receber, como credor, com a correção monetária ‘X+1’”. Essa hipótese tem se concretizado com freqüência em relação às restituições de tributos cobrados indevidamente ou por valor maior do que o devido. Veja-se que a fazenda pública, ao cobrar os tributos devidos pelo contribuinte, vem a atualizar-lhes o valor pelo uso da taxa SELIC. No entanto, quando o contribuinte é que se apresenta como credor, em relação a tributo que tenha sido indevidamente cobrado, costuma a fazenda pública sustentar a inaplicabilidade da taxa SELIC, pretendendo fazer a devolução corrigida por outros índices de atualização, invariavelmente menores do que os da SELIC. Trata-se, a toda evidência de caso explícito do tu quoque. O Superior Tribunal de Justiça, pelo menos por algumas de suas Turmas, tem repelido firmemente essa atuação de má-fé da fazenda pública, embora não tenha, até o presente momento, feito referência explícita à figura do tu quoque. E veja-se que, nesses casos, a valoração que a fazenda pública dá à norma legal, entendendo que os seus créditos devem ser atualizados pela taxa SELIC, tem levado o Superior Tribunal de Justiça a entender até mesmo que o pedido de que a restituição seja corrigida pela SELIC se encontra implícito, ainda que não tenha sido mencionado pelo contribuinte autor, em sua petição inicial. Com efeito, já decidiu o STJ 363 que: 362 Antônio Junqueira de Azevedo. Interpretação do contrato pelo exame da vontade contratual. O comportamento das partes posterior à celebração. Interpretação e efeitos do contrato conforme o princípio da boa-fé objetiva. Impossibilidade do venire contra factum proprium e de utilização de dois pesos e duas medidas (tu quoque). Efeitos do contrato e sinalagma. A assunção pelos contratantes de riscos específicos e a impossibilidade de fugir do “programa contratual” estabelecido. Revista Forense – v. 351, p. 280. 363 STJ, 1ª Turma, AgRg no REsp 727.200/PB, Rel. Min. Luiz Fux, Ac. unânime, j. 08.11.2005, p. DJ 18.11.2005, p. 222. 418 TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TESE DOS CINCO MAIS CINCO. LEI COMPLEMENTAR 118, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2005. JURISPRUDÊNCIA DA PRIMEIRA SEÇÃO. TAXA SELIC. 1. ... ............................... 3. Os valores recolhidos indevidamente devem sofrer a incidência de juros de mora até a aplicação da TAXA SELIC, ou seja, os juros de mora deverão ser aplicados no percentual de 1% (um por cento) ao mês, com incidência a partir do trânsito em julgado da decisão. Todavia, os juros pela taxa SELIC devem incidir somente a partir de 1º/01/96. Decisão que ainda não transitou em julgado implica a incidência, apenas, da taxa SELIC . 4. A determinação, na sentença, de incidência da Taxa SELIC sobre os valores a serem objeto da compensação pleiteada, embora inexistente pedido expresso da parte autora neste sentido, não implica em julgamento extra petita, porquanto integra o conteúdo implícito do pedido. Vejamos uma outra hipótese. Seria o caso, agora, de uma ação ajuizada perante a Justiça do Trabalho, na qual a empresa ré, ao apresentar sua resposta, argüiu em preliminar da contestação a incompetência absoluta, em razão da matéria, da Justiça laboral. A decisão primária, contudo, rejeitou a preliminar, dando-se o juiz do trabalho por competente para instruir e julgar a demanda. O Tribunal Regional do Trabalho, no entanto, ao apreciar Recurso Ordinário que versava sobre outro tema, e não sobre a questão da competência, ex officio veio a proclamar a incompetência ratione materiae da Justiça Trabalhista, determinando a remessa dos autos para a Justiça estadual. No lapso de tempo que medeou entre a sentença do juiz de primeiro grau e o Acórdão do Tribunal, contudo, o reclamado pesquisou a jurisprudência e percebeu que as decisões da Justiça do Trabalho, para os casos similares àquele, eram mais favoráveis aos seus interesses do que as decisões que vinham sendo proferidas pela Justiça estadual (o que ocorre, por exemplo, em relação ao quantum das indenizações por dano moral, que têm sido fixados pela Justiça do Trabalho em valores irrisórios). Por essa razão, 419 contra a decisão do Tribunal Regional, vem o reclamado a interpor recurso de revista para o Tribunal Superior do Trabalho, pedindo que este declare que a competência é da Justiça do Trabalho. Eis aí, perfeitamente caracterizada, a ocorrência do tu quoque. Com efeito, veja-se que, em um primeiro momento, o reclamado, ao interpretar a norma legal, valorou-a de uma certa forma, entendendo que da mesma exsurgia a incompetência ratione materiae daquele ramo especializado do Judiciário. Posteriormente, no entanto, sem que tenha havido qualquer alteração legislativa quanto à competência, que pudesse justificar a mudança na sua posição jurídica, passa a empresa reclamada a valorar a mesma norma legal de modo inverso, ou seja, adotando exatamente o oposto de sua posição anteriormente adotada, entendendo agora que da norma se poderia aferir a competência da Justiça do Trabalho 364. Observe-se que esses comportamentos da empresa reclamada, sendo claramente contraditórios, o segundo em relação ao primeiro, podem levar a que se confunda a situação com a ocorrência do venire, como já comentamos acima. No entanto, como também já mencionamos, a diferença entre ambos se mostra tão marcante que acaba por tornar impossível essa mesma assimilação entre as duas figuras. É que, como já adiantamos algumas linhas atrás, a essência do venire repousa na proteção à boa-fé, enquanto o cerne do tu quoque se encontra na repressão à má-fé. Em outras palavras, as situações que levam a repressão ao venire contra factum proprium têm por escopo a proteção à boa-fé do outro sujeito, ou seja, da contraparte, podendo ser assim esquematizada: a) um dos sujeitos 364 Situação semelhante é a descrita por Menezes Cordeiro, referente à parte que, diante do juízo arbitral, alega a incompetência dos árbitros, requerendo a remessa da questão para apreciação pelos juízes. Perante estes, contudo, alega em sua defesa a existência de compromisso arbitral. Cf. Antônio Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro, Da boa-fé no Direito Civil, p. 852. 420 adotou um primeiro comportamento; b) em virtude desse comportamento, surgiu no outro uma confiança sobre qual seria o comportamento posterior; c) esse comportamento posterior, no entanto, veio a contrariar o primeiro, de modo a ser quebrada a confiança da contraparte; d) a proibição ao venire, então, terá a finalidade de proteger essa confiança que foi quebrada, e que em última análise, como já vimos anteriormente, concretiza a proteção à boa-fé. Veja-se, portanto, que nessa hipótese de atuação do venire o que se buscou foi proteger a boa-fé daquele que foi surpreendido pela atuação incoerente e contraditória do outro, e por essa razão, pouco importa, como também já vimos, se o que agiu de modo contraditório estava ou não de má-fé, pois o que se está buscando, na repressão ao venire contra factum proprium, não é a punição da má-fé (que pode nem ao menos ter existido) de um deles, mas sim a proteção à boa-fé (à confiança) do outro. E não se poderá falar em venire se não houve, por qualquer razão, o surgimento da confiança, por parte do outro sujeito. Na figura do tu quoque, no entanto, não se mostra indispensável o surgimento dessa mesma confiança na contraparte, pois o que se busca reprimir é a má-fé, a malícia do sujeito que adotou valorações diferentes para uma mesma situação jurídica. Assim, no exemplo acima apontado, referente a uma reclamação trabalhista, para a invocação da figura do tu quoque será completamente indiferente pesquisar-se se no reclamante havia ou não surgido a confiança no sentido de que o réu não iria sustentar uma posição diferente da anteriormente sustentada, vale dizer, se não iria sustentar a competência da Justiça do Trabalho, pois o que se buscará é a repressão à malícia do réu, e não a proteção à boa-fé do autor. E tanto é assim que o tu quoque poderá e deverá ser reprimido ex officio, antes mesmo de ser intimado o autor sobre as alegações da empresa 421 reclamada, para que sobre elas se manifeste. E, ainda mais, mesmo que o autor venha a se manifestar no sentido de que concorda com as alegações feitas pela outra parte, pois também entende que a competência é da Justiça do Trabalho, deixando claro que não houve qualquer frustração de expectativas ou quebra de confiança, ainda assim terá ocorrido a figura do tu quoque, e o juiz poderá atuar ex officio para reprimi-la. Essa diferença entre as duas figuras, ao que nos parece, afasta qualquer possibilidade de assimilação ou incorporação de uma delas pela outra, pois os seus elementos característicos são claramente distintos, eis que em um (o venire) é indispensável a presença da confiança, que virá a ser quebrada pela atuação contraditória, enquanto no outro (o tu quoque), não há a necessidade da presença dessa mesma confiança (embora, eventualmente, ela possa estar presente). Nesse sentido é que Menezes Cordeiro sustenta que “o venire contra factum proprium é proibido em homenagem à proteção da confiança da pessoa que se fiou no factum proprium... Embora no tu quoque seja de valorar – o que não tem sido feito – a posição da contraparte que prevarica em segundo lugar, não há que lhe inserir uma situaçao de confiança similar ou paralela à que informa o vcfp” 365. Assim, parece-nos demonstrado o que já havíamos afirmado anteriormente, ou seja, que são inconfundíveis as duas figuras, não sendo possível que fiquem abrangidas dentro de um mesmo tipo jurídico, ainda que ambas sejam umbilicalmente ligadas à boa-fé e que em alguns casos apresentem alguma semelhança mais acentuada. 2.5. Suppressio e surrectio. 365 Antônio Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro, Da boa-fé no Direito Civil , p. 843. 422 A suppressio é a inadmissibilidade do exercício de um direito (ou seja, a sua supressão, daí a denominação), por ter o seu titular deixado de exercê-lo durante algum tempo, e, em virtude das circunstâncias da situação concreta, essa omissão teve o efeito de gerar na contraparte a confiança de que esse referido direito não mais seria exercido. Como se vê, trata-se, de uma certa forma, dos efeitos do tempo sobre as relações jurídicas, razão pela qual se deve tomar redobrado cuidado para evitar a confusão com outras situações similares, tais como a prescrição e a decadência. A ligação do instituto com a boa-fé reside no fato de que não é suficiente, para caracterizá-lo, o simples retardamento no exercício do direito, sendo além disso indispensável que em virtude dessa delonga tenha surgido no outro sujeito a confiança, em termos objetivos, de que não mais haveria o seu exercício, o que significa dizer que o lapso temporal deve vir acompanhado de outras circunstâncias objetivas, capazes de fazer surgir essa confiança, de modo tal que o exercício posterior e súbito do direito venha a contrariar a boafé. Trata-se, portanto, da “inadmissibilidade de exercício de um direito por seu retardamento desleal” 366. Na realidade, como veremos adiante, nem sempre o resultado será a perda do direito, podendo ser a redução do seu conteúdo. Essa questão mencionada no parágrafo anterior, no sentido de que o não exercício do direito, por si só, não se mostra suficiente, sendo necessário que o mesmo esteja acompanhado de circunstâncias capazes de fazer surgir a confiança, é essencial para que possamos fazer a separação entre a figura da suppressio e os outros institutos que também refletem os efeitos da passagem do tempo sobre os direitos, como a prescrição e a decadência, uma vez que nestes institutos é suficiente a inatividade do titular do direito pelo transcurso 366 Anderson Schreiber, A Proibição de Comportamento Contraditório – Tutela da confiança e venire contra factum proprium, p. 178. 423 do tempo previsto de modo específico na lei, sendo irrelevante a presença de outras circunstâncias que acompanhem essa omissão. Na suppressio, como aponta Menezes Cordeiro367, “é necessário um determinado período de tempo sem exercício do direito e que se requer, ainda, indícios objetivos de que esse direito não mais seria exercido”. Além disso, contudo, pode-se ainda apontar que no caso da prescrição e da decadência, em geral, não ocorrem maiores discussões em relação ao momento exato de sua concretização, uma vez que, como mencionado logo acima, a lei fixa de modo preciso o momento em que o lapso temporal se inicia e o tempo que deverá decorrer, até que se dê a sua consumação. No caso da suppressio, ao contrário, embora se possa determinar, em regra, o momento preciso em que o direito poderia ter sido exercido por seu titular, não há a menor possibilidade de se conhecer previamente qual o tempo que será necessário decorrer até que possa estar caracterizada a inadmissibilidade desse mesmo exercício pelo seu titular, pois tal momento só poderá ser aferido em virtude das circunstâncias do caso concreto, como aliás é a regra geral nos casos de proteção à boa-fé objetiva. A origem da suppressio é jurisprudencial e relativamente recente, mais precisamente nos tribunais alemães e suas decisões proferidas logo após o término da primeira guerra mundial. A guerra, como se sabe, causou profunda desordem econômica na Alemanha, o que resultou em uma inflação elevadíssima naquele País. Nessas condições, em um primeiro momento os tribunais tedescos passaram a admitir a correção monetária dos créditos, afastando o princípio do nominalismo, como forma de proteção ao credor. Logo em seguida se percebeu, contudo, que quando o credor retardava por algum tempo 367 Antônio Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro, Da boa-fé no Direito Civil , p. 810. 424 a exigência do pagamento, isso fazia com que a quantia devida, tendo em vista a inflação astronômica, fosse corrigida para valores muito elevados, atingindo montantes que estavam fora do alcance do devedor, e por essa razão passaram os tribunais a entender que a demora no exercício do direito, sendo causadora de inaceitável desequilíbrio entre as prestações, se mostrava contrária à boa-fé enquanto norma de conduta, podendo levar à perda da possibilidade de exercício tardio do direito368. Como se vê, o próprio surgimento da figura da suppressio já se deu de um modo tal que havia as circunstâncias especiais, que quando acompanhadas do decurso do tempo se mostravam capazes de gerar um desequilíbrio que afetava a boa-fé negocial. Por outro lado, parece evidente que se essas circunstâncias que acompanham o lapso de tempo durante o qual o direito não foi exercido apontarem em sentido contrário, de suppressio não se poderá mais falar. Dito de modo mais claro, o retardamento que se mostra capaz de caracterizar a suppressio é aquele acompanhado de circunstâncias que indiquem que o direito não mais será exercido. Logo, contrario sensu, se essas circunstâncias são tais que em virtude delas mesmas foi que o direito não pôde ser exercido, a toda evidência não se caracterizará a figura da suppressio, pois nesse caso o não exercício do direito pelo seu titular, durante o lapso temporal, estaria justificado, por ter havido algum fato que o impediu. Assim, por exemplo, suponha-se que o titular do direito deixou de exercê-lo porque se encontrava em estado de coma, impossibilitado de expressar a sua vontade; ou, então, que o direito não foi exercido porque o seu titular se encontrava viajando para o exterior, por motivo de serviço público; ou, ainda, que o titular do direito é militar e integra a força de paz deslocada 368 Antônio Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro, Da boa-fé no Direito Civil , pp. 801-802. 425 pelo Brasil para a missão da ONU no Haiti. Ora, em todos esses casos é mais do que evidente que o não exercício do direito estará plenamente justificado, e o titular poderá exercê-lo tão logo desapareça essa causa que durante algum tempo o impediu de fazê-lo, pouco importa se foi mais ou menos longo o tempo durante o qual houve a abstenção. De um modo geral, pode-se apontar que as mesmas causas que se mostram capazes de interromper, impedir ou suspender a fluência do prazo prescricional (no nosso ordenamento, artigos 197 a 202, do Código Civil), também se mostram bastantes para justificar o não exercício do direito pelo seu titular, afastando a possibilidade de caracterização da suppressio. Só que, a toda evidência, pode-se ainda apontar que, quanto à suppressio, ao contrário do que ocorre em relação à prescrição, o elenco legal de causas que se opõem à fluência do prazo não se mostra taxativo, uma vez que o tema se encontra no campo da boa-fé, onde as circunstâncias capazes de caracterizar a ofensa à boa-fé (e, por isso, a suppressio) ou capazes de impedir essa caracterização, jamais estarão contidas na norma legal de modo exaustivo, como já vimos, sempre havendo a possibilidade de variações em função das circunstâncias do caso concreto. Disso daremos exemplo adiante. Do que foi dito até agora, já se torna relativamente simples perceber que a suppressio nada mais é do que um caso particular de venire contra factum proprium, caracterizado pelo fato de que o primeiro dos comportamentos contraditórios sempre se apresentará como sendo uma omissão (acompanhada de um prazo), ou seja, sempre consistirá na abstenção, por parte do titular do direito, em relação ao seu exercício, e a contradição ocorre porque o segundo comportamento se refere ao exercício desse mesmo direito do qual até então se abstivera, quebrando a confiança que havia surgido no outro sujeito quanto ao seu não exercício. Não é demais recordar que os 426 comportamentos contraditórios podem consistir tanto em uma ação quanto em uma omissão, como já vimos em detalhes, retro (veja-se, a respeito, o que escrevemos no item 2.3.2.1.d). Mas é conveniente observar que o primeiro comportamento, ou seja, o factum proprium, não é apenas o momento inicial em que se deu a omissão, vale dizer, não é tão-somente o momento em que o direito poderia ter sido exercido, por seu titular, mas não o foi. Na realidade, o factum proprium consiste no conjunto formado pela omissão e mais o lapso temporal, pois é apenas a partir de tal conjunto – e não de um momento único – que poderá surgir na contraparte a confiança, a expectativa de que o direito não mais será exercido. O factum proprium, portanto, não se apresenta como um quadro instantâneo, como se fosse uma fotografia, mas sim como uma sucessão de quadros, sendo mais adequada a sua comparação com um filme. Além disso, há uma outra particularidade que poderia ser apontada, e que consiste no fato de que, em relaçao à suppressio, por definição, sempre haverá, no momento em que se verificou o primeiro comportamento, a existência de um direito, eis que tal comportamento se trata, precisamente, do não exercício desse mesmo direito. Em relação ao venire contra factum proprium, no entanto, não há a necessidade de que tal direito exista para a sua caracterização. De qualquer modo, essa questão perdeu interesse a partir do momento em que o próprio venire, de modo geral, também passou a ser considerado como um modo inadmissível (abusivo) do exercício de um direito, ou seja, sempre haverá, no venire contra factum proprium, a questão ligada ao exercício de um direito 369. Em alguns casos pode-se vislumbrar, em certos dispositivos legais, a clara influência da figura da suppressio. Assim, por exemplo, dispõe 369 Antônio Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro, Da boa-fé no Direito Civil , pp. 809-810. 427 o artigo 1.557, do nosso Código Civil, acerca da posibilidade de anulação do casamento em virtude de erro essencial sobre a pessoa do cônjuge, sendo que o prazo decadencial para a propositura da ação é de três anos, contado a partir da celebração, como se vê no artigo 1.560, III, do mesmo Diploma Civil. Assim, se um dos cônjuges descobre, logo após o casamento, fato que até então desconhecia, e que diz respeito à “honra e boa fama” do outro e se mostra capaz de tornar insuportável a vida em comum, poderá de imediato propor a ação anulatória, mas é certo que a sua inatividade durante vários meses, deixando de pleitear a anulação até alguns dias antes da expiração do prazo decadencial, por si só não acarretará a supressão do direito. No entanto, se essa inatividade foi acompanhada por uma circunstância especial, e que no caso descrito consiste no fato de que o cônjuge que incidiu em erro, mesmo depois da descoberta desse fato que até então desconhecia, continuou a coabitar com o outro, nesse caso passará a ser inadmissível o direito de pleitear a anulação do casamento, pois essa circunstância especial, acompanhada da omissão quanto ao exercício do direito, mostra-se capaz de gerar no outro cônjuge a confiança de que o direito não mais será exercido. E é por essa razão que o artigo 1.559, do Código Civil, de modo expresso estabelece que a coabitação do cônjuge que incidiu em erro com o outro valida o ato, retirando daquele, portanto, a possibilidade de obter a sua anulação. Essa situação descrita, ao que nos parece, reflete de modo claro uma aplicação prática da suppressio, e, tivesse o legislador, por qualquer razão, deixado de fazer a ressalva que se encontra no artigo 1.559, referente à coabitação, ainda assim o direito de obter a anulação do casamento não mais poderia ser exercido, só que aí por força da suppressio, uma vez que inexistiria disposição legal expressa. Aliás, não é demais recordar, como já 428 vimos, retro (item 2.3.2.1.c), que os institutos ligados à boa-fé não devem ser invocados quando existe norma legal expressa tratando sobre o mesmo tema, pois seus contornos imprecisos podem ser geradores de insegurança jurídica. Salvo, é evidente, quando a própria norma legal, conduzindo a solução injusta e inaceitável, deva ser afastada em virtude da prevalência do princípio da boafé. Dissemos, alguns parágrafos atrás, que não se poderia falar em suppressio quando houve alguma circunstância especial que, em vez de incutir na contraparte a confiança de que o direito não mais seria exercido, funcionou de modo contrário, ou seja, quando foi essa circunstância mesma que impediu que o titular do direito o exercesse. Dissemos, ainda, que as causas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição, também impedem que se possa falar em suppressio, sendo, no entanto, que o elenco legal referente à prescrição, que em relação a esta se mostra taxativo, é apenas exemplificativo em relação à suppressio, podendo ocorrer outras circunstâncias especiais, não previstas na lei, que também se mostrem suficientes para afastar a possibilidade de ser caracterizada a supressão do direito. Aproveitaremos essa hipótese de anulação do casamento para exemplificar o que foi dito. Suponhamos que, após o casamento, um dos cônjuges descobre que o outro é portador de moléstia grave e transmissível, ou, então, que o mesmo sofre de doença mental grave, que por sua natureza seja capaz de tornar insuportável a vida em comum para o cônjuge “enganado” (terminologia claramente inadequada, empregada pelo Código Civil). Em qualquer desses casos, estando configurado o erro essencial sobre a pessoa do cônjuge, nos termos do artigo 1.557, III e IV, do Código Civil brasileiro, poderá ser requerida a sua anulação, no prazo de três anos, contado a partir da 429 data da celebração do casamento, conforme preceitua o artigo 1.560, III, do mesmo Diploma Civil. Em uma situação concreta, no entanto, continuemos a supor, um dos cônjuges descobriu, uns poucos dias após o casamento, que o outro era portador da doença mental grave, nas condições acima mencionadas. Só que esse cônjuge não cuidou de ajuizar desde logo a ação de anulação, só vindo a fazê-lo quando já eram decorridos dois anos e onze meses da data da celebração do casamento. O simples retardo no ajuizamento da ação, como já comentamos reiteradas vezes, não é suficiente para tornar inadmissível o exercício do direito. No entanto, suponha-se que esse retardo, mais uma vez, tenha vindo acompanhado da circunstância especial da coabitação entre os cônjuges, mesmo após a descoberta da doença. Nesse caso, terá ocorrido a suppressio? A resposta, aqui, ao contrário do exemplo anterior, deve ser negativa. Com efeito, veja-se que, nesse exemplo apresentado no parágrafo acima, existe uma justificativa bastante plausível para que tenha continuado a coabitação entre os cônjuges, mesmo após a descoberta da doença, pois se assim não fosse, para não ver afastado (suprimido) o seu direito de requerer a anulação do casamento, o cônjuge “enganado” se veria obrigado a, desde logo, abandonar o outro à própria sorte, muitas vezes com conseqüências nefastas, que poderiam levar ao agravamento de uma situação de saúde já delicada. E é exatamente porque neste caso existe justificativa para o fato de ainda não ter sido ajuizada a ação e de ter continuado a coabitação, que o Código Civil, no artigo 1.559, logo após mencionar que a coabitação valida o casamento, e, portanto, suprime o direito de obter-lhe a anulação, fez a ressalva para informar que isso não se aplica nos casos em que o erro essencial consiste na ignorância de moléstia grave e transmissível ou de doença mental grave. 430 Assim, pensamos que a partir desse último exemplo restam demonstradas e mais bem explicadas as duas afirmações que haviam sido feitas, ou seja: a) havendo uma circunstância especial que justifique a demora no exercício do direito, pelo seu titular, afastada estará a ocorrência da suppressio; b) as causas que se mostram bastantes para impedir a fluência do prazo prescricional, também se mostram adequadas para evitar a caracterização da suppressio, mas além dessas causas que se referem à prescrição podem ocorrer outras, colhidas das circunstâncias do caso concreto, e referentes, especificamente, ao afastamento da suppressio. De qualquer modo, esses exemplos acima, referentes à anulação do casamento, servem apenas para ilustrar o raciocínio, eis que não se trata, verdadeiramente, de uma hipótese de suppressio, mas simplesmente de aplicação da norma legal expressa, como já comentamos umas poucas linhas atrás. Vejamos agora, portanto, uma situação que não se encontra prevista na lei, mas na qual a jurisprudência tem reiteradamente se valido do conceito de suppressio, embora sem fazer menção a essa terminologia e, muitas vezes, segundo acreditamos, sem ter a menor noção de que está sendo aplicada a referida figura. Trata-se da hipótese, comum na Justiça do Trabalho, da ocorrência do (impropriamente) chamado “perdão tácito”, ao qual já nos referimos ao falar sobre o venire contra factum proprium em geral (veja-se, retro, o item 2.3.2.1.d), ocasião em que já apontamos que seria um caso de venire onde o primeiro comportamento consistiria em uma omissão. Com efeito, figure-se situação na qual o empregado tenha praticado falta grave, capaz de servir como esteio para que o empregador promova a resolução do contrato de trabalho por justa causa. Mesmo após ter descoberto o cometimento dessa falta, no entanto, o empregador quedou-se inerte, não exercendo durante vários meses o seu direito de resolver o contrato 431 por justa causa. Se, depois desse prazo, resolver exercer esse mesmo direito, não poderá mais fazê-lo, por ter se caracterizado a ocorrência da suppressio (“perdao tácito”). Nesse sentido: JUSTA CAUSA. PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA. A não observância ao princípio da imediatidade na aplicação da penalidade máxima, ante a ocorrência de falta reputada grave pelo empregador, atrai a presunção de perdão tácito. A questão não se caracteriza apenas pelo transcurso do tempo, mas também por qualquer medida adotada pelo empregador reveladora da inequívoca intenção de manter o empregado em seus quadros. TRT 2ª Região (SP), 4ª T., Acórdão n° 20050455057, unânime. Relator Juiz Paulo Augusto Câmara. J. 12.07.2005, p. DOE SP 22.07.2005. Veja-se que a decisão acima revela de modo inequívoco a presença da suppressio, ainda que sob a alcunha de “perdão tácito”, e tanto é assim que a ementa transcrita deixa muito claro que não se trata, para a supressão do direito do empregador de resolver o contrato por justa causa, da simples inação acompanhada do decurso do tempo, sendo ainda necessário que tenha havido a adoção de qualquer medida “reveladora da inequívoca intenção de manter o empregado em seus quadros”, ou seja, qualquer medida que possa ser considerada como a circunstância especial, que já mencionamos acima, capaz de incutir no empregado a confiança de que o contrato seria mantido, ou seja, que o direito de resolvê-lo por justa causa não mais seria exercido pelo empregador. E se fosse a hipótese inversa, vale dizer, se fosse o empregador quem tivesse incorrido em grave descumprimento das obrigações contratuais, situação na qual o empregado pode exercer o direito de considerar o contrato resolvido por justa causa do empregador (art. 483, da CLT: “rescisão indireta”), mas o trabalhador simplesmente se afastou do serviço, ficando um longo tempo sem exercer seu direito de pleitear a “rescisão indireta” e, depois 432 desse tempo, vindo a fazê-lo, nesse caso também poderia restar caracterizada a ocorrência da suppressio? A resposta, aqui, deve ser mais cautelosa, pois se é verdade que, em alguns casos, a mesma poderá ser positiva, também o é que, em outros, tendo em vista as circunstâncias especiais da relação jurídica concreta, notadamente as que se referem à hipossuficiência econômica e ao estado de subordinação do empregado, essa demora poderá ser justificada, hipótese na qual já vimos que resta afastada a caracterização da suppressio. Assim, por exemplo, suponha-se que o empregador tratou o empregado com rigor excessivo, ou, então, que deixou de pagar-lhe os salários por período superior a três meses, hipóteses que se constituem em justa causa do empregador, podendo o empregado considerar o contrato resolvido em virtude da mesma, conforme dispõe o artigo 483, da CLT (no caso do atraso dos salários, combinado com o Decreto-Lei n° 368/68). O empregado, diante de tal situação, simplesmente afasta-se do trabalho, mas não pleiteia o reconhecimento da rescisão indireta, ou seja, não ajuíza reclamatória para que lhe sejam pagas as parcelas rescisórias que lhe seriam asseguradas, e que são as mesmas que seriam devidas em caso de ruptura do contrato por iniciativa expressa e imotivada do empregador. Vários meses depois de ter-se afastado do trabalho, mas ainda dentro do lapso prescricional de dois anos (Constituição Federal, art. 7°, XXIX), o empregado ajuíza ação, perante a Justiça do Trabalho, na qual pleiteia o reconhecimento da rescisão indireta e o conseqüente pagamento do aviso prévio, seguro-desemprego, etc, ou seja, as parcelas que normalmente decorreriam do reconhecimento dessa rescisão indireta. Nesse caso, o não exercício do direito durante esse longo tempo caracterizou a ocorrência da suppressio (“perdão tácito”), retirando do empregado a possibilidade de 433 exercer o direito de ver reconhecida a justa causa do empregador, como reiteradamente tem entendido a jurisprudência dos tribunais trabalhistas pátrios 370. No entanto – e é aí que vem a cautela que acima mencionamos –, a demora do empregado, no exercício do seu direito de resolver o contrato por justa causa do empregador, não pode ser examinada do mesmo modo que se examina a demora deste último, na hipótese inversa, uma vez que o empregado, além de ser hipossuficiente econômico, ainda se encontra em estado de subordinação. Logo, mesmo que o empregador venha, ao longo de vários meses, tratando o empregado com rigor excessivo, ou tratando-o de modo tal que se repete no tempo a ofensa à honra do trabalhador, o fato deste optar por continuar a trabalhar, sem adotar qualquer medida em relação ao seu direito de ver o contrato resolvido por justa causa do patrão, tolerando os desmandos do empregador que se vêm reiterando e acumulando nesses vários meses, isso não implicará na suppressio, vale dizer, dessa situação não se poderá concluir pela inadmissibilidade do empregado vir a exercer, em momento posterior, seu direito de pleitear a rescisão indireta. 370 JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO DA CTPS. PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE. 1. A justa causa do empregador não se caracteriza quando o empregado retarda a adoção de medida tendente a rescindir o contrato de trabalho decorrente de ato faltoso (ausência de anotação da Carteira de Trabalho). 2. Em face do princípio da atualidade ou imediatidade, opera-se o perdão tácito quando, verificando a ocorrência de um ato faltoso, não atua a parte interessada (empregado ou empregador) de forma imediata, deixando transcorrer tempo razoável entre o inadimplemento e o momento de promover a resolução do contrato de trabalho. 3. Recurso de revista de que parcialmente se conhece e a que se nega provimento. TST, 1ª T, Ac. por maioria, Redator Designado Min. João Orestes Dalazen, RR n° 689442, j. 18.06.03, p. DJ 12.09.03. PRESCRIÇÃO INDIRETA. LAPSO MUITO GRANDE ENTRE A FALTA COMETIDA PELA EMPRESA E A PROPOSITURA DA RECLAMATORIA. PERDÃO TÁCITO. Havendo lapso muito grande entre a falta grave cometida pela empresa, suficiente a ensejar a rescisão indireta, e a propositura da reclamatoria, ocorre o denominado perdão tácito, absolvendo a demandada dos onus que lhe foram imputados. Revista patronal conhecida e provida. TST, 3ª T, Ac. unânime, Relator Min. Roberto Della Manna, RR n° 52105, j. 14.12.92, p. DJ 06.08.93, pág. 15106. 434 Ora, como facilmente se pode imaginar, em um momento de grave desemprego, como o que atualmente atravessa o nosso País, muitas vezes a ruptura do contrato, pelo empregado, se mostraria muito mais danosa do que ter que continuar a suportar os desmandos do patrão, principalmente quando se trata de empregado de pouca ou nenhuma qualificação técnica, situação na qual se mostra ainda mais difícil a obtenção de uma nova colocação no mercado de trabalho. Em tal situação, portanto, estaria plenamente justificada a demora do empregado, quanto ao exercício do seu direito, uma vez que preferiu conservar o emprego em virtude da dificuldade de obtenção de um outro, não podendo ser essa preferência confundida com a pura e simples supressão do seu direito de resolver o contrato. Nesse sentido é que se tem posicionado a jurisprudência dos nossos tribunais, ou seja, diferenciando as hipóteses nas quais o empregado já se afastou do emprego, ou seja, a relação jurídica já foi rompida (e, portanto, desapareceu o estado de subordinação), daquelas nas quais o empregado ainda continua trabalhando, e por isso, continua juridicamente subordinado ao empregador e dependendo do salário para viver 371. 371 AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTOS DO FGTS. FALTA GRAVE. RESCISÃO INDIRETA DO CONTRATO DE TRABALHO. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 5º, II, DA CF E 483, "A", DA CLT. CONTRARIEDADE AO ENUNCIADO Nº 13. DISSENSO PRETORIANO. ................................... A simples redação da alínea "d", do art. 483 da CLT não pode encerrar dúvida, a respeito da sua aplicabilidade irrestrita. Com efeito, em que pese opiniões em contrário, as obrigações contratuais inadimplidas pelo empregador não podem ser objeto de perdão tácito por parte do empregado, cuja tolerância se deve, na absoluta maioria dos casos, à sua situação de dependência e hipossuficiência. Outrossim, não há como conciliar o perdão tácito com a possibilidade de ação judicial reparatória, como pretendeu o Eg. Regional. De modo semelhante também ocorre quanto ao dito princípio da continuidade da relação de emprego, que consiste de construção doutrinária em favor do empregado, não podendo por isso ser invocado contra ele. Ao empregado é quem cabe exclusivamente decidir sobre se a ruptura pela rescisão indireta lhe acarreta algum malefício. ................................ Recurso a que se dá provimento para declarar a rescisão indireta do contrato de trabalho, condenando a Reclamada a pagar ao Reclamante os títulos rescisórios pertinentes à dispensa sem justa causa. 435 Outro caso de claríssima aplicação da figura da suppressio, ainda na jurisprudência dos tribunais trabalhistas, foi a recentíssima decisão do Tribunal Superior do Trabalho 372, em sessão realizada no mês de fevereiro de 2006. Tratou-se de hipótese onde um empregado teve alterado o seu turno de trabalho, ou seja, trabalhava durante a noite, das 20:00 horas até 01:30h, e foi subitamente avisado que, a partir do mês seguinte, deveria trabalhar durante o dia. A alteração do turno de trabalho do empregado, ainda que sendo assim tão brusca, da noite para o dia, em geral é entendida como parte do poder diretivo do empregador (jus variandi), para que este possa adequar a força de trabalho dos seus empregados às necessidades da empresa. No entanto, no caso concreto, o que se verificou foi que essa situação do trabalho noturno perdurou durante treze anos consecutivos, sendo que, ao longo de todo esse tempo, o empregado estruturou toda a sua vida em função desse seu horário noturno, e durante o dia o mesmo era professor adjunto de uma instituição de ensino superior, com jornada de quarenta horas, e ainda cursava o doutorado em Psicologia Social, e por tais razões, a toda evidência seria severamente prejudicado, caso viesse a ser concretizada a alteração pretendida pelo empregador. TST, 2ª Turma, Ac. unânime, Rel. Juiz convocado Samuel Corrêa Leite, RR n° 1126-2002-906-06-00, j. 10.12.03, p. DJ 13.02.04. RESCISÃO INDIRETA DO CONTRATO DE TRABALHO. PERDÃO TÁ CITO. INCOMPATIBILIDADE. A lógica do denominado "perdão tácito" não funciona da mesma forma nas hipóteses de justa causa obreira e de justa causa empresarial. No primeiro caso, o decurso do tempo, aliado à inércia do empregador, leva à presunção de que a falta porventura praticada tenha sido perdoada, concretizando-se o princípio protetor que permeia todo o Direito do Trabalho. Já no caso da rescisão indireta, é inviável pensar que a ausência de insurgência imediata do empregado contra a falta cometida pelo empregador implique em perdão pelos atos praticados, pois o que prevalece, neste caso, é o direito ao emprego, com permanência do vínculo que traz o sustento do obreiro e cuja ruptura acarreta, em geral, mais desvantagens do que a "submissão" aos eventuais desmandos do empregador. Contribui, ainda, para a inércia do empregado, submissão ao poder de mando do empregador. TRT 3ª Região, 2ª Turma, Ac. unânime, Rel. Juiz Milton Vasques Thibau de Almeida, RO n° 01148-2004-021-03-00-8, j. 07.06.05, p. DJ 15.06.05, pág. 09. 372 Tribunal Superior do Trabalho, 2ª T., Ac. unânime, RR 24147/2002-900-04-00.7, Rel. Min. Renato de Lacerda Paiva, j. 14.02.2006. 436 No caso concreto, portanto, concluiu o Tribunal Superior do Trabalho, ao nosso ver acertadamente, no sentido de que, tendo havido uma duração tão longa do trabalho exclusivamente noturno, e tendo o empregado, claramente, organizado toda a sua vida em função desse mesmo horário, o direito de permanecer no horário noturno já havia se incorporado ao contrato de trabalho, não podendo ser agora unilateralmente alterado pelo empregador. Veja-se que, na situação relatada, o empregador deixou de exercer seu poder diretivo, em relação à mudança de horário do empregado, durante treze longos anos. No entanto, a simples falta de exercício do poder diretivo, por si só, não seria capaz de justificar a supressão do direito do empregador, sendo necessária, além disso, como já vimos retro, a presença de algumas circunstâncias especiais, capazes de fazer surgir no empregado a confiança de que aquela situação estava consolidada, ou seja, de que não mais seria exercido pelo empregador o direito de alterar o seu turno do trabalho. Veja-se que o longo tempo decorrido (13 anos), por si só já se constitui em importante elemento a ser considerado, eis que já analisamos, linhas atrás (veja-se o item 2.3.1), que uma das circunstâncias que sempre devem ser consideradas, para se aferir se chegou ou não a se formar a confiança no espírito do outro sujeito, é precisamente o tempo decorrido entre os dois comportamentos contraditórios, sendo certo que, quanto maior tiver sido esse tempo, mais plausível se torna que tal confiança tenha efetivamente surgido. Veja-se, ainda, o que escrevemos no item 1.9.a.1, acerca de situação semelhante à do caso ora relatado, e que dizia respeito ao empregador que pretendia se valer de cláusula contratual para transferir o empregado, depois de longo tempo trabalhando em uma mesma cidade, onde construíra todas as suas relações familiares e econômicas. 437 No caso concreto ora enfocado, no entanto, além do longo tempo, que estando sozinho poderia gerar alguma dúvida, houve ainda a peculiaridade do empregado ter construído toda uma vida acadêmica e profissional em paralelo, de modo a compatibilizá-la com o horário noturno no qual prestava o seu trabalho para aquele empregador. E foi esse conjunto de fatores que, sem qualquer dúvida, se constituíram na “circunstância especial”, capaz de fazer surgir no empregado a confiança na permanência daquela situação, ou seja, a confiança, como já dissemos acima, em que o empregador não iria alterar o seu horário noturno de trabalho. E foi essa confiança que, em última análise, veio a ser protegida pela decisão do Tribunal Superior do Trabalho. Para que possamos prosseguir no exame da suppressio, necessário é que se nos permita fazer breve observação, a ser logo adiante mais bem explicitada. É que no caso acima relatado, o que se nota claramente é que o Tribunal Superior do Trabalho, ao garantir ao empregado a permanência no horário noturno, cuidou de, para proteger a confiança do trabalhador, atribuir-lhe um novo direito, ou seja, o de exigir sua permanência no trabalho noturno. Eis aí a figura da surrectio. Como decorrência lógica desse direito atribuído ao trabalhador, no entanto, houve o desaparecimento de um direito do empregador, qual seja, foi suprimido o direito de alterar o horário de trabalho, após ter passado um longo período sem fazê-lo. Eis, agora, a figura da suppressio, que surge como uma conseqüência da surrectio. E é nessa linha de abordagem que daremos seqüência ao nosso estudo. Prosseguindo, importante observação que deve ser feita, é a que se refere ao objetivo primordial da suppressio. A questão que se coloca é a de se saber se a finalidade da suppressio é a de reprimir o comportamento do titular do direito, que deixou de exercê-lo e, posteriormente, pretendeu exercer, ou se, ao contrário, o objetivo principal da figura da suppressio é a 438 proteção à boa-fé do outro sujeito. Não temos qualquer dúvida em afirmar que esta segunda posição é a que se mostra mais adequada, ou seja, a atuação da suppressio não depende de ter havido dolo ou má-fé do titular do direito, pois a idéia básica não é a punição desse sujeito, mas sim a proteção do outro, em virtude da boa-fé objetiva, concretizada no fato de ter surgido a confiança desse que recebe a proteção. Na realidade, facilmente se pode demonstrar que o que se tem na suppressio nada mais é do que a particularização do que acontece com o venire contra factum proprium em geral, ou seja, não se trata de punir a atuação dolosa, fraudulenta ou de má-fé de um sujeito, mas sim de proteger a confiança, ou seja, a legítima expectativa que se formou no outro, e que em última análise nada mais significa do que a proteção à boa-fé. Ora, basta que se observe que a repressão ou punição à atuação (ou à falta dela, rectius, à omissão) já está embutida nas figuras da prescrição e da decadência. Em outras e mais claras palavras, se o titular do direito deixar de exercê-lo pelo lapso de tempo previsto na lei, a conseqüência dessa sua inércia já se encontra prevista expressamente no próprio texto legal, e consistirá, conforme o caso, na prescrição da pretensão ou na caducidade do direito em si mesmo. Se a suppressio também tivesse essa mesma finalidade de servir como punição à omissão, vale dizer, ao comportamento omisso do sujeito que se apresenta como o titular, neste caso, nada mais seria do que uma prescrição ou decadência que se apresentaria com um prazo mais reduzido, o que não faria o menor sentido. Daí, o que remanesce, como objeto da suppressio, é a proteção à boa-fé da contraparte, ou seja, protege-se a confiança desta em que não haverá mais o exercício do direito373. 373 Antônio Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro, Da boa-fé no Direito Civil , pp. 801-802. 439 Parece-nos que essa idéia de proteção à confiança, em vez de repressão a um certo comportamento, já ficou muito clara nas situações hipotéticas que acima apresentamos. Assim, por exemplo, no caso do empregado ou do empregador que, podendo romper o contrato em virtude da justa causa dada pela contraparte, prefere aguardar por longo tempo, sem tomar qualquer providência, não se pode falar em má-fé ou intenção dolosa desse sujeito, eis que não se mostra possível apontar que alguém estaria de má-fé pelo simples fato de ter optado por não exercer um direito seu ao longo de um certo lapso temporal. Logo, se não se está tratando de puniçao à má-fé, é porque o que se está buscando é a proteçao à boa-fé. É evidente que, em determinadas situaçoes concretas, poderão coincidir a boa-fé da contraparte, a ser protegida como objetivo primário do instituto da suppressio, e a má-fé ou deslealdade do sujeito que é o titular do direito e que por longo tempo se absteve de exercê-lo. Foi o que aconteceu, por exemplo, nos casos narrados acima, na Alemanha do pós-primeira guerra mundial, onde a inflação em patamares estratosféricos fazia com que o retardo no exercício do direito, pelo credor, elevasse a quantia devida a valores astronômicos, no mais das vezes simplesmente impossíveis de serem pagos pelo devedor. Logo, o credor poderia se valer, de má-fé, desse retardo, como meio de aumentar o valor que lhe era devido. No entanto, essa presença da má-fé se mostra eventual, ou seja, se por um lado é possível que ocorra, por outro, sua presença não se mostra como requisito indispensável para a caracterização da figura da suppressio, que mesmo sem ela poderá restar caracterizada, no caso concreto. Aferido, pois, que o aspecto principal da suppressio não é a repressão à inércia do titular do direito, mas sim a proteção à boa-fé do outro sujeito, pode-se então passar a falar da surrectio, ou seja, do surgimento de 440 direitos para a contraparte, essa cuja proteção se constitui no objetivo da suppressio. Já havíamos comentado (veja-se, retro, o item 2.2, em nota de rodapé), que quando se colocam limites ao exercício do direito subjetivo de uma pessoa (e esse limite, em seu estágio mais radical, pode ser a própria inadmissibilidade do exercício), ao mesmo tempo se faz nascer um novo direito para a contraparte374. Assim, e utilizando um dos exemplos vistos acima, quando se veda ao empregador o exercício do direito de romper o contrato por justa causa, face ao longo tempo em que demorou em fazê-lo, essa supressão de direito corresponderá, em relação à contraparte (o empregado), ao surgimento do direito de se manter trabalhando ou, pelo menos, caso não seja estável e venha a ser dispensado, o direito de receber todas as verbas trabalhistas decorrentes da dispensa sem justa causa. Na hipótese da anulação do casamento, se houve a coabitação entre os cônjuges, quando ao cônjuge “enganado” se nega o direito de pleitear a anulação do matrimônio, isso significa que, ao outro, concomitantemente, foi deferido o direito de manter intacto o casamento (pelo menos em relação à figura do erro sobre qualidade essencial da pessoa). Esse fenômeno do surgimento de direitos para a contraparte, ou seja, para o que está sendo protegido pela figura da suppressio, é que se denomina de surrectio. Pode-se dizer, portanto, que a surrectio corresponde ao exame da suppressio sob a ótica da parte cuja confiança está sendo protegida. Ocorre que o principal objetivo da suppressio, como vimos, é precisamente a proteção da boa-fé da contraparte, ou seja, o que está em 374 Cf. Béatrice Jaluzot, La bonne foi dans les contrats: Étude comparative de droit français, allemand et japonais, p. 408, n° 1426. 441 questão não é apenas a extinção do direito de uma das partes, mas sim a vantagem conferida à outra, e, por essa razão, torna-se possível apresentar o fenômeno de modo invertido, ou seja, em vez da supressão do direito (suppressio) ser seguida pelo surgimento de um outro (surrectio), a equação seria invertida, apontando-se, pois, que à surrectio segue-se a suppressio, vale dizer, toda vez que tiver surgido para a contraparte um direito, como meio de proteção à sua confiança, à sua legítima expectativa, esse surgimento será seguido pela supressão do direito da contraparte que se mostre incompatível com a nova situação jurídica criada para o beneficiário. Dessa forma, o que se deve pesquisar, sempre, é a posição do beneficiário, ou seja, deve-se perquirir se as circunstâncias objetivas do caso concreto conduziram a que no mesmo se formasse a confiança no seu próprio direito ou no não exercício, pela outra parte, do direito desta. Nesse sentido é a precisa lição de Menezes Cordeiro375, para quem O fenômeno da suppressio, traduzido no desaparecimento de posições jurídicas que, não sendo exercidas, em certas condições, durante determinado lapso de tempo, não mais podem sê-lo, sob pena de contrariar a boa-fé, corresponde a uma forma invertida de apresentar a realidade. A suppressio é, apenas, o subproduto da formação, na esfera do beneficiário, seja de um espaço de liberdade onde antes havia adstrição, seja de um direito incompatível com o do titular preterido, seja, finalmente, de um direito que vai adstringir outra pessoa por, a esse mesmo beneficiário, se ter permitido actuar desse modo, em circunstâncias tais que a cessação superveniente da vantagem atentaria contra a boa-fé. O verdadeiro fenômeno em jogo é o da surrectio, entendida em sentido amplo. É nesta que devem ser procurados requisitos... Assim, o beneficiário tem de integrar uma previsão de confiança, ou seja, deve encontrar-se numa conjuntura tal que, objetivamente, um sujeito normal acreditaria quer no não exercício superveniente do direito da contraparte, quer na excelência do seu próprio direito. 375 Antônio Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro, Da boa-fé no Direito Civil , p. 824. 442 Pode-se apontar, portanto, que a suppressio e a surrectio, de modo genérico, encontram fundamento legal no artigo 187, do Código Civil brasileiro, que ao tratar da figura mais ampla do abuso do direito, permite a limitação parcial ou mesmo total (neste caso, a extinção) de um direito e, como já vimos, ao admitir a limitação do direito de um, simultânea e necessariamente estará admitindo a criação de direito para o outro, e não necessariamente nessa ordem. Tomemos, como exemplo, apenas para facilitar o acompanhamento do raciocínio, uma situação do direito de vizinhança, embora desde logo lembrando que, em se tratando de situação expressamente prevista na lei, em rigor não haveria necessidade de se recorrer às figuras do abuso do direito e nem da suppressio ou da surrectio. Imagine-se que o proprietário de um terreno, ao pretender edificar no seu prédio, manda fazer todos os estudos geológicos necessários, de modo a não causar prejuízo às construções vizinhas. Apesar desse cuidado, quando começam a ser fixados os tubulões que servirão como fundações, surgem sérias rachaduras em uma casa da vizinhança. Nesse caso, o proprietário prejudicado tem o direito de exigir que cessem os danos que estão sendo causados ao seu próprio imóvel, e que decorrem da construção no prédio vizinho. Em conseqüência, o proprietário que está construindo sofrerá limitações no seu direito, ou seja, deverá tomar maiores precauções, para evitar os referidos danos, além de ter que indenizar os prejuízos que foram ou vierem a ser sofridos pelo outro. Nessa hipótese, e é isso o que realmente pretendíamos destacar, em primeiro lugar se manifesta o direito da contraparte, ou seja, o direito do proprietário vizinho de não ser prejudicado pela utilização do outro prédio, vale dizer, pela construção que está em andamento. Uma vez surgido esse 443 direito (surrectio), em seguida deve-se examinar se o direito do outro proprietário se mostra incompatível com o mesmo e, caso venha a ser revelada a incompatibilidade, esse direito será suprimido total ou parcialmente (no caso apresentado, parcialmente), na medida exata em que isso se mostrar necessário para afastar a incompatibilidade, ou seja, de modo a respeitar o direito surgido para a contraparte. A seqüência, portanto, como no caso fica muito claro, é a manifestação primeira da surrectio, para em seguida manifestar-se a suppressio. E veja-se que essas colocações servem de confirmação para afirmação que havíamos feito linhas atrás, neste mesmo item, no sentido de a extinção do direito, ou seja, a suppressio, não será necessariamente total, podendo se tratar apenas de uma supressão parcial do mesmo. Com efeito, se em primeiro lugar ocorre o fenômeno do surgimento do direito da contraparte (surrectio), e só em seguida é que se verifica a incompatibilidade do direito do titular que retardou o seu exercício, para fins de eliminá-la pela supressão do direito, parece evidente que se pode afirmar que a supressão do direito não ocorre de modo gratuito e desnecessário, mas tão-somente na medida exata em que isso se fizer necessário para a eliminação da incompatibilidade, ou seja, para que possa ser preservado o direito recém-criado para o outro sujeito. Portanto, casos haverá em que a compatibilização só poderá ser feita pela eliminação total (extinção) do direito que até então não havia sido exercido, como foi a situação da justa causa do empregado ou a do empregador, situações por nós examinadas. No entanto, haverá situações onde poderão ser compatibilizados o direito recém-surgido da contraparte com o direito até então não exercido, sem que seja necessária a eliminação total deste, sendo sufieicnete a sua redução, como foi o caso, por exemplo, da situação de direito de vizinhança, acima descrita. 444 Essa eliminação parcial, também, poderia ser verificada no caso da empregada gestante que, ao ser dispensada em momento em que nem ela mesma (e, portanto, muito menos o empregador) sabia de seu estado gravídico, retarda o pedido de reintegração ao trabalho até o momento em que essa reintegração não se mostra mais possível, por já ter expirado o prazo de garantia de emprego previsto na Constituição Federal. Assim, e lembrando que a Constituição Federal garante à gestante o direito ao emprego desde a confirmação da gravidez e até cinco meses após o parto (Constituição Federal, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, art. 10, II, b), o que se vê, na prática dos tribunais trabalhistas, é que a empregada, muitas vezes, ao ser dispensada antes mesmo que qualquer exame tivesse apontado a sua gravidez (embora efetivamente já estivesse grávida), nada comunica ao empregador, e simplesmente deixa passar os quatorze meses (nove meses de gestação e mais cinco meses após o parto) de garantia de emprego. Depois de escoado esse prazo (embora ainda dentro do lapso prescricional de dois anos), quando a reintegração ao serviço já se mostra inviável, por não haver mais a garantia de emprego, a empregada ajuíza reclamação trabalhista na qual pretende receber os salários desses quatorze meses que não trabalhou, durante os quais teria a garantia de emprego. Parecenos que se trata de hipótese clara de manifestação do binômio surrectio X suppressio, pois como já transcorreu o período no qual o direito de permanecer no serviço estava assegurado, surgiu para o empregador a legítima expectativa de que a empregada, mesmo que estivesse gestante (coisa que o empregador, em muitos casos concretos, desconhecia até o momento em que tomou ciência da ação), não mais exerceria o seu direito de retornar ao trabalho. 445 Tem-se aí, no nosso entender, a supressão total do direito da empregada, eis que tal direito se mostra integralmente incompatível com a proteção à legítima expectativa do empregador376. 376 Observando, contudo, como já fizemos em item anterior (item 2.3.2.1.d, em nota de rodapé), que não é essa a posição dominante no Tribunal Superior do Trabalho, entendendo aquela Corte Superior Trabalhista que o retardo no exercício do direito de ação, se ainda dentro do prazo prescricional, não pode ser entendido como equivalente à perda do direito pela empregada, apenas implicando na conversão do direito de reintegração em direito de indenização equivalente. Pensamos, como já ficou claro no texto acima, que está equivocada a posição adotada por aquela Corte Trabalhista, mas neste estudo deixamos de enfrentar a polêmica, por não se constituir a mesma no foco do mesmo, onde apenas se pretendeu apontar um possível exemplo de suppressio parcial do direito. No entanto, por questão de lealdade ao leitor, optou-se por noticiar que a posição contrária é a que predomina no Tribunal Superior do Trabalho, como se vê, por exemplo, no Recurso de Revista RR - 75656/2003-900-02-00, publicado no DJ - 05/08/2005, 2ª Turma, Ac. unânime, Rel. Min. José Simpliciano Fontes de F. Fernandes, cuja ementa ficou assim redigida: FGTS. VERBA INDENIZATÓRIA. O empregador não pode se eximir de cumprir a obrigação de pagar o FGTS e multa, se único responsável pela dispensa indevida da Reclamante, pois detentora de estabilidade gestante, e devidos no caso de cumprimento do contrato de trabalho regularmente. Recurso não conhecido. ESTABILIDADE. DEMORA NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CONSEQÜÊNCIAS. A demora no ajuizamento da ação não importa renúncia de direito, pois devida a indenização no caso de o período estabilitário já ter se exaurido (Súmula 244, II, do TST). Recurso de Revista conhecido e não provido. E no voto desse mesmo Acórdão ficou anotado que: .................... 2 - ESTABILIDADE. DEMORA NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CONSEQÜÊNCIAS a) Conhecimento O Tribunal Regional analisou a questão no julgamento dos Embargos Declaratórios da Reclamada. Concluiu: “A reclamante propôs a ação dentro do biênio constitucional, em que é pleno o seu direito de ação. A alegação de que a propositura tardia da ação afastaria o direito à estabilidade é impertinente” (fl. 329). A Reclamada defende a tese de que o ajuizamento tardio da presente reclamação afasta a pretensão da Reclamante. Transcreve arestos para o cotejo de teses. Os arestos de fl. 337 autorizam o conhecimento do Recurso, pois trazem tese no sentido de que a demora no ajuizamento da ação importaria na renúncia da garantia do emprego. Conheço, por divergência jurisprudencial. b) Mérito O artigo 10, II, “b”, do ADCT assegura à gestante, estabilidade no emprego desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. A dispensa realizada em confronto com a referida norma, é nula, sendo necessária a reintegração da empregada no emprego ou, no caso de exaurido o período estabilitário, o pagamento dos salários correspondentes ao período. Esse o entendimento pacificado pelo Tribunal Superior do Trabalho, conforme dispõe a Súmula 244, II: “Gestante. Estabilidade provisória. (incorporadas as Orientações Jurisprudenciais nºs 88 e 196 da SDI-1) - Res. 129/2005 DJ 20.04.05 I - O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade. (art. 10, II, "b" do ADCT). (ex-OJ nº 88 - DJ 16.04.2004) II - A garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração se esta se der durante o período de estabilidade. Do contrário, a garantia restringe-se aos salários e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade. (ex-Súmula nº 244 - Res. 121/2003, DJ 21.11.2003) III Não há direito da empregada gestante à estabilidade provisória na hipótese de admissão mediante contrato de experiência, visto que a extinção da relação de emprego, em face do término do prazo, não constitui dispensa arbitrária ou sem justa causa. (ex-OJ nº 196 - Inserida em 08.11.2000)” Assim, o fato da reclamação ter sido ajuizada após o período estabilitário, não prejudica a Autora, pois devidos os salários e demais direitos relativos ao período estabilitário. 446 No entanto, suponha-se que essa mesma empregada do exemplo acima tivesse apresentado a sua reclamação trabalhista quando tivessem sido decorridos três meses após o parto, e, portanto, ainda restariam dois meses de garantia do emprego. Nesse caso, parece bastante claro que o atendimento à legítima expectativa do empregador não passaria pela eliminação total do direito da empregada, sendo suficiente a supressão parcial de tal direito, vale dizer, a supressão apenas dos meses que, com sua inércia, a mesma deixou transcorrer in albis, abstendo-se de exercer seu direito, mas reconhecendo-se a possibilidade de tal exercício de modo parcial, em relação aos dois meses de garantia de emprego que ainda lhe restam. De resto, valem para esse contraponto entre suppressio e surrectio as observações que já foram feitas, retro (item 2.3), acerca do venire contra factum proprium em geral, haja vista que este, como já demonstramos, se apresenta como um gênero do qual fazem parte aquelas. 447 Conclusão A primeira e, possivelmente a mais importante, conclusão a que se chegou, no presente trabalho, foi a que se refere à natureza principiológica e ao assento constitucional da boa-fé. Com efeito, vimos no primeiro capítulo do trabalho, especificamente no item 1.6, que a boa -fé se apresenta como uma norma de cunho amplo e geral, e por isso pode ser apontada como sendo um princípio geral do nosso ordenamento. Além disso, como também examinamos em detalhes, o assento da boa-fé pode ser encontrado diretamente na Constituição Federal, mais precisamente no princípio da solidariedade social, que impõe a todos os integrantes de uma comunidade o dever de cooperação em relação aos demais, sendo que esse dever se torna mais acentuado e mais perceptível na medida em que é reduzido o tamanho desse grupamento social, sendo por isso fácil de se perceber que será muito forte esse dever de cooperação (rectius: dever de agir de boa-fé) em um grupo pequeno, como é o caso de uma relação contratual. Ora, a partir da constatação e da junção desses dois fatos (a boafé é um princípio; esse princípio tem assento constitucional), várias conseqüências podem ser daí extraídas, e de fato foram exploradas ao longo do presente trabalho. Tais conseqüências dizem respeito, principalmente, ao caráter multifuncional da boa-fé, ou seja, ao seu papel múltiplo (interpretação, integração, limitação, etc). Veja-se que, sendo um princípio geral, a boa-fé se espalha por todo o nosso ordenamento, o que por si só já é suficiente para que se conclua que seu campo de atuação ultrapassa o das relações obriga cionais. Esse princípio atua, é evidente, como fonte secundária do direito, ou seja, 448 possibilitando a integração nos casos em que não existe norma legal ou contratual acerca de uma determinada situação surgida ao longo da relação. No entanto, por sua natureza constitucional, o princípio da boa-fé não se limita a esse papel integrador, pois na hipótese de haver norma legal ou contratual, mas a mesma se revelar em choque com o princípio, é este que deverá prevalecer, ou seja, deverá o operador do direito, sem maiores delongas, simplesmente afastar a norma legal ou convencional, sobre qualquer delas dando prevalência ao princípio da boa-fé. E seria até desnecessário dizer que esse aspecto se revela importantíssimo, como já realçamos acima, pois a partir daí pode-se concluir que o princípio da boa-fé serve como instrumento para que o juiz possa interferir diretamente no conteúdo contratual, não apenas para completá-lo, mas também alterando uma determinada cláusula, excluindo-a, inserindo uma outra, etc, mas sempre de modo a garantir o atendimento da proteção à boa-fé. Pode-se mesmo dizer que a boa-fé, mais do que uma norma, se apresenta como uma fonte de normas, sendo que estas prevalecem sobre as normas contratuais e legais, em caso de conflito. Ainda dentro das conclusões que decorrem dessas duas constatações acima apontadas, acerca do princípio da boa-fé, e que englobam o caráter expansionista da mesma, pode-se apontar também o importantíssimo aspecto de sua aplicação aos campos que se situam além do direito privado, notadamente o direito processual e o direito público. Com efeito, o que pudemos observar, notadamente no item 1.7 do presente estudo, é que inclusive à administração pública se proíbe que “volte sobre os seus próprios passos”, vale dizer, que possa agir de modo incoerente e contraditório, nos casos em que tal agir venha a violar o dever de boa-fé. 449 No entanto, como parte dessa mesma conclusão, convém realçar que, em relação à administração pública, o tratamento ao tema deve ser dado sob a ótica de parâmetros distintos, próprios das peculiaridades que cercam a atuação do administrador público. Com efeito, embora não se discuta que também à administração pública se impõe a conduta pautada pelas normas comportamentais decorrentes do princípio da boa-fé, a toda evidência não se pode tratar essa relação, que de um dos lados apresenta o interesse público, da mesma forma que se trata uma relação desenvolvida apenas entre particulares, e que por isso está bipolarizada apenas em função de interesses particulares. Assim, por exemplo, suponha-se que um segundo comportamento se mostra contraditório com o primeiro, quebrando a confiança do outro sujeito, em hipótese de venire contra factum proprium. Suponha-se, ainda, que em termos materiais esse segundo comportamento poderia ser facilmente desfeito. Ora, em se tratando de particulares, a solução preferida será exatamente aquela que determine o desfazimento ou a alteração do segundo comportamento, preservando a boa-fé (a confiança) do outro sujeito. No entanto, em se tratando da administração pública, muitas vezes ocorrerá desse segundo comportamento, ainda que violador da confiança do administrado, e portanto contrário à boa-fé, ser o que melhor atende às conveniências públicas, e por essa razão não faria sentido desfazê-lo apenas para que pudesse ser atendido o interesse particular. A solução preferencial, portanto, em tais casos, se dará mediante a indenização dos prejuízos sofridos, e não pelo desfazimento do ato do administrador. Por outro lado, levando-se em conta que a atuação da administração pública se dá de modo impessoal e genérico, vale dizer, trata-se de atuação que, em regra, não se destina a uma pessoa específica, mas ao 450 estabelecimento de regras e condições que vão atender a generalidade (ou pelo menos um grande número) de jurisdicionados, pode-se concluir que a quebra da boa-fé, por parte da administração pública, em virtude da adoção de comportamentos contraditórios, não depende de ter havido uma relação jurídica específica com um determinado sujeito, podendo decorrer da adoção de uma postura política ou econômica anterior. Assim, a partir do momento em que a administração pública adotou uma determinada posição econômica, com o intuito de incentivar uma certa atividade da produção, por exemplo, qualquer administrado, embora tal política não se dirigisse a ele, especificamente, mas sim a toda coletividade, poderá exigir que seja mantida a coerência, por parte do administrador. Dessarte, se esse administrado, em função da postura adotada pelo governo federal, efetuou elevados investimentos em uma determinada atividade, e, abruptamente, houve uma mudança completa na política governamental, passando a ser execrada aquela mesma atividade que até então era incentivada, poderá esse particular insurgir-se contra esse comportamento contraditório, exigindo, por exemplo, o pagamento de uma indenização, a ser paga pela administração pública que voltou sobre seus próprios passos. Da mesma forma, também se mostra importante a conclusão, ainda referente às duas características da boa-fé acima examinadas, acerca da sua expansão, também, para o campo do direito processual. E, ainda mais, essa boa-fé não atinge apenas as partes do processo, mas também diz respeito a toda e qualquer pessoa que, de uma forma ou de outra, possa ter influência sobre o correto atendimento dos provimentos judiciais. No caso, contudo, essa boa-fé processual já se encontra explícita no texto legal, mais precisamente nos artigos 14 e seguintes, do CPC, e por essa razão em geral não se mostrará 451 necessário o recurso à figura da boa-fé, cujos contornos nem sempre são precisos ou de fácil identificação. Aliás, a parte final do parágrafo anterior diz respeito a outra relevante conclusão que pode ser apontada, que é a que se refere à desnecessidade de se recorrer à boa-fé nos casos em que existe norma legal expressa disciplinando de modo adequado o tema, uma vez que não faria qualquer sentido abandonar-se a norma legal, de contornos mais precisos, para se buscar o mesmo resultado através do princípio da boa-fé, que sempre se apresenta com os contornos mais imprecisos, o que poderia acabar por se constituir em um foco de insegurança jurídica. Não quer isso dizer, é evidente, que a segurança jurídica se constitua em um valor absoluto ou que se confunda com a obediência literal do texto da lei, e tanto assim que acabamos de apontar conclusão no sentido de que o juiz, para preservar o princípio da boa-fé, poderá afastar a aplicação de norma legal expressa. No entanto, é evidente que essa adoção de uma solução de contornos imprecisos, que possa afetar a segurança jurídica, só deverá ser adotada quando se mostrar indispensável fazê-lo, o que não seria o caso nas hipóteses em que houvesse norma legal expressa a respeito do tema (a não ser, como já dissemos acima, que tal norma não se mostrasse adequada aos ditames da boa-fé). O desatendimento à boa-fé, por outro lado, nem sempre apresenta a mesma conseqüência jurídica, ou seja, nem sempre deverá receber a mesma solução, variando sempre em função das circunstâncias do caso concreto. Tal conclusão pode ser facilmente obtida quando se observa que a própria boa-fé se concretiza de maneiras variadas, conforme as circunstâncias de cada situação concreta. Ora, se a própria boa-fé se apresenta de diversos modos, parece evidente que se pode concluir que a violação da boa-fé também poderá 452 ocorrer de diversas formas, e, ainda, que as soluções poderão ocorrer de diversos modos distintos, em função das circunstâncias de cada hipótese onde a violação da boa-fé vem a se concretizar. Tal afirmação nos permite apontar que o item 1.9, no primeiro capítulo do presente estudo, apenas apresenta uma relação meramente exemplificativa, acerca das possíveis conseqüências da concretização da proteção à boa-fé, limitando-se a apontar as hipóteses de maior relevância, mas sem qualquer pretensão de esgotar o inesgotável tema. No que se refere ao capítulo dois, que trata das violações típicas da boa-fé, convém desde logo realçar o enquadramento da figura do venire contra factum proprium dentro do campo mais amplo do abuso do direito, com a óbvia ressalva de que se trata de um caso particular de abuso, vale dizer, com características próprias, que permitem um exame em separado, distinto das demais figuras que também se enquadram como casos específicos de abuso. Além disso, também é importante destacar que, embora nosso Código Civil não se refira diretamente ao venire, na verdade podemos encontrar aplicações práticas do mesmo ao longo de todos os seus livros, inclusive em relação ao direito de família, o que serve para ratificar o caráter genérico do campo de atuação da boa-fé, nas diversas modalidades em que a mesma surge nas relações jurídicas. Vimos que todos os casos de venire contra factum proprium podem ser decompostos em dois comportamentos e uma contradição. Os dois comportamentos são os adotados pelo mesmo sujeito, em momentos distintos, e que se mostram contraditórios entre si, de modo tal que após o (e em virtude do) primeiro deles já havia se formado, no espírito do outro sujeito, a legítima expectativa, a confiança de que não seria adotada conduta idêntica àquela do segundo comportamento. E a contradição é precisamente aquela que se mostra capaz de frustrar essa confiança que se havia formado no outro sujeito. Com 453 base na identificação desses elementos, pode-se então apontar que o venire, de um modo geral, estará caracterizado quando, cumulativamente: a) cada um dos comportamentos, quando individualmente considerado, seja válido, ou seja, que não se trate de ato intrinsecamente ilícito; em algumas situações, o primeiro dos comportamentos poderá ter sido nulo, mas desde que tenha aparência de validade, capaz de fazer surgir a confiança na contraparte; b) cada comportamento se constitua em uma atuação jurídica, ou seja, que se mostre capaz de repercutir na esfera jurídica alheia, do outro sujeito envolvido no negócio; c) que o primeiro comportamento não tenha gerado, para o sujeito, uma vinculação, ou seja, que não haja uma obrigação a ser cumprida como decorrência do primeiro comportamento, pois caso contrário se tratará de inadimplemento de obrigação, e não de venire; d) qualquer dos comportamentos pode consistir tanto em uma ação quanto em uma omissão; e) o segundo comportamento, ao se mostrar incoerente com o primeiro, deve piorar a situação do outro sujeito, em relação ao que este esperava para a segunda atuação. Em outras palavras, se o segundo comportamento, apesar de mostrar contradição em relação ao primeiro, vem a se mostrar mais benéfico para o outro sujeito, não existirá qualquer razão para que se faça incidir o princípio da boa-fé, pois seria ilógico que se negasse o benefício ao sujeito sob o argumento de protegê-lo; f) por último, a contradição não pode ser justificada, porque, se o for, não se poderá mais falar em ocorrência de venire. 454 Além disso, importante que se recorde que a finalidade da vedação dos comportamentos contraditórios, ou seja, a finalidade do venire, é a proteção da boa-fé do sujeito confiante, e por essa razão acaba por se mostrar irrelevante perquirir se o que agiu de modo contraditório estava de má-fé, uma vez que o que se estará buscando não é a punição dessa má-fé de um, mas sim a proteção à boa-fé do outro. Essa característica se revelou importante por permitir a distinção precisa entre os casos de venire e o tu quoque, uma vez que neste último, ao contrário, o objetivo principal é a repressão à má-fé de um dos sujeitos, e não a proteção à boa-fé do outro. Isso nos permite concluir que se poderá lançar mão da figura do venire contra factum proprium, para a proteção da boa-fé de um dos sujeitos, ainda mesmo nos casos em que o outro não esteja de má-fé, pois a presença desta se mostra irrelevante, para fins de proteção daquela. Finalmente, em relação ao binômio suppressio X surrectio, pudemos concluir que se trata de um caso particular de venire contra factum proprium. Falamos em binômio porque as duas situações sempre aparecerão juntas, ou seja, ao surgimento de um direito para um dos sujeitos corresponderá a supressão do direito de um outro, e que se mostraria capaz de afetar o direito recém-surgido. E o surgimento de tais conseqüências se dá precisamente nessa ordem, ou seja, primeiramente surge o direito de um, para em seguida, como conseqüência, desaparecer o direito do outro de exercer uma determinada situação jurídica que se mostraria em choque com tal direito. Dito em outras palavras, no binômio suppressio X surrectio o que se verifica, em primeiro lugar, é que um dos sujeitos, por ter surgido no seu espírito a legítima expectativa (a confiança) de que o outro não mais exerceria um determinado direito, recebe a proteção da boa-fé, no sentido de que o outro, efetivamente, não mais poderá exercer o direito em relação ao qual, até 455 então, havia se omitido. E como conseqüência dessa proteção à confiança, desaparece o direito que o outro poderia exercer, mas que até então havia se omitido. Fácil de se perceber, portanto, que o enfoque se deu na proteção à boa-fé de um dos sujeitos, e não à repressão à má-fé do outro (mesmo porque nem ao menos se pode falar em má-fé, por não ter sido exercido um direito), e daí o enquadramento como um caso peculiar de venire, como já havíamos inicialmente apontado. 456 Referências bibliográficas ALMEIDA, Cléber Lúcio de. Abuso do Direito no Processo do Trabalho. Belo Horizonte: Inédita, 2000. ALVES, José Carlos Moreira. A boa-fé objetiva no sistema contratual brasileiro. Roma e America. Diritto Romano Comune. Rivista di Diritto Dell, integrazione e unificazione del Diritto in Europa e in America Latina, n° 7, p. 187-204, 1999. Roma: Mucchi Editore, 1999. _____________. O novo Código Civil brasileiro e o direito romano – seu exame quanto às principais inovações no tocante ao negócio jurídico. In: Franciulli Netto, Domingos; Mendes, Gilmar Ferreira e Martins Filho, Ives Gandra da Silva (Coord.). O Novo Código Civil – Estudos em Homenagem ao Prof. Miguel Reale. São Paulo: LTr, 2003. ALVIM, Agostinho. Da inexecução das obrigações e suas conseqüências. São Paulo: Saraiva, 1972. AMARAL, Francisco. Os Atos Ilícitos. In: Franciulli Netto, Domingos; Mendes, Gilmar Ferreira e Martins Filho, Ives Gandra da Silva (Coord.). O Novo Código Civil – Estudos em Homenagem ao Prof. Miguel Reale. São Paulo: LTr, 2003. ASCENSÃO, José de Oliveira Ascensão, O Direito – Introdução e Teoria Geral. Coimbra: Almedina, 2005. AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Insuficiências, deficiências e desatualização do Projeto de Código Civil na questão da boa-fé objetiva nos contratos. Revista trimestral de direito civil – v. 1 (janeiro/março 2000). Rio de Janeiro: Padma, 2000. _____________. Interpretação do contrato pelo exame da vontade contratual. O comportamento das partes posterior à celebração. Interpretação e efeitos do contrato conforme o princípio da boa-fé objetiva. Impossibilidade do venire contra factum proprium e de utilização de dois pesos e duas medidas (tu quoque). Efeitos do contrato e sinalagma. A assunção pelos contratantes de riscos específicos e a impossibilidade de fugir do “programa contratual” estabelecido. Revista Forense – v. 351 (julho/agosto/setembro 2000). Rio de Janeiro: Forense, 2000. BESSONE, Darcy. Direitos Reais. São Paulo: Saraiva, 1996. BETTI, Emilio. Cours de Droit Civil comparé des obligations, 1957-1958. Milano: Giuffrè, 1958. 457 _____________. Teoria generale delle obbligazoni, v. I: Prolegomeni: Funzione economico-sociale dei rapporti d’obbligazione. Milano: Giuffrè, 1953. BOBBIO, Norberto. Teoria della scienza giuridica. Torino: G. Giappiachelli Editore, 1950. _____________. Teoría General del Derecho. Bogotá: Temis, 1999. _____________. O positivismo jurídico – Lições de Filosofia do Direito. Trad. Márcio Pugliesi. São Paulo: Ícone, 1995. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Em torno dos vícios do negócio jurídico – A propósito do erro de fato e do erro de direito. In: Franciulli Netto, Domingos; Mendes, Gilmar Ferreira e Martins Filho, Ives Gandra da Silva (Coord.). O Novo Código Civil – Estudos em Homenagem ao Prof. Miguel Reale. São Paulo: LTr, 2003. CAPUCHO, Beatriz Maki Shinzato. Da boa-fé na negociação coletiva de trabalho. Dissertação de Mestrato. São Paulo: Faculdade de Direito da USP, 2003. CARRIDE, Norberto de Almeida. Vícios do Negócio Jurídico. São Paulo: Saraiva, 1997. CHAVES, Antônio. Responsabilidade Pré Contratual. São Paulo: Lejus, 1997. COSTA, Mário Júlio de Almeida. Direito das Obrigações. Coimbra: Almedina, 2005. COSSÍO Y CORRAL, Alfonso de. El dolo en el derecho civil. Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 1955. CRISPINO, Nicolau Eládio Bassalo. A união estável e a situação jurídica dos negócios entre companheiros e terceiros. Tese de Doutorado. São Paulo: Faculdade de Direito da USP, 2005. CORDEIRO, Antônio Manuel da Rocha e Menezes. Da boa-fé no Direito Civil. Coimbra: Almedina, 2001. _____________. Direitos Reais. Lisboa: LEX, 1979. DANTAS Jr., Aldemiro Rezende. O Direito de Vizinhança. Rio de Janeiro: Forense, 2003. _____________. In: Mário Müller Romitti (Arts. 1.390 a 1.418) e Aldemiro Rezende Dantas Júnior (Arts. 1.419 a 1.510). Comentários ao Código Civil 458 Brasileiro, v. XIII: do direito das coisas. Coordenadores. Arruda Alvim e Thereza Alvim. Rio de Janeiro: Forense, 2004. DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 2004. DESCARTES, René. Discurso do Método. São Paulo: Martins Fontes, 1999. DIEZ-PICAZO, Luis e Gullon, Antonio. Sistema de Derecho Civil – v. 1 – Introdución – Derecho de La persona – Negocio Jurídico. Madrid: Editorial ecnos, 1979. DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, v. 1: Teoria Geral do Direito Civil. São Paulo: Saraiva, 2002. _____________. Curso de Direito Civil Brasileiro, v. 3: Teoria das Obrigações Contratuais e Extracontratuais. São Paulo: Saraiva, 2002. _____________. Curso de Direito Civil Brasileiro, v. 4: Direito das Coisas. São Paulo: Saraiva, 2002. _____________. Curso de Direito Civil Brasileiro, v. 3: Teoria das Obrigações Contratuais e Extracontratuais. São Paulo: Saraiva, 1995. _____________. As lacunas no Direito. São Paulo: Saraiva, 1999. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Discricionariedade administrativa na Constituição de 1988. São Paulo: Atlas, 1991. DONNINI, Rogério Ferraz. Responsabilidade Pós-Contratual no Novo Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: Saraiva, 2004. ESSER, Josef. Principio y Norma en la Elaboración Jurisprudencial del Derecho Privado. Barcelona: Bosch, 1961. FARIAS, Cristiano Chaves de. Direito Civil – Teoria Geral. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direitos Reais. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2006. FELIPE, J. Franklin Alves e Geraldo Magela Alves. O Novo Código Civil Anotado. Rio de Janeiro: Forense, 2003. FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Prefácio do Tradutor. In: Viehweg, Theodor. Tópica e Jurisprudência. Brasília: Departamento de Imprensa Nacional, 1979. FIGUEROA, Guillermo Guerrero. Principios Fundamentales del Derecho del Trabajo. Bogotá: Leyer, 1999. 459 FREITAS, Juarez. A interpretação sistemática do direito. São Paulo: Malheiros, 2002. GAGLIANO, Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona Filho, Novo Curso de Direito Civil – Parte Geral, v. 1. São Paulo: Saraiva, 2002. GIL, Antônio Hernández. La función Social de la posesión. Madrid: Castilla, 1969. _____________. La posesión. Madrid: Civitas, 1980. GIUDICE, F. Del (Coord.). Códice Civile spiegato Articolo per Articolo, v. 1. Nápoles: Edizioni Simone, 1997. GOMES, Orlando. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 1992. GOMES, Orlando e GOTTSCHALK, Elson. Curso de Direito do Trabalho. Rio de Janeiro: Forense, 1990. GROSSO, Giuseppe. Verbete Buona fede – La Tradizione Romana. In: Calasso, Francesco (Coord.), Enciclopédia del Diritto, V. Milano: Giuffrè, 1959. JALUZOT, Béatrice. La bonne foi dans les contrats: Étude comparative de droit français, allemand et japonais. Paris: Dalloz, 2001. JOSSERAND, Louis. L’Esprit des Droits et de leur Reativité – Théorie dite de l’Abus des Droits. Paris: Dalloz, 1939. _____________. Cours de Droit Civil Positif Français, v. I. Paris: Librairie du Recueil Sirey, 1938. _____________. Cours de Droit Civil Positif Français, v. II. Paris: Librairie du Recueil Sirey, 1933. _____________. O Desenvolvimento Moderno do Conceito Contratual. In: Revista Forense, n° 72, Dezembro de 1937, pp. 528-538. Rio de Janeiro: Forense, 1937. _____________. O Contrato de Trabalho e o Abuso dos Direitos. In: Revista Forense, n° 75, Setembro de 1938, pp. 504-514. Rio de Janeiro: Forense, 1938. KÜMPEL, Vitor Frederico. A teoria da aparência no novo Código Civil brasileiro. Tese de Doutorado. São Paulo: Faculdade de Direito da USP, 2004. LARENZ, Karl. Derecho de obligaciones, v. I (versión española de Jaime Santos Briz). Madrid: Revista de Derecho Privado, 1958. 460 LEWICKI, Bruno. Panorama da boa-fé objetiva. In: Tepedino, Gustavo (Coord.). Problemas de Direito Civil-Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. LIMA, Alvino. Culpa e Risco. São Paulo: RT, 1999. LOMBARDO, Luigi Scavo. Verbete Buona fede – La Tradizione Canonistica. In: Calasso, Francesco (Coord.), Enciclopédia del Diritto, V. Milano: Giuffrè, 1959. LORENZETTI, Ricardo Luis. Fundamentos do Direito Privado. São Paulo: RT, 1998. LOTUFO, Renan. Código Civil Comentado: parte geral (arts. 1º a 232), volume 1. São Paulo: Saraiva, 2003. MARANHÃO, Délio e CARVALHO, Luiz Inácio B. Direito do Trabalho. Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1993. MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações contratuais. São Paulo: RT, 1998. MARTINS, Guilherme Magalhães. Boa-fé e contratos eletrônicos via Internet. In: Tepedino, Gustavo (Coord.). Problemas de Direito Civil-Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. MARTINS, Pedro Baptista. O Abuso do Direito e o Ato Ilícito. Rio de Janeiro: Forense, 1997. MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no Direito Privado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999. _____________. O adimplemento e o inadimplemento das obrigações no novo Código Civil e o seu sentido ético e solidarista. In: Franciulli Netto, Domingos; Mendes, Gilmar Ferreira e Martins Filho, Ives Gandra da Silva (Coord.). O Novo Código Civil – Estudos em Homenagem ao Prof. Miguel Reale. São Paulo: LTr, 2003. MATTIETTO, Leonardo. O Direito Civil Constitucional e a Nova Teoria dos Contratos. In: Tepedino, Gustavo (Coord.). Problemas de Direito CivilConstitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. Rio de Janeiro: Forense, 1998. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2000. 461 MELLO, Heloisa Carpena Vieira de. A boa-fé como parâmetro da abusividade no direito contratual. In: Tepedino, Gustavo (Coord.). Problemas de Direito Civil-Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado, T. 1, arts. 1°-45. Rio de Janeiro: Forense, 1974. _____________. Comentários ao Código de Processo Civil, t. I. Rio de Janeiro: Forense, 1995. MOREIRA, Egon Bockmann. Processo Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2000. MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil, v. 3: Direito das Coisas. São Paulo: Saraiva, 1991. _____________. Curso de Direito Civil, v. 4: Direito das Obrigações – 1ª parte. São Paulo: Saraiva, 1995. MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à Pessoa Humana – Uma Leitura Civil-Constitucional dos Danos Morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. MOTA, Maurício Jorge. A pós-eficácia das obrigações. In: Tepedino, Gustavo (Coord.). Problemas de Direito Civil-Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. MOZOS, José Luis de Los Mozos, El Principio de La Buena Fe. Barcelona: Bosch, Casa Editorial, 1965. NADER, Paulo. Curso de Direito Civil, v. 3: Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2005. NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: Saraiva, 2003. NEGREIROS, Teresa. Fundamentos para uma Interpretação Constitucional do Princípio da Boa-Fé. Rio de Janeiro: Renovar, 1998. NEQUETE, Lenine. Da passagem forçada. Porto Alegre: Livraria Editora Porto Alegre, 1985. NOVAIS, Alinne Arquette Leite. Os Novos Paradigmas da Teoria Contratual: O Princípio da Boa-fé Objetiva e o Princípio da Tutela do Hipossuficiente. In: Tepedino, Gustavo (Coord.). Problemas de Direito Civil-Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. NUNES, Luiz Antônio Rizzatto. Manual de Introdução ao estudo do direito. São Paulo: Saraiva, 1999. 462 PAGE, Henri de. Traité Élémentaire de Droit Civil Belge, t. II. Bruxelas: Émile Bruylant, 1934. PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v. IV: Posse, propriedade, direitos reais de fruição, garantia e aquisição. Rio de Janeiro: Forense, 1997. _____________. Instituições de Direito Civil, v. III: Fontes das Obrigações. Rio de Janeiro: Forense, 1992. PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil – Introdução ao Direito Civil Constitucional. Trad. Maria Cristina De Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. PLANIOL, Marcel e RIPERT, Georges. Traité Pratique de Droit Civil Français, Tome VI: Obligations, première partie. Paris: Librairie Générale de Droit & de Jurisprudence, 1930. POTHIER, Robert Joseph. Tratado das Obrigações. Trad. Adrian Sotero De Witt Batista e Douglas Dias Ferreira. Campinas: Servanda, 2001. PRATA, Ana. A tutela constitucional da autonomia privada. Coimbra: Almedina, 1982. RÁO, Vicente. O Direito e a Vida dos Direitos. São Paulo: RT, 1999. REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. São Paulo: Saraiva, 2001. ROCHA, Sílvio Luís Ferreira da. A Oferta no Código de Defesa do Consumidor. _____________. Introdução ao Direito de Família. São Paulo: RT, 2003. RODRIGUES, Sílvio. Direito Civil, v. 1: Parte Geral. São Paulo: Saraiva, 1988-1989. RODRIGUEZ, Américo Plá. Princípios de Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 2000. RUBIO, Delia Matilde Ferreira. La Buena Fe: el principio general em el derecho civil. Madrid: Editorial Montecorvo S.A., 1984. SAMPAIO, Laerte Marrone de Castro. A boa-fé objetiva na relação contratual. Barueri: Manole, 2004. SAVIGNY, Friedrich Carl von. Sistema do direito romano atual. Trad. Ciro Mioranza. Ijuí: Ed. Unijuí: Fondazione Cassamarca, 2004. SCHREIBER, Anderson. A Proibição de Comportamento Contraditório – Tutela da confiança e venire contra factum proprium. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. 463 SERPA LOPES, Miguel Maria. Curso de Direito Civil: Direito das Coisas (v. VI). Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1996. SILVA, Clóvis V. do Couto e. A obrigação como processo. São Paulo: Bushatsky, 1976. SILVA, Ovídio A. Baptista da. Curso de Processo Civil, v. 1: Processo de Conhecimento. São Paulo: RT, 2000. SLAWINSKI, Célia Barbosa Abreu. Breves reflexões sobre a eficácia atual da boa-fé objetiva no ordenamento jurídico brasileiro. In: Tepedino, Gustavo (Coord.). Problemas de Direito Civil-Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. TARTUCE, Flávio. A revisão do contrato pelo novo Código Civil. Crítica e proposta de alteração do art. 317 da Lei 10.406/02. In: Delgado, Mário Luiz e Alves, Jones Figueirêdo, Novo Código Civil – Questões Controvertidas. São Paulo: Método, 2003. TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. THEODORO JR., Humberto. O contrato e seus princípios. Rio de Janeiro: AIDE, 2001. VARELA, Antunes. Direito das Obrigações, v. I. Rio de Janeiro: Forense, 1977. VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil – Parte Geral. São Paulo: Atlas, 2001. VIEHWEG, Theodor. Tópica e Jurisprudência. Trad. Tércio Sampaio Ferraz Jr., Brasília: Departamento de Imprensa Nacional, 1979. WIEACKER, Franz Wieacker, Historia do Direito Privado Moderno. Trad. A. M. Botelho Hespanha. Lisboa: Fundçao Calouste Gulbenkian, 2004. ZANETTI, Cristiano de Sousa. Responsabilidade pela ruptura das negociações no direito civil brasileiro. Dissertação de Mestrato. São Paulo: Faculdade de Direito da USP, 2003.
Baixar