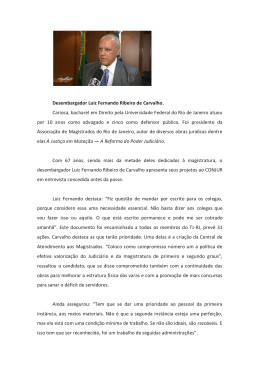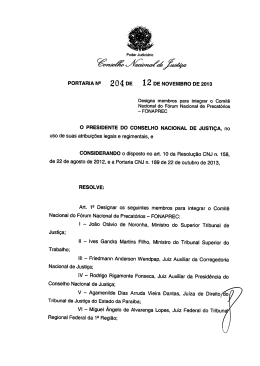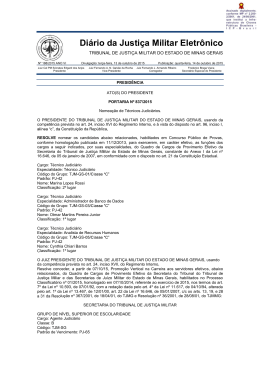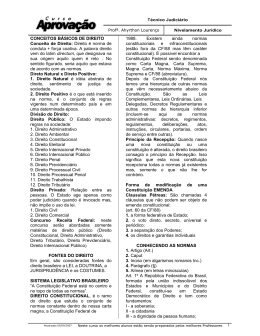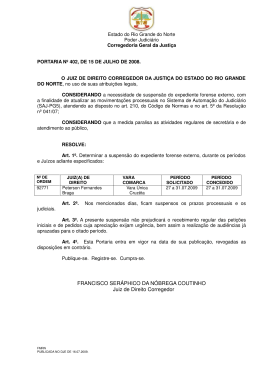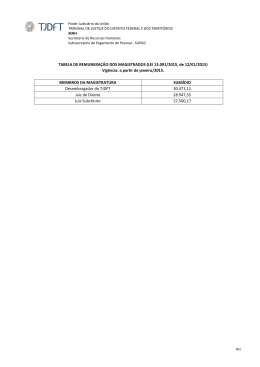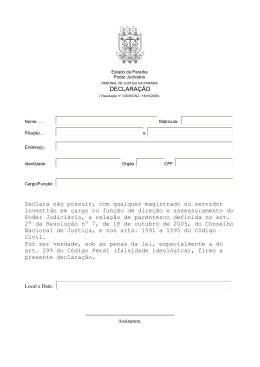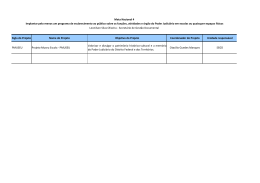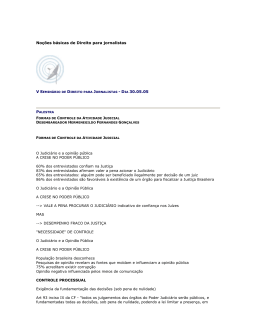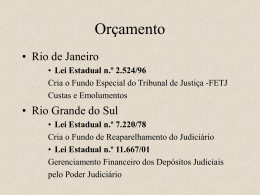ISSN 1807-779X Edição 117 - Abril de 2010 R$ 16,90 S umário Foto: Nelson Jr./SCO/STF 10 Missão cumprida 6 DOM QuixOte: livro promoverá combate ao trabalho infantil 8 20 aNOS Da CONStituiçãO 26 Foto: Arquivo JC Foto: Arquivo Pessoal Foto: Arquivo JC 16 eDitORial PNDH-3, em face da Constituição brasileira DiReitO, eCONOMia e CORRuPçãO 37 20 Considerações sobre a COP15 42 SObRe MúSiCa, filOSOfia e 48 iNteRPRetaçãO DO DiReitO Foto: Rosane Naylor Regulações expropriatórias eM fOCO: 46 Juizados pedem socorro 2 JUSTIÇA & CIDADANIA | ABRIL 2010 Foto: Arquivo Pessoal Foto: Luiz Antonio/STJ 33 “Cartas a um jovem juiz” 2010 ABRIL | JUSTIÇA & CIDADANIA 3 EDIÇÃO 117 • ABRIL DE 2010 ORPHEU SANTOS SALLES EDITOR TIAGO SANTOS SALLES DIRETOR EXECUTIVO ERIkA BRANCO DIRETORA DE REDAÇÃO DAVID SANTOS SALLES EDITOR ASSISTENTE DIOGO TOMAZ DIAGRAMADOR GISELLE SOUZA JORNAlISTA COlAbORADORA LUCIANA PERES REVISORA EDITORA JUSTIÇA & CIDADANIA AV. NIlO PEÇANHA, 50/GR.501, ED. DE PAOlI RIO DE JANEIRO – RJ CEP: 20020-906 TEl./FAX (21) 2240-0429 SUCURSAIS SÃO PAULO RAPHAEL SANTOS SALLES AV. PAUlISTA, 1765 / 13°ANDAR SÃO PAUlO – SP CEP: 01311-200 TEl. (11) 3266-6611 PORTO ALEGRE DARCI NORTE REBELO RUA RIACHUElO, 1038 / Sl.1102 ED. PlAZA FREITAS DE CASTRO CENTRO – PORTO AlEGRE – RS CEP: 90010-272 TEl. (51) 3211-5344 Foto: STF COnsELhO EDItORIAL beRNaRDO CabRal Presidente alvaRO MaiRiNk Da COSta aNDRÉ fONteS aNtONiO CaRlOS MaRtiNS SOaReS aNtôNiO SOuza PRuDeNte aRNalDO eSteveS liMa aRNalDO lOPeS SüSSekiND auRÉliO waNDeR baStOS beNeDitO gONçalveS CaRlOS aNtôNiO Navega CaRlOS ayReS bRittO CaRlOS MáRiO vellOSO CeSaR aSfOR ROCHa DalMO De abReu DallaRi DaRCi NORte RebelO eDSON CaRvalHO viDigal elliS HeRMyDiO figueiRa eNRiQue RiCaRDO lewaNDOwSki eROS RObeRtO gRau fábiO De SalleS MeiRelleS feRNaNDO NeveS fRaNCiSCO PeçaNHa MaRtiNS fReDeRiCO JOSÉ gueiROS gilMaR feRReiRa MeNDeS HuMbeRtO gOMeS De baRROS iveS gaNDRa MaRtiNS JeRSON kelMaN JOaQuiM alveS bRitO JOSÉ auguStO DelgaDO JOSÉ CaRlOS MuRta RibeiRO JOSÉ eDuaRDO CaRReiRa alviM luiS feliPe SalOMãO luiz fux MaNOel CaRPeNa aMORiM MaRCO auRÉliO MellO MaSSaMi uyeDa MauRiCiO DiNePi MaxiMiNO gONçalveS fONteS Ney PRaDO ORPHeu SaNtOS SalleS PaulO fReitaS baRata SeRgiO CavalieRi filHO SiRO DaRlaN SylviO CaPaNeMa De SOuza tHiagO RibaS filHO BRASÍLIA ARNALDO GOMES SCN, Q.1 – bl. E / Sl. 715 EDIFÍCIO CENTRAl PARK bRASÍlIA – DF CEP: 70711-903 TEl. (61) 3327-1228/29 CORRESPONDENTE ARMANDO CARDOSO TEl. (61) 9674-7569 [email protected] www.REVISTAJC.COM.BR acesse o novo portal Justiça & Cidadania www.revistajc.com.br CTP, IMPRESSÃO E ACABAMENTO ZIT GRÁFICA E EDITORA lTDA ISSN 1807-779X 4 JUSTIÇA & CIDADANIA | ABRIL 2010 2010 ABRIL | JUSTIÇA & CIDADANIA 5 e ditorial AVE MAGISTERES! GIlMAR MENDES, CARlOS AyRES bRITTO, CEZAR PElUSO E ENRIQUE lEwANDOwSKI D 6 JUSTIÇA & CIDADANIA | ABRIL 2010 implementar seu projeto de governo. Quando o Chefe do Poder Executivo só pensa em fazer o sucessor, ele desvia o olhar do projeto do governo para o projeto do poder, como acontece em alguns países muito próximos ao nosso”. Também muito apropriada a afirmação do Presidente do STF, Ministro Gilmar Mendes, contra o desmerecimento do Presidente Lula ao criticar o ato judicante da aplicação da multa eleitoral por infringência à lei, pretendendo pôrse acima desta, o que valeu a advertência: “num Estado de Direito, não temos soberanos, e todos estão submetidos à Constituição e à lei”. A proximidade das eleições, a se realizarem em outubro vindouro, pela grandiosidade dos cargos a serem disputados, tanto no Poder Executivo, federal e estaduais, quanto igualmente nos respectivos Legislativos, dará margem a acirrados embates envolvendo não apenas o Presidente da República, como vem sendo evidenciado por suas decla rações e pronunciamentos defendendo ardorosamente a sua candidata, como a oposição, debatendo contrariada o uso ostensivo da máquina pública. Os rotineiros discursos do Presidente Lula, fazendo o continuado proselitismo da candidatura posta, têm causado espanto e até provocado protestos não só do Chefe do Poder Judiciário, mas também outros pronunciamentos, como o do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Ophir Cavalcante, e dos presidentes da Associação dos Juízes Federais, Fernando Mattos, e da Associação dos Magistrados do Brasil, Mozart Valadares, ante a alusão que faz envolvendo e criticando a Justiça Eleitoral, quando declara que “acha um absurdo ficar subordinado, a cada eleição, ao juiz que diz o que a gente pode ou não fazer”, a despeito de há poucos dias ele mesmo ter dito, divergentemente, em entrevista a uma Rádio, que o Poder Judiciário deve ser respeitado e que, se erros forem cometidos por ele no curso da campanha, merece ser punido por isso. Nos dias 22 e 23 de abril, tomaram posse, por eleição de rotina, na presidência do Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral, respectivamente, os ministros Cezar Peluso e Enrique Lewandowski, em substituição aos ministros Gilmar Mendes e Carlos Ayres Britto. Os novos empossados, pela comprovada e magnífica experiência vivificada na judicatura, desde os tempos em que compuseram a Magistratura no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como juízes e desembargadores, certamente, também nas direções da Suprema Corte Constitucional e do Tribunal Superior Eleitoral, demonstrarão a continuidade de como vêm exercendo as altas judicaturas, deixando exemplos na distribuição da justiça, com despachos, votos e sentenças prolatadas com independência e coragem, que se constituem pela fidelidade ao direito e à lei, pelo raciocínio lógico e perfeito, em verdadeiras lições e obras de jurisprudência. O BRASIL PODE SE ORGULHAR DOS JUÍZES QUE TEM. AVE MAGISTERES! Foto: Sandra Fado eixaram, nesse mês de abril, a presidência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Eleitoral, os ministros Gilmar Mendes e Carlos Ayres Britto, magistrados que honram e dignificam a Justiça brasileira. Ambos, na respectiva curul presidencial, impuseram, com invulgar inteligência jurídica e humanista, e, sobretudo, com a independência compatível com a lide judicante, alcançando com denodada dedicação os píncaros do respeito e relevância, a dignidade da Justiça e a prevalência do Direito posto. As lições exemplificadas pelos ilustres dignitários nos comandos das Cortes Superiores respectivas deixaram indele velmente marcado com suas decisões, que, daqui para o futuro, seja quem for, independente da posição e qualificação pessoal que detenha, governante ou do povo, branco ou negro, pobre ou rico, todos estarão submetidos ao cumprimento da lei. As sábias e lapidares decisões e votos proferidos por esses magníficos ministros valem tanto e muito mais pelas lições que deixam, pelas considerações e efeitos que geram no sentimento do povo, tanto quanto pelo significado e aplicação a quem se dirige, como as significativas palavras proferidas pelo Presidente do TSE, Ministro Carlos Ayres Britto, na manutenção das multas aplicadas ao Presidente Lula: “A qualidade da vida política no Brasil é ruim por essa promiscuidade entre projeto de governo e projeto de poder. Ninguém foi eleito para fazer seu sucessor, mas para “Há homens que lutam por um dia e são bons. Há outros que lutam por um ano e são melhores. Há outros, ainda, que lutam por muitos anos e são muito bons. Há, porém, os que lutam por toda a vida, esses são os imprescindíveis. Bertolt Brecht Orpheu Santos Salles Editor 2010 ABRIL | JUSTIÇA & CIDADANIA 7 Entrevista: Gabriel Napoleão Velloso Filho, Diretor de Cidadania e Direitos Humanos da Anamatra E ngajar os juízes do Trabalho na luta contra a exploração do trabalho infantil é a nova meta da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra). Na coordenação desta campanha está o Diretor de Cidadania e Direitos Humanos, Gabriel Napoleão Velloso Filho. Ele é o responsável pela edição de um livro que a Associação lançará sobre o tema em agosto próximo. A obra destinase aos operadores do Direito, sobretudo magistrados e procuradores com atuação nesse segmento do Judiciário. O objetivo é esclarecer esses profissionais sobre as formas de se combater essa prática no âmbito da Justiça especializada e reivindicar os direitos trabalhistas das crianças e adolescentes explorados. “Temos várias obras sobre esse tema, mas a maioria delas privilegia o Direito Civil, área que já conta com uma boa articulação e desenvolvimento. Carecemos ainda de cursos sobre o trabalho infantil com enfoque na área trabalhista”, afirmou Velloso Filho. O Magistrado explicou que a obra será elaborada com a participação dos juízes trabalhistas. Eles têm até o dia 30 de abril para enviar sugestões e considerações científicas sobre esse tema à Anamatra. Os interessados podem colaborar pelo email [email protected]. “A nossa preocupação é a de engajar o juiz do trabalho nesta obra. Tanto que publicamos um edital convocando a participação deles oferecendo observações e demais contribuições científicas. Entendemos que isso é fundamental. Temos a responsabilidade, como associação, de engajar os magistrados nessa causa, fazendo com que eles passem a ver a erradicação do trabalho infantil como uma causa trabalhista e uma prioridade no nosso cotidiano”, explicou o diretor da Anamatra. Revista Justiça & Cidadania – Qual é o objetivo da Anamatra com esse projeto? Gabriel Napoleão Velloso Filho – O objetivo da Anamatra é fornecer uma obra a respeito do trabalho infantil pela ótica da 8 JUSTIÇA & CIDADANIA | ABRIL 2010 Justiça Trabalhista. Temos várias obras sobre esse tema, mas a maioria delas privilegia o Direito Civil, área que já conta com uma boa articulação e desenvolvimento. Carecemos ainda de cursos sobre o trabalho infantil com enfoque na área trabalhista: os direitos que podem ser evocados, a atuação do Ministério Público do Trabalho, a possibilidade de se proporem ações civis públicas (com vistas à indenização) por danos morais coletivos e outros meios que possam vir a compelir os empregadores a não utilizarem mais esse tipo de mão de obra. Temos uma meta mundial, que é a erradicação do trabalho infantil, como preconizada pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) e na qual estamos engajados. Portanto, essa é mais uma das ações com esse objetivo. JC – A Anamatra pediu a colaboração dos juízes para produzir a publicação? GNVF – A obra contará com a participação de juízes, procuradores e advogados, como também de educadores e outras pessoas que estão irmanadas nesse objetivo, que é o da erradicação do trabalho infantil no Brasil. A nossa preocupação é a de engajar o juiz do trabalho nesta obra, tanto que publicamos um edital convocando a participação deles oferecendo observações e demais contribuições científicas. Entendemos que isso é fundamental. Temos a responsabilidade, como associação, de engajar os magistrados nessa causa, fazendo com que eles passem a ver a erradicação do trabalho infantil como uma causa trabalhista e uma prioridade no nosso cotidiano. Essa obra é destinada aos operadores do Direito em geral, mas iremos ofertar um exemplar a cada procurador e juiz do trabalho. Ela, então, será de uso geral. Tratase de um curso sobre trabalho infantil com enfoque no Direito do Trabalho. JC – Quando a obra deverá ser publicada? GNVF – Vamos terminar a coleta dos artigos em abril. A expectativa é de publicála em agosto. JC – O Brasil está agindo de acordo com a legislação, tanto nacional como internacional, que trata desse tema? GNVF – O Brasil assinou um documento e se comprometeu a trabalhar com a OIT pela erradicação do trabalho infantil até o ano de 2014. Então, esse é o compromisso internacional mais importante do País. Gostaríamos de ver esse compromisso, inclusive, já que estamos em ano eleitoral, assumido pelos candidatos e pela esfera política de um modo geral, e também como pelo Poder Judiciário, para que todos possam trabalhar de forma com que esse objetivo seja alcançado. Nesse sentido, destaco o Fórum Nacional de Erradicação e Prevenção do Trabalho Infantil, que está trabalhando diretamente nesse campo, assim como o Instituto Nacional de Erradicação e Prevenção do Trabalho Infantil, que é composto por várias entidades do governo e da sociedade civil, incluindo a Anamatra. Eles têm como objetivo justamente a erradicação do trabalho infantil. JC – Do ponto de vista judicial, quem poderá propor a ação trabalhista envolvendo o trabalhador menor de idade? GNVF – O contrato do trabalhador infantil é considerado nulo do ponto de vista do direito. No entanto, ele tem os mesmos direitos do trabalhador contratado regularmente. A ação pode ser movida pela pessoa responsável por aquele trabalhador, como o pai e o tutor, mas sabemos que em muitos casos os próprios pais concordam com o ingresso do menor no mercado de trabalho, mesmo que irregularmente. São, muitas vezes, os pais que cedem as crianças. Há situações ainda mais dramáticas em que eles até comercializam os filhos. Logo, quem tem que se engajar diretamente nessas ações é o Ministério Público do Trabalho. Devemos procurar meios, legais e judiciais, que possam penalizar e impedir que se continue a exploração do trabalho infantil. Foto: Divulgação Anamatra LIVRo pRoMoVERá coMbATE AO TRAbAlHO INFANTIl JC – O trabalho infantil ainda é um problema muito grave no Brasil ou já é possível verificarem-se avanços nesse campo? GNVF – Temos ainda um trabalho muito grande a realizar no que diz respeito ao engajamento do Brasil no combate ao trabalho infantil na região amazônica, assim como em outras (áreas) que mantêm uma cultura muito arraigada de trabalho infantil (no campo) doméstico. Isso é algo que precisa ser combatido, até porque o trabalhador infantil doméstico está em uma condição de debilidade de direitos muito grande, sujeito até a alguns tipos de violência, infelizmente. Também temos alguns segmentos da economia que utilizam o trabalho infantil para extração de cana e demais atividades rurais, principalmente no interior do Brasil. Então, embora esse seja um tema pautado e para o qual tem havido grande engajamento, ainda é preciso que esteja mais presente na nossa agenda institucional e política. Fazse necessário, ainda, um comprometimento muito maior do Estado brasileiro para que possamos chegar ao nosso objetivo, que é a erradicação do trabalho infantil. Encontramonos muito distantes do ponto em que deveríamos estar, mas estamos tentando chegar lá. JC – Quais direitos podem ser reivindicados? GNVF – FGTS, horas trabalhadas… O que se está construindo perante o Ministério Público, e esse livro irá tratar disso também, é a possibilidade de serem atribuídos aos trabalhadores infantis outros tipos de direito. Por exemplo, o dano moral pela exploração que causou males irreversíveis à formação da criança ou do préadolescente, que foi exposto ao mercado de trabalho e assim acabou não tendo acesso à educação e oportunidade de ter estabelecido uma formação intelectual apropriada. Isso faz com que, além daqueles direitos que normalmente lhe seriam assegurados, tenha acesso também a essa indenização moral, que servirá, do ponto de vista patrimonial, para auxiliálo. Já nos casos de exploração reiterada, por uma empresa que se utiliza de mão de obra infantil, poderemos pensar também no dano moral coletivo. Ou seja, uma indenização atribuída pelo dano causado à sociedade. Afinal se tratase de uma lesão que causa repulsa a toda a sociedade. Nesse caso, o Ministério Público pode pedir o dano moral coletivo, além das indenizações individuais. JC – Ainda são poucas as ações nesse sentido na Justiça do Trabalho, certo? GNVF – Uma das funções deste livro é fazer com que esse tema ingresse dentro da dogmática da Justiça Trabalhista, de modo que esse tipo de ação seja cada vez mais proposto. Daí porque resolvemos fazer esse livro, com o enfoque na área trabalhista, uma vez que são poucas as ações que têm essa focalização. 2010 ABRIL | JUSTIÇA & CIDADANIA 9 Foto: Nelson Jr./SCO/STF MISSÃo cUMpRIDA Da Redação O Judiciário Brasileiro não será mais o mesmo após a passagem do ministro Gilmar Mendes pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) — o primeiro, a instância máxima do Poder Judiciário; o segundo, o órgão responsável pela fiscalização e elaboração do planejamento estratégico de todos os tribunais do Brasil. Na Suprema Corte, Mendes liderou a adoção de uma série de medidas que permitiram a racionalização e o melhor gerenciamento dos processos originários e recursos extraordinários. O resultado foi surpreendente: pela primeira vez, em 10 anos, a mais alta corte do País registrou menos de 100 mil ações distribuídas, segundo levantamento divulgado no início de abril último. No entanto, foi a gestão desenvolvida à frente do CNJ que mais chamou a atenção da sociedade. Mendes empenhou se em iniciativas em prol do aperfeiçoamento do Judiciário, com o estabelecimento de metas e prazos para o alcance delas. A maior parte com vistas ao aumento da transparência desse Poder e à redução da morosidade processual. De fato, a Justiça ficou mais acessível, segundo diversas pesquisas sobre este tema divulgadas recentemente. Gilmar Mendes preparase para deixar a presidência do Supremo no próximo dia 23 de abril, ocasião em que assume o ministro Cezar Peluso — magistrado de carreira, homem de poucas palavras, contudo de atuação implacável. Em consequência, Mendes se despedirá do comando do Conselho, que é presidido pelo Presidente do STF, conforme determinação legal. Em razão disso, a Revista Justiça & Cidadania traz nesta edição um balanço com Mendes sobre as principais iniciativas lideradas por ele, mostrando, inclusive, de que forma elas contribuíram para atenuar os inúmeros problemas do Poder Judiciário. O Ministro citou as diversas ações adotadas em seu mandato, principalmente à frente do CNJ, no campo do sistema prisional. Os mutirões carcerários — projeto em que um grupo de juízes do Conselho promove a revisão de uma série de processos de presos nos estados pelos quais passa — foram os mais destacados. Os mutirões carcerários já permitiram a libertação de 20.068 pessoas presas irregularmente. Por isso, venceu a edição do ano passado do Prêmio Innovare, que tem como objetivo reconhecer as boas práticas no âmbito da Justiça. Além disso, deu início a uma série de outros projetos correlacionados, dentre os quais 10 JUSTIÇA & CIDADANIA | ABRIL 2010 o “Começar de Novo”, que visa a possibilitar a reintegração de egressos do sistema carcerário no mercado de trabalho para que esses não voltem a reincidir. O Ministro fechou, ao longo de seu mandato, uma série de parcerias, com órgãos governamentais e da iniciativa privada, para garantir vagas de trabalho a egressos do sistema penitenciário. Por meio dos mutirões, o CNJ pôde identificar vários outros abusos praticados no sistema carcerário nacional, dentre os quais a utilização indevida das prisões provisórias. O relatório “Um em cada cinco: a crise do sistema prisional e de justiça criminal no Brasil”, publicado recentemente pelo Instituto de Direitos Humanos da International Bar Association (IBAHRI) — organização mundial de profissionais do direito internacional, associações de advogados e sociedades de direito —, confirma essa situação. De acordo com o estudo, de fato o encarceramento tornouse uma rotina no País. Em alguns tribunais, mais de um terço das pessoas detidas por furto, crime de menor potencial ofensivo, tinham passado mais de 100 dias privadas de liberdade e muitas teriam passado mais tempo presas provisoriamente do que se tivessem cumprido a pena eventualmente recebida. Diante desse quadro, Mendes iniciou uma campanha para reduzir o número de presos provisórios. A população carcerária no Brasil é a quarta maior do mundo. Em setembro do ano passado, havia 472.482 pessoas detidas. Destes, 264.940 eram condenados e 207.542 (44%) estavam sendo mantidos em regime de prisão provisória. Assim, os conselheiros do CNJ aprovaram, em novembro do ano passado, a Resolução 66, para disciplinar o acompanhamento desses casos. A norma enfatizou a responsabilidade dos juízes quanto à necessidade de maior controle das prisões ocorridas nos casos de flagrante delito. E também estabeleceu a obrigatoriedade de os magistrados reverem todos os inquéritos judiciais ou procedimentos policiais que não tenham sido movimentados por um período de dois meses e pelos quais os acusados tenham sido presos em flagrante. A norma deixou mais clara a responsabilidade dos magistrados, portanto, de providenciar a soltura dessas pessoas ou acelerar os procedimentos judiciais para o andamento do processo. A atuação nesta área culminou com a criação do Plano de Gestão para o Funcionamento de Varas Criminais e de Execução Penal, aprovado recentemente pelo Conselho Nacional de Gilmar Mendes, Presidente do STF 2010 ABRIL | JUSTIÇA & CIDADANIA 11 12 JUSTIÇA & CIDADANIA | ABRIL 2010 menos 2% o consumo per capita (magistrados, servidores, terceirizados e estagiários) com energia, telefone, papel, água e combustível; (7) disponibilizar mensalmente a produtividade dos magistrados no portal do tribunal, em especial a quantidade de julgamentos com e sem resolução de mérito e homologatórios de acordos, subdivididos por competência; (8) promover cursos de capacitação em administração judiciária, com no mínimo 40 horas, para 50% dos magistrados, priorizandose o ensino à distância; (9) ampliar para 2 Mbps a velocidade dos links entre o tribunal e 100% das unidades judiciárias instaladas na capital e, no mínimo, 20% das unidades do interior; e (10) realizar, por meio eletrônico, 90% das comunicações oficiais entre os órgãos do Poder Judiciário, inclusive cartas precatórias e de ordem. Aos poucos, o CNJ começa a apontar os caminhos para a adoção destas metas. Em relação à Meta 3, por exemplo, estimativas indicam a existência de 25 milhões de processos de execução fiscal atualmente em tramitação nos tribunais do País. Por essa razão, o órgão de fiscalização e estratégia da Justiça realizou um workshop, no último dia 14 de abril, para definir o conteúdo exato dos estoques a serem reduzidos e estabelecer os procedimentos para se alcançar este objetivo. Essa, aliás, vem sendo uma prática há algum tempo realizada pelo Conselho. São inúmeros os eventos promovidos e fóruns criados pelo CNJ para discutir as mais diversas questões: a criação de Juizados Especiais de Violência Contra a Mulher, o papel da Justiça no que diz respeito à regularização fundiária, a melhor gestão financeira e orçamentária, as melhores práticas de gestão ambiental, entre tantos outros assuntos são alguns exemplos. O diálogo e a troca de experiências com os dirigentes dos tribunais e a base da Magistratura se tornaram uma constante. Outra medida instituída pelo CNJ também importante diz respeito à transparência do Judiciário. A Resolução 102, editada pelo órgão, obrigou que todos os tribunais do País divulgassem informações relativas ao orçamento e aos gastos que executam. Segundo Mendes, os dados levantados pelo “Justiça em Números” mostram que é preciso melhorar muito a gestão administrativa dos tribunais. É papel do Conselho, portanto, ajudar as cortes a terem uma adequada gestão dos recursos públicos disponíveis. “Até aqui, sempre tivemos uma atitude reivindicatória militante, culpamos o Executivo e o Legislativo pela falta de recursos no Judiciário, mas os tribunais têm que levantar primeiro se estão aplicando bem os recursos hoje disponíveis”, afirmou o Ministro. Esses são apenas alguns exemplos dos projetos e programas empreendidos por Gilmar Mendes à frente do Conselho Nacional de Justiça. Foram tantas ações que se torna difícil enumerálas. O Ministro resume todas como fundamentais para aperfeiçoar o Poder Judiciário. E o aspecto mais positivo, na avaliação dele, é o de que todas as medidas partiram da própria Justiça. “A descoberta de que há falta de gestão é nossa, do CNJ. Os números vêm nos apontando vários problemas na aplicação e no aproveitamento dos recursos. Tanto que temos tribunais extremamente caros e que não são céleres. Isso mostra que recursos humanos ou gastos excessivos não resolvem o problema, porque há a questão da gestão”, explicou. A mesma linha de raciocínio foi adotada pelo Ministro ao longo de seu mandato no Supremo Tribunal Federal — a mais alta corte do País. No ano passado, por exemplo, foram editadas 14 novas Súmulas Vinculantes, somando um total de 27. Esse instrumento, juntamente com a Repercussão Geral, tornou mais ágil e efetiva a prestação jurisdicional. Também na gestão de Mendes, o Plenário do STF realizou 72 sessões em que foram proferidas 2.823 decisões — finais, liminares ou interlocutórias. A corte realizou julgamentos importantes, entre os quais o que definiu a demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol, a validade da Lei de Imprensa, o direito de se recorrer em liberdade, a necessidade ou não de se exigir diploma de jornalismo, o monopólio dos Correios e a extradição do italiano Cesare Battisti. Na gestão de Mendes, destacouse também o incremento da Central do Cidadão, que se tornou um importante canal de comunicação da corte com a sociedade. No ano passado, o órgão recebeu 14.600 comunicações, acumulando mais de 31.000 contatos recebidos desde sua criação, em maio de 2008. Cerca de 27,29% dos habeas corpus autuados em 2009 foram iniciados por esse setor. O uso cada vez maior da tecnologia também chamou a atenção no mandato do Ministro. O Supremo iniciou testes com as Defensorias Públicas e os Ministérios Públicos Estaduais, para o desenvolvimento da versão eletrônica dos processos judiciais. Assim, passou a implantar os módulos eJud Processamento Inicial; eJud Consulta Processual; eJud Criminal (Controle eletrônico de HC e de Prescrição); eJud Registro Simplificado; eSTF Petição Eletrônica; Telex Eletrônico; e eSTFSessões. O Tribunal foi a primeira Suprema Corte no mundo a ter uma página oficial no YouTube — a exemplo da Casa Branca, do Congresso norteamericano, da Família Real inglesa e do Vaticano. Este instrumento permitiu, inclusive, que o informativo do STF, enviado por email a diversos usuários cadastrados no mundo todo, possuam link ao vídeo de cada julgamento resumido. Um levantamento do dia 3 de novembro mostrou que desde a data de lançamento a página alcançou a marca de 54,4 mil acessos. Outro ponto alto da gestão do Presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ está relacionado ao fortalecimento da parceria institucional entre Judiciário e Congresso. Mendes destacou que esses Poderes vêm estreitando o diálogo cada vez mais, o que tem contribuído para a melhoria da Justiça. Como exemplo, ele citou a aprovação de uma série de projetos que se tornaram lei e hoje ajudam a fortalecer o Judiciário. Entre os quais, a criação do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do CNJ, que possibilitou ao órgão fiscalizar os sistemas carcerário, prisional e de internação, e as iniciativas para ampliar a ação da Defensoria Pública. Polêmico, Mendes nunca deixou de falar o que pensa sobre os mais diversos acontecimentos econômicos, sociais e até políticos do País, enquanto esteve na presidência dos dois mais importantes órgãos da Justiça. Por isso, foi várias vezes Foto: Gil Ferreira/SCO/STF Justiça. O planejamento é composto por um conjunto de medidas que visam à modernização do sistema penal brasileiro e contém propostas de resoluções administrativas e outro conjunto de alterações legislativas, que já foram entregues pelo Presidente do CNJ ao Congresso Nacional. Mendes pediu o empenho dos tribunais para a concretização das sugestões apresentadas. Diante de tantas ações, não foi sem razão que 2010 foi classificado como o ano da Justiça Criminal no Brasil. O plano prevê mudanças em cada uma das fases processuais: inquérito policial, prisão em flagrante e seu exame de legalidade e relaxamento, prisão em flagrante e decretação de preventiva ou concessão de liberdade provisória, assim como a prisão preventiva. Fixa também a necessidade de rotinas “em que se pese a simplicidade do procedimento judicial”. Ao abrir o 1º Seminário do Ano da Justiça Criminal, realizado pelo Conselho no início de abril, em Brasília, Mendes pediu o empenho de todos os tribunais para rápida adoção das propostas sugeridas no planejamento. “Avançamos bastante e conseguimos somar os apoios devidos para as mudanças nas mais diversas questões. Creio, então, que avançamos de forma significativa com os mutirões carcerários e a criação do departamento de monitoramento do sistema prisional. Em suma, são muitas medidas que vão ficar e terão continuidade. Elas mudaram a face do Judiciário até no que diz respeito à assunção de responsabilidade”, afirmou o Ministro. Paralelamente à atuação no campo carcerário, Mendes desenvolveu diversas ações para o aprimoramento dos tribunais. O estabelecimento de metas foi uma delas. Essas medidas ganharam notoriedade no ano passado, com a fixação das 10 metas de nivelamento, durante o Encontro Nacional do Judiciário, realizado em fevereiro de 2009, em Belo Horizonte, Minas Gerais. A meta mais famosa foi a de número 2 — que teve como objetivo promover o julgamento de todas as ações distribuídas até 31 de dezembro de 2005. O esforço resultou na apreciação de 2,72 milhões de processos anteriores a essa data e ainda pendentes de julgamento. “Sem o engajamento dos tribunais não teríamos obtido resultados tão expressivos”, disse o Ministro. Em fevereiro deste ano, os presidentes de todos os tribunais do País voltaram a se reunir na terceira edição do Encontro Nacional do Judiciário, que desta vez aconteceu em São Paulo. Na ocasião eles fizeram um balanço das metas estabelecidas e aprovaram novos objetivos a serem alcançados ainda neste ano. São as novas metas de nivelamento do Poder Judiciário: (1) julgar quantidade igual de processos de conhecimento distribuídos em 2010 e parcela do estoque, com acompanhamento mensal; (2) julgar todos os processos de conhecimento distribuídos até 31 de dezembro de 2006 e, quanto aos processos trabalhistas, eleitorais, militares e da competência do Tribunal do Júri, até 31 de dezembro de 2007; (3) reduzir em pelo menos 10% o acervo de processos na fase de cumprimento ou de execução e, em 20%, o acervo de execuções fiscais; (4) lavrar e publicar todos os acórdãos em até 10 dias após a sessão de julgamento; (5) implantar método de gerenciamento de rotinas em pelo menos 50% das unidades judiciárias de 1º grau; (6) reduzir em pelo Gilmar Mendes, Presidente do STF criticado, principalmente por aqueles que acreditam que os juízes somente devem falar nos autos. No entanto, o Ministro não demonstra nem um pouco de arrependimento por sempre ter se expressado. “Acho que falei o necessário. Ninguém discorda que o juiz deve falar nos autos, mas por se tratar de alguém com responsabilidade institucional de Presidente do STF, do CNJ e da chefia do próprio Judiciário, existem as responsabilidades para além do que está sendo julgado. O fato é que o papel do Tribunal também mudou muito nos últimos anos. A Reforma do Judiciário e o CNJ exigem uma postura diferenciada do Presidente do STF como líder que deve ser do Judiciário”, enfatizou. Não é sem motivo, então, que o Ministro diz que deixará o cargo com a sensação de dever cumprido. Mendes disse que praticamente cumpriu tudo o que havia planejado para o Supremo e o Conselho Nacional de Justiça. “Estabelecemos metas e elas foram cumpridas. Um ou outro tópico poderia ter tido um maior desenvolvimento, mas isso é assim mesmo dentro do processo administrativo e político”, afirmou Gilmar Mendes. “Não me arrependo de nada. Estou em paz comigo mesmo, satisfeitíssimo de tudo o que fizemos e acredito que avançamos muito em termos de administração judiciária e de fortalecimento das instituições. O Judiciário sai mais forte hoje do que antes da minha gestão e não ao contrário”, concluiu. 2010 ABRIL | JUSTIÇA & CIDADANIA 13 Foto: Nelson Jr./SCO/STF Gilmar Mendes, Presidente do STF Revista Justiça & Cidadania – Ministro, durante a sua presidência celebramos 20 anos da Constituição de 1988. Qual o papel do Judiciário nesse atual momento da democracia brasileira? Como o Sr. vê o desenvolvimento do Judiciário durante a sua gestão? Quais as perspectivas para o futuro? Gilmar Mendes – As mais de duas décadas da promulgação da Constituição de 1988 — que completará 22 anos em outubro — representam o mais longo período de estabilidade democrática e normalidade institucional de nossa vida republicana, iniciada em 1889. A opção do Constituinte de 1988 pelo exercício simultâneo e harmonioso do Poder por diversos agentes políticos parece ser o grande responsável por esse equilíbrio institucional. A Constituição confiou ao Poder Judiciário papel até então não outorgado por nenhuma outra: conferiulhe autonomia institucional, desconhecida na história de nosso modelo constitucional e digna de destaque também no plano do Direito Comparado; buscou garantir a autonomia administrativa e financeira do Judiciário; e assegurou também a autonomia funcional dos magistrados. Nesse contexto, o princípio da proteção judicial efetiva passou a configurar a pedra angular do sistema de proteção de direitos, orientando esforços na busca de uma ampliação do acesso ao Judiciário pelos setores menos favorecidos da sociedade brasileira. Nesse sentido, a concretização de um Judiciário célere e eficiente é não apenas um imperativo reclamado pelo preceito constitucional de efetividade da justiça, mas também um pressuposto para o próprio desenvolvimento econômico do Brasil e para a realização de um verdadeiro Estado de Direito. 14 JUSTIÇA & CIDADANIA | ABRIL 2010 Esse ideal tem pautado historicamente a ação do Supremo Tribunal Federal e está na origem da própria criação do Conselho Nacional de Justiça. Tenho certeza de que durante os últimos dois anos tivemos uma significativa evolução quanto à transparência e independência do Poder Judiciário. Essas são características essenciais de regimes democráticos maduros e não tenho dúvidas da continuidade desse movimento de fortalecimento institucional do Judiciário no futuro próximo. JC – Como o Sr. analisa a atuação do CNJ nestes últimos 2 anos? Gilmar Mendes – Por meio da atuação do CNJ, nesses últimos dois anos o Judiciário brasileiro deparouse cara a cara consigo mesmo e, enfim, enfrentou o hercúleo desafio de se autoconhecer. Através de sua atuação eficiente foi possível mapear as reais dificuldades de cada órgão e, por meio dessa autêntica autorradiografia, adveio diagnóstico para muitos surpreendente. Ao contrário do pensamento outrora comum, a lentidão que se atribui à atividade jurisdicional é pontual e concentrada, como revelam os dados alusivos ao cumprimento da Meta 2, celebrada para julgar todos os processos protocolados até 31 de dezembro de 2005 e que mobilizou desde as comarcas mais distantes até o próprio Supremo Tribunal Federal. Não há como deixar de aplaudir o admirável empenho de servidores e magistrados que, nem mesmo diante do tamanho da complexidade da tarefa, amesquinharam o afã de construir soluções concretas e criativas, inclusive em vista da escassez de recursos e da premência do tempo, como atesta o julgamento dos cerca de dois milhões e quinhentos mil processos protocolados antes de 2006, entre eles processos que há décadas aguardavam uma solução definitiva. Expressivos também foram os resultados do programa “Mutirões Carcerários”, que deu origem a outras iniciativas igualmente importantes, como os programas “Começar de Novo” e “Advocacia Voluntária”, a merecerem destaque em virtude de atenderem, a um só tempo, tanto à obrigação de garantir o respeito inconteste aos direitos fundamentais quanto à necessidade de prevenir a reincidência criminal, item básico a qualquer projeto bem sucedido de segurança pública. JC – E qual seria então o papel do magistrado? O Sr. defende o ativismo judicial? Gilmar Mendes – É função do Poder Judiciário exigir o respeito aos direitos fundamentais. Não há nessa tarefa, no entanto, desejo de interferir negativamente nas atividades do legislador democrático. Não há “judicialização da política”, pelo menos no sentido pejorativo do termo, quando os temas políticos estão configurados como verdadeiras questões de direitos. Essa tem sido a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal. Como já disse antes, o Supremo Tribunal Federal tem a real dimensão de que não lhe cabe substituirse ao legislador, muito menos restringir o exercício da atividade política, de essencial importância ao Estado Constitucional. Os Poderes da República encontramse preparados e maduros para o diálogo político, inteligente e suprapartidário, além do que, nos Estados constitucionais contemporâneos, legislador democrático e jurisdição constitucional têm papéis igualmente relevantes. A interpretação e a aplicação da Constituição são tarefas cometidas a todos os Poderes, assim como a toda a sociedade. JC – A atuação do Sr., seja no STF, seja no CNJ, é marcada por uma profunda preocupação com a questão do devido processo legal e sua conexão com a garantia da dignidade humana. Quanto a isso, como o Sr. analisa a atuação do Judiciário em relação a atual situação no sistema penitenciário brasileiro? Gilmar Mendes – O Sistema Carcerário Brasileiro tem sido uma preocupação constante do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, que têm trabalhado em várias frentes, no tocante a tal problemática. Quanto a isso, ressalto especialmente os Mutirões Carcerários realizados pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio dos quais, em pouco mais de um ano foram analisados mais de 105 mil processos, resultando na concessão de aproximadamente 35 mil benefícios previstos na Lei de Execução Penal, dentre os quais mais de 20,7 mil liberdades. Também merece destaque o projeto “Começar de Novo”, o qual tem o objetivo de, mediante campanha institucional, sensibilizar a população para a necessidade de recolocação de egressos de presídios no mercado de trabalho e na sociedade. Nesse sentido, ele é mais um dentre as diversas iniciativas que o CNJ tem desenvolvido, em cooperação com os demais Poderes e com a sociedade civil, com o objetivo de garantir o efetivo cumprimento da Lei de Execução Penal e dos direitos fundamentais dos sujeitos do processo penal e dos detentos e egressos do sistema carcerário brasileiro. A atuação do Poder Judiciário, chamando a si a sua parte da responsabilidade pela atual situação carcerária brasileira e atuando efetivamente para garantir a realização dos direitos dos presos, demonstra o quanto pode ser realizado quando existe verdadeiro comprometimento por parte das instituições com a concretização dos direitos fundamentais declarados na Constituição. JC – Quais os principais avanços que o Sr. identifica, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nestes últimos dois anos? Gilmar Mendes – Desde a Reforma do Judiciário, o Supremo Tribunal Federal tem passado por uma verdadeira revolução. Quanto a isso, nesses dois últimos anos concretizamos aquilo que a Reforma idealizava. Assim, merece especial destaque a significativa redução de feitos — cerca de 40% a menos de processos distribuídos por dois anos consecutivos —, que ensejou espaço e ambiente necessários ao julgamento de questões de grande repercussão no cotidiano das pessoas e na estrutura institucional do País, tais como a controvérsia acerca da realização de pesquisas científicas com células embrionárias humanas; julgamentos relativos à fidelidade partidária; à proibição do nepotismo no âmbito de toda a administração pública nacional; a edição de medidas provisórias sobre créditos extraordinários; a constitucionalidade da especialização das varas; o piso salarial dos professores; a limitação do uso de algemas; a demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol; a não recepção da Lei de Imprensa; o livre exercício da profissão de jornalista; a exclusividade da prestação de serviço público pelos Correios; o direito de recorrer em liberdade; a constitucionalidade da lei de recuperação de empresas e da proibição de importar pneus usados; além da extinção do créditoprêmio IPI; e a irretroatividade da PEC dos Vereadores, entre tantos outros. Ressalto ainda a edição de 27 súmulas vinculantes e o julgamento de 56 questões constitucionais de repercussão geral e iniciamos o julgamento de outras 13. O efeito ordenador de tais julgamentos acentualhes enormemente a importância, já que acrescentam racionalidade à dinâmica processual do sistema de justiça como um todo. Isto é, a redução da distribuição permitiu que o STF pacificasse um número mais expressivo de controvérsias constitucionais, como demonstram os dados acima. Por outro lado, o STF avançou bastante na divulgação de suas decisões, não só em privilégio da transparência, como em verdadeira função pedagógica. Daí a mudança da programação da TV Justiça, com forte conteúdo educativo; o convênio com o YouTube, que já conta com mais de 1 milhão de acessos desde outubro de 2009, o lançamento do Twitter, com milhares de seguidores etc. Essa atuação avulta o papel do Supremo Tribunal Federal como corte constitucional responsável por garantir a realização dos direitos fundamentais, assim como o equilíbrio institucional conducente ao fortalecimento do Estado de Direito. 2010 ABRIL | JUSTIÇA & CIDADANIA 15 Foto: Arquivo JC pNDH-3, EM FAcE DA coNSTITUIÇÃo bRASILEIRA E DAS CONSTITUIÇÕES bOlIVARIANAS Ives Gandra da Silva Martins Professor Emérito das Universidades Mackenzie, UNIFIEO, UNIFMU, UNIP e CIEE Membro do Conselho Editorial O advento do PNDH3, veiculado pelo Decreto nº. 7037/09, representa, se transformado em Emendas Constitucionais, Leis Complementares e Ordinárias, em uma completa reformulação do Sistema Constitu cional e Político brasileiro, com adoção da denominada “democra cia delegada” em substituição da ”democracia representativa”. Em outras palavras, adotarseá, nas suas 521 proposições, 25 diretrizes e 6 eixos orientadores, um novo modelo político, semelhante aos dos Estados bolivarianos. Neste breve artigo, pretendo comentar, perfunctoriamente, as referidas contribuições e analisálas à luz da Constituição brasileira, num primeiro momento, para depois mostrar a semelhança do PNDH3, em suas linhas gerais, ao sistema constitucional da Venezuela, Equador e Bolívia, terminando com uma breve digressão sobre o enfraquecimento das Forças Armadas pretendido pelo PNDH3. A Constituição Brasileira, com 250 artigos de disposições permanentes, 95 de disposições transitórias e 70 emendas — das quais 64 originárias de processo ordinário e 6 da revisão de 1993 — tem sido considerada uma Constituição demasiadamente pormenorizada, com inúmeros artigos que não mereceriam encontrarse num texto supremo — como, por exemplo, o artigo 242, § 2º, que impõe a permanência do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, na órbita federal. Apesar de prenhe de defeitos, seu mérito maior, todavia, em face da absoluta liberdade que os constituintes tiveram para a discussão de um modelo de lei fundamental, foi o de ter criado 16 JUSTIÇA & CIDADANIA | ABRIL 2010 um sistema em que o equilíbrio de Poderes é inequívoco. Sem equilíbrio de Poderes não há segurança jurídica. Em nenhum texto anterior (1824, 1831, 1934, 1937, 1946 e 1967, com suas emendas) tal realidade revelouse de maneira tão nítida como no de 1998. Nem mesmo os Estados Unidos, pátria do presidencialismo, seguem a teoria da tripartição dos Poderes de Montesquieu — que a própria França não hospeda —, com separação tão nítida como no Brasil, nada obstante o instituto das medidas provisórias ofertar impressão diversa. Devese tal equilíbrio ao fato de que toda a formatação da nossa lei maior tem sido para um sistema parlamentar de governo, ideal frustrado nas discussões finais do texto, em plenário da Constituinte, com o que alguns dos mecanismos de controle dos Poderes, próprios do parlamentarismo, remanesceram no texto brasileiro. A própria medida provisória, cujo teor foi, quase por inteiro, cópia da Constituição de um país parlamentarista (a italiana), demonstra que a mudança do “rumo dos ventos”, no plenário da Constituinte, não foi capaz de alterar o espírito que norteara as discussões nas Comissões até então. Creio que a solução não foi ruim. Criouse um Poder Judiciário (artigos 92 a 125) como guardião da Constituição (artigo 102), que tem exercido com plenitude tal função, evitando distorções exegéticas que poderiam pôr em risco a democracia no País; um Poder Legislativo, com poderes reais de legislar, não poucas vezes tendo rejeitado medidas provisórias do Executivo (artigos 44 a 69); e um Poder Executivo (artigos 76 a 91), organizado dentro de parâmetros constitucionais, que lhe permitem adotar as medidas administrativas necessárias para que o País cresça e viva plenamente o regime democrático, sem tentações caudilhescas por parte de seus presidentes. Por essa razão, nesses vinte anos, O Brasil conheceu um “impeachment” presidencial, superinflação — não hiperinflação, que sempre desorganiza as economias —, escândalos como o dos anões do congresso e o do mensalão, alternância do poder e jamais aqui se falou em ruptura institucional, numa demonstração de que as instituições funcionam bem. Os três Poderes, nos termos do art. 2º da lei suprema, são “independentes e harmônicos”. Este equilíbrio inexiste em nossos vizinhos. A Constituição Venezuelana, com seus 350 artigos e 18 disposições transitórias, além de uma disposição final, de rigor, apesar de mencionar 5 Poderes, hospeda um apenas, visto que o Poder Judiciário, o Ministério Público e o Poder Legislativo são poderes acólitos do Executivo, e o quinto Poder, o povo, manipulável pelo Executivo. Assim é que, no seu artigo 236, o de competências do Presidente da República, admite, pelo inciso 22, que não só pode o Presidente convocar “referenduns” como, pelo inciso 21, dissolver a Assembleia Nacional, sobre ter, pelo inciso 8, o direito de governar, sem a Assembleia Nacional, por meio de leis habilitantes. No Brasil, o plebiscito e o referendo são convocados pelo Congresso Nacional (art. 14, incisos I e II) e o Presidente da República não tem, entre suas competências (art. 84), o poder de dissolver o congresso. Ao contrário, o Presidente da República pode sofrer o “impeachment” (arts. 85 e 86) do Congresso Nacional, sendo, neste particular, uma Constituição em que o Legislativo tem força para afastar o Presidente da República, mas o Presidente não tem forças para dissolver o congresso. Como se percebe, o modelo venezuelano é de um poder só, o presidencial, o que tem levado o caudilho Hugo Chávez a abusos crescentes, mediante cerceamento da liberdade de expressão, com fechamento de emissoras de TV e redes da oposição, convocações de referendos, que manipula a ponto de não permitir, nos lugares em que faz comícios para defender seus pontos de vista, que a oposição se utilize daqueles mesmos espaços para expor as suas ideias. O modelo venezuelano de um só poder, o que vale dizer, de um Executivo forte e Legislativo e Judiciário subordinados, lastreiase nas lições de um grupo de professores socialistas da Espanha (CEPES), segundo o qual apenas dois poderes são democráticos: o povo e o seu representante no executivo. Por isto, reduz os outros poderes à função servil e sugere consultas populares permanentes — altamente manipuláveis por quem está no comando — à guisa de dar legitimidade ao único poder efetivo, que é o do Presidente Executivo. O modelo socialista, que Chávez chama de “bolivariano”, foi seguido também pelo Equador, na sua Constituição de 444 artigos, 30 disposições transitórias, 30 de um regime de transição com uma disposição final. Por ela, pode o Presidente da República dissolver a Assembleia Nacional, se ela atrapalhar o Plano Nacional de Desenvolvimento do Presidente ou se houver uma grave crise política ou comoção interna (art. 148), passando o Presidente da República a dirigir sozinho o país, convocando novas eleições. Poderá a Assembleia Nacional (art. 130) destituir o Presidente da República, mas neste caso também se dissolverá, convocandose, no prazo máximo de 7 dias, eleições gerais presidenciais e legislativas. Em outras palavras, o Presidente da República pode dissolver a Assembleia Nacional, sem perder o cargo, mas a Assembleia Nacional, se destituir o Presidente, também estará se destituindo!!! Não é diferente a Constituição boliviana, com 411 artigos e 10 disposições transitórias, com uma disposição derrogatória e outra final. Aqui, os artigos 182 e 183 tornam o regime mais perigoso, pois o Tribunal Superior de Justiça terá seus magistrados eleitos por sufrágio universal por 6 anos. Vale dizer: o Poder Judiciário, que é um Poder técnico, passa a ter seus integrantes eleitos pelo povo e sem as garantias mínimas necessárias para exercer suas funções com imparcialidade! E o pior, com mandato de 6 anos, muito embora não possam ser reeleitos seus juízes. Normalmente, os poderes políticos, numa real democracia — e não na simulação de democracia dos 3 países analisados —, são o Poder Executivo e o Legislativo. Suas forças se equivalem, não existindo apenas um poder forte, o Executivo, 2010 ABRIL | JUSTIÇA & CIDADANIA 17 e um fraco, o Legislativo. O Poder Judiciário é sempre técnico, vale dizer, um poder cuja função é a preservação da lei produzida pelo Legislativo. Por esta razão é que, nas verdadeiras democracias, o povo não participa diretamente na sua escolha e de seus membros. Transformar o Poder Judiciário em poder eletivo é tirarlhe a individualidade e neutralidade, levar o magistrado a ter que fazer campanha política para ter o seu nome sufragado universalmente! Perde, pois, o País a seriedade que deveria ter a Suprema Corte nas suas decisões, para amalgamar os 3 Poderes num só, em prol de uma força maior outorgada ao Executivo, à semelhança das Constituições Venezuelana e Equatoriana (art. 172), com o direito de ditar decretos supremos e resoluções (inciso 8), e convocar sessões extraordinárias da Assembleia Nacional (inciso 6). Como se percebe, há um profundo abismo entre a Constituição Brasileira, de 3 Poderes harmônicos e independentes, e as Constituições dos 3 países mencionados, em que, de rigor, apenas um Poder existe (o Executivo), os demais são acólitos. O chamado “poder popular”, permanentemente convocado, é de fácil manipulação pelo Presidente, visto que, nas consultas populares, jamais poderia o povo examinar em profundidade a complexidade legislativa da consulta, como, por exemplo, discutir uma Constituição de algumas centenas de artigos! O modelo espanhol adotado — e de nítida conformação socialista — objetiva apenas legitimar, por consultas manipuláveis do povo, o regime ditatorial, que parece começar a implantarse na América Latina, com sucessivas buscas de perpetuação no poder por parte dos dirigentes destes países, com reeleições ilimitadas. O próprio Presidente Ortega, da Nicarágua, pretende o direito à reeleição, em consulta popular que está buscando concretizar. E a influência dos países que afagam aspirantes à perpetuidade no poder parece ter contaminado a OEA, pois, no episódio de Honduras, de rigor, a expressão “golpista” só poderia ser aplicada ao presidente deposto. Com efeito, o artigo 239 da Constituição hondurenha permite o afastamento do presidente, se descumprir a lei, a ordem e desrespeitar os poderes constituídos. Honduras não tem o instituto do “impeachment”, que o Brasil consagrou nos artigos 85 e 86 da lei suprema. Ora, o Presidente Zelaya pretendeu desrespeitar a Constituição hondurenha, respondendo às advertências do Poder Legislativo e do Poder Judiciário no sentido de que não respeitaria a “cláusula pétrea” da lei suprema do País — que não permite reeleições — e que faria um plebiscito para conseguir a aprovação de seu intento. No momento em que desobedeceu a decisão do Poder Judiciário, que declarou inconstitucional a consulta popular, à evidência, o desrespeito à lei e à ordem se caracterizaram, e seu afastamento se deu, nos termos da Constituição. As eleições livres que levaram à presidência o candidato Pepe Lobo não só desfiguraram a imagem da OEA como levaram o Brasil ao melancólico papel de um país cujos aliados ditatoriais são prestigiados (Venezuela, Irã, Líbia) e os democráticos não. 18 JUSTIÇA & CIDADANIA | ABRIL 2010 É interessante que dispositivo semelhante ao artigo 239 da Constituição Hondurenha temos na Constituição brasileira, estando o artigo 142 assim redigido: “Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aero náutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinamse à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem” (grifos meus). Qualquer dos Poderes constituídos brasileiros (Executivo, Legislativo e Judiciário) pode chamar as Forças Armadas para restabelecimento da ordem e da lei. Apesar da disposição do artigo 142 da CF, o equilíbrio de Poderes existente na democracia brasileira é de tal ordem que jamais passaria pela ideia de qualquer cidadão ou de qualquer autoridade não acatar a decisão do Poder Judiciário, ou de qualquer governante não cumprir as leis produzidas pelo Poder Legislativo. É inconcebível, no Brasil, que o Presidente Lula ou qualquer presidente possa declarar que NÃO CUMPRIRÁ DECISÕES do Supremo Tribunal Federal, por considerarse acima de qualquer outro Poder. No Brasil, só mesmo na Constituição de 1937, escrita pelo gênio de Francisco Campos — de quem se dizia que “quando as luzes de sua inteligência acendiam geravam curtocircuito em todos os fusíveis da democracia” —, o Presidente da República tinha o direito de não acatar decisões da Suprema Corte. Concluindo esta parte deste breve artigo, estou convencido de que há um processo inverso à democracia, que começa a invadir diversas nações da América Latina, nas quais o equilíbrio dos Poderes deixa de existir, para a criação de um caudilhismo do século XIX e utilizandose a manipulação do povo, no mesmo estilo de Hitler, Mussolini e Stalin. Apesar de graças à Constituição de 1988 não correr o Brasil o risco imediato que nossos vizinhos estão correndo, tenho preocupações sobre o teor do PNDH3 (Decreto nº 7.037 de 21/12/2009), pelas considerações que passo a tecer: O regime de exceção, em que o Brasil viveu de 1964 a 1985, foi encerrado — não por força da guerrilha, que terminou, de rigor, em 1971—, mas principalmente pela atuação da OAB, à época em que figuras de expressão a conduziam, como Raymundo Faoro, Márcio Tomas Bastos, Mário Sérgio Duarte Garcia, Bernardo Cabral e de parlamentares como Ulisses Guimarães, Mário Covas, Franco Montoro e outros. Tenho para mim que a guerrilha apenas atrasou o processo de retorno à democracia, pois ódio gera ódio, e a luta armada acaba por provocar excessos de ambos os lados, com mortes, torturas e violências. Muitos dos guerrilheiros foram treinados na mais antiga e sangrenta ditadura da América (Cuba) e pretendiam, em verdade, apenas substituir uma ditadura de direita por uma de esquerda. Os verdadeiros democratas, a meu ver, foram aqueles que, usando a melhor das armas, ou seja, a palavra, obtiveram um retorno indolor à normalidade, sem mortes, sem torturas, sem violências. O modelo espanhol adotado — e de nítida conformação socialista — objetiva apenas legitimar, por consultas manipuláveis do povo, o regime ditatorial, que parece começar a implantar-se na América Latina, com sucessivas buscas de perpetuação no poder por parte dos dirigentes destes países, com reeleições ilimitadas. A Lei de Anistia (nº 6.683/79), proposta principalmente pelos guerrilheiros, foi um passo importante para a redemocratização, pois possibilitou àqueles que preferiram as armas às palavras a sua volta ao cenário político. A lei, à evidência, pôs uma pedra sobre o passado, sepultando as atrocidades praticadas tanto pelos detentores do poder, à época, como pelos guerrilheiros. E foram muitas de ambos os lados. Num país em que o ódio tem pouco espaço — basta com parar as revoluções de nossos vizinhos com as do Brasil para se constatar que o derramamento de sangue aqui foi sempre muito menor — tal olhar para o futuro permitiu que o Brasil ressurgisse com uma Constituição democrática. Nela, o equilíbrio dos Pode res, como anteriormente atrás, possibilitou o enfrentamento de crises, como o “impeachment”, a superinflação, os mais variados escândalos, entre os quais o mensalão foi o maior, a alternância de poder, sem que se falasse em rupturas institucionais. Vivese — graças à redemocratização voltada para o futuro e não para o passado — ambiente de liberdade e desenvolvimento social e econômico próximo de nações civilizadas. O Plano de Direitos Humanos, organizado por inspiração dos guerrilheiros pretéritos, pretende, todavia, derrubar tais conquistas, realimentando ódios e feridas, inclusive com a tese de que os torturadores guerrilheiros eram santos e aqueles do governo, demônios. Esta parte do plano foi corrigida, admitindo o Presidente Lula que, se for criada a “Comissão da Verdade”, há de se apurar tudo o que de excessos foi praticado naquela época por militares e guerrilheiros. O pior, todavia, é que o plano é uma reprodução dos modelos constitucionais venezuelano, equatoriano e boliviano, todos inspirados, como expliquei nas considerações preliminares SantoS SalleS A crise atual decorreu de um imperativo psicossocial clássico nas economias de mercado, ou seja, o envolvimento de toda a sociedade, sem intervenção adequada dos governos, na busca de resultados financeiros e no mercado de capitais, em face do crescimento da economia em padrões acima das necessidades de consumo dos que têm capacidade de absorver a produção. Dessa forma, os investimentos foram valorizados também em patamar mais elevado do que seu intrínseco valor estrutural, com o que, em lDireito Tributário um determinado momento, tal evolução, sem sustentabilidade real, necessariamente, terminaria por explodir, gerando mais lDireito Previdenciário uma crise cíclica de capitalismo, em dimensões maiores do que aquelas lDireito que ocorreremdas após 1929. Relações de Consumo O efeito psicológico de uma percepção superficial dos lDireito elementos causadores Civil da crise, indiscutivelmente, acabou por gerar um prolongamento ilusório de um “boom econômico”, lDireito do Trabalho já diagnosticado por especialistas como sem condições de permanência, a partir de 2006/2007. lDireito Penal Empresarial Os mercados não são autorreguláveis, mas as regulações oficiais lDireito quase sempreAdministrativo são insuficientes para corrigir suas distorções, mormente quando as próprias autoridades iludem se quanto à sua capacidade de conduzilo. lDireito Internacional Por outro lado, os investidores que o alimentam e que, não lMediação e Arbitragem poucas vezes, também se iludem com a fortaleza estrutural do progresso e do desenvolvimento, terminam sendo, lPetróleo, Gás momento em simultaneamente, causa e Energia efeito geradoredaquele que a constatação da impossibilidade de sua permanência em lDireito das Telecomunicações níveis elevados indefinidamente tornase evidente. Em outras palavras, há um ponto de equilíbrio, que seria o limite crítico entre uma realidade controlável, propiciadora da estabilidade dos mercados, e a atuação dos agentes econômicos e autoridades tanto para perceber, quanto para promover uma intervenção corretiva, sempre que esse limite crítico, precário por natureza, é ultrapassado. É que, de outra forma, a atuação dos agentes econômicos passa a ser aleatória e desordenada, na busca desesperada de salvar o que lhes parece em risco de se perder, terminando, a ação das autoridades com poder regulatório, por ser superada pela atuação de investidores e consumidores. São estes, de rigor, aqueles que determinam os humores da realidade econômica, nas crises e nos tempos de bonança. Assim, há um ponto de equilíbrio permanente, na economia de mercado, sempre que os investidores, os agentes produtivos (agricultura, indústria, comércio e serviços) e os agentes públicos atuam na perspectiva de um desenvolvimento projetado, detendo pleno conhecimento dos fatores sociais, políticos, econômicos, de consumo e emprego, e sendo capazes de mantêlos constantes mediante controle induzido, por meio de políticas creditícias e fiscais capazes de estimular desestimular setores queandar possam Av. ou Paulista, 1765 -13° provocar os desequilíbrios definidos como indesejáveis pelos TEL: +55 (11) 3266-6611 - São Paulo agentes econômicos e públicos em conjunto. Nesse contexto de adequadaRio política mercado,- Brasília a própria conjunção de de de Janeiro - Campinas agentes públicos e privados conformará o nível de gastos Belo Horizonte públicos e despesas burocráticas, sempre que estes possam advogadoS aSSociadoS www.santossalles.com.br 2010 ABRIL | JUSTIÇA & CIDADANIA 19 Foto: Rosane Naylor REGULAÇÕES EXPROPRIATÓRIAS Gustavo Binenbojm Advogado Professor Adjunto de Direito Administrativo da UERJ A função regulatória do Estado, prevista genericamente no art. 174 da Constituição da República, consiste no conjunto de estratégias de intervenção na economia voltadas à conformação ou à indução do comportamento dos agentes econômicos para a consecução de fins socialmente desejáveis. Modo geral, a regulação incide, de forma compulsória ou meramente indutiva, sobre as principais variáveis econômicas, como preço, entrada, especificações, quantidades e informação. Como preconizado por Norbert Reich, existe uma relação de dupla instrumentalidade entre economia e Estado: a economia instrumentaliza o Estado, na medida em que exige instituições jurídicas que viabilizem o seu funcionamento (propriedade, contratos etc.); mas é também por ele instrumentalizada, por meio de distintas formas de regulação voltadas à consecução de fins socialmente desejáveis (eficiência, maximização da riqueza, redistribuição etc.). Superada a fase das discussões cerebrinas ou puramente ideológicas, há que se reconhecer que se, de um lado, o Estado não tem o monopólio do interesse público, o livremercado, de outro, não tem o monopólio da eficiência. Haverá regulação estatal, assim, quando moralmente justificável, juridicamente possível e pragmaticamente defensável. A definição da abrangência e da intensidade da atuação estatal no domínio econômico não fica, todavia, ao inteiro alvedrio de legisladores e administradores, sendo antes constitucionalmente limitada pelo dever de proporcionalidade, que confere equilíbrio à atuação subsidiária do Estado, conduzindo para um modelo de “intervenção sensata”1. 20 JUSTIÇA & CIDADANIA | ABRIL 2010 Na sistematização de Eduardo García de Enterría2, há três possíveis gradações de intervenção do Estado nos direitos dos administrados. Num primeiro nível estão as limitações administrativas de direitos, as quais se relacionam com as condições de seu exercício, não interferindo com os seus elementos (e.g. o estabelecimento de certas condições para o exercício de atividade econômica, ou a exigência de qualificação técnica mínima para o exercício de uma profissão regulamentada). Num segundo nível, estão as delimitações administrativas do conteúdo normal de direitos, as quais não lidam com o exercício dos direitos, mas conformam seu conteúdo (e.g. normas urbanísticas de gabarito máximo de prédios). Finalmente, há aquelas intervenções ditas ablativas, ou de sacrifício de direitos, as quais irritam o cerne dos direitos dos administrados, esvaziando sua finalidade econômica ou funcionalidade (e.g. a desapropriação e as transferências coativas de propriedade para o Poder Público). Com efeito, há situações em que não se está diante de um simples condicionamento ao exercício do direito ou de uma delimitação da sua abrangência. A pretensão regulatória vai longe demais, recaindo sobre o conteúdo essencial do direito de propriedade. Observese que o uso de norma jurídica dotada de efeitos gerais não pode modificar a natureza expropriatória do ato. Com efeito, há muito se afastou a idéia de que a caracterização da desapropriação tenha como pressuposto ato administrativo de efeitos concretos e individualizados3. É possível cogitarse de gravames singularmente impostos que não signifiquem sacrifício do direito, como também se podem vislumbrar casos em que gravames de incidência genérica tenham conteúdo de sacrifício de direitos4. Também não é condição da configuração da expropriação a translação do direito de propriedade para o Estado, bastando que a medida estatal afete o conteúdo essencial do direito, aviltandoo de modo irrazoável e desproporcional. Assim, a regulação terá caráter expropriatório considerando se a intensidade do sacrifício imposto5. Isto é, diante da magnitude do sacrifício, não importam os meios adotados, a medida terá caráter expropriatório. Tratase de casos em que se impõe ao particular um sacrifício que, de tão grave, não é exigível, mesmo que por lei6. Do contrário, farseia letra morta o regime constitucional de proteção da propriedade privada. Nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello, “as leis não podem, a pretexto de regular ou condicionar o exercício da propriedade, elidir ou bloquear o uso, o gozo ou a disposição do bem sobre o qual incida o domínio. A supressão ou o bloqueio destes atributos inerentes à propriedade (...) não caracterizam definição do âmbito do direito, não são limitações à propriedade, mas arremetidas contra o direito de propriedade”7 O Poder Público vai de encontro à propriedade privada (inclusive de bens imateriais) quando a pretexto de conformar, esvazia gravemente as funções inerentes ao exercício de suas faculdades (usar, fruir e dispor). São hipóteses em que há cerceamento da funcionalidade prática ou da utilidade econômica do direito; casos muito além daquilo que se convencionou chamar limitação administrativa, o que, aliás, vem sendo reconhecido pela jurisprudência8. É nesse sentido, e.g., que casos de excessiva regulação ambiental podem ensejar o que se convencionou chamar desapropriação indireta. O administrador público que esvaziar em demasia o conteúdo econômico e a funcionalidade de bens imóveis por razões ambientais ataca o cerne do direito de propriedade, gerando, inclusive, direito de indenização. No julgamento do Recurso Especial no 52.905, por exemplo, consignou o Min. Humberto Gomes de Barros que “efetivamente, a criação da reserva florestal não importou em apossamento administrativo, no entanto esvaziou o conteúdo econômico da propriedade”9. Com essa mesma inspiração Carlos Ari Sundfeld leciona que: “qualquer condicionamento do direito de propriedade tem como limite a viabilidade prática e econômica do emprego da coisa”10. No caso da regulação estatal de atividades econômicas, haverá expropriação quando a medida legislativa ou administrativa restringir, de maneira desproporcional e sem compensação, algum aspecto da atividade empresarial, como suas marcas, fundo de comércio, matériasprimas, dentre outros bens e direitos. No âmbito do direito norteamericano, o rótulo de “expropriação regulatória” (regulatory taking) designa estas situações em que o Poder Público, a pretexto de disciplinar o exercício de direitos, acaba por exceder suas atribuições na limitação à propriedade privada. São hipóteses em que o Estado vai longe demais, em desrespeito ao conteúdo essencial do direito de propriedade e à vedação de sua utilização pública sem justa compensação (5a Emenda). O caso paradigma em que originariamente ficou reconhecida a possibilidade de 2010 ABRIL | JUSTIÇA & CIDADANIA 21 A regulação expropriatória, portanto, é fruto do exagero. É forma excessiva de intervenção do Estado na economia em violação da Constituição e da lei, devendo ser afastada por aplicação do princípio da ‘menor ingerência possível’. expropriação regulatória foi Pennsylvania Coal Co. v. Mahon, 206 U.S. 393 (1922). No voto condutor da decisão da Suprema Corte americana, o celebrado Justice Oliver Wendell Holmes deixou assentado que “quando a atividade regulatória atinge certa magnitude, na maioria, senão na totalidade dos casos, haverá exercício do domínio eminente do Estado, e a compensação ao particular é necessária para sustentar o ato.”11 No Brasil, o texto da Constituição de 1988 consagra o direito de propriedade em vários dispositivos e institui, com detalhamento maior que a Constituição dos EUA, o procedimento de desapropriação, seus requisitos básicos e suas possibilidades. A propriedade privada, enquanto direito fundamental relativo a bens corpóreos e incorpóreos, está prevista expressamente no art. 5o, caput, e incisos XXII e XXIX, além do art. 170, II da Carta Federal. A Constituição também estabelece dever a propriedade cumprir sua função social (art. 5o, XXIII e 170, III), esboçando o sentido de tal princípio tanto para a propriedade urbana (art. 182), quanto para a propriedade rural (art. 186). A função social da propriedade é princípio inspirado na experiência constitucional alemã, e tem como idéia básica a noção de que o domínio deve também servir a finalidades coletivas. Ao lado da definição da propriedade como direito fundamental, o constituinte predefiniu os casos de desapropriação. As hipóteses de uso e tomada da propriedade privada pelo Poder Público são fixadas no art. 5o XXIV, XXV. Há também previsões específicas no art. 182 § 3o e § 4o, III (para imóveis urbanos) e art. 184 (para imóveis rurais). A regra geral do regime desapropriatório é definida no inciso XXIV do art. 5o, segundo o qual “a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição” 22 JUSTIÇA & CIDADANIA | ABRIL 2010 Três normas básicas decorrem do dispositivo citado: (i) o regime do procedimento de tomada da propriedade pelo Poder Público está sujeito a uma reserva de lei12 (“a lei estabelecerá o procedimento”); (ii) a intenção expropriatória deve estar vinculada a uma finalidade pública ou social (“para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social”), devendo ser (iii) sempre precedida do pagamento de indenização justa em dinheiro (“mediante justa e prévia indenização em dinheiro”)13, ressalvadas as hipóteses previstas na Constituição. A Constituição fez duas ressalvas quanto à necessidade de pagamento de indenização em dinheiro: (a) a desapropriação para reforma agrária (art. 184), que pode ser indenizada através do pagamento de títulos da dívida agrária14; e (b) a desapropriação do imóvel urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, na forma do (art. 182, § 4o, I, II e III15), que pode ser indenizada com o pagamento de títulos da dívida pública aprovados previamente pelo Senado Federal16. Ademais, na Carta de 1988, a propriedade privada é expressamente protegida contra o confisco (art. 150, IV, CF). A proibição do confisco existe no País desde 1821 (Decreto de 21 de maio de 1821) e na tradição lusitana significou um grande avanço, considerandose a antiga prática portuguesa de tomada de bens, que, com apoio na tradição escolástica, não repugnava o confisco de bens de infiéis, como, e.g., os judeus17. O confisco é excepcionalmente admitido quando a propriedade está relacionada à prática de crimes. Assim, admitese a tomada de bens enquanto forma de punição no art. 5o, XLVI, b, CF. O confisco é, ainda, autorizado na hipótese prevista no art. 243, CF, que trata da tomada imediata das glebas em que forem encontradas plantas psicotrópicas, bem como de todo e qualquer patrimônio decorrente de atividades ligadas ao tráfico de entorpecentes. A proibição do confisco, em termos gerais, é uma garantia não só da propriedade, como também da liberdade. Na melhor tradição liberal, a idéia subjacente é a de que sem propriedade inexiste liberdade18. O Estado não pode se valer de sua capacidade de conformar a propriedade (tributando ou regulando) para esvaziar a liberdade. O cuidado do constituinte em delinear os elementos básicos da capacidade do Estado de regular a propriedade privada — notadamente as condições para o exercício do poder de expropriar — comprova a consagração deste direito como elemento central da Constituição econômica brasileira. A forma como foi delineada a propriedade privada e a maneira como foi balizada a capacidade expropriatória do Estado na Constituição de 1988 apontam para um estado de proteção que não pode ser ignorado. A regulação que pretender esquivarse deste estado de coisas estará desvirtuando o desiderato constitucional. O Administrador Público não pode desviarse do seu dever de indenizar previamente. Sua atuação constituirá um verdadeiro abuso de poder e desvio da finalidade constitucional, que estabeleceu os meios e os limites da capacidade expropriatória do Estado. Não é simples, evidentemente, determinar o ponto partir do qual a regulação se transforma em expropriação. Richard Epstein, professor da Universidade de Chicago, em primoroso livro referência sobre o tema, propõe um teste para que o juiz verifique se a ação legislativa ou administrativa foi longe demais. Nesse teste, o qual se aplica para avaliaremse os excessos regulatórios, o julgador deverá perguntar: (i) se houve um esvaziamento do direito de propriedade (taking of private property; (ii) se existe uma justificativa para a expropriação; (iii) se o esvaziamento é feito em benefício de uma finalidade pública; e (iv) se há alguma forma de compensação pelo taking (essa compensação pode ser implícita, o que ocorreria em atividades privadas que se valem de algum benefício do Estado para o seu exercício). Se a resposta às duas últimas perguntas for negativa, estará configurada a expropriação19. No Brasil, pareceme possível identificar as hipóteses de regulação expropriatória utilizando como parâmetro o exame da proporcionalidade. Bastante sedimentado na cultura jurídica brasileira20, o exame de proporcionalidade é ferramenta de acomodação e solução de conflitos entre direitos e interesses constitucionais contrapostos. Sua aplicação dáse na análise sucessiva de três elementos21: a adequação ou idoneidade (aptidão para alcançar o fim constitucionalmente pretendido, bem como o fim almejado pelo Poder Público); a necessidade ou exigibilidade (opção pelo meio que menor sacrifício cause aos direitos em jogo) e a proporcionalidade em sentido estrito, que corresponde ao mandado de ponderação propriamente dito22 (relação de custobenefício entre o direito sacrificado e o fim pretendido)23. A regulação expropriatória não atende ao postulado da proporcionalidade, porquanto desnecessária e/ou despro porcional em sentido estrito. O sacrifício desmedido de direitos em prol de outra finalidade constitucional, se não for o único meio capaz a atingir um desiderato, deve ser evitado. Medidas menos gravosas e igualmente aptas a consecução de uma mesma finalidade devem ser preferidas. Se a medida mais gravosa for adotada, será ela nula, porquanto desnecessária. A desproporcionalidade em sentido estrito também contribui para a constatação da ocorrência de regulação expropriatória. Tratase do sopesamento entre custos e benefícios da medida. Quando os custos da regulação forem muito mais altos que os seus benefícios, é possível cogitarse da sua invalidade. A regulação que expropria será aquela com custos muito elevados para o direito de propriedade sem um benefício equiparável para os interesses da coletividade. Em outras palavras, a desproporcionalidade haverá quando os custos individuais superarem os benefícios coletivos da medida. Nesse ponto, é preciso ter a cautela de se recordar que não existe um princípio de preferência a priori do interesse coletivo sobre o particular24. O interesse público pode consubstanciar, justamente, a proteção de interesses privados. Dentre as funções sociais da propriedade, existe também uma função de garantia individual da liberdade. Em verdade, interesses e direitos contrapostos, chamados públicos ou privados, convivem num ambiente permeado e orientado pelo dever de proporcionalidade. Não se nega que exista um interesse público, como o “conjunto de interesses gerais que a sociedade comete ao Estado para que ele os satisfaça, através de ação política juridicamente embasada (a dicção do Direito) e através de ação jurídica politicamente fundada (a execução administrativa ou judiciária do Direito)”25. Apenas se sustenta que o interesse público comporta, desde a sua configuração constitucional, uma imbricação entre interesses difusos da coletividade e interesses individuais e particulares, não se podendo estabelecer a prevalência teórica e antecipada de uns sobre os outros26. Assim, é possível que os interesses públicos da regulação sejam impostos de tal forma que os direitos ditos privados — tal qual a propriedade — sejam desproporcionalmente atacados. A regulação expropriatória, portanto, é fruto do exagero. É forma excessiva de intervenção do Estado na economia em violação da Constituição e da lei, devendo ser afastada por aplicação do princípio da “menor ingerência possível”27. A proibição do excesso, explica Humberto Ávila, traduzse na idéia de que “[A] realização de uma regra ou princípio constitucional não pode conduzir à restrição a um direito fundamental que lhe retire um mínimo de eficácia. Por exemplo, o dever de tributar não pode conduzir ao aniquilamento da livre iniciativa”28. Partindo do exemplo citado, vêse que a racionalidade presente na proibição do uso de tributos para fins de confisco é outra forma de se observar a contenção de excessos do Estado regulador. Nessa linha de raciocínio, tributação e regulação são vistas como duas faces de uma mesma moeda. As duas são aptas a conformar, limitar, e a fomentar a atividade econômica. Ambas são aptas a induzir comportamentos dos agentes econômicos. E ambas são aptas a destruir. A tributação tem um caráter regulatório inerente29, havendo hipóteses em que a extrafiscalidade salta aos olhos (e.g. o caso do IPI no Brasil) e outros casos em que ela não é tão evidente assim, mas nem por isso deixa de existir (e.g. a tributação diferenciada do Imposto de Renda para determinadas atividades econômicas). Richard Epstein30 observa que tributação e regulação “podem ser utilizadas como meio de confisco, porquanto as duas são equivalentes a uma (parcial) tomada (taking) da propriedade privada”. O excesso, no caso do confisco, é o aniquilamento da atividade econômica através da imposição de tributos, que nada mais é que uma forma de regulação da propriedade em sentido amplo31. A capacidade de criar e cobrar tributos caminha ao lado do dever de manutenção das atividades econômicas dos contribuintes32. Nesse contexto, o confisco está para a tributação assim como a regulação expropriatória está para a regulação. Medidas que imponham restrições que inviabilizem economicamente uma atividade privada são confiscatórias. A fixação de preços (ou tarifas) abaixo da realidade é inconstitucional, pois, como já consignou o STF, são um 2010 ABRIL | JUSTIÇA & CIDADANIA 23 “empecilho ao livre exercício da atividade econômica, com desrespeito ao princípio da livre iniciativa”33. Em verdade, a regulação que estabeleça preços irreais como forma de atingir uma finalidade pública é, de fato, expropriatória. Tratase de imposições cujo impacto econômico sequer conseguirá ser repassado para o preço cobrado do destinatário final da atividade. Pensese, por exemplo, no caso de uma norma que crie severas restrições para uma determinada indústria, tornando o custo da atividade mais alto que qualquer possibilidade de retorno. Tal regulação será expropriatória. A atividade empresarial, apesar de possuir uma função social, não pode ser tomada para a realização de finalidades públicas que acabem por gerar seu extermínio ou sério comprometimento. Até mesmo porque, a manutenção da atividade econômica é também promover a sua função social De outro lado, não será expropriatória a regulação que ressalvar, ao empresário, alguma forma razoável para exploração econômica da atividade ou do bem regulado. Se a regulação não impedir outro meio razoável de recuperação econômica de investimentos, considerandose, ainda, as expectativas legítimas dos agentes econômicos, seria ela, em princípio, constitucional. Esse foi o entendimento consagrado pela Suprema Corte dos EUA no caso Penn Central Transportation Co. v. City of New York (1978)34. Entendeuse, no caso, que havia outras formas de aproveitamento econômico da propriedade. A possibilidade de repasse do custo criado pela regulação para o preço a ser cobrado também é um critério legítimo de aferição da legitimidade da regulação. Não haveria, em princípio, desapropriação, mas conformação da propriedade, a simples definição do seu conteúdo, na nomenclatura usada pelo Tribunal Constitucional Alemão. Em julgamento de 1981 (BVerfGE 58, 137), o Tribunal Constitucional Alemão decidiu que inexistia, a priori, caráter expropriatório em lei do Estado de Hessen que determinou que todos as editoras estavam obrigadas a doar para a biblioteca estadual central um exemplar de cada novo lançamento. O dever de entrega seria, em princípio, constitucional, porquanto comporia o próprio conteúdo do direito. De outro lado, diante do caso concreto que envolvia um editor que publicava livros valiosos em pequena escala, o Tribunal reconheceu ser inconstitucional a determinação de que inexistiria qualquer possibilidade de indenização. A Corte entendeu que poderia haver casos em que uma indenização seria devida, como, no caso concreto, em que “o dever de entrega gratuito de impressos em grande proporções, que foram produzidos com grande gasto e em pequena edição, apresenta um agravamento desproporcional e antiigualitário”35. Em resumo do que se expôs, a regulação será expropriatória e inconstitucional, diante do exame do caso concreto: (i) quando vier acompanhada de esbulho possessório; (ii) quando for desproporcional, porquanto desnecessária e/ ou tiver custos maiores que seus benefícios; e (iii) quando for excessiva por configurar esvaziamento econômico ou retirar o conteúdo prático do direito que passa a ser usado para o atendimento de finalidades públicas, sem qualquer compensação para o proprietário. NOTAS A expressão é de Egon Bockman Moreira, para quem a intervenção sensata “é proporcional e razoável ao mercado e aos interesses públicos e privados em jogo. Num sistema capitalista que celebra constitucionalmente a liberdade de iniciativa, a liberdade de empresa e a liberdade de concorrência (Constituição art. 170), a intervenção do Estado na Economia há de ser necessária, ponderada, excepcional e pontual – com finalidade pública específica” (MOREIRA, Egon Bockman. “O direito administrativo da economia, a ponderação de interesses e o paradigma da intervenção sensata”, in Estudos de direito econômico, de Leila Cuellar e Egon Bockman Moreira, Belo Horizonte: Ed. Fórum, 2004, p. 81). 2 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo; FERNÁNDEZ, TomásRamon. Curso de derecho administrativo, 9a Ed., Madrid: Cívitas, 1999, p. 102104. 3 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. “Tombamento e dever de indenizar”, in Revista de Direito Público no 81, p. 66. SUNDFELD, Carlos Ari. “Con dicionamento e sacrifício de direitos – Distinções”, in Revista Trimestral de Direito Público, vol. 4, p. 80. BAPTISTA, Patrícia Ferreira. “Limitação e sacrifício de direitos – o conteúdo e as conseqüências dos atos de intervenção da Administração Pública sobre a propriedade privada”, in Revista de Direito da ProcuradoriaGeral da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, v. 7, 2003, p. 9. 4 BAPTISTA, Patrícia Ferreira. Op. cit., p. 12. 5 SUNDFELD, Carlos Ari. “Condicionamento e sacrifício de direitos – Distinções”, in Revista Trimestral de Direito Público, vol. 4, p. 8081. 6 FORSTHOFF, Ernest. Tratado de derecho administrativo alemán (trad. Legaz Lacambra, Garrido Falla e Gómez de Ortega y Junge), Madrid: Instituto de Estúdios Politicos, 1958, p. 441. 7 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. “Tombamento e dever de indenizar”, Revista de Direito Público no 81, p. 66. 8 São inúmeros os acórdãos dos tribunais brasileiros em que se admitiu que pretensa limitação administrativa, ou mesmo tombamento, pudesse signi ficar verdadeiro esvaziamento econômico do bem privado, gerando, até mesmo, direito à indenização. Nesse sentido, vejamse, a título ilustrativo, os seguintes trechos de ementas de julgados do STJ: “Limitação administrativa, segundo a definição de Hely Lopes Meirelles, ‘é toda imposição geral, gratuita, unilateral e de ordem pública condicionadora do exercício de direitos ou de atividades particulares às exigências do bemestar social’ (Direito Administrativo Brasileiro, 32ª edição, atualizada por Eurico de Andrade Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho São Paulo: Malheiros, 2006, pág. 630). É possível, contudo, que o tombamento de determinados bens, ou mesmo a imposição de limitações administrativas, traga prejuízos aos seus proprietários, gerando, a partir de então, a obrigação de indenizar” (REsp nº 1.100.563 – RS, rel. Ministra Denise Arruda, DJE 01.07.2009). “ADMINISTRATIVO TOMBAMENTO ÁREA SERRA DO MAR INDENIZAÇÃO REVISÃO OU REAVALIAÇÃO DA PROVA OMISSÃO DO TRIBU NAL. 1. A jurisprudência desta Turma, bem assim da Primeira Turma, é no sentido de admitir indenização de área tombada, quando do ato restritivo de utilização da propriedade resulta prejuízo para o dominus” (REsp. no 401.264 – SP, rel. Ministra Min. Eliana Calmon, DJ 30.09.2002). 9 STJ, REsp 52905SP rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Primeira Turma, j. 14.12.1994, DJ 06.03.1995, p. 4.321. No mesmo diapasão, v. REsp 1 24 JUSTIÇA & CIDADANIA | ABRIL 2010 28.239SP re, Min. Humberto Gomes de Barros Primeira Turma, j. 13.10.1993, DJ 22.11.1993, p. 24.902; REsp 47.865SP rel. Min. Demócrito Rei naldo Primeira Turma, j. 15.08.1994, DJ 05.09.1994, p. 23.044. 10 SUNDFELD, Carlos Ari. “Condicionamento e sacrifício de direitos – Distinções”, in Revista Trimestral de Direito Público, vol. 4, p. 82. 11 No original em ingles: “When regulation reaches a certain magnitude, in most if not in all cases there must be an exercise of eminent domain and compensation to support the act”, trecho do voto condutor em Pennsylvania Coal Co. v. Mahon, 206 U.S. 393 (1922). 12 O regime geral de desapropriação é regulado pelo Decreto Lei no 3.365 de 21.06.1941, que deve ser interpretado conforme a Constituição. 13 A exigência de indenização prévia à tomada da propriedade, que não existe no texto da Constituição dos Estados Unidos da América, faz parte do direito constitucional positivo brasileiro desde a Carta outorgada de 1824 (art. 179, XXII) e foi repetido em todas as demais Constituições (Consti tuição de 1891: art. 72 § 17; Constituição de 1934: art. 113, item 17; Carta de 1937: art. 122, item 14; Constituição de 1946: art. 141 § 16; Carta de 1967: art. Art. 150, § 22; e Carta de 1969: art. 153, § 22). 14 O regime de desapropriação de imóveis rurais, para fins de reforma agrária, pode ser feito através do pagamento de justa e prévia indenização com Títulos da Dívida Agrária (TDA). Para tanto, o imóvel rural não deve estar cumprindo sua função social, na forma do art. 186. Estabelecese ainda que (i) as benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro (§ 1º do art. 184); e (ii) que são isentas de impostos federais, estaduais e municipais as operações de transferência no caso dessa desapropriação (§ 5º do art. 184). Anotese, por fim, que são isentas de desapropriação para fins de reforma agrária: (i) a pequena e média propriedade rural conforme definido em lei (art. 185, I); e (ii) a propriedade produtiva (art. 185, II). 15 O procedimento em questão foi regulamentado pelo Estatuto da Cidade, Lei no 10.252/2001. 16 A desapropriação para fins urbanísticos de que trata o art. 182, deve observar os requisitos do art. 182, § 4o, que estabelece a faculdade do Poder Público municipal, nos termos da lei federal, de desapropriar imóveis urbanos não edificados, subutilizados ou não utilizados, que resistam a promover o adequado aproveitamento do bem. O adequado aproveitamento do bem será exigido pela Administração municipal através de medidas sucessivas de parcelamento ou edificação compulsórios, imposto progressivo sobre a propriedade e, finalmente, desapropriação. 17 Nas palavras de Diogo Lopes Rabelo (em obra de 1496): “Pode e deve, todavia, imporlhes [aos judeus] maiores talhas e gabelas ou exacções do que aos cristãos, para reconhecerem que estão sob o jugo da escravidão e sob uma certa miséria do castigo do seu pecado. O mesmo digo dos outros infiéis, como por exemplo, dos sarraceno” apud BRAGA, Isabel Drumond, “Judeus e CristãosNovos: os que chegam, os que partem e os que regressam” in Cadernos de estudos sefarditas, Lisboa: Cátedra de Estudos Sefarditas Alberto Benveniste, no 5, 2005, p. 11. 18 TORRES, Ricardo Lobo, Tratado de direito constitucional financeiro e tributário – os direitos humanos e a tributação: imunidades e isonomia, 3a ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 157. 19 EPSTEIN, Richard. Takings. Private property and the Power of eminent domain, Cambridge: Harvard, 1985. 20 V., por exemplo, BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição, 5ª ed., São Paulo: Saraiva, 2003, pp. 218246; ÁVILA, Hum berto. Teoria dos princípios, 3a ed., São Paulo: Malheiros, 2004; SARMENTO, Daniel. A ponderação de interesses na Constituição Federal, 1ª ed., 3ª tir., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003; BARCELLOS, Ana Paula de. Ponderação, racionalidade e atividade jurisdicional, Rio de Janeiro: Renovar, 2005; PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. Interpretação constitucional e direitos fundamentais, Rio de Janeiro: Renovar, 2006, pp. 310382; e SILVA, Luís Virgílio Afonso da. “O proporcional e o razovável”, in Revista dos Tribunais, vol. 798, 2002, pp. 2350. 21 Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal v. IF 2257 / SP, rel. para o acórdão Min. Gilmar Ferreira Mendes, j. 26.03.2003, DJ 01.08.2003, p. 116. 22 TORRES, Ricardo Lobo. “A legitimação dos Direitos Humanos e os princípios da ponderação e da razoabilidade”, in Legitimação dos Direitos Hu manos, org. Ricardo Lobo Torres, Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 425. 23 SARMENTO, Daniel. A ponderação de interesses na Constituição Federal, 1ª ed., 3ª tir., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 96. 24 ÁVILA, Humberto. “Repensando o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular” in O Direito Público em tempos de crise – Es tudos em homenagem a Ruy Ruben Ruschel, 1999, pp. 99127. Ver também a obra coletiva organizada por Daniel Sarmento: Interesses públicos versus interesses privados: desconstruindo o princípio da supremacia do interesse público. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. Em sentido contrário, v. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo, 15ª ed., São Paulo: Malheiros, 2003, p. 29. 25 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Legitimidade e discricionariedade – novas reflexões sobre os limites e o controle da discricionariedade, 4a Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 13. 26 BINENBOJM, Gustavo. “Da supremacia do interesse público ao dever de proporcionalidade: Um novo paradigma para o direito administrativo”, in SARMENTO, Daniel, Interesses públicos versus interesses privados: desconstruindo o princípio da supremacia do interesse público. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 149. 27 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da constituição, 5a ed., São Paulo: Saraiva, p. 228. 28 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios, 6a Ed., São Paulo: Malheiros, 2006, p. 133. 29 NABAIS, José Cabalta. Direito Fiscal, 2a Ed., Coimbra: Almedina, 2003, p. 402: “toda fiscalidade tem inerente uma certa dose de extrafiscalidade (...) Há, assim, uma extrafiscalidade em sentido impróprio, uma extrafiscalidade imanente, que acompanha as normas de direito fiscal, sejam essas normas de tributação ou de não tributação, que se revela quer no relevo extrafiscal que o legislador frequentemente atribui às finalidades extrafiscais secundárias e acessórias” 30 EPSTEIN, Richard. “Taxation, regulation and confiscation” in Osgoode Hall Law Journal vol. 20, p. 434. 31 Associando regulação e tributação no Brasil, v. BARBOSA, Hermano Notaroberto. “Regulação econômica e tributação: o papel dos incentivos fiscais” in Direito tributário e políticas públicas, coord. José Marcos Domingues, São Paulo: MP Ed., 2008, pp. 237298. 32 STF, voto do Min. Cândido Motta Filho, p. 4, no RE no 47.937, DJ 06.12.1962, p. 3.744. 33 STF, RE no 422.9412 / DF, rel. Min. Carlos Velloso, j. 06.12.2005, DJ 24.03.2006. No mesmo sentido: Ag.Reg. RE no 583.9923 / DF, rel. Min. Ellen Gracie, j. 26.05.2009, DJe no 108, 23.06.2009. Em tais casos, discutiuse a responsabilidade civil do Estado pela definição de preços irreais (art. 37, § 6o, CF). Como deflui do texto, pretendese que a questão seja colocada em outros termos. 34 Penn Central Transportation Co. v. City of New York (438 U.S. 104 – 1978). V. capítulo III, onde se explicou, que a interferência resultante do Landmark Preservation Law de Nova Iorque não tinha “ido longe demais” a ponto de configurar expropriação na medida em que (i) a propriedade em questão poderia continuar a ser usada da mesma forma como vinha sempre, (ii) sendo certo, ainda, que a mesma, sem embargo das restrições, poderia proporcionar retorno razoável ao investimento já realizado. 35 MAURER, Hartmut. Direito administrativo geral, trad. da 14a Ed. (trad. Luís Afonso Heck). Barueri: Manole, 2006, p. 796. 2010 ABRIL | JUSTIÇA & CIDADANIA 25 20 ANoS DA coNSTITUIÇÃo O DESAFIO DA ASSUNÇÃO DA PERSPECTIVA INTERNA DA CIDADANIA NA TAREFA DE CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS Menelick de Carvalho Netto Professor do Curso de Direito da UNB Guilherme Scotti Mestre e Doutorando em Direito pela UNB L I. Introdução evar a Constituição a sério, acreditamos, é a melhor forma de comemorarmos os seus vinte anos. Portanto, cabenos tematizar o processo de implementação na vida cotidiana do seu projeto normativo coletivo de construção de uma sociedade justa, fraterna e democrática, bem como os obstáculos encontrados. Necessariamente, para que esse projeto possa dar certo, ele há que permanecer complexo, plural e aberto para o futuro. Após mais de meia centena de emendas que, no mais das vezes, apenas explicitam o que já se encontrava implícito na Constituição, esperamos que o tempo da crença ingênua em um texto que, por si só, pudesse nos salvar de nós mesmos tenha se exaurido. Talvez tenha chegado a hora de a questão subjacente à ilusória e paradoxal esperança de encontrarmos um texto que dispensasse a nossa responsabilidade para com ele ser finalmente invertida do avesso e, tornada visível a falácia, ter lugar a formulação de indagações e desafios mais produtivos. A crença em que a simples literalidade do texto constitucional dispensaria intérpretes e que seria algo capaz de, por si só, determinar o sucesso ou fracasso da vida institucional de um povo é por demais simplória. Já há muito sabemos que textos constitucionais por si sós nada ou muito pouco significam. O problema dos textos é e sempre será o de qual aplicação somos capazes de dar a eles. Os textos constitucionais, sintéticos ou analíticos, serão sempre lidos como principiológicos tão só por serem constitucionais, ou seja, em razão mesmo daquilo que constituem. Uma Constituição constitui uma comunidade de princípios que se quer permanente. Uma comunidade de pessoas que se reconhecem reciprocamente como iguais em suas diferenças e livres no igual respeito e consideração que 26 JUSTIÇA & CIDADANIA | ABRIL 2010 devotam a si próprios enquanto titulares dessas diferenças. Nesse artigo discutiremos alguns aspectos relevantes na atual compreensão sobre a aplicação do direito entendido como ordenamento de princípios. Na parte II trataremos da discussão sobre a natureza interna ou externa dos limites entre direitos, contrapondonos à concepção axiológica de conflito de valores. Na parte III retomaremos o embate entre as teorias de Isaiah Berlin e Ronald Dworkin quanto ao pluralismo moral. Na parte IV traremos reflexões referentes a recentes discussões na doutrina e na prática jurisdicional brasileiras em torno das ideias de conflito e de abuso de direitos, para então delinearmos uma breve conclusão na parte V. II. Limites internos e externos e o “conflito de valores” Valendose da teoria de Robert Alexy, Gilmar Mendes (2004, p. 25) expõe concepções concorrentes quanto à relação entre direito individual e restrição. Para a teoria externa os direitos podem ser, a princípio, ilimitados, sendo que sua conformação com o restante do ordenamento jurídico se daria mediante restrições externas ao próprio direito. Já segundo a teoria interna direitos individuais e restrições não seriam categorias autônomas, mas o próprio conteúdo dos direitos implicaria em limites inerentes ao seu conceito, e não em restrições externas. Para o autor: Se se considerar que os direitos individuais consagram posições definitivas (Regras: Regel), então é inevitável a aplicação da teoria interna. Ao contrário, se se entender que eles definem apenas posições prima facie (prima facie Positionen: princípios), então há de se considerar correta a teoria externa. (MENDES, 2004, p. 26) Também com base em Alexy, Mendes (2004, p. 32) aponta problemas numa teoria de interpretação que reduza o papel do legislador a simplesmente declarar o que já se encontra positivado nos direitos fundamentais, confirmando o juízo de ponderação feito pelo constituinte, sendo que, de fato, para o autor, autênticas limitações aos direitos individuais são realizadas pelo legislador — limitações externas. Marcase aqui a diferença entre as denominadas teorias interna e externa das limitações a direitos. Pois da perspectiva interna a diferença entre limitação e (re)definição de sentido carece de força explicativa, desde que respeitada a integridade do Direito, parâmetro que marca a diferença entre interpretação constitucional e abuso de direito. Além disso, ao menos no âmbito dos direitos fundamentais, a tensão entre abstração e concretude inerente aos princípios de conteúdo universal torna as atividades de criação e interpretação internamente complementares, visto que a densificação desses princípios pela via legislativa — e, guardadas as especificidades do discurso de aplicação, também pela via judicial — envolve tanto a confirmação da garantia fundamental quanto inovação no complexo quadro do ordenamento jurídico. Isso porque numa concepção principiológica da ordem constitucional a distinção entre direitos enumerados e nãoenumerados (DWORKIN, 1992, P. 381432) se revela problemática, pois a abertura semântica inerente à complexidade plural do constitucionalismo moderno não nos permite traçar uma moldura interpretativa do conteúdo dos direitos fundamentais como numerus clausus. É a integridade do direito, no exercício hermenêutico que se volta tanto para o passado quanto para o futuro, que marcará a diferença entre densificação e descumprimento dos princípios fundamentais, especialmente mediante a capacidade e a sensibilidade do intérprete de, no processo de densificação e concretização normativas, diante de uma situação concreta de aplicação, impor normas que se mostrem adequadas a reger essa situação de modo a dar pleno curso ao Direito em sua integridade, a reforçar a crença na efetividade da comunidade de princípios. Mesmo em um contexto de filosofia da linguagem, em que os supostos se assentam em termos discursivos e não mais em uma suposta estrutura da consciência humana, é o critério kantiano de legitimidade normativa, o imperativo categórico, a requerer como condição de validade da norma a sua universalidade, que continua a ser o critério basilar nos discursos de elaboração legislativa ou de justificação normativa, apenas que agora traduzido em termos discursivos: “legítimas são as normas passíveis de serem aceitas por todos os seus potenciais afetados”. Ainda que uma norma passe por esse crivo, isso não mais significa que ela deva ser aplicada a todos os casos em que aparentemente poderia se aplicar segundo a alegação dos próprios envolvidos. Ao contrário, como veremos, a legitimidade ou a constitucionalidade de uma norma não significa, por si só, que pretensões abusivas não possam ser levantadas em relação à sua aplicação aos casos concretos. Por isso mesmo, embora o uso abusivo e instrumental do direito seja sempre possível, encontramonos hoje em condições de exigir, na prática, que pretensões desse tipo não mais possam encontrar guarida sob o Direito, reforçando a postura interna do cidadão que assume os seus direitos como condição de possibilidade da própria comunidade de princípios fundada no igual respeito e consideração devido a todos os seus membros. O problema central da chamada teoria externa é conceber os direitos como a princípio ilimitados, carecedores de atos externos legislativos ou judiciais para lhes emprestar limites, de forma constitutiva. Ora, mesmo no silêncio do texto ,qualquer direito, inclusive os clássicos direitos individuais, só pode ser compreendido adequadamente como parte de um ordenamento complexo. Toda nossa experiência histórica acumulada, o aprendizado duramente vivido desde o alvorecer da Modernidade não mais nos permite reforçar a crença ingênua, por exemplo, de que os direitos “de primeira geração”, originalmente afirmados no marco do paradigma constitucional liberal como egoísmos anteriores à vida social, ainda possam ser validamente compreendidos como simples limites à ação, enfocados da pura perspectiva externa do observador. Essa mesma vivência geracional permite que, no pano de fundo de compreensão que compartilhamos, encontre se disponível para nós a condição de vermos a possibilidade de que pretensões abusivas em relação a direitos genérica e abstratamente prefigurados em lei tendam a ser levantadas nos casos concretos, na vida cotidiana, precisamente na tentativa de, a partir da perspectiva de um observador externo que apenas deseja obter vantagens a qualquer custo, acobertar ações que, se, a primeira vista poderiam passar como o simples exercício de um direito, na verdade, já seriam condenáveis e não admissíveis pelo próprio Direito quando considerado em seu todo, em sua integridade. Pregar, por exemplo, a eliminação ou mesmo a discriminação de pessoas simplesmente por serem portadoras de determinadas características supostamente 2010 ABRIL | JUSTIÇA & CIDADANIA 27 raciais não é exercício do direito de liberdade de expressão, é preconceito que, em nosso ordenamento é crime, e mais, crime imprescritível. Exigir que a secretária executiva cumpra o dever legal de fidelidade ao seu chefe não a exime de (e muito menos a obriga a) ser cúmplice de um desfalque, de um peculato ou mesmo de um assassinato. É que, na modernidade, a edição de normas gerais, hoje sabemos bem, não elimina o problema do Direito, tal como ansiado nos dois paradigmas anteriores e neles vivencialmente negado, mas, pelo contrário, o inaugura. O problema do Direito moderno, agora claramente visível graças à vivência acumulada, é exatamente o enfrentamento consistente do desafio de se aplicar adequadamente normas gerais e abstratas a situações de vida sempre individualizadas e concretas, à denominada situação de aplicação, sempre única e irrepetível por definição. O Direito moderno, enquanto conjunto de normas gerais e abstratas, torna a sociedade mais e não menos complexa. Complexidade que envolve uma faceta que não mais pode se confundir com o exercício legítimo de direitos, a das pretensões abusivas que a mera edição em texto do direito na forma de norma geral e abstrata incentiva. E isso porque ela (a norma) pode e tende a ser enfocada também da perspectiva de um mero observador interessado em sempre levar vantagem, o que vem ressaltar um aspecto central que hoje reveste os direitos fundamentais enquanto princípios constitucionais fundantes de uma comunidade de pessoas que se reconhecem como reciprocamente merecedores de igual respeito e consideração em todas as situações de vida concreta em que se encontrem e que Konrad Hesse denominou a “força irradiadora dos princípios”. Assim é que é precisamente a visibilidade dessa força irradiadora dos princípios que nos habilita a lidar de forma consistente com as pretensões abusivas enquanto tais, não mais as confundindo com o regular exercício de direitos. Não somente não é suficiente tomarmos os direitos como meros limites, mas tornase clara agora a exigência dworkiana de que sempre sejam levados a sério, ou seja, de que sempre sejam considerados como condição de possibilidade da liberdade. Esse conteúdo moral do Direito só pode ter curso quando assumido da perspectiva interna do participante, do cidadão. Muito embora, é claro, o conteúdo moral do Direito não o transforme em moral, pois continua a operar como Direito (visando regular o comportamento externo das pessoas e não as suas crenças internas), deve ser levado a sério no terreno dos discursos de aplicação pois permite tratar de forma consistente as pretensões abusivas, buscando coibir e não incentivar o uso estratégico do Direito, que se mostra agora claramente como um uso contrário ao próprio Direito, como um abuso, um atentado contra a mesma comunidade de princípios que Direito institui, viabiliza e pela integridade da qual deve zelar. A tensão entre público e privado perpassa qualquer direito, seja individual, coletivo ou difuso. Isso compõe o pano de fundo do estágio histórico da nossa compreensão dos direitos, e se torna indisponível quando da atribuição de sentido a um direito como o de propriedade. Independente de menção expressa na 28 JUSTIÇA & CIDADANIA | ABRIL 2010 Constituição, todo direito individual deve cumprir uma função social, e isso integra internamente seu próprio sentido para que possa ser plausível. Essa leitura principiológica e sistêmica exigida pela chamada teoria interna exerce força explicativa mesmo para Mendes que, embora advogue a concepção externa de restrições, não raro afirma interpretações que levam em conta os requisitos de uma hermenêutica atenta ao sentido imanente dos princípios num paradigma constitucional democrático, para além das previsões textuais. É o que se verifica em sua leitura do inciso LXVI do art. 5° da Constituição1: No que se refere à liberdade provisória, também optou o constituinte, aparentemente, por conferir amplo poder discricionário ao legislador, autorizando que este defina os casos em que seria aplicável o instituto. É quase certo que a expressão literal aqui é má conselheira e que todo o modelo de proteção à liberdade instituído pela Constituição recomende uma leitura invertida, segundo a qual haverá de ser admitida a liberdade provisória, com ou sem fiança, salvo em casos excepcionais, especialmente definidos pelo legislador. (MENDES, 2004, p. 3435) Ora, qual o caráter externo da limitação da restrição da liberdade provisória, senão o próprio sentido (interno) dessa garantia no contexto constitucional democrático, como densificação dos princípios da liberdade e da igualdade? Naturalmente não nos referimos a esse caráter interno como algo ontológico, transcendente, metasocial ou metalinguístico, visto que a natureza dinâmica de qualquer semântica, especialmente das normas, se tornou patente após a virada linguístico pragmática empreendida pela Filosofia em meados do século XX, cujos efeitos se espraiam por todos os campos do saber. É claro que essa atribuição de sentido às normas é externa a elas, no sentido de que só os intérpretes podem lhes atribuir. Mas isso não faz com que o sentido constitucionalmente adequado seja, em face de todo o ordenamento, externo. Quanto aos direitos fundamentais sem expressa previsão de reserva legal, afirma Mendes (2004, p. 40) que “também nesses direitos vislumbrase o perigo de conflitos em razão de abusos perpetrados por eventuais titulares de direitos fundamentais.” Mas, estando o legislador a princípio impedido de “limitar” tais direitos, de forma a coibir abusos, as “colisões de direitos” ou “entre valores” poderiam ser impedidas mediante o excepcional apelo “à unidade da Constituição e à sua ordem de valores”, segundo interpretação da Corte Constitucional alemã. (MENDES, 2004, p. 40) Se, por outro lado, adotarmos a concepção segundo a qual nenhum direito constitucional é a princípio “ilimitado”, em face da própria Constituição, a tarefa interpretativa a ser adotada por qualquer aplicador, do legislador ao administrador, passando pelo juiz, implicará necessariamente em atribuições de sentido conformadoras do conteúdo normativo, sem que isso implique, entretanto, em redução do “âmbito de proteção”. O direito, entendido em sua integridade, não pode se voltar contra o próprio direito. Por isso a figura da colisão não retrata de maneira plausível a tensão imanente ao ordenamento jurídico. Além disso, é de se lembrar que abusos de pretensões a direitos existirão independentemente de regulação legislativa, não podendo jamais ser definitivamente coibidos em abstrato. Aliás, é precisamente a regulação legislativa abstrata que por si só há que ser vista como incentivadora de abusos. Apenas num discurso de aplicação que leve a sério as especificidades de cada caso concreto as ilegítimas pretensões a direitos, calcadas inclusive em previsões legais literais, poderão ser desveladas como abusos, como não direito. Mais uma vez a distinção entre discursos de justificação e discursos de aplicação é central para que possamos compreender adequadamente o próprio sentido (e os “limites”) de qualquer direito. Normas gerais e abstratas não são capazes, por si só, de coibir a chamada fraudem legis, como já percebia Ferrara: Com efeito, o mecanismo da fraude consiste na observância formal do ditame da lei, e na violação substancial do seu espírito: tanturn sententiam offendit et verba reservat. O fraudante, pela combinação de meios indirectos, procura atingir o mesmo resultado ou pelo menos um resultado equivalente ao proibido; todavia, como a lei deve entenderse não segundo o seu teor literal, mas no seu conteúdo espiritual, porque a disposição quer realizar um fim e não a forma em que ele pode manifestarse, já se vê que, racionalmente interpretada, a proibição deve negar eficácia também àqueles outros meios que em outra forma tendem a conseguir aquele efeito. (FERRARA, 1963, p. 151) III. Pluralismo moral Isaiah Berlin, um dos principais pensadores liberais do século XX, defende uma concepção de princípios (enquanto “valores morais”) onde se verifica uma permanente e irreconciliável incompatibilidade, o que forçaria a sociedade a lidar, necessariamente, com o sacrifício de princípios: Claro é que os valores podem colidir. Valores podem facilmente colidir no âmago de um único indivíduo. E disso não se segue que alguns devam ser verdadeiros e outros falsos. Tanto a liberdade quanto a igualdade estão entre os principais objetivos perseguidos pelos seres humanos através dos séculos. Mas a liberdade total para os lobos é a morte para os cordeiros. Essas colisões de valores estão em sua essência, e na essência do que somos. (...) Alguns dentre os maiores bens não podem conviver. Essa é uma verdade conceitual. Estamos condenados a escolher, e cada escolha pode trazer uma perda irreparável.2 (BERLIN, apud DWORKIN, 2006, p. 106) Contra Berlin, Dworkin busca defender o tipo de “ideal holístico”, de “perfect whole” condenado por aquele com sendo sintoma de uma “perigosa imaturidade moral e política”. Berlin (2002, p. 175) fala de uma “tendência natural” da maioria dos pensadores a acreditar que tudo aquilo que eles consideram bom deve estar conectado ou ser compatível, sendo que a história pode nos brindar com diversos exemplos da união artificial de valores, especialmente no fomento de uma união A crença em que a simples literalidade do texto constitucional dispensaria intérpretes e que seria algo capaz de, por si só, determinar o sucesso ou fracasso da vida institucional de um povo é por demais simplória. política contra inimigos em comum. Quanto à dimensão do “perigo”, adverte Dworkin: Assim como tiranos buscaram justificar terríveis crimes apelando à ideia de que todos os valores morais e políticos se juntam em alguma visão harmônica de grande importância transcendente, de tal sorte que a seu serviço o assassinato seja justificado, também outros crimes morais foram justificados com apelo à ideia oposta, de que valores políticos importantes necessariamente entram em conflito, que nenhuma escolha entre eles pode ser defendida como a única correta, e que, portanto, são inevitáveis sacrifícios de coisas que consideramos de grande importância.3 (DWORKIN, 2006b, p. 106) Para Dworkin a ideia de conflito de valores tem servido no discurso político e no senso comum como justificativa para a manutenção de desigualdades sociais, já que qualquer medida igualitária (por exemplo, de redistribuição ou realocação de recursos por meio de tributos) implicaria, segundo essa visão, numa “invasão” na esfera da liberdade. Além disso, o “pluralismo de valores” pode ter efeito legitimador sobre práticas de desrespeito aos direitos humanos no plano internacional, sob o argumento de que cada sociedade escolhe os valores que busca priorizar, e que qualquer interferência quanto a isso seria um ato de imperialismo. (DWORKIN, 2006b, p. 106) Mas os argumentos de Isaiah Berlin, reconhece Dworkin, são mais complexos e persuasivos que os lugarescomuns antropológicos tão difundidos atualmente no “pósmodernismo”, que repetem o chavão de que cada sociedade se organiza em torno de valores diferentes, o que costuma se somar ao argumento cético sobre a implausibilidade de se afirmarem valores como “objetivos”. Para Berlin há valores que se possa considerar como “objetivos”, mas tais “true values” entram em conflito de forma insolúvel, conflitos esses não apenas entre as divergentes percepções ou opiniões subjetivas sobre o sentido 2010 ABRIL | JUSTIÇA & CIDADANIA 29 dos valores, mas intrinsecamente entre os valores mesmos. Cada coisa é o que é: liberdade é liberdade, e não igualdade, ou equidade, ou justiça ou cultura, ou felicidade humana ou uma consciência tranquila. Se a minha liberdade, ou de minha classe ou nação, depende da miséria de vários outros seres humanos, o sistema que a promove é injusto e imoral. Mas se eu reduzo ou perco a minha liberdade de modo a minimizar a vergonha de tal desigualdade, e com isso não aumento materialmente a liberdade individual de outros, uma perda absoluta de liberdade ocorre. Isso pode ser compensado por um ganho em justiça, em felicidade ou em paz, mas a perda remanesce, e é uma confusão de valores dizer que apesar de a minha liberdade individual “liberal” ser sacrificada, algum outro tipo de liberdade — “social” ou “econômica” — é incrementado. Entretanto, é verdade que a liberdade de alguns deve às vezes ser restringida para assegurar a liberdade de outros. Com base em que princípio isso deve ser feito? Se a liberdade é um valor sagrado, intocável, não pode haver tal princípio. Um ou outro desses princípios ou regras em conflito deve, em qualquer grau na prática, ceder: nem sempre por razões que possam ser claramente enunciadas, quanto mais generalizadas em regras ou máximas universais. Ainda assim, um compromisso prático deve ser encontrado”.4 (BERLIN, 2002, p. 172173) Para Berlin, portanto, os conflitos não são apenas contingentes, pois são consequência da própria estrutura ou conceito dos valores, de tal sorte que o ideal de harmonia não é apenas inatingível, é incoerente, já que fazer valer um valor implicaria necessariamente no compromisso ou abandono de outro (DWORKIN, 2006b, p. 108). E se estamos tratando de valores essenciais, como igualdade e liberdade, qualquer decisão política implicaria não apenas em desapontar algumas expectativas em proveito de outras, mas na violação de direitos de pessoas, sendo inevitável, na visão de Berlin, que uma comunidade política falhará, irremediavelmente, em suas responsabilidades, de uma forma ou de outra (DWORKIN, 2006b, p. 109). Seu argumento não é o da incerteza, ou seja, de que muitas vezes não sabemos qual a decisão correta a se tomar, mas o de que muitas vezes sabemos que nenhuma decisão é correta. (DWORKIN, 2006b, p. 110) IV. Conflito de pretensões e abuso de direito Vera Karam de Chueiri, referindose como exemplo a dois princípios expressamente albergados pela Constituição brasileira, compartilha também a noção de incompatibilidade entre princípios contrários, o que levaria necessariamente a disputa para além da arena jurídica e à impossibilidade de se chegar a uma decisão juridicamente correta: A correção da resposta correta de Hércules pode também se revelar problemática pelo fato de que a coerência ou integridade requerida do sistema jurídico comumente não pode ser alcançada por meio do modelo interpretativo pensado por Dworkin. É possível que, em 30 JUSTIÇA & CIDADANIA | ABRIL 2010 face de princípios que não sejam coerentes entre si, por exemplo, entre o princípio da propriedade privada e o princípio da função social da propriedade, Hércules não conseguisse construir uma resposta coerente, pondo em risco a ideia de certeza do direito e o requisito de aplicação legítima do direito (nos termos postos por Dworkin), já que ele teria que buscar uma resposta fora do sistema jurídico, nas lutas travadas na arena política.5 (CHUEIRI, 2005, p. 216) Assim como Berlin, e com base na teoria agonística6 de Chantal Mouffe, Chueiri parece desconsiderar a diferença qualitativa existente entre os conflitos de valores políticos e a tensão entre normas própria dos princípios jurídicos e morais. Por certo se levarmos em consideração os interesses em jogo em disputas como a do exemplo apresentado pela autora — entre latifundiários e trabalhadores semterra —, dificilmente poderemos encontrar compatibilidade entre eles, já que claramente se antagonizam. Essa é uma das principais diferenças entre o Direito e a Moral: o direito não pode exigir que se adote a perspectiva interna e cooperativa das normas, possibilitando sempre que as atitudes sejam guiadas pragmaticamente por interesses, embora mantenha como requisito de legitimidade a possibilidade de sua obediência por simples respeito às normas, mas não mais que a possibilidade. Fica claro mais uma vez o problema de se considerar normas jurídicas como equivalentes a interesses ou valores. Semelhante é a leitura de Gilmar Mendes, referindose à jurisprudência da Corte Constitucional alemã, quanto a relação entre direitos e interesses em se tratando de conflitos como esse: Como acentuado pelo Bundesverfassungsgericht, a faculdade confiada ao legislador de regular o direito de propriedade obrigao a “compatibilizar o espaço de liberdade do indivíduo no âmbito da ordem de propriedade com o interesse da comunidade”. Essa necessidade de ponderação entre o interesse individual e o interesse da comunidade é, todavia, comum a todos os direitos fundamentais, não sendo uma especificidade do direito de propriedade. (MENDES, 2004, p. 20) É próprio da esfera normativa deontológica, especialmente no caso do direito, o requisito de se lidar com normas em permanente tensão sem que isso implique em contradição. Não se trata, aqui, de uma questão puramente semântica: valores e normas acarretam tarefas interpretativas diversas, exigindo das instituições sociais tratamento diverso. Conflitos de valores e interesses requerem mediações e soluções institucionais que devem levar necessariamente em consideração argumentos de política, por meio de discursos pragmáticos e éticopolíticos (como, por exemplo, em políticas públicas de reforma agrária levadas a efeito pela administração). Já a exegese a ser dada aos princípios da propriedade privada e da função social da propriedade, em discursos de aplicação próprios da atividade judicial, não equivale a um juízo de preferência sobre interesses conflitantes, mas na busca do sentido que, diante das especificidades do caso concreto e da complexidade normativa envolvida, ofereça uma resposta coerente com o ordenamento. No caso, verificase que desde o esgotamento do paradigma constitucional liberal os direitos privados, como o da propriedade, não implicam em pleno direito ao egoísmo, como se os interesses, ou melhor, os direitos individuais, coletivos e difusos de todos os demais membros da coletividade não impusessem condições para seu exercício legítimo. Dessa forma, devemos interpretar ambos os princípios sempre em cotejo um com o outro, de tal sorte que, de um lado, o direito individual de propriedade não possa ser validamente compreendido de forma a inviabilizar sua função social — daí a previsão constitucional de taxação progressiva de propriedades improdutivas7, por exemplo —, e, de outro, o direito da coletividade de atribuir funções socialmente relevantes aos bens apropriáveis não possa desconsiderar a propriedade particular — não é outro o sentido, por exemplo, da exigência constitucional de indenização em caso de desapropriação8. Mais uma vez a diferença entre argumentos de princípio e argumentos de política revelase fundamental para a compreensão do papel e dos limites da atividade governamental diante do interesse dos cidadãos: A maioria dos atos legítimos de qualquer governo envolve a negociação de interesses de diferentes pessoas; tais atos beneficiam alguns cidadãos e desfavorecem outros para que se incremente o bemestar da comunidade como um todo. (...) Mas certos interesses de pessoas em particular são tão importantes que seria errado — moralmente errado — que a comunidade os sacrificasse apenas para assegurar um benefício generalizado. Direitos políticos demarcam e protegem esses interesses particularmente importantes. Um direito político, podemos dizer, é um trunfo sobre o tipo de argumento de negociação que normalmente justifica a ação política.9 (DWORKIN, 2006a, p. 31) A fundamentação de uma decisão vazada em termos de conflitos de direitos, reduzidos a meros valores, ou seja, não expressa em termos de pretensões controversas em relação a direitos que seriam indisponíveis, embora enquanto descrição inadequada possa conduzir a decisões que anulem direitos em favor de preferências pessoais do julgador, não impede, por si só, que a decisão tomada seja a decisão correta. A decisão do Habeas Corpus 82425/RS (BRASIL 2003), conhecido como “Caso Ellwanger”, ilustra bem essas hipóteses. A discussão girou em torno da aplicação de princípios e, na tradição do STF, buscouse realizar uma argumentação baseada na “ponderação” ou “balanceamento” de valores, tanto por parte da maioria (especialmente no voto do Ministro Gilmar Mendes) quanto da minoria (em especial o Ministro Marco Aurélio). Estabelecendo os argumentos que prevaleceriam na decisão final, o Ministro Gilmar Mendes, em seu voto, buscou se basear no princípio da proporcionalidade para a construção de sua fundamentação. Analisando complexa e sistemicamente o ordenamento jurídico, com especial atenção aos instrumentos internacionais subscritos pelo Brasil, conclui o Ministro pela inviabilidade de se atribuir interpretação outra à Constituição: Assim não vejo como se atribuir ao texto constitucional significado diverso, isto é, que o conceito jurídico de racismo não se divorcia do conceito histórico, sociológico e cultural assente em referências supostamente raciais, aqui incluído o antisemitismo. (BRASIL, 2003) Mas o Ministro identifica como um problema de conflito entre direitos as pretensões controversas das partes, na medida em que “a discriminação racial levada a efeito pelo exercício da liberdade de expressão compromete um dos pilares do sistema democrático, a própria ideia de igualdade” (BRASIL, 2003), e menciona decisão da Corte Europeia de Direitos Humanos onde, com a aplicação do princípio da proporcionalidade, se confrontou a liberdade de expressão com a proibição de abuso de direito, tendo prevalecido, no caso, a liberdade de expressão. Cabe o questionamento sobre a adequação dessa descrição do problema. Tratase de um conflito entre direitos, ou de um conflito entre pretensões e interesses? O exercício legítimo de um direito, como o da liberdade de expressão, pode configurar, ao mesmo tempo, uma violação de direitos, uma ilegalidade? Nesse sentido é a crítica de Marcelo Cattoni: Afinal, ou nós estamos diante de uma conduta ilícita, abusiva, criminosa, ou, então, do exercício regular, e não abusivo, de um direito. (...) Como é que uma conduta pode ser considerada, ao mesmo tempo, como lícita (o exercício de um direito à liberdade de expressão) e como ilícita (crime de racismo, que viola a dignidade humana), sem quebrar o caráter deontológico, normativo, do Direito? Como se houvesse uma conduta meio lícita, meio ilícita? (CATTONI DE OLIVEIRA, 2006, p. 7) Apesar da terminologia utilizada pelo Ministro em sua fundamentação, entendemos que seus argumentos se mostram sólidos da perspectiva da justiça como correção normativa. A própria leitura do sentido a ser atribuído como constitucionalmente válido à liberdade de expressão é coerente com as exigências do ordenamento jurídico em sua integridade: Não se contesta, por certo, a proteção conferida pelo constituinte à liberdade de expressão. Não se pode negar, outrossim, o seu significado inexcedível para o sistema democrático. Todavia, é inegável que essa liberdade não alcança a intolerância racial e o estímulo à violência, tal como afirmado no acórdão condenatório. (BRASIL, 2003) A mesma postura se percebe na passagem de Martin Kriele transcrita no voto, ao evidenciar a conexão interna entre direitos fundamentais e democracia: O uso da liberdade que prejudica e finalmente destrói a liberdade de outros não está protegido pelo direito fundamental. Se faz parte dos fins de um direito assegurar as condições para uma democracia, então o uso dessa liberdade que elimina tais condições não está protegido pelo direito fundamental. (KRIELE, 1980, p. 474, apud BRASIL, 2003) V. Conclusão A revisita à nossa história institucional recente nos autoriza, assim, a afirmar a potencialidade democrática presente no 2010 ABRIL | JUSTIÇA & CIDADANIA 31 Aspecto que fortalece decisivamente as possibilidades de consolidação de uma democracia, ainda que “inesperada,” para usar o termo de Bernardo Sorj (2004), ao fornecer plausibilidade à exigência do igual respeito e consideração devidos a todos os membros da comunidade jurídicopolítica inaugurada em 5 de outubro 1988 e ressignificada recorrentemente consoante o disposto no § 2º do seu art 5º. Foto: Arquivo Pessoal incremento dos fragmentos de racionalidade que têm informado decisões, também no âmbito do Judiciário. Pois, apesar da descrição expressa em suas fundamentações, essas decisões revelamse como as únicas corretas no sentido dworkiano, ou seja, são capazes de impedir o abuso e de coibir a tendência ao uso abusivo e meramente instrumental do Direito, fazendo dos direitos fundamentais condicionantes das políticas públicas. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BERLIN, Isaiah. “Liberty : incorporating four essays on liberty”. Oxford, Oxford University Press, 2002. BRASIL. HC 82424/RS. Habeas Corpus. Publicação de livros: antisemitismo. Crime imprescritível. Conceituação. Abrangência constitucional. Limites. Ordem denegada. Relator orig.: Min. Moreira Alves. Relator para o acórdão: Min. Maurício Corrêa. www.stf.gov.br, Supremo Tribunal Federal, 2003. CHUEIRI, Vera Karam de. “Before the law: philosophy and literature (the experience of that which one cannot experience)”. Graduate Faculty of Political and Social Science. New York, New School University. Ph.D.: 262, 2004 DWORKIN, Ronald. “The concept of unenumerated rights”. University of Chicago Law Review 59, 1992. DWORKIN, Ronald. “Is democracy possible here? principles for a new political debate”. Princeton, N.J., Princeton University Press, 2006a. DWORKIN, Ronald. “Moral pluralism”. In Justice in Robes. Ronald DWORKIN. Cambridge, Mass., Belknap Press, 2006b. FERRARA, Francesco. “Interpretação e aplicação das leis”. 2. Ed. Trad. Manuel A. D. de Andrade. Coimbra, Arménio Amado Editor, 1963. KRIELE, Martin. “Introducción a la teoría del Estado”. Buenos Aires: De Palma, 1980, p.475, apud BRASIL, 2003. MENDES, Gilmar Ferreira. “Direitos fundamentais e controle de constitucionalidade: estudos de direito constitucional”. 3. São Paulo, Saraiva, 2004. MOUFFE, Chantal. “Deliberative democracy or agonistic pluralism?”. Social Research 66, 1999. SORJ, Bernardo. “A democracia inesperada: cidadania, direitos humanos e desigualdade social”. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2004. “cARTAS A UM JoVEM JUIZ” UM VERDADEIRO CATECISMO PARA OS MAGISTRADOS Vasco Della Giustina Ministro do STJ NOTAS “Ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir liberdade provisória, com ou sem fiança;” BRASIL (1988). Constituição da República Federativa do Brasil 2 What is clear is that values can clash. Values may easily clash within the breast of a single individual. And it does not follow that some must be true and other false. Both liberty and equality are among the primary goals pursued by human beings through many centuries. But total liberty for the wolves is death to the lambs. These collisions of value are the essence of what they are and what we are. (...) Some among the great goods cannot live together. That is a conceptual truth. We are doomed to choose, and every choice may entail an irreparable loss. (Tradução livre) 3 Just as tyrants have tried to justify great crimes by appealing to the idea that all moral and political values come together in some harmonious vision so transcendently important that murder is justified in its service, so other moral crimes have been justified by appeal to the opposite idea, that important political values necessarily conflict, that no choice among these can be defended as the only right choice, and that sacrifices in some of the things we care about are therefore inevitable. (Tradução livre) 4 Everything is what it is: liberty is liberty, not equality or fairness or justice or culture, or human happiness or a quiet conscience. If the liberty of myself or my class or nation depends on the misery of a number of other human beings, the system which promotes this is unjust and immoral. But if I curtail or lose my freedom in order to lessen the shame of such inequality, and do not thereby materially increase the individual liberty of others, an absolute loss of liberty occurs. This may be compensated for by a gain in justice or in happiness or in peace, but the loss remains, and it is a confusion of values to say that although my ‘liberal’, individual freedom may go by the board, some other kind of freedom – ‘social’ or ‘economic’ – is increased. Yet it remains true that the freedom of some must at times be curtailed to secure the freedom of others. Upon what principle should this be done? If freedom is a sacred, untouchable value, there can be no such principle. One or other of these conflicting rules or principles must, at any rate in practice, yield: not always for reasons which can be clearly stated, let alone generalized into rules or universal maxims. Still, a practical compromise has to be found. 5 The rightness of Hercules’ right answer can also be problematic by the fact that the required coherence or integrity of the system of law is not often achieved by means of the interpretive model thought by Dworkin. It is possible that in face of principles that are not coherent among themselves, for instance, between the principle of private property and the principle of property’s social function, Hercules could fail in constructing a coherent answer jeopardizing the idea of legal certainty and the claim to a legitimate application of law (in the terms put by Dworkin), as far as he would have to look for an answer outside the legal system, in the struggles that take place in the political arena. 6 “Uma abordagem que revele a impossibilidade de se estabelecer um consenso sem exclusão é de fundamental importância para a política democrática. Ao nos alertar contra a ilusão de que uma democracia plenamente realizada pudesse ser materializada, ela nos força a manter viva a contestação democrática. Uma abordagem democrática ‘agonística’ é capaz de perceber a verdadeira natureza de suas fronteiras e reconhece as formas de exclusão que elas incorpo ram, ao invés de tentar disfarçálas sob o véu de racionalidade ou moralidade”. MOUFFE (1999, p. 757), grifamos. An aproach that reveals the impossibility of establishing a consensus without exclusion is of fundamental importance for democratic politics. By warning us against the illusion that a fully achieved democracy could ever be instantiated, it forces us to keep the democratic contestation alive. An ‘agonistic’ democratic approach acknowledges the real nature of its frontiers and recognizes the forms of exclusion that they embody, instead of trying to disguise them under the veil of rationality or morality. 7 Art. 153, §4°, I da Constituição da República. 8 Art 5°, XXIV da Constituição da República. 9 Most legitimate acts of any government involve tradeoffs of different people’s interests; these acts benefit some citizens and disadvantage others in order to improve the community’s wellbeing as a whole. (…) But certain interests of particular people are so important that it would be wrong – morally wrong – for the community to sacrifice those interests just to secure an overall benefit. Political rights mark off and protect these particularly important interests. A political right, we may say, is a trump over the kind of tradeoff argument that normally justifies political action. 1 Foto: Luiz Antonio/STJ 32 JUSTIÇA & CIDADANIA | ABRIL 2010 S e há um livro que deveria ser lido e meditado por todos os juízes, não só pelos jovens e pelos que iniciam a carreira como também pelos veteranos na arte de julgar e, por que não, por todos os lidadores do Direito, é a obra do eminente jurista, Ministro Cesar Asfor Rocha, intitulada “Cartas a um jovem juiz”. É um livro cativante, de estilo leve, com temas ora singelos, ora de alta indagação, expostos de forma simples e clara, cuja leitura, uma vez iniciada, nos arrasta sedutoramente até o fim. Diria mesmo, pela experiência que tenho, após longa vivência no Ministério Publico e no Judiciário, que ele poderia ser inti tulado como “O catecismo de todo juiz”, pelos preceitos que contém, pelas reflexões sobre nossas instituições, pela análise das situações com que um magistrado habitualmente se depara, pelas matérias estritamente jurídicas que palmilham a vida de um juiz e pelos conselhos e admoestações que encerra. Está na linha de obras congêneres, como as de Piero Calamandrei, Edgar Moura Bittencourt, Sidnei Beneti e Mário Guimarães. Permitome assinalar alguns tópicos de seu rico conteúdo. Após breve quadro na distribuição das carreiras da Magistratura, seu autor adentra em matéria específica, apontando que “...a perfeita compreensão da função de julgar deve passar, incontornavelmente, pela compreensão da complexidade da vida humana e social e das relações vitais que se armam e se expandem nesse ambiente, os quais não se esgotam nos silogismos legais”. 2010 ABRIL | JUSTIÇA & CIDADANIA 33 Se, entretanto, não aceitamos as limitações de nossas ações pelo formato do sistema jurídico, teremos de, a cada dia, inventar de novo a roda e descartar as elaborações judiciosas de nossos antepassados”. E, assim, depois de acentuar o viés positivista a que estão jungidos os magistrados, sustenta que a “vocação da moderna Ciência do Direito para a proteção da pessoa humana leva inevitavelmente à superação da velha hermenêutica do sistema de leis escritas: ultrapassa o dogma da legalidade e o substitui pelo conceito multiabrangente de juridicidade, afasta a insindicabilidade do mérito dos atos administrativos, em favor da preponderância dos interesses primários da sociedade, inscritos na cultura do povo e na Constituição, e relativiza a força dos comandos legais em prol da interpretação confore. a justiça e a equidade.” Nessa linha, observa que a “função inclusiva da jurisdição se apresenta concretamente na possibilidade de modificação dos roteiros do ordenamento jurídico, para absorver a potestade de influir em certas decisões governamentais”. No capítulo da interpretação das normas, preleciona o mestre que “as leis sempre precisam ser compreendidas no contexto humano a que se destinam, pois foram elaboradas para produzir felicidade e não injustiça, para promover o bem comum e não a frustração coletiva. Essa compreensão, porém, exige que os julgadores tenham a perfeita consciência de seu papel transformador e de sua capacidade de realizar o ideal de justiça, mesmo dentro do quadro normativo posto ou 34 JUSTIÇA & CIDADANIA | ABRIL 2010 positivado, sem violar a segurança que o Direito promete, mas insinuando para dentro dele as categorias transcendentais dos valores, sobretudo o da equidade, que os romanos consideravam a síntese da justiça”. Ao enfocar os anseios da sociedade, escreve que ela guarda dos juízes “grandes e esperançosas expectativas”, representando “a confiança nas instituições judiciárias e no meio pacífico e civilizado de solucionar dissídios”. E se questiona: “O juiz está realmente apto a apreender essas aspirações sociais e tem a sensibilidade necessária para interpretálas com fidedignidade? Conquanto não faça praça dos postulados positivistas, tenho de reconhecer que neles se alojam valores — palavrinha que os juspositivistas não ouvem com agrado — capazes de proteger a integridade das pessoas e de seus patrimônios e que essas salvaguardas, por serem construções normatizadas, devem se impor à observância dos julgadores, ainda que não mereçam sua adesão ideológica. Posso até entender — mas não aceitar ou justificar — que o julgador queira ser o superior censor da norma e esteja tão imbuído de seu mister justiceiro que se aventure pessoalmente em atitudes que a lei não autoriza. Se, entretanto, não aceitamos as limitações de nossas ações pelo formato do sistema jurídico, teremos de, a cada dia, inventar de novo a roda e descartar as elaborações judiciosas de nossos antepassados”. E arremata: “Não creio que cometa algum exagero quem diz que o Direito moderno está sendo buscado de forma crescente além dos textos normativos — e não apenas em razão do surgimento dos princípios e de sua força impositiva, mas igualmente por causa da ideia cada vez mais nítida de que a exiguidade das normas não abarca a complexidade do Direito. Isso representa um desafio aos saberes dos juízes ou aos saberes que ultrapassam o conhecimento dos textos legais, embora estes continuem sendo relevantes, sem dúvida alguma”. Sobre a importância do processo, anota o festejado doutrinador que ele “é a história individual de uma pessoa, sua vida, projetos, sonhos e esperança de conforto e êxito: por isso, dizse que cada processo é uma pessoa e encerra nele os problemas de uma existência, hospeda uma vida... amiúde uma demanda judicial representa o sucesso ou o fracasso de uma vida inteira de trabalho...”. Para tanto, aconselha que a “única forma de realizar objetivos humanos no domínio da jurisdição é vestirse o juiz da pele da humanidade, jamais imaginando que, sem essa condição, será capaz de entender tudo o que o processo esconde”. Um dos problemas mais atuais e palpitantes que o juiz moderno enfrenta é sua relação com a imprensa. Segundo o autor, a vinculação entre ambos é grande, podendo, em determinado momento, ser ela o esteio para assegurar a independência do Judiciário e este ser o ponto de sustentação para o exercício da liberdade de imprensa. Reconhece, outrossim, que a imprensa tem o direito e o dever de informar, “pois há subjacente o direito do cidadão de ser informado, reconhecido como direito da cidadania”. E conclui que quanto mais o Judiciário for conhecido, mais será compreendido e menos criticado. No tocante ao relacionamento com os colegas, lembra ele que “a nota essencial há de ser a cordialidade no trato, o respeito às divergências de percepção jurídica e a lealdade”. E aduz: “todos nós teremos a ganhar se os magistrados desenvolverem formas de convivência harmônica entre si, fazendo circular as informações de interesse da classe, confrontando ideias e soluções jurídicas para as questões que estão examinando”. Ao analisar a tão decantada independência do juiz nos julgamentos, voltase o autor, especialmente, para as decisões de massa: “...questões desse tipo exigem mudança de paradigma no que se refere à liberdade de julgar que o juiz detém, ou seja, à liberdade que ele deve ter para julgar cada questão, respeitando apenas seu convencimento. Isso chega mesmo a abalar aquele antigo dogma segundo o qual cada caso é um caso. Nesse contexto, pareceria caprichoso que o juiz decidisse uma lide de pulsos telefônicos em afronta às decisões reiteradas das cortes superiores, ao abrigo de uma percepção jurídica sobremodo singular e mesmo subjetiva”. Assim, as questões de massa “devem ter decisão de massa e a tese jurídica nelas debatida deve logo ser dirimida pelo tribunal competente para tanto, fixando diretriz ou orientação às instâncias inferiores com o propósito benéfico de inibir novas ações — dependendo do caso, temerárias —, que só congestionam o Judiciário”. E prossegue o culto Ministro: “ou esse novo padrão se impõe, ou o Judiciário não conseguirá atender às demandas, que se multiplicam... A aceitação dessa nova realidade libera o julgador de esforços desnecessários, permitindo que concentre sua força criativa e sua capacidade de trabalho naqueles feitos, em que, de fato, cada caso é um caso. Isso não quer dizer que os juízes não possam ou não devam ter ampla liberdade na formação de suas convicções; também não se deve supor, porque seria contraditório e nocivo, que ignorem os precedentes formados nos tribunais, consolidadores de certos entendimentos a respeito de matérias que devem ser tidas por pacíficas. Se assim não for, está sendo disseminada a ideia de que a jurisdição é algo subjetivo, posto ao alcance da discricionariedade dos julgadores, sem que haja parâmetros ou modelos, como se cada questão fosse inédita, como se cada julgador fosse um universo fechado em si mesmo ou como se sua comunicação com outras instâncias fosse ocasional ou voluntária...” Relativamente à linguagem do juiz, entende ele que a mesma deva ser sempre respeitosa e polida, altiva e enérgica, jamais insultuosa ou agressiva, submissa ou bajuladora, mesmo porque “as decisões dos juízes são mensagens endereçadas às partes, cultas ou não, pois são elas os usuários dessas mesmas decisões”. Traça o ilustre jurista, ainda, uma linha nas relações com promotores e advogados. Quanto a estes indaga: “os advogados são os primeiros aliados do juiz ou seus principais adversários?” Lembra que já foi advogado e que este é o juiz do juiz, figura imprescindível no desenvolvimento do processo, e conclui: “O juiz tem no advogado um aliado — não um auxiliar —, um parceiro na elaboração das soluções dos casos jurídicos — não um subalterno — e deve tratálo com respeitosa igualdade. Receber o advogado no gabinete e prestar atenção às suas exposições é dever primário do juiz, não importando se é um famoso causídico ou alguém que está nos primeiros passos de sua augusta profissão.” Ao final dá os últimos conselhos aos magistrados: “Tenha o colega as virtudes da humildade e da paciência, cultiveas na intimidade de suas preocupações, aceite sem rebeldia as reformas de suas decisões e nunca atribua aos outros razões de decidir que se estribem em motivos espúrios. Não se deixe contaminar pela maledicência, essa praga perigosa e daninha que faz do murmúrio seu veículo — a ‘murmuratio’, insidiosa serpente que se arrasta em silêncio e morde suas vítimas, envenenando seu espírito”. E encerra com um merecido elogio à Magistratura: “sei que a quase totalidade de nossa Magistratura é integrada por juízas e juízes sérios, honrados, competentes e comprometidos com o propósito de bem julgar, que, em última análise, é um ato solitário, quase sempre precedido de longos momentos de reflexão, muitas vezes definidor de uma vida”. 2010 ABRIL | JUSTIÇA & CIDADANIA 35 deste trabalho, num centro de estudos de políticas sociais espanhol, para o qual o Poder Executivo é o único poder, sendo o Judiciário, Legislativo e Ministério Público, poderes vicários, acólitos, subordinados. No plano, pretendese fortalecer o Executivo, subordinar o Judiciário a organizações tuteladas por “amigos do rei”, controlar a imprensa, pisotear valores religiosos, interferir no agronegócio para eliminálo, afastar o direito de propriedade, reduzir o papel do Legislativo e aumentar as consultas populares, no estilo dos referendos e plebiscitos venezuelanos, sobre valorizar o homicídio do nascituro e a prostituição como conquistas de direitos humanos! Quem ler a Constituição venezuelana verificará a extrema semelhança entre os instrumentos de que dispõe Chávez para eliminar a oposição e aqueles que o Plano apresenta, objetivando alterar profundamente a Lei Maior brasileira. O plano possui, inclusive, “recomendações” ao Poder Judiciário sobre como devem os magistrados decidir as questões prediletas do grupo que o elaborou, à evidência, à revelia de toda a população e do Congresso Nacional, assim como instituir Comissões de Direitos Humanos no Congresso para orientar parlamentares a elaborar leis. Pela má qualidade do texto e pelo viés ideológico ditatorial, dificilmente estas propostas passarão no Legislativo e, se passarem, creio que a Suprema Corte barrará tudo aquilo que nele fere cláusulas pétreas constitucionais e os valores maiores em que a sociedade se lastreia. Não deixa, todavia, de ser preocupante que tal plano tenha sido gerado com relativa escolha prévia de organizações vinculadas à maneira de pensar de seus autores e não a toda sociedade brasileira. Disseram que consultaram durante um ano 14.000 pessoas, quando um único deputado paulista, dos setenta que São Paulo tem no Congresso Nacional, precisa pelo menos dos votos de 100.000 eleitores para ser representante do povo. Catorze mil não podem impor a 190.000.000 de brasileiros sua especial maneira de rever a democracia representativa por uma democracia delegada, em que eles mesmos se intitulam arautos da democracia e porta vozes da sociedade civil. As cláusulas pétreas que pretendem dinamitar, por serem pétreas, são imodificáveis, razão pela qual a maior parte do projeto terá que ser rejeitado para que o equilíbrio de Poderes e a segurança jurídica permaneçam no País. Por fim, um último aspecto de que trato neste breve artigo, “the last, but not the least”, é o que diz respeito ao enfraquecimento das Forças Armadas. Conheço alguns dos inspiradores do PNDH 3 que, no passado, participaram comigo de debates em televisão e movimentos cívicos. Apesar de divergir de suas ideias — divergência, de rigor, sem possibilidade de conciliação imediata —, respeitoos profundamente, pois, em toda a minha vida, sempre combati ideias e nunca pessoas. Colocarei, todavia, questão que me preocupa na pretendida reformulação do sistema constitucional sobre as forças armadas e de segurança. 36 JUSTIÇA & CIDADANIA | ABRIL 2010 Pelo sistema atual, as Forças Armadas têm, nas polícias militar e estaduais, forças auxiliares, que poderão, em momento de crise, ser por elas comandadas na manutenção da ordem. Não sem razão, o artigo 142 da Constituição Federal retrotranscrito permite, se a lei e a ordem forem tisnadas por qualquer um dos três Poderes, que as Forças Armadas sejam chamadas a restabelecêlas pelos poderes atingidos. E a Constituição é clara ao referirse à atuação para “GARANTIA DOS PODERES CONSTITUCIONAIS, E, POR INICIATIVA DE QUALQUER DELES, DA LEI E DA ORDEM”, como hipótese em que podem ser acionadas as forças militares. Pelo novo PNDH3 — apenas um plano programático, como o é o Decreto nº 7037/09, que o veiculou —, as polícias deixam de ser forças auxiliares das Forças Armadas, passando a ser forças da reserva, não diretamente a elas subordinadas, mas a um Sistema Nacional de Segurança Pública orientada pela União. Em outras palavras, criamse dois regimes diferentes, autônomos e independentes, no máximo podendo as forças policiais serem forças de reserva das Forças Armadas, em caso de conflito externo. Deixam de ser forças auxiliares e sua direção ficará a cargo de um sistema centralizado, o que fere a autonomia federativa dos Estados, ao subordinálos a um controle superior da União. Teríamos, pois, de rigor — a não ser que os projetos de emenda constitucional a serem enviados apresentem outro modelo —, dois sistemas armados distintos, ficando as forças armadas reduzidas ao combate de eventual inimigo externo, pois, nas crises internas, o Sistema Nacional de Segurança Pública — aliás, com um contingente de pessoas muito maior que o das Forças Armadas — terminará por agir, sob a direção da União. Calculase hoje que as forças policiais estaduais ultrapassem em 3 vezes os efetivos das Forças Armadas. Não creio seja a melhor solução o enfraquecimento das Forças Armadas. A centralização fere, a meu ver, o pacto federativo das polícias estaduais, e a eliminação do papel de forças auxiliares das FAs, nos termos hoje colocados na lei suprema, é preocupante. Acrescese à mudança o fato de que o desarmamento — que foi derrotado em plebiscito — será imposto à população brasileira, com o que os riscos da hipervalorização do Sistema de Segurança Nacional, centralizado em mãos do Poder Central, poderão gerar intranquilidade institucional, mormente — não é o quadro atual, tenho certezase um Presidente da República mais inclinado a seguir o modelo criado pela figura histriônica do semiditador Chávez, no futuro, fizer uso, pro domo sua, de seu poder sobre o Sistema Controlador das Unidades Federativas, neutralizando as Forças Armadas. De rigor, os membros das Forças Armadas têm uma preparação profissional acadêmica e militar mais demorada e abrangente que as forças policiais. A questão do PNDH3 merece, pois, um amplo debate, antes que venha a ser implantado pelo governo, com a edição de projetos de emenda constitucional e de lei. DIREITo, EcoNoMIA E CORRUPÇÃO Rogério Medeiros Garcia de Lima Desembargador do TJEMG Professor universitário e da Escola Judicial “Desembargador Edésio Fernandes” – TJMG O chamado Estado Liberal, paradigma constitucional surgido no século XVIII, teve como pedra angular o princípio da legalidade (SARAIVA, 1983:811). Era calcado na teoria dos três poderes de Montesquieu. Intentava coibir o arbítrio dos governantes e oferecer segurança jurídica aos governados. O Estado legalmente contido é denominado Estado de Direito. Consolidada a Revolução Industrial, emergiram necessi dades sociais expostas pelos sucessivos movimentos socialistas. Demonstravam não bastar ao ser humano o atributo da liberdade; era preciso conferir a ele condições socioeconômicas dignificantes da pessoa humana. Diante da crise econômica do primeiro pósguerra, o Estado teve de assumir papel ativo. Premido pela sociedade, tornou se agente econômico, instalou indústrias, ampliou serviços, gerou empregos e financiou diversas atividades. Intermediou a porfia entre poder econômico e miséria, assumindo a defesa dos trabalhadores, em face dos patrões, e dos consumidores, em face de empresários. Desde as Constituições Mexicana, de 1917, e de Weimar, de 1919, os textos constitucionais incorporaram compromissos de desenvolvimento da sociedade e valorização dos indivíduos socialmente inferiorizados. O Estado abandonou o papel não intervencionista e assumiu postura de agente do desenvolvimento e da justiça social (SUNDFELD, 1997:5054). É o denominado Estado Social. Prosseguiu a evolução dos paradigmas até culminar no Estado Democrático de Direito. Superada a fase inicial, paulatinamente o Estado de Direito incorporou instrumentos democráticos e permitiu a participação do povo no exercício do poder. Manteve o projeto inicial de controlar o Estado. Dessarte, o Estado Democrático de Direito é aquele: a) criado e regulado por uma Constituição; b) onde os agentes públicos fundamentais são eleitos e renovados periodicamente pelo povo e respondem pelo cumprimento de seus deveres; c) onde o poder político é repartido entre o povo e órgãos estatais independentes e harmônicos, que se controlam uns aos outros; d) onde a lei, produzida pelo Legislativo, é necessariamente observada pelos demais Poderes; e, e) onde os cidadãos, sendo titulares de direitos, inclusive políticos, podem opôlos ao próprio Estado. Paralelamente a esses paradigmas de organização política do Estado, falase também nos direitos de primeira geração (individuais), direitos de segunda geração (coletivos e sociais) e direitos de terceira geração (difusos, compreendendo os direitos ambientais, do consumidor e congêneres). O historiador britânico Eric Hobsbawm (1995) considerou breve o século XX. Começou somente em 1914, até quando foram mantidas as mesmas características históricopolíticas dominantes no século XIX. Terminou em 1989, com a queda do Muro de Berlim. A partir de então, aceleraramse mudanças radicais e se constituiu novo estágio na História Contemporânea. Falase em crise da pósmodernidade (MARQUES, 1999:91). Operamse mudanças legislativas, políticas e sociais. Os europeus denominam esse momento de “queda, rompimento ou ruptura”. É o fim de uma era e o início de algo novo, ainda não identificado: pósmodernidade. Entraram em crise os ideais da 2010 ABRIL | JUSTIÇA & CIDADANIA 37 Era Moderna, concretizados na Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade não se realizaram para todos e nem são hoje considerados realmente realizáveis. Desconfiase da força e suficiência do Direito para servir de paradigma à organização das sociedades democráticas. Viceja o capitalismo neoliberal, bastante agressivo e com perversos efeitos de exclusão social. Nos anos 1980, o chamado Welfare State, que combinava democracia liberal na política com dirigismo econômico estatal, cedeu espaço ao novo liberalismo. Foram questionadas as políticas de benefício social até então praticadas. Estados Unidos e Inglaterra, sob os governos de Ronald Reagan e Margaret Thatcher, respectivamente, lideraram a implantação de uma nova política econômica. Assentavase precipuamente nos conceitos liberais: Estado “mínimo”, desregulamentação do trabalho, privatizações, funcionamento do mercado sem interferência estatal, e cortes nos benefícios sociais. Norberto Bobbio, grande pensador contemporâneo, sintetizou (1995:8789): “Por neoliberalismo se entende hoje, principalmente, uma doutrina econômica consequente, da qual o liberalismo político é apenas um modo de realização, nem sempre necessário; ou, em outros termos, uma defesa intransigente da liberdade econômica, da qual a liberdade política é apenas um corolário.(...) Na formulação hoje mais corrente, o liberalismo é a doutrina do ‘Estado mínimo’ (o minimal state dos anglosaxões)”. No Brasil, Roberto Campos (in A Reinvenção do Estado, 1996) foi arauto do resgate do ideário liberal: “A esperança que nos resta é um choque de liberalismo, através de desregulamentação e de privatização. Governo pequeno, impostos baixos, liberdade empresarial, respeito aos direitos de propriedade, fidelidade aos contratos, abertura a capitais estrangeiros, prioridade para a educação básica — eis as características do Estado desejável: o Estado jardineiro”. Mudando a ideologia dominante, muda a forma de se conceber o Estado e a Administração Pública. Não se quer mais o Estado prestador de serviços, mas, segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro (1997:1112): “Querse o Estado que estimula, que ajuda, que subsidia a iniciativa privada; querse a democratização da Administração Pública pela participação dos cidadãos nos órgãos de deliberação e de consulta e pela colaboração entre público e privado na realização das atividades administrativas do Estado; querse a diminuição do tamanho do Estado para que a atuação do particular ganhe espaço; querse a parceria entre o público e o privado para substituirse a Administração Pública dos atos unilaterais, a Administração Pública autoritária, verticalizada, hierarquizada”. Nos Estados Unidos, a nova ideologia consolidouse. Curiosamente, na pátria do New Deal, conjunto de reformas econômicas e sociais implantadas pelo Presidente Franklin Delano Roosevelt após a crise de 1929, abrangendo a intervenção do Estado na economia e várias medidas de cunho social, inclusive para a contenção do desemprego. Em agosto de 1996, o Presidente norteamericano, Bill Clinton, anunciou a reforma da assistência oficial aos pobres, pondo termo à política social implantada com o New Deal. 38 JUSTIÇA & CIDADANIA | ABRIL 2010 Proclamou o fim do Welfare State, considerandoo “falido” (Jornal do Brasil, 2.8.1996). Ao lado do triunfo neoliberal, propagase a globalização, consistente na “mundialização da economia, mediante a internacionalização dos mercados de insumo, consumo e financeiro, rompendo com as fronteiras geográficas clássicas e limitando crescentemente a execução das políticas cambial, monetária e tributária dos Estados nacionais” (José Eduardo Faria, 1996:10). Com invulgar franqueza, John Kenneth Galbraith salientou não ser a globalização um conceito sério. Inventado pelos americanos, dissimula a sua política de entrada econômica nos outros países (Folha de São Paulo, 3.11.1997). Essa “nova ordem internacional”, uma ordem sobretudo econômica, mas também política, despreza os valores sociais e humanitários. Significa economia globalizada e desemprego incessantemente gerado (CASTRO, 1996:134). É “um desígnio de perpetuidade do status quo de dominação, como parte da estratégia mesma de formulação do futuro em proveito das hegemonias supranacionais já esboçadas no presente” (BONAVIDES, A Globalização que Interessa, 1996). A Constituição de 1988, saudada por Ulysses Guimarães como “cidadã”, foi impiedosamente retalhada para assegurar uma controvertida “governabilidade”. Celso Antônio Bandeira de Mello condenou acerbamente o desmantelamento das instituições políticas estabelecidas juridicamente. Processam se, mediante o desfazimento da Constituição da República, democraticamente promulgada, o aniquilamento dos direitos fundamentais, conquistados ao longo através de embates históricos, e o comprometimento da própria dignidade humana (Jornal do Advogado, OABMG, janeiro de 1998): “Imperialismo, hoje, chamase globalização, queda de fronteiras, destruição da economia nacional, cujo resultado é o agravamento da miséria, em função do bemestar de um grupo. Não se pode aceitar isso com submissão”. Alain Touraine proclama já ser hora de eleger como prioridade sair do liberalismo e não entrar nele. Parece não haver mais sistema político capaz de administrar os problemas sociais. De um lado, o Estado se submete aos ditames da economia internacional; de outro, crescem os protestos por alteração de rumos. Amplia se o vazio, preenchido pelo caos e pela violência. A prioridade é reconstruir o sistema político e abandonar a perigosa ideia de que os mercados podem regular a si mesmos. Essa ideia, do ponto de vista político, é gravemente insatisfatória. O desemprego em massa, a queda do nível de vida, para muitos, e o aumento das desigualdades, não são apenas variáveis econômicas. São, sobretudo, vidas e sofrimentos (Um Equilíbrio Precário, 1998). O Brasil é um país com notória desigualdade social. Não obstante, no limiar da década 1990, o então Presidente Fernando Collor de Melo aderiu incondicionalmente ao modelo neoliberal. Fernando Henrique Cardoso, seu sucessor, consolidouo em seus dois mandatos. Consequentemente, o País teve uma “década perdida”, com estagnação econômica, desemprego e endividamento externo e interno. Estropiado, chegou ao século XXI. De modo surpreendente, o governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a despeito do discurso vigorosamente contrário do combativo Partido dos Trabalhadores (PT), manteve a política econômica calcada na busca do superávit primário. Não obstante o bem sucedido programa social Bolsa Família, permanecem intocados os altos índices de analfabetismo, desemprego e problemas sanitários. Só para exemplificar. Nessa quadra de insucessos, verificamos que passou a ser cobrado também do Poder Judiciário o compromisso com a dita “governabilidade” do País. É conceito fluido, porque deriva das concepções subjetivas dos governantes de momento. Contudo, a princípio, o juiz deve estar subordinado aos fundamentos democráticos (AGUIAR JÚNIOR, 1998). Responde, perante a sociedade, pelo exercício da sua função. Essa, como as demais funções do Estado, é meio de realização dos valores fundamentais socialmente consagrados. No Estado democrático, o juiz assume o compromisso de exercer o poder estatal de acordo com os princípios orientadores do ordenamento jurídico, do qual derivou sua investidura no cargo e de onde lhe advém a força da decisão. Miguel Reale, um dos responsáveis pela elaboração do novo Código Civil, sublinhava a diferença entre o Código de 1916, elaborado para um país predominantemente rural, e o Código de 2002, projetado para uma sociedade na qual prevalece o sentido da vida urbana. Passamos do individualismo e do formalismo do primeiro para o sentido socializante do segundo. Ficamos mais atento às mutações sociais, numa composição equitativa de liberdade e igualdade. Além disso, é superado o apego a soluções estritamente jurídicas, reconhecendose o papel que na sociedade contemporânea voltam a desempenhar os valores éticos, a fim de que possa haver real concreção jurídica. Socialidade e eticidade condicionam os preceitos do novo Código Civil, atendendo se às exigências de boafé e probidade, em um ordenamento constituído por normas abertas, suscetíveis de permanente atualização. Reale perorou (Sentido do Novo Código Civil, 2002): “O que importa é verificar que o novo Código Civil vem atender à sociedade brasileira, no tocante às suas aspirações e necessidades essenciais. (...) É indispensável, porém, ajustar os processos hermenêuticos aos parâmetros da nova codificação. (...)Nada seria mais prejudicial do que interpretar o novo Código Civil com a mentalidade formalista e abstrata que predominou na compreensão da codificação por ele substituída”. A atividade do juiz não pode ser discricionária e nem neutra (AGUIAR JÚNIOR, 1998). Deve ser exercida em consideração a regras e princípios, implícitos e explícitos, adotados pelo sistema. A decisão, ainda que inovadora, deve manter coerência com o ordenamento jurídico vigente, para que esse não perca sua identidade. O sistema jurídico de um Estado democrático permite liberdade decisória, nas condições acima referidas. Esperase do juiz, a quem garante independência institucional e funcional, a utilização dessa liberdade para a realização dos seus valores. Por isso, o magistrado tem responsabilidade social. Em voto lapidar, o ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira sublinhou: “O jurista, salientava Pontes de Miranda em escólio ao Código de 1939 XII/23, ‘há de interpretar as leis com o espírito ao nível do seu tempo, isto é, mergulhado na viva realidade ambiente, e não acorrentado a algo do passado, nem perdido em alguma paragem, mesmo provável, do distante futuro’. ‘Para cada causa nova o juiz deve aplicar a lei, ensina Ripert (Les Forces Créatives du Droit, p. 392), considerando que ela é uma norma atual, muito embora saiba que ela muita vez tem longo passado’; ‘deve levar em conta o estado de coisas existentes no momento em que ela deve ser aplicada’, pois somente assim assegura o progresso do Direito, um progresso razoável para uma evolução 2010 ABRIL | JUSTIÇA & CIDADANIA 39 lenta” (Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial n. 196RS, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, in Revista dos Tribunais, vol. 651, janeiro de 1990, p. 170173). De outro ângulo, no mundo contemporâneo — inclusive em nosso país —, surgem cada vez maiores tensões entre o Direito e a Economia. Segundo Giorgio Del Vecchio, as considerações meramente econômicas representam apenas um dos aspectos da realidade, a qual, em concreto, é sempre mais alguma coisa do que econômica. Entretanto, o fenômeno da globalização econômica faz com que os mercados globalizados obstem a capacidade dos governos nacionais de condicionar politicamente o ciclo econômico. É crescente a integração dos sistemas financeiros e econômicos, em escala global. Aumenta a capacidade dos movimentos mundiais de capital de condicionar as posturas internas. Não são apenas as economias nacionais que se inserem nas fronteiras dos estados, pois os esses também estão inseridos nos mercados. O peso determinante dos processos econômicos — em particular os financeiros — transformou os atores econômicos transnacionais em poderosos competidores dos estados nacionais. São transpostas barreiras comerciais e abertos novos mercados. Aos atores políticos reservase somente a “tarefa de recriar, em nível global, as tradicionais garantias de segurança jurídica própria do direito privado nacional” (GREBLO, 2005:3032). Nesse contexto, cabe aos magistrados analisar cada caso em suas circunstâncias peculiares. Não podem desprezar o impacto macroeconômico das suas decisões. O economista Armando Castelar, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), sustentou que abalam o mercado de crédito a ineficiência do Poder Judiciário e as decisões judiciais causadoras de insegurança jurídica (Folha de São Paulo, 19.2.2003). Igualmente, argumenta Fábio Ulhoa Coelho (Revista da Escola Nacional da Magistratura, 2/ 86): “A instabilidade do marco institucional manifestase por vários modos. Um deles é a jurisprudência desconforme ao texto legal. Se a lei diz ‘x’, mas sua aplicação pelo Judiciário implica ‘nãox’, os investimentos se retraem. O investidor busca outros lugares para empregar seu dinheiro; lugares em que ele tem certeza das regras do jogo e pode calcular o tamanho do risco (que sempre existe em qualquer empreitada econômica). Numa economia globalizada, ele os encontra com facilidade. Tanto o investidor estrangeiro começa a evitar o País com marco institucional instável, como o nacional passa a considerar outros países como alternativa melhor para seus investimentos”. A Magistratura brasileira tem se confrontado com a tensão entre a justiça e a segurança jurídica ou a estabilidade econômica. O ministro Luiz Fux, do Superior Tribunal de Justiça, refletiu (Impacto das Decisões Judiciais na Concessão de Transportes, Revista ENM, nº5, p. 12): “Se nós oferecemos uma justiça caridosa, se nós oferecemos uma justiça paternalista, se nós oferecemos uma justiça surpreendente que se contrapõe à segurança jurídica prometida pela Constituição Federal, evidentemente que isso afasta o capital estrangeiro, como afasta o capital das grandes corporações. É o que sucede com o nãocumprimento de tratados, o nãocumprimento de laudos arbitrais convencionados previamente... Isso, segundo a Corte 40 JUSTIÇA & CIDADANIA | ABRIL 2010 Especial, aumenta o que se denomina ‘Risco Brasil’”. Enfim, a tensão entre Direito e Economia torna angustiante o cotidiano do juiz contemporâneo. Deverá enfrentála com o sopeso dos interesses individuais e macroeconômicos envolvidos em cada caso. Se for preferível que prevaleça a segurança jurídica sobre interesses dos indivíduos litigantes, assim decidirá. Do contrário, fará prevalecer a justiça sobre os interesses macroeconômicos. Por derradeiro, a lastimável realidade brasileira, marcada por corrupção e impunidade, influencia negativamente a estabilidade econômica. O economista norteamericano James Robert apontou a queda do Brasil no ranking de liberdade econômica (revista Veja, 3.9.2008, p. 20): “Saiu do que chamamos de ‘moderadamente livre’ para uma economia ‘majoritariamente não livre’. Os dois fatores que empurram o País para baixo são a corrupção e a falta de liberdade financeira (...). As leis brasileiras são pouco receptivas aos investimentos estrangeiros. O País precisa melhorar as leis de investimento, reduzir as restrições à moeda estrangeira e facilitar a vida dos empresários estrangeiros que queiram operar no País”. Com efeito, desde o Descobrimento, enraizouse no Brasil o patrimonialismo. Sérgio Buarque de Holanda destacava no clássico Raízes do Brasil (1976:105106): “Não era fácil aos detentores das posições públicas de responsabilidade (...) compreenderem a distinção fundamental entre os domínios do privado e do público. Assim, eles se caracterizam justamente pelo que separa o funcionário ‘patrimonial’ do puro burocrata conforme a definição de Max Weber. Para o funcionário ‘patrimonial’, a própria gestão política apresentase como assunto de seu interesse particular; as funções, os empregos e os benefícios que deles aufere, relacionamse a direitos pessoais do funcionário e não a interesses objetivos, como sucede no verdadeiro Estado burocrático, em que prevalecem a especialização das funções e o esforço para que se assegurem garantias jurídicas aos cidadãos. A escolha dos homens que irão exercer funções públicas fazse de acordo com a confiança pessoal que mereçam os candidatos, e muito menos de acordo com as suas capacidades próprias. Falta a tudo a ordenação impessoal que caracteriza a vida do Estado burocrático”. As elites econômicas e políticas se apropriaram do Estado, em detrimento da cidadania. Por cidadão designamos o indivíduo na posse dos seus direitos políticos. Cidadania é a manifestação das prerrogativas políticas que um indivíduo tem no Estado Democrático. Consiste, portanto, na expressão da qualidade de cidadão e no direito de fazer valer as prerrogativas que defluem do regime democrático (BASTOS, 1994:1920). Na sábia reflexão de José Murilo de Carvalho (1995:1011), cidadania é também a sensação de pertencer a uma comunidade, de participar de valores comuns, de uma história comum e de experiências comuns. Nos países latinoamericanos, o desenvolvimento da cidadania não seguiu o modelo inglês. No Brasil colonial, escravidão e latifúndio não eram sólidos alicerces para a formação de futuros cidadãos. Nem a Independência propiciou a conquista imediata dos direitos de cidadania. A herança colonial fora bastante negativa. O processo de emancipação, bastante suave, não permitiu qualquer mudança radical. Apesar das expectativas, poucas coisas mudaram com a Proclamação da República em 1889. Na Primeira República governaram oligarquias estaduais (CARVALHO, 1995:1031). Em contraponto, Joaquim Nabuco considerava a Inglaterra, ainda no século, o “país mais livre do mundo”. Em sua clássica obra “Minha Formação” (1981:85), elogiou a postura da Câmara dos Comuns de se sintonizar com as oscilações do sentimento público. E muito admirava a autoridade dos juízes britânicos: “Somente na Inglaterra, podese dizer, há juízes (...). Só há um país no mundo em que o juiz é mais forte do que os poderosos: é a Inglaterra. O juiz sobreleva à família real, à aristocracia, ao dinheiro, e, o que é mais que tudo, à imprensa, à opinião. (...) O Marquês de Salsbury e o Duque de Westminster estão certos de que diante do juiz são iguais ao mais humilde de sua criadagem. Esta é a maior impressão de liberdade que fica da Inglaterra. O sentimento de igualdade de direitos, ou de pessoa, na mais extrema desigualdade de fortuna e condição, é o fundo da dignidade anglosaxônica” (grifei). Não olvidemos a postura contemporânea da União Europeia, ao adotar rígidos critérios institucionais para admissão de paísesmembros. Ao admitir Romênia e Bulgária em seu seio, a Comissão Europeia saudou a “conquista histórica”, mas apontou problemas persistentes, principalmente em termos de luta contra a corrupção e independência do Judiciário, sobre os quais os dois países deverão prestar contas a cada seis meses (Folha de São Paulo, 31.12.2006, caderno Mundo). O Brasil, mesmo com a notável evolução social verificada no decorrer do século 20, chegou à Assembleia Constituinte de 1987 com enorme débito histórico a resgatar. O desafio era instituir o controle do Estado pelo povo e assegurar a plena cidadania a todos (PINHEIRO, 1985:55 e 68). Em dado momento histórico, contudo, passamos a nos portar como se estivéssemos na Suécia. Verbi gratia, orgulhosamente poderíamos apontar o enunciado da súmula vinculante n° 11 do Supremo Tribunal Federal: “Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”. Em dissonância, o juiz federal Sérgio Fernandes obtemperou (Folha de São Paulo, 12.9.2008, caderno Brasil): “Até ontem, as capas de revistas diziam que o Brasil era o país da impunidade. Agora, falam que o Brasil é um Estado policial. Tenho a sensação de que perdi alguma coisa, de que dormi cinco anos e não vi essa transformação.” Criada para coibir a corrupção no País, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992) tornouse “símbolo da impunidade”. Apenas cerca de 7% das autoridades processadas por improbidade foram condenadas. Em quinze anos, a maioria das 14 mil ações de improbidade, ajuizadas nos tribunais de todo o País, ainda não recebeu sentença. Nos crimes do mercado financeiro, o índice de condenação não passa de 5% (jornal O Globo, 17.6.2007). A atividade do juiz não pode ser discricionária e nem neutra (AGUIAR JÚNIOR, 1998). Deve ser exercida em consideração a regras e princípios, implícitos e explícitos, adotados pelo sistema. A decisão, ainda que inovadora, deve manter coerência com o ordenamento jurídico vigente, para que esse não perca sua identidade. Responsável pelo julgamento das maiores autoridades do País, o Supremo Tribunal Federal instaurou, desde 1968 (ano em que os dados passaram a estar disponíveis), 137 processos criminais contra deputados, senadores, ministros e presidentes da República. Todavia, desde então não condenou um deles sequer. As acusações abrangem desvio de verbas públicas, evasão de divisas e até homicídios. Há processos que tramitaram por mais de uma década, sem conclusão (Jornal O Globo, 18.6.2007). Em suma, não se nega o avanço da democracia brasileira. As instituições republicanas estão se fortalecendo paulatinamente e se destaca o papel do Poder Judiciário na garantia do Estado de Direito. Há prenúncio de grande desenvolvimento econômico nos próximos anos, em decorrência da descoberta de fartas reservas petrolíferas no mar territorial brasileiro. No entanto, a caminhada será longa até atingirmos a plenitude de uma social democracia. Nesse aspecto, os Poderes constituídos, inclusive o Judiciário, têm enorme passivo a resgatar com a sociedade brasileira. Para concluir este ensaio, recorro à clássica reflexão de Rudolf von Ihering (1980:9495), bastante apropriada à realidade brasileira: “Qualquer norma que se torne injusta aos olhos do povo, qualquer instituição que provoque seu ódio, causa prejuízo ao sentimento de justiça, e por isso mesmo solapa as energias da nação. Representa um pecado contra a ideia do direito, cujas consequências acabam por atingir o próprio Estado. (…) Nem mesmo o sentimento de justiça mais vigoroso resiste por muito tempo a um sistema jurídico defeituoso: acaba embotando, definhando, degenerando”. 2010 ABRIL | JUSTIÇA & CIDADANIA 41 Foto: Arquivo Pessoal coNSIDERAÇÕES SobRE A coNFERÊNcIA DE COPENHAGUE – COP15 Antônio Souza Prudente Desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região Professor Decano da Universidade Católica de Brasília – DF Membro do Conselho Editorial A I tendendo a convite oficial do Sr. Ministro de Estado do Meio Ambiente, Carlos Minc, para compor a Delegação brasileira na 15ª Conferência das Partes da Convenção — Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do CLIMA (COP15), que se realizou em Copenhague (Dinamarca), entre os dias 7 e 18 de dezembro de 2009, ali estive representando o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que, em sua dimensão continental, responsabilizase, em grau de apelação, pela mais ampla tutela jurisdicional do meio ambiente no território nacional, abrangendo quatorze das mais representativas Unidades da Federação, onde se situam os mais importantes biomas e mais expressivos ecossistemas do planeta, bem assim as mais significativas Unidades de 42 JUSTIÇA & CIDADANIA | ABRIL 2010 Conservação da Natureza. Naquele histórico e grandioso evento, tive a honra de representar também, oficialmente, a Universidade Católica de Brasília como membro integrante de seu quadro docente da graduação e da pósgraduação do curso de Direito, por delegação de seu magnífico Reitor, o Prof. MSc. Pe. José Romualdo Degasperi, e ainda, no mesmo evento, a conceituada Revista Justiça & Cidadania, como membro integrante de seu Conselho Editorial, por delegação expressa de seu nobre editor, Dr. Orpheu Santos Salles, e de seu DiretorExecutivo, Dr. Tiago Santos Salles, tudo como recomenda o princípio da ampla participação democrática, em defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado. II No guia rápido da COP15, colhemse estas informações importantes: 1 As Conferências das partes sobre Clima (COPs) já existem desde 1995, quando os representantes dos países signatários da ConvençãoQuadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas passaram a se reunir anualmente. E essas reuniões são o foro permanente de tomadas de decisão sobre a ConvençãoQuadro. Nesses encontros internacionais, as deliberações são operadas por meio de consenso entre os representantes dos governos de todos os países que ratificaram os acordos firmados e, por isso, o procedimento de negociação exige muito esforço de seus participantes e se torna lento. 2 Atualmente, 192 países participam dessas negociações de interesse global. No final de cada COP, uma série de decisões deve ser adotada, encaminhando os trabalhos do ano seguinte, que culminam na próxima COP. Ressaltese ainda que a Convenção segue uma agenda durante o ano, com vários encontros e sessões de seus órgãos subsidiários. Vale dizer que a COP não é um evento isolado que ocorre uma vez por ano, mas faz parte de um procedimento complexo e dinâmico, guiado pelos princípios da participação democrática e do progresso ecológico. 3 A linha do tempo das COPs registra que a COP1, realizada em 1995, em Berlim (Alemanha), iniciou o processo de negociação de metas e prazos específicos para a redução de emissões de gases de efeito estufa pelos países desenvolvidos, sugerindose a constituição de um Protocolo. Firmouse ali o Mandato de Berlim. A COP2 realizouse em 1996, em Genebra (Suíça), onde se firmou acordo sobre a criação de obrigações legais de metas de redução, por meio da Declaração de Genebra. A COP3, realizada em 1997, em Quioto (Japão), culminou com a adoção do Protocolo de Quioto, que estabelece metas de redução de gases de efeito estufa para os principais emissores, conhecidos como “Países desenvolvidos”, em que se comprometem a reduzir as emissões de gases nocivos em pelo menos 5%, no período entre 2008 e 2010. A COP4 ocorreu em 1998, em Buenos Aires (Argentina), quando se elaborou o Plano de Ação de Buenos Aires, visando implementar e ratificar o Protocolo de Quioto. A COP5 realizada em 1999, em Bonn (Alemanha), deu continuidade aos trabalhos iniciados em Buenos Aires. Na COP6, realizada no ano 2000, em Haia (Holanda), as negociações foram suspensas pela falta de acordo entre, especificamente, a União Europeia e os Estados Unidos, em assuntos relacionados a sumidouros de carbono e às atividades de mudança do uso da terra. A COP6 ½ e a COP7 realizaramse em 2001. A 2ª fase da COP6 foi feita em Bonn (Alemanha), e a COP7, em Marrakech (Marrocos). As negociações foram retomadas, porém, com a saída dos Estados Unidos do processo, sob a alegação de que os custos para a redução de emissões seriam muito elevados para a economia americana, contestando ainda a inexistência de metas para os países em desenvolvimento. A COP8 realizouse em 2002, em Nova Delhi (Índia), onde se iniciou discussão importante sobre o estabelecimento de metas para o uso de fontes renováveis na matriz energética dos países. A COP9, realizada em 2003, em Milão(Itália), colocou em destaque a questão da regulamentação de sumidouros de carbono no âmbito do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MD2). NA COP10, realizada em 2004, em Buenos Aires (Argentina), aprovaramse as regras para a implementação do Protocolo de Quioto e foram discutidas questões relacionadas à regulamentação de projetos de MD2 de pequena escala de reflorestamento/florestamento, o período pósQuioto e a necessidade de metas mais rigorosas. A COP11, que ocorreu em 2005, em Montreal (Canadá), foi a primeira conferência realizada após a entrada em vigor do protocolo de Quioto. Pela primeira vez, a questão das emissões oriundas do desmatamento tropical e mudanças no uso da terra foi aceita oficialmente nas discussões no âmbito da Convenção. Na COP12, realizada em 2006, em Nairóbi (África), estiveram presentes representantes de 189 nações, que assumiram o compromisso de revisar o Protocolo de Quioto e estipularam regras para o financiamento de projetos de adaptação em países pobres. Naquela oportunidade, o governo brasileiro propôs oficialmente a criação de um mecanismo que promova efetivamente a redução de emissões de gases de efeito estufa, oriundos do desmatamento em países em desenvolvimento. Na COP13, realizada em 2007, em Bali (Indonésia), registrase que, pela primeira vez, a questão das florestas é incluída no texto da decisão final de uma conferência, com recomendação para que seja considerada no próximo tratado climático. Nessa reunião, foi criado o Bali Action Plan (Mapa do Caminho de Bali), no qual os países passam a ter prazo até dezembro de 2009 para elaborar os passos posteriores à expiração do primeiro período do Protocolo de Quioto. Na COP14, realizada em 2008, em Poznan (Polônia), países em desenvolvimento, emergentes, como Brasil, China, índia, México e África do Sul sinalizaram uma abertura para assumir compromissos na redução das emissões de carbono, embora não tenham falado em números. Naquela conferência, os países desenvolvidos não colocaram nenhuma proposta concreta na mesa e os Especialistas consideraram que as discussões foram lentas diante da urgência de se estabelecer um novo acordo global. A COP15 realizouse no período de 7 a 19 de dezembro de 2009, em Copenhague (Dinamarca). Após desgarradas discussões de ordem política e econômica, encerrouse aquela importante Conferência com o questionado “Acordo de Copenhague”. Nesse texto, elaborado às pressas, os países ricos se comprometem a doar US$ 30 bilhões, nos próximos três anos, para um fundo de luta contra o aquecimento global, estabelecendo uma previsão de US$ 100 bilhões por ano, em 2020. Sem caráter vinculativo, esse Acordo também estabelece um aumento limite de temperatura de dois graus Celsius, não especificando qual deve ser o corte de emissões necessário para alcançar essa meta. Registra ainda que os países desenvolvidos se comprometem em cortar 80% de suas emissões até 2050, propondo reduzir até 20% dessas emissões já em 2020, o que se apresenta inferior ao recomendado pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), que sugere uma redução entre 25% e 40% até 2020. Esse Acordo também estabelece que os países participantes deverão 2010 ABRIL | JUSTIÇA & CIDADANIA 43 Foto: Arquivo Pessoal muitas dificuldades econômicas, a gastar, até 2020, US$ 166 bilhões, o equivalente a US$ 16 bilhões por ano. Não é uma tarefa fácil, mas foi necessário tomaremse medidas para mostrar ao mundo que, com meias palavras e com barganhas, a gente não encontraria uma solução nesta Conferência de Copenhague. (...) Todos nós sabemos que é preciso. Para manter o compromisso das metas e para manter o compromisso do financiamento, em qualquer documento que for aprovado aqui, a gente tem que manter os princípios adotados no Protocolo de Quioto e os princípios adotados na Convenção – Quadro. Porque é verdade que nós temos responsabilidades comuns, mas é verdade que elas são diferenciadas. (...) Agora, o que nós não estamos de acordo é que as figuras mais importantes do planeta Terra assinem qualquer documento, para dizer que nós assinamos documento. Eu adoraria sair Desembargador Antônio Souza Prudente e sua Esposa Maria Juracy do Nascimento Prudente, daqui com o documento mais perfeito do mundo integrantes da delegação brasileira na COP15, acompanhados do Presidente Lula assinado. Mas se não tivemos condições de providenciar “informações nacionais” sobre a forma como estão fazer até agora — eu não sei, meu querido companheiro combatendo o aquecimento global, por meio de “consultas Rasmussen, meu companheiro Ban Kimoon —, se a gente internacionais e análises feitas sob padrões claramente não conseguiu fazer até agora esse documento, não sei definidos”. Ordena ainda que “os países desenvolvidos se algum anjo ou algum sábio descerá neste plenário e irá deverão promover, de maneira adequada, recursos financeiros, colocar na nossa cabeça a inteligência que nos faltou até a tecnologia e capacitação, para que se implemente a adaptação hora de agora. Não sei.” dos países em desenvolvimento”, e reconhece a importância de Na visão estratégica de Ivo de Bouer, Secretário “reduziremse as emissões produzidas pelo desmatamento e Executivo da Convenção do Clima, para que as negociações degradação das florestas”, promovendose o manejo florestal em Copenhague fossem consideradas bem sucedidas, quatro sustentável, a conservação e o aumento dos estoques de pontos essenciais deveriam ser destacados e estabelecidos: carbono (REDD+), com “incentivos positivos” para financiar a) estabelecimentos de metas de redução claras e ambiciosas tais ações com recursos do mundo desenvolvido. por parte dos países desenvolvidos; b) clareza a respeito do Observese que esse acordo sobre mudanças climáticas que os países em desenvolvimento emergentes irão fazer não logrou atingir às expectativas de líderes bem intencionados para limitar o crescimento de suas emissões; c) financiamento como o nosso Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que, adequado dos países desenvolvidos para ajudar as nações em durante a sessão plenária de encerramento da Conferência de desenvolvimento a se adaptarem aos impactos das mudanças Copenhague, em discurso inflamado, afirmou: climáticas; d) e o estabelecimento de um mecanismo “Confesso a todos vocês que estou um pouco frustrado, institucional para gerir os financiamentos. porque há muito tempo discutimos a questão do clima e, Na avaliação conclusiva do Ministro do Meio Ambiente cada vez mais, constatamos que o problema é mais grave do do Brasil, Carlos Minc, o Acordo de Copenhague mostrouse que nós possamos imaginar. Pensando em contribuir para insuficiente para que os países, principalmente os mais pobres, a discussão nesta Conferência, o Brasil teve uma posição tenham condições de agir de forma efetiva. Contudo, reconhece muito ousada. Apresentamos as nossas metas até 2020, que o Brasil está se convertendo na vanguarda ambiental, pois assumimos um compromisso e aprovamos no Congresso qualquer estratégia de contenção dos danos causados pelo Nacional, transformando em lei, que o Brasil, até 2020, aquecimento global passa obrigatoriamente pela adesão do reduzirá as emissões de gases de efeito estufa de 36,1% a Brasil, dono do maior tesouro verde do mundo. 38,9%, baseado em algumas coisas que nós consideramos O Brasil sem dúvida, sob a liderança do maior estadista importantes: mudança no sistema siderúrgico brasileiro; global, Luiz Inácio Lula da Silva, exerceu papel de destaque mudança e aprimoramento da nossa matriz energética, na Conferência de Copenhague, revelando a todos os países que já é uma das mais limpas do mundo; e assumimos o envolvidos no combate ao aquecimento planetário que as compromisso de reduzir o desmatamento da Amazônia em nossas metas de redução das emissões de gases de efeito 80% até 2020. E fizemos isso construindo uma engenharia estufa estão vinculadas àquelas determinantes do artigo 2º do econômica que obrigará um país em desenvolvimento, com Protocolo de Quioto, que teve por base a Convenção – Quadro 44 JUSTIÇA & CIDADANIA | ABRIL 2010 das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, na Eco/92. Nesse propósito, editouse, aqui no Brasil a Lei nº 12.187, de 29.12.2009, instituindo a Política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC. A busca de um autêntico desenvolvimento sustentável marcou o discurso do Presidente Lula, em Copenhague, no alerta de que: “A questão não é apenas dinheiro. Algumas pessoas pensam que apenas o dinheiro resolve o problema. Não resolveu no passado, não resolverá no presente e, muito menos, vai resolver no futuro. O dinheiro é importante e os países pobres precisam de dinheiro para manter o seu desenvolvimento, para preservar o meio ambiente, para cuidar das suas florestas. É verdade. Mas é importante que nós, os países em desenvolvimento e os países ricos, quando pensarmos em dinheiro, não pensemos que estamos dando uma esmola, porque o dinheiro que vai ser colocado na mesa é o pagamento pela emissão de gases de efeito estufa feita durante dois séculos por quem teve o privilégio de se industrializar primeiro. Não é uma barganha de quem tem dinheiro ou quem não tem dinheiro. É um compromisso mais sério, é um compromisso para saber se é verdade ou não o que os cientistas estão dizendo, que o aquecimento global é irreversível. E, portanto, quem tem mais recursos e mais possibilidades precisa garantir a contribuição para proteger os mais necessitados. (...) No Brasil têm muitos pobres, na África têm muitos pobres, na Índia e na China têm muitos pobres. E nós também compreendemos o papel dos países mais ricos. Eles também não podem ser aqueles que vão nos salvar. O que nós queremos é apenas, conjuntamente, ricos e pobres, estabelecer um ponto comum que nos permita sair daqui, orgulhosamente, dizendo aos quatro cantos do mundo que nós estamos preocupados em preservar o futuro do planeta Terra sem o sacrifício da sua principal espécie, que são homens, mulheres e crianças que vivem neste mundo.” Nesse contexto, convém relembrar a oportuna advertência de Leonardo Boff: “Quando a última árvore for abatida, quando o último rio for envenenado, quando o último peixe for capturado, somente então nos daremos conta de que não se pode comer dinheiro”. Esse discurso presidencial e de notável liderança global encontra respaldo na forma preambular Carta da Terra, aprovada pela UNESCO, em Paris, no dia 14.3.2000, em que se destacam os tópicos seguintes: “Estamos diante de um momento crítico na história da Terra, numa época em que a humanidade deve escolher o seu futuro. À medida que o mundo tornase cada vez mais interdependente e frágil, o futuro enfrenta, ao mesmo tempo, grandes perigos e grandes promessas. Para seguir adiante, devemos reconhecer que, no meio de uma magnífica diversidade de culturas e formas de vida, somos uma família humana e uma comunidade terrestre com um destino comum. Devemos somar forças para gerar uma sociedade sustentável global baseada no respeito pela natureza, nos direitos humanos universais, na justiça econômica e numa cultura da paz. Para chegar a este propósito, é imperativo que nós, os povos da Terra, declaremos nossa responsabilidade uns para com os outros, com a grande comunidade da vida, e com as futuras gerações. (...) A escolha é nossa: formar uma aliança global para cuidar da Terra e uns dos outros ou arriscar a nossa destruição e a da diversidade da vida. São necessárias mudanças fundamentais dos nossos valores, instituições e modos de vida. Devemos entender que, quando as necessidades básicas forem atingidas, o desenvolvimento humano será primariamente voltado a ser mais, não a ter mais. Temos o conhecimento e a tecnologia necessários para abastecer a todos e reduzir nossos impactos ao meio ambiente. O surgimento de uma sociedade civil global está criando novas oportunidades para construir um mundo democrático e humano. Nossos desafios ambientais, econômicos, políticos, sociais e espirituais estão interligados, e juntos podemos forjar soluções includentes. Para realizar essas aspirações, devemos decidir viver com um sentido de responsabilidade universal, identificando nos com toda a comunidade terrestre como com nossa comunidade local. Somos, ao mesmo tempo, cidadãos de nações diferentes e de um mundo no qual as dimensões local e global estão ligadas. Cada um compartilha da responsabilidade pelo presente e pelo futuro, pelo bem estar da família humana e de todo o mundo dos seres vivos. O espírito de solidariedade humana e de parentesco com toda a vida é fortalecido quando vivemos com reverência o mistério da existência, com gratidão pelo dom da vida e com humildade, considerando em relação ao lugar que ocupa o ser humano na natureza”. III Neste visor, podemos afirmar, com segurança, que a Conferência de Copenhague não foi um fracasso, mas, sim, um grande acontecimento histórico, numa notável tentativa de alcançarmos um modo de vida sustentável para todos os povos da Terra. Se o Acordo final, ali firmado, não atingiu os objetivos almejados pelos participantes do evento, certamente ensaiamos alguns passos importantes em direção ao progresso ecológico, com a consciência global de que necessitamos, com urgência, construir sociedades democráticas que sejam justas, participativas, solidárias e sustentáveis, assegurando, assim, que as comunidades em todos os níveis garantam os direitos humanos e as liberdades fundamentais e proporcionem a cada um e a todos a oportunidade de realizar seu pleno potencial, aqui, na Terra, com a permanente celebração da vida. Brasília (DF), em 26 de fevereiro de 2010 2010 ABRIL | JUSTIÇA & CIDADANIA 45 e m foco JUIZADoS pEDEM SOCORRO C riados para agilizar a prestação jurisdicional nos conflitos envolvendo baixos valores, na área cível, e delitos de menor potencial ofensivo, no campo criminal, os Juizados Especiais no âmbito das Justiças estadual e federal brasileira pedem socorro. São inúmeras as dificuldades pelas quais passam essas instâncias. Falta de estrutura de pessoal e material para atender a demanda cada vez mais crescente são os problemas mais comuns nesses juízos, independente da unidade da federação onde tenham sido instalados. Para tentar reverter esse quadro, a Corregedoria Nacional de Justiça, órgão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), instituiu um grupo de trabalho para estudar as formas de se aprimorar o sistema. As propostas deverão ser elaboradas até o final de abril. Algumas possíveis soluções, no entanto, já foram definidas. O Juiz Auxiliar da Corregedoria, Ricardo Chimenti, explicou que os problemas foram constatados durante as várias inspeções realizadas País afora. De acordo com ele, em relação aos Juizados Especiais da Justiça estadual, verificouse uma sobrecarga muito grande de trabalho. Além disso, constatou se que o sistema de informatização é falho ou até mesmo inexistente e que os critérios adotados para provimento de pessoal são pouco objetivos. Falta ainda orientação adequada à realização de procedimentos já unificados e o estabelecimento de requisitos mais claros para a designação de conciliadores. “Quando o conciliador é voluntário, isso ocorre de forma precária mesmo, mas quando há remuneração, entendemos que tem que haver um processo seletivo. Tratase de dinheiro público, não há razão para se fazer isso (a escolha dos conciliadores) como se fosse simples comissionamento”, afirmou. Chimenti comentou também os problemas verificados nos 46 JUSTIÇA & CIDADANIA | ABRIL 2010 Juizados Especiais no âmbito da Justiça federal: “Constatamos problemas seriíssimos no que tange à realização de perícias nas ações prescritíveis, que envolvem principalmente o Instituto Nacional de Seguro Social. Verificamos também problemas nas contadorias, relativos a procedimentos para a expedição das Reposições de Pequeno Valor, as RPVS, que é justamente o que possibilita que o cidadão veja o seu direito concretizado. Esse procedimento, por vezes, tem demorado de oito meses a um ano”, comentou. Segundo Chimenti, esses problemas levaram a Corregedoria Nacional de Justiça a formar o grupo de estudo. Para dar base científica ao trabalho, o órgão responsável por inspecionar o Judiciário brasileiro encaminhou questionários aos tribunais regionais federais e estaduais do País, com perguntas sobre o funcionamento desses juízos. “São centenas e centenas de informações encaminhadas. Designamos, então, o grupo de trabalho para estudar esses dados e dar um parecer sobre a necessidade de recomposição do sistema, sobretudo no que diz respeito aos recursos humanos junto aos tribunais”, explicou o Magistrado. Pesquisas divulgadas ao longo dos anos dão uma dimensão dos problemas observados pela Corregedoria Nacional de Justiça. Um diagnóstico sobre os Juizados Especiais Cíveis, por exemplo, apresentado pela Secretaria da Reforma do Judiciário, órgão do Ministério da Justiça, traçou um perfil dos usuários, a natureza das reclamações, além do tempo decorrido entre o início e o fim de um processo. O estudo também levantou dados sobre a estrutura dos Juizados Especiais, a atuação dos conciliadores, além da ação da Defensoria Pública. O diagnóstico foi realizado entre dezembro de 2004 e fevereiro de 2006 em nove capitais brasileiras. Constatouse que as principais reclamações envolvem relações de consumo (37,2%), acidentes de trânsito (17,5%) e cobrança de dívidas (14,8%). Aproximadamente 94% das reclamações são feitas por pessoas físicas e 49% dos reclamados são pessoas jurídicas. A capital com maior índice de reclamação de consumo foi o Rio de Janeiro (79%), seguido por Belo Horizonte (55,3) e São Paulo (50,8%). Quanto à estrutura, o levantamento da Secretaria da Reforma do Judiciário apontou que há deficiência de material e pessoal, assim como nas instalações, o que exige de cada Estado uma avaliação completa acerca dessas instâncias e um investimento corajoso na melhoria desse importante canal de acesso à Justiça. A pesquisa mostrou também que os Juizados estão sobrecarregados de serviços em razão do desmedido aumento de sua competência. Outro problema constatado diz respeito à falta de magistrados exclusivos para atuarem nessas instâncias. A conclusão é de que, ao menos para os Juizados das comarcas mais importantes, seja designado um juiz único, com formação adequada e comprometido com o perfil e com as finalidades básicas dessas instâncias. Outras soluções também serão apontadas pelo Conselho Nacional de Justiça, afirmou Chimenti. Isso principalmente no que tange ao tratamento dado a essas instâncias. De acordo com o Magistrado, há varas com cerca de dois mil processos com o mesmo número de servidores que os Juizados Especiais, com mais de 20 mil ações. “Isso demonstra que há indícios de tratamento discriminatório em relação a tais instâncias. Estamos apurando essa situação para que o tratamento seja mais igualitário. Ainda que haja carência de recursos humanos e materiais, que essa carência seja dividida de forma isonômica”, afirmou o Juiz Auxiliar. “A ideia é a de que, com a conclusão do trabalho da Corregedoria Nacional de Justiça, possamos indicar o caminho para que o tratamento dado a um Juizado e a uma Vara seja igualitário, para que não haja discriminação no trato dado a essa instância, que tem como finalidade justamente atender as pessoas mais carentes e que mais precisam de orientação”, acrescentou o Magistrado. Chimenti adiantou à Seção Em Foco algumas das sugestões que serão apresentadas pelo grupo de trabalho. “Temos, por exemplo, varas com nenhuma sentença pendente e Juizados com mais de duas mil sentenças ainda aguardando prolação. Se não houver ajuda, ou seja, uma medida emergencial, os Juizados vão prolatar essas decisões daqui a dois ou três anos, não havendo possibilidade, por exemplo, de deslocamento de magistrados das varas para auxiliar essas instâncias. Então, são necessárias medidas dessa natureza, de cunho emergencial, como outras de médio e longo prazo, para que realmente o sistema não venha a padecer”, afirmou o Juiz Auxiliar. Na avaliação dele, não há necessidade de alterações legislativas. “A questão é de administração”, completou. Apesar dos problemas, Chimenti afirmou que os Juizados Especiais continuam a ser uma via a qual vale a pena se recorrer. “Com certeza, ainda vale a pena recorrer a eles. Primeiro, porque o acesso é realmente muito simplificado. Segundo, porque, apesar de tudo, na comparação com a Justiça comum, em regra, ainda é mais célere e compreensível. As pessoas se sentem mais seguras nos Juizados, pois entendem melhor o que está acontecendo. A linguagem é desburocratizada, justamente para o cidadão comum, para que ele saiba o caminho que está tomando o processo dele”, explicou. O Juiz Auxiliar destacou que o trabalho do grupo instituído pela Corregedoria Nacional de Justiça tem a missão de apresentar um plano para a instalação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública — que foram criados pela Lei 12.153/2009. A norma entrará em vigor a partir do dia 23 de junho de 2010. “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública são organismos muito parecidos com os Juizados Especiais Federais, só que no âmbito dos Estados. Esse órgão, potencialmente, deverá ser maior, a médio prazo, que os Juizados já existentes, pois a estimativa é de que receba um número de demandas muito grande”, comentou Chimenti, destacando que a intenção é padronizar essas instâncias desde o início. “Vamos elaborar um projeto básico para a instalação desses juízos em todos os Estados do Brasil, de modo que haja um padrão mínimo e uma regulamentação básica, para não ficarmos batendo cabeça durante anos até chegarmos a um denominador comum”, afirmou. Os Juizados Especiais originaramse dos Juizados de Pequenas Causas, concebidos no início nos anos de 1980, pela Lei nº 7.244/84. A criação dos Juizados Especiais, tal como conhecemos, ocorreu com a Emenda Constitucional nº 22, de 1999, que acrescentou um parágrafo ao artigo 98 da Constituição. Essas instâncias, nos âmbitos das Justiças estadual e federal, foram criadas pelas Leis nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, e nº 10.259, de 12 de julho de 2001, respectivamente. 2010 ABRIL | JUSTIÇA & CIDADANIA 47 SobRE MúSIcA, FILoSoFIA E INTERPRETAÇÃO DO DIREITO Carlos Gustavo Direito Juiz de Direito e Professor da PUC/RJ O mundo do Juiz — no exercício do seu métier — é o processo. Já se ouviu, inúmeras vezes, a afirmação de que o que não se encontra nos autos do processo não se encontra no mundo. Ele conhece e analisa apenas o que lhe é apresentado. E finalmente aplicará o Direito, ciência humana abstrata, ao caso concreto. O Juiz não é um abstrato. Ele precisa do caso concreto para realizar a sua função. Neste momento, na aplicação do Direito ao fato, se interpretará a Lei. Não se pode, como alerta Garapon, cair em caricaturas. Devese evitar tanto a imagem do Juiz como mero aplicador da Lei como a de um arbitrário que decide tudo de forma subjetiva (Les Vertus Du Juge, Antoine Garapon, Julie Allard, Frédéric Gros, Dalloz, Paris, 2008, p.5). Por isso, o Juiz é um intérprete da lei. Aquele que dá vida ao texto morto. Com efeito, a interpretação não difere do contexto musical. Na alegoria de um grande jurista, Mauro Cappelletti, o Juiz, tal como o músico, interpreta a lei como se interpreta uma partitura. Explica Cappelletti que, a partir do final do século XIX, criou se uma grande literatura sobre o conceito de interpretação, o intento desta discussão foi o “de demonstrar que, com ou sem consciência do intérprete, certo grau de discricionariedade, e, pois de criatividade, mostrase inerente a toda interpretação, não só a interpretação do Direito, mas também no concernente a todos os outros produtos da civilização humana, como a literatura, a música, as artes visuais, a filosofia, etc..” Diz o professor italiano que “em realidade, interpretação significa penetrar os pensamentos, inspirações e linguagem de outras pessoas com vistas a compreendêlos e — no caso do juiz, não menos que no do musicista, por exemplo — reproduzilos, aplicálos e realizálos em novo e diverso contexto, de tempo e lugar”. (Juízes Legisladores? – Sergio Antonio Fabris Editor, Porto Alegre 1993, p.21). 48 JUSTIÇA & CIDADANIA | ABRIL 2010 Seriam, então, os Juízes músicos? Afinal vivem em um mundo individual no qual a sua arte somente aparecerá quando o seu sentimento (origem da palavra sentença) for exposto através da interpretação da lei ao caso concreto. Não é isso que os músicos fazem? Não trabalham sozinhos para dar a melhor interpretação aos seus sentimentos dentro de regras preestabelecidas. Não existe música sem ordem. Daniel Barenboim afirma que a música é a comprovação de que paixão e ordem podem andar juntas. No Direito, a ordem é pressuposto necessário para o exercício de uma paixão. O Juiz, como intérprete, pode ser também um apaixonado desde que observe a ordem predeterminada. A observância da ordem é a própria razão de ser do Direito. Não há tolhimento intelectual quando se observam as regras anteriormente estabelecidas. E que músico seria o Juiz? Na interpretação do que já existe ele pode criar, assumindo, neste caso, o papel de um compositor. Mas, na maioria das vezes, ele trabalha com o seu instrumento para dar vida à obra que outro escreveu. Ele interpreta sentimentos. Aprende a ouvir o que lhe é dito por outrem dentro da sua realidade social e histórica. O desafio de interpretar uma lei é o mesmo que se tem para interpretar uma música barroca no tempo atual com os instrumentos modernos. O julgador tem que saber analisar os fatos sob uma perspectiva objetiva e subjetiva. Não existe — e isto é uma afirmação absoluta — Juiz neutro. A imparcialidade não se relaciona com a neutralidade. O Magistrado carrega em seu julgamento a sua formação de vida. Sua fé ou a ausência dela, sua cultura, sua história, tudo será levado em conta — dentro do seu tribunal interno — para se chegar ao resultado final da decisão. Maria de Lourdes Sekeff, ao analisar a relação entre a música e a psicanálise, tratando especificamente de Beethoven, afirma que “a vida do artista se entrelaça ao seu processo de criação, imprimindo a essa produção um estilo pessoal e único (e apenas nesse sentido), pois que o homem é fruto de sua história, seu ambiente, seu psiquismo. E reconhecendo a complexidade da natureza de Beethoven, sua produção se torna mais compreensível e mais humana” (Música, estética de subjetivação – tema com variações, AnnaBlume, 2009, p. 37). Nesse sentido, Cappelletti afirma que “é obvio que toda reprodução e execução variam profundamente, entre outras influências, segundo a capacidade do intelecto e estado da alma do intérprete. Quem pretenderia comparar a execução musical de Arthur Rubinstein com a do nosso vizinho ruidoso? E, na verdade, quem poderia confundir as interpretações geniais de Rubinstein, com as também geniais, mas bem diversas, de Cortot, Gieseking ou de Horowitz?” Deveras, prossegue Cappelletti, não há texto musical ou poético, nem tampouco legislativo, que não deixe espaço para variações e nuances, para a criatividade interpretativa. Basta considerar que as palavras, como as notas na música, outra coisa não representam senão símbolos convencionais, cujo significado encontrase inevitavelmente sujeito a mudanças e aberto a questões e incertezas. Sabemos que a música pode servir como uma técnica de relaxamento, dentre outras utilidades subjacentes a sua oitiva pura e simples. Mas acredito que a música, como objeto intelectual de estudo — seja aprendendo a ouvila seja estudandoa como música —, pode ajudar especificamente o Juiz para a melhoria do seu exercício profissional. Neste contexto, o que me parece mais importante é a observação das diversas interpretações musicais dadas por músicos distintos à mesma obra. Assim, as nuances interpretativas dadas por Rampal, Moyse, Galway ou Pahud, todos grandes flautistas, mas com formações distintas, a uma mesma obra de Vivaldi ou Bach, por exemplo, podem nos ensinar que mesmo diante da mais alta qualidade técnica há diferenças interpretativas marcantes. Esta diferenciação permite identificar caminhos intelectuais que são tomados — por exemplo — quando do julgamento de grandes questões jurídicas. É o uso da arte para a busca da justiça. Em um primeiro momento, parece loucura ou até mesmo pretensão tentar comparar aquilo que definimos como arte com o dia a dia de decisões judiciais. Mas, para ajudar nesta comparação, podemos recorrer às lições de Lia Tomás, que ensina que na Antiguidade “a música era compreendida de um modo complexo, pois ela possuía vínculos diretos com a medicina, a psicologia, a ética, a religião, a filosofia e a vida social. O termo grego para música, mousiké (pronunciase mussikê), compreendia um conjunto de atividades bastante diferentes, as quais se integravam em uma única manifestação: estudar música na Grécia consistia também em estudar a poesia, a dança e a ginástica. Esses campos, entretanto, não eram entendidos como áreas específicas, como saberes e atuações próprios como se os concebem hoje, mas sim como áreas que poderiam ser pensadas simultaneamente e que seriam, assim, equivalentes. Todos esses aspectos, quando relacionados com a música, tinham igual importância e, portanto, não existia uma hierarquia entre eles” (Música e filosofia – estética musical – Irmãos Vitale – 2004, SP, p.13) Nessa linha, o ensino da música deve se inserir — dentro do que estamos tratando aqui — em um contexto mais amplo do que ele é inserido nos dias atuais. Se formos acompanhar o desenvolvimento da história da música, percebemos que ela passou de parceira da filosofia e da matemática para a posição de matéria coadjuvante no ensino humanístico. O que se propõe é justamente a reversão deste quadro. Trazer o ensino musical — seja no campo da análise estética, seja no campo do exercício da música — para o pensamento jurídico teórico. Podese, por exemplo, em um nível de abstração intelectual, transformar os 2010 ABRIL | JUSTIÇA & CIDADANIA 49 Sabemos que a música pode servir como uma técnica de relaxamento, dentre outras utilidades subjacentes a sua oitiva pura e simples. Mas acredito que a música, como objeto intelectual de estudo — seja aprendendo a ouvi-la seja estudando-a como música —, pode ajudar especificamente o Juiz para a melhoria do seu exercício profissional. Juízes em músicos e diante desta transformação analisar a arte de ambos — dos juízes e dos músicos. Perguntase, enfim: o que será que o estudo da música pode nos mostrar para o estudo do Direito? Notese que na antiguidade — e até mesmo na época do Iluminismo — alguns pensadores relegavam aos músicos o papel de meros artesãos, colocando os apreciadores da música em uma posição mais elevada que estes. Isto porque não se via qual a contribuição intelectual que a música daria aos seus executores. Estes, os músicos, desenvolviam apenas uma técnica, fruto de sua respectiva dedicação ao instrumento. Não se valorizava o virtuoso. O executante era aquele que seguia à risca as indicações feitas pelo compositor. Rousseau chegava a afirmar que dentro do currículo de um homem bem nascido a técnica instrumental era um mero detalhe. Na realidade, entendiase que aquele que ficava horas a fio se dedicando ao estudo do instrumento não tinha tempo para apreciar a boa música. O fato de dominar um instrumento era apenas uma demonstração de boa técnica, tal como o artesão demonstra quando realiza um trabalho. Não se valorizava a interpretação da música. Em uma analogia, podemos comparar a ideia, à época da Revolução Francesa, do Juiz como mero aplicador da lei com o músico que “apenas” tocava o seu instrumento. Lembrese de que para Montesquieu o Juiz era apenas “a boca da lei”. A ideia de Poderes harmônicos e independentes — na forma esboçada por Montesquieu — tinha como pressuposto o Poder Executivo como coordenador das atividades dos demais Poderes. Note se que a própria Constituição Francesa de 1958 não alçou o Judiciário ao nível de um dos Poderes do Estado. Dentro deste pensamento o bom Juiz era aquele que tinha uma boa técnica em aplicar a lei. O Juiz não poderia criar a lei, ele apenas a dizia. Era — dentro da nossa comparação — o mesmo papel a que era relegado o instrumentista que apenas tocava o seu instrumento. A posição mais nobre ficava para os compositores, que seriam os legisladores. Todavia, para contestar esta concepção, que relegava um papel de mero executor ao instrumentista e ao juiz, a filosofia 50 JUSTIÇA & CIDADANIA | ABRIL 2010 moderna — musical e do direito — construiu a ideia de que no momento da execução há criação da música e no momento da aplicação há criação do direito. Esta criação é justamente o poder dado pela ideia de interpretação. Em uma palavra, o intérprete sempre inova. A proposta, então, é no sentido de se comparar a interpretação musical com a função judicante, com o intuito justamente de se entender estas duas áreas do saber humano. Verificar suas semelhanças e compreender suas diferenças. Trabalhar a música como parceira do direito. Estudar a música dentro do seu viés filosófico. Esquecer os juristas para ouvir Bach, Mozart e Beethoven como filósofos e doutrinadores. O saber é um só. Há um encontro entre os teóricos do direito e aqueles que estudaram a música. Sócrates, Platão, Aristóteles, Boécio, Santo Agostinho, Rousseau, todos pensaram no Estado e na música. A volta da interdisciplinaridade do saber é necessária diante de um mundo que consome e se consome. Pensar a música não apenas para o simples consumo prazeroso e também para o ensino específico da arte de julgar. Notese que a tradição filosófica, como ensina Garapon, não distingue a atividade de julgar das outras atividades humanas, se interessando sobre a questão do julgamento dentro de um largo senso. Para a filosofia, o julgamento pode tanto ser moral, de gosto ou de conhecimento (p. 05). Nesta linha, o grande flautista Quantz — professor de Frederico II —, ao escrever, em 1752, o seu ensaio de um método para aprender a tocar a flauta transversa, ensinava em capítulo próprio como se deve julgar a música e os músicos. Lembrese de que o conceito de gosto nasce dentro da ideia de paladar. Nas palavras dos enciclopedistas do sec. XVIII, é o sentimento que se tem das belezas e das deficiências nas artes: uma discriminação imediata, como a da língua e do paladar, que se antecipa à reflexão. Esta subjetividade de conceitos sobre arte e justiça e a busca da interpretação como forma de se entender tais conceitos é a simbiose que nutre a ideia aqui trazida da música e do direito como atividades intelectuais diretamente interligadas. 2010 ABRIL | JUSTIÇA & CIDADANIA 51 52 JUSTIÇA & CIDADANIA | ABRIL 2010
Download