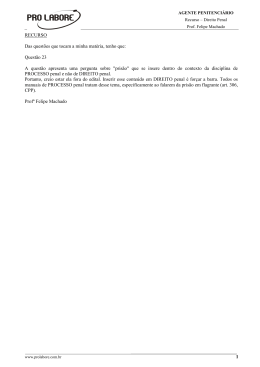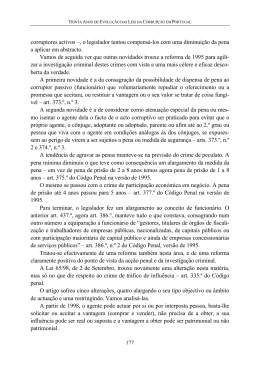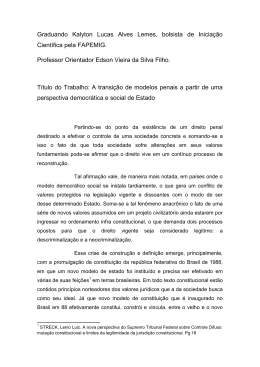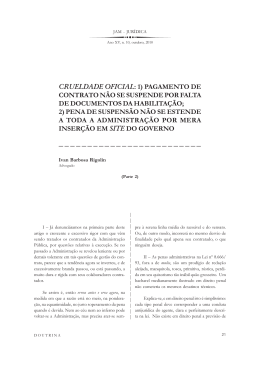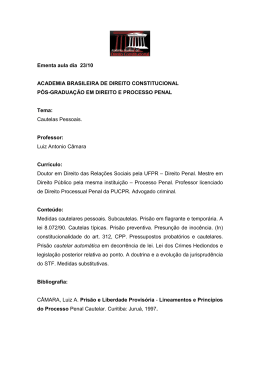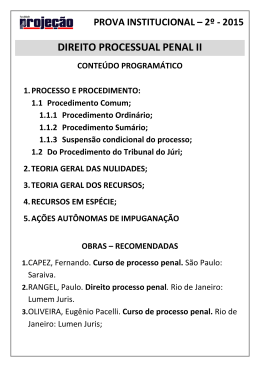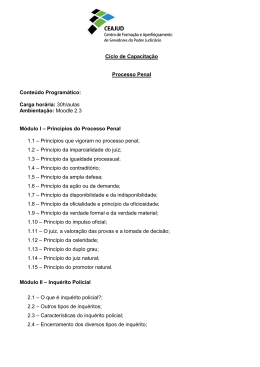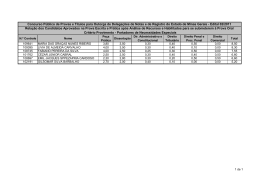Direito (Re) discutido Theobaldo Spengler Neto Direito (Re) discutido Águas de São Pedro, 2013 Editor responsável Zeca Martins Projeto gráfico e diagramação Claudio Braghini Junior Controle editorial Manuela Oliveira Capa Zeca Martins Revisão Tiago Soriano Coordenação editorial Mariel Márcio Muller Esta obra é uma publicação da Editora Livronovo Ltda. CNPJ 10.519.6466.0001-33 www.editoralivronovo.com.br @ 2013, São Paulo, SP Impresso no Brasil. Printed in Brazil Dados Internacionais de Catalogação na Publicação - CIP S747d Spengler Neto,Theobaldo Direito (Re) discutido / Theobaldo Spengler Neto. – Águas de São Pedro: Livronovo, 2013. 399 p. ISBN 978-85-8068-147-5 1. Direito Família. 2. Legislação comentada. I. Título. CDD – 342.16 Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste livro poderá ser copiada ou reproduzida por qualquer meio impresso, eletrônico ou que venha a ser criado, sem o prévio e expresso consentimento dos editores. Ao adquirir um livro você está remunerando o trabalho de escritores, diagramadores, ilustradores, revisores, livreiros e mais uma série de profissionais responsáveis por transformar boas ideias em realidade e trazê-las até você. Sumário APRESENTAÇÃO............................................................................................................... 9 A MEDIAÇÃO COMO FORMA ALTERNATIVA DE TRATAMENTO DOS CONFLITOS FAMILIARES Cristiane Silva de Oliveira Fabiana Marion Spengler......................................................................................11 A NECESSIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO EM FACE À ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA: A POSSÍVEL IMUNIDADE DO DEPOSITÁRIO JUDICIAL INFIEL Diego Reinheimer Bernardes Aline Burin Cella.................................................................................................24 A PRISÃO PREVENTIVA E SEU IMPACTO JURÍDICOSOCIAL A PARTIR DA LEI 12.403 DE 2011 Letícia Silveira Seerig Caroline Fockink Ritt...........................................................................................51 AS ALTERAÇÕES DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL INTRODUZIDAS PELA LEI Nº 12.403/2011 FRENTE À REALIDADE PRISIONAL BRASILEIRA Renata Garcez Hepp Rosane T. Carvalho Porto.....................................................................................67 O TRANSTORNO DE PERSONALIDADE ANTISSOCIAL E A LEI PENAL BRASILEIRA: UM ESTUDO SOBRE A IMPUTABILIDADE João Artur Krupp Bohman Diego Romero......................................................................................................89 A APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA MEDIAÇÃO COMO MECANISMO DE ACESSO À JUSTIÇA FRENTE A MOROSIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL BRASILEIRA Marluci Overbeck Norberto Luiz Nardi..........................................................................................114 INTRODUÇÃO À TEORIA DO ERRO PENAL Augusto Reis Ballardim Marcos Rogério Peroto.......................................................................................131 DA FIXAÇÃO DA GUARDA COMPARTILHADA COMO INSTRUMENTO CAPAZ DE EVITAR A ALIENAÇÃO PARENTAL: UMA ANÁLISE À LUZ DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS Marília Possenatto Nardi Denise Bittencourt Friedrich..............................................................................154 DIREITO COMUM DA HUMANIDADE: A CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS FUNDAMENTAIS DOS TRABALHADORES ATRAVÉS DA OIT Nairo Venício Wester Lamb Jane Gombar......................................................................................................178 MORTE LEGALIZADA: A ANÁLISE DO PLANO NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS Nº 03 (PNDH3) QUE DETERMINA A DESCRIMINALIZAÇÃO DO ABORTO DE NASCITUROS Juliana D’Ávila Martin Karina Meneghetti Brendler...............................................................................198 A CONVERSÃO DA UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA EM CASAMENTO: UMA ANÁLISE DAS REGRAS PROIBITIVAS E DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS PERMISSIVOS Luma Burtzlaff Maitê Damé Teixeira Lemos...............................................................................223 A UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DO AMICUS CURIAE COMO FORMA DE PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA NO CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE BRASILEIRO: UMA INVESTIGAÇÃO A PARTIR DAS AÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Juliele Busnello Tramontini Caroline Müller Bitencourt................................................................................246 EFEITOS DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NA AÇÃO JULGADA PROCEDENTE Pâmela Coimbra Ferreira Elia Denise Hammes..........................................................................................277 CONDIÇÕES E POSSIBILIDADES DE COMPREENSÃO DO PODER DE DISPOR DA PROPRIEDADE PRIVADA PELO CADE ENQUANTO ÓRGÃO REGULADOR DA LIVRE CONCORRÊNCIA Marson Toebe Mohr Theobaldo Spengler Neto...................................................................................289 O RECONHECIMENTO DA UNIÃO HOMOAFETIVA COMO ENTIDADE FAMILIAR E SEUS REFLEXOS NA SEARA DO CASAMENTO CIVIL E DA ADOÇÃO Kellen Eloisa dos Santos Marli Marlene Moraes da Costa.........................................................................312 MEDIANDO CONFLITOS: O DIREITO DE FAMÍLIA SOB O FOCO DAS SOLUÇÕES ALTERNATIVAS Anelise Trevisan Secretti Maikiely Herath Eliana Weber......................................................................................................339 A PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR DE CRÉDITO FRENTE ÀS ABUSIVIDADES DOS CONTRATOS BANCÁRIOS: DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO Maiara da Silva Fantinel Veridiana Maria Rehbein....................................................................................373 APRESENTAÇÃO Os diversos momentos da história da humanidade possuem suas marcas específicas. Isto não é diferente com o momento atual. A atualidade, de fato, já tem os seus signos predominantes e estes podem ser facilmente encontrados no intenso processo que estamos vivenciando. Este processo muda as noções de tempo (tudo se torna mais rápido e precário) e de espaço (as distâncias se comprimem, tornando as diversas regiões do planeta muito mais próximas). Neste sentido, é possível dizer que a característica predominante do nosso tempo é, por um lado, o aumento da interdependência dos fluxos planetários (e, em consequência, de sua complexidade) e, por outro, a crescente efemeridade dos acontecimentos e das decisões tomadas. Esta transformação fragiliza as estruturas estatais, rompe com várias formulações jurídicas tradicionais, diversifica os centros produtores do direito e altera as subjetividades coletivas. Entre estas consequências, quero destacar a alteração das subjetividades. Por que este destaque? Porque esta é uma mudança significativa e que está alterando profundamente a própria noção da vida em comum. Isto significa dizer que a vida em sociedade passou por uma grande mutação e que, atualmente, é perpassada por uma constante incerteza e por uma enorme insegurança. Neste sentido, é possível dizer que a vida se tornou precária, inconstante e provisória. Esta nova condição da vida em sociedade rompe com as principais referências do passado e impede a reprodução dos papeis tradicionais. Daí, portanto, o aumento da desorientação dos diversos sujeitos (homens, mulheres, crianças, velhos, trabalhadores) e uma reiterada dificuldade (devido à fragmentação das subjetividades) na construção das identidades. Mas, qual o vinculo desta nova condição com este excelente livro? O vínculo é evidente. É que o professor Theobaldo Spengler Neto resgata (não tanto pelos conteúdos, mas sim pelo universo referencial) a ideia de comunidade (no caso, de comunidade acadêmica). Esta retomada é fundamental, pois permite resgatar um lugar de conforto e de convergência de todos os envolvidos na obra. Isto fica claro quando se verifica que a integralidade dos autores da presente obra (inclusive o autor desta 9 apresentação); foram ou são professores e alunos do Curso de Graduação e/ou do Curso de Mestrado/Doutorado em Direito da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC). Além desta importante construção da noção de comunidade, o professor Theobaldo Spengler Neto tem o mérito de organizar o presente livro com a lógica dos engenheiros (sequência precisa) e com a leveza dos arquitetos (estabelece uma boa harmonia entre os textos). É uma obra, portanto, para ser lida com cuidado por todos aqueles que têm interesse numa reflexão qualificada sobre os principais temas do direto na atualidade. Boa leitura a todos. Gilmar Antonio Bedin Ex-Aluno do Curso de Direito da UNISC Professor da UNIJUÍ e da URI 10 A MEDIAÇÃO COMO FORMA ALTERNATIVA DE TRATAMENTO DOS CONFLITOS FAMILIARES Cristiane Silva de Oliveira1 Fabiana Marion Spengler2 RESUMO O presente artigo tem como tema a mediação aplicada na solução dos conflitos familiares. Utilizando a técnica de pesquisa bibliográfica, a partir do método dedutivo, pretendeu-se analisar as vantagens da utilização da mediação, suas características e objetivos. 1 Bacharel em Direito. Advogada. E-mail: [email protected]. Pós-Doutora pela Università degli Studi di Roma Tre/Itália, com bolsa CNPq (PDE). Doutora em Direito pelo programa de Pós-Graduação stricto sensu da Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS – RS, com bolsa CAPES; mestre em Desenvolvimento Regional, com concentração na Área Político Institucional da Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC – RS; docente dos cursos de Graduação e Pós-Graduação lato e stricto sensu da Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC – RS; professora colaboradora dos cursos de Graduação e Pós-Graduação lato e stricto sensu da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – UNIJUÍ. Coordenadora do Grupo de Pesquisa “Políticas Públicas no Tratamento dos Conflitos”, vinculado ao CNPq; coordenadora do projeto de pesquisa: “Acesso à justiça, jurisdição (in)eficaz e mediação: a delimitação e a busca de outras estratégias na resolução de conflitos”, financiado pelo Edital FAPERGS n˚ 02/2011 – Programa Pesquisador Gaúcho (PqG), edição 2011 e pelo edital CNPq/Capes 07/2011; pesquisadora do projeto “Multidoor courthouse system – avaliação e implementação do sistema de múltiplas portas (multiportas) como instrumento para uma prestação jurisdicional de qualidade, célere e eficaz” financiado pelo CNJ e pela CAPES; pesquisadora do projeto intitulado: “Direitos Humanos, Identidade e Mediação” financiado pelo Edital Universal 2011 e pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – UNIJUÍ; coordenadora e mediadora judicial do projeto de extensão: “A crise da jurisdição e a cultura da paz: a mediação como meio democrático, autônomo e consensuado de tratar conflitos” financiado pela Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC; advogada. E-mail: [email protected]. Currículo Lattes: http://lattes.cnpq. br/8254613355102364. Blog: http://fabianamarionspengler.blogspot.com. 2 11 Foram abordadas as principais razões da inadequação do processo judicial para o enfrentamento dos conflitos familiares e identificados os aspectos principais da mediação. Efetuou-se, ainda, uma análise específica da mediação familiar, em comparação ao processo judicial tradicional. O desenvolvimento do trabalho permitiu concluir que a mediação permite uma abordagem mais eficiente dos conflitos familiares, trazendo vantagens para todos os integrantes do grupo familiar. Palavras-chave: mediação, família, conflitos, acordo. 1. Introdução A utilização da mediação na resolução de litígios tem especial relevância no Direito de Família, em razão da necessidade de construção de soluções adaptadas às necessidades do grupo familiar, e do resgate do diálogo entre as partes, por se tratar de relações que tendem a permanecer no futuro. O objetivo desta pesquisa foi, portanto, analisar as vantagens da utilização da mediação como forma alternativa de tratamento dos conflitos familiares. O desenvolvimento deste estudo se justifica pela importância social e jurídica do tema. Não temos em nosso país uma cultura de utilização de meios alternativos de resolução de conflitos. A sociedade brasileira é apegada ao formalismo e, inclusive, muitos operadores do direito encaram as formas alternativas de solução de conflitos com reservas, acreditando que o processo judicial traz maior segurança jurídica para as partes. De outro lado, a demora da prestação jurisdicional – causada pelo grande número de demandas e pela falta de recursos do judiciário –, trouxe a necessidade de se buscar formas consensuais de tratamento dos litígios. A importância jurídica do tema está na necessidade de estudo da mediação como alternativa para melhorar a prestação jurisdicional, bem como a necessidade de conscientização dos operadores do Direito acerca das vantagens advindas da solução de litígios através de meios consensuais. Ressalta-se, contudo, que a mediação não pode ser vista apenas como uma forma de “desafogar” o judiciário. Seu maior objetivo reside em restaurar o diálogo e propiciar a elaboração de acordos que não apenas encerrem um processo judicial, mas efetivamente preservem ou restaurem – na medida do possível – o relacionamento entre as partes. 12 O estudo da mediação tem, portanto, importância social, na medida em que visa uma mudança de mentalidade da sociedade, combatendo a cultura do litígio. No Direito de Família, o combate ao litígio ganha especial relevância, visto que é nessa seara que a excessiva litigiosidade causa maiores prejuízos aos ex-cônjuges e, principalmente, aos filhos. 2. Inadequação da resposta judicial aos conflitos familiares A legislação que rege o Direito de Família não acompanha a evolução da sociedade e, ainda que pudesse estar totalmente de acordo com o seu tempo, jamais seria capaz de prever todas as peculiaridades existentes nos diversos arranjos familiares. Por outro lado, o sistema judiciário – além das conhecidíssimas deficiências relacionadas à morosidade e aos seus custos – mostra-se despreparado para solucionar conflitos na seara familiar. Segundo Dias (2010), “faltam instrumentos ao Judiciário para lidar com a esfera afetiva e psíquica dos afetos e desejos e com a esfera psicossocial (papéis e funções) dos vínculos desfeitos”.3 Nosso sistema processual estimula o litígio, porque se baseia em uma dinâmica de “ataque” e “defesa”. Assim, após uma petição inicial repleta de acusações, tem-se uma contestação que traz novos fatos (ou novas versões para os mesmos fatos) e o rebate dos argumentos da petição inicial também com uma série de acusações. As partes, com seus procuradores, formulam uma “estratégia de ataque” e, em cada manifestação no curso da ação, invariavelmente atribuem ao cônjuge toda a responsabilidade pelo fim do relacionamento, quando se sabe que, tratando-se de relacionamentos afetivos, ninguém é totalmente inocente ou culpado pela ruptura. Conforme destaca Pereira, o rompimento do relacionamento conjugal significa desmontar uma estrutura e perder a estabilidade e o padrão de vida anterior, mas “a dor maior nessas separações é a de nos defrontarmos com a nossa solidão e constatar que não temos mais aquele outro que pensávamos nos completar, a quem onipotentemente insistimos em completar” (2000, p. 68). Em razão da dificuldade de lidar com a separação é que surge o litígio conjugal. Os envolvidos “têm sempre a sensação de que estão perdendo algo, e transferem essa perda para o valor da pensão alimentícia, para a discussão sobre a guarda dos filhos, 3 Disponível em http://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=42. 13 para o patrimônio, etc.” (PEREIRA, 2000, p. 71). O processo judicial é, assim, uma tentativa de “não poder nada”. Conforme Vasconcelos, “o que geralmente ocorre no conflito processado com enfoque adversarial é a hipertrofia do argumento unilateral, quase não importando o que o outro fala ou escreve” (2008, p. 20). Cada um dos litigantes concentra-se exclusivamente na busca de provas que reforcem seus argumentos, e refutem os de seu contendor. Assim, enquanto dirigem todos os seus esforços para “vencer o oponente”, os interesses comuns existentes entre eles acabam esquecidos. Além disso, os procuradores, buscando cada um defender seu cliente de forma a torná-lo vitorioso, acabam, muitas vezes, contribuindo para aumentar o ressentimento e intensificar o litígio. Esta definição de posições contrárias dentro do processo deteriora ainda mais a relação entre os litigantes, tornando praticamente inviável qualquer possibilidade de acordo. Conforme Leite (2008, p. 118), antes do início do processo judicial, ou mesmo após a petição inicial, ainda existe grande possibilidade de composição; [...] mas, depois da contestação, na qual, naturalmente a posição de ‘ataque’ é levada ao extremo, as posições endurecem de lado a lado e, dificilmente se consegue o acordo. Finalizada a impugnação, com novos ‘ataques’ (traduzível em novas versões e novos fatos, nem sempre compatíveis com a realidade) a situação está irremediavelmente voltada ao radicalismo. O agravamento da situação conflitiva, que se pode chamar de “escalada do conflito”, inicialmente associa-se a uma “deterioração perceptiva mútua entre as partes”, podendo chegar ao total rompimento de relações entre elas. Nessa fase da relação conflituosa, cada parte passa a ver a outra como um obstáculo a satisfação de seus interesses; o foco, então, deixa de ser a questão inicial que gerou o litígio, e passa a ser o desejo de vitória sobre o outro (RODRIGUES JÚNIOR, 2008). Constata-se, também, que o autor da ação encontra-se em situação privilegiada no processo. Em regra, aquele que se muniu de um bom profissional, que teve tempo para “compreender as regras do jogo” de um processo contencioso, e para pensar e montar uma estratégia de atuação com seu procurador, encontra-se em melhor posição do que a outra parte, que é surpreendida por uma citação judicial - que muitas vezes a deixa temporariamente sem ação – e, sem chegar a se recompor, precisa organizar sua defesa pressionada por prazos exíguos. Esta desigualdade que se cria entre indivíduos 14 que se enfrentam em um processo judicial aumenta a distância entre eles e contribui para o agravamento do conflito (LEITE, 2008). Encerra-se o processo judicial com a determinação de um vencedor e de um perdedor, o que, conforme Leite, somente “aumenta o ressentimento numa área na qual as paixões e os ressentimentos são a tônica maior da conduta humana” (2008, p. 106). Além disso, as decisões judiciais são baseadas em critérios objetivos contidos nas leis, que têm por objetivo solucionar o conflito de forma objetiva e imparcial, sendo vedado ao magistrado decidir a lide com base em elementos subjetivos. O magistrado fica, ainda, adstrito aos limites do pedido, sem possibilidade de, por exemplo, condenar o réu em quantia maior ou em objeto diverso do pleiteado. Assim, “se é possível e desejável que, ao solucionar um conflito, o julgador se desvencilhe de aspectos subjetivos, muitas vezes os envolvidos no conflito não conseguem fazê-lo” (RODRIGUES JÚNIOR, 2008, p. 366). Tratando-se de vínculos afetivos, estão presentes uma série de queixas, mágoas e temores entre os litigantes. Por esta razão, muitas vezes a decisão judicial não alcança a pacificação social, visto que, embora resolva a lide processual, não atinge a solução integral do conflito. Conforme ressalta Dias (2007, p. 81), a sentença judicial: [...] raramente produz o efeito apaziguador desejado pela justiça. Principalmente nos processos que envolvem vínculos afetivos, em que as partes estão repletas de temores, queixas e mágoas, sentimentos de amor e ódio se confundem. A resposta judicial jamais responde aos anseios de quem busca muito mais resgatar prejuízos emocionais pelo sofrimento de sonhos acabados do que reparações patrimoniais ou compensações de ordem econômica. Independentemente do término do processo judicial, subsiste o sentimento de impotência dos componentes do litígio familiar além dos limites jurídicos. Com efeito, o processo clássico, ao agravar o conflito, aumenta o sofrimento dos envolvidos e dificulta a construção do pós-ruptura do casal e dos filhos. A ausência de discussão direta dos problemas, na esfera judicial, faz com que, mesmo em situações de acordo, as decisões judiciais muitas vezes não se efetivem, “porque foram resolvidas sem o conhecimento do verdadeiro problema familiar, uma vez que a essência da conflitiva matrimonial fica fora do controle judicial” (BREITMAN, 2001, p. 137). Também são frequentes situações em que os contendores, em razão do desgaste emocional causado pelo litígio, estabelecem um acordo apenas para encerrar 15 o quanto antes o procedimento, sem refletir sobre a viabilidade e conveniência do acordado, o que geralmente leva à propositura de outras demandas posteriormente (BREITMAN, 2001). Tratando-se de relações que perduram após o término do processo judicial, é preciso atentar para o fato de que uma decisão que não se ajuste à realidade das pessoas envolvidas, e que não tenha a participação e convencimento destas, tende a se tornar ineficaz. Assim, de nada adianta, por exemplo, a definição de um esquema de visitação, se os dias e horários fixados não corresponderem às necessidades dos filhos e às possibilidades dos pais, ou se estes não estiverem convencidos acerca do direito que tem o infante à convivência com o outro genitor. Um esquema de visitação imposto mediante sentença judicial, ou acordado sem que as partes estejam sinceramente dispostas ao seu cumprimento, por mais perfeito que seja do ponto de vista formal, tende a ser ineficaz no cotidiano dos envolvidos4. Situação semelhante ocorre em relação à fixação de pensão alimentícia. Se a condição econômica do alimentante e do alimentado não for corretamente levada em consideração, a determinação judicial restará sem efeito diante da situação fática. Ainda, assevera Leite (2008, p. 124), “se aspectos de ordem emocional não forem solucionados na tentativa de acordo, todos os meios serão empregados pelo cônjuge devedor para frustrar a expectativa do cônjuge credor (e dos filhos, evidentemente)”. Conforme Leite (2008, p. 108): [...] quando os conflitos, de ordem pessoal, não são resolvidos, as disputas tendem a se tornarem intermináveis. Na realidade, quanto maior for a imposição (do Judiciário às partes, ou, em outras palavras, de cima para baixo) maior o risco de duração do litígio, no pós-ruptura, como manifestação de “não acomodação” a uma solução, até prova em contrário, imposta. Com efeito, seja qual for a decisão do magistrado, deixará um dos litigantes insatisfeito, sendo mesmo possível que a solução desagrade a todos. Surgem, então, os pedidos revisionais, seja de alimentos, guarda, visitação, ou quaisquer outros requerimentos de modificação do que já havia sido decidido, tornando infindável o conflito. Em tal situação, é comum que a decisão produza o efeito oposto, ou seja, além de não resolver o problema das partes, intensifica o conflito, na medida em que um dos genitores passa a dificultar ou impedir a aproximação dos filhos com o outro genitor. 4 16 Nesse contexto, a mediação surge como uma alternativa de tratamento dos conflitos num espírito de cooperação e comprometimento, possibilitando a elaboração de acordos eficazes e evitando a rediscussão de questões já decididas em juízo, e a permanência da situação conflituosa entre as partes. 3. Mediação familiar A elevada carga de subjetividade inerente às relações familiares faz com que conflitos dessa natureza sejam mais complexos e de difícil solução e, na maioria das vezes, a resposta apresentada pela jurisdição tradicional não se mostra suficiente. As relações de família não podem continuar sendo tratadas como se fossem determinadas apenas pela objetividade; os aspectos subjetivos que permeiam suas questões não podem ser ignorados pelos operadores do Direito5. Tratando-se de vínculos afetivos e relações que se mantém após o término do processo, o Direito de Família é uma área complexa que exige soluções próprias. Faz-se necessária a busca de soluções duradouras para o futuro que evitem a figura do “vencedor” e do “perdedor”. Quando o casal em conflito tem filhos, estes se tornam as maiores vítimas do confronto. Além de participarem na condição de espectadores, em geral são usados como “armas” pelos pais, que visam atingir um ao outro. Conforme Cezar-Ferreira (2007, p. 121): [...] o que acarreta prejuízos emocionais à criança, vindo, por vezes, a afetar sua vida adulta afetiva e relacional, é o desentendimento entre os pais e o fato de usá-la como “arma de combate”. Suas diferenças, mágoas e ressentimentos é que geram no filho sentimento de insegurança e culpa pela escolha de amor que lhe é imposta, implementando, assim, conflitos de lealdade. Diante do conflito dos pais, a criança pode se sentir obrigada a escolher um deles – em regra, o que detém a guarda – e se sente culpada por amar e se sentir feliz na companhia do outro genitor. Segundo Pereira (2000, p. 63), “para entender o Direito de Família na contemporaneidade é essencial, insista-se, considerarmos que a objetividade dos atos que fazem fatos e desfazem negócios jurídicos é permeada pela subjetividade. Em outras palavras, os atos da vida humana, os atos jurídicos, são praticados por um sujeito que é desejante e traz consigo uma singularidade e uma história pessoal. É dessa singularidade que nós, operadores do Direito, não podemos mais prescindir para exercer eticamente nosso ofício e nossa praxis”. 5 17 Além disso, ao presenciar as brigas e ouvir as queixas dos pais, a criança pode pensar que, se os pais não se amam mais, também deixaram de amá-la por ser fruto daquela união. Nas palavras de Dolto (2003, p. 32): [...] a criança acha que eles lamentam tudo, já que querem anular a palavra empenhada. Ela passa então a acreditar que os pais estão anulando não somente os acordos entre si, mas, ao mesmo tempo, o amor que têm por ela [...]. Seria conveniente evitar que a criança fosse levada a imaginar que, já que os pais não amam mais um ao outro, já não amam nela o outro genitor – ou seja, pelo menos a metade de sua própria vida – mesmo que cada um deles ame a parte que foi concebida por si. Assim, o litígio entre os pais causa nos filhos grande sofrimento e prejuízos emocionais que podem refletir diretamente no seu desenvolvimento, uma vez que as relações familiares constituem “o lugar onde se inicia o treino da convivência e das inter-relação sociais” (CEZAR-FERREIRA, 2007, p. 65). Nesse contexto, a mediação se mostra adequada ao tratamento dos conflitos familiares. Por ser um método não-adversarial, permite minimizar o sofrimento do casal e dos filhos. Segundo Dias (2007, p. 82): [...] por ser técnica alternativa para levar as partes a encontrar solução consensual, é na seara de família que a mediação desempenha seu papel mais importante: torna possível a identificação das necessidades específicas de cada integrante da família, distinguindo funções, papéis e atribuições de cada um. Barbosa (2003, p. 342) define a mediação familiar como: [...] um acompanhamento das partes na gestão de seus conflitos, para que tomem uma decisão rápida, ponderada, eficaz, com soluções satisfatórias no interesse da criança, mas, antes, no interesse do homem e da mulher que se responsabilizam pelos variados papeis que lhe são atribuídos, inclusive de pai e mãe. A mediação familiar não é um mecanismo de assistência psicológica - prática da área de saúde mental, que não se enquadra nas competências do Judiciário -, tampouco uma investigação social, atividade de competência do assistente social, com objetivos e técnicas próprias. A mediação também não se constitui em forma de avaliação psicológica ou social, atividade que, quando desempenhada dentro do Judiciário, tem o caráter de perícia técnica (BARBOSA, 2003). 18 Breitman (2001, p. 136) esclarece que a mediação familiar: [...] não é um subatendimento jurídico, nem uma pseudoterapia e, muito menos, uma justiça suave como muitos acreditam. É, sim, um novo pensamento, uma outra atitude mais tolerante frente aos conflitos, que utiliza diferentes técnicas, através de um novo profissional que prestigia a gestão pacifica dos conflitos, principalmente quando os envolvidos possuem um tipo de relação que subsistirá no futuro. A mediação familiar, então, ajuda essas pessoas a reforçar os laços que estão frouxos, e a desatar alguns nós que dificultam a criação de novos laços. Em contexto, a mediação tem como objetivo evitar, tanto quanto possível, a ocorrência ou a permanência do litígio, pois, conforme destaca Leite, “nem sempre as pessoas em conflito são adversárias e, se eventualmente são, não tem que sê-lo para sempre” (2008, p. 115). Breitman (2001, p. 136) ressalta que: Não existe a pretensão de erradicar o conflito utilizando uma vacina denominada Mediação Familiar, mas ao contrário, o que se busca é aproximar-se do conflito sem preconceitos, pois é aí que se encontra o lugar certo para a transformação. Deste modo, a escolha pelo procedimento de mediação significa, nas palavras de Breitman (2001, p. 139): [...] ingressar em âmbito mais amplo, onde as diferenças podem ser respeitadas, não necessariamente aceitas, promovendo a legitimação mutua entre as pessoas que passam a encarar os conflitos de forma menos defensiva, tendo a oportunidade de reconhecer o potencial de mudança que contém. Portanto, o objetivo primordial da mediação não é extinguir do conflito, mas suprir as deficiências de comunicação e promover uma mudança de atitude entre os mediandos, que passam a encarar o conflito como uma oportunidade de crescimento. Segundo Warat (2004, p. 58): O mediador tem que ajudar cada pessoa do conflito para que elas o aproveitem como uma oportunidade vital, um ponto de apoio para renascer, falarem-se a si mesmas, refletir e impulsionar mecanismos interiores que as situem em uma posição ativa diante de seus problemas. O mediador estimula a cada membro 19 do conflito para que encontrem, juntos, o roteiro que vão seguir para sair da encruzilhada e recomeçar a andar pela vida com outra disposição. A atitude de busca do comum não deve fazê-los perder de vista que devem tomar o conflito como uma oportunidade para gerenciar melhor suas vidas, ir além do problema comum e apostar em melhorar o próprio transcurso vital. Partindo desta mudança de atitude, os mediandos poderão melhorar seu relacionamento, aprendendo a perdoar o outro e compreender a si mesmos, superando o ódio e o desejo de vingança, e passando a buscar a paz interior e o desenvolvimento individual. A superação do conflito surge, então, como consequência do restabelecimento do diálogo e da mudança de atitude das partes (TARTUCE, 2008). No procedimento judicial, por diversas vezes, a essência dos conflitos não é objeto de discussão, o que acaba por inviabilizar o cumprimento dos acordos firmados – visto que o problema que realmente separa os conflitantes não é resolvido, permanecendo o confronto entre eles. Na mediação, os argumentos de cada mediando são atentamente analisados pelo mediador. Procura-se, por detrás dos motivos invocados, encontrar as verdadeiras origens do conflito, para que, uma vez resolvido, possa dar origem a acordos efetivos. A busca pelas origens do conflito, na mediação, tem por finalidade o restabelecimento da comunicação e a pacificação dos conflitantes. Não é objetivo da mediação encontrar a verdade dos fatos, como ocorre no processo judicial, pois as “verdades” de cada parte podem ser diversas. Assim, o que se busca na mediação não é a verdade absoluta, mas simplesmente a reconstrução dos fatos que satisfaça as partes (SPENGLER, 2010). Não é possível encarar a dissolução do vínculo conjugal como um fato isolado. Após a ruptura, todos os integrantes do grupo familiar terão que se reestruturar tanto no âmbito emocional quanto em aspectos sociais e econômicos. A mediação desloca a responsabilidade do Poder Judiciário para as os mediandos, que decidem, sozinhos, questões pessoais e de interesse exclusivo do grupo familiar. A responsabilização dos mediandos na tomada de decisões possibilita a busca pela solução que melhor se ajuste às suas necessidades. Ao possibilitar a reflexão dos mediandos sobre a conveniência e viabilidade do acordado, a mediação evita a celebração de acordos que signifiquem um mero encerramento do processo, e que, não podendo ser postos em prática porque dissociados 20 da realidade, fatalmente darão origem a novas demandas6, como é frequente nas ações que visam a fixação de alimentos ou de esquemas de visitação. O que a mediação busca é “a conscientização do dever, independente da cogência da lei” (LEITE, 2008, p. 124). Tratando-se, por exemplo, de investigação de paternidade, se não houver, por parte do genitor, a interiorização da ideia da paternidade com todas as suas implicações, uma sentença judicial se limitará a garantir efeitos de ordem pessoal e patrimonial, mas jamais poderá atingir seu verdadeiro objetivo, de estabelecimento de uma relação efetiva entre pai e filho. Assim, a mediação permite “gerir a transição entre o antes e o depois” (LEITE, 2008, p. 124), buscando soluções adaptadas às peculiaridades de cada grupo familiar, e aos interesses dos envolvidos, que venham a ser efetivamente cumpridas, minorando o litígio e possibilitando a continuidade das relações familiares. 4. Conclusão A mediação familiar tem como objetivo primordial trabalhar a aproximação dos conflitantes, suprindo as deficiências de comunicação existente entre eles. A partir do restabelecimento da comunicação, se torna possível aos mediandos uma melhor compreensão das circunstâncias que envolvem o conflito. A proposta é que os mediandos possam separar seus sentimentos de seus reais interesses, deixando para trás o conflito até então existente, e focando sua atenção no futuro, trabalhando na busca de soluções que atendam, da melhor forma possível, aos seus interesses e aos interesses dos filhos. Assim, ao invés de transferirem a um magistrado a tarefa de solucionar seus conflitos e decidir seu futuro, as partes buscam por si próprias a solução que melhor se adapta às suas necessidades, respeitados os limites legais. Deste modo, os acordos firmados através da mediação têm maiores chances de serem cumpridos, uma vez que os mediandos não seguirão uma decisão imposta, mas simplesmente cumprirão o ajuste que eles próprios se obrigaram. Sabe-se que, em nosso país, não existe uma cultura de utilização da mediação. De modo geral, nossa sociedade é bastante apegada ao formalismo e à segurança juNesse sentido, merece destaque a vantagem da mediação em relação à conciliação. Nesta, o acordo entre as partes é estimulado de forma intensa pelo conciliador, o que pode levar as partes a renunciarem a certos aspectos de suas pretensões. As perdas mútuas podem tornar o acordo insatisfatório para ambas as partes, e fazer ressurgir a controvérsia em processo judicial futuro. A mediação, por sua vez, aborda a controvérsia de forma mais ampla, permitindo a formulação de acordos ponderados e verdadeiramente eficazes. 6 21 rídica do processo tradicional – que erroneamente acredita-se ser maior no processo judicial do que nos outros métodos de tratamento de conflitos -, ainda que este apego à jurisdição signifique esperar mais pelas decisões e estas, quando chegam, muitas vezes não são adequadas. É preciso um intenso trabalho de conscientização dos operadores do direito e da sociedade em geral para que a mediação seja uma alternativa cada vez mais adotada para o enfrentamento das controvérsias. A regulamentação legal da mediação através do Projeto de Lei de Mediação e do Projeto do Novo Código de Processo Civil, ambos atualmente em trâmite, pode significar um importante passo para a maior difusão do método. Assim, uma maior utilização da mediação familiar passa por uma necessária mudança de mentalidade, amparada por modificações legislativas, o que demanda tempo e se concretiza gradualmente. Certo é, contudo – que a doutrina afirma e a experiência tem comprovado –, que a mediação familiar permite a minimização dos conflitos e, consequentemente, do sofrimento inevitável que atinge o casal e os filhos no rompimento da relação conjugal. Contribui, ainda, para agilizar as decisões concernentes à guarda, visitação, alimentos e divisão do patrimônio. E, sobretudo, permite chegar a soluções que, tendo sido elaboradas pelos próprios envolvidos de acordo com suas necessidades, poderão ser postas em prática trazendo benefícios a todos os integrantes do grupo familiar. 5. Referências Bibliográficas BARBOSA, Águida Arruda. Mediação familiar: uma vivência interdisciplinar. In: GROENINGA, Giselle Câmara; PEREIRA, Rodrigo da Cunha (Coords.). Direito de família e psicanálise: rumo a uma nova epistemologia. Rio de Janeiro: Imago, 2003. BREITMAN, Stella Galbinski. Mediação familiar – do conflito ao acordo. In: INSTITUTO INTERDISCIPLINAR DE DIREITO DE FAMÍLIA – IDEF (Coord.). Direito de família e interdisciplinaridade. Curitiba: Juruá, 2001. CEZAR-FERREIRA, Verônica da Motta. Família, separação e mediação: uma visão psicojurídica. São Paulo: Método, 2007. DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 4. ed. São Paulo: RT, 2007. 22 ______. GROENINGA, Giselle. A mediação no confronto entre direitos e deveres. Disponível em: <http://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=42>. Acesso em: 28 maio 2010. DOLTO, Françoise. Quando os pais se separam. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2003. LEITE, Eduardo de Oliveira. A mediação nos processos de família ou um meio de reduzir o litígio em favor do consenso. In:______. Mediação, arbitragem e conciliação. Rio de Janeiro: Forense, 2008. PEREIRA, Rodrigo da Cunha. A sexualidade vista pelos tribunais. Belo Horizonte: Del Rey, 2000. RODRIGUES JÚNIOR, Walsir Edson. Mediação, autonomia e responsabilidade na dissolução da sociedade conjugal. In: LEITE, Eduardo de Oliveira. Mediação, arbitragem e conciliação. Rio de Janeiro: Forense, 2008. SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento de conflitos. Ijuí: Unijuí, 2010. TARTUCE, Fernanda. Mediação nos conflitos civis. São Paulo: Método, 2008. VASCONCELOS, Carlos Eduardo de. Mediação de conflitos e práticas restaurativas. São Paulo: Método, 2008. WARAT, Luis Alberto. Surfando na pororoca: o ofício do mediador. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2004. 23 A NECESSIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO EM FACE À ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA: A POSSÍVEL IMUNIDADE DO DEPOSITÁRIO JUDICIAL INFIEL Diego Reinheimer Bernardes7 Aline Burin Cella8 RESUMO Este estudo tem por escopo, através de argumentação teleológica e axiológica, analisar criticamente a inteligência dos recentes julgados exarados pelo Supremo Tribunal Federal que afastaram do direito brasileiro a hipótese de prisão civil de qualquer espécie de depositário infiel, os quais deram ensejo à edição da súmula vinculante número 25. Para tanto, se conjugou a normatividade posta, mormente a disciplina da Constituição Federal e dos tratados internacionais. A ineficiência do processo civil, com a não entrega do bem da vida a quem de direito, e a não rara ineficácia dos efeitos da decretação da fraude à execução igualmente foram abordadas. Aprofundou-se na análise da moderna jurisprudência do Supremo Tribunal Federal atinente a matéria, quando do afastamento da hipótese de prisão civil no Brasil em qualquer de suas espécies. Aspirou-se investigar com profundidade a necessidade e possibilidade de prisão civil do judicial depositário infiel em face à administração da justiça, visto questionável interpretação extensiva empregada pela Excelsa Corte. Questionou-se os vícios procedimentais existentes na edição da súmula vinculante número 25, tanto de Bacharel em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul. Advogado. E-mail: diego@litoralmania. com.br. 7 Mestre em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul. Professora universitária e Advogada. E-mail: [email protected]. 8 24 ordem material como formal. Cuidou-se do embate e da necessária ponderação entre os direitos fundamentais envolvidos, dentre eles a dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à justiça. Por derradeiro, se verificou a carência de atividade legislativa, seja na esfera civil ou na penal, suprimindo perigosa lacuna criada pelo julgado do Supremo Tribunal Federal e readequando o tema como contribuição à manutenção e correção da ordem social. Para obtenção do intento, utilizou-se na concepção da presente pesquisa o método dedutivo, valendo-se de procedimento hermenêutico. Palavras-chave: depositário infiel, necessidade, prisão civil, responsabilização, súmula vinculante número 25. 1. Introdução Há muito se tem presente ser função precípua do Poder Judiciário resguardar e recompor direitos ameaçados ou violados, configurando-se como mola propulsora de defesa de todo o rol de direitos fundamentais insculpidos na Constituição Federal; dentre eles o acesso à justiça e ao processo justo, eficaz e temporalmente adequado. Não obstante, recentemente, o Supremo Tribunal Federal entendeu por afastar do ordenamento brasileiro a hipótese de prisão civil de depositário infiel, em qualquer de suas espécies, sob argumento da adesão do Brasil à Convenção Americana de Direitos Humanos e ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, dando ensejo à edição da súmula vinculante número 25. Referidos atos internacionais vedam a hipótese de prisão civil por dívidas e em decorrência de descumprimento contratual, excetuando tão somente os mandados de autoridade judiciária competente, expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar. Assim, urge necessário o estudo pormenorizado da situação, revisitando criticamente a inteligência dos novos julgados exarados pela Excelsa Corte no atinente a impossibilidade de prisão civil do judicial depositário infiel, porquanto, em situações específicas, criou-se verdadeira imunidade a este, facilitando fraudes processuais e impossibilitando sobremaneira a concretização da atividade jurisdicional, a qual sobeja destituída de efetividade. Sopesando-se referida conjuntura, revela-se indispensável o estudo acurado de suas nuances, imergindo pelos recônditos do Direito Constitucional, Internacional, 25 Civil, Processual Civil e até mesmo penal, utilizando-se, para tanto, do Método de Abordagem Dedutivo e do Procedimento Hermenêutico. O tema proposto é analisado não simplesmente sob a ótica dos direitos humanos, mas sim, com ênfase à administração da justiça e seus efeitos no processo de execução civil. Cumpre destacar, finalmente, que o escopo central do artigo cinge-se a análise da possibilidade e necessidade de responsabilização do depositário infiel, quando em exercício de múnus público, em face à administração da justiça. Para tanto, a presente pesquisa foi estruturada em dois capítulos nucleares: No primeiro capítulo, trar-se-á a lume elementos inerentes ao processo civil, tais como a efetividade do processo e a concretização prática dos julgados, a responsabilidade patrimonial como mote da execução, explanação sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal quanto à impossibilidade de prisão por infidelidade depositária e a ineficácia dos efeitos da decretação da fraude à execução. No derradeiro capítulo, se avaliará a necessidade e possibilidade de responsabilização do judicial depositário infiel em face à administração da justiça, a configuração de fraude ao Poder Judiciário, exame crítico à súmula vinculante número 25, assim como a carência legislativa regulatória do cerne da questão. 2. Efetividade do processo civil posta à prova Os conflitos contemporâneos sofreram drástica alteração em sua configuração, donde se carece cada vez mais da prestação jurisdicional do Estado. Não raro, as contendas aportam em profusão numérica no Poder Judiciário, e mais do que efetividade temporal, buscam os litigantes a qualidade dos julgados emanados e sua concretização em resultados práticos. Sob esta ótica, e visando encerrar a drástica distinção entre a cognição do Direito e a executividade do decisum, tratou o legislador de editar duas novas leis – nº. 11.232 de 2005 e nº. 11.382 de 2006 -, tendo como parâmetro a busca da celeridade, desburocratização, economicidade, efetividade material, rejuvenescimento e adequação da forma de atuação estatal. Isto porque, como consabido, de nada vale uma sentença ou acórdão que não detenha força coativa e que não possa impor à parte sucumbente o cumprimento de seu dispositivo. A tutela executiva é primordialmente satisfativa, partindo de um título, seja 26 ele judicial ou extrajudicial, consagrando uma obrigação e tendo por escopo entregar o bem da vida a quem de direito, sendo tal, consectário lógico do próprio direito de acesso à justiça e parte integrante da dignidade da pessoa humana. Inobstante, o Poder Judiciário parece há longa data olvidar desta premissa. Não há uma certa virtude em pôr definitivamente fim a uma querela, a um litígio ou a uma infração? Um tal gosto pelo provisório não acabará por fazer com que impere uma incerteza permanente e contrária à segurança, quando esta é uma das virtudes principais do direito? A justiça não deve esquecer-se de que, aquilo que a sociedade espera de si, é que ponha cobro a uma situação ou a um acto, remetendo-os definitivamente para a categoria do passado. (GARAPON, 1999, p. 69-70) Deve-se, enfim, achar modos de dizimação da disputa entre a efetividade quantitativa e qualitativa (SPENGLER, 2008, p. 41-51), visto que ambas devem juntas percorrer e encerrar a tutela requestada, sob pena de restar eliminada a segurança que vigora entre os jurisdicionados, pois nenhum efeito gerará uma sentença passada em julgado que dependa de posterior execução, quando desta fase processual não se possa alcançar os seus resultados ao titular do direito. Acepção esta acolhida por Carlos Alberto Alvaro de Oliveira (2008, p. 36): Diante do caráter normativo da efetividade e da segurança no âmbito do processo, a adequação da tutela jurisdicional deve ser considerada como a aptidão desta para realizar a eficácia prometida pelo direito material, com a maior efetividade e segurança possíveis. Neste sentido, “ainda que haja juiz, advogado e processo, se nada, ou muito pouco, se pode pretender em decorrência de determinado enunciado normativo ou situação de interesse, pouco importará o instrumental disponível no caso”. (BARCELOS, 2008, p. 333). Assim, mais do que arquivar processos aos borbotões, deve o Judiciário atender dignamente à tutela a qual fora chamado a interceder, cumprindo temporalmente o seu ministerium e efetivando a satisfação da pretensão buscada. Esta é a asserção que se extrai de José Joaquim Gomes Canotilho (p. 499-501) ao se proceder na conjugação do que ele qualifica como meios de defesa jurisdicionais: proteção jurídica eficaz e temporalmente adequada e direito à execução das decisões dos tribunais. 27 Todavia, muitas são as barreiras a serem transpostas para o completo esgotamento do feito executivo; e, pelo que se denotará, o Supremo Tribunal Federal quedou por criar, incorretamente, mais um subterfúgio ao devedor. 2.1 A penhora e a expropriação de bens do devedor como garantia à dívida Com a evolução histórica, a forma de execução de resoluções civis que eram dirigidas ao corpo do executado, seja com restrição de sua liberdade, seja com sua morte, passaram a se inclinar ao patrimônio deste. Em questão, por conseguinte, o princípio da realidade da execução que busca destacar que este procedimento de natureza civil recai precipuamente sobre o patrimônio do devedor, não sobre sua pessoa, conquanto as exceções fundamentadas no ordenamento. Deste modo, através do devido processo legal, o devedor terá seus bens constritos, na exata razão do teor do título executivo, o qual estabelece três situações subjetivas de suma importância ao feito executório: (I) confere ao órgão judicial função executiva (poder-dever de agredir o patrimônio do devedor para satisfazer o direito do credor); (II) confere ao credor o poder (ação) de exigir a realização de tais medidas constritivas pelo órgão judicial; e (III) em correspondência às duas primeiras posições, submete o devedor à responsabilidade executiva ou patrimonial. (WAMBIER, 2001, p. 108) Penhora esta que consiste na individualização de bens, dentre aqueles do patrimônio do devedor ou até mesmo de terceiros em situações especiais, afetando-os em favor do juízo, permitindo sua ulterior expropriação, a qual se amolda como ato público e estatal, sem caráter contratual (WAMBIER; TALAMINI, 2008, p. 209). Todas estas ações, entretanto, dependem da existência de patrimônio do executado, e de que estes se enquadrem na categoria de bens penhoráveis, sem o que, ineficiente qualquer medida. Assim, a fim de possibilitar o recebimento da quantia que lhe é devida, o credor, caso não a receba espontaneamente deverá executar judicialmente o quantum debeatur, indicando bens do patrimônio do executado à penhora, com a finalidade de posteriormente adjudicá-los ou expropriá-los, seja por hasta pública, seja através de alienação por iniciativa particular. E para perfectibilizar a penhora, determina o Diploma Processual Civil a necessidade de apreensão e depósito dos bens do devedor. 28 Assim, tem-se que o depósito judicial é “espécie de depósito não voluntário, que é auxiliar do juiz (CPC 148), tem lugar todas às vezes em que é necessária a nomeação de responsável para a guarda e conservação de bens penhorado”. (NERY JÚNIOR; NERY, 2010, p. 1086). Deste modo, a relação jurídica do devedor se desdobra, passando concomitantemente a desempenhar a função de sujeito da relação processual executiva e de depositário de bens sujeitos à expropriação, mediante técnica processual (ASSIS, 2007, p. 623). Situação que Ovídio Araújo Batista da Silva (1998, p. 96) denomina de “simultaneidade de posses escalonadas”. Perceba-se que a figura do depositário acaba por atingir alto nível dentro do sistema judiciário, em vista de sua atuação auxiliar à administração da justiça, enquadrando-se, verbi gratia, no patamar do escrivão, do oficial de justiça, do distribuidor, do contador e do intérprete (SANTOS, 2010, p. 147). O depositário, assim, tem por obrigações primordiais o dever de guarda da coisa, o qual é inerente ao depósito, constituindo sua obrigação típica, bem como o comprometimento de conservar a coisa, agindo com toda a diligência possível para tanto, como se sua fosse (diligentiam suam quam suis). Por terceiro, e último, tem por dever a restituição ou apresentação do bem tão logo determinado ou requerido pelo depositante (PEREIRA, 2005, p. 364 et seq.). Em descumprindo, seu ônus injustificadamente estaria sujeito à prisão civil, nos termos do artigo 5º, LXVII da Constituição Federal; artigo 652 do Código Civil; e artigo 904, parágrafo único do Código de Processo Civil; porquanto caracterizado encontrar-se-ia o depósito infiel. 2.2 O Supremo Tribunal Federal e a impossibilidade de prisão civil ao judicial depositário infiel A Excelsa Corte, ao término do ano de 2008, exarou decisão paradigmática no que atine a hierarquia de recebimento dos atos internacionais no plano doméstico, sendo que esta situação se deu quando analisada a subsistência da prisão civil do depositário infiel em razão da adesão brasileira a certos atos internacionais de direitos humanos. Tratava-se da análise em plenário de três distintas ações em tão somente um único julgamento: Habeas Corpus número 87.585 de Tocantins, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; Recurso Extraordinário número 466.343 de São Paulo, relatado pelo 29 Ministro Cezar Peluso; e Recurso Extraordinário número 349.703, proveniente do Rio Grande do Sul, relato da lavra do Ministro Carlos Britto. Em atualização ao entendimento até então vigente no Supremo Tribunal Federal, extirpou-se do ordenamento jurídico a possibilidade de prisão civil do depositário infiel em qualquer de suas espécies, em face dos tratados de direitos humanos, mormente o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e à Convenção Americana sobre Direitos Humanos; uma vez que, a estes últimos, atribuiu-se caráter hierárquico normativo especial, com status supralegal, acabando por tornar inaplicável a legislação infraconstitucional com ele conflitante, seja anterior ou posterior ao ato de adesão. Assim, atribuíram a suspensão da eficácia das normas internas ordinárias que estabeleciam a prisão civil do depositário infiel, as quais, por consectário lógico, deixaram de produzir resultados. Caso em que se encontrava o artigo 652 do Código Civil, o qual regulamentava a hipótese, o prazo de prisão e cominações outras de responsabilização ao infiel depositário. Como apreciou o Supremo Tribunal Federal, a norma insculpida no artigo 5º, LXVII da Constituição Federal, é de eficácia limitada (SILVA, 2006, p. 118). Como houve a suspensão das normas subalternas ao texto Constitucional e agora, por convencionalidade aos atos internacionais, à exceção do dispositivo, não mais apresenta a instrumentalidade necessária para o seu vigor, restando afastada, por ora, a aplicação da prisão civil na legislação pátria. 2.3 Da ineficácia dos efeitos da decretação da fraude à execução e a consequente derrocada do processo executivo civil A fraude à execução é matéria relacionada ao Direito Público, de natureza processual (MIRANDA, 1976, p. 457), porquanto visa resguardar e garantir a tutela satisfativa do julgado, passando o Estado a possuir interesse no término do imbróglio, realizando sua autonomia e autoridade (LIMA, 1979, p. 557). Para a configuração da fraude, há a necessidade da figura da litispendência, devendo, há época do ato de disposição, tramitar em face do devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência. Questão mais grave se forma quando trata-se de ato de alienação ou doação de bem penhorado, neste caso, caracterizando-se independentemente de estar ou não insolvente o devedor, não podendo o terceiro adquirente opor seu título de posse ou propriedade ao credor; e especialmente ao juízo que determinou a penhora, a qual 30 permanecerá hígida, produzindo todos os seus efeitos (NERY JÚNIOR; NERY, 2010, p. 1043). Normalmente, o próprio devedor (ou terceiro responsável, titular do bem) ficará como depositário, permanecendo-lhe a posse imediata (direta, real). Essa posse imediata tem seu fundamento (título) alterado em virtude do depósito: antes o devedor a detinha apenas porque proprietário do bem, dele usando e fruindo como bem entendesse; depois, continua a ser proprietário, mas só permanece com a posse porque é depositário, cabendo-lhe conservá-lo adequadamente. (WAMBIER, 2001, p. 187) Deste modo, estando o bem atrelado a lide executiva, tendo este liame sido perfectibilizado pelo ato de depósito, em determinando o magistrado a apresentação ou entrega da res pignorata e não cumprindo o comando exarado, incorre o depositário em infidelidade e sucessivamente em fraude à execução. Para retomar a ordem, e prosseguir na busca do bem da vida, deverá o juiz reconhecer a fraude à execução ex officio, ou poderá o credor nos próprios autos da execução, sem a necessidade de distribuição de ação autônoma ou incidente, requerer ao juízo executivo que declare a ineficácia do ato de disposição (MOURA, 1975, p. 202). A atuação normativa funciona a contento em se tratando de bens imóveis - cercados de maior solenidade por lei, caracterizados minuciosamente e levados a efeito através de registro próprio -, mormente por sua natureza imutável, não havendo quanto a estes maiores dificuldades, senão a morosidade processual, para declarar a ocorrência da fraude à execução e trazê-lo uma vez mais ao processo, prosseguindo nos atos expropriatórios; sendo, para tanto, ônus do credor comprovar que o terceiro adquirente detinha ciência da ação pendente contra o devedor ou instituidor do ônus real (SANTOS, 1990, p. 256), bem como demonstrar a má-fé deste. Em regra, a publicidade da constrição se dá com o registro da penhora na matrícula do imóvel, a qual, inclusive detém presunção juris et de jure, porquanto configura-se diligência mínima a ser realizada pelo homem médio àquela junto aos registros do imóvel. Nota-se que o direito de sequela, inerente aos Direitos Reais e às obrigações reipersecutórias, é instituto presente na execução (MARINONI; MITIDIERO, 2010, p. 613). É que, nos casos em que há a existência de vínculo entre o bem alienado ou 31 gravado e a lide executiva, a constrição segue o bem onde quer que ele esteja (THEODORO JUNIOR, 2008, p. 207-208). Nesse mote, oportuno ressaltar que, enquanto limitado pela penhora, o titular do domínio mantém consolidados os poderes inerentes à propriedade, entretanto ineficazes perante o processo os atos de disposição, conquanto existentes, válidos e eficazes inter partes (ASSIS, 2006, p. 578). O cerne do problema reside nos bens móveis. Primeira ressalva se faz à penhora de dinheiro em espécie, seja o que estava em poder do devedor, seja aquele depositado em instituição bancária. Nestes casos, o valor restrito será devidamente depositado em conta judicial remunerada, ficando diuturnamente à disposição do juízo. Quanto aos automóveis e motocicletas, outra advertência, haja vista que apesar de bens móveis, possuem registro específico e podem ser localizados, em geral, após acuradas diligências. Considera-se ainda a exceção, quanto a estes últimos, em situações específicas, onde não se poderá localizar o bem penhorado, sobretudo por não ser do interesse do devedor e este não apresentar-se disposto a colaborar com a regularidade processual. Assim, havendo a penhora de joias, semoventes, ornamentos que guarnecem a residência e, eventualmente, de veículos automotores, bem como de outros bens do mesmo gênero, a ineficácia aduzida por lei aos atos de disposição não produz qualquer resultado prático, visto que não mais localizáveis, e por consequência não podendo ser adjudicados pelo credor ou alienados no curso da execução. Para estes casos de deslealdade do executado restará unicamente ao juiz fixar multa em montante não superior a 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito em execução, aproveitável em favor do credor, bem como sancionar no dever de indenizar o dolo processual (ASSIS, 2006, p. 318). Ocorre que, para completar a calamitosa situação desenhada, se no polo passivo do feito constar devedor a partir de então insolvente, a execução pifiamente findará, pois se já não se obteve a satisfação do título executivo com a localização de bem penhorável de propriedade do executado, com a aplicação da multa e a elevação substancial do montante devido, inexistindo outro bem que possa vir a substituí-lo pelo princípio da responsabilidade patrimonial, por certo o feito seguirá o caminho do arquivo judicial, permanecendo o depositário infiel, fraudador da execução, sem qualquer penalidade eficaz no campo civil. A situação, até então, parece se perpetuar, estando longe dos anseios da sociedade. 32 Mais uma vez se está frente a uma face da crise do Poder Judiciário. Crise de ineficiência ante a impossibilidade de fazer cumprir suas próprias decisões. Uma ineficiência que leva ao descrédito daquele jurisdicionado que emprestou confiança em um Poder da República que tem a tarefa constitucional de guardar e proteger os direitos de cada um e de todos. (SPENGLER; SPENGLER NETO, 2011, p. 51) Sobreleva-se clarividente, logo, a necessidade de adequação dos preceitos hoje postos, seja com a modificação de entendimento, amoldando-se à interpretação da Constituição Federal e dos Tratados Internacionais, seja através de atividade legiferante corrigindo a ordem social, como se terá a oportunidade de analisar acuradamente a seguir. 3. Depositário judicial infiel: possibilidade e necessidade de responsabilização em face à administração da justiça Observa-se que sob o argumento humanista, dos tratados internacionais de direitos humanos aos quais o Brasil aderiu, o Supremo Tribunal Federal afastou do ordenamento jurídico a hipótese de prisão civil do depositário infiel em todas as suas espécies. Todavia, o juízo ventilado extrapola as prerrogativas constitucionalmente asseguradas ao Poder Judiciário, ao passo que, se arvorando nas atribuições do Legislativo, quedou por se espraiar em atividade que não lhe incumbe, qual seja, a de editar normas. Isto porque a vedação apresentada pelos atos internacionais, tidos como balizamento à questão, tão somente encerram a prisão civil por dívidas ou em decorrência de contratos. Não obstante, ponderou a Corte Soberana a inclusão nesta mesma esteira também do depositário infiel em cumprimento de múnus publico, o qual de modo algum pode ser confundido com alguma daquelas previsões. Rememora-se que o depósito pode ser classificado como contratual ou voluntário; necessário ou legal; ou judicial. Destes, o único desvinculado de qualquer relação contratual, assim como não atrelado a dívidas, é o depósito judicial, tanto que sua previsão não vem no Código Civil, mas sim insculpida no Código de Processo Civil. Destarte, inconcusso que não deve o julgador ir além de suas prerrogativas e competência, fazendo às vezes de legislador, como no caso ora em apreço, idealizando entendimentos além do que a norma desejava prever, em flagrante interpretação 33 extensiva, com supedâneo na pretensa mens legislatoris e em desrespeito a interdependência dos poderes consagrada como cláusula pétrea pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (LENZA, 2011, p. 436). O magistério de Cândido Rangel Dinamarco (2005, p. 243) caminha nesta direção, ao trabalhar a liberdade de atuação do juiz: Este pensa no caso concreto e cabe-lhe apenas com sua sensibilidade, buscar no sistema de direito positivo e nas razões que lhe estão à base, a justiça do caso. Tem liberdade para a opção entre duas soluções igualmente aceitáveis ante o texto legal, cumprindo-lhe encaminhar-se pela que melhor satisfaça seu sentimento de justiça. Não tem, contudo, salvo em situações teratológicas, o poder de alterar os desígnios positivados pelo Estado através da via adequada, ainda que para corrigir situações que lhe pareçam desequilibradas [...]. Veja que não se trata nem mesmo de lacuna legislativa, onde se permite ao juiz preenchê-la utilizando-se dos meios indicados em lei; o texto constitucional, bem como os tratados internacionais, delimitam em sua plenitude a matéria, não dando margem discricionária neste atinente ao Poder Judiciário. Reproduz-se, por oportuno, trecho do voto do então Ministro do Supremo Tribunal Federal Francisco Rezek (BRASIL, 1996): [...] não se prendem pessoas porque devem dinheiro. Mas abre duas exceções. E o que vamos presumir em nome do equilíbrio? Que essas duas exceções têm peso mais ou menos equivalente. No caso do omisso em prestar alimentos, a linguagem constitucional é firme: inadimplemento voluntário e inescusável da obrigação. E, ao lado disso, o que mais excepciona a regra da proibição da prisão por dívida? O depositário infiel. Mas nunca se há de entender que essa expressão é ampla, e que o legislador ordinário pode fazer dela, mediante manipulação, o que quiser. O depositário infiel há de enquadrar-se numa situação de gravidade bastante para rivalizar, na avaliação do constituinte, com o omisso em prestar alimentos de modo voluntário e inescusável. [...]. Esse é o depositário infiel cuja prisão o constituinte brasileiro, embora avesso à prisão por dívida tolera. Condição que alcança o depositário infiel judicial, o qual tem por escopo resguardar a própria efetividade jurisdicional, inerente ao acesso à justiça e elevado a categoria de direito fundamental. Pertinente, ainda, a visão do Ministro Teori Albino Zavascki (BRASIL, 2008) sobre o tema: 34 Ao ser investido do encargo, o depositário judicial não está contraindo “dívida” perante o órgão judiciário ao qual serve as partes envolvidas na demanda. Está, sim, assumindo, perante o Juízo, os deveres próprios desse encargo, que decorrem diretamente da lei. [...]. Ora, considerada essa peculiar condição jurídica do depositário judicial de bens penhorados, que não resulta de contrato, nem representa uma dívida, não se pode ter por incompatível a sua prisão civil com as normas de direito internacional acima referidas. Em outras palavras: a norma de direito interno que autoriza a prisão civil do depositário infiel [...] é incompatível com os tratados internacionais sobre direitos humanos, mas não de modo absoluto. Pelo menos no que se refere à prisão civil de depositário judicial de bens penhorados, essa incompatibilidade não se verifica. Finaliza, deste modo, Manoel Jorge e Silva Neto (2010, p. 634) pela inexatidão conceitual da inteligência dos recentes julgados exarados pela Corte Suprema: Com isso, pode-se concluir que o STF ampliou indevidamente [...], a proibição de prisão de depositário infiel, pois, ao dirigir a vedação igualmente para o depositário judicial, desnaturou, por completo, o espectro das normas internacionais que tencionavam verificar a proibição exclusivamente para as hipóteses de prisão civil por dívida e decorrente de depósito contratual ou legal, o que não é o caso de quem recebe o encargo processual de guardar bens penhorados, por exemplo. Ante o exposto, revela-se excessiva a abrangência aferida na interpretação da Convenção Americana de Direitos Humanos e do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos ajustada pelo Supremo Tribunal Federal, no momento em que transpôs sua jurisdição, adentrando em esfera de competência exclusiva do Poder Legislativo, quedando por gerar verdadeiro abalo à já debilitada efetividade do Processo Civil, e anuindo reflexamente com a fraude à administração da justiça. 3.1 Da fraude à administração da justiça O ato não autorizado de disposição do bem relacionado ao feito executivo civil, máxime daquele constrito pela penhora, constitui grave mácula à jurisdição, impedindo que opere a atuação estatal sobre o patrimônio do executado, momento em que este busca elidir-se maliciosamente dos deveres aos quais assumiu aceitando o encargo de depositário. 35 Ao aquiescer voluntariamente com as responsabilidades inerentes ao depósito, há aqui uma extensão do Poder Judiciário, atuando hierarquicamente como longa mão do Juiz. Esta relação - volte-se a dizer - não diz respeito ao objeto material da tutela executiva, mas sim como garantia de sua eficiência. Por tanto, ao descumprir tais deveres, o depositário atenta aos mais elementares princípios em face à administração da justiça, obstando ilicitamente a própria atividade jurisdicional do Estado (ARENHART; MARINONI, 2008, p. 264), perturbando o regular andamento da ação e frustrando a sua efetividade (ASSIS, 2007, p. 244), representando esta conduta ato atentatório à função jurisdicional. (ZAVASCKI, 2004, p. 227). Ardil este que macula sobremaneira o lento e dispendioso processo executivo, subtraindo o bem objeto da execução, frustrando não só os interesses do credor, mas, última ratio, a própria Administração da Justiça (THEODORO JUNIOR, 2010, p. 186). Há de se referir que, no processo civil contemporâneo aplicado no Brasil, vigora o princípio da cooperação, atribuindo ao juiz o dever de prestar a adequada e efetiva tutela e as partes de recebê-la, fornecendo ao magistrado os elementos e colaboração necessária para tanto (MARINONI; MITIDIERO, 2010, p. 343), prosperando conjuntamente os deveres de lealdade e da boa-fé para com a realização da Justiça. Assim, todo e qualquer ato que vise a perturbar o procedimento executivo, e especificamente do depositário infiel nomeado no curso de processo executivo, muito mais do que simplesmente embaraçar a possibilidade de o credor vir a receber seu crédito, cria graves e perigosas consequências ao Estado enquanto administrador da Justiça, por intermédio do Poder Judiciário; uma vez que entendimento oposto consagraria a negativa do Estado de prestar tutela jurídica ao credor (ASSIS, 2010, p. 705). Se o Judiciário não possuir meios de voltar-se contra o adquirente do bem (CASTRO, 2000, p. 64), ou em sendo algum daqueles bens de difícil localização, de nada adiantará a fixação de multa ou outra astreinte do naipe, já que este restará insolvente, não mais detendo condições de saldar suas obrigações, inutilizando por completo a sistemática processual, sobressaindo-se imune o fraudador, especialmente pela incorreção interpretativa aventada pela Excelsa Corte ao vedar a prisão civil do depositário infiel judicial, conquanto expressa hipótese em lei. 36 3.2 Dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à justiça A matéria traz imbricada em sua essência, como pano de fundo, um pretenso embate entre dois direitos ditos fundamentais. Direitos estes inerentes a condição do próprio Estado, o qual é visto como uma “sociedade política, existente para realizar a segurança, a justiça e o bem-estar econômico e social” (CARVALHO, 2010, p. 169). Apesar da dificuldade da fixação conceitual da dignidade da pessoa humana, Ingo Wolfgang Sarlet (2001, p. 392) a define como sendo: [...] a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos [...]. Por sua vez, Schmitt (1958), citado por Robert Alexy (2008, p. 433), pondera que estes são “destinados, antes de tudo, a assegurar a esfera da liberdade do indivíduo frente a intervenção do poder público; são direitos de defesa do cidadão frente ao Estado”. Sob outro norte, Kildare Gonçalves Carvalho (2010, p. 169) anuncia que “a justiça possibilita que, nas relações entre os homens, seja substituído o arbítrio da violência individual por um complexo de regras capazes de satisfazer o direito natural da própria justiça”. Justiça que deve ser compreendida em todas as suas nuances como aquela que, substituindo a tutela privada, entregará o bem da vida ao seu titular, sob respeito dos valores proclamados na Constituição Federal, pois o “princípio da proteção judicial efetiva configura pedra angular do sistema de proteção de direitos” (MENDES; COELHO; BRANCO, 2011, p. 963). Ocorre que, para afastar a prisão civil do depositário judicial infiel, o Supremo Tribunal Federal optou por dar prevalência à dignidade da pessoa humana do demandado, em afronta àquele que detinha o direito, e em detrimento a capacidade tutelar do Poder Judiciário. 37 Desenha-se, destarte, o embate entre os mesmos valores diretivos entre dois sujeitos distintos, quais sejam, os que figuram nos polos da demanda executiva. Sendo todas as pessoas iguais em dignidade (embora não se portem de modo igualmente digno) e existindo, portanto, um dever de respeito recíproco (de cada pessoa) da dignidade alheia (para além do dever de respeito e proteção do poder público e da sociedade), poder-se-á imaginar a hipótese de um conflito direto entre as dignidades de pessoas diversas, impondo-se – também nestes casos – o estabelecimento de uma concordância prática (ou harmonização), que necessariamente implica a hierarquização (como sustenta Juarez Freitas) ou a ponderação (conforme prefere Alexy) dos bens em rota conflitiva, neste caso, do mesmo bem (dignidade) concretamente atribuído a dois ou mais titulares. Na mesma linha – muito embora com implicações peculiares – situa-se a hipótese de acordo com a qual a dignidade pessoal poderia ceder em face de valores sociais mais relevantes, designadamente quando o intuito for o de salvaguardar a vida e a dignidade pessoal dos demais integrantes de determinada comunidade. (SARLET, 2010, p. 143) Assim, de um lado o direito à liberdade (devedor); de outro, o direito à tutela jurídica efetiva, quando não raro combinado ao direito à vida, ou à recomposição de direitos diversos dilacerados preteritamente pelo executado (credor); e, por fim, a dignidade da justiça e os meios coercitivos de fazer cumprir suas decisões (Estado/Juiz). Desta ponderação, por certo resta hígida a hipótese de manutenção da prisão civil do depositário judicial infiel, não havendo de se privilegiar o malfadado direito daquele que corrompe as regras sociais a todos imposta, justamente como salvaguarda do Estado, e de uma convivência pacífica e justa. Isto porque; [...] numa ponderação com outros princípios constitucionais fundamentais, a dignidade humana não tem necessariamente precedência, pois os demais princípios fundamentais, assim como a dignidade humana, são princípios que devem ser, em primeiro lugar, existentes e válidos, o que lhes permite estar no mesmo patamar hierárquico e terem a mesma gradação, assim como terem o mesmo peso e a mesma qualidade do princípio da dignidade humana. (BARBOSA, 2008, p. 7) Necessário consignar que a dignidade da pessoa humana é um princípio aberto, de conteúdo não taxativo, sem abarcar especificadamente o grau de sua abrangência. Nesta senda; 38 [...] assume relevo aspecto que, não obstante seu cunho elementar, não pode ser desconsiderado, qual seja, o de que a dignidade, ainda que não se a trate como o espelho no qual todos veem o que desejam, inevitavelmente já está sujeita a uma relativização (de resto comum a todos os conceitos jurídicos) no sentido de que alguém (não importa aqui se juiz, legislador, administrador ou particular) sempre irá decidir qual o conteúdo da dignidade e se houve, ou não, uma violação no caso concreto. (SARLET, 2010, p. 150) Seguindo na mesma dinâmica, faz-se imponente para a realização da ponderação vislumbrar o feito executivo desde o seu princípio, desde o reclame do procedimento cognitivo. É que este em muitas oportunidades traz ínsito tantos outros direitos fundamentais, tais como a verba de natureza alimentar e o direito à vida; reparação por danos morais, materiais e estéticos e o próprio direito à dignidade da pessoa humana, etc. Justamente neste ponto as dificuldades se avultam. Após a disposição da coisa, como se pode analisar, o depositário será tão somente multado, e se tornando insolvente o Judiciário nada mais poderá fazer; nega-se a jurisdição ao titular do bem da vida postulado, o qual resta mais uma vez ludibriado. Portanto, não mais se pode cogitar do; [...] isolamento do direito processual, pois há nítida interdependência entre ele e o direito material. Isso é tão evidente que supor o contrário seria o mesmo que esquecer a razão de ser do processo, considerada a necessidade deste ser pensado à luz da realidade social e do papel que o direito material desempenha na sociedade. (MARINONI, 2008, p. 44) Trata-se de blindar a administração da justiça, enquanto direito social, contra atos egoísticos e individualizados que impedem a concretização do bem estar social e corrompem a segurança coletiva. A transformação dos interesses – de individuais a coletivos e a difusos – é inexorável. A importância destes últimos, como respeitantes às espécies, genericamente falando, impõe ao Direito seu asseguramento como pretensões juridicamente relevantes, atribuindo-lhes ou não uma titularidade ao estilo tradicional. Neste estudo, vai-se além e desconsidera-se inclusive a necessidade da realização de ponderação para admitir-se a prisão civil do depositário infiel judicial, já que a Constituinte de 1988 acertadamente agiu sob os preceitos da razoabilidade e proporcionalidade ao possibilitar a restrição de liberdade daquele que descumpre a atividade 39 judicial que lhe cabe (a qual realizou por livre manifestação de vontade), bem como da inteligência dos atos internacionais, onde se percebe que estes não afastaram sua ocorrência, já que o vínculo não se dá por débito ou contrato. Com efeito, sob pretexto de garantia da dignidade humana do executado, o Supremo Tribunal Federal violou idêntico direito do exequente, assim como tantos outros direitos deste a depender do caso concreto; e, em última análise, à dignidade da justiça. 3.3 Crítica à súmula vinculante número 25 do Supremo Tribunal Federal Na sequência às decisões que negaram a hipótese de prisão civil por infidelidade depositária, o Supremo Tribunal Federal, de forma unânime, aprovou a redação da Súmula Vinculante número 25, nos seguintes termos: “É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito”. Sem embargo, como já se pode objetivar as premissas utilizadas para inovação da comentada súmula foram além daquilo que a norma originalmente almejava, sendo que jamais poderia haver o entrelaçamento de depósito judicial e os conceitos de dívida e inadimplemento contratual. Quanto ao cunho material da repreensão reporta-se ao sobredito. Por ora, adstringir-se-á aos seus vícios formais. Na circunscrição da Excelsa Corte a existência de reiteradas decisões sobre determinada matéria constitucional, isto é, “a existência de iterativa jurisprudência com mesmo teor semântico é condição sine qua non para a edição de uma súmula vinculante” (FELICIANO, 2009, p. 62). A contrário senso, se há manifesta discrepância entre as razões de decidir levadas a efeito nas decisões, embora a unidade quanto ao dispositivo, estas jamais poderiam dar suporte a formação de uma súmula vinculante. Em epígrafe na proposta de súmula supramencionada encontram-se os Recursos Extraordinários número 349.703 e número 466.343, os quais constituem sua base de suporte. Não obstante, constata-se, pois: [...] que as teses vazadas num e noutro aresto não são coincidentes. O primeiro considera apenas a legislação infraconstitucional, que teria sido superada, nessa parte, pelo Pacto de San José da Costa Rica; não entrevê, porém, qualquer esvaziamento na norma constitucional [...]. O segundo, por sua vez, considera 40 ter havido uma derrogação de conteúdo na norma do inciso LXVII do artigo 5º da CRFB. (FELICIANO, 2009, p. 61) Bem assim, o primeiro julgado trata da hipótese da alienação fiduciária em garantia, excluindo a possibilidade de prisão civil do depositário infiel pelo princípio da proporcionalidade, já que considerado nestes contratos figura anômala, ultrapassando os limites semânticos da expressão registrada no artigo 5º, inciso LXVII da Constituição. O segundo decisum, por seu turno, apresenta argumentação inteiramente diversa, afastando por completo todas as possibilidades de prisão civil do depositário infiel, independentemente da realização no caso concreto de qualquer juízo de proporcionalidade. Para a formulação da súmula, no entanto, utiliza-se passagem literal da parte final da ementa lançada no Recurso Extraordinário número 466.343. Ademais, é requisito essencial a existência de reiteradas decisões sobre matéria constitucional, e o consequente amadurecimento das teses expostas, o que também não foi atingido. No Habeas Corpus número 87.585 julgado conjuntamente, o Ministro Ricardo Lewandosky explicita o tratamento ainda conflitante do tema, in verbis: “Recentemente, eu trouxe um habeas corpus entendendo constitucional e legal a prisão decretada com o depósito infiel, na esteira da jurisprudência consolidada da casa” (BRASIL, 2008). Conclui-se límpido, por conseguinte, o desatendimento aos requisitos formais de aprovação e validade da súmula vinculante de número 25 do Supremo Tribunal Federal. E esse engessamento (FERREIRA FILHO, 2009, p. 46) da jurisprudência ocasionado pela súmulas vinculantes, impede que descalabros como estes sejam prontamente corrigidos, impedindo-a de evoluir em face de novas circunstâncias ou novos argumentos, tornando certas barreiras intransponíveis, impedindo a criação de novas teses e a atualização de concepções presentemente arraigadas. Para José Carlos Barbosa Moreira (2010, p. 5) esta prática é tida como inconcebível, por impor “aos órgãos judicantes uma camisa-de-força”, tolhendo “o movimento em direção a novas maneiras de entender as regras jurídicas”. Evidente, logo, o desatendimento aos pressupostos formais do artigo 103-A da Lei Maior quando da formalização da súmula vinculante número 25, viciando-a por completo. 41 3.4 Carência de atividade legiferante para suprir grave lacuna criada pelo julgado do Supremo Tribunal Federal Hodiernamente, por concepção jurisprudencial, não mais se cogita da prisão do depositário infiel. Em se tornando este insolvente após o desfazimento do bem que servia de garantia ao cumprimento da obrigação, restará civilmente imune, já que não haverá medidas efetivas a sancioná-lo. Nesse encalço, é certo que (1) o binômio processo/procedimento deve adequar às necessidades de satisfação do direito material in concreto (em especial quando dotado de jusfundamentalidade), não o contrário; e (2) o conceito de jurisdição passa a se erguer sobre três pilares: (a) revalorização do sentido de função de tutela da atividade jurisdicional [...]; (b) reconhecimento do princípio da efetividade da jurisdição como corolário do devido processo legal [...]; (c) reconhecimento da jurisdição como espaço público legítimo para o diálogo social legitimador do fenômeno jurídico. (FELICIANO, 2009, p. 58) E estas situações contrárias à administração da justiça tendem a prosseguir, esvaziando a função jurisdicional, como observa Enrico Tullio Liebman (1946, p. 10-11), pois: [...] como todos sabemos nem sempre os homens cumprem as suas obrigações e obedecem aos imperativos decorrentes do direito, de maneira que a ordem jurídica não seria completa, nem eficaz se não contivesse em si própria aparelhamento destinado a obter coativamente a obediência a seus preceitos. Daí a razão das sanções que são as medidas, cuja imposição é estabelecida pelas leis como consequência da inobservância dos imperativos jurídicos. Razão pela qual, “considerando que o êxito da expropriação depende de bens penhoráveis, haja vista o princípio da responsabilidade patrimonial (art. 591), revela-se necessária uma aprimoração legislativa” (ASSIS, 2010, p. 705). Seja através de reestruturação do instituto da fraude à execução, com atuação mais enérgica do Estado e forte postura do Judiciário (NUNES, 2008, p. 123), seja por intermédio de lei interpretativa (ASCENSÃO, 2001, p. 599) da legislação infraconstitucional que açambarca o tema ou através de Emenda Constitucional realizando quanto ao infiel depositário judicial à exceção proclamada no artigo 5º, inciso LXVII, parte final da Constituição Federal. 42 Por tais motivos, há de haver imediata proposta de lege ferenda regulamentando ou interpretando autenticamente os dispositivos já postos, proporcionando solução pragmática, apropriada à prestação jurisdicional, sem descurar da norma constitucional já existente sobre o assunto, e de que os tratados internacionais não a impedem, sobejando hígida a possibilidade de prisão civil do depositário infiel judicial. Por outro lado, sendo discrepante a leitura do panorama na esfera civil, apresenta-se viável e mais do que isso, imprescindível, uma releitura do delito da fraude à execução no âmbito penal. Cuida-se de revisar criticamente o ilícito que aborda mencionada fraude. O depositário infiel, ao aceitar o encargo passa a exercer função pública na demanda, mesmo que transitoriamente e sem remuneração (ISHIDA, 2010, p. 11), enquadrando-se como agente público, redundado, desta forma, na classificação prevista no Código Penal em seu último título da parte especial, o qual arrola os delitos contra a Administração Publica, e que deve ser compreendida em sentido amplo, “como o conjunto das funções realizadas pelos órgãos do poder público” (JESUS, 2007, p. 115). Então, considerado o princípio basilar em que alicerçado o direito penal, qual seja, o princípio da legalidade ou da reserva legal, garantidor de que nenhum fato poderá ser considerado crime e nenhuma pena na esfera criminal poderá ser aplicada, sem prévia lei que a comine (TOLEDO, 2002, p. 21), torna-se cogente a intervenção legislativa a fim de tipificação de espécie penal específica de responsabilização do depositário infiel judicial insolvente (MIRABETE; FABRINI, 2008, p. 341), como ação penal pública incondicionada (NUCCI, 2010, p. 573), já que atinge não tão somente a administração pública, mas também o direito fundamental ao justo e efetivo processo. Perante a conjectura, como medida última de preservação da ordem social, eleva-se de extrema importância tal ato legislatório instituindo delito penal próprio ao depositário infiel judicial, sem dependência de concordância ou prévia provocação do credor atingido secundariamente pela conduta ilícita, uma vez que o objeto jurídico ofendido é a administração da justiça consubstanciada pelo Estado. 4. Conclusão A adesão do Brasil a diferentes tratados internacionais, mormente quando estes versassem sobre direitos humanos, estabeleceu celeuma quanto à hierarquia de reconhecimento destes pelo ordenamento interno do Estado, até que a Emenda Constitucional número 45 de 2004 sanou as dúvidas que pairavam sobre a temática, classificando-as, quando seguissem rito específico, como normas de altura constitucional. 43 Não obstante, o Pacto de São José da Costa Rica fora aderido pelo país, muitos anos antes, sem seguir o rito especial de tramitação legislativa para o alcance pelo § 3º, art. 5º da Lei Maior. No entanto, em razão da vedação de qualquer naipe de prisão civil, com exceção do devedor de alimentos, por este ato internacional, o Supremo Tribunal Federal fora chamado a intervir, a fim de pronunciar a (im)possibilidade da prisão civil de depositário infiel, a qual até então ocorria com supedâneo em exceção constitucional. Destes julgamentos, sobressaiu-se a tese da supralegalidade do reconhecimento vertical dos atos internacionais, situando-se estes, por consectário lógico, abaixo da Constituição Federal, mas acima das leis, gerando eficácia paralisante quando colidentes, valendo-se do controle de convencionalidade. Em assim sendo, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela impossibilidade da prisão civil de qualquer espécie de depositário infiel, ocasionando maléficas consequências ao processo civil brasileiro. Destarte, este estudo evidencia a necessidade e possibilidade de responsabilização, seja na esfera civil ou penal, do depositário judicial infiel, constatando-se a carência de atividade legiferante no sentido de preencher lacuna normativa gerada pelo novel entendimento proclamado pelo Supremo Tribunal Federal. Verificou-se que a efetividade da jurisdição é corolário inseparável do próprio estado democrático de direito, inerente a manutenção de mansa e ordeira comunhão social. E tal direito fundamental restou flagrantemente prejudicado em razão de decisão extensiva teratológica emanada da Corte Excelsa, ao passo que enquadrou em leito comum as figuras da impossibilidade de prisão civil por dívidas (Convenção Americana de Direitos Humanos), prisão por descumprimento de obrigação contratual (Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos) e judicial depositário, conquanto sejam de naturezas extremamente dessemelhantes. Não bastasse, além de autorizada a prisão civil de judicial depositário infiel pela norma do artigo 5º, LXVII, parte final, da Constituição Federal, esta tem irrefutável dupla razão de ser, constituindo-se igualmente modo de defesa da autoridade estatal e da dignidade da administração da justiça. Ademais, a edição da súmula vinculante número 25 do Supremo Tribunal Federal adveio em desrespeito à sua legislação embrionária, não atingindo seus requisitos objetivos de existência, maculando-a em sua essência, em virtude não só de vício material, mas também e especialmente de error in procedendo. 44 À guisa de conclusões, por exorbitar além do espectro de possibilidades de que dispunha, atingiu-se frontalmente a única técnica coercitiva de satisfação judicial daquela tutela pelo autor requestada em face do depositário de má-fé, porquanto ineficazes os efeitos de aplicação de multa sobre o valor do débito ao fraudador, já que este terá se desfeito do único bem que garantia o cumprimento da obrigação; e pior, o único bem de seu patrimônio, ensejando na derrocada do executivo civil. Nessa medida, não há o atendimento à função jurisdicional, havendo o abandono da tutela de direitos materiais, restando um arremedo de Poder Judiciário. 5. Referências Bibliográficas ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. ARENHART, S. C.; MARINONI, L. G. Curso de processo civil: execução. 2 ed. rev. atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. ASCENSÃO, José de Oliveira. O direito: introdução e teoria geral. 2. ed. rev. atual. ampl. Rio de Janeiro: Renovar. ASSIS. Araken de. Manual da execução. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. ______. Manual da execução. 11. ed. rev. atual ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. ______. Manual da Execução. 13. ed. rev. atual ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. BARBOSA, A. P. Costa. Possibilidade de relativização do princípio da dignidade da pessoa humana de acordo com a teoria dos direitos fundamentais de Robert Alexy. Revista Diálogo Jurídico, Salvador, nº. 17, 2008. Disponível em: <http://www.direitopublico.com.br/pdf_seguro/pond_dignidade_ana_paula_barbosa.pdf>. Acesso em: 11 abr. 2011. 45 BARCELLOS, Ana Paula. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da dignidade da pessoa humana. 2. ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso improvido. Recurso Extraordinário nº. 466.343/SP. Banco Bradesco e Luciano Cardoso Santos: relator Cezar Peluso. 03 de dezembro de 2008. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/ obterInteiroTeor.asp?id=595444>. Acesso em: 09 abr. 2011. ______. Supremo Tribunal Federal. Recurso improvido. Recurso Extraordinário nº. 349.703/RS. Banco Itaú e Armando Luiz Segabinazzi: relator Carlos Britto. 03 de dezembro de 2008. Disponível em: < h t t p : / / re d i r. s t f. j u s . b r / p a g i n a d o r p u b / p a g i n a d o r. jsp?docTP=AC&docID=595406>. Acesso em: 09 abr. 2011. ______. Superior Tribunal de Justiça. Concedida ordem de habeas corpus. Habeas Corpus nº. 92.197/SP. Celso Della Santina e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: relator Ministro Luiz Fux. 16 de dezembro de 2008. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sLink=ATC&sSeq =4275143&sReg=200702376906&sData=20090219&sTipo=3&formato=PDF>. Acesso em: 28 abr. 2011. ______. Supremo Tribunal Federal. Concedida ordem de habeas corpus. Habeas Corpus nº. 87.585/TO. Alberto de Ribamar Ramos Costa e Superior Tribunal de Justiça: relator Ministro Marco Aurélio. 3 de dezembro de 2008. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%2887585. NUME. OU 87585.ACMS.%29&base=baseAcordaos>. Acesso em: 26 maio 2011. ______. Supremo Tribunal Federal. Concedida ordem de habeas corpus. Habeas Corpus nº. 74.383-8/MG. Francisco Moya e Outros e Tribunal de Alçada de Minas Gerais: relator Ministro Marco Aurélio. 22 de outubro de 1996. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=75194>. Acesso em: 27 abr. 2011. ______. Supremo Tribunal Federal. Concedida ordem de habeas corpus. Habeas Corpus nº. 87.585/TO. Alberto de Ribamar Ramos Costa e Superior Tribunal 46 de Justiça: relator Ministro Marco Aurélio. 3 de dezembro de 2008. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%2887585. NUME. OU 87585.ACMS.%29&base=baseAcordaos>. Acesso em: 08 abr. 2011. CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, [20--]. CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito Constitucional. 16. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2010. CASTRO, Amílcar. Código de Processo Civil: do procedimento de execução. 2. ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Forense, 2000. DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 12. ed. rev. atual. São Paulo: Malheiros, 2005. FELICIANO, Guilherme Guimarães. A prisão civil do depositário judicial infiel economicamente capaz: um outro olhar. Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, Belo Horizonte, v. 49, n. 79, p. 55-79, jan./jun. 2009. Disponível em: <http://www.trt3.jus.br/escola/download/revista/rev_79/guilherme_guimaraes_feliciano.pdf>. Acesso em: 4 abr. 2011. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 35. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. GARAPON, Antonie. Bem Julgar: ensaio sobre o ritual judiciário. Tradução de Pedro Filipe Henriques. Lisboa: Instituto Piaget, 1999. ISHIDA, Válter Kenji. Curso de direito penal: parte geral e parte especial. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2010. JESUS, Damásio Evangelista de. Direito penal: parte especial. v. 4. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 15. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Saraiva, 2011. 47 LIEBMAN, Enrico Tullio. Processo de Execução. São Paulo: Saraiva, 1946. LIMA, Alcides de Mendonça. Comentários ao Código de Processo Civil: lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973. 2. ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Forense, 1979. MARINONI, L. G. MITIDIERO, D. Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. 2. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela dos direitos. 2. ed. rev. atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. MENDES, G.; COELHO, I.; BRANCO, P. Curso de Direito Constitucional. 6. ed. rev. atual. São Paulo: Saraiva, 2011. MIRABETE, J. F.; FABBRINI, R. N. Manual de direito pena parte especial: arts. 121 a 234 do CP. 25. ed. rev. atual. São Paulo: Atlas, 2008. MIRANDA, Pontes de. Comentários ao código de processo civil: arts. 566-611. v. 9. São Paulo: Forense, 1976. MORAIS, Jose Luis Bolzan. Do direito Social aos interesses transindiviuais: o Estado e o direito na ordem contemporânea. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1996, p. 111. MOREIRA, J. C. Barbosa. Comentário ao código de processo civil: Lei nº. 5.869, de 11 de janeiro de 1973. v. 5. 15. ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Forense, 2010. MOURA, Mário Aguiar. O processo de execução segundo o código de 1973. v. 1. Porto Alegre: EMMA, 1975. NERY JÚNIOR, N.; NERY, R. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 11. ed. rev. ampl. atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal: parte geral e parte especial. 6. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. 48 NUNES, Érico Sartor. O Estado democrático de direito e a efetividade jurisdicional – uma análise em razão das novas reformas processuais. In: MARIN, Jeferson Dytz (Org.). Jurisdição e Processo: efetividade e realização da pretensão material. Curitiba: Juruá, 2008. OLIVEIRA, C. A. Alvaro de. Teoria e Prática da Tutela Jurisdicional. Rio de Janeiro: Forense, 2008. PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil: contratos. v. 3. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 364 et seq. SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de Direito Processual Civil. v. 3. 11. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 1990. ______. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. v. 1. 27. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2010. SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001. SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais. 8. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. SILVA NETO, Manoel Jorge e. Curso de Direito Constitucional. 6. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. SILVA, José Afonso. Aplicabilidade das normas Constitucionais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 118. SILVA, O. A. Baptista da. Curso de processo civil: execução obrigacional, execução real, ações mandamentais. v. 2. 3. ed. rev. atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998. SPENGLER, F. M.; SPENGLER NETO, T. O novo processo de execução: uma efetividade jurisdicional possível? Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2011. 49 SPENGLER, Fabiana Marion. Tempo, Direito e Constituição: reflexos na prestação jurisdicional do Estado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. v. 2. 45. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de processo civil: processo de execução e cumprimento da sentença, processo cautelar e tutela de urgência. Rio de Janeiro: Forense, 2008. TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. WAMBIER, L.; TALAMINI, E. Curso Avançado de Processo Civil. v. 2. 10. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. WAMBIER, Luiz Rodrigues (Org.). Curso Avançado de Processo Civil. v. 2. 4. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. ZAVASCKI, Teori Albino. Processo de execução: parte geral. 3. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. 50 A PRISÃO PREVENTIVA E SEU IMPACTO JURÍDICO-SOCIAL A PARTIR DA LEI 12.403 DE 2011 Letícia Silveira Seerig9 Caroline Fockink Ritt10 RESUMO Com o advento da Lei 12.403 de 2011, a tipicidade da prisão preventiva foi alterada, porquanto foi enfatizado seu caráter subsidiário diante da criação de medidas cautelares diversas da prisão pela lei em comento. Neste contexto, a prisão preventiva será utilizada para garantir a ordem pública, garantir a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal, mas desde que haja a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria – fumus comissi delicti – e sejam preenchidas as demais exigências elencadas nos incisos e no parágrafo único do artigo 313 do Código de Processo Penal. Assim, o que se propõe é discorrer sobre a prisão preventiva, a qual consiste em uma medida cautelar de compressão à liberdade do indiciado ou réu, utilizada no âmbito do processo penal, a fim de que o normal andamento do processo e a eficácia de eventual aplicação de pena sejam protegidas, bem como refletir sobre a aplicação da prisão preventiva antes e depois da Lei 12.403 de 2011, já que a aplicação desta, na opinião de muitos, restava banalizada, não se observando Estudante do 10º semestre do curso de Direito, na Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC. E-mail: [email protected]. 9 10 Advogada. Possui graduação em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul (2000). Possui especialização em Direito Penal e Processual Penal e Mestrado em Direito, ambos pela Universidade de Santa Cruz do Sul – (2007). Leciona as disciplinas de Direito Penal - Parte Geral, Criminologia, Sociologia Jurídica e Teoria Geral do Processo Penal, na Universidade de Santa Cruz do Sul - RS. Coordena a pós-graduação presencial em Direito Penal e Processual Penal e a pós-graduação em Direito Penal e Processual Penal, pela modalidade Ensino a Distância - EaD. Autora de vários artigos em revistas jurídicas especializadas e coautora do livro O Estatuto do Idoso: aspectos sociais, criminológicos e penais, em coautoria com Eduardo Ritt, pela Editora Livraria do Advogado, em 2008. E-mail: [email protected]. 51 os preceitos constitucionais. Com efeito, antes do advento da lei que alterou o Código de Processo Penal, tem-se que a lei infraconstitucional não fornecia meios para que os princípios constitucionais fossem aplicados. Destarte, como a Lei 12.403 de 2011 trouxe em seu texto um rol de medidas cautelares, não se centrando mais somente na prisão preventiva e na liberdade provisória do agente, o rol de cabimento da prisão preventiva foi alterado. Neste contexto, houve um impacto jurídico, bem como social, ao passo que a Lei 12.403 deixou claro o respeito aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa e da presunção da inocência ao deixar de lado o sistema binário, o qual prima pela liberdade ou prisão, sem prever qualquer forma mediana de proteção ao devido trâmite processual. Para elaboração deste trabalho foi utilizado o método hipotético-dedutivo combinado aos procedimentos de pesquisa documental e estudo de caso, sendo colhidos os dados para desenvolvimento do tema, produção de conceitos e confirmação de hipótese empregando o raciocínio que parte dos princípios e hipóteses considerados verdadeiros para alcançar conclusões e produzir posicionamentos. Palavras-chave: Prisão preventiva – Lei 12.403/2011 – Princípio da dignidade da pessoa – Princípio da presunção da inocência – Sistema binário – Modelo polimorfo 1. Introdução O Brasil enfrentou, nos últimos anos, além da superlotação dos presídios, os quais são, via de regra, um lugar desumano para abrigar os apenados, um processo de banalização da prisão cautelar. De forma que, em dezembro de 2010, 44% (quarenta e quatro por cento) dos indivíduos presos no país correspondiam a presos provisórios. A prisão cautelar era vista como a única forma de garantir a ordem púbica, a ordem econômica, o devido trâmite processual e o cumprimento de eventual pena imposta. Primava o Brasil, mesmo com a vigência de princípios constitucionais como o da presunção da inocência e o da dignidade da pessoa, pelo sistema bipartido, ou seja, ou o indiciado ou réu respondia ao processo em liberdade, ou encarcerado, privado de sua liberdade. Com o advento da Lei 12.403 de 2011, a qual atentou para a realidade carcerária e processualística penal brasileira, buscaram-se medidas alternativas à prisão. Com efeito, um verdadeiro respeito foi demonstrado aos princípios da duração razoável da prisão cautelar, da dignidade humana, da intervenção mínima, da presunção constitucional da inocência e da tipicidade da prisão cautelar. 52 Assim, discorrer-se-á sobre aspectos teóricos da prisão preventiva, bem como sobre a Lei 12.403/2012; e, ainda, a partir de perguntas subjetivas feitas a diversos operadores jurídicos da área – juízes, promotores, defensores públicos, advogados, assessores jurídicos e escrivães – refletir-se-á sobre a aplicabilidade da nova norma, seus reflexos e expectativas. Assim, serão esclarecidas questões atinentes à banalização da prisão preventiva, como a sociedade encarou tal modificação legal, o caráter subsidiário da prisão preventiva e outros aspectos relevantes sobre o assunto. 2. Apontamentos teóricos sobre a prisão preventiva Antes de compreender o que é a prisão preventiva, importante se faz entender que a privação de liberdade das pessoas, no caso do instituto em estudo, é uma medida que pode ser utilizada para apuração de fatos e, deste modo, serve à salvaguarda ao processo.11 Neste diapasão, tem-se por prisão preventiva uma medida cautelar de compressão à liberdade do indiciado ou acusado12, a qual se destina à “tutela do processo”. Ou seja, esta medida possui a finalidade de proteger o normal desenvolvimento do processo e, por conseguinte, a eficácia da “[...] aplicação do poder de penar”. Assim, cumpre notar que se trata de ato de caráter instrumental, que tem o condão de dar maior proteção à instrução penal processual.13 Atualmente, com o advento da Lei 12.403 de 2011, a prisão preventiva é excepcional, exigindo-se a demonstração da necessidade desta pelo juiz. Ainda, mais que isso, a medida em estudo é “extrema ratio da ultima ratio”, uma vez que só poderá ser decretada em casos extremos e quando incabíveis nas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.14 BATISTI, Leonir. Curso de Direito Processual Penal - Volume II - Atualizada de Acordo com a Lei 12.403/2011. Volume II. 4. ed. Curitiba: Editora Juruá, 2011, p. 87. 11 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e execução penal. 8. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 605. 12 LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional. Volume II. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris. 2009, p. 55. 13 14 GOMES e MARQUES. Prisão e medidas cautelares: comentário à Lei 12.403, de 04 de maio de 2011. Alice Bianchini... [et al.]; coordenação: Luiz Flávio Gomes, Ivan Luís Marques. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 25. 53 A finalidade da prisão preventiva, considerada por Guilherme Nucci como uma prisão cautelar por excelência15, “[...] é possibilitar o pleno exercício não só da acusação como também do direito de defesa, garantindo a eficácia de punir [...] e o direito à ampla defesa e ao contraditório, garantias constitucionais em todos os processos e procedimento administrativos”.16 Para a decretação desta prisão cautelar, importante atentar às disposições constitucionais pertinentes, tais como o artigo 5º, inciso LXI, da Carta Federal e o inciso LIV do mesmo artigo constitucional em comento, no qual consta que “ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”. Ademais, tem-se o princípio da presunção da não culpabilidade ou presunção de inocência, trazido pelo inciso LVII, artigo 5º, da Carta Magna, no qual consta que “Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”, de maneira que o acusado é tratado como se fosse inocente. Sobre tal princípio, Fernandes17 traz duas observações, quais sejam: (a) a que, por um viés mais restrito, o réu ostenta a inocência até o fim do processo, razão pela qual não cabe a ele provar sua inocência, competindo o papel de demonstração de que os fatos imputados na queixa ou na denúncia são verdadeiros, sendo a condenação medida impositiva, ao Ministério Público, ou querelante; e (b) a que, através de uma visão ampla, o princípio da presunção da inocência é ligado ao ônus de provar e, ainda mais, à regra sobre a prisão durante o processo, de maneira que, já que o acusado apenas pode ser considerado culpado após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, “[...] a prisão [...] não pode configurar simples antecipação de pena, e, por isso, somente pode ser decretada quando tiver natureza cautelar”. De modo semelhante, Aury Lopes Jr. defende que a presunção da inocência possui duas dimensões, quais sejam: a interna e a externa. A primeira diz respeito à carga probatória, a qual pertencente inteiramente ao acusador, de forma que “[...] a dúvida conduza inexoravelmente à absolvição [...]”, implicando, portanto, em obstáculos ao uso das prisões cautelares. Sobre a segunda, entende o autor que o agente também NUCCI, Guilherme de Souza. Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela ei 12.403, de 4 de maio de 2011. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p.15. 15 MINAGÉ, Tiago. Da prisão, medidas cautelares e liberdade provisória: Lei n. 12.403/2011 interpretada e comentada. São Paulo: EDIPRO, 2011, p. 30. 16 FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. 6. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 283. 17 54 deve ser protegido “[...] contra a publicidade abusiva e a estigmatização (precoce)” dele, garantindo-se, por conseguinte, a imagem, privacidade e dignidade18. O princípio da presunção da inocência é tão forte em nosso ordenamento jurídico que, recentemente, através de decisão tomada em Habeas Corpus Nº 104339, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu pela inconstitucionalidade da regra que proíbe a liberdade provisória aos presos por tráfico de drogas, contida no caput do artigo 44 da Lei 11.343/2006. Para o relator do caso, o ministro Gilmar Mendes, o dispositivo em tela “é incompatível com o princípio constitucional da presunção da inocência”; e, ainda, afastando-se esta regra de prisão preventiva obrigatória, dá-se oportunidade ao magistrado de analisar o caso concreto a partir dos pressupostos da necessidade da decretação da prisão preventiva, sem cometer o equívoco de antecipar a pena.19 Sem embargo dos princípios constitucionais supraexpostos, Luiz Gustavo Grandinetti Castanho de Carvalho, apud Thiago Minagé20, esclarece que, em que pese a Carta Federal proibir que o réu fosse considerado culpado antes de transitar em julgado a sentença penal condenatória, previu e manteve as medidas coercitivas de prisão, tal como a prisão preventiva, pois são meios indispensáveis à tutela do processo, bem como da própria sociedade. De outro norte, com o advento da Lei 12.403 de 2011, os requisitos para a decretação da prisão preventiva não se alteraram, pois continua a demandar, no mínimo três vetores, quais sejam: a materialidade, o indício suficiente de autoria – fumus commissi delicti – e algum elemento variável disposto no caput do artigo 312 (garantia da ordem púbica, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia da aplicação da lei penal)21. Antonio Scarance Fernandes acrescenta que, no Brasil, outro requisito para a decretação da cautelar, além da aparente existência do crime e da autoria, é o pericuLOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional. Volume II. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009, p. 56. 18 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Regra que proíbe liberdade provisória a presos por tráfico de drogas é inconstitucional. In: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=207130>. Acesso em: 11 mai. 2012. 19 MINAGÉ, Tiago. Da prisão, medidas cautelares e liberdade provisória: Lei n. 12.403/2011 interpretada e comentada. São Paulo: EDIPRO, 2011, p. 25 e 26. 20 21 NUCCI, Guilherme de Souza. Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403, de 4 de maio de 2011. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 61. 55 lum libertatis, o qual consiste no perigo de que o acusado – solto – impeça a devida aplicação de eventual sanção punitiva.22 Assim, Aury Lopes Junior lembra que: Aqui o fator determinante não é o tempo, mas a situação de perigo criada pela conduta do imputado. Fala-se, nesses casos, em risco de frustração da função punitiva (fuga) ou graves prejuízos ao processo, em virtude da ausência do acusado, ou no risco do normal desenvolvimento do processo criado por sua conduta (em relação à coleta da prova).23 Além do fumus comissi delict – prova de existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria – e do periculum libertatis, é requisito básico para a decretação da preventiva uma das situações elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, (a) garantia da ordem pública, (b) garantia da ordem econômica, (c) conveniência da instrução criminal, e (d) garantia da aplicação da lei penal.24 Ainda, importante atentar ao disposto no artigo 313 do Código de Processo Penal, no qual consta que a prisão preventiva caberá nas hipóteses de crime dolosos contra a vida, punidos com pena máxima superior a quatro anos (vide inciso I); caso em que o agente tiver sido condenado por outro delito doloso, com sentença transitada em julgado, observado o prazo estabelecido no artigo 64, inciso I, do Código Penal (vide inciso II); em se tratando de delito que envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, a fim de resguardar a execução das medidas protetivas de urgência (vide inciso III)25. Portanto, não há no texto normativo espaço para prisão preventiva em razão de crime culposo, mesmo que se argumente acerca dos requisitos constantes no artigo 312. Isto decorre do princípio da proporcionalidade, iniciando pela limitação estabe- FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. 6ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 282. 22 LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional. Volume II. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009, p. 56. 23 MINAGÉ, Tiago. Da prisão, medidas cautelares e liberdade provisória: Lei n. 12.403/2011 interpretada e comentada. São Paulo: EDIPRO, 2011, p. 82. 24 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e execução penal. 8. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 612. 25 56 lecida no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal: crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.26 É previsto, no parágrafo único do referido artigo, outra possibilidade de decretação da preventiva, qual seja, a de quando há dúvida acerca da identidade civil do agente ou quando este não esclarecer suficientemente. Assim, logo após a identificação, deverá ser o preso colocado imediatamente em liberdade, exceto se houver outros motivos para a manutenção da medida.27 Também, não menos importante, deve-se compreender que o comparecimento espontâneo do agente, bem como a primariedade, os bons antecedentes e a residência no local do crime não impedem a decretação da prisão preventiva.28 3. A Lei 12.403 de 2011 A Lei 12.403 de 2011 adveio do Projeto de Lei n.º 4.208, apresentado em 2001, o qual tramitou no Congresso Nacional por dez anos, até ser editado e transformado na presente lei.29 No dia 4 de julho de 2011 entrou em vigor a lei em estudo, a qual modificou o Código de Processo Penal no que tange à prisão processual; à fiança; à liberdade provisória, bem como as outras medidas cautelares.30 O que se almeja com a referida Lei é que seja um instituto útil em favor do combate à criminalidade. Além disso, espera-se com a nova lei que (a) se atenue o problema da superlotação dos presídios, e (b) seja dificultada ainda mais a aplicação das prisões cautelares.31 Não obstante, no entendimento do Promotor de Justiça David Medina da Silva, o objetivo da lei, de amenizar o déficit prisional, não deve ser festejado, LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional. Volume II. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris. 2009, p. 114. 26 27 MINAGÉ, Tiago. Da prisão, medidas cautelares e liberdade provisória: Lei n. 12.403/2011 interpretada e comentada. São Paulo: EDIPRO, 2011, p. 87. BATISTI, Leonir. Curso de Direito Processual Penal - Volume II - Atualizada de Acordo com a Lei 12.403/2011. Volume II. 4ª Edição. Curitiba: Editora Juruá, 2011, p.119. 28 NUCCI, Guilherme de Souza. Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403, de 4 de maio de 2011. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 23. 29 BARIN e MARTINS, Érico Fernando e Charles Emil Machado. Impacto social pela Lei 12.403/11 pela ótica do Ministério Público. In: <http://intra.mp.rs.gov.br/opiniao/artigo/id25508.html>. Acesso em: 11 jul. 2011. 30 31 Ibidem. 57 porquanto a nova legislação não pode ser tida como uma solução de amenizar a superlotação carcerária: Mas não se deve comemorar o advento da nova lei pelo fato de amenizar o déficit prisional. A lei não pode ser uma solução barata para a falta de vagas nos estabelecimentos prisionais, pois os presídios estarão sempre cheios enquanto perdurar a omissão estatal em políticas públicas, capaz de reduzir o alarmante índice de criminalidade da sociedade brasileira, que amarga uma média de 50.000 homicídios por ano, equivalente a um “Massacre do Carandiru” por dia no Brasil.32 De qualquer sorte, Luiz Flávio Gomes e Ivan Luiz Marques33 resumem em quatorze pontos as principais alterações trazidas pela reforma, dos quais se selecionam cinco por serem de suma importância para o presente estudo: (a) o rol das medidas cautelares foi ampliado, não se centrando mais somente na prisão preventiva e na liberdade provisória do agente; (b) a prisão preventiva passa a ser uma medida subsidiária, quer dizer, será aplicada somente quando a aplicação das medidas cautelares forem inviáveis ou insuficientes; (c) as demais prisões processuais existentes no ordenamento jurídico brasileiro foram revogadas, deixando apenas a prisão preventiva e a prisão temporária como medidas vigentes; (d) após a comunicação do flagrante, o Magistrado passa a ter três opções, quais sejam, relaxar a prisão que foi ilegal, converter a prisão em flagrante em prisão preventiva ou conceder liberdade provisória; e (e) o rol de cabimento da prisão preventiva é drasticamente alterado. Ainda, conforme já referido, a Lei estudada manteve os pressupostos e os fundamentos, para a decretação desta medida provisória, entretanto, alterou o campo de incidência e a tornou subsidiária das medidas cautelares. “[...] Em outras palavras: a nova lei reduziu a possibilidade de decretação da preventiva”.34 SILVA, David Medina da. Prisão e liberdade na Lei 12.403/2011. Revista do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, n. 70, p. 151 e 152. 32 GOMES, L. F, e MARQUES, I. L. Prisão e medidas cautelares: comentário à Lei 12.403, de 04 de maio de 2011/ Alice Bianchini... [et al.]; coordenação: Luiz Flávio Gomes, Ivan Luís Marques. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 16 e 17. 33 BATISTI, Leonir. Curso de Direito Processual Penal - Volume II - Atualizada de Acordo com a Lei 12.403/2011. Volume II. 4ª Edição. Curitiba: Editora Juruá, 2011, p. 111. 34 58 4. Do impacto jurídico e social da prisão preventiva com o advento da Lei 12.402/12 Para alguns doutrinadores, tratando-se de prisão cautelar, o sistema processual penal nacional, até a Lei 12.403 de 2011, se caracterizava pela bipolaridade (binariedade): prisão ou liberdade, conduzindo à banalização da prisão cautelar. Assim, muitos indivíduos acabavam recolhidos aos presídios desnecessariamente.35 Com o advento da Lei 12.403, a qual reformou o Código de Processo Penal, o sistema bipolar foi abandonado, alterando o quadro da prisão preventiva no Brasil, à medida que trouxe alternativas diversas da prisão cautelar, as quais também possuem a mesma finalidade daquela, mas de forma mais branda e coerente.36 Não obstante isto, muitos operadores do direito da área compreendem de forma diferente o assunto da banalização da prisão preventiva. Senão, vejamos. Membros do Ministério Público e seus assessores entendem que não ocorreu a banalização da prisão cautelar nos últimos anos, já que “cada vez mais vem se tornando medida de exceção, decretada em raras hipóteses, em especial, em razão da atual composição do STF e entendimento deste Tribunal”. Compreendem que ocorreu foi uma valoração equivocada acerca da gravidade do delito, assim como a distorção ou ampliação indevida do conceito de abalo à ordem pública. Ainda, a prisão cautelar “foi um dos poucos instrumentos capazes de dar uma resposta mais rápida a uma população que, atemorizada, clamava por medidas capazes de deter uma escalada criminosa”. Neste ínterim, salientam que, “aos que não suportam assistir aos flagrados beneficiarem-se das prerrogativas da Lei”, é necessário contar com uma maior celeridade das autoridades envolvidas com apuração e julgamento dos acusados e indiciados, utilizando-se de um tempo razoável para contemplar a sentença. Porém, observam que é possível que, em casos pontuais, possa ter havido a banalização do instituto, mesmo não sendo a regra. Juízes de Direito possuem opiniões semelhantes, ao passo que não consideram que houve a banalização, mas um aumento de representação pela prisão preventiva em razão de maior atividade policial. Em contrapartida, defensores públicos, utilizando-se de dados do Conselho Nacional de Justiça, defendem a ideia da banalização; GOMES e MARQUES. Prisão e medidas cautelares: comentário à Lei 12.403, de 04 de maio de 2011/ Alice Bianchini... [et al.]; coordenação: Luiz Flávio Gomes, Ivan Luís Marques. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 27. 35 36 GOMES e MARQUES. Prisão e medidas cautelares: comentário à Lei 12.403, de 04 de maio de 2011/ Alice Bianchini... [et al.]; coordenação: Luiz Flávio Gomes, Ivan Luís Marques. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 29. 59 porquanto, atualmente, possuímos o montante de 495 mil presos, sendo que, destes, 39,59% estão presos preventivamente. Neste norte, a população carcerária no Brasil quadruplicou. Segundo o Ministério da Justiça, em dezembro de 2010, 220.000 indivíduos estavam presos preventivamente, representando 44% da massa carcerária brasileira. Ainda, complementam que “[...] em 1990 eram 90.000 presos totais e em 2012, 500.000, aumento de 450%. Em 1990 eram 16.200 presos provisórios (18% da massa carcerária). Em 2010 são 220.000 presos provisórios (44% da massa carcerária), aumento de 1.250%”. Portanto, não somente com respaldo em suas experiências profissionais como defensores públicos, como também em base científica, é evidente a banalização deste instituto; porquanto, em 12 anos, ocorreu um aumento de 1.250% no número de encarcerados provisórios. “Registre-se: absurdo e arbitrário, típico de um ‘estado policialesco’, com largo histórico de desrespeito aos direito humanos”. Para os advogados, a banalização dá-se em virtude ou do excesso de trabalho dos magistrados ou da disseminação da ideia de sensação de impunidade que assola o país. Sobre o excesso de trabalho dos juízes, há situações em que a autoridade policial ou o Ministério Público solicita a prisão preventiva de determinado agente e, pelo tempo escasso, o juiz “[...] muitas vezes acaba por não analisar de forma escorreita todos os fatos apresentados e passa a simplesmente acatar as imposições da autoridade que solicita a preventiva”. Sobre a visão da sociedade em relação à recente Lei, no que toca às alterações trazidas à prisão preventiva, há promotores de justiça que entendem que, de uma forma geral, a sociedade sequer tem consciência da alteração, por ausência de cultura e educação. Assessores do Ministério Público dizem ser impossível avaliar de modo preciso o que a sociedade pensa a respeito do assunto, já que esta não possui alcance jurídico suficiente para entender a complexidade do funcionamento do instituto. Acrescentam, também, que a sociedade repete a opinião da mídia, a qual se baseia no fato de as medidas cautelares possuírem o condão de retirar das prisões um grande número de detentos. Entretanto, isto não é real, pois muitos magistrados já estavam atentos para as penas inferiores a quatro anos. Frisam advogados e defensores públicos que a mídia nacional realizou intensa campanha contra a Lei 12.403, estampando os “alarmantes índices de criminalidade com a possibilidade de ocorrer a liberação massiva de presos (sem esclarecer que se tratavam de presos provisórios)”. Neste contexto, atrelado ao fato de a impunidade já 60 ser um fator presente na Lei Penal brasileira, inevitável que a maioria da população atenta ao assunto tenha repudiado a Lei, principalmente porque a sociedade tem por justiça a prisão + processo + sentença, nesta ordem, não processo + sentença, a qual absolverá ou condenará o acusado. Com efeito, para uma boa recepção da Lei 12.403 de 2011 pela sociedade, é necessária a mudança do comportamento cultural, maior investimento na educação e saúde, permitindo-se, assim, que os cidadãos compreendam a importância do novo texto legal. De outra banda, acerca da lotação carcerária e do novo caráter subsidiário da prisão preventiva, observa-se que o Brasil possui mais de meio milhão de encarcerados, sendo que 44% (quarenta e quatro por cento) deste número são presos provisórios, de acordo com dados de 28 de dezembro de 2010, apresentados pelo Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, totalizando 220.886 (duzentos e vinte mil, oitocentos e oitenta e seis) presos.37 Nesta senda, na opinião de servidores do Ministério Público, promotores de justiça e juízes de direito, pouco parece ter a Lei contribuído para amenizar o problema da superlotação dos presídios. Provavelmente, com o advento da Lei, houve uma maior restrição para o decreto da prisão cautelar; no entanto, é preciso compreender que o problema da superlotação está mais ligado à falta de estrutura que à medidas legais. Ainda, escrivães de cartório criminal e advogados sustentam que talvez tenha a Lei amenizado o problema da superlotação em virtude da subsidiariedade, entretanto, jamais o problema será contornado em razão desta previsão legal; porquanto o problema está na necessidade de criação de mais presídios, bem como maiores possibilidade e facilidades para que o preso possa estudar e trabalhar. De qualquer modo, defensores publicos afirmam que em 2011 e 2012 o percentual de presos preventivos diminuiu drasticamente em razao dos efeitos da Lei. Entretanto, “a populacao carceraria cresceu em indices superiores aos dos E.U.A e China, paises que, nesta ordem, possuem os maiores contingentes de presos do mundo” (Morais, 1996, p.11) Portanto, por um lado, em face da Lei 12.403, o problema da superlotação foi minimizado, em que pese, na visão de defensores públicos, não ser este o objetivo no novo regramento. Sobre o caráter subsidiário da prisão preventiva, em face da inserção de um rol de medidas cautelares na legislação infraconstitucional, juízes e defensores públicos 37 GOMES e MARQUES. Prisão e medidas cautelares: comentário à Lei 12.403, de 04 de maio de 2011. Alice Bianchini... [et al.]; coordenação: Luiz Flávio Gomes, Ivan Luís Marques. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 28. 61 acreditam que a aplicação da prisão preventiva – em que pese a Lei 12.403 impor ao julgador maior observância ao mandamento constitucional da presunção de inocência, deixando a prisão preventiva apenas para os casos extremamente necessários – não foi dificultada, porque ela ainda está sendo utilizada sobretudo na necessidade de prisão antecipada. Porém, importante destacar que, efetivamente, diante das vedações impostas pelo artigo 313 do Código de Processo Penal, houve uma grande redução de prisões cautelares. Para os advogados, mesmo que a Lei tente minimizar a problemática do sistema carcerário e buscar no direito alternativo o cumprimento integral da pena, tem-se que, muitas vezes, em virtude do volume de trabalho, “[...] o Magistrado simplesmente acata a solicitação policial ou ministerial do Promotor de Justiça”. (Morais, 1996, p.11) Na visão de promotores de justiça, a prisão cautelar foi dificultada somente para aqueles delitos cujas penas em abstrato não sejam de monta; porquanto os requisitos para decretação da prisão preventiva, na prática forense, permanecem os mesmos. De outra banda, outros membros do Ministério Público compreendem que foi efetivamente dificultada a aplicação da prisão preventiva, já que: Em parte, [...] da leitura do próprio texto legal modificado, percebe-se a ênfase dada à subsidiariedade da prisão preventiva. Ali, ficou claramente consignado que o Magistrado depois de observar a pena abstratamente cominada (de até quatro anos), deve fazer um grande esforço de auscultação das condições do flagrado/acusado; da necessidade e da adequação de eventual medida cautelar, bem como da estrutura estatal existente para garantir a efetividade de tal medida que imporá, antes de decidir pela prisão preventiva, que deve ser a última ratio. (Morais, 1996, p.11) Em consonância, advogados e escrivães de cartório criminal afirmam que a prisão foi controlada porque não se buscou a inviabilização da prisão, mas sua adequação ao atual quadro do sistema prisional brasileiro. Com efeito, a Lei 12.403 de 2011 veio reafirmar o que a Constituição Federal assegura desde seu início: a prisão cautelar é exceção, sendo, portanto “extrema ratio da última ratio”. Não obstante, é preciso que seja drasticamente diminuído o distanciamento da efetividade das medidas cautelares, pois o Estado, estruturalmente, não possui capacidade de fiscalização e alcance de controle destas medidas; de forma que, presentemente, a medida que possui maior eficácia é a prisão preventiva. 62 5. Conclusão Diante do exposto, foi possível compreender a importância da prisão preventiva para a proteção da instrução processual, bem como eventual aplicação de pena. Em contrapartida, da mesma maneira, também foi possibilitado refletir sobre o abandono do sistema binário, ao passo que a Lei 12.403 de 2011 estabeleceu que a prisão preventiva deverá ser utilizada apenas para situações excepcionais, respeitando-se, por conseguinte, inúmeros princípios constitucionais. Assim, ficou claro que o instituto em estudo é um instrumento utilizado para proteger o normal andamento do processo e a eficácia da aplicação de pena, ao privar a liberdade do réu ou indiciado; sendo, ainda, hábil a garantir o exercício da ampla defesa e do contraditório. A partir de considerações sobre a Lei 12.403, tem-se que foi trazido à lei infraconstitucional o rol das medidas cautelares, não se centrando mais somente na prisão preventiva e na liberdade provisória do agente, acabando com o sistema binário. Desta forma, em face do caráter subsidiário da prisão preventiva e da inserção do sistema poliformo, restou claro que a prisão preventiva somente será utilizada quando a aplicação das medidas cautelares forem inviáveis ou insuficientes, desde que atendidos aos demais requisitos. Ao final, diante da pesquisa realizada junto aos mais diversos operadores jurídicos da área, foi possibilitado compreender como a prisão preventiva é vista e aplicada no cotidiano forense. Os operadores jurídicos não chegam a um consenso sobre a banalização do instituto. Entretanto, a maior parte destes compreendem que a prisão preventiva de fato foi banalizada, seja pelo excesso de trabalho dos magistrados, ou pela necessidade de dar um resposta à sociedade em razão da criminalidade que assola o país. Sobre a superlotação dos presídios, o problema não foi resolvido, em que pese possa ter sido minimamente abrandado, justo porque a superlotação carcerária é diretamente proporcional ao aumento da criminalidade e outros fatores. Como o problema é de ordem estrutural, não deve caber ao Poder Legislativo suprir a desídia do Poder Executivo. Ademais, importante referir que não se pode ter a prisão preventiva como forma de antecipação punitiva, tampouco de gestão de riscos inerentes à sociedade, já que não se busca perseguir os objetivos do direito penal material – o que presume o pressuposto da culpabilidade. A prisão preventiva deve ser utilizada para casos ex- 63 cepcionais e de extrema necessidade de restrição da liberdade, sob pena de menoscabo à sagrados princípios constitucionais. De qualquer sorte, a fim de que realmente o sistema polimorfo seja posto em prática respeitando-se as normas constitucionais, imperativo que as novas medidas cautelares sejam efetivamente utilizadas, devendo, para tanto, serem elaborados meios para colocá-las em prática; porquanto, somente com estas medidas intermediárias de tutela ao processo, é que a prisão preventiva será, na prática, uma medida “extrema ratio da ultima ratio”. 6. Referências bibliográficas AVENA, Norberto. Processo Penal Esquematizado. 4ª Edição. São Paulo: Editora Método, 2012. BARIN e MARTINS, Érico Fernando e Charles Emil Machado. Impacto social pela Lei 12.403/11 pela ótica do MP. Disponível em: <http://intra.mp.rs.gov.br/opiniao/artigo/id25508.htm>. Acesso em: 11 jul. 2011. BATISTI, Leonir. Curso de Direito Processual Penal - Volume II - Atualizada de Acordo com a Lei 12.403/2011. Volume II. 4ª Edição. Curitiba: Editora Juruá, 2011. BRASIL. Código de Processo Penal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm>. Acesso em: 06 nov. 2011. BRITTO, Sérgio Guimarães. Considerações sobre a Lei n.º 12.403/2011. Disponível em: <http://intra.mp.rs.gov.br/opiniap/artigo/id25492.htm>. Acesso em: 11 jul. 2011. CÂMARA, Luiz Antônio. Medidas Cautelares Pessoais - Prisão e Liberdade Provisória - De Acordo com a Reforma do Código de Processo Penal Lei 12.403, de 04.05.201. 2ª Edição. Curitiba: Editora Juruá, 2011. CAPEZ, Fernando. Opinião – Lei 12.403/2011 e prisão provisória: questões polêmicas. Disponível em: <http://www.jusbrasil.com.br/noticiais/2755674/opiniao-lei-12403-eprisao-provisoria-questoes-polemicas.htm. >. Acesso em: 27 jul. 2011. 64 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Ministério Público. Atuação do Ministério Público. Disponível em: <http://intra.mp.rs.gov.br/artigo/id25461.htm>. Acesso em: 04 jul. 2011. FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. 6ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. LAKANKE, Ralpfh Moraes. Primeiras reflexões sobre a Lei n.º 12.403/2011. Disponível em: <http://www.espacovital.com.br/noticia_ler.php?id=24131>. Acesso em: 01 jul. de 2011. LIMA, Vinícius de Melo. A sociedade e o dever de proteção do Estado. Disponível em: <http://intra.mp.rs.gov.br/atuacao/artigo/id28017.html>. Acesso em: 26 abr. 2012. LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional. Volume II. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009. LOPES JÚNIOR, Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional. Volume II. 5. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. MARCÃO, Renato. Prisões cautelares, liberdade provisória e medidas cautelares restritivas: de acordo com a Lei n. 12.403 de 4-5-2012. São Paulo: Saraiva, 2011. MINAGÉ, Tiago. Da prisão, medidas cautelares e liberdade provisória: Lei n. 12.403/2011 interpretada e comentada. São Paulo: EDIPRO, 2011. NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e execução penal. 8. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. NUCCI, Guilherme de Souza. Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela lei 12.403, de 4 de maio de 2011. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. São Paulo: Editora Atlas, 2012. 65 RODRIGUES, Sérgio Luiz. Prisão e excesso. Disponível em: <http://intra.mp.rs.gov.br/atuacao/artigo/id25692.html>. Acesso em: 26 abr. 2012. SILVA, David Medina da. Prisão e liberdade na Lei 12.403/2011. Revista do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, n. 70, p. 151-166, set. 2011 – dez, 2011. STRECK, Lênio. A chacina provocada pela modelo na noite de Ano Novo. Disponível em: <http://intra.mp.rs.gov.br/atuacao/artigo/id27299.html>. Acesso em: 10 jan. 2012. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Regra que proíbe liberdade provisória a presos por tráfico de drogas é inconstitucional. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=207130>. Acesso em: 11 mai. 2012. TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. 3º Volume. 31. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 422. 66 AS ALTERAÇÕES DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL INTRODUZIDAS PELA LEI Nº 12.403/2011 FRENTE À REALIDADE PRISIONAL BRASILEIRA Renata Garcez Hepp38 Rosane T. Carvalho Porto39 RESUMO O artigo pretende analisar as principais alterações introduzidas pela Lei nº 12.403, de 04 de maio de 2011, e verificar se a nova Lei irá desafogar o sistema prisional brasileiro, através de uma análise da legislação brasileira e dos princípios que a norteiam, expondo as legislações, doutrinas e jurisprudências. Almeja-se, ainda, verificar algumas teorias sociológicas do delito, estudar quem é o delinquente e averiguar a atual situação dos presídios brasileiros. Também serão estudadas as espécies de prisões processuais, as medidas cautelares existentes, as situações em que pode ocorrer o pagamento da fiança e a liberdade provisória, a fim de compreender melhor as alterações trazidas pela nova lei. Assim sendo, espera-se contribuir com o presente estudo, tendo em vista que é um tema bastante relevante e que interessa para toda a sociedade. Palavras-chave: crime; delinquente; sistema prisional brasileiro; prisão; medidas cautelares. 38 Bacharel em Direito. E-mail: [email protected]. Policial militar. Mestre em Direito, área de concentração: Políticas Públicas de Inclusão Social e Especialista em Direito Penal e Processual Penal pela Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC. Professora de Direito da Criança e do Adolescente e Criminologia. Integrante do Grupo de Pesquisa: Direito, Cidadania e Políticas Públicas, coordenado pela professora Pós-Drª Marli M. M. da Costa. Coordenadora do projeto financiado pelo PAPEDS: O DIREITO VAI A ESCOLA: CONSUMO X EDUCAÇÃO PARA CIDADANIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. E-mail: [email protected]; [email protected]. 39 67 1. Introdução O presente artigo tem o condão de analisar as alterações do Código de Processo Penal, introduzidas pela Lei 12.403, de 04 de maio de 2011, e verificar as consequências trazidas pela mesma. É necessário analisar a efetividade da referida lei e verificar se as alterações supramencionadas irão desafogar o sistema prisional brasileiro, que se encontra em estado crítico. Este trabalho desenvolver-se-á através de revisão bibliográfica, que consiste em análise da legislação brasileira, doutrinas, jurisprudências e princípios que a norteiam, a fim de encontrar explicações e possíveis soluções para o problema apontado, qual seja, averiguar se as alterações da Lei nº 12.403/2011 irão desafogar o sistema prisional do Brasil. No primeiro capítulo apresentar-se-á o conceito de criminologia, assim como serão estudadas, de forma breve, as teorias sociológicas do delito, quais sejam, teoria da ecologia, teoria da anomia, teoria da associação diferencial e teoria da subcultura. Feito isso, passar-se-á analisar a definição de delinquente. Já no segundo capítulo, abordar-se-á a realidade do sistema prisional brasileiro, a partir de uma releitura da teoria da subcultura, dissertando sobre o crime organizado dentro dos estabelecimentos penais. Em seguida, será examinado o perfil da população carcerária, bem como a superlotação nos presídios. Por fim, no terceiro capítulo, elencar-se-ão as espécies de prisões processuais, conceituando cada uma delas e explicando quando são aplicadas. Igualmente, apresentar-se-ão as medidas cautelares existentes e as situações em que pode ocorrer o pagamento de fiança e a liberdade provisória, a fim de compreender as alterações trazidas pela nova Lei. O tema abordado foi escolhido pela sua relevância social, considerando que muitos presos poderão ser beneficiados com as alterações do Código de Processo Penal introduzidas pela Lei nº 12.403/2011, gerando muita polêmica, tendo em vista que a sociedade está cada vez mais preocupada com a sua segurança. 2. O delinquente e o poder do discurso sob a perspectiva da criminologia Abordar-se-á o conceito da criminologia, as teorias sociológicas do delito e a definição de delinquente. É muito importante o presente estudo, tendo em vista que a criminologia é fundamental para que possamos compreender o delito e o delinquente. 68 2.1 Aproximação conceitual da criminologia Para a maioria dos autores, a criminologia é considerada uma ciência que estuda o delito, o delinquente, a vítima e o controle social do delito, a fim de conhecer a realidade para explicá-la. Através desses estudos, busca a criminologia prevenir a prática delitiva, pelo meio de programas de prevenção, bem como a ressocialização do delinquente. De acordo com Molina e Gomes (2010, p. 34): Cabe definir a Criminologia como ciência empírica e interdisciplinar, que se ocupa do estudo do crime, da pessoa do infrator, da vítima e do controle social do comportamento delitivo, e que trata de subministrar uma informação válida, contrastada, sobre a gênese, dinâmica e variáveis principais do crime – contemplado este como problema individual e como problema social –, assim como sobre os programas de prevenção eficaz do mesmo e técnicas de intervenção positiva no homem delinquente e nos diversos modelos ou sistemas de resposta ao delito. A criminologia, através de seus estudos, ajuda a entender melhor o crime, o porquê ele ocorre mais vezes em determinados lugares, assim como ajuda a entender quem é o criminoso. Lombroso, médico que estudava as características físicas do criminoso, trouxe importantes avanços significativos para a criminologia, através de seus estudos. Ele achava que o criminoso tinha determinadas anomalias. Após os seus estudos, surgiram vários criminólogos que estudaram o crime como um problema social. Assim, não estudavam só o delinquente e sim o contexto social onde ele vivia, o que contribuiu e muito para a criminologia. E em seguida, tratar-se-á de algumas teorias sociológicas que irão contribuir para o esclarecimento deste assunto. 2.2 As teorias sociológicas do delito: teoria da ecologia, da anomia, da associação diferencial e da subcultura A teoria da ecologia, da anomia, da associação diferencial e da subcultura são denominadas teorias do consenso, onde os indivíduos vivem em sociedade, trocando experiências, ideias, valores morais, etc. (SHECAIRA, 2012). 69 As teorias consensuais são assim chamadas porque há um consenso entre os grupos de pessoas que existem numa sociedade, uma certa afinidade. Essas teorias estudam a sociedade para assim entender como são formados determinados grupos, ou determinadas associações de pessoas que têm as mesmas culturas ou os mesmos hábitos. É também estudado como esses indivíduos se portam em relação às normas estabelecidas nesta comunidade. Teoria da ecologia A teoria da ecologia investiga os fenômenos sociais que ocorrem nos centros urbanos. A presente teoria trouxe contribuições significativas para a criminologia, na medida em que seus estudos priorizavam a prevenção dos delitos. De acordo com Shecaira (2012, p. 314): A escola de Chicago, também conhecida por teoria da ecologia criminal, produziu grandes consequências metodológicas, por centrar o estudo em investigações empíricas dentro de cada cidade. Sua primeira e grande consequência é priorizar a ação preventiva, minimizando a atuação repressiva do Estado. O controle social informal deve ser reforçado, dando-se menor importância ao controle social formal, que tem posição acessória em relação ao controle primário. Além das contribuições na esfera da política criminal, especialmente no que concerne à prevenção da criminalidade de massas, produziu substanciosas influências na órbita do direito penal, principalmente quanto às questões ambientais, consubstanciadas, no Brasil, na Lei 9.605/1998. Através dos seus estudos, a teoria ecológica verificou que, com o aumento populacional, houve um crescimento da violência, da criminalidade e o surgimento de favelas. Como o aumento populacional se deu muito rápido, fez com que faltassem empregos para a maioria das pessoas, o que acabou gerando a pobreza em várias partes da cidade. Uma cidade, quando ela não é planejada, faz com que os indivíduos sejam desorganizados, o que contribui para o aumento da criminalidade. Um exemplo, aqui no Brasil, seriam as favelas, onde as pessoas vivem em casebres, sem água, sem esgoto e sem luz. É um lugar onde o poder estatal não chega. Chicago foi um grande exemplo de desorganização social, em virtude do grande número de imigrantes. Foi o que ocorreu também com o Brasil nas grandes capitais, 70 como Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. O crescimento populacional gerava desorganização social, com o aumento de crimes, doenças, desordens e prostituição. O vínculo que existia entre as pessoas nas cidades pequenas não existe mais, o que acaba aumentando os índices de criminalidade. Verifica-se que a criminalidade é maior nas áreas de desorganização social. A ausência de assistência médica, de escolas, de polícia, faz com que a sociedade fique abandonada, sem normas, fazendo com que surjam grupos criminosos querendo fazer o papel do Estado. A teoria ecológica prioriza a ação de prevenção, para que assim possa ter uma diminuição na ação de repressão. Dessa forma, podemos concluir que a teoria da ecologia inovou ao basear-se em estudos empíricos da criminalidade nas cidades, o que acabou incentivando diversos outros estudiosos, que criaram outras teorias sociológicas do delito tão importantes quanto a teoria supramencionada. Teoria da anomia Para Shecaira (2004, p. 215), “anomia é uma palavra que tem origem etimológica no grego (a = ausência; nomos = lei) e que significa sem lei, conotando também a ideia de iniquidade, injustiça e desordem”. A teoria da anomia é baseada principalmente em dois grandes estudos de Émile Durkheim, que publicou duas obras, “A divisão do Trabalho Social” e “O suicídio”, onde explicou que a estrutura da sociedade influencia as atitudes dos indivíduos. A referida teoria considera o crime um acontecimento normal e que ocorre em qualquer sociedade, consoante explicação de Shecaira (2004, p. 219): O crime, por sua vez, é um fenômeno normal de toda estrutura social. Só deixa de sê-lo, tornando-se preocupante, quando são ultrapassados determinados limites, quando o fenômeno do desvio passa a ser negativo para a existência e o desenvolvimento da estrutura social, seguindo-se um estado de desorganização, no qual todo o sistema de regras de conduta perde valor, enquanto um novo sistema ainda não se firmou (esta é a definição de anomia). Diante disso, verifica-se que só será preocupante a criminalidade quando ela atinge um certo nível considerável, passando dos limites, prejudicando a convivência dos indivíduos na sociedade. 71 Para a teoria da anomia, uma mudança repentina na sociedade faz com que os indivíduos dificilmente se adaptem com rapidez, o que pode provocar uma certa insegurança em relação às normas, podendo gerar um aumento nos índices de delinquência (MAÍLLO, 2007). Através desta teoria, verifica-se que determinados grupos para solucionar os seus problemas cometem atos desviantes, diferentes dos padrões sociais. Deve-se diminuir a exclusão social e, assim, teremos uma diminuição da criminalidade, tendo em vista que a sociedade influencia as ações do indivíduo. Teoria da associação diferencial Para a teoria da associação diferencial, o delito se aprende como qualquer outro comportamento que aprendemos durante a vida. Segundo esse sistema, qualquer um pode cometer algum delito, tendo em vista que o que leva a pessoa a cometer crimes não é um fator hereditário. Pode-se citar, como exemplo dessa teoria, a situação em que se encontra o sistema prisional brasileiro hoje, onde não é observada a separação entre presos que cometeram delitos menores dos presos que cometeram delitos mais graves. Aquele que cometeu o delito menor tem grandes chances de ser influenciado pelos seus colegas, aprendendo, assim, diversas práticas delitivas. De acordo com a teoria da associação diferencial, o indivíduo se torna criminoso em contato com outros criminosos. Para os criminólogos, os jovens têm mais chances de delinquir do que os adultos, tendo em vista que estão em processo de formação, seja educacional ou moral. Os valores de determinados grupos faz com que seus integrantes cometam delitos. Nessa esteira, aduz Maíllo (2007, p. 203, grifado no original): A co-participação delitiva se refere precisamente ao fato de delinquir em companhia de outros indivíduos. Não importa repetir que os jovens, muito mais que os adultos, tendem de maneira predominante a delinquir em companhia de outros e que isso representa uma importante característica da delinquência juvenil. Isso pode conduzir a consequências muito importantes, como destacaram muitos criminólogos. Diante da teoria da associação diferencial, pode-se concluir que o crime não ocorre por causa da personalidade do criminoso e nem por causa do ambiente em que ele vive, mas emana do aprendizado. 72 Teoria da subcultura Para a teoria da subcultura, a sociedade é formada por pequenos grupos de pessoas, onde cada grupo possui uma particularidade. Alguns desses grupos reúnem-se para cometer delitos, mas que muitas vezes para eles não são considerados atos ilícitos. É o caso das gangues, mencionadas por muitos autores, que se reúnem para cometer crimes. Muitas vezes são indivíduos de classe média, que cometem delitos por simplesmente gostarem desse tipo de comportamento. Shecaira (2004, p. 249, grifado no original), em sua obra, conceitua a teoria da subcultura: Cada sociedade é internamente diferenciada em inúmeros subgrupos, cada um deles com distintos modos de pensar e agir, com suas próprias peculiaridades e que podem fazer com que cada indivíduo, ao participar destes grupos menores, adquira “culturas dentro da cultura”, isto é, subculturas. Diante de tal conceito, verifica-se que toda sociedade é formada por diversos grupos de indivíduos, cada um com suas peculiaridades, cada grupo com seu modo de agir e de pensar. Podem-se citar, como exemplos, os skinheads, punks e neonazistas. A subcultura se contrapõe à cultura dominante, possuindo suas próprias crenças e seus próprios valores. Assim, conclui-se que a teoria da subcultura delinquente advém das sociedades complexas, onde há padrões diversos das culturas dominantes. A subcultura é a reação de uma minoria excluída da sociedade que, através de seus grupos, encontra uma forma de se sentir mais protegida. Definição de delinquente Durante séculos os médicos acreditaram que a aparência física do indivíduo revelava se ele tinha ou não uma natureza criminosa. Mas, com o passar dos anos, os criminólogos foram percebendo que, para compreender o crime e o criminoso, deve-se estudar a sociedade, a fim de verificar de que forma esse delinquente vive. As apreciações de Lombroso influenciaram muito esses estudos. Além de analisar as características biológicas, Lombroso também analisava as características psicológicas dos delinquentes. Acreditava-se que o criminoso tinha uma característica física específica ou uma anomalia, entretanto, concluiu-se que o criminoso, na maioria das vezes, é um ser normal que pode cometer delitos por influências do meio onde vive. 73 Com o passar dos anos, os autores foram compreendendo que não bastava estudar tão somente o delinquente. Deveriam, além disso, estudar o contexto social que esse indivíduo criminoso estava inserido. Durante anos, os estudiosos vêm procurando formas para definir os aspectos da personalidade humana. Verifica-se que não há uma definição específica de quem é o delinquente. Às vezes o delinquente comete crimes por influências, às vezes por necessidade, outras por puro prazer. Através das teorias sociológicas do delito pode-se perceber que, para compreender melhor porquê o delinquente comete delitos, deve-se estudar a sociedade em que ele vive, não bastando estudar, tão somente, suas características biológicas ou psicológicas. Outrossim, denota-se que uma teoria sociológica do delito não exclui a outra e sim se complementam. Pode-se dar, como exemplo, a situação dos presídios brasileiros, onde os criminosos aprendem uns com os outros as práticas delitivas e passam a agir e falar da mesma forma, o que corrobora a teoria da subcultura e da associação diferencial conjuntamente. Dito isso, passar-se-á a analisar a realidade do sistema prisional brasileiro, abordando-se os seguintes tópicos: a) o submundo das prisões a partir de uma releitura da teoria da subcultura; b) o perfil da população carcerária; c) a superlotação dos presídios brasileiros. 3. A realidade do sistema prisional brasileiro Em um primeiro momento, abordar-se-á o submundo das prisões a partir de uma releitura da teoria da subcultura, discorrendo sobre o crime organizado dentro dos estabelecimentos penais, que cresce cada vez mais. Feito isso, analisar-se-á o perfil da população carcerária e a superlotação dos presídios. 3.1 O submundo das prisões a partir de uma releitura da teoria da subcultura A teoria da subcultura, conforme já estudada no capítulo anterior, parte do pressuposto de que a sociedade é formada por inúmeros grupos e cada grupo possui uma particularidade. Cada grupo tem uma forma de agir, através de suas crenças, de seus conhecimentos. 74 Dessa forma, em razão da complexidade de uma sociedade, criam-se grupos menores, cada um com uma cultura. O que pode ser ilegal para alguns pode ser normal para outros. Alguns desses grupos reúnem-se para cometer práticas delitivas. E, no presídio, não é diferente, logo que o criminoso chega à prisão procura falar, agir e pensar como os outros apenados, a fim de se integrar com os colegas, visando a sua própria sobrevivência. Conforme Elbert (2009, p.168, grifado no original): O conceito de “subcultura” teve muita aplicação nas investigações sobre instituições totais, em particular as penitenciárias, uma vez que, nas cadeias, as subculturas representam uma opção entre a vida ou a morte, pela complexa convivência entre presos e carcereiros (submissão, declarações, deveres de cumplicidade, de silêncio, vinganças, etc.). Hoje sabemos que a situação interna de uma prisão é incompreensível se não se interpreta levando em conta os valores próprios de seus distintos atores, setores e distintas hierarquias de poder [...]. Dessa forma, pode-se notar que existe uma cumplicidade entre os presos e uma submissão deles em relação aos agentes penitenciários. Os encarcerados vivem em condições desumanas, insalubres, em virtude da estrutura precária em que se encontram os presídios brasileiros. Como o Estado não fornece o mínimo para as necessidades básicas dos detentos, dentro de cada estabelecimento penal é criada uma economia delinquente, onde se compra e se vende de tudo de forma ilegal. Dentro dos presídios é criado um verdadeiro comércio com os produtos levados pelos familiares dos encarcerados, que subornam os funcionários para que o preso possa ter algumas “regalias”. A maioria dos detentos, além da falta de alimento e de materiais higiênicos básicos, sofre com o frio, ficando com as roupas molhadas em dias de chuva. Para amenizar esse problema, familiares dos detentos subornam alguns agentes dando-lhes roupas em troca de dinheiro. Além dos funcionários corruptos, existem, também, as facções dentro dos presídios. As facções comandam as práticas delitivas dentro e fora da prisão. Dentro dos presídios, elas que comandam quem pode ou não ficar nas galerias. O crime organizado procura impor normas através de lideranças, o que acaba gerando brigas dentro dos estabelecimentos penais, que muitas vezes acabam em mortes de detentos. Essa é a realidade do sistema prisional brasileiro, onde o Estado não consegue mais combater o crime organizado dentro dos estabelecimentos penais. No entanto, o crime organizado não dá ordens só dentro dos estabelecimentos penais. De dentro 75 dos presídios, eles comandam práticas delitivas aqui fora, como assassinatos, execuções, roubos, assaltos a bancos, etc. Outra prática comum é que muitos dos criminosos condenados por tráfico ilícito de drogas continuam comandando o tráfico de entorpecentes mesmo presos. Diante do exposto, verifica-se que dentro dos presídios existe um Estado paralelo, onde as facções dominam os estabelecimentos penais escolhem os seus súditos e impõem regras aos encarcerados, que devem ser obedecidas caso eles queiram sobreviver. Feita essa releitura da teoria da subcultura, passar-se-á a descrever o perfil da população carcerária brasileira. 3.2 O perfil da população carcerária Conforme relatórios estatísticos do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça40 (2012) de dezembro de 2011, 6% dos encarcerados no Brasil são analfabetos, 12% são alfabetizados e 46% não concluíram o ensino fundamental. Diante das informações acima, verifica-se que a maioria dos presos brasileiros não concluiu o ensino fundamental, confirmando que a baixa escolaridade é uma das características comuns entre os presidiários. Consoante levantamento do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, no ano de 2011, havia 441.907 homens e 29.347 mulheres encarcerados, ou seja, mais de 93% dos presos são homens. Denota-se, também, através dos relatórios supramencionados, que mais da metade dos presos possuem entre 18 e 29 anos, o que significa dizer que a maioria dos encarcerados é jovem. Por oportuno, ainda de acordo com dados publicados no Portal do Ministério da Justiça, cumpre salientar que 42% da população carcerária tratam-se de presos provisórios, ou seja, quase a metade dos presos brasileiros não possui sentença condenatória com trânsito em julgado (2012) Com isso, pode-se perceber que a prisão cautelar, que é para ser uma exceção, está se tornando uma regra no nosso país. Diante do exposto, verifica-se que o perfil do preso brasileiro corresponde ao dos indivíduos excluídos da sociedade brasileira. A baixa escolaridade, a falta de qualificação e a dificuldade em conseguir emprego, faz com que os delinquentes encontrem outras formas, através de meios ilícitos, de sobreviver. 40 Disponível em http://portal.mj.gov.br. 76 3.3 A superlotação dos presídios brasileiros De acordo com o diretor do Departamento Nacional do Ministério da Justiça, Augusto Rossini (2011): O Brasil tem hoje 512 mil presos. Ainda faltam, porém, cerca de 200 mil vagas no sistema carcerário. A aplicação de penas alternativas ao encarceramento é uma das saídas para enfrentar o problema da falta de vagas. Nosso grande desafio é convencer a sociedade que alternativa penal não é impunidade. Temos que refletir quantas pessoas estão presas e não deveriam estar. (Disponível em http://portal.mj.gov.br) Só no Estado do Rio Grande do Sul, de acordo com o Sistema Integrado de Informações Penitenciárias – InfoPen41 (2012), a população prisional, no período de dezembro de 2010, era de 31.383 presos. No período de 14 de março a 15 de abril de 2011, foi realizado o Mutirão Carcerário no Estado do Rio Grande do Sul, a fim de verificar os processos referentes a réus presos, definitivos e provisórios, incluindo os sentenciados pendentes de trânsito em julgado, bem como avaliar as condições das penitenciárias e cadeias públicas. Segundo informações publicadas no Portal do Conselho Nacional de Justiça (2012), o maior presídio do Rio Grande do Sul, o Presídio Central, foi inspecionado durante três dias onde foi constatado que o mesmo abriga 4.835 presos sentenciados e provisórios, quando deveria só abrigar presos provisórios. Foi verificado que não estão sendo cumpridas as distinções quanto à idade, situação processual e primariedade na separação dos presos. Ademais, a situação em que se encontra a unidade prisional é de superlotação, onde tem 4.835 internos para 2.069 vagas, o que representa 233,69% da sua capacidade. Além disso, verificou-se que 37%, ou seja, 1770 internos são presos provisórios. Para alguns doutrinadores, não basta o investimento em presídios para a criação de novas vagas. Antes disso, é necessário evitar o crime, com a criação de políticas públicas. Segundo Molina e Gomes (2010, p. 387, grifado no original): Prevenir é mais que dissuadir, mais que criar obstáculos ao cometimento de delitos, intimidando o infrator potencial ou indeciso. Prevenir significa intervir 41 Disponível em http://www.cnj.jus.br. 77 na etiologia do problema criminal, neutralizando suas causas. Contra motivando o delinquente só com a ameaça da pena ou com um sistema legal em excelente estado de funcionamento, permanecem intactas as suas “causas”; não se atacam as raízes do problema senão seus sintomas ou manifestações. E isso não basta. Na situação em que se encontram os presídios hoje, o indivíduo não sai ressocializado e sim acaba cometendo outros crimes quando ganha a liberdade. A pena privativa de liberdade não tem cumprido a sua função, que é ressocializar o apenado para que não volte a cometer crimes. O tratamento que o Brasil dispensa para as vítimas dos crimes assim como para os condenados nos seus simulacros prisionais constitui verdadeira negação da ideia de civilização, que durante um certo período histórico foi atrelada à de perfectibilidade, ou seja, de animal perfectível (melhorável), tal como enfatizavam Jean-Jacques Rousseau e Augusto Comte, em contrapartida à noção de homem racional (de Aristóteles). Durante o Iluminismo havia a crença de que a lei e as instituições poderiam modular o caráter dos seres humanos. Esse tipo de crença, já bastante desgastada, com certeza não valeria de forma algumas para as nossas instituições carcerárias, muito menos para o nosso sistema penal, cada vez mais inadequado para a realidade atual. (2012, Disponível em http:// www.ipclfg.com.br) Ao invés de ressocializar, os presídios são verdadeiras fábricas do crime, onde os presos acabam aprendendo as práticas delitivas e cometendo crimes quando ganham a liberdade. Não basta a criação de vagas em presídios e modificar a lei, além disso, deve-se buscar a ressocialização do preso, a fim de que o mesmo quando saia da cadeia não volte a cometer crimes. Ademais, deve-se melhorar a administração dos estabelecimentos penais já existentes. A falta de controle das execuções das penas também favorece a superlotação nos presídios. O Conselho Nacional de Justiça, entre 2010 e 2011, libertou 21 mil pessoas que estavam presas e já poderiam estar em liberdade (2012). A Câmara dos Deputados (2012)42, visando evitar a perda de direitos dos presos, como a progressão de regime ou a liberdade por cumprimento da pena, aprovou o projeto de Lei nº 2.786/2011, que cria um sistema informatizado para registrar dados de acompanhamento da execução de penas. 42 Disponível em http://www2.camara.gov.br. 78 Concluiu-se que a pena de prisão não só não é capaz de ressocializar o delinquente, como, pior, é altamente dessocializadora: esta é, como já vimos, a conclusão das ciências sociais, particularmente da Penologia e da Criminologia (GOMES, 2000, p. 73). Quando o indivíduo sai da prisão, dificilmente conseguirá emprego em razão do preconceito da sociedade. Assim, passando por dificuldades, o ex-preso provavelmente voltará a delinquir, colocando em prática o que aprendeu durante o encarceramento. De acordo com o Mutirão Carcerário do Conselho Nacional de Justiça (2012): Apesar das várias tentativas de se criar leis de cotas para fomentar o ingresso de ex-presidiários no mercado de trabalho, o preconceito da população os mantém marginalizados e sem perspectivas de reinserção social. “É necessário que a sociedade se conscientize de que também é a responsável pela busca de soluções para o recebimento do reeducando em seu meio”, concluiu o relatório do Mutirão. (Disponível em http://www.cnj.jus.br) O cárcere deixou há muitos anos de ter função educativa, hoje ele não passa de um castigo. Em que pese o detento ter cometido um delito, deve o mesmo ser tratado com dignidade, em razão de ser um cidadão com direitos. O preso deve cumprir a pena em um ambiente salubre para que assim possa ser ressocializado. Feita essa análise acerca da realidade do sistema prisional brasileiro, passar-se-á a analisar as principais alterações do Código de Processo Penal introduzidas pela Lei nº 12.403/2011. 4. Algumas alterações do código de processo penal introduzidas pela Lei nº 12.403/2011 Apresentar-se-ão as principais alterações trazidas pela Lei 12.403/2011, através do estudo das espécies de prisões, das medidas cautelares existentes, da fiança e da liberdade provisória. Com as alterações da Lei supramencionada, a prisão virou uma exceção e a liberdade uma regra, prevalecendo o princípio da presunção da inocência, também conhecido como princípio da não culpabilidade, onde deve prevalecer a presunção de inocência do acusado até a sentença condenatória transitada em julgado. 79 Uma das inovações da referida Lei, foi a criação de um banco de dados, que será mantido pelo Conselho Nacional de Justiça, a fim de facilitar o cumprimento dos mandados de prisão. 4.1 Das prisões De acordo com o artigo 5º da Constituição Federal, ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei. A prisão pode ser divida em dois grupos: prisão-pena e prisão sem pena. A prisão-pena é oriunda de sentença penal transitada em julgado, enquanto a prisão sem pena não é oriunda de sentença condenatória irrecorrível, dividindo-se em prisão civil, prisão processual, prisão disciplinar e prisão administrativa. A prisão administrativa não foi recepcionada pela Constituição Federal e a prisão civil é cabível somente nos casos de devedor de alimentos provisórios. Já a prisão disciplinar existe somente no âmbito militar. A prisão processual penal se divide em três espécies: prisão preventiva, prisão temporária e prisão domiciliar. A prisão preventiva tem caráter provisório, devendo ter presente o fumus comissi delicti e o periculum in libertatis, ou seja, indícios suficientes de que o acusado praticou o delito e que sua liberdade possa vir atrapalhar as investigações ou até mesmo o cumprimento da pena, em caso de sentença condenatória. A prisão preventiva jamais pode configurar antecipação de pena, pois, caso contrário, viola o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. Poderá ser decretada a prisão preventiva como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Uma das novidades trazidas pela Lei 12.403/2011 é a hipótese de decretar prisão preventiva em caso de descumprimento das obrigações impostas através das medidas cautelares, prevista no Parágrafo Único do artigo 312, do CPP. A prisão preventiva é cabível durante a instrução criminal ou durante o processo penal, de caráter excepcional, a fim de se obter êxito na persecução penal. Já a prisão temporária pode ser decretada a partir da ocorrência do fato criminoso até o recebimento da denúncia, pois após o recebimento da denúncia caberá prisão 80 preventiva. O artigo 1º da Lei 7.960/89 dispõe quando caberá a prisão temporária, podendo ela ser decretada quando imprescindível para as investigações do inquérito policial, quando o indiciado não tiver residência fixa, dentre outras hipóteses. A terceira espécie de prisão, a prisão domiciliar, está prevista nos artigos 317 e 318 do Código de Processo Penal. O artigo 318 do CPP prevê as hipóteses em que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar. O referido dispositivo assim dispõe: Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV - gestante a partir do 7o (sétimo) mês de gravidez ou sendo esta de alto risco. Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. Para que o juiz possa substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar, ele poderá exigir prova idônea dos requisitos mencionados acima, conforme previsto no Parágrafo Único do artigo 318, do Código de Processo Penal. Além das prisões supramencionadas, existe também a prisão em flagrante, a qual perdeu a sua autonomia com o advento da Lei 12.403/2011. Nas palavras de Avena (2009, p. 777): A prisão em flagrante é modalidade de prisão cautelar autorizada expressamente pela Constituição Federal (art. 5º, XI). É regida pela causalidade, pois o flagrado é surpreendido no decorrer da prática da infração ou momentos depois. Para sua imposição, são irrelevantes aspectos relativos à ilicitude e à culpabilidade, importando, tão somente, a prática de um fato com aparência de tipicidade. Diante disso, denota-se que a prisão em flagrante era uma modalidade de prisão cautelar, entretanto, com a nova lei ela passou a ser considerada uma prisão pré-cautelar. Agora, ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deve relaxar a prisão se ela for ilegal, transformá-la em prisão preventiva, se preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e se não couber nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão, ou, ainda, conceder a liberdade provisória com ou sem fiança ao acusado. 81 4.2 Das medidas cautelares Como se pôde perceber no capítulo anterior, o sistema prisional brasileiro está falido. A pena de prisão não cumpre mais o seu papel ressocializador, para que quando o presidiário saia da prisão não volte a delinquir. Diante disso, buscou o legislador, através da Lei nº 12.403/2011, trazer várias medidas cautelares diversas da prisão, a fim de evitar ao máximo a prisão de uma pessoa, considerando que a tendência é que o indivíduo cometa outras práticas delitivas ao deixar o presídio. Ademais, está sendo respeitado cada vez mais o princípio constitucional da presunção de inocência do indivíduo. As medidas cautelares alternativas à prisão devem sempre ser fundamentadas pelo juiz, tendo em vista que ela restringe a liberdade do indivíduo. Conceitua Nucci (2011, p. 642), a medida cautelar: Trata-se de providência acautelatória, cuja finalidade é evitar a causação do dano ou lesão a algum direito ou interesse. No âmbito processual penal, cuida-se de instrumento restritivo de direito individual em nome do interesse coletivo, com vistas à garantia da segurança pública. A medida cautelar, diversa da prisão, consiste em qualquer instrumentalização visando o estreitamento da liberdade de ir, vir e ficar, sem a sua completa privação. As medidas cautelares estão dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal, que assim expõe: Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão: I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações; III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante; IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução; V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos; 82 VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais; VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração; VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial; IX - monitoração eletrônica. § 1o (Revogado). § 2o (Revogado). § 3o (Revogado). § 4o A fiança será aplicada de acordo com as disposições do Capítulo VI deste Título, podendo ser cumulada com outras medidas cautelares. O Juiz deverá analisar quais das medidas cautelares acima serão eficazes quando aplicadas ao caso concreto, podendo revogá-las a qualquer momento, desde que desrespeitadas tais medidas. O legislador quer evitar ao máximo que o réu fique preso antes da sentença condenatória irrecorrível, respeitando o princípio da não culpabilidade. As referidas medidas cautelares são taxativas, não podendo o Juiz conceder outras medidas que não estejam previstas no referido diploma. 4.3 Da fiança Trata-se de uma garantia real, consistente no pagamento em dinheiro ou na entrega de valores ao Estado, para assegurar o direito de permanecer em liberdade no transcurso de um processo criminal (NUCCI, 2009, p. 643). Grande inovação trouxe a Lei ao permitir ao Delegado de Polícia, através do artigo 322 do Código de Processo Penal, conceder liberdade provisória mediante fiança nos crimes cuja pena máxima cominada não seja superior a quatro anos de prisão. O principal critério para o estabelecimento do montante específico da fiança é a situação econômica do réu, dentre outros previstos no art. 326 do CPP. O valor da fiança poderá ser de um a cem salários mínimos, quando se tratar de infração cuja pena privativa de liberdade não for superior a quatro anos, ou de dez a duzentos salários mínimos quando o máximo da pena privativa de liberdade cominada 83 for superior a quatro anos, nos termos do artigo 325 do Código de Processo Penal. Ademais, o juiz ao verificar a situação econômica do réu, pode aumentar o valor da fiança em até mil vezes mais ou reduzi-la até o máximo de dois terços. O juiz, para conceder a fiança, deve analisar a gravidade do delito, bem como verificar se o acusado é capaz de pagar o valor fixado. Não tendo o réu condições financeiras para arcar com a fiança, pode-se considerar o réu pobre e conceder a liberdade provisória a ele, sem fiança. Em recente decisão, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (2012)43 isentou moradores de rua do pagamento de fiança, julgando ilegal o constrangimento imposto por decisão de primeiro grau que condiciona a liberdade provisória ao pagamento de fiança fixada superior à capacidade de pagamento dos presos. 4.4 Da liberdade provisória A liberdade provisória substitui a prisão em flagrante, estando o seu fundamento previsto no artigo 5º, inciso LXVI, da Constituição Federal. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá, dentre outras hipóteses, conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança, conforme o dispositivo legal: Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Parágrafo único. Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato nas condições constantes dos incisos I a III do caput do art. 23 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação. Não se pode confundir a liberdade provisória com o relaxamento de prisão, tendo em vista que na liberdade provisória a prisão é legal, mas desnecessária, enquanto no relaxamento, a prisão é ilegal. 43 Disponível em http://www.stj.jus.br. 84 A liberdade provisória dura até que se quebre a fiança ou até que a sentença transite em julgado. Se a sentença for condenatória, será dado início à execução da pena, sendo a sentença absolutória, será dada a liberdade definitiva ao indivíduo. Dito isso, verifica-se que o legislador, bem como os julgadores, estão buscando caminhos altern A inovação da Lei poderá mitigar de forma eficiente e adequada os problemas da nossa realidade carcerária e a maneira como o Estado vem punindo milhares de encarcerados, que vivem sob um sistema falido, que não promove a ressocialização do encarcerado e a sua efetiva reinserção social. Quase metade da população carcerária trata-se de presos provisórios, ou seja, ainda não possuem sentença condenatória irrecorrível, podendo, até mesmo, no final do processo ser absolvidos. Nesse sentido, importante ressaltar as palavras de Garcia (2011, p. 29): Operadores e cientistas do direito já constataram que apenas encarcerar alguém não basta. É preciso que estejam previstas na lei outras medidas para que o objetivo da reclusão seja cumprido, e tal possibilidade na melhora dos índices de ressocialização em detrimento da reincidência jamais seria alcançada se essas novas medidas – inclusive a mudança de nossas leis penais e processuais – não fossem tomadas. E, acertadamente, é o que a redação da nova Lei tenta fazer ao nosso sistema processual [...]. Dessa forma, encerra-se o presente estudo, onde se buscou demonstrar a realidade do sistema prisional brasileiro e as principais alterações introduzidas pela Lei nº 12.403, de 04 de maio de 2011. 5. Conclusão A pena de prisão não cumpre mais com a sua função social, que é a ressocialização e a reeducação do delinquente. Os estabelecimentos penais são verdadeiras escolas do crime, onde os criminosos aprendem as práticas delitivas uns com os outros, considerando que a lei não é respeitada, na medida em que não é observada a separação entre presos provisórios e presos condenados, mantendo indivíduos que cometeram delitos graves juntamente com indivíduos que cometeram delitos menores. 85 Foi visto, através da criminologia, que antes de ressocializar o delinquente é necessário prevenir a prática delitiva, ou seja, a prevenção em primeiro lugar. O legislador, através da Lei nº 12.403/2011, trouxe diversas medidas cautelares diversas da prisão, a fim de que fiquem presos somente os criminosos que cometeram delitos mais graves e os que são considerados de alta periculosidade. Entretanto, sabemos que não é o que está ocorrendo no Brasil, tendo em vista que quase metade da população carcerária brasileira trata-se de presos provisórios, ou seja, aqueles que ainda não possuem sentença condenatória transitada em julgado. Com o advento da lei supramencionada está sendo observado cada vez mais o princípio da presunção de inocência, contido na nossa Constituição Federal, que significa que o acusado é presumido inocente até a sentença condenatória transitada em julgado. No entanto, de pouco adianta o legislador se preocupar em criar leis eficazes, se na prática elas não são aplicadas. Um belo exemplo disso é a quantidade de presos que já poderia estar em liberdade, mas continua dentro dos presídios, pois foi esquecida pelo Poder Judiciário. Os processos demoram muito a tramitar e isso faz com que os apenados fiquem de maneira irregular nos estabelecimentos penais. A falta de um sistema informatizado dificulta o controle da execução das penas, fazendo com que os detentos ultrapassem o tempo previsto na prisão. Dessa forma, o que se pode concluir é que a Lei 12.403/2011 trouxe alterações significativas para a pena de prisão, entretanto, não é suficiente para desafogar o sistema carcerário. Além da criação de novos presídios, deve-se melhorar a administração dos estabelecimentos penais já existentes, bem como buscar a ressocialização do preso e prevenir as práticas delitivas, através de programas de prevenção. Ademais, deve-se ter um melhor controle do cumprimento da pena, a fim de que os condenados não fiquem presos mais tempo do que deveriam, visando melhorar o quadro de superlotação dos estabelecimentos penais. Espera-se, com o presente trabalho, ter trazido mais conhecimentos acerca da atual situação dos presídios no Brasil e a respeito das principais alterações trazidas pela Lei 12.403/2011. 6. Referências bibliográficas AVENA, Norberto. Processo penal esquematizado. São Paulo: Método, 2009. BRASIL. Constituição (1998). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília (DF): Senado Federal, 1988. 86 ______. Decreto-Lei n. 3.689, de 3 de outubro de 1941. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília (DF), 3 out. 1941. Disponível em: <http:// www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689.htm>. Acesso em: 15 nov. 2011. ______. Lei n . 7.960, de 21 de dezembro de 1989. Disponível em: <http://www .planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7960.htm>. Acesso em: 17 nov. 2011. ______. Lei n 12.403, de 04 de maio de 2011. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12403.htm>. Acesso em: 15 nov. 2011. ______. Superior Tribunal de Justiça. Disponível em: <http://www.stj.jus.br/ portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=106031>. Acesso em: 14 jun. 2012. CÂMARA DOS DEPUTADOS. Disponível em: <http://www2.camara.gov.br/ agencia/ noticias/DIREITO-E-JUSTICA/419888-CAMARA-APROVA-SISTEMA-INFORMATIZADO-PARA-ACOMPANHAR-EXECUCAO-DE-PENAS.html.>. Acesso em: 14 jun. 2012. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Disponível em: <http://www.cnj. jus.br/images /pesquisas-judiciarias/Publicacoes/mutirao_carcerario.pdf>. Acesso em: 20 mai. 2012. ______. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/images/programas/ mutirao-carcerario/relatorios/riograndedosul.pdf>. Acesso em: 30 abr. 2012. ______. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/17135-mutirao-carcerario-libertou-mais-de-21-mil-pessoas-em-dois-anos>. Acesso em: 05 mai. 2012. ELBERT, Carlos Alberto. Novo manual básico de criminologia. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. GARCIA, Débora Faria. Novas regras da prisão e medidas cautelares: comentários à Lei 12.403/2011. Rio de Janeiro: Método, 2011. 87 GOMES, Luiz Flavio. Das penas e medidas alternativas à prisão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. INSTITUTO DE PESQUISA E CULTURA LUIZ FLÁVIO GOMES. Disponível em: <http://www.ipclfg.com.br/artigos-do-prof- lfg/regiao-centro-oeste-descaso-estatal-arbitrariedades-e-superlotacao-dos-presidios/>. Acesso em: 9 jun. 2012. MAÍLLO. Alfonso Serrano. Introdução à criminologia. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Alternativa penal não é impunidade. Disponível em: <http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ8F939E3DITEMID6FBC4C3B0F6A42DCB6C4281B4EB6F293PTBRIE.htm>. Acesso em: 14 nov. 2011. ______. Disponível em: <http://portal.mj.gov.br/depen/data/Pages/MJD574E9 CEITEMIDC37B2AE94C6840068B1624D28407509CPTBRNN.htm>. Acesso em: 01 jun. 2012. MOLINA, A. G. P. de; GOMES, L. F. Criminologia: introdução a seus fundamentos teóricos: introdução às bases criminológicas da Lei 9.099/95, lei dos juizados especiais criminais. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. ______. Manual de processo penal e execução penal. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. SHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. ______. Criminologia. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. 88 O TRANSTORNO DE PERSONALIDADE ANTISSOCIAL E A LEI PENAL BRASILEIRA: UM ESTUDO SOBRE A IMPUTABILIDADE João Artur Krupp Bohman44 Diego Romero45 RESUMO Este artigo trata sobre o transtorno de personalidade antissocial em face ao Direito Penal. Será tratada acerca da figura do transtorno de personalidade social e as características particulares das pessoas que o portam, além das diferenças entre eles e os doentes mentais. O objetivo principal deste trabalho é compreender o que é Transtorno de Personalidade Antissocial, relacionando o indivíduo que o possui com as formas de sanção penal existentes no Brasil, através de uma análise dos conceitos de culpabilidade e imputabilidade, para tentar demonstrar se existe algum tratamento jurídico adequado ao psicopata no estágio atual do Direito Penal do Brasil. Abordar-se-á, também, o artigo 26 do Código Penal, a fim de demonstrar se o antissocial está entre os indivíduos tidos como inimputáveis e quais os efeitos que determinadas sanções ou medidas podem produzir no antissocial. Palavras-chave: Transtorno de personalidade antissocial – Imputabilidade – Sanção Penal – Psicopatia – Doença Mental. Acadêmico do 10º semestre do curso de Direito da Universidade de Santa Cruz do Sul, campi Capão da Canoa. E-mail: [email protected]. 44 Advogado Criminalista e Professor de Direito Penal e Processual Penal da Universidade de Santa Cruz do Sul. Especialista em Direito Penal Empresarial e Mestre em Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. E-mail: [email protected]. 45 89 O Transtorno de Personalidade Antissocial é uma espécie de comportamento caracterizado pelo desprezo às obrigações sociais, pela falta de empatia para com as outras pessoas e um desvio de comportamento em relação às normas sociais. Também se caracteriza pela baixa tolerância à frustração e pela inclinação à violência. Por tais características, é comum que pessoas com este tipo de personalidade cometam crimes. À luz do disposto no artigo 26, caput e parágrafo único, do Código Penal, aquele que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado for incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com este entendimento será isento de pena; enquanto aquele que, por perturbação da saúde mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado não for inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com este entendimento poderá ter sua pena reduzida. Então, deve-se analisar se é possível enquadrar o conceito de transtorno de personalidade antissocial dentro de uma das expressões trazidas pelo Código Penal, tais como “doença mental”, “desenvolvimento mental incompleto ou retardado” e “perturbação da saúde mental” e se o referido transtorno causa algum prejuízo à capacidade de entendimento ou de determinação do agente. Apesar do transtorno de personalidade antissocial ter características que levam o sujeito a entrar em conflito com a sociedade e, não raro, cometer crimes, nem a Lei Penal é clara ou suficiente em estabelecer o tratamento penal adequado a estas pessoas, nem na doutrina pátria existe consenso quanto ao enquadramento ou não destes indivíduos na disposição do artigo 26 do Código Penal. O tema é de grande importância, pois as personalidades estudadas são caracterizadas por diversos fatores que os tornam mais propensos à prática de crimes e, também, à crimes violentos que desafiam a compreensão. Diante de tais circunstâncias, apresentamos o estudo do tema proposto, que se reveste de relevância, propondo uma reflexão sobre o assunto. Existem crimes que transcendem a capacidade de entendimento do homem. Diante de determinados casos, tende-se a acreditar que o responsável por atrocidades ímpares só pode se tratar de um louco, alguém cuja compreensão da realidade é afetada por algum tipo de doença, ou alguém em quem a capacidade de controlar os seus impulsos é ausente ou prejudicada. Porém, há de ser lembrada a afirmação de Terêncio (2006), quando diz “Sono un uomo e non considero estraneo a me niente di ciò che riguardi gli uomini”46. 46 Sou homem e não considero estranho nada que é humano. 90 Desta forma, pretende-se demonstrar que existe um tipo de criminoso que reside na fronteira entre a sanidade e o que pode ser considerado doença mental. São os indivíduos a quem Pinel atribuiu o termo “loucura sem delírio” (TRINDADE, BEHEREGARAY e CUNEO, 2009, p. 31), Pitchard definiu como “loucura moral” (BONFIM, 2010. p. 276) e Kreaplin tratou, em 1896, como “personalidades psicopáticas” (TRINDADE, BEHEREGARAY e CUNEO, 2009, p. 43). Entretanto, os termos mais usados cientificamente são: transtorno dissocial ou transtorno de personalidade antissocial. Para que se possa trazer à seara do direito penal as questões relativas à punibilidade de tais sujeitos, é necessário, antes, que se entenda como se criam tais personalidades e como elas se comportam e interagem com os outros indivíduos. O ponto de partida do estudo desenvolvido está em definir o que se entende por personalidade. A conceituação de Kaplan & Sadock (1997), citados por Gomes, Gomes e Gomes (2003, p. 553-557) é adequada: “O termo ‘Personalidade’ pode ser definido como a totalidade dos traços emocionais e comportamentais que caracterizam o indivíduo na vida cotidiana, sob condições normais; é relativamente estável e previsível”. Trindade (2010. p. 153), por sua vez, define a personalidade como um conjunto de fatores hereditários e vivenciais, sendo ela construída ao longo da vida, e não adquirida com o nascimento. Fiorelli e Mangini (2009, p. 97) explicam que a personalidade é formada pelo conjunto das “características de personalidade”, que são comportamentos estáveis e persistentes que formam o comportamento que se espera de um indivíduo em cada circunstância em que ele é inserido. A personalidade dos indivíduos altera-se com o tempo, devido a inúmeros fatores orgânicos, psicológicos e sociais, como estresse prolongado ou eventos traumáticos (FIORELLI e MANGINI, 2009, p. 103). Essas alterações, embora possam ser prejudiciais, não são suficientes, necessariamente, para tirar a funcionalidade do indivíduo. Quando a funcionalidade fica comprometida, fica caracterizado o prejuízo à saúde mental, podendo-se desenvolver um quadro de transtorno de personalidade (FIORELLI e MANGINI, 2009, p. 103-104). Kaplan e Sadock, citados por Fiorelli e Mangini (2009, p. 104), definem transtorno de personalidade como “padrões de comportamento profundamente arraigados e permanentes, manifestando-se como respostas inflexíveis a uma ampla série de situações pessoais e sociais”. A inflexibilidade não está associada à doença cerebral, mas é nitidamente excessiva e compromete o funcionamento, social ou ocupacional, 91 de modo significativo, e/ou vem acompanhada de um sofrimento subjetivo. Segundo Fiorelli e Mangini (2009, p. 104), no transtorno de personalidade ocorrerá uma perda da flexibilidade da personalidade diante de situações diversas, tendo determinadas características da personalidade que predominam, não havendo adaptação. Existem pessoas que tendem a se rebelar contra os limites impostos e as regras sociais, ficando presas ao mau comportamento apesar das sanções sofridas. Tal desrespeito crônico de leis e regras sociais é mais sério do que o desrespeito ocasional das outras pessoas. Os transgressores habituais e crônicos não parecem preocupar-se com as noções de certo e errado, ou fazer distinção entre o bem e o mal. Transtorno de personalidade antissocial é o termo utilizado para descrever tais pessoas e sua condição (GAUER e NETO, 2003. p. 595). As Escolas Positivistas de Criminologia trabalhavam com a ideia do criminoso nato. Para Lombroso, a anormalidade se constituía de características físicas (RAUTER, 2003, p. 33). Já para Ferri, o criminoso passou a ser reconhecido através de hábitos da vida, mantendo a oposição entre normal e anormal (homem honesto x homem criminoso). Entre os dois polos, surgirão outras categorias que serão fundamentais na ampliação progressiva do discurso criminológico. Daí surgem conceitos chaves da criminologia, como a noção de periculosidade e as classificações do criminoso (RAUTER, 2003, p. 35). Ferri também foi pioneiro em relacionar fatores exógenos na contribuição do delito (TRINDADE, BEHEREGARAY e CUNEO, 2009. p. 43), além de ter definido o criminoso como um “anormal moral” (RAUTER, 2003, p. 34). Porém, a evolução destes primeiros conceitos criminológicos até o que se entende hoje por psicopatia foi um caminho confuso e tortuoso, onde contribuíram Pinel, Pritchard e Koch. Porém, foi Kraeplin, em 1896 usou o termo personalidade psicopática, descrevendo o criminoso amoral (TRINDADE, BEHEREGARAY e CUNEO, 2009, p. 43). A construção do conceito de TPAS envolve muitos outros doutrinadores e ideias que contribuíram a sua definição, embora ainda hoje não haja consenso. De maior importância para este trabalho é o estudo o transtorno de personalidade antissocial (TPAS), também definido como psicopatia, sociopatia, transtorno de caráter, transtorno sociopático ou transtorno dissocial (FIORELLI e MANGINI, 2009, p. 105). A Classificação Internacional de Doenças (CID – 10) usa o termo “Personalidade Dissocial” (SILVA, 2010, p. 222). Segundo Fiorelli e Mangini (2009, p. 106), o DSM IV (Diagnostic and Statical Manual of Mental Disorders) introduz o conceito de Transtorno de Personalidade An- 92 tissocial como um “padrão invasivo de desrespeito e violação dos direitos dos outros, que inicia na infância ou no começo da adolescência e continua na idade adulta. Sinônimos: psicopatia, sociopatia ou transtorno de personalidade dissocial”. A Classificação Internacional das Doenças (CID – 10) define o transtorno de personalidade dissocial como um transtorno de personalidade caracterizado por um desprezo das obrigações sociais, falta de empatia para com os outros. Há um desvio considerável entre o comportamento e as normas sociais estabelecidas. O comportamento não é facilmente modificado pelas experiências adversas, inclusive pelas punições. Existe uma baixa tolerância à frustração e um baixo limiar de descarga da agressividade, inclusive da violência. Existe uma tendência a culpar os outros ou a fornecer racionalizações plausíveis para explicar um comportamento que leva o sujeito a entrar em conflito com a sociedade (SILVA, 2010, p. 222). Gauer e Neto (2003, p. 599) e Fiorelli e Mangini (2009, p. 106-107), com base nas ideias de Cleckley, Hare, Hart e Harpur, trazem as características que estão associadas ao TPAS, das quais destacam-se: problemas de conduta na infância; impulsividade; irresponsabilidade; charme e encanto superficiais, somados a loquacidade e inteligência; incapacidade de amar ou de se envolver afetivo-emocionalmente, apresentando falta de empatia; mentiras patológicas e manipulação; ausência de arrependimento ou remorso e consequente incapacidade de aprender com a experiência; tendência ao tédio; e transtorno de conduta na infância e na adolescência. Essas características são as mais aceitas atualmente. Não se confunde o Transtorno de Personalidade Antissocial com doença mental. Pessoas que possuem tal transtorno costumam possuir habilidades sociais bem desenvolvidas e excelente comunicação verbal, tendo perícia em racionalizar seus comportamentos inapropriados de forma que pareçam razoáveis e justificáveis (TRINDADE, 2010, p. 158). Além disso, outra característica desse tipo de transtorno de personalidade, que o afasta de uma doença mental, é a ausência de alucinações, delírios ou manifestações neuróticas (GAUER e NETO, 2003, p. 599). Os comportamentos antissociais podem se traduzir em infidelidade e mentiras patológicas, sem, contudo, significar crime, pois como bem ressaltam Fiorelli e Mangini (2009, p. 108), nem todo psicopata é criminoso. O ser psicopata é uma condição estável, uma maneira de existir, embora possa não ser percebida em determinadas condições de momento ou circunstâncias. Porém, não passa de dissimulação que garante sobrevivência social do indivíduo (GAUER e NETO, 2003, p. 599). 93 Por não se tratar de uma doença, não existe um tratamento específico para o transtorno. Os desafios ao tratamento terapêutico são muitos, pois se trata de um paciente que tem baixa tolerância à frustração, é impulsivo, não estabelece relacionamentos de confiança dificultando o vínculo com o terapeuta, além de não existir motivação para mudar (GAUER e NETO, 2003. p. 604). Ao longo da história, vários cientistas tentaram relacionar o crime e a biologia, não havendo, porém, prova científica a apoiar a teoria do “gene criminoso”, sendo o comportamento psicopata é consequência de fatores familiares ou sociológicos, mas alguns pesquisadores encontram diferenças cerebrais entre psicopatas e pessoas normais que não podem ser descartadas (CASOY, 2008, p. 35-36). Existem pesquisas, ainda, que além de creditarem a ocorrência do TPAS a fatores hereditários e ambientais, acrescentam características biológicas presentes nos cérebros dessas pessoas. Christopher Patrick, Robert Hare e Dominique LaPierre são alguns dos cientistas que, através de estudos, perceberam mudanças estruturais nos cérebros dos psicopatas, provando que eles reagem de maneira diferente das outras pessoas quando expostos a determinados estímulos (CASOY, 2008, p. 37). Casoy (2008, p. 37) afirma que “indivíduos que são antissociais, impulsivos, sem remorso e que cometem crimes violentos têm, em média, 11% menos matéria cinzenta no córtex pré-frontal do que o normal”. Entretanto Raine, também Casoy (2008, p. 38), lembra que as diferenças cerebrais apenas aumentam a probabilidade do indivíduo ser violento, mas que é necessária a combinação com fatores sociais para “criar” um criminoso. Existem muitas divergências quanto à classificação do antissocial, tanto médica quanto juridicamente, sendo que, muitos autores colocam o antissocial em uma zona limítrofe, fronteiriça, entre a sanidade e a loucura (BONFIM, 2010, p. 75). Assim, há de se entender a diferença entre uma personalidade deformada e a insanidade mental. Kurt Schneider foi o responsável por trazer a psicopatia para o campo das psicopatologias, retirando-os do campo exclusivo do Direito Penal. Entretanto, considerou o transtorno como “não mórbido”. Anormal, mas sem ser, entretanto, um doente mental. Ao mesmo tempo em que é classificado como psicopata, é considerado irrecuperável. Assim, trata-se de uma classificação contraditória (RAUTER, 2003, p. 115). Essa classificação contraditória na área da psiquiatria também se reflete no Direito Penal quando há de se decidir entre um julgamento de inimputável, semi-imputável ou imputável (BONFIM, 2010, p. 312). 94 Tais contradições são reflexos ainda da novidade do tema. Segundo Rauter (2003, p. 14), a psiquiatria expandiu-se também para a análise dos normais, e não apenas dos desarrazoados, sendo o diagnóstico do transtorno antissocial uma das novas tendências expansionistas, uma vez que esse transtorno seria uma forma de “loucura lúcida”, difícil de diferenciar da normalidade. Casoy (2008), no título de sua obra, indaga: “Serial Killer: louco ou cruel?”, sendo que neste livro a autora traça os perfis dos matadores em série, diferenciando os loucos (doentes), dos cruéis (antissociais). Neste sentido, Bonfim (2010, p. 160) alerta que “a loucura não pode ter ‘costas tão largas’ para que nela se debite toda a maldade humana”. Também é Bonfim (2010, p. 280) quem afirma serem as desordens psicopáticas apenas um julgamento moral disfarçado como um diagnóstico, valendo-se das ideias de Harschel Prins. Pela forma como a personalidade antissocial está estruturada, seus crimes muitas vezes são cometidos de forma cruel e metódica, que faz querer crer que uma pessoa dita “normal” jamais poderia ter agido de tal forma. Por isso que Casoy (2008, p. 35) afirma que “racionalizar o ato como sendo resultado de uma doença mental parece tornar o crime mais lógico”. O criminoso psicopata e o criminoso “anormal” apresentam-se de formas distintas. Apesar de nem todos os antissociais serem delinquentes, podendo cometer desvios de comportamento de outro gênero, é evidente que pelas características de sua personalidade acaba sendo bastante comum que venham a cometer crimes. Contudo, é a partir de crimes graves e cruéis que questões como a imputabilidade acabam sendo levantadas. Dentro de um grupo em particular, o dos assassinos seriais, a grande maioria padece de algum tipo de psicopatia. Os assassinos seriais, da mesma forma, não são, necessariamente, psicopatas. Podem ser, também, psicóticos, estes sim doentes mentais (BONFIM, 2010, p. 68). Em se tratando de matadores em série, a diferenciação entre o criminoso psicopata e o criminoso psicótico fica mais clara. Isto se dá pela diversidade de casos, pelo maior material doutrinário sobre o tema, por estes crimes obedecerem a um padrão repetitivo mais fácil de ser analisado e também porque, normalmente, são nesses casos que a questão da imputabilidade normalmente é suscitada. O psicopata, ao contrário do psicótico, não é acometido por alucinações ou delírios (SILVA, 2011, p. 50-51). Assim, o transtorno de personalidade antissocial não pode ser posto na categoria das doenças mentais, uma vez que em termos médicos-psiquiátricos, a psicopatia não se encaixa na visão tradicional dessas doenças (SILVA, 2010, p. 40). 95 O agir do antissocial é metódico e determinado, graças a uma personalidade onde não é possível verificar-se a empatia e o sentimento de culpa. Por isso, Bonfim (2010, p. 75) demonstra como se da o agir do antissocial em relação ao crime, não apenas em sua execução, mas posteriormente também através de manipulação, mentiras e eloquência verbal, já que age linearmente e sem emoção, usando de artifícios para dificultar a investigação, tendo plena consciência da ilicitude, valendo-se da mentira e do engodo para escapar da responsabilização penal, utilizando deliberadamente de um “verniz social”. Por este motivo, esses indivíduos são considerados sãos, capazes de assimilar a diferença entre o certo e o errado e de responder seus atos criminosos (CASOY, 2008, p. 25). Já o psicótico, ao cometer um crime, age de maneira completamente diferente. Ao descrever o homicida serial acometido por uma psicose, Bonfim (2010, p. 75) dispõe que ele “não é consciente de seu estado”, não assimilando seus delírios e alucinações, agindo impelido por ideias de grandeza e misticismo. Da mesma forma, os crimes cometidos pelo indivíduo psicótico e pelo indivíduo psicopata também costumam ser diferentes. A doutrina especializada aponta um quadro com diversas características relacionadas ao assassino “organizado” e ao assassino “desorganizado”. Tal classificação, conhecida como Teoria da Organização e da Desorganização, é bastante utilizada para ajudar a apontar os assassinos em série imputáveis e os inimputáveis (SOUZA, 2010, p. 61). Porém, a utilização dessa classificação carece de muitos cuidados, pois os quadros não são rígidos, podendo, eventualmente, alguma característica de um grupo aparecer, isoladamente, em outro (BONFIM, 2010, p. 134). Essas características, se observadas fora de um contexto podem parecer uma generalização, mas analisadas dentro de um conjunto, fazem perceber uma grande diferença no modo de pensar e, consequentemente, de agir, de um criminoso organizado e um criminoso desorganizado. Nos criminosos organizados, percebe-se uma premeditação dos crimes, com escolha do local do delito, controle sobre a vítima, imposição de torturas, costuma trazer a arma do crime consigo e levá-la consigo posteriormente; socializa com a vítima para aproximar-se dela; o processo de consumação do delito, até a morte da vítima, costuma ser lento doloroso. Costuma, também, dificultar a identificação do corpo da vítima, além de cometer o crime e dispensar o cadáver longe de sua casa ou do seu local de trabalho (CASOY, 2008, p. 65-66). Estas características denotam um preparo, uma premeditação para o delito que são incompatíveis com uma mente 96 doente e incapaz de compreender a realidade. No entanto, são perfeitamente possíveis em um antissocial, que se aproxima da vítima e cria uma situação onde é possível cometer o delito, já que os psicopatas são “superficialmente sociáveis” (BONFIM, 2010, p. 136). O criminoso desorganizado, por outro lado, não costuma premeditar o crime, utilizando uma arma de ocasião, que acaba sendo dispensada no local. A vítima apresenta lesões mais severas do que as que seriam necessárias para obter o resultado morte, com sinais de brutalidade; o ataque é rápido, a vítima não possui características especiais, sendo escolhida ao acaso (CASOY, 2008, p. 65-66). Desta forma, em se tratando de tipos tão diferentes, tanto enquanto convivem socialmente quanto quando cometem crimes, é evidente que a forma de punição para eles deve, necessariamente, observar essas diferenças. Para se chegar a essa conclusão, deve-se analisar o que se entende por culpabilidade penal. No tocante a culpabilidade como elemento integrante do crime, existem correntes doutrinárias que a inserem dentro do conceito de delito, bem como outras que a tratam como mero pressuposto de pena. Há algumas teorias a respeito da culpabilidade que devem ser consideradas. Primeiramente, há a teoria psicológica da culpabilidade, que tem como expoente Von Liszt. Para esta teoria, a ação é um processo causal, originado do impulso e da vontade (BITENCOURT, 2011, p. 395). O grande problema desta teoria estava em reunir em um mesmo conceito (culpabilidade) duas espécies diferentes como o dolo, que é um conceito psíquico, e a culpa, que é um conceito normativo. Em realidade, esta teoria denominava culpabilidade aquilo que hoje se entende por aspecto subjetivo do tipo (ZAFFARONI e PIERANGELI, 2011, p. 523), dentro do estudo da tipicidade, portanto. Diante das deficiências da teoria psicológica da culpabilidade é que ela acabou concebida com caráter normativo, como a reprovabilidade do injusto. Esta foi a teoria de Reinhardt Frank, de 1907 que, contudo, não retirava a figura do dolo e da culpa do conceito de culpabilidade. Assim, a culpabilidade era ao mesmo tempo uma relação psicológica, acrescida, agora, de um juízo de reprovação ao autor. Trata-se da teoria psicológico-normativa (ZAFFARONI e PIERANGELI, 2011, p. 523-524). Por esta teoria, o dolo e a culpa constituem elementos da culpabilidade, sem que, contudo, sejam tidos como a culpabilidade por si só. Todavia, estes elementos (dolo ou culpa), não são suficientes para caracterizar a culpabilidade, necessitando-se de outros elementos, não sendo mais a culpabilidade vista como um vínculo entre o agente e o 97 fato, proveniente do psiquismo daquele, mas como um juízo de valoração a respeito do agente (BITENCOURT, 2011, p. 400). Assim, a culpabilidade psicológico-normativa é composta da imputabilidade, que assume o papel de elemento da culpabilidade, não sendo mais pressuposto dela, como fora outrora; composta de um elemento psicológico-normativo (o dolo ou a culpa); e por fim pela exigibilidade de conduta conforme o Direito, ou o “poder agir de outro modo” (BITENCOURT, 2011, p. 400). O dolo assumiu um caráter híbrido, sendo composto por um elemento volitivo e por um elemento intelectual (previsão ou consciência), ambos psicológicos; e também sendo composto pela consciência da ilicitude, elemento de caráter normativo (BITENCOURT, 2011, p. 401). É justamente este caráter hibrido atribuído ao dolo que será o maior alvo de críticas dessa teoria. O dolo foi deslocado deste elemento para a teoria do tipo, transformando a culpabilidade em um conceito meramente normativo (ZAFFARONI e PIERANGELI, 2011, p. 524). Tais impasses, porém, foram superados pela teoria normativa pura, advinda da teoria finalista da ação de Welzel (BITENCOURT, 2011, p. 402). A corrente mais aceita no Brasil é a que define crime como um fato típico, antijurídico e culpável, defendida, entre outros, por Guilherme de Souza Nucci (2009, p. 289), que conceitua culpabilidade como um juízo de reprovação que incide sobre o fato e o autor, devendo tratar-se de um agente imputável, que tenha possibilidade e exigibilidade de atuar de modo diverso ao que atuou. Este conceito é da teoria normativa pura que advém do finalismo. Conforme Mirabete (2002, p. 196), para os finalistas a ação não pode estar desvinculada do fim do agente, pois só assim se atingiria uma proximidade do caso concreto. Nesta linha, para se conseguir falar na imputabilidade penal dos psicopatas, primeiro há de se colocá-la no conceito de crime. Bittencourt (2009, p. 220) ainda defende, apoiado na afirmação de Cerezo Mir, que os elementos integrantes do crime formam uma sequencia lógica necessária para que ocorra o delito de fato, pois: “Somente ação ou omissão pode ser típica, só uma ação ou omissão típica pode ser antijurídica e só uma ação ou omissão antijurídica pode ser culpável”. Normalmente, para que se constitua um crime, primeiramente o fato deve ser tipificado no ordenamento jurídico. Assim o sendo, deverá também ser ilícito, contrário ao direito. A partir deste ponto, está transposto o limite mínimo que Munõz Conde (1988, p. 4) estabelece para que haja uma resposta jurídico-penal. Isto não exclui a culpabilidade do conceito do delito. A única diferença em relação ao outros dois elementos é que já é possível a existência de uma resposta jurídico-penal mesmo 98 não havendo culpabilidade. Assim, a culpabilidade acolhe os elementos que não fazem parte do injusto (fato típico e antijurídico), mas determinam a imposição de uma pena (MUÑOZ CONDE, 1988, p. 125). Conforme o conceito de Nucci, a culpabilidade é constituída de três elementos: imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta adversa. Mirabete (2002, p. 198) define imputabilidade como o ajuste entre a consciência e a vontade do agente conforme o direito, observadas suas condições psíquicas; define potencial consciência da ilicitude como a possibilidade, nas circunstâncias, de entender se sua conduta era contrária ao direito; e define exigibilidade de conduta diversa como a possibilidade de se exigir do agente uma forma de agir diferente da que adotou. Então, a antijuridicidade é o limite entre a resposta jurídica a ser dada a um fato. Isto porque na ilicitude se faz um juízo de desvalor sobre um fato típico, ou seja, se aquele fato era contrário ao direito. Superada tal etapa, a culpabilidade será um juízo de reprovação pessoal dirigido ao agente por não ter agido conforme uma norma de direito, quando poderia tê-lo feito (PRADO, 2010, p. 384). Deste modo, a culpabilidade deve responder se o agente pode ser sujeito da pena imposta ao injusto por ele praticado. Primeiramente, a culpabilidade determinará se no momento da ação o agente tinha capacidade de entender o caráter ilícito da conduta que praticava e, entendendo, de se determinar de acordo com esse entendimento (MIRABETE, 2002, p. 197). Também deve determinar se era possível ao autor do fato conhecer que sua ação consistia em um ato ilícito e, finalmente, determinar se, não tendo agido de acordo com a norma penal, era exigível ao agente que o fizesse dentro das circunstâncias fáticas em que se encontrava (ZAFFARONI e PIERANGELI, 2011, p. 521). Diferentemente da excludente da antijuridicidade, onde o Direito permite que o agente pratique uma conduta típica, na inculpabilidade não há permissão para esta conduta, apenas não se poderia exigir do sujeito que procedesse de forma diferente do que fez, diante dos fatos ou por sua condição pessoal. Fica excluída apenas a reprovação, mas se reconhece que o comportamento do agente afetou a finalidade geral da ordem jurídica (ZAFFARONI e PIERANGELI, 2011, p. 522). Dos elementos da culpabilidade, é a imputabilidade penal o que tem maior importância para o estudo. Recorre-se novamente a Bittencourt (2009, p. 378), lembrando Welzel, para definir imputabilidade penal como “a capacidade de culpabilidade”. O autor ainda acrescenta Muñoz Conde, quando diz que a carência desta capacidade, 99 seja por falta de maturidade, ou por graves alterações psíquicas, o agente não poderá ser declarado culpado, nem tampouco responsabilizado penalmente, ainda que tenha cometido fato típico e ilícito. Esta capacidade de culpabilidade deve ser plena, ou seja, o agente deve ter a total condição de entender e de querer (PRADO, 2010, p. 395). O Código Penal brasileiro não traz propriamente o que seria o agente imputável, apenas o definindo, a contrario sensu, no artigo 26, caput, ao definir o inimputável por desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Assim, por exclusão, o imputável fica definido como o sujeito mentalmente são e desenvolvido o suficiente para entender que um ato tenha caráter ilícito, bem como para determinar-se de acordo com este entendimento (JESUS, 2002, p. 469). Existem três sistemas para relacionar o agente à imputabilidade. No biológico, a imputabilidade está relacionada apenas com a sanidade mental. No sistema psicológico, não tem relevância a existência de alguma doença mental ou perturbação: apenas tem relevância se o agente, por qualquer causa, estava impossibilitado de apreciar a criminalidade do fato (momento intelectual) e de determinar-se de acordo com tal entendimento (momento volitivo). O sistema biopsicológico é a soma dos dois anteriores, onde o agente, em razão de enfermidade ou retardamento mental, no momento da ação, não podia entender seu caráter ético-jurídico e de determinar-se de acordo com ele. O Direito Penal brasileiro adota, como regra geral, o sistema biopsicológico e, como exceção, o sistema puramente biológico para a hipótese do menor de 18 anos (artigos 228 da Constituição Federal e 27 do Código Penal) (BITENCOURT, 2009, p. 379). Assim sendo, para que haja imputabilidade, devem existir pressupostos psíquicos que tornem alguém capaz de responder plenamente por um delito que tenha cometido (HUNGRIA e FRAGOSO, 1983, p. 257). Isto porque a imputabilidade exige que seja o agente capaz de se motivar pelos preceitos normativos, de agir de acordo com o direito. Se essa capacidade não se desenvolveu completamente, não existirá imputabilidade e, consequentemente, não existirá tampouco a culpabilidade (MUÑOZ CONDE, 1988, p. 138). Todavia, para este estudo, a única causa de exclusão da imputabilidade que tem relevância é o do artigo 26, caput, e parágrafo único do Código Penal, pois este é o diploma legal que tratará da imputabilidade em decorrência de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. O caput do artigo 26 cuida dos sujeitos inimputáveis que, em decorrência de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, no momento de um fato não tinham qualquer 100 condição de compreender o caráter ilícito do mesmo, ou, compreendendo-o, estava impossibilitado de se determinar de acordo com tal entendimento. Se o sujeito é incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta, em decorrência de uma enfermidade mental ou do desenvolvimento mental incompleto ou retardado, está prejudicado seu aspecto intelectivo; ou então, apesar do entendimento pleno sobre a ilicitude, o agente é incapaz de determinar sua vontade conforme este entendimento e está prejudicado o caráter volitivo de sua conduta (PRADO, 2010, p. 395). Assim, perturbações do aspecto intelectivo são doenças que afetam a forma de como o sujeito entende a realidade, causando alterações mórbidas à saúde mental, como a esquizofrenia; já na perturbação do aspecto volitivo, a perturbação na saúde mental do indivíduo o torna incapaz de se autodeterminar. Seria o caso da cleptomania (furto compulsivo), por exemplo. Nesses casos a culpabilidade poderá ser excluída, se restar comprovado que o agente estava com sua capacidade de autodeterminação prejudicada (MIRABETE, 2002, p. 211-212). Além da doença mental, outro fator que gera a incapacidade de entendimento ou de autodeterminação referida no artigo 26 do Código Penal é o desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Segundo a definição de Bittencourt (2011, p. 418), o desenvolvimento mental incompleto é aquele que ainda não se concluiu. Abrangeria, além dos menores de 18 anos (aos quais se aplica, como já dito, o sistema biológico), os surdos-mudos e os silvícolas não adaptados, sendo estes últimos tratados no sistema biopsicológico, devendo ser determinado se estas anormalidades causam a incapacidade a que a lei se refere. Por desenvolvimento mental retardado, têm-se as oligofrenias. É o indivíduo que não atingiu a maturidade psíquica em decorrência da deficiência da saúde mental (BITENCOURT, 2011, p. 418). Essas deficiências refletem-se, também, no próprio crime praticado. Por este motivo, o criminoso “desorganizado”, cujas características foram antes citadas, via de regra, sofre de um distúrbio psiquiátrico grave e tem uma inteligência abaixo da média (CASOY, 2008, p. 65). Nos casos de total incapacidade de compreensão ou de determinação, em decorrência de doença mental ou problemas no desenvolvimento, o artigo 97 do Código Penal determina a aplicação da medida de segurança, consistente em internação em hospital psiquiátrico ou à sujeição a tratamento ambulatorial, na forma do artigo 96 do mesmo diploma legal. Para a aplicação da medida de segurança, contudo, não é necessária a ocorrência de um crime, mas apenas um fato que a lei assim define. Fato 101 típico, portanto, carecendo da culpabilidade para se configurar num delito propriamente dito. Tal sistema de medidas de segurança constrói-se fora da culpabilidade, e esta é a razão pela qual é dispensável que a figura do ilícito se integre com a culpabilidade, tal qual como ensina Aníbal Bruno (1967, p. 299). A legislação penal brasileira adota, ainda, outro tipo de tratamento aos sujeitos que não padecem de uma plena incapacidade, mas que apenas tem sua capacidade reduzida O parágrafo único do artigo 26 do Código Penal trata dos em que, em razão de perturbação mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não eram inteiramente capazes de entender o caráter ilícito de um fato, ou de determinarem-se de acordo com esse entendimento. Nestes casos, o diploma legal permite ao julgador aplicar a medida de segurança ou reduzir a pena de um a dois terços. As expressões “semi-imputável” e “imputabilidade diminuída”, atribuídas a estes indivíduos, são criticadas pela doutrina, uma vez que o agente é imputável. Há diminuição da responsabilidade (a pena é diminuída) e não da imputabilidade. Assim, podemos falar em responsabilidade diminuída e não em imputabilidade diminuída (JESUS, 2002, p. 502). Isto porque lhe é necessário um maior esforço para alcançar um grau satisfatório de conhecimento quanto à ilicitude e de autodeterminação (MIRABETE, 2002, p. 213). Bittencourt (2011, p. 419) endossa esta corrente, afirmando que a expressão “semi-imputabilidade” equivaleria a algo como “semivirgem” ou “semigrávida”. Bonfim (2010, p. 269) afirma que por “perturbação da saúde mental” não se exige uma “doença mental”, mas alguns estados residuais, resultados de psicoses ou de estados psíquicos decorrentes de condições fisiológicas especiais, como o estado puerperal, que são capazes de gerar transtornos mentais transitórios. Assim, o próprio delito de infanticídio não deixa de ser um crime de homicídio no qual a responsabilidade é diminuída. Para que ocorra o infanticídio, a mãe deve matar o filho durante ou logo após o parto, sob influencia do “estado puerperal”. Este estado puerperal “deverá afetar o psiquismo da parturiente de modo a reduzir sua capacidade de entendimento ou de autodeterminação” (SILVA, 2011, p. 124). Nucci (2012, p. 657) ainda acrescenta que o infanticídio “é uma hipótese de semi-imputabilidade que foi tratada pelo legislador com a criação de um tipo especial”. Ao analisar o artigo 26, parágrafo único, do Código Penal, vemos que a redução da pena é facultada ao julgador, não precisando ele, obrigatoriamente, aplicá-la. Esta redução da pena também será correspondente ao grau de culpabilidade do agente. Desta 102 forma, pode-se afirmar que no caso da culpabilidade diminuída, há crime, uma vez que existe a culpabilidade, embora em menor grau (ZAFFARONI e PIERANGELI, 2011, p. 548-549). Com a exposição de motivos da parte geral do Código Penal, alterada em 1984, percebe-se que o legislador previu o sistema vicariante ao semi-imputável, onde será aplicada nos casos mórbidos a medida de segurança, passando o sujeito a ser inimputável. Em hipótese oposta, a pena será reduzida. Não só para a aplicação ou não da medida de segurança, ou em questões de nomenclatura, mas no próprio âmago do conceito da imputabilidade diminuída, severas críticas são feitas. Tem-se, por exemplo, o apontamento de Mougenot Bonfim, embasado por ideias de Cézar da Silveira e Carlos Fontán Balestra, que afirma que a classificação de imputabilidade diminuída é um rótulo cômodo e pouco criterioso, diante da dificuldade de um diagnóstico preciso de normalidade ou anormalidade (BONFIM, 2010, p. 304). Hans Welzel (1956, p. 168) também nesse sentido afirma ser praticamente impossível existir uma capacidade parcial de imputação, uma vez que nas verdadeiras enfermidades mentais a culpa estará sempre excluída. Cabe, portanto, determinar onde o transtorno de personalidade social pode ser enquadrado, dentro dos diferentes graus de imputabilidade. Existem, basicamente, três correntes doutrinárias quanto ao tratamento penal a ser dado aos psicopatas: uma que defende a aplicação da pena simplesmente; uma segunda que sustenta a necessidade de aplicação de medida de segurança; e a terceira que argumenta ser necessária a aplicação da pena reduzida (SILVA, 2011, p. 91). Cabe dizer que existem correntes que considerarão os psicopatas como inimputáveis, semi-imputáveis, ou mesmo imputáveis (BONFIM, 2010, p. 312). Para que se considerasse o antissocial como inimputável, ter-se-ia que demonstrar ser o psicopata incapaz de entendimento da ilicitude do fato, ou incapaz de autodeterminação. Contudo, o psicopata não sofre de qualquer perturbação da saúde mental que o incapacite de compreender a ilicitude de seu comportamento. Existem grandes diferenças entre o antissocial e o doente mental. Bonfim (2010, p. 269), a lembrar da lição de Roque de Brito Alves, referiu que a doença mental desconecta o indivíduo da forma correta de compreender a realidade, levando-o a uma anormal percepção do mundo. Pelas características do TPAS, não parece razoável inseri-lo no rol doenças mentais ou mesmo entre os casos em que a vontade resta diminuída. Grande parte da doutrina coloca os psicopatas no rol dos semi-imputáveis, tratando-o como a maior causa de imputabilidade diminuída, dando-se como exem- 103 plo Mirabete (2002, p. 213). O autor defende que, no caso de psicopatia, diante da periculosidade do agente, há de substituir a pena por medida de segurança para que se proceda ao tratamento necessário (MIRABETE, 2002, p. 215). Damásio E. de Jesus (2002, p. 502), fazendo referência a Nelson Hungria, também coloca o psicopata no rol dos semi-imputáveis, enquanto Fernando Capez (2010, p. 333) elenca a psicopatia entre as doenças mentais. Luiz Régis Prado (2010, p. 397), citando Aníbal Bruno, também coloca as psicopatas no rol da semi-imputabilidade. Deve se dizer, contudo, que o transtorno de personalidade antissocial não pode ser posto nesta categoria, uma vez que, em termos médicos-psiquiátricos, a psicopatia não se encaixa na visão tradicional das doenças mentais. Fontán Balestra, ao falar a respeito da inclusão dos antissociais entre os semi-imputáveis referiu, conforme lembrado por Bonfim (2010. p. 310), que os psicopatas seriam uma “categoria de anômalos psíquicos relativamente nova”, onde muito poucos são realmente enfermos, tratando-se. Na maioria dos casos, de um transtorno de conduta ou modo de ser. O ensinamento de Fontán Balestra é oriundo de seu “Tratado de Derecho Penal. Parte General” de 1966. É de se destacar que o autor refere-se aos psicopatas como categoria “relativamente nova”. No Brasil, um dos precursores da corrente que inclui os psicopatas no rol das imputabilidades diminuídas é Aníbal Bruno, cujos ensinamentos são citados Luiz Régis Prado, conforme já referido. Entretanto, a obra de Aníbal Bruno data de 1967, contemporânea à de Fontán Balestra, onde o transtorno de personalidade social ainda era tratado como novidade. Com o avanço dos estudos acerca do tema, não há outra resposta jurídico-penal a ser dada, se não a imputabilidade plena. Bonfim (2010, p. 315) também refere que internacionalmente existe um consenso em considerar como imputáveis os assassinos seriais, a exceção dos comprovadamente irresponsáveis, ou seja, os acometidos verdadeiramente por uma doença mental. O autor traz a estatística que apenas um a cada mil matadores em série é considerado não culpável por decorrência de uma doença mental. Excluindo-se esta pequena parcela, os assassinos seriais são “organizados” e, portanto, imputáveis, de acordo com a tendência mundial. Segundo o magistério de Hungria (HUNGRIA E FRAGOSO, 1983, p. 264265), o Código Penal Brasileiro inspirou-se no Código Penal suíço, que aduz não ser punível o sujeito que não possuía, ao tempo do fato, a faculdade de apreciar o caráter ilícito de sua conduta ou de se determinar de acordo com essa apreciação, por motivo de doença mental, de idiotia ou de grave alteração da consciência. Já a fórmula 104 brasileira evita a locução “grave alteração da consciência”, devido à elasticidade de interpretações que tal locução poderia ter. Percebe-se, a partir daí, a intenção clara do legislador de não abrigar no rol do antigo artigo 22 (artigo 26 após a reforma penal de 1984) do Código Penal, os sujeitos que sofrem de grave alteração na consciência, pela elasticidade de interpretações possíveis, ficando restrito aqueles que efetivamente sofrem de uma doença mental que lhes tire o contato com a realidade, ou aqueles que têm seu desenvolvimento mental retardado, não tendo, tampouco, discernimento. Esta tendência de algumas correntes em considerar a imputabilidade penal dos psicopatas reduzida ou até mesmo inexistente advém do argumento de que seu caráter volitivo estaria prejudicado (BONFIM, 2010, p. 177). De acordo com a teoria finalista da ação, o fim que o agente busca – por força da estrutura mental do homem que lhe possibilita prever, dentro de certos limites, as consequências do seu agir – permite-lhe ordenar o processo causal a fim de atingir este objetivo (LUISI, 1987, p. 39). Tal definição não exclui o antissocial: este também tem plena condição de prever as consequências de seus atos e de agir ordenadamente para atingir seu objetivo. E, ressalta-se ainda, seu agir não é apenas dirigido ao fim, mas também, depois de atingido o seu objetivo, o antissocial oculta seu crime de maneira ordenada, planejada. Ao observar as características do assassino serial organizado percebe-se isso. Astúcia, inteligência média ou alta, dissimulação no convívio social, o controle da cena do crime e do processo para executá-lo, as medidas para tornar difícil a identificação da vítima, o fato de acompanhar as notícias de seus crimes pela mídia, demonstrando ser um criminoso com um agir premeditado e cauteloso, incompatível com a figura de um criminoso que, quando acometido por um desejo de delinquir, não consegue evitar, pois está prejudicado o caráter volitivo. Ao considerar o antissocial como passível de ser enquadrado no artigo 26, parágrafo único, do Código Penal, diante da provável ineficácia da medida de segurança, uma vez que é unânime na psiquiatria idônea de que os transtornos de personalidade antissocial não estão entre aqueles onde há possibilidade de tratamento e cura (BONFIM, 2010, p. 305), resta à opção de reduzir a pena de um terço a dois terços. Sendo a culpabilidade um conceito gradual, onde a pena não pode ultrapassar a culpabilidade do agente (PRADO, 2010, p. 395), a redução de pena destina-se justamente aquele sujeito que tem sua capacidade de culpabilidade diminuída. Assim sendo, ao se classificar o psicopata dentro deste grupo, estar-se-ia atribuindo uma responsabilização menor aos delitos por ele praticados e, por conseguinte, uma pena 105 menor a um indivíduo que por sua forma de agir e de se comportar pode ser considerado perigoso. Nelson Hungria (HUNGRIA e FRAGOSO, 1983, p. 287) defende que apesar das correntes doutrinárias que teorizam sobre a responsabilidade do antissocial, é prudente não se ignorar o interesse da defesa social, devendo-se segregar, independente do modo ou sistema, os psicopatas, cuja rebeldia ou associabilidade levem ao crime. Assim, pode-se verificar que a medida de segurança não é a solução indicada ao tratamento dos antissociais. Quanto à redução de pena, também não é viável, porquanto além de não ser semi-inimputável, tal redução ainda acarretaria uma devolução rápida do psicopata à sociedade. Bittencourt (2009, p. 478-479) assevera que no século XIX, a prisão passou a ser a principal resposta penológica, se acreditava que a prisão poderia ser um meio adequado a reforma do delinquente. Ressalta, porém, que o instituto da prisão está em crise, diante da impossibilidade de se obter algum efeito positivo sobre o apenado, sendo falho o seu “objetivo ressocializador”. A pena de prisão já tem sua função ressocializadora em descrédito, e em relação ao psicopata a tendência é que seja ainda mais ineficaz a ideia de reinserção à sociedade, uma vez que estão entre as características do transtorno a ausência de remorso, a incapacidade para aceitar a responsabilidade pelos próprios atos (FIORELLI e MANGINI, 2009, p. 107) e a incapacidade de experimentar culpa e aprender com a experiência, particularmente punição (NUCCI, 2009, p. 298). Entretanto, segundo Beccaria (1997, p. 62), o fim da pena é “impedir que o réu cause novos danos aos seus concidadãos”. Carnelutti (2009, p. 105) diz que a pena também é um castigo. Assim, ainda que carente a função de reinserção social, ainda há o caráter punitivo da pena que deve ser considerado. No que diz respeito aos peritos psiquiatras, Foucault (2004, p. 21) refere que devem se manifestar apenas sobre a administração da pena, sua necessidade, sua utilidade, sua eficácia possível. Se melhor o hospício do que a prisão, se o enclausuramento deverá ser breve ou longo, ou se é preferível um tratamento médico ou medida de segurança. O psiquiatra, em matéria penal, não será o perito em responsabilidade, mas de conselheiro de punição. Bonfim (2010, p. 162) afirma que se a questão fosse meramente psiquiátrica, bastaria chamar alguns psiquiatras e dispensar o julgamento para saber qual a resposta penal adequada. Tais considerações são importantes, uma vez que o perito psiquiatra deve se restringir à avaliação biopsicológica, mas deixar a decisão quanto à medida a ser aplicada a cargo do julgador. 106 Para se atingir essa certeza acerca da existência da inimputabilidade, é necessário que se evidenciem as causas de inimputabilidade que afetam o entendimento ou a autodeterminação. No psicopata, esse juízo de certeza não é possível, diante da grande divergência da doutrina. Mais preciso é o apontamento de Trindade, Beheregaray e Cueno (2009, p. 135), ao afirmarem a tendência de considerar os psicopatas plenamente capazes, do ponto de vista científico, pois sua percepção está intacta, estando preservada tanto a capacidade cognitiva quanto a volitiva. Cabrera Forneiro e Fuertos Rocañin repudiam tal conceito de semi-imputabilidade aos antissociais, se posicionando, lembrados por Bonfim (2010, p. 312), pela plena imputabilidade, pois, segundo eles, embora esteja presente uma anomalia psíquica, o agente tem consciência dos seus atos e liberdade para atuar, planejando sua ação de forma fria e calculista, sem se importar com as consequências de seus atos. Aponta-se, então, que existe uma forte corrente doutrinária que considera os antissociais como sujeitos plenamente imputáveis, sendo conservado seu caráter intelectivo e volitivo. Silva (2010, p. 44), reproduzindo a ideia de Robert Hare, refere que a parte cognitiva ou racional dos psicopatas é perfeita, tendo conhecimento de que estão infringindo a lei. Apenas não demonstram afeto e emoções, sendo indiferentes quanto aos outros, apenas por escolha, exercida de forma livre e sem culpa. Porém, muitos doutrinadores ainda insistem que esses indivíduos não possuem total controle de suas vontades. Nelson Hungria, citando Gemelli, afirma que, para que não haja vontade, é necessário que não tenha havido escolha qualquer entre dois motivos. Quando aparentemente essa decisão é falha, optando-se pelo motivo mais forte, mesmo então existe uma decisão voluntária (HUNGRIA e FRAGOSO, 1983, p. 259). Assim, ainda que um psicopata tenha um impulso criminoso, como no caso de um assassino “organizado”, sendo possível ao agente que se determine ao ponto de escolher o momento e a forma propícia para o cometimento do crime, bem como que prepara as circunstâncias fáticas de forma planejada para culminar em seus objetivos, não se pode dizer que não houve vontade, porquanto o agente resistiu ao delito quando não lhe era conveniente cometê-lo. As teorias que classificam o antissocial como um indivíduo incapaz de se autodeterminar perdem força quando se ressalta que “nem todo psicopata é criminoso” (FIORELLI e MANGINI, 2009, p. 108). Desta forma, a delinquência por parte dos psicopatas não pode ser considerada um impulso incontrolável, mas sim uma demonstração de vontade. 107 Assim, quando cometem um crime, aos psicopatas deverá ser aplicada a pena privativa de liberdade sem qualquer redução. Se é muito difícil a ressocialização destes indivíduos, ainda resta à pena o caráter punitivo, além de ser ferramenta para impedir que o réu cause novos danos. Trata-se, do ponto de vista da imputabilidade penal, de um criminoso comum. Rauter (2003, p. 124-125) afirma que a psiquiatria é uma modalidade de controle sutil e ineficaz para tratar do que define como “rebelde, porém capaz de manter sua rebeldia nos limites do que é definido pelo psiquiatra como racional, louco e delirante por vezes, mas apenas quando lhe interessa ser”. O antissocial pode ser classificado, portanto, como uma pessoa completamente normal no aspecto intelectivo ou volitivo, sendo desprovido apenas de sentimentos de compaixão e empatia que, de maneira alguma, autorizam a redução na pena. A personalidade antissocial é um dos diversos tipos de personalidades “normais”, sendo detentor, apenas, de um péssimo caráter. Muñoz Conde (1988, p. 143), afirma que o transtorno de personalidade antissocial não serve como base para eximir a responsabilidade como forma de alienação mental ou de transtorno transitório, sequer como uma eximente incompleta. Não se pode esquecer a constituição psíquica dos antissociais. O transtorno de personalidade antissocial não se trata, diferentemente das doenças mentais, de um problema exclusivamente congênito ou de um déficit cerebral contraído. Pelo contrário, a personalidade psicopática forma-se com a influência de fatores sociais e psicológicos e, formada essa personalidade, o ato criminoso dá-se por uma opção, não por uma irresistível força que faz o agente delinquir. Neste sentido, cabe ressaltar a afirmação de Bonfim (2010, p. 160) de que o homem não é um mero títere biológico ou social, mas é um ser pensante e com poder de escolha e, sendo assim, deve se responsabilizar pelas ações escolhidas. Da mesma forma, pelo critério biopsicológico, o agente, para ser julgado inimputável deve, além de possuir uma doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado (critério biológico), também ao tempo da ação deverá ser incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento (critério psicológico). Então, ainda que se equiparasse o transtorno de personalidade antissocial a uma doença mental, dever-se-ia também comprovar que este transtorno fez com que o agente não atingisse tal compreensão ao tempo do crime. Ocorre que o criminoso “organizado” planeja o crime com antecedência, aproxima-se da vítima dias ou semanas antes de executar o crime e, durante este período, continua mantendo seu trabalho e suas relações familiares de maneira corriqueira. Tal modo 108 de agir é compartilhado por muitos psicopatas matadores em série. Por este motivo, o critério psicológico falho é difícil de ser demonstrado nos psicopatas. Assim sendo, cabe reputar-lhes imputáveis. Provavelmente o cárcere não seja o tratamento penal mais adequado para os antissociais, mas é o mais próximo do ideal dentre as possibilidades existentes no ordenamento jurídico brasileiro. A verdade é que nem o direito e nem a psiquiatria tem uma resposta definitiva no trato com os antissociais delinquentes, devido às particularidades que estes indivíduos apresentam. Isto porque, na realidade, embora o transtorno de personalidade antissocial tenha sido catalogado pela Classificação Internacional das Doenças, a psicopatia é um tipo de personalidade comum, sem qualquer tipo de perda de contato com a realidade, tal como a personalidade narcisista ou obsessiva-compulsiva. Desta forma, nenhum tratamento médico-psiquiátrico é necessário ou se faz eficaz. O psicopata é incapaz de aprender com a punição, porém, como já dito, a pena privativa de liberdade ainda serve de castigo e para segregá-lo da sociedade. O antissocial é responsável, segundo Hare, citado por Trindade, Beheregaray e Cuneo (2009, p. 110-111), por aproximadamente 50% dos crimes violentos cometidos nos Estados Unidos, bem como possuem índice de reincidência criminal cerca de três vezes maior que os outros delinquentes. A razão da reincidência criminal é clara, quando consideradas as características do psicopata. O antissocial, pelo seu desprezo pelas normas e pela sociedade, é um reincidente em potencial. Nem mesmo o cárcere pode modificar isso. De outro lado, não é um doente mental, sendo inviável qualquer tipo de tratamento médico, sob pena de até, conforme Rauter (2003, p. 114), se transformar em uma “prisão sem duração delimitada, por vezes perpétua, mascarada sob o rótulo de tratamento”. Assim, Silva (2011, p. 97) apresenta posicionamento que é o mais coerente, quando refere que talvez a pena privativa de liberdade não seja a opção ideal e que ainda, com o avanço da ciência, possa haver uma. Entretanto, o autor acrescenta que atualmente a pena criminal é imprescindível, pois os psicopatas necessitam de constante supervisão, bem como não aderem voluntariamente a tratamentos, sendo o cárcere necessário por motivos de controle social e necessidade de tutela dos bens jurídicos e direitos fundamentais. O cárcere sozinho, como única medida adotada, embora mais aconselhável que a medida de segurança, acabará também por fracassar, em longo prazo, pois devolverá o psicopata à sociedade da mesma forma. 109 O psicopata ainda é uma incógnita do ponto de vista psiquiátrico e jurídico, especialmente por essa tendência a voltar a cometer crimes com a mesma gravidade e características após sair da prisão. Rauter (2003, p. 125) considera o psicopata como “eterno indisciplinado”, sendo necessárias novas estratégias para a sua responsabilização. Pelos motivos expostos, ainda seria importante que, após o cumprimento de pena, os antissociais recebessem um tratamento rígido, supervisão intensa e acompanhamento, conforme concluíram Laurell e Däderman, em suas pesquisas, trazidas por Trindade, Beheregaray e Cuneo (2009, p. 168). Conclui-se, então, que a pena privativa de liberdade, integral, inerente do julgamento como imputável, ainda é a resposta penal mais adequada de tratamento aos antissociais que cometem crimes. Pela incapacidade de aprender com a punição, os psicopatas delinquentes são os reincidentes por excelência. Restou demonstrado que a possibilidade de um criminoso antissocial reincidir é muito maior do que a dos criminosos comuns. Diagnosticar o transtorno de personalidade antissocial e definir qual a pena ou medida que este indivíduo deve receber, são tarefas ainda difíceis tanto para a psiquiatria quanto para a justiça. Diante da ausência de dispositivo legal que esclareça o tratamento penal específico aos antissociais, estabelece-se a discussão de qual entre os existentes seria o apropriado. Como o transtorno de personalidade antissocial não é uma doença, a aplicação da medida de segurança é ineficaz, pois esse indivíduo jamais apresentara uma “cura”. Em uma semi-imputabilidade, diante da ineficácia da medida de segurança, restaria como alternativa a diminuição de pena. Tal medida só faria com que um criminoso que tende a reincidência, e que não apresenta qualquer capacidade de regeneração, retornasse mais cedo ao convívio com a sociedade. Demonstrou-se que o psicopata é capaz de adequar sua conduta à sociedade, quando lhe é conveniente. Resta evidente que o psicopata é plenamente culpável, não sendo sua conduta viciada por qualquer deficiência, mas sim um crime perfeitamente constituído. A prisão é, pois, a medida a ser adotada. O cárcere é incapaz de reeducar o psicopata. Porém, através do cárcere o antissocial, fica excluído do convívio em sociedade e impedido de prejudicar outras pessoas. A pena privativa de liberdade funciona como punição ao antissocial, embora falhe como instrumento de ressocialização. Contudo, apesar de mais aconselhável do que a aplicação de uma medida de segurança, a pena de prisão não produz, em longo prazo, efeito no psicopata que, mesmo recebendo punição, acaba por ser devolvido à sociedade da mesma forma. Mesmo a doutrina não traz muitas alternativas para o tratamento dos psicopatas, 110 parecendo mais coerente aquele que propõe, após a cadeia, um acompanhamento próximo e rigoroso aos antissociais. Encerra-se, então, concluindo que, dentre os possíveis tratamentos penais ao psicopata, o mais coerente é julgá-lo como um imputável, aplicando-se a pena de prisão na sua integralidade. Contudo, reforça-se que mais efetivo seria a criação de um dispositivo legal que dirimisse qualquer dúvida acerca do tratamento penal a ser destinado aos antissociais, bem como a criação de uma forma de penalização própria a esses sujeitos, englobando uma punição através do cárcere e uma política de acompanhamento que impedisse que o antissocial de reincidir, através de rígida supervisão e acompanhamento. Referências bibliográficas BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. Tradução de Lucia Guidicini e Alessandro Berti Contessa. São Paulo: Martins Fontes, 1997. BITENCOURT, Cezar Roberto, Tratado de direito penal. Volume 1: parte geral. 14. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2009. _____. Cezar Roberto. Tratado de direito penal. Volume 1: parte geral. 16. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2011. BONFIM Edilson Mougenot. O julgamento de um serial killer (o caso do maníaco do parque). 2. ed. Niterói: Impetus, 2010. Bruno, Aníbal. Direito penal: parte geral, tomo 3º. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1967. CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal, volume 1, parte geral. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. CARNELUTTI, Francesco. As misérias do processo penal. Tradução de Carlos Eduardo Trevelin Millan. São Paulo: Editora Pillares, 2009. CASOY, Ilana. Serial killer: louco ou cruel? 8. ed. rev. e atual. São Paulo: Ediouro, 2008. 111 FIORELLI, José Osmir, e MANGINI, Rosana Cathya Ragazzoni. Psicologia Jurídica. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2009. FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. Tradução de Raquel Ramalhete. 29. ed. Petrópolis: Editora Vozes, 2004. HUNGRIA, Nelson; FRAGOSO, Heleno Cláudio. Comentários ao Código Penal, volume I, tomo II: arts. 11 ao 27. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1983. JESUS, Damásio E. de, Direito penal; v. 1 parte geral. 25. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2002. LUISI, Luiz. O tipo penal, a teoria finalista e a nova legislação penal. Porto Alegre: Fabris, 1987. MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de direito penal. 18. ed. São Paulo: Atlas, 2002. MUÑOZ CONDE, Francisco. Teoria geral do delito. Porto Alegre: Fabris, 1988. NETO, A. C.; GAUER, G. J. C.; FURTADO, N. R. (Org.) Psiquiatria para estudantes de medicina. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2003. NUCCI, Guilherme de Souza, Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 6. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. ______. Guilherme de Souza. Código penal comentado. 11. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. PRADO, Luiz Régis. Curso de direito penal brasileiro, volume 1: parte geral, arts. 1.º 120. 10. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. RAUTER, Cristina. Criminologia e subjetividade no Brasil. Rio de Janeiro: Renavan, 2003. SILVA, Ana Beatriz Barbosa. Mentes perigosas: o psicopata mora ao lado. Edição de bolso. Rio de Janeiro: Objetiva, 2010. 112 SILVA, Ângelo Roberto Ilha da. Da imputabilidade penal em face do atual desenvolvimento da psicopatologia e da antropologia. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2011. SOUZA, Luma Gomides de. Serial killer: discussão sobre a imputabilidade. São Paulo: Baraúna, 2010. TERENZIO, P. Afro. Adelphoe – Heautontimorumenos. Milão: Mondadori, 2006. TRINDADE, Jorge. Manual de psicologia jurídica para operadores do direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2010. ______; Beheregaray, A.; CUNEO, M. R. Psicopatia – a máscara da justiça. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2009. WELZEL, Hans. Derecho penal. Parte geral. Tradução de Carlos Fontán Balestra. Buenos Aires: Roque Depalma Editor, 1956. ZAFFARONI, Eugenio Raúl e PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro: Parte Geral. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 113 A APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA MEDIAÇÃO COMO MECANISMO DE ACESSO À JUSTIÇA FRENTE A MOROSIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL BRASILEIRA Marluci Overbeck47 Norberto Luiz Nardi48 RESUMO As sociedades contemporâneas permeiam-se por um intenso sentimento conflitivo. Com a instituição do princípio do acesso à justiça na Constituição Federal de 1988 e por ser este diploma gerido por expressiva gama de direitos e garantias fundamentais aos cidadãos, o Poder Judiciário passou a enfrentar a crise da jurisdição, pois viu o número de processos crescerem em progressões geométricas, causando a morosidade na prestação jurisdicional e dificultando o acesso à justiça. O molde tradicional de resolução de conflitos, monopolizado pelo Estado, apresenta-se ineficiente, exigindo assim uma nova estruturação no tratamento de litígios, eis que se mostra incapaz de apresentar respostas adequadas às contendas e em tempo razoável. Desse modo, a morosidade na prestação da tutela jurisdicional e o despreparo do Poder Judiciário são fatores que estimulam a busca por alternativas de tratamento de conflitos, tais como a negociação, conciliação, arbitragem e mediação. Para tanto, visa conscientizar a sociedade dos benefícios da mediação, pois se trata de instituto pacífico-consensual de solução de conflitos. Este mecanismo, então, é capaz de aliviar 47 Bacharel em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul. E-mail: [email protected]. Mestre em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul, onde é professor no Curso de Direito, Graduação e Pós-Graduação, conferencista e advogado militante na área de família e sucessões. E-mail: [email protected]. 48 114 a reincidência processual, a morosidade e o custo expressivo das demandas judiciais, pois otimiza resultados céleres e prolongados se comparado aos estipulados por meio da imposição de veredicto. Palavras-chave: acesso à justiça; crise da jurisdição; celeridade; mediação. 1. Introdução Através da apreciação das constituições brasileiras, percebe-se que a atual é considerada a mais humanitária de todas; eis que carrega consigo inúmeros princípios e garantias fundamentais que objetivam assegurar a dignidade da pessoa humana. Todavia, nessa tentativa de fornecer e efetivar às pessoas a sua dignidade, munindo-as de direitos e deveres, que o legislador fomentou a situação de crise atualmente experimentada pelo Poder Judiciário. Inexiste marco exato acerca do surgimento da crise do judiciário. Entretanto, a eliminação do uso da autotutela pode ser caracterizada e considerada um dos primeiros movimentos, na medida em que, para a satisfação dos interesses dos homens, coibiu o uso da força e passou ao Estado à atribuição de resolver os conflitos inerentes à vida em sociedade. Por demais destas, diversas outras são as causas que originaram a problemática da morosidade do aparelho judiciário brasileiro; dentre elas, destaca-se a de que se vive em uma sociedade permeada por um intenso sentimento conflitivo. Em decorrência lógica, então, foram elaborados vários instrumentos objetivando solucionar a questão da crise do Poder Judiciário. Neste contexto, o presente trabalho tem por finalidade identificar e demonstrar as possíveis causas originárias da crise da jurisdição e de acesso à justiça que refletem na demora da prestação jurisdicional brasileira, bem como explanar acerca da criação dos métodos alternativos de solução de litígios e seus impactos na sociedade contemporânea, de modo a evidenciar que existem meios autonomizadores e democráticos para o tratamento dos conflitos. Ainda, visa elucidar o método da mediação como meio eficaz de solução de conflitos, minimizando as barreiras ainda existentes em sua aplicação. Isto é, a viabilidade de substituir a forma tradicional de tratamento de contendas por um instrumento pacífico-consensual e voltado para a eliminação do conflito. Para tanto, o método de abordagem utilizado na investigação foi o hermenêutico, que será guiado pela interpretação integrada do texto constitucional e demais legislações atinentes à matéria, fundando-se basicamente na pesquisa doutrinária em livros e também artigos publicados. No que se refere ao método 115 de procedimento, compreende o método histórico, que busca a investigação de situações ocorrias no passado para verificar sua influência na sociedade atual. Não se pode olvidar, entretanto, que será perfilhada uma pesquisa bibliográfica na doutrina, a fim de que se possa compreender de forma cristalina o instituto da mediação, o qual já tem sido aplicado através da Resolução n.º 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça. 2. O direito fundamental de acesso à justiça à luz da Constituição Federal de 1988 Nos primórdios da civilização dos povos, inexistiam leis e um órgão estatal forte e imperioso que superasse o ímpeto individualista dos homens. Desse modo, com a inexistência do Estado para impor com soberania e autoridade o cumprimento do direito, a solução encontrada pelo homem foi satisfazer seu interesse e sua pretensão através do uso da força, aplicando sua própria lei. A este regime deu-se o nome de autotutela (CINTRA, GRINOVER, DINAMARCO, 2011). A autotutela é a prática da justiça com as próprias mãos, sendo o emprego da coerção por um particular frente a outro, em defesa de seus interesses. Segundo Cintra (2004), citado por Tartuce (2008, p. 37): Tendo sido a primeira resposta encontrada pelos indivíduos para resolver suas controvérsias, a autotutela é atualmente considerada um instrumento precário e aleatório; afinal, não seria apta a garantir propriamente justiça, mas, sim, a vitória do mais forte, esperto ou ousado sobre o mais fraco ou tímido. Com a evolução e o transcorrer das civilizações, exclusivamente através de grande empenho histórico e percepção dos malefícios do sistema da autotutela, se possibilitou a transformação dos sentidos humanos, com a substituição do método da justiça com as próprias mãos pela da justiça de responsabilidade de uma autoridade, trazendo ao Estado o jus puniendi, que impõe ao cidadão de direitos e deveres a solução de seus conflitos, priorizando a interferência de um terceiro imparcial à lide. Essa interferência de um terceiro é fruto de uma longa evolução do privado ao público, o que nos remete ao Código de Hamurabi (primeiro registro escrito acerca do acesso à justiça); que, no plano teórico, impedia a opressão do fraco pelo forte, de modo que o oprimido deveria valer-se da instância judicial, que à época era o soberano, 116 o qual para a tomada de decisão emanava uma ordem divina, de modo que o acesso à justiça dependia do acesso à religião (LIMA FILHO, 2000). Mais tarde e na medida em que o Estado foi se consolidando e conseguiu se impor frente aos particulares, assumindo para si a obrigação de fornecer ao cidadão mecanismo eficaz para solução de suas controvérsias, passou a resolver os conflitos inerentes a vida em sociedade, prestando um serviço público. Surgem, pois, as regras que, de forma harmônica, serão aplicadas sobre os sujeitos, afastando a insegurança anteriormente existente nos julgamentos e passando-se para a aplicação do que chamamos de heterocomposição, onde se tem a intervenção de um terceiro imparcial à lide, que impõe um resultado aos contendores (TARTUCE, 2008). Desmembra-se da heterocomposição a jurisdição, que é o meio institucional utilizado pelo Estado para impor a sua própria atuação como meio institucionalmente designado a perpetrar a vontade concreta do direito objetivo e pôr fim às controvérsias (CALMON, 2008). Ao proibir a solução dos litígios da sociedade pelos próprios cidadãos, incumbiu-se o Estado em fornecer meios para solução dos conflitos oriundos da vida em coletividade, nascendo assim o serviço público da jurisdição. Com a criação desse instituto, o Estado reconhece o Direito de provocá-la através do acesso à justiça. Desse modo, mesmo que de difícil análise o período exato de surgimento do direito de acesso à justiça, inequívoco que este possui intensa ligação com o nascimento da vida em sociedade, quando os indivíduos passam a se relacionar uns com os outros. É, então, através dessa convivência entre pessoas, que surgem as controvérsias; e, a fim de regular referidas controvérsias, brotam os primeiros preceitos regulamentadores da convivência, que por sua vez originam o Direito. Em linhas gerais, o acesso à justiça serve para motivar duas finalidades basilares do sistema jurídico, que são o sistema pelo qual as pessoas podem reivindicar seus direitos e/ou resolver seus litígios sob os auspícios do Estado. Primeiro, portanto, o sistema deve ser acessível a todos os seres humanos de forma igualitária; e, por segundo, deve produzir resultados justos, tanto em âmbito individual como social (CAPPELLETTI, GARTH, 1988). Partindo-se desse entendimento, o acesso à justiça pode ser considerado como o mais básico dos direitos humanos inseridos no contexto de um sistema jurídico e social moderno e igualitário, uma vez que comporta seja dispensado a todos que necessitam uma análise judicial decisória, não somente o direito de reclamo junto à justiça, mas, principalmente, que a controvérsia seja pacificada por deliberação justa, obtida ou não através do magistrado (SLONGO, 2009). 117 Assim, uma vez que o efetivo acesso à justiça visa um fim justo e independe do acesso à jurisdição, houve a necessidade de se pensar em novas alternativas que pudessem de forma prática sanar as lides oriundas da convivência em sociedade, dirimindo os conflitos existentes de forma célere e satisfatória. Necessário, a partir desses primeiros apontamentos, estabelecer a diferença existente entre o acesso à justiça e o acesso à jurisdição. O acesso à justiça é mais abrangente que o acesso à jurisdição; eis que não limita as partes a demandarem apenas em juízo, podendo fazer uso de outros métodos ou institutos para solução de conflitos, com a manutenção, por evidente, de um julgamento ou composição justa e em tempo hábil. Esses conceitos, portanto, não se confundem; eis que o acesso à jurisdição está embutido no acesso à justiça. Com a implementação do direito de acesso à justiça em nossa atual Constituição Federal, inequívoco que ao legislador e ao Poder Judiciário foi atribuída mais uma função, a de fornecer ao indivíduo meios para tratamento de conflitos. Desse modo, além de fornecer o aceso à justiça, se fez necessário a implementação e aplicação de outras garantias, a fim de efetivar esse acesso. Ao tratar da questão do acesso à justiça com a inserção de novas formas de solução de conflitos e em tempo razoável, em que se alcance a solução efetiva da contenda, vislumbra-se a necessidade de modificação dos procedimentos da jurisdição, já que, por vezes, atentam a tantas formalidades que tornam a tutela jurisdicional inalcançável pelas partes, eis que sobre elas não mais produzem efeitos. Cristalino que o direito ao acesso à justiça possui ligação com demais direitos e garantias fundamentais, constituindo um direito de núcleo, onde as demais garantias em seu torno giram, resguardando-se a promover a concretização da apreciação dos direitos amparados pelas normas positivadas. Nessa esteira, pertinente reproduzir trecho da obra de Cintra, Grinover e Dinamarco (2011, p. 39): A ordem jurídico-positiva (Constituição e leis ordinárias) e o lavor dos processualistas modernos têm posto em destaque uma série de princípios e garantias que, somados e interpretados harmoniosamente, constituem o traçado do caminho que conduz as partes à ordem jurídica justa. O acesso à justiça é, pois, a ideia central a que converge toda a oferta constitucional e legal desses princípios e garantias. É, portanto, além de direito de núcleo, uma fusão das garantias e princípios fundamentais, seja a nível constitucional ou infraconstitucional, sede legislativa ou doutrinária e jurisprudencial (DINAMARCO, 2003). 118 Realizadas tais considerações, que remontam desde o período de origem do acesso à justiça, com a utilização da autotutela, até a disseminação da sua conceituação, que de forma genérica visa um fim justo e independe do acesso à jurisdição, necessita-se discorrer acerca da crise da jurisdição. 3. Crise da jurisdição e do acesso à justiça como impulso à criação de institutos alternativos para o tratamento de litígios e solução da morosidade da prestação jurisdicional brasileira Nos últimos anos, o Poder Judiciário vem enfrentando acentuada dificuldade em suportar as lides propostas para julgamento; eis que o molde tradicional de jurisdição, ou seja, do exercício de dizer o direito, comporta consigo a litigiosidade. A contribuir com tal situação, temos a composição do Judiciário que, através de sua atual conjuntura, aprecia o litígio de forma superficial, abstendo-se de resolvê-lo na sua integralidade, retardando assim a interposição de novas demandas. No século XX, o fortificante da política governamental e legislativa, ainda nos locais em que a ideologia se classificava de capitalista e liberal ou neoliberal, passou a ser o coletivo e o social, de modo que a política constitucional deixou de operar como mera definidora e declaradora de direitos, avocando para si, também, o encargo de garantidora dos direitos, tornando-os efetivos e acessíveis por todos. Surge então a nova empreitada do ente estatal, que consiste em criar institutos práticos de operação dos direitos fundamentais (THEODORO JÚNIOR, 2004). Sequencialmente, a globalização da economia, a internacionalização dos Estados, o multiculturalismo e a complexidade das novas relações sociais são transformações que obstam o seguimento da aplicação das normas jurídicas, isto é, exigem uma mudança na aplicação e produção das regras de nosso ordenamento jurídico, atendendo a celeuma da sociedade (GORCZEVSKI, 2007). Há a necessidade de aprimoramento dos métodos de aplicação do direito, onde haja o acompanhamento do desenvolvimento das sociedades de acordo com as normas positivadas, também, costume e moral. Inequívoco que a globalização ensejou a proximidade das relações entre os Estados. A partir daí, o ente Estatal perdeu expressiva parte de sua soberania e autonomia, 119 mostrando-se incapaz de apresentar respostas imediatas e céleres aos litígios que se originaram, principalmente ante a expansão da aplicação da norma, que se atentaria também ao âmbito internacional, com a abertura de fronteiras e surgimento de novos direitos (MORAIS, SPENGLER, 2008). Daí porque não se pode olvidar que a crise do Poder Judiciário está atrelada à crise do Estado, dado que as crises oriundas a partir da globalização econômica, cultural e política, são decorrentes da crise estatal, resultantes de um procedimento de enfraquecimento do Estado. Atualmente as demandas não mais se limitam às matérias e direitos de propriedade e sucessão (litígios que geralmente estabelecem e permitem processos mais lentos e complexos), mas vão além, passando a prevalecer as questões de massa e de importância imediata dos indivíduos, tais como processos de família, indenizações e pensionamento, bem assim, as oriundas das relações consumeristas (THEODORO JÚNIOR, 2004). Esses novos direitos não podem deixar de ser analisados pelo Poder Judiciário, mormente por ser este ente estatal o responsável por se manifestar toda vez que é provocado. Soma-se a isso a facilitação do acesso à justiça, principalmente após a promulgação da atual Carta Constitucional, que garantiu o acesso amplo (e por vezes gratuito) ao judiciário quando da ocorrência de qualquer ameaça ou lesão à Direito. Experimenta-se, ultimamente, uma cultura de judicialização imódica, mormente pelo fato de que o acesso ao Judiciário encontra-se facilitado. Contudo, o fato de se judicializar qualquer controvérsia acarreta o abalroamento do judiciário, o qual se torna ineficaz, pois não consegue responder as demandas a tempo, de modo que o conflito é facilmente inserido no judiciário; contudo, dificilmente dissolvido e resolvido, isto é, fácil acesso, difícil saída. Pode-se constatar que a intervenção estatal passou a ser cogitada e demandada diante de qualquer situação. Indiscutível a necessidade primordial de se assegurar a garantia de acesso à justiça; entretanto, não o pode vulgarizá-lo, a ponto de estimular as partes à prática da disputa por capricho e supérflua, daí porque inevitável a observância de impor requisitos e limites a parte quanto ao alcance ao tribunal. Uma vez que esse expandiu seu campo de atuação e atendimento, se tornou um tribunal de simplificado acesso, ocasionando a conversão, troca, da autocomposição pela litigiosidade em juízo (THEODORO JÚNIOR, 2004). Paralelamente a esta problemática, tem-se o acúmulo de casos que assolam os tribunais. Uma duração excessiva do processo provoca, entre outras consequências, a corrosão da prova, a demora da reparação do direito ameaçado ou violado, o aumento 120 do custo da demanda (GORCZEVSKI, 2007). Neste aspecto, crível salientar que de nada adiantará exercer o direito de ação se a solução reclamada vier a destempo ou for uma decisão injusta, resolvendo de forma ineficaz o conflito. Daí porque, cediço que outrora a busca era pelo acesso à jurisdição e hoje pugna-se pelo acesso à justiça, pelo fato de que aquele está em crise ante a irremediável lacuna existente entre a efetividade da prestação jurisdicional e a celeridade. Cappelletti e Garth (1988, p. 20-21) anunciam tal panorama destacando “[...] que a justiça que não cumpre com suas funções dentro de ‘um prazo razoável’ é, para muitas pessoas, uma justiça inacessível”. Isto é, o decurso de tempo torna-se barreira a ser demolida para o alcance efetivo da justiça. Alvo de críticas desmedidas, a morosidade processual se manifesta na vagarosa presteza jurisdicional pelo Estado, ajustada no tempo entre a provocação pelo indivíduo da sociedade e a efetiva análise e julgamento pelo ente estatal, através do Poder Judiciário. Nesta esteira, por mais justa e correta que consista uma decisão judicial, por diversas ocasiões pode se tornar ineficaz quando exarada a destempo, ou seja, em oportunidade onde não mais se tenha interesse no reconhecimento ou declaração do direito postulado. Ademais, uma vez que a função do processo é alcançar a justiça ou chegar o mais próximo disso, não se pode negar que diante da atual conjuntura do Poder Judiciário, a prestação jurisdicional realizada em tempo conveniente gera confiabilidade e assegura o direito do indivíduo (MORAIS, SPENGLER, 2008). Deve-se aqui ressaltar a inequívoca afronta ao direito fundamental da duração razoável do processo, pois sabe-se que no Brasil, seja qual for a discussão e natureza do processo, sua duração extrapola os limites da razoabilidade. Desse modo, mais do que ter acesso à justiça quantitativa, o cidadão deve ter acesso à uma justiça qualitativa. Diante dos problemas apresentados e considerando-se a explosão da litigiosidade, tem-se hoje um sistema jurisdicional em crise. Tais constatações possibilitaram uma análise da problemática da prestação jurisdicional, tornando possível a busca por estratégias para o caráter cada vez mais acentuado e precário das respostas dadas aos conflitos pelo sistema jurisdicional, tendo-se presente também, conforme destacam Morais e Spengler (2008, p. 78): [...] que as crises por que passa o modo estatal de dizer o direito – jurisdição – refletem não apenas questões de natureza estrutural, fruto da escassez de recursos, como inadaptações de caráter tecnológico – aspectos relacionados às deficiências 121 formativas dos operadores – que inviabilizam o trato de um número cada vez maior de demandas, por um lado, e de uma complexidade cada vez mais aguda de temas que precisam ser enfrentados, bem como pela multiplicação de sujeitos envolvidos nos polos das relações jurídicas, por outro. Percebe-se, pois, que inúmeros são os problemas enfrentados pelo ente Estatal e diversas foram as questões que os desencadearam, de maneira que sua crise não possui origem única. Realizadas tais considerações, faz-se mister salientar que não pode o ente Estatal, ante o abarrotamento de demandas pendentes de apreciação, deixar de fornecer meios para que os conflitos dos indivíduos da sociedade sejam resolvidos de forma eficiente e em tempo razoável para o êxito do que pleiteiam. É neste momento que se reveste de importância a atual concepção do acesso à justiça, pois este visa fornecer os instrumentos garantidores de proteção diante de eventual ameaça ou violação à direito, compelindo o seu agressor ao cumprimento ou o sancionando ante o seu descumprimento. Nesse contexto, uma vez que evidenciada a incapacidade do Estado em monopolizar a prestação do serviço para solução de controvérsias e efetivo resguardo de direito, tendem a se desenvolver procedimentos jurisdicionais alternativos, como a arbitragem, a mediação, a conciliação e a negociação, almejando alcançar celeridade, informalização e pragmaticidade (MORAIS, SPENGLER, 2008). A negociação é a forma básica de solução de conflitos, pois nela as partes cujos interesses colidem buscam resolver as questões que embasam a controvérsia mediante a discussão autônoma destas, satisfazendo assim as necessidades de seu próprio interesse (SILVA, 2008). Como mecanismo bastante difundido, na conciliação as partes buscam dirimir os conflitos através do auxílio de um conciliador, o qual é um terceiro imparcial que indica através da conversa estabelecida entre as partes opções para a solução da controvérsia (SALES, 2007). O instituto da arbitragem, a seu turno, corresponde ao julgamento de uma questão existente entre duas ou mais partes que possuem interesses divergentes por um árbitro de sua confiança, podendo ser inclusive pessoa especializada na matéria que estão a litigar. Analisados o histórico, a legislação atinente, conceitos e eventuais outras peculiaridades dos meios alternativos de resolução de conflito, quais sejam, negociação, 122 conciliação e arbitragem, passa-se a uma abordagem aprofundada do mecanismo da mediação, o qual mostra ser o mais eficiente dos mecanismos de solução alternativa de tratamento de conflito frente a morosidade do Poder Judiciário brasileiro. 4. Mediação como instrumento consensual e alternativo de acesso à justiça e solução conflitos O mecanismo da mediação é consideravelmente antigo, eis que inúmeras culturas têm extensa e estável tradição de utilização de referida prática, que remonta a 3.000 a.C. na Grécia, bem como no Egito, Kheta, Assíria e Babilônia, principalmente nos casos envolvendo as cidades-estados. Em sentido lato, o instituto da mediação nos primórdios era praticado por indivíduos dotados de uma habilidade natural, os quais não possuíam qualquer capacidade específica, e ordinariamente desempenhavam outras funções ou deveres (CALMON, 2008). No Brasil, intricado é discorrer de forma pormenorizada acerca da evolução histórica da mediação. Contudo, necessário referir que assim como as demais formas de resolução conflitos e como ocorreu em toda a humanidade, a mediação não é mecanismo novo, isto é, sempre existiu, mas é agora redescoberta em meio a profunda crise que assola o judiciário, correspondente a ineficácia do molde tradicional de tratamento de conflitos (MORAIS, SPENGLER, 2008). Desse modo, em que pese no Brasil o mecanismo da mediação ainda não ser obra de um direito positivado, isto é, não possuir lei que a regula, não se pode esquecer que referido instrumento está incurso nos princípios gerais de Direito, e sua aplicação se dá em fundamento a esses. Mesmo com a abstenção do legislador que gera a ausência de lei, existem em andamento junto ao Congresso Nacional projetos de lei que visam regulamentar o instituto da mediação. Neste ínterim, o movimento legislativo para regulamentação do mecanismo da mediação em nosso ordenamento jurídico data de 1998, com a apresentação do Projeto de Lei n.º 4.827, de 1998, de iniciativa da deputada Zulaiê Cobra e autoria de Águida Arruda Barbosa, Antonio Cesar Peluso, Eliana Riberti Nazareth, Giselle Groeninga e Luís Caetano Antunes. Posteriormente, o Projeto foi reformulado, devido a sua fusão com o anteprojeto de lei capitaneado especialmente pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual e pela 123 Associação dos Magistrados Brasileiros, representado por Ada Pellegrini (TARTUCE, 2008). Sequencialmente, por ocasião de uma audiência pública realizada no ano de 2002, promoveu-se a fusão dos dois projetos de lei sobre o tema, denominado Projeto de Lei 94/2002 (TARTUCE, 2008). De outro lado, convém referir a existência do Projeto de Lei n.º 166/2010 (reforma do Código de Processo Civil), o qual trata do mediador na seção V do Capítulo III (auxiliares da justiça). Fruto de elaboração da comissão de juristas presidida pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Fuz, e de relatoria de Tereza Arruda Alvim Wambier, o anteprojeto do novo Código de Processo Civil foi transformado no Projeto de Lei do Senado n.º 166/2010. No entanto, o movimento mais recente sobre o tema no país é a Resolução n.º 125, de 29 de novembro de 2010, assinada pelo Ministro Cezar Peluso e criada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Esta Resolução institui uma Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesse no âmbito do Poder Judiciário e visa a qualidade dos serviços e capacitação mínima dos servidores que realizarão as mediações, sendo uma maneira inicial de institucionalização do instituto no sistema brasileiro. Pelo exposto, tem-se que a mediação possui origem nos primórdios, onde era exercida por pessoas determinadas de capacidade natural, sem qualquer capacitação específica, principalmente nas cidades-estados. Foi se desenvolvendo e ao longo dos tempos se inseriu em diversos países, entretanto, em nível nacional, em que pese inexistir o tempo exato de sua aplicação, atualmente pode ser realizada por intermédio da Resolução n.º 125/2010, do Conselho Nacional de Justiça. Mediação procede do latim mediare, que significa estar no meio, mediar, intervir, dividir ao meio. Por conseguinte, a palavra mediação evoca o significado de centro, de meio, de equilíbrio, compondo a ideia de um terceiro elemento que se encontra entre as duas partes, não sobre, mas entre elas (SPENGLER, 2010). Conforme doutrina de Calmon (2008, p. 119) o instituto da mediação prevê a “intervenção de um terceiro imparcial e neutro, sem qualquer poder de decisão, para ajudar os envolvidos em um conflito a alcançar voluntariamente uma solução mutuamente aceitável”. Pode-se dizer, portanto, que a mediação incentiva as partes a buscar um equilíbrio, ou seja, um ajuste favorável a ambos, de modo que cesse o conflito sem atingir de forma negativa os laços anteriormente existentes. Sua importância reside no fato de que exerce atividade para sanar o problema existente e não para uma das partes especificadamente. Isto é, um procedimento que 124 visa somente a satisfação pessoal de uma parte em prejuízo da outra não terá sucesso, dado que a mediação objetiva a resolução da contenda de modo consensuado (MOORE, 1998). Na atual conjuntura, a mediação mostra-se o instituto mais efetivo para solução de litígios, eis que não possui a marca do modelo até então predominante de composição de conflitos, qual seja, a imposição de decisão ou intervenção, através da sugestão, no teor dos termos a serem acordados pelas partes. A diferença essencial a se destacar deste instituto para o modelo tradicional de resolução de conflitos está no perde-ganha e no ganha-ganha, conforme bem dispõe Sales (2007, p. 26), in verbis: No modelo tradicional de solução de conflitos - Poder Judiciário -, existem partes antagônicas, lados opostos, disputas, petição inicial, contestação, réu, enfim, inúmeras formas de ver o conflito como uma disputa em que um ganha e o outro perde. Na mediação a proposta é fazer com que os dois ganhem – ganha-ganha. O conflito é inevitável e se encontra intrínseco no convívio entre indivíduos de uma sociedade. Desse modo, pois, a mediação surge como uma alternativa à litigância no judiciário, pugnando pela solução da controvérsia de forma consensual. Trata-se de um método que possibilita o acesso à justiça de modo eficaz se considerada a atual crise enfrentada pelo sistema tradicional de solução de conflitos, pois tem características típicas, as quais possuem o intuito de facilitar a solução do conflito e superar as desavenças. Neste panorama, pertinente destacar as principais características da mediação, que são: a privacidade, a economia financeira e de tempo, a oralidade, a reaproximação das partes, a autonomia e o equilíbrio das relações entre as partes (MORAIS, SPENGLER, 2008). Frisa-se que estas características e princípios se atrelam de modo eficaz no combate aos percalços que atualmente enfrenta o sistema jurisdicional tradicional, tornando evidente os benefícios da aplicação da mediação. A mediação busca, pois, uma solução a extinguir não somente o conflito do caso concreto em análise, mas também restabelecer o vínculo entre as partes, o que também proporciona a redução de demandas, pois não haverá prolongamento da discussão, haja vista a satisfação mútua das partes envolvidas. Neste sentido, Nazareth (2001) pondera que: Fala-se em conclusão do processo, “solução do conflito”, mas, de fato, sabe-se que a sentença judicial conclui o processo “intramuros”, no âmbito restrito 125 daquele espaço-tempo recortado de um todo ilimitado, de um tempo que, às vezes, tem mais de mítico que de cronológico; de um espaço simbólico, mais que real. Tempo dos projetos desfeitos, das vidas fracassadas, das esperanças roubadas, a que a solução judicial não põe termo. (Disponível em http://www. direitoemquestaouzum.blogspot.com.br) Pode-se afirmar que a aplicação da mediação contribui para que os conflitantes celebrem acordos com intuitos reais e verdadeiros, com promessas firmadas desde os sentimentos, evitando que elas se comprometam simplesmente para satisfazer algum interesse (WARAT, 2004). É necessário destacar a importância da mediação como modelo que se desenvolve no seio da sociedade, como mecanismo válido e eficaz na solução de conflitos, mesmo porque essa motivação aumenta a confiança nos meios alternativos de tratamento de conflitos de forma gradativa, eis que atende o direito reclamado pela parte de forma célere e direta (TORRES, 2005). Neste sentido, Torres (2005, p. 175) aduz que “não há dúvidas que a mediação não só vai influir decisivamente para diminuir o número de processos nas instâncias ordinárias e nos tribunais, como se constituirá num campo fértil de solução alternativa de conflitos”. Pode-se perceber, então, que a mediação torna-se um dos mais sucedidos métodos de tratamento de conflito, mormente em se tratando do exercício da cidadania, daí porque abundantemente se referem a ela como um elemento para a solução do acesso à justiça, pois além do baixo custo, satisfaz ambas as partes, de modo que o conflito existente seja disseminado. Entre as diversas vantagens, pode-se destacar a rapidez, confidencialidade, redução de custos, ampla possibilidade de êxito e qualidade da decisão transacionada. Representa a medição uma prática que facilita e valoriza a inovação do tratamento do conflito, primando pela solução pacífica-consensual das controvérsias, tornando-se o mecanismo mais adequado para tratar da morosidade do Poder Judiciário, pois trata-se de nova e eficaz alternativa que proporciona o acesso à soluções céleres e alternativas, além de corresponder às pretensões democráticas dos cidadãos. 5. Conclusão Erigido no artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal de 1988, o acesso à justiça é um direito fundamental, e, ao longo da história, tornou-se mecanismo indispensável de amparo ao cidadão. Se considerado o desenvolvimento das sociedades, 126 organizadas atualmente em Estados, pode-se constatar que o acesso à justiça é uma garantia histórica e, partindo desse conceito é que se define ter este uma finalidade de pacificação social, eis que passa a gerir a vida em sociedade e possui visão ampla de justiça, não se limitando ao acesso ao judiciário, mas sim a uma ordem de valores e garantias fundamentais justa; isto é, que não se restringe ao sistema jurídico processual. Desde os primórdios o indivíduo se vê diante de situações antagônicas que os remete a circunstâncias conflituosas. Todavia, esses conflitos devem ser resolvidos, e, a partir do momento em que o Estado coibiu o uso da autotutela e evocou para si a tarefa de processar, apreciar e julgar as demandas, passou a contribuir com a atual crise enfrentada pelo Poder Judiciário. Aliado a isso, há a questão da positivação de inúmeros outros princípios e garantias fundamentais pela atual Carta Magna; e por ser este diploma gerido por expressiva gama de novos direitos aos cidadãos, houve um crescimento significante do número de demandas judiciais. Além disso, a complexidade conflitiva atual e a cultura do demandismo e judicialização dos litígios, bem assim a incapacidade das partes em comunicar-se e resolver seus próprios problemas, contribuem para assoberbar o judiciário, gerando as principais causas da crise. Neste escopo, evidenciada a incapacidade da jurisdição de monopolizar a solução de controvérsias, a tendência é se desenvolver procedimentos jurisdicionais alternativos. Outrossim, além de necessária, a celeridade na prestação jurisdicional exige uma reforma do dizer o direito, pois o Judiciário não consegue de forma concreta resolver todas as lides levadas a sua apreciação, o que evidencia o descompasso existente entre a sociedade e a função jurisdicional estatal, sendo plausível, portanto, que o Poder Judiciário proporcione às partes envolvidas a criação de mecanismos alternativos para solução dos conflitos, almejando alcançar celeridade, informalização e pragmaticidade, afastando a atuação até então imprescindível do magistrado. Surge então, a aplicação mais vigorante dos meios alternativos de acesso à justiça, como a negociação, a conciliação, a arbitragem e a mediação. Dentre estes, destaca-se a mediação, cuja prática surgiu de forma tímida, mas vagarosamente ganhou a confiabilidade dos profissionais jurídicos, pois possibilita que os contendores restabeleçam a capacidade de comunicação e possam de forma pacífica, consensual e voluntária, se autocompor, cessando com a ideia ultrapassada de que apenas uma das partes pode sair vencedora e beneficiada do conflito. Diante disto e da existência da figura do mediador, que é terceiro neutro responsável por conduzir a mediação, estimulando as partes a participarem ativamente na busca 127 do equilíbrio - isto é, da melhor solução à controvérsia através de um ajuste favorável a ambos, sem, no entanto, decidir, induzir, aconselhar ou sugerir sobre qualquer ponto da decisão -, que a mediação apresenta-se como um novo conceito de justiça. Considerada um método consensual e democrático por possibilitar às partes a construção de uma transação sem a imposição de uma decisão, a utilização da mediação contribui de forma determinante para a quebra do paradigma da morosidade brasileira, pois oferece alternativa eficaz e adequada ao cidadão, que pode desvincular-se do processo judicial e se comprometer com o acordo celebrado, responsabilizando-se pelo seu cumprimento. Através desta sistemática, aos poucos se cria uma nova mentalidade de se tratar de conflitos, pois passa o cidadão a perceber que pode resolver seus litígios sem a intervenção de uma decisão impositiva de um terceiro, cuja base, em regras, não corresponde mais a sua realidade. Pode-se afirmar ser esta uma das maiores contribuições do instituto, pois ao devolver ao cidadão a capacidade de lidar com a litigiosidade inerente a sua existência, dissolvendo seus conflitos de forma eficaz, promove a eliminação do conflito e não somente o posterga. Salienta-se que seria utopia afirmar que a mediação é a solução para todos os problemas do judiciário. Contudo, a propagação deste mecanismo representa, sem pestanejar, um passo expressivo na viabilização do acesso à justiça; eis que se trata do modo mais equânime de solucionar conflitos, aliviando a reincidência processual, a morosidade e o custo expressivo das demandas judiciais. Seus benefícios, portanto, transcendem os demais mecanismos passíveis de utilização para solução de contendas; eis que permite uma decisão eminentemente justa, haja vista ser elaborada de mútuo acordo pelas partes, o que contribuirá com o seu cumprimento e ensejará a pacificação social, que remeterá, via de consequência, a uma diminuição concreta e expressiva dos processos em ingresso e tramitação em juízo, desafogando o judiciário. 6. Referências bibliográficas BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília (DF): Senado Federal, 1988. CALMON, Petrônio. Fundamentos da mediação e da conciliação. Rio de Janeiro: Forense, 2008. 128 CAPPELLETTI, M.; GARTH, B. Acesso à justiça. Porto Alegre: Fabris, 1988. CINTRA, A. C. A.; GRINOVER, A. P.; DINAMARCO, C. R. Teoria geral do processo. 27. ed. São Paulo: Malheiros, 2011. DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 11. ed., rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2003. GORCZEVSKI, Clóvis. Jurisdição paraestatal: solução de conflitos com respeito à cidadania e aos direitos humanos na sociedade multicultural. Porto Alegre: Imprensa Livre, 2007. LIMA FILHO, Francisco. Os movimentos de acesso à justiça nos diferentes períodos históricos. Disponível em: <http://www.unigran.br/revistas/juridica/ed_anteriores/04/ artigos/03>. Acesso em: 02 out. 2011. MOORE, Christopher William. O processo de mediação: estratégias práticas para a resolução de conflitos. Porto Alegre: Artmed, 1998. MORAIS, J. L. B.; SPENGLER, F. M. Mediação e arbitragem: alternativas à jurisdição! 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. NAZARETH, Eliana Riberti. Psicanálise e mediação: meios efetivos de ação. Disponível em: <http://direitoemquestaouzum.blogspot.com.br/2011/03/psicanalise-e-mediacao-meios-efetivos.html>. Acesso em: 10 jun. 2012. SALES, Lília Maia de Morais. Mediação de conflitos: família, escola e comunidade. Florianópolis: Conceito Editorial, 2007. SILVA, Antônio Hélio. Mediação, arbitragem e conciliação. Rio de Janeiro: Forense, 2008. SLONGO, Mauro Ivandro Dal Pra. O processo eletrônico frente aos princípios da celeridade processual e do acesso à justiça. Disponível em: <http://uj.novaprolink. com.br/doutrina/6248/o_processo_eletronico_frente_aos_principios_da_celeridade_processual_e_do_acesso_a_justica>. Acesso em: 23 mai. 2012. 129 SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento de conflitos. Ijuí: Editora Unijuí, 2010. TARTUCE, Fernanda. Mediação nos conflitos civis. São Paulo: Método, 2008. THEODORO JÚNIOR, Humberto. Celeridade e efetividade na prestação jurisdicional: insuficiência da reforma das leis processuais. Disponível em: <http:// abdpc.org.br/artigos/artigo51.htm>. Acesso em: 06 mar. 2012. TORRES, Jasson Ayres. O acesso à justiça e soluções alternativas. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. WARAT, Luis Alberto. Surfando na pororoca: o ofício do mediador. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2004. 130 INTRODUÇÃO À TEORIA DO ERRO PENAL Augusto Reis Ballardim49 Marcos Rogério Peroto50 RESUMO O presente artigo consiste em singela contribuição ao estudo dos erros no âmbito do Direito Penal, na atualidade divididos entre os erros de tipo e de proibição. Partindo de clássica conceituação jurídica do delito, do dolo e da culpa e da apresentação histórica das teorias da culpabilidade, alcançamos o erro como elemento indissociável do agir humano. Quer incidente sobre as elementares do tipo incriminador, sobre fatos irrelevantes ou sobre a consciência da ilicitude e a capacidade do agente de obtê-la, os ordenamentos jurídicos deles sempre se ocuparam ao longo de sua evolução, demonstrando a relevância do tema às Ciências Criminais. Pontos nebulosos aqui são apresentados e esclarecidos, como os erros passíveis de ocorrer sobre elementos normativos da ilicitude que integram o tipo penal, fornecendo-se necessário norte para seu enquadramento nas mencionadas espécies. É apresentada, ainda, uma análise do erro vinculado aos pressupostos fáticos da causa de justificação, em que defendemos a aplicação do conceito complexo da culpabilidade como o mais adequado padrão teórico a explicar e harmonizar suas consequências com as normas regentes. Palavras-chave: delito; erro de tipo; erro de proibição; teoria do erro penal; teoria complexa da culpabilidade. 1. Introdução 49 Acadêmico do 8º semestre do curso de Direito da Universidade de Santa Cruz do Sul, Campus Capão da Canoa. E-mail: [email protected]. Doutorando em Direito Penal pela Universidad de Buenos Aires. Mestre em Direito pela Universidade Luterana do Brasil. Especialista em Direito Penal e Processual Penal pela mesma instituição. Professor da Universidade de Santa Cruz do Sul. Advogado. E-mail: [email protected]. 50 131 Errare humanum est. A máxima latina, repetida à exaustão nos livros de filosofia, manuais jurídicos e consagrada pela sabedoria popular nunca cessou, nem cessará de ser verdadeira. Mais: equivocar-se é uma etapa necessária para excluir hipóteses que, concebidas no plano das ideias, jamais poderiam ser verificadas no mundo material. A ciência diariamente prova que, sobre cada mistério, impõe-se uma investigação onde, depurada das conjunturas inverossímeis que criamos, ou seja, de nossas próprias ilusões, culmina na sua correta elaboração. O Direito, elemento tradutor e regulador das relações humanas, por mais alargado nas condutas e exato nas descrições que pretenda ser, não pode deixar de contemplar a hipótese do equívoco; por pouco provável que seja em determinada circunstância, (quase) certamente é possível. O ser humano, o sujeito de que emanam e para onde são direcionadas suas prescrições, é falível; incapaz de compreender a inteireza do universo que o circunda, por integrá-lo e jamais conseguir dele dissociar-se. Embora todos os seus ramos devam ocupar-se da temática do erro, suas consequências terão mais volume na esfera criminal, ultima ratio da tutela estatal, cuja missão é a proteção subsidiária de bens jurídicos (BATISTA, 2007, p. 216). Parece irônico que cuide dos valores mais caros a certa sociedade e que, ao mesmo tempo, possa restringir a liberdade de seus integrantes, outro de seus pilares axiológicos. Considerando tamanha concentração de responsabilidade, normativamente expressa, importa-nos, sobretudo, analisar qual o tratamento dispensado pelo Direito Penal ao erro que provoca ou está relacionado ao delito, verdadeiro mecanismo de segurança jurídica destinado a cingir a pena do agente aos limites de sua culpabilidade. Fundamental, pois, compreender a temática. Ao longo destas linhas, pretendemos expor pontualmente alguns dos assuntos mais debatidos pertinentes à Teoria do Erro Penal, apresentando os conceitos mais importantes ao seu estudo, as classificações segundo as quais a doutrina organiza a matéria e expondo as construções existentes a respeito, com seus acertos e equívocos, apontando as que julgamos mais apropriadas para a solução dos problemas que surgem de sua constituição. 2. O erro penal O ordenamento jurídico-penal brasileiro contempla duas hipóteses específicas de erro (falsa percepção da realidade), quais sejam, o erro de tipo e o erro de proibição. O primeiro é compreendido como aquele que recai sobre as elementares do delito (erro de tipo essencial) ou sobre fatos irrelevantes à sua configuração (erro de tipo acidental). O último, que incide sobre a consciência do injusto, pode ser verificado com relação 132 a normas proibitivas (erro de proibição direto), mandamentais (erro de mandamento) ou permissivas (erro de proibição indireto ou erro de permissão). Alcides Munhoz Netto (1978, p. 135), quase isoladamente, defende uma divisão tricotômica do erro, acrescentando o que chama de erro de exigibilidade quando existente acerca de elemento da culpabilidade, sustentando que sua consequência óbvia seria a isenção de pena. Fundamental, para melhor entendimento, que a diferença crucial entre o erro de tipo e o erro de proibição seja, desde logo, exposta, ainda que superficialmente. No erro de tipo, a falsa percepção do agente recai sobre a realidade que o circunda, isto é, ele não capta corretamente os eventos que ocorrem ao seu redor. Ou seja, o sujeito se confunde, trocando um fato por outro (ESTEFAM, 2010, p. 217). Já no erro de proibição a pessoa tem plena noção da realidade que se passa ao seu redor; contudo, equivoca-se sobre a compreensão acerca de uma regra de conduta. Com seu comportamento, o agente viola alguma proibição contida em norma penal que desconhece. Vale dizer, o sujeito sabe exatamente o que faz, só não sabe que o que faz é proibido. O erro de tipo, normatizado entre nós no art. 20 do Código Penal, como dito, pode ser essencial ou acidental. O exemplo mais clássico de erro de tipo essencial é o do caçador que, à noite, tomando por animal o que na verdade é um homem, dispara sua arma de fogo, lesionando-o ou mesmo causando-lhe o óbito. A doutrina mais desenvolta sobre o tema agrega inúmeras situações correspondentes: catador de papel que se apossa de coisa alheia julgando-a abandonada (res derelicta), venda de bebida alcoólica a menor supondo-o maior de dezoito anos, pessoa que entra em carro de outrem por engano, pensando ser o seu, entre centenas de outras (GOMES, 1999, p. 29). Será inevitável e escusável se o sujeito não podia ter tido a representação correta da situação fática, inexistindo o elemento subjetivo típico, o dolo; será evitável e inescusável se tiver havido negligência ou imprudência de sua parte, caso em que será punido na modalidade culposa (se existente), nos termos do art. 20 do Código Penal; cometeu ação finalista orientada licitamente, em que a consequência ilícita obtida não foi a querida (WELZEL, 1956, p. 41). Em sua forma acidental, o erro de tipo adquire certo caráter indiferente: o dolo do agente encontra-se presente, razão pela qual comete o crime, mas sua previsão não se concretiza integralmente, havendo várias espécies e consequências distintas. Pode o agente equivocar-se quanto à pessoa alvejada, matando seu irmão gêmeo (error in persona); enganar-se no tocante ao objeto furtado, subtraindo da vítima algo de valor maior, menor, de marca ou natureza diversa do que supunha (error in objecto); efetuar disparo com arma de fogo e, em decorrência de sua própria mão trêmula, atingir pes- 133 soa diversa (aberratio ictus); atirar uma pedra contra um veículo, querendo somente danificá-lo, mas cujo vidro se estilhaça e ofende gravemente a integridade corporal de terceiro, caso em que responderá por ambos os crimes em concurso formal, havendo um resultado querido e outro cujo risco de se produzir foi assumido, em atitude equiparável ao dolo eventual (aberratio criminis); ou efetuar um disparo contra um indivíduo à beira de um penhasco, que vem a falecer não pelo aludido ferimento, mas pela queda na água (aberratio causae), apenas para citar alguns exemplos didáticos comumente encontrados nas obras doutrinárias e nas salas de aula. Quando falamos de crimes que culminam com vítima diversa da originalmente visada, duas posições emergem: conforme a teoria da concretização, o agente responderá pelo crime que efetivamente cometeu (contra a vítima real); segundo a teoria da equivalência, será punido com todas as elementares referentes à pessoa que intentava atingir (contra a chamada vítima virtual). Esta última foi a adotada pela legislação penal nacional, seja no tocante ao próprio error in persona (art. 20, § 3º), seja como consequência de aberratio ictus (art. 73). Parte da doutrina insurge-se contra a aplicação da teoria da equivalência. Paulo Queiroz (2011, p. 232-235) formula a seguinte proposição: a esposa decide matar o marido. Para tanto, adiciona veneno à marmita do marido. Posteriormente, descobre que os filhos, encarregados de levar o alimento até o local de trabalho do pai, ingeriram-no e vieram a óbito. Pela teoria da equivalência, deve-se punir a mulher pelo homicídio consumado do marido. Contudo, sancionada por tal fato, argumenta-se que, constatando a sobrevivência do cônjuge, caso posteriormente viesse a provocar-lhe a morte, não poderia ser novamente punida pelo delito. Em verdade, porém, isto não é correto: somente a agravante havida da relação conjugal não poderia ser repetidamente aplicada (o que, aí sim, demonstraria duplicidade). Acerca da opção legislativa e da fórmula jurídica empregada, Perelman (2000, p. 131) objetaria que a escolha da técnica é determinada não por considerações gerais, mas por aquela que permitir a solução mais equitativa e aceitável no caso concreto, que sirva de precedente não à totalidade dos casos, mas àqueles que lhe são semelhantes. Partindo daí, parece-nos que a posição sustentada pelo Código Penal não seja a mais adequada. Para Paulo Queiroz (2011, p. 234), a resposta é clara: deve-se adotar a teoria da concretização, com a atribuição do homicídio culposo dos filhos (com a possibilidade de perdão judicial, conforme o art. 121, §5º do Código Penal) e homicídio tentado contra o marido, aplicando-se à esposa, ainda, o concurso formal (art. 70 do Código Penal). Os enunciados acima também influem na competência processual. Utilizada, como visto, a teoria da equivalência, todas as qualidades relativas à vítima virtual serão 134 sopesadas, inclusive o foro competente para seu processamento, segundo a Constituição Federal e os Códigos Penal e Processual Penal. O erro de tipo pode incidir, ainda, sobre a existência de circunstâncias agravantes ou qualificadoras. Se o coautor de crime de roubo porta arma de fogo, tal circunstância não poderá ser imputada aos partícipes que desconheciam tal situação, julgando, talvez, que a subtração seria exercida somente através de força física. Só haverá majoração pelo concurso de agentes (JESCHECK, 1981, p. 415). Argumenta-se que um dos efeitos possíveis do erro de tipo é a desclassificação do delito para outro de menor potencial lesivo ou de maior simplicidade elementar. Celso Delmanto (2002, p. 38) formula situação em que o sujeito desacata funcionário público, desconhecendo esta qualidade pessoal da vítima, sustentando ocorrer desclassificação do crime de desacato (art. 331 do Código Penal) para o de injúria (art. 140 da mesma legislação). Em verdade, trata-se de infeliz equívoco: não há desclassificação, mas conflito aparente de normas. O agente desconhecia a condição especial da vítima, portanto, jamais houve desacato, somente injúria. Vale dizer, é completamente descabido dizer que ao não se perfazer (por ignorar faticamente) a previsão típica do crime mais complexo estar-se-á desclassificando a conduta para outra mais simples. Desde o princípio, não houve dolo de desacatar funcionário público no exercício da função, somente de injuriar, para cujo cometimento a conduta do agente sempre esteve voltada. O erro de proibição, por sua vez, está positivado no art. 21 do Código Penal. O erro de proibição direto ocorre quando o agente ignora uma vedação normativa referente à ilicitude de uma conduta: é a idosa que, após o falecimento do esposo, continuou recebendo o benefício previdenciário; o humilde comerciante informal que desconhecia a necessidade de possuir nota fiscal para todos os bens que vendia; os camponeses que, após acidente de trânsito, conduziram animal envolvido no sinistro até sua casa, dele cuidando e apossando-se; e o prefeito de pacata cidade que ordenou a instalação de empresa repetidora de sinal de televisão sem a autorização dos órgãos competentes (GOMES, 1999, p. 145-160). Já o erro de proibição indireto, ou erro de permissão, engloba os casos em que alguém se julga acobertado por causa excludente de ilicitude sem que, efetivamente, assim se dê. Indireto porque, nestes casos, o erro não incide sobre a fonte direta de conhecimento da ilicitude, mas, indiretamente, sobre a norma que estabelece justificação para a violação da norma proibitiva. Voltaremos a tratar da matéria. Por sua vez, o erro de mandamento ocorre quando o indivíduo se equivoca acerca de dever jurídico pessoal, pois deveria ter evitado uma consequência. Trata-se de erro 135 do garantidor. Em outras palavras: o indivíduo não sabe que, na situação concreta, está juridicamente obrigado a agir para evitar o resultado, pensando que sua omissão é penalmente irrelevante. Francisco de Assis Toledo (1994, p. 270-271) anota tratar-se de uma omissão de ação determinada pela “norma preceptiva – dever jurídico de impedir o resultado”. Para Ivan Martins Motta (2009, p. 79-80), é espécie do gênero erro de proibição indireto. Cita a situação do instrutor de alpinismo que, mesmo imbuído de notória capacidade técnica, recusa-se a cumprir o dever jurídico de salvar pessoa em perigo por supor que não deva comprometer sua própria integridade no exercício da arriscada profissão que desempenha, desconsiderando sua posição de garante. A hipótese é distinta, obviamente, se o instrutor julga inexistente o risco pelo qual passa a pessoa, incorrendo em erro de tipo por incorreta representação fática. Fernando Galvão (2007, p. 390) observa que, ainda, há espécies de erro de proibição decorrentes da errada compreensão da lei, manifestando-se sob quatro modalidades distintas: erro de vigência, erro de eficácia, erro de punibilidade e erro de subsunção. No erro de vigência, o sujeito desconhece que uma determinada norma jurídica já está em vigor. Logo, não percebe a ilicitude de seu comportamento. Por já ter plena consciência de que o fato é considerado ilícito, não ocorre isenção nem diminuição de pena. Verifica-se o erro de eficácia quanto o autor do fato acredita que determinada norma jurídica não mais está produzindo seus efeitos, ou seja, perdeu sua eficácia. Da mesma forma que o anterior não isentará ou diminuirá a pena. Erro de punibilidade ocorre quando o agente, mesmo consciente que sua conduta é ilícita, acredita não haver previsão legal para a aplicação de pena criminal para o caso. Vale dizer, acredita que outro apenas outro ramo do Direito preveja sanção para a conduta ilícita. Modalidade possível apenas em função das normas proibitivas, constitui hipótese de erro inescusável e, quando muito, dependendo das circunstâncias do caso concreto, poderá levar à aplicação de pena reduzida. No erro de subsunção, o autor do fato tem conhecimento da norma jurídica mas pensa, erroneamente, que a conduta que realiza não coincide com a previsão legal. Aplicável também apenas às normas proibitivas, equipara-se ao erro sobre elementos normativos do tipo (que será visto adiante), mas com ele não se confunde. No erro de subsunção, o sujeito não compreende exatamente a conduta que a lei proíbe, particularmente pela utilização de verbos que não são reconhecidos na linguagem coloquial, como “escarnecer”, “vilipendiar”, “conspurcar” (art. 208 e 212 do Código Penal e art. 65 da Lei de Crimes Ambientais). Embora sutil a diferença, verifica-se que o erro não recai sobre elementos normativos do tipo, mas sim sobre o real sentido da proibição. 136 Em todas as modalidades, o erro será inevitável e escusável se não houvesse sequer a possibilidade de o indivíduo ter conhecido o caráter antijurídico de sua ação, isto é, se inexistir a potencial consciência de sua ilicitude, quedando isento de pena; será evitável e inescusável se lhe fosse possível atingir esse conhecimento na situação concreta, caso em que a sanção será reduzida de 1/3 (um terço) a 1/6 (um sexto), nos termos do art. 21 do Código Penal. Não se exige que tal saber seja plenamente expresso, verbalizado oral ou mentalmente, mas certamente latente nas representações do autor, em fenômeno chamado co-consciência (SANTOS, 2010, p. 146). Diz-se que a alegação de desconhecimento da antijuridicidade não aproveitará ao agente quando pudesse tê-la apreendido com mínimo esforço intelectual, se propositadamente recusar-se a obter instrução ou não buscar informar-se acerca do exercício de atividades regulamentadas (ASSIS TOLEDO, 1994, p. 262). Ademais, recordamos o brocardo latino ignorantia legis neminem excusat, expresso no art. 21 do Código Penal, sem olvidar para sua inserção como atenuante genérica na parte geral (art. 65) deste mesmo diploma legal. O requisito da consciência da antijuridicidade, apenas potencial para configuração do crime, existe para que uma porta para a impunidade não seja escancarada: bastaria que o indivíduo negasse o conhecimento da norma escrita ou do caráter ilícito da ação para ver-se livre de suas consequências. Tratando-se de matéria subjetiva, relacionada aos vetores internos do ser, tornar-se-ia quase impossível comprovar-lhe a dirigibilidade antijurídica (SANTOS, 2010, p. 305) – e, perante a dúvida, todos sabemos, a resposta jurisdicional absolutória garantida pelo Direito Penal. Deve-se esclarecer, ainda, que o erro de proibição encontra pacífica aplicação nos crimes culposos (BITENCOURT, 2010, p. 61). Os limites do dever objetivo de cuidado rompido quando do perfazimento da conduta imprudente, negligente ou imperita integram permissões ou proibições sobre as quais pode haver equívocos. Naturalmente, dificuldades de maior monta serão impostas quando à demonstração de sua escusabilidade, pois não se exige cognição ampla para aferição do elemento subjetivo. O art. 20, §2º do Código Penal preconiza que, em caso de erro determinado por terceiro, a responsabilidade pelo crime será deste, isto é, do terceiro que determina o erro. Citamos como casuística, além da repisada situação em que o médico entrega à enfermeira seringa contendo substância letal em vez do remédio que curaria o enfermo (RODRIGUES, 2010, p. 172), o exemplo interessante trazido por Nucci (2009, p. 219-220) em que, durante as filmagens de La Venganza Del Escorpión, no México, o ator Antonio Velasco foi atingido por projeteis de arma de fogo disparados por um colega, Flavio Penichedo, que, pensando que o revólver contivesse balas de festim, 137 pressionou o gatilho duas vezes contra o personagem interpretado por Velasco, tal qual previsto no script. Posteriormente, constatou-se a substituição das balas cenográficas pelas reais, bem como o desaparecimento de dois integrantes da equipe. Partindo do caso real descrito, podemos afirmar que a responsabilidade penal de Penichedo se restringirá à culpa, visto que não tinha qualquer intenção de ferir ou mesmo levar Velasco a óbito. Entretanto, tal punição se dará somente se o ator tinha a obrigação de conferir o estado da arma antes da filmagem; se tal atividade era incumbência do contrarregra, por exemplo, constituindo um imprevisto insolúvel para Penichedo, tanto dolo quanto culpa serão purgados de sua conduta, não havendo crime senão o do(s) terceiro(s) que lhe deu(ram) causa. Cristiano Rodrigues (2010, p. 173) defende a possibilidade do erro de proibição determinado por terceiro, trazendo o exemplo do procurador que informa à parte não ser proibida a prestação de declarações falsas perante o juízo, se estas visarem a assegurar benefícios econômicos aos seus filhos. A inevitabilidade do erro de proibição direto, em que teria incidido o depoente, parece a via mais correta para a solução da questão; quanto ao advogado, deverá, em tese, ser imputado o crime do artigo 299 do Código Penal (falsidade ideológica). 3. O erro sobre elementos normativos do tipo A doutrina, não sem certa divergência quanto à necessidade e conveniência, distingue os elementos normativos em elementos normativos do tipo e em elementos normativos da ilicitude. Os primeiros expressam circunstâncias do fato criminoso, enquanto os segundos (da ilicitude) expressam o desvalor da conduta que é contrária ao Direito (GALVÃO, 2007, p. 391). Não é de todo incomum que o tipo penal traga expressões que, por si sós, não exprimem com exatidão seu conteúdo, requerendo uma atividade valorativa para significá-las. Estes são os chamados elementos normativos, que induzem, por natureza, à interpretações diversas, decorrente, inclusive, da linguagem técnica peculiar ao Direito que emprega locuções não dotadas de univocidade, tais como “coisa alheia”, “documento” (elementos normativos do tipo), ou ainda “vantagem indevida”, “sem justa causa”, “sem licença da autoridade” (elementos normativos da ilicitude). Surge o problema de se identificar, na lide jurídica, em quais situações estaremos diante de erros referentes ao tipo e quais deles tocarão à proibição. 138 Para Motta (2009, p. 97), tais equívocos jamais poderiam ser erro de proibição, pois haveria violação ao caráter fechado da tipicidade, ofendendo o princípio da legalidade. Outrossim, se elementos relativos à ilicitude estão previstos na própria definição legal da infração penal, seria cediço que entrariam na definição mesma de erro de tipo. Roxin (1997, p. 461-462) cria evento em que o erro incidiu sobre a elementar “documento” (aqui é poderia haver a confusão com o chamado erro de subsunção, conforme exposto alhures), no qual o autor conhece o conteúdo do tipo, mas erra em seu significado jurídico-penal (JESCHECK, 1981, p. 421). O agente supõe que, ao alterar a quantidade de marcações na comanda que registra seu consumo em determinado estabelecimento comercial, não esteja falsificando documento, pois entende este como algo oficial, registrado em cartório, assinado por testemunhas, isto é, revestido de formalidade. Tal equívoco não conduz à exclusão do dolo: embora julgando que o objeto do delito não estava presente, o cliente quis cometê-lo e o fez, razão pela qual o tipo resta perfeito. Trata-se de erro de tipo, em nada diferente da conclusão que se extrai do caçador que, ao julgar ver um cervo na escuridão onde na realidade há um homem, erra sobre situação fática juridicamente conceituada no tipo (o que nos auxilia a comprovar o abandono da velha dicotomia entre os erros de fato e de direito). Na abordagem dos elementos normativos, não há como superar a clareza da formulação de Cezar Roberto Bitencourt (2011, p. 450-451), que nos oferece o equilíbrio entre visões polarizadas: Imaginemos que mediante arroubos, pedidos persistentes, súplicas insistentes, o agente solicita de alguém um determinado valor. E esse alguém recebe essa situação, diante da insistência do pedido, como uma ameaça velada, quando, na verdade, o agente está apenas sendo enjoado, inconveniente. Mas a vítima, por qualquer razão, digamos, porque sabe que o agente conhece uma situação que lhe pode ser comprometedora, toma aquilo como uma ameaça e cede ao pedido do agente. Esse erro do agente será quanto ao caráter indevido da ação constrangedora. Aqui, na verdade, se trata de erro sobre a ilicitude. O agente não percebe que está praticando uma conduta indevida, portanto ilícita. Agora, ao contrário, se pensa que a vantagem que está procurando alcançar, com o emprego da violência ou da grave ameaça, é devida, erra, portanto, sobre o segundo aspecto da expressão indevida constante do enunciado da lei. Aí o erro será sobre elemento do tipo. 139 O autor continua a lição fornecendo caso hipotético relacionado ao artigo 154 do Código Penal, que corresponde à violação do sigilo profissional, em que o elemento normativo especial da antijuridicidade “sem justa causa” está presente. Caso o agente pense que a revelação não produzirá dano a outrem, estaremos diante de erro de tipo; se o engano guardar relação com a (in)existência de justa causa, haverá erro sobre a ilicitude. Junto a Bitencourt e Muñoz Conde (2000, p. 432-433), concluímos que cada exemplo de erro aqui colacionado incidiria também sobre a antijuridicidade, mas, pelo “caráter sequencial da teoria do delito”, o impasse surgido na tipicidade deve ser resolvido em seu interior, procedendo-se aos próximos níveis somente caso ali não seja possível obter-lhe a resposta. Frente aos dados que aqui expusemos, concluímos que há situações em que a aplicação dos erros de tipo e de proibição sobre elementares do tipo e elementos normativos da ilicitude é claríssima; noutras, cumpre examinar primeiro a hipótese do erro de tipo, que, se existente, saltará aos olhos, para, em momento distinto, analisar a possibilidade da incidência do erro de proibição. 4. As descriminantes putativas Breve incursão na parte geral do Código Penal demonstra-nos a existência de causas excludentes da antijuridicidade da conduta: o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito, sem mencionar as previstas nos tipos e na legislação especial. A possibilidade de qualquer indivíduo supor-se por elas acobertado em circunstâncias concretas também inclui a possibilidade de errar acerca de seus elementos autorizantes. O estado de necessidade diz respeito ao conflito entre deveres jurídicos, dentre os quais, ante a flagrante situação de perecimento ou dano irreversível, um deles deve ser sacrificado. Exemplo clássico é o de dois náufragos que visualizam, ao mesmo tempo, pedaço de lenha flutuando em alto-mar; verificando que não poderá comportar a ambos, não se pode exigir de qualquer dos dois que abdique de sua vida, ficando plenamente exculpada a luta e mesmo o óbito do outro decorrente de tal necessidade. Demanda a existência de perigo atual, não provocado voluntariamente, e inevitável por outro meio senão o empregável, bem como a inexigibilidade do bem ameaçado, que pode ser próprio ou alheio. Devem concorrer, também, a finalidade de salvar o direito de tal ameaça e a inexistência de dever legal que desautorize seu exercício. 140 A causa de justificação mais difundida, a legítima defesa, exige do agente o animus defendendi, isto é, o propósito de simplesmente defender-se da ofensa a que é submetido. Difere do estado de necessidade por representar uma reação, em contraste à ação necessária à efetivação daquela. Seus requisitos incluem a injustiça, a atualidade ou a iminência da agressão, bem como a existência de direito próprio ou alheio, com o emprego moderado dos meios necessários para repeli-la. O excesso, como em qualquer das demais excludentes, é punível. A reação que visa a cessar ataque de animais de ações não humanas é residualmente tratada como estado de necessidade. O estrito cumprimento do dever legal representa o exercício de uma obrigação imposta por lei, razão pela qual não haverá crime. Há uma tênue linha entre o lícito e o abusivo, que deve ser observada, cujo conteúdo distintivo é a elementar “estrito”. O exercício regular de direito, por fim, trata da possibilidade de se exercer livremente uma posição jurídica não proscrita pelo Direito, cuja privação não se pode exigir do indivíduo. Aqui, o conteúdo distintivo da ação ilegal, abusiva ou mesmo excessiva, é a elementar “regular”. Dizer que uma circunstância é putativa equivale a afirmar tratar-se de circunstância fática inexistente, vale dizer, de caráter imaginário. Embora também imaginário, situação diversa é a do delito putativo, inexistente no plano material. Exemplo é aquele que tem farinha em depósito julgando ser cocaína. A tipicidade queda abalada pela não verificação de uma elementar objetiva (a droga, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, segundo o artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006), embora o elemento subjetivo, o dolo, estivesse presente. Logo, não há crime. De igual maneira, as próprias eximentes podem ser apenas imaginárias, putativas, presentes apenas na representação do autor. Errará, portanto, o sujeito, situação que interessa sobremaneira ao nosso estudo. 5. Fundamentos teóricos da culpabilidade A culpabilidade, em Direito Penal, comporta três facetas. Uma, de cunho principiológico, ressalva a impossibilidade de culpar o agente pelo ato praticado sem que tenha havido, de sua parte, intencionalidade (dolo) ou quebra do dever de cuidado (culpa). Serve, também, como limite da pena, vedando sua aplicação desmedida ao torná-la proporcional e razoável. A última, cuja abordagem é imperiosa, representa o fundamento da pena, em atitude de reprovação da formação da vontade, ou juízo 141 negativo acerca da ação antijurídica, que poderia ter agido conforme o ordenamento (CALLEGARI, 2005, p. 91), mas não agiu. Como discutir o livre-arbítrio ou do determinismo foge ao escopo destas linhas: falemos do jurídico e do humanamente alcançável. Depreendemos que a volição do agente deve ser livre (actio libera in causa), necessitando, para constatação da vetorial axiológica negativa da culpabilidade, que o indivíduo tenha desenvolvimento mental completo (imputabilidade), condições de saber ou alcançar o conhecimento da reprovação da conduta (potencial consciência da ilicitude) e que lhe pudesse ser demandado que agisse de maneira diferente, conforme ao Direito (exigibilidade de conduta diversa). Acrescenta-se, assim, um terceiro filtro: para a perfectibilização do crime, dada a inter-relação entre as categorias, devem concorrer a adequação típica e a contrariedade ao ordenamento, como pressupostos para avaliar se há ou não culpabilidade, em caráter progressivo51. Historicamente, a evolução do conceito de culpabilidade passa por três teorias distintas: a psicológica, a psicológico-normativa e a normativa pura. Para a teoria psicológica (Von Liszt, Beling, Binding, Radbruch), a culpabilidade é meramente naturalística, atrelando-se fortemente ao causalismo, portanto. Dolo e culpa integram a culpabilidade, juntamente com a imputabilidade (capacidade de culpabilidade). A principal crítica formulada à construção nasce da existência da negligência, modalidade culposa que prescinde de qualquer conteúdo mental direcionado a uma ação antijurídica. Assim, a culpabilidade seria afastada caso houvesse erro (vício intelectual) ou coação (vício volitivo). Na teoria psicológico-normativa (Frank, Goldschmidt, Freudenthal e, posteriormente, Beling), culpabilidade é reprovabilidade incidente sobre o nexo psicológico entre o evento e o autor. Passa a ser, além de uma relação psíquica, um juízo de reprovação, criando um dolo híbrido (psicológico-normativo), consistente em previsão, vontade e consciência da ilicitude. Seu problema foi facilmente identificado por Mezger: como exercer o poder punitivo sobre um indivíduo que nasceu em um meio altamente criminalizado e não desenvolveu noção civilizada acerca do injusto? Para solucioná-lo, criou a concepção da culpabilidade pela condução de vida, para a qual importa o substrato do agente, e não a conduta efetivamente praticada, razão pela qual foi fortemente criticado. Trata-se de posição doutrinariamente dominante, chamada de teoria tripartida ou tricotômica, não esquecendo, contudo, da parcela que define o crime apenas como fato típico e antijurídico (teoria bipartida ou dicotômica), alocando a culpabilidade fora do conceito de crime, apenas como pressuposto para aplicação da pena, como um juízo de censura, de cunho normativo, realizado a posteriori pelo julgador. 51 142 Por fim, para a teoria normativa pura (Welzel), a culpabilidade é mero juízo de censura. Os elementos psicológicos (dolo e culpa) quedam afastados para a tipicidade, mais precisamente para a conduta. Aqui, a culpabilidade é um elemento apenas normativo, cindido entre imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, os requisitos de que anteriormente tratamos. Esta é a postura adotada pela maioria dos ordenamentos jurídicos que embasam nossa concepção penal. Na atual teoria do crime, o dolo integra a tipicidade como seu elemento subjetivo, e de fato assim sucede, mas as teorias clássicas a ele referentes, como visto, inseriam-no na culpabilidade (o que também ocorria, vale ressaltar, com a culpa), razão pela qual analisamo-las aqui. A concepção mais antiga, a teoria estrita, extrema ou extremada do dolo (Lang-Hinrichsen, Schrrudthfiuser, Schrfider), conclui que a falta de consciência da ilicitude exclui o dolo ao situar aquela neste. Aqui, o dolo é apenas normativo, consistente em previsão, vontade e consciência da ilicitude, equiparando a punição (ou não) do erro de proibição àquela prevista para o erro de tipo. A teoria limitada do dolo (Mezger) não vai muito mais além: apenas introduziu o conceito de cegueira jurídica ou inimizade ao direito a fim de punir o criminoso habitual, ainda que cometesse delito culposo, com pena cominada à espécie dolosa, valorando o desvalor do autor em prejuízo do desvalor de sua conduta ou do resultado almejado. O defeito das teorias do dolo é a impossibilidade de tutelar penalmente condutas em que o agente, por erro acerca de sua antijuridicidade, obra culposamente (em geral, por negligência) quando o tipo só admite a forma dolosa, o que conduz, inevitavelmente, à sua absolvição. Aduz Munhoz Netto (1978, p. 82) afirma que com a evolução do conceito de culpabilidade e a ascendência doutrinária exercida pelo finalismo, as teorias do dolo perdem relevância. Os penalistas passam a estudar a culpabilidade com maior afinco, gerando as Schuldtheorien (teorias da culpabilidade), que agrupamos em duas correntes majoritárias: a extremada (Strenge Schuldtheorie) e a limitada (Eingeschränkte Schuldtheorie). Com o deslocamento do dolo e da culpa para a tipicidade e a manutenção da potencial consciência da ilicitude na categoria da culpabilidade, é possível estabelecer uma diferença entre o erro incidente sobre as elementares do tipo (erro de tipo) e a capacidade de inferir a antijuridicidade da conduta (erro de proibição). Neste ponto, são uníssonas as construções; a divergência nasce do erro sobre as causas de justificação. Para a teoria extremada da culpabilidade (Welzel, Maurach, Kaufmann, Hirsch), ainda que incida sobre situação material que autorize seu emprego, constituirá sempre erro de proibição; já a teoria limitada da culpabilidade 143 (dentre outros, Roxin) faz distinção entre o erro que recai sobre seus pressupostos fáticos (erro de tipo permissivo) e sobre sua existência ou seus limites (erro de proibição indireto). De forma muito didática, Cristiano Rodrigues (2010, p. 161) ensina que a teoria limitada da culpabilidade recebe tal nome justamente por restringir o âmbito de incidência do erro de proibição, assim chamando-se a extremada por estender seus limites a todos os casos passíveis de constatação da presença de descriminantes putativas. A concepção que parece resolver o dilema é a teoria complexa da culpabilidade (Wessels, Jescheck, ainda Maurach, Schmidhäuser, Bettiol), orientada às consequências do delito. O dolo passa a exercer duas funções: a de elemento subjetivo do tipo e de integrante da culpabilidade (em grau superior à culpa). Assim, o dolo e a culpa, dentro da tipicidade, expressam a posição do agente perante o fato; na culpabilidade, demonstram a atitude interior, a contrariedade do agente diante do ordenamento jurídico, razão pela qual sobre si incide a reprovação penal (GOMES, 1999, p. 173). Dentre todas as proposições, o legislador adotou a teoria limitada da culpabilidade, tratando o erro que recai sobre os pressupostos fáticos de uma eximente de antijuridicidade como erro de tipo permissivo excludente do dolo, chamando-a de descriminantes putativas. E é sobre isso que agora discorreremos. 6. O erro sui generis Guilherme de Souza Nucci (2009, p. 218) elenca três hipóteses de erro sobre as descriminantes putativas: a) quanto aos pressupostos fáticos de uma causa de exclusão da ilicitude; b) quanto à existência de uma causa de exclusão da ilicitude; c) quanto aos limites da excludente de antijuridicidade. Para explanar a primeira, socorremo-nos da seguinte situação. Um indivíduo dirige-se à própria residência madrugada adentro, e, ao passar por viela com parca iluminação, identifica uma pessoa que caminha em sua direção. Esta, ao aproximar-se, estende o braço; ao ver algo reluzindo, que julga ser uma faca, o interpelado toma de materiais lançados à via pública e fere o outro gravemente, julgando tratar-se de assalto, emboscada ou afim. O que não se sabia (e talvez jamais venha a sabê-lo) é que o outro ser queria, somente, obter-lhe as horas, já que seu relógio, que havia refletido breve lampejo de alguma casa circunstante, havia quebrado. O pressuposto fático putativo, a (in)existência de objeto cortante, levou o sujeito a considerar-se submetido à injusta agressão iminente, que, se presente, autorizaria a ação repelente. 144 As duas hipóteses finais parecem mesmo confundir-se. Errar quanto à existência de uma causa justificativa é pressupor válida causa de justificação que não o é: exemplo clássico é a legítima defesa da honra, não mais contemplada pelos ordenamentos jurídicos contemporâneos ocidentais. Entretanto, a questão dos limites é mais controversa, mesmo porque há previsão legal para o excesso punível. Partamos da hipótese de erro quanto aos pressupostos fáticos de uma causa de exclusão da ilicitude, com um claro e singelo exemplo: um homem é esbofeteado no rosto, e seu agressor vira-lhe as costas e começa a partir. Supondo-se acobertado por excludente, o ofendido leva a mão à cintura, saca um revólver e dispara contra o indivíduo. Podemos extrair diversas considerações. Primeira: se o agredido sabe que a ofensa cessou, mas ainda assim deseja repeli-la, acreditando amparado pela lei, seguramente houve erro quanto à existência de estado justificante, visto que o momento para fazê-lo já não era propício ou adequado para a admissão da legítima defesa. Segunda: se o homem esbofeteado julgou que ainda poderia exercer legítima defesa à agressão sofrida, o meio escolhido foi desproporcional, o que nos força a reconhecer que houve também equívoco quanto aos limites da excludente. Terceira e última: nos termos do art. 23, parágrafo único do Código Penal, o excesso é punível. Ao erroneamente supor que pode ir à desforra com uma arma de fogo devido a um mero tapa, deve-se atender à correspondência entre a agressão e a ação que lhe intentou obstar, por óbvios escrúpulos de razoabilidade. O erro de proibição, se é que existiu, será plenamente vencível (SANTOS, 2010, p. 318). Bitencourt (2010, p. 136-137) demonstra erro sobre pressuposto fático do estado de necessidade: presente a situação de perigo e sua inevitabilidade, e ante imperatividade da preservação do bem de maior valor, qualquer equívoco que incida sobre tais pressupostos, como o exato valor dos bens em conflito ou a possibilidade não reconhecida pelo agente de evitar risco implicará erro de tipo – permissivo. O autor conhece o tipo penal, mas se descuida na “avaliação da situação concreta”. De qualquer modo, na integralidade dos casos apreciados, não se pode negar o dolo de matar de que o agredido estava imbuído, bem como a errônea suposição nele existente de que se encontraria justificado por um motivo ou outro. É um estado psíquico bastante evidente, que visa a fazer cessar a ofensa, assemelhando-se, pois, ao dolo natural. Aliás, encontramos descrição bastante pertinente para tal modalidade: o delito doloso pode ser fruto do desequilíbrio emocional, solução encontrada pelo psiquismo para encerrar a evolução de um conflito altamente estressante ao sujeito. “Explode a pólvora ou explode a mente” (FIORELLI e MANGINI, 2009, p. 333). 145 Trata-se de uma ação em curto-circuito, mas não inevitável: embora haja uma reação afetiva intensa do ofendido, pode-se dizer que há um espaço livre entre o antecedente (a situação perigosa, na mente do agente) e o consequente (a resposta do ofendido). A actio é, sim, libera in causa; existe um querer prévio (NUCCI, 2010, p. 149-150). No primeiro caso, entretanto, o alegado dolo encontra-se deveras viciado por circunstância material desconhecida do exculpado. Trata-se, de acordo com a teoria limitada da culpabilidade, adotada por nosso Código Penal, de erro de tipo permissivo. O agente errou quanto à realidade fática, ou seja, quanto à existência de elementar do tipo permissivo. Uma vez que inexistente a circunstância que autorizaria seu emprego, presente, contudo, na representação que o usuário extraiu da situação material, chamamo-la putativa, expressão que equiparamos à imaginária. Resta excluído o dolo, portanto, subsistindo punição por crime culposo, se o erro for tido como vencível. Nota-se de plano que são hipóteses subjetivas bastante diferentes. Em regra, a conduta putativa se reveste de subjetividade inclinada somente a repelir a agressão; no erro de proibição indireto, contudo, adiciona-se uma carga psicológica de justa paga, talvez até de vingança, uma vez que constitui ação retributiva sobre o agressor. Cada qual parece corresponder a um dos elementos de popular expressão americana: a primeira manifesta mero desejo de afastar a ofensa (flight, agir de modo a evadi-la), e a segunda almeja compensá-la (fight, devolver a agressão). Estas são apenas considerações genéricas, que auxiliam na definição das espécies, sem caráter definitivo, apenas didático. Nas duas hipóteses restantes, contudo, estamos diante de alguém que também quis matar, mas mantinha total consciência das elementares da figura típica no caso material, enganando-se sobremaneira apenas quanto à existência ou o alcance da permissividade da ação repelente empreendida. É o erro de proibição indireto ou de permissão, que isenta de pena, caso inevitável, mas que conduz somente a redução do quantum no apenamento se inescusável. As conclusões tais quais aqui as apresentamos são bastante lógicas, mas não são pacíficas. Bitencourt (2010, p. 73) lembra os posicionamentos de Wilhelm Gallas e Alexander Graf Zu Dohna ao afirmar que, ainda diante de erro sobre a circunstância fática (erro de tipo permissivo), o animus necandi está presente, razão pela qual seu tratamento jurídico deve ser o mesmo dispensado ao erro de proibição simples. Respeitamos tal posição, mas devemos reconhecer que, embora existente o dolo de matar, este estava viciado na primeira situação descrita, motivo pelo qual o tratamento mais igualitário é o atualmente dispensado pelo Código Penal, no sentido de excluí-lo, permanecendo, todavia, a punibilidade culposa. Não seria admissível confundir-se supor situação de fato com supor estar autorizado em um mesmo artigo, que só trata 146 da primeira locução. A adoção da teoria limitada da culpabilidade pelo redator pátrio impede a aplicação de concepções diversas; jamais sua ponderação, por certo. Como referimos alhures, a distinção entre as ideias é que, para a teoria extremada, todo erro que envolva descriminantes será de proibição, enquanto que, para a teoria limitada, deve-se atentar para seu objeto: caso incida sobre pressupostos fáticos, não representará erro sobre a ilicitude, mas sobre a circunstância material – erro de tipo, portanto. A teoria extremada, ferrenhamente defendida por Munhoz Netto e Luiz Régis Prado, não se mostra recomendável: ao equiparar o engano fático àquele incidente sobre a existência ou os limites da excludente de ilicitude, ignora-se completamente a presença do elemento subjetivo da culpa. Assis Toledo (1994, p. 285) questiona: Por que o agente, em certas hipóteses de legítima defesa putativa, não evita, como podia e devia, a prática do crime? De duas, uma: a) por negligência, imprudência ou imperícia; e b) por dolo. Na primeira hipótese o crime só pode ser culposo, jamais com dolo atenuado, por não ser pensável um fato único “culposo-doloso”, verdadeiro monstro mitológico. Na segunda hipótese, o crime é um todo doloso. Bitencourt (2010, p. 124) expõe que, sob os postulados da teoria extremada, diversas condutas acabam por não ter consequência jurídica. Exemplifica com situação de emprego da excludente do estado de necessidade em erro vencível, em que um bem patrimonial é sacrificado pela manutenção de outro, restando sem qualquer apenamento, visto que não há previsão culposa para o crime de dano. A teoria dos elementos negativos do tipo, embora aborde o problema sob ótica distinta, também não merece prosperar: ao abarcar o conteúdo do tipo legal como elemento positivo e as causas excludentes da ilicitude como negativos, integrando-os em um só componente do delito, só admite a existência do erro de tipo, o que também não se mostra razoável. Ao agasalhar a teoria limitada da culpabilidade, o legislador não ignora que, no exercício de uma excludente de ilicitude, motivado pela errônea interpretação de pressuposto fático, haja dolo; mas o vício existente em sua formação impede a punição dele característica. Quando o erro de tipo permissivo ocorre, o querer agir conforme o Direito compensa o desvalor da ação cometida, pois, “[n]a verdade, o agente quer praticar uma conduta lícita, juridicamente permitida, mas, em função de uma representação incorreta, produz um resultado indesejado por falta de atenção e cuidado, o que corresponde à reprovação por imprudência” (MOTTA, 2009, p. 84). É uma ficção jurídica, como tantas outras que perpassam o Direito Penal: consiste na criação de uma culpa em meio ao dolo, por isso mesmo culpa imprópria. 147 Para Jescheck (1981, p. 639), concorrendo os erros de tipo permissivo e de proibição indireto, como no caso do professor que se supõe autorizado a exercer o direito de correção após engano acerca de seus pressupostos fáticos (uma ofensa não proferida por seu pupilo, por exemplo), exercendo-o, ainda, além dos limites permitidos (castigando-o com ofensa à sua integridade corporal), deverá prevalecer a modalidade dolosa, com erro de permissão (lembrando que, embora a proximidade com a expressão “erro de tipo permissivo”, trata-se de sinonímia de “erro de tipo indireto”), uma vez que o autor não teria obtido um resultado justificado mesmo que concorresse a situação material necessária. A opção não se isenta de problemas: para Munhoz Netto (1978, p. 86), a teoria limitada restabelece a distinção entre erro de fato e erro de direito, além de, inadvertidamente, confirmar a teoria dos elementos negativos do tipo. Tal posicionamento é sobejamente criticável. Em primeiro lugar porque, se a teoria limitada supostamente reconduz à velha cisão, do que discordamos, uma vez que a nitidez da distinção entre pressupostos fáticos e permissão jurídica não restringe o alcance das novas formas de erro, a teoria extremada parece ignorar os fundamentos dessas categorias, ao pretender punir por dolo uma conduta em que só há desatenção à exigência jurídica. Além disso, simplesmente porque ambas as concepções chegaram às mesmas consequências não significa que tenham trilhado o mesmo caminho, muito menos que partam das mesmas premissas. Bitencourt (2010, p. 125), com acuidade, enumera três pontos. Primeiro: à pessoa atingida pela causa de justificação putativa invencível devido a erro sobre os pressupostos fáticos não cabe qualquer medida, devendo sustentar a excludente e todos os seus efeitos, por quedar afastado o injusto típico. Segundo: o partícipe da ação que envolve erro de tipo permissivo, ainda que tenha consciência do equívoco, não poderá ser punido, pelo mesmo motivo do ponto anterior (a conduta não é típica, porque, sendo invencível, não há crime por ausência de tipicidade subjetiva dolosa). Terceiro: a inadmissibilidade da tentativa, possível apenas em crimes dolosos (tentar agir com imprudência, por exemplo, é, de fato, uma monstruosidade inconcebível). A teoria complexa da culpabilidade afirma que, no erro de tipo permissivo, o dolo da tipicidade permanece íntegro, afastando-se, contudo, a culpabilidade dolosa, razão pela qual seu agente é punido apenas por culpa. Frente a essa concepção, fica justificada a exclusão da punição dolosa ao erro de tipo permissivo, constituindo realmente um erro sui generis, como o define tão expressiva parcela de autores. Há dupla valoração do dolo: como elemento subjetivo do tipo (relacionado com a intencionalidade da ação ou a quebra no dever de cuidado) e como 148 integrante da culpabilidade (postura interna frente ao ordenamento). No erro sobre os pressupostos fáticos de uma causa de justificação, está presente somente na categoria da tipicidade, punindo-se a conduta, contudo, com culpabilidade apenas culposa. Esta explicação também resolve o problema da ausência de reprimenda ao partícipe do erro sobre a excludente de ilicitude: o dolo da instigação à ação principal resta intacto, já que somente a culpabilidade dolosa do induzido é excluída, permanecendo o injusto típico, razão pela qual pode ser punido na modalidade dolosa. Como lembra André de Abreu Costa (2012), dupla valoração não equivale à dupla colocação, pois o dolo não está em dois lugares diversos, apenas exerce duas funções. A teoria complexa é assim denominada porque insere na culpabilidade este segundo momento de análise da atitude de ânimo do agente diante do bem jurídico lesado. Embora a tese tenha encontrado grande acolhida, por explicar com precisão a questão do erro de tipo permissivo, a teoria complexa da culpabilidade ainda é encarada com ressalvas. Alega-se que possa inadvertidamente conduzir a um retrocesso doutrinário, retornando à teoria psicológico-normativa de resposta estatal punitiva à personalidade do autor e à noção de culpabilidade pela condução de vida, reduzindo a esfera de aplicação do desvalor da ação. Descreditamos tal crítica dizendo que a teoria complexa, na questão do erro, jamais virá a prejudicar o réu. Além disso, a reprovação atribuída à tese é infundada no tocante a um suposto Direito Penal do Autor. Neste, condena-se o agente não pelo furto perpetrado, mas por “ser ladrão”; não é a conduta que importa, mas as qualidades ínsitas a seu autor, cuja personalidade é incompatível com o estágio social em que vive, e é sancionado penalmente simplesmente por isso (OLIVEIRA, 2010)52. Em nenhum momento a teoria complexa aponta para essa direção. Pelo contrário: ao afastar a culpabilidade dolosa, resta somente a forma menos gravosa. Se houver um erro judiciário, será cometido em favor do réu, aplicando-lhe a modalidade culposa, se é que existente. E mais: a segurança jurídica é fortalecida pelo preenchimento das lacunas da teoria limitada, com a possibilidade de punir o instigador pelo equívoco a que deu causa, por exemplo. Gimbernat Ordeig (1999, p. 106) lembra que a “tarefa do penalista consiste em ir superando as aparentes contradições que surgem das soluções dos distintos problemas e em harmonizar essas soluções em um sistema”. Sua construção é necessária para a da teoria do erro. As falhas da culpabilidade limitada foram demonstradas 52 Disponível em http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao035/anderson _oliveira.html. 149 e solucionadas pela dupla valoração do dolo. Seguramente esta também apresentará seus pontos controvertidos, e, a partir de novas teses e antíteses, construir-se-á outra síntese. Entretanto, dentre as atuais tendências do Direito Penal, a teoria complexa da culpabilidade oferece melhor substrato para a compreensão do erro, acenando com um futuro normativo que contemple integralmente suas possibilidades de exteriorização. A opção legislativa, contudo, deve ser respeitada pela jurisdição penal, o que não impede a produção doutrinária em sentido contrário no sentido de reformá-la. 7 Conclusão Sintetizando o estudo aqui desenvolvido, alcançamos as seguintes conclusões: 1) O erro de tipo e o erro de proibição são as categorias jurídico-penais que abarcam as hipóteses de equívocos do agente acerca de circunstâncias fáticas, relevantes ou não para a figura típica, ou sobre a consciência da ilicitude e sua (im)possibilidade de inferi-la. 2) O erro de tipo essencial inevitável exclui o dolo; se evitável, perdura a punição na modalidade culposa, se houver. O erro de tipo acidental não afeta o elemento subjetivo da tipicidade, ressaltando-se a aberratio criminis, em que haverá concurso formal de crimes, por força da obtenção de um resultado querido e de outro cujo risco de se produzir foi assumido. Também é polêmica a questão da aplicação da teoria da equivalência em detrimento da teoria da concretização, sendo que ambas apresentam fragilidades. 3) O erro de proibição inescusável torna forçosa a redução da pena de 1/3 (um terço) a 1/6 (um sexto); caso seja escusável, isentará o agente de pena. 4) O erro incidente sobre elementos normativos do tipo e da ilicitude poderá ser tanto de tipo quanto de proibição, devendo-se preliminarmente observar a ocorrência do primeiro, para, somente então, inexistente aquele, investigar-se o segundo. 5) A categorização do erro incidente sobre as causas de justificação não encontra consenso entre os autores. Conforme a teoria extremada da culpabilidade, os casos concretos que os envolvam devem ser sempre tratados como erros de proibição; para a teoria limitada, deve-se analisar se o equívoco recaiu sobre os pressupostos fáticos da excludente (erro de tipo permissivo) ou sobre sua existência ou limites (erro de proibição indireto ou erro de permissão). 6) A adoção da teoria limitada da culpabilidade pelo ordenamento pátrio traz três problemas insolúveis ao erro escusável sobre os pressupostos fáticos de uma causa de justificação: a falta de legitimação da vítima para repelir a agressão, a ausência de enquadramento típico ao terceiro que provocou o erro e a inadmissibilidade do crime culposo tentado. 150 7) A natureza do erro sobre os pressupostos fáticos de uma causa de justificação é inteiramente explicada pela teoria complexa da culpabilidade, que valora duplamente o dolo, como elemento integrante da tipicidade subjetiva e componente do juízo de reprovabilidade efetuado sobre o sujeito, solucionando o problema da impossibilidade de punição do instigador do equívoco em casos aplicáveis à espécie, bem como a necessidade de o ofendido sustentar inerte a lesão. 8. Referências bibliográficas ASSIS TOLEDO, Francisco de. Princípios Básicos de Direito Penal. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1994. BATISTA, Nilo. Introdução Crítica ao Direito Penal Brasileiro. 11. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2007. BITENCOURT, Cezar Roberto. Erro de Tipo e Erro de Proibição. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. ______. Tratado de Direito Penal: Parte Geral. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. BITENCOURT, Cezar Roberto; MUÑOZ CONDE, Francisco. Teoria Geral do Delito. São Paulo: Saraiva, 2000. CALLEGARI, André Luís. Teoria Geral do Delito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. COSTA, André de Abreu. Sobre a dupla valoração do dolo no conceito estratificado de crime, a partir da nova concepção complexa de culpabilidade, e seu reflexo na compreensão do erro sobre pressuposto de fato de causa de justificação. Jus Navigandi, Teresina, ano 16, n. 2830, 1 abr. 2011. Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/18809>. Acesso em: 20 mai. 2012. DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado. 6. ed. São Paulo: Renovar, 2002. ESTEFAM, André. Direito Penal: Parte Geral. São Paulo: Saraiva, 2010. 151 FIGUEIREDO DIAS, Jorge de. O problema da consciência da ilicitude em Direito Penal. 2. ed. Coimbra: Coimbra Ed., 1978. FIORELLI, José Osmir, e MANGINI, Rosana Cathya Ragazzoni. Psicologia Jurídica. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2009. GALVÃO, Fernando. Direito Penal. Parte Geral. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. GIMBERNAT ORDEIG, Enrique. Concepto y método de la ciencia del derecho penal. Madrid: Tecnos, 1999. GOMES, Luiz Flávio. Erro de Tipo e Erro de Proibição. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. JESCHECK, Hans-Heinrich. Tratado de Derecho Penal: Parte General. Vol. I. Tradução de Francisco Muñoz Conde e Santiago Mir Puig. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A., 1981. MEZGER, Edmund. Derecho Penal: Parte General. 6. ed. Buenos Aires: Bibliografica Argentina, 1958. MOTTA, Ivan Martins. Erro de Proibição e Bem Jurídico-Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. MUNHOZ NETTO, Alcides. A ignorância da antijuridicidade em matéria penal. Rio de Janeiro: Forense, 1978. NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. ______. Manual de Direito Penal. 6 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. OLIVEIRA, Anderson Lodetti Cunha de. Habitualidade e Bagatela: equívocos na interpretação dos institutos da culpablidade de autor e de fato. Revista de Doutrina 152 da 4ª Região, Porto Alegre, n. 35, abril. 2010. Disponível em: <http://www. revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao035/anderson_oliveira.html>. Acesso em: 27 set. 2012. PERELMAN, Chaïm. Lógica Jurídica. Tradução de Vergínia K. Pupi. São Paulo: Martins Fontes, 2000. QUEIROZ, Paulo. Direito Penal: Parte Geral. 7 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. RODRIGUES, Cristiano. Teorias da culpabilidade e teoria do erro. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. ROXIN, Claus. Derecho Penal: Parte General. Madrid: Civitas, 1997. SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal: Parte Geral. 4. ed. Florianópolis: Conceito Editorial, 2010. WELZEL, Hans. Derecho Penal: Parte General. Tradução de Carlos Fontán Balestra. Buenos Aires: Roque Depalma Editor, 1956. ZAFFARONI, Eugenio Raúl e PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro: Parte Geral. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 153 DA FIXAÇÃO DA GUARDA COMPARTILHADA COMO INSTRUMENTO CAPAZ DE EVITAR A ALIENAÇÃO PARENTAL: UMA ANÁLISE À LUZ DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS Marília Possenatto Nardi53 Denise Bittencourt Friedrich54 RESUMO O presente trabalho, sob o método hermenêutico, trata da possibilidade da fixação da guarda compartilhada como meio de evitar Síndrome da Alienação Parental. Para tanto, fez-se uma análise dos princípios que demarcaram a proteção das crianças e dos adolescentes. Por fim, abordou-se a positivação da Síndrome da Alienação Parental, sob a Lei nº 12.318/2010, como também as consequências do aparecimento desse fenômeno e a possibilidade da fixação do instituto da guarda compartilhada para evitar a alienação parental, demonstrando o presente instituto ser capaz para inibir a prática dos atos mencionados, mesmo que ocorram litígios conjugais. Palavras-chave: Guarda compartilhada; dissolução conjugal; síndrome da alienação parental. 53 Acadêmica formanda em Direito. E-mail: [email protected]. É Professora de Direito Civil e Administrativo no Departamento de Direito da Universidade de Santa Cruz do Sul; Especialista em Direito Constitucional (ULBRA); Mestre em Direito (UNISC) e Doutoranda do PPGD desta universidade. 54 154 1. Introdução O presente estudo pretende instaurar uma abordagem dos princípios constitucionais aplicáveis ao Direito de Família, bem como sobre a positivação da Síndrome da Alienação Parental e suas principais consequências, e a possibilidade da fixação da guarda compartilhada para evitar o fenômeno da alienação parental. Assim, o contemporâneo conceito de família sofreu muitas transformações com o decorrer da evolução legal e social da humanidade, tendo como marco significativo a consolidação da Constituição Federal de 1988, que modificou o Código Civil de 1916, e mais tarde recepcionada pelo atual Código Civil de 2002, reportando significativas alterações no ramo do Direito de Família. Com o advento da atual Carta Magna, a ordem de valores antes predominante também acatou as modificações ocorridas, sendo, imprescindível a análise do Direito de Família sob o prisma constitucional. A demarcação desses novos valores está presente no Estado Democrático de Direito, que tem como fundamental o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, defendendo seus direitos fundamentais como pessoa, elevando seus interesses como primordiais para o exercício estatal. Nesse contexto, sob a égide do Código Civil de 1916, o pátrio poder era centralizado na figura do pai, assim como havia a submissão da mulher para com o homem. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o Código Civil de 2002 tratou de incorporar a seus dispositivos a nova ordem de valores, surgindo com a família o elemento do afeto, consolidando a entidade familiar como objeto de formação para seus integrantes. Em decorrência da nova ordem de valores, o Direito de Família é um dos ramos do direito civil que sentiu seus reflexos, uma vez que o princípio da dignidade da pessoa humana ganha espaço no âmbito constitucional, elevando sua proteção e garantia, sendo assim, um direito fundamental dos cidadãos. Desde logo deve se observar que há princípios constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis ao Direito de Família, sendo que os últimos são suscetíveis de maior fragilidade e aplicação, com prevalência dos primeiros pela natural aplicação e exigibilidade. No Direito de Família, após a incidência dos princípios constitucionais, é importante ressaltar a efetividade dos mesmos nos casos concretos do atual sistema jurídico, uma vez que para o fortalecimento desse ramo do Direito Civil é indispensável 155 à proteção da pessoa humana e sua dignidade, bem como buscar a concretização do princípio da solidariedade. Diante deste panorama, especialmente com base nos princípios que norteiam o direito de família, se questiona se o instituto da guarda compartilhada é um instrumento hábil a evitar a alienação parental? Na busca de uma resposta para o problema que se apresenta, utilizar-se-á o método hermenêutico e o trabalho será estruturado em duas partes. Na primeira, analisar-se-á quais são os principais princípios que embasam a ordem jurídica constitucional e civil, especialmente no Direito de Família, para depois, na segunda parte, a luz de tais princípios, justificar a tese de que a guarda compartilhada é a que melhor concretiza o principio da melhor proteção da criança e a dignidade da pessoa humana, valores tão nobres na Constituição Federal de 1988. 2. Dos princípios constitucionais aplicáveis no direito de família Desde logo deve se observar que há princípios constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis ao Direito de Família, sendo que os últimos são suscetíveis de maior fragilidade e aplicação, com prevalência dos primeiros pela natural aplicação e exigibilidade. Com efeito, para Ávila (2003), os princípios são definidos como deveres de otimização aplicáveis em vários graus segundo as possibilidades normativas e fáticas. Ao passo que as regras jurídicas, para Alexy (2005), citado por Ávila (2003, p. 216217), “são normas cujas premissas são, ou não, diretamente preenchidas, e no caso de colisão será a contradição solucionada seja pela introdução de uma exceção à regra, seja pela decretação de invalidade de uma das regras envolvidas”. Com base nos dispositivos legais pertinentes a Carta Magna de 1988, e considerando a República Federativa do Brasil como um Estado Democrático de Direito, é importante ressaltar que sempre se deve buscar e atentar pela máxima de otimização, ou seja, priorizando o atendimento e a garantia dos direitos fundamentais presentes na atual Constituição (GORCZEVSKI; BITENCOURT, 2011). O Direito de Família é um ramo do Direito Civil muito sensível aos reflexos dos princípios constitucionais, uma vez que estes têm preferência e por isso devem ser aplicados em primeiro lugar no processo de interpretação, ao passo que a Constituição Federal consagrou valores sociais dominantes como fundamentais. 156 Cada autor enumera os princípios aplicáveis ao Direito de Família diferenciadamente, não havendo consenso senão em alguns enunciados. O certo é, conforme Dias (2010), que existem princípios gerais que se aplicam a todos os ramos do direito55 e há princípios especiais que são próprios das relações familiares e devem servir como fundamento na hora de se apreciar qualquer relação de família56. Nesse contexto, Lôbo (2010) define como princípios fundamentais aplicáveis ao Direito de Família o princípio da dignidade da pessoa humana e da solidariedade; ao passo que define como princípios gerais o princípio da igualdade, da liberdade, da afetividade, da convivência familiar e do melhor interesse da criança. Logo, pode-se entender, como demonstra Gama (2008) que os princípios fundamentais de direito de família estão proclamados e são concluídos de acordo com normas constitucionais. Entretanto, Dias (2010) destaca com primazia os seguintes princípios: princípio da dignidade da pessoa humana, princípio da liberdade, princípio da igualdade e respeito à diferença, princípio da solidariedade familiar, princípio do pluralismo das entidades familiares, princípio da proteção integral a crianças, adolescentes e idosos, princípio da proibição do retrocesso social, princípio da afetividade. Dentre os princípios constitucionais enumerados pelos diversos doutrinadores do Direito Constitucional e de Família, o princípio da dignidade da pessoa humana tem grande relevância social, assim definido por Dias (2006, p. 52) “é o princípio maior, fundante do Estado Democrático de Direito, sendo afirmado já no primeiro artigo da Constituição Federal”. Assim, a Constituição Federal quando trata dos valores norteadores da República Federativa do Brasil, traz a dignidade da pessoa humana elencada em seus dispositivos, prevalecendo, como mencionado anteriormente, a supremacia da dignidade humana. Destaca Silva (1999, p. 101-102) que: A dignidade humana atua na órbita constitucional na condição de princípio fundamental do Estado Democrático de Direito, e como princípio constitucional consagra os valores mais importantes da ordem jurídica, gozando de plena eficácia. Assim o princípio da dignidade, da igualdade, da liberdade, bem como os princípios da proibição de retrocesso social e da proteção integral a crianças e adolescentes. 55 56 Entre os princípios especiais, destaca-se o princípio da solidariedade e da afetividade. 157 Em se tratando de um dos ramos do Direito Civil, em especial o Direito de Família, é necessário destacar a contribuição que o princípio da dignidade da pessoa humana tem para o âmbito familiar, logo, para Santos e Cascaldi (2011, p. 427) o referido princípio “constitui uma das bases do Estado Democrático de Direito, possuindo reflexos no direito de família no qual se garante a liberdade de escolha, afetividade e o desenvolvimento de seus membros”. No Direito de Família, após a incidência dos princípios constitucionais, é importante ressaltar a efetividade dos mesmos nos casos concretos do atual sistema jurídico, uma vez que para o fortalecimento desse ramo do Direito Civil é indispensável à proteção da pessoa humana e sua dignidade, bem como buscar a concretização do princípio da solidariedade. 3. Da positivação da alienação parental Em busca pelo equilíbrio e participação dos pais na vida de seus filhos com a dissolução do vínculo conjugal, em que a família passa de um cenário de unidade de produção para o ambiente em que se deve pregar a realização familiar, é aprovada a Lei nº. 12.318/2010, que define a alienação parental e seus reflexos jurídicos. Assim, o art. 2º da Lei nº. 12.318/2010 dispõe sobre a alienação parental e altera o art. 236 da Lei nº 8.069/1990: Art. 2º Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. Por ser uma realidade visualizada pela justiça, cada vez mais presente com o crescimento do número de separações, é que a lei pode contribuir para os operadores do direito no que tange ao aparecimento de situações que caracterizam a alienação parental, concedendo maior grau de segurança quando os mesmos se depararem com o acontecimento deste fenômeno. Trazendo enfoque para a proteção da criança e do adolescente, priorizando o princípio do melhor interesse, a existência da definição legal dessa síndrome, permite ao juiz e aos demais auxiliares de direito identificá-la com maior segurança e agilidade, cabendo soluções jurídicas específicas ao caso, adotando as medidas emergenciais pertinentes. 158 A SAP foi definida e conceituada a partir das suas ocorrências, pelo psicanalista e psiquiatra infantil Richard Gardner, pioneiro na constatação da síndrome, que em 1985, em Nova York, EUA, iniciou suas pesquisas acerca deste fenômeno. Nesse segmento, Gardner (2001) assim a define: A Síndrome de Alienação Parental (SAP) é um distúrbio que surge principalmente no contexto das disputas pela custódia dos filhos. A sua primeira manifestação é a campanha do filho de difamação contra a mãe57, uma campanha que não tem justificação. A desordem resulta da combinação da doutrinação pelo progenitor alienante e contribuições da própria criança para a difamação do genitor alienado. (Disponível em http://www.fact.on.ca/Info/pas/gard01b.htm) Após o término da sociedade conjugal é que começam a aparecer os sintomas desse fenômeno, que podem ser reconhecidos pelo judiciário (juízes, advogados, assistentes sociais, psicólogos) e que começam a aparecer quando se trata da guarda da prole, pois a desunião gera uma disputa de custódia dos menores. O conjunto de atitudes da criança alienada contra o pai ou a mãe pode resultar em modificações nos seus próprios sentimentos, bem como do alienador como do alienado. O art. 2º da Lei nº. 12.318/2010 elenca esse conjunto de atos que são considerados como exemplos que identificam a alienação parental. Deste modo, através da ocorrência da síndrome é que será possível, ao magistrado, agregar medidas conexas, conforme pondera Dias (2010, p. 456), de tal modo que: [...] essa notícia levado ao Poder Judiciário, gera situações das mais delicadas. De um lado, há o dever do magistrado de tomar imediatamente uma atitude e, de outro, o receio de que, se a denúncia não for verdadeira, traumática a situação em que a criança estará envolvida, pois ficará privada do convívio com o genitor que eventualmente não lhe causou qualquer mal e com quem mantém excelente convívio. Assim, em consonância com o ordenamento jurídico, o legislador observou e não limitou a um dos genitores a autoria de atos de alienação parental, como enfatiza Dias (2010, p. 65) “que a opção pela nomenclatura genitor expõe claramente que os 57 Ao iniciar suas pesquisas, Richard Gardner acreditava ser a mãe a única alienante no processo de separação judicial. No entanto, com o decorrer de seu estudo, verificou que o protagonista dessa síndrome pode ser qualquer pessoa que tenha interesse em prejudicar o genitor/guardião da criança, ou o seu responsável. 159 atos de alienação parental podem ter por alvo indistintamente pai ou mãe” (em grifo no original). A propósito, a lei que regulamenta a alienação parental aprecia que a síndrome incide em um transtorno psicológico, que fere princípios estabelecidos na Carta Magna de 1988, como a afetividade, a convivência familiar saudável, interferindo negativamente no convívio familiar benéfico, e caracterizando abuso moral. Ademais, o art. 3º58 da referida lei nos remete ao preceito constitucional da dignidade da pessoa humana, que também está fundamentado no Estado Democrático de Direito, protegendo a entidade familiar com base em qualquer forma de dissolução de vínculo conjugal. Insiste Gardner (2009), citado por Lagrasta Neto (2011, p. 49): [...] em que haja a definição da sintomatologia, mediante a afirmação de elementos de diagnóstico, que entendam como síndrome a alienação parental, para que seja esta incluída no manual DSM59, buscando melhorar o atendimento estatal ou dos planos de saúde, bem como formas de tratamento e internação. Já Podevyn (2009), citado por Lagrasta Neto (2011), define os atos da alienação parental de uma maneira objetiva, enfatizando que é a programação de uma criança para que odeie um de seus genitores, ou que estejam sob sua guarda, vigilância e autoridade. Nesse aspecto, quando há a disputa judicial pela guarda da prole, os pais se deparam com uma situação corriqueira no mundo dos fatos e principalmente no cenário do judiciário. A guarda muitas vezes é motivo de contenda apenas pela vontade de um dos cônjuges afastar seu filho do ex-cônjuge, podendo ter como causa a vingança de um contra o outro. O aparecimento da SAP pode ser constatado a partir do momento em que o vínculo da sociedade conjugal é rompido, eis que traz insegurança para um dos cônjuges e este aliena a criança contra o outro. Conforme Dias (2010) o processo da alienação, ou seja, de destruição e desmoralização, pode ocorrer quando o luto conjugal não é O art. 3º da Lei nº 12.318 de 26 de agosto de 2010, que dispõe sobre a alienação parental, alterando o art. 236 da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, trata da prática de atos da alienação parental, ferindo os direitos fundamentais das crianças ou dos adolescentes, em relação à convivência familiar saudável, podendo prejudicar o afeto nas relações com genitor e com os demais integrantes da entidade familiar, e ao mesmo tempo, constituindo abuso moral contra os menores e, também, o descumprimento os direitos e deveres atinentes ao poder familiar, juntamente com aqueles que decorrem da guarda ou tutela. 58 59 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - DSM – que lista as categorias de doenças mentais e os respectivos critérios para seu diagnóstico. 160 organizado de forma adequada, uma vez que o alienador considera o outro cônjuge como responsável pela dissolução. Embora ocorra a dissolução conjugal, esta não pode se confundir com o desfazimento da relação parental, pois a filiação decorre da parentalidade e não da união dos genitores. Nesse entendimento, Duarte (2009) ressalta que embora exista a possibilidade da extinção da sociedade conjugal, a relação filial não se desfaz. Ainda que não tenha previsão legislativa, Lagrasta Neto (2011, p. 154) entende ser necessário “a possibilidade de ressarcimento por dano moral, uma vez demonstrado o nexo de causalidade entre a atitude alienante e os prejuízos morais, por abalo psíquico – incluído o da criança ou do adolescente”. A positivação da lei pode ser entendida, nos dizeres de Dias (2010, p. 18-19) como: [...] um caráter pedagógico, pois a prática nunca mereceu a devida atenção. Não mais cabe ficar silente diante das maquiavélicas estratégias que ganharam popularidade e que crescem de forma alarmante. Práticas alienadoras e, principalmente, falsas denúncias de abuso sexual não podem mais merecer o beneplácito da Justiça, que, em nome da proteção integral, de forma muitas vezes precipitada ou sem atentar ao que realmente possa ter acontecido, vinham rompendo o vínculo de convivência que é tão indispensável ao desenvolvimento saudável e integral de crianças em desenvolvimento. Ainda assim, há previsão legislativa60 para que, se identificada a prática da alienação, a mesma deverá ser proclamada em ação ordinária autônoma ou incidental. Nos casos de ações de divórcio, deverá ser regularizado o direito de visitas, ou ainda, se for o caso, a modificação da guarda. Cabe ao juiz, se julgar necessário, decidir pela determinação de perícia psicológica ou biopsicossocial. 4. Das principais consequências da alienação parental Por se tratar de uma inovação na legislação brasileira, a Lei nº 12.318/2010, que trata da alienação parental, clama pelo equilíbrio entre a entidade familiar, mesmo No art. 5º da Lei nº 12.318/20120, identificada a prática de atos que caracterizem a SAP, o juiz, achando necessário, poderá determinar perícia psicológica ou biopsicossocial, em ação autônoma ou incidental. 60 161 após sua dissolução, eis que mesmo com a extinção da sociedade conjugal o poder parental continua em seu pleno desenvolvimento e nas mesmas condições de eficácia quando do gozo de sua existência. A lei prevê, em seu art. 2º, alguns sintomas que podem ser observados quando da ocorrência da SAP. Colaciona Freitas e Pellizzaro (2010, p. 20-21) que: A conduta do alienador, por vezes, é intencional, mas muitas vezes sequer é por ele percebida (visto que se trata de uma má interpretação e direcionamento equivocado das frustrações decorrentes do rompimento afetivo com o outro genitor – alienado -, entre outras causas associadas). O art. 2º, parágrafo único da Lei que trata sobre as disposições da SAP, identifica formas exemplificadoras de atos que caracterizam a alienação parental, são eles: I - realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade; II - dificultar o exercício da autoridade parental; III - dificultar contato de criança ou adolescente com genitor; IV - dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar; V - omitir deliberadamente a genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações de endereço; VI - apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares deste ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente; VII - mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, visando a dificultar a convivência da criança ou adolescente com o outro genitor, com familiares deste ou com avós. Nessa esteira, tanto a conduta intencional como a não intencional, acarretam na criança e no alienador uma extensa e profunda modificação de emoções, incentivando sentimentos de angústia e de repulsa, através das chantagens emocionais realizadas pelo cônjuge alienante. Com a dissolução conjugal, a entidade familiar fica fragmentada, gerando em muitos casos, consequências irreparáveis aos integrantes do núcleo familiar. Além dos desentendimentos havidos entre o casal, das discussões, das brigas, a família passa pelo processo de ruptura, e os filhos dessa relação sofrem com as consequências, uma vez que é difícil assimilar a separação dos genitores. No entendimento de Dias (2010, p. 24), não havendo um tratamento adequado: 162 [...] ela pode produzir sequelas que são capazes de perdurar para o resto da vida, pois implica comportamentos abusivos contra a criança, instaura vínculos patológicos, promove vivências contraditórias da relação entre pai e mãe e cria imagens distorcidas das figuras paterna e materna, gerando um olhar destruidor e maligno sobre as relações amorosas em geral. A propósito, as sequelas mais dramáticas são vivenciadas pelos filhos, e podem ser percebidas quando do aparecimento de conflitos emocionais, que se manifestam, como indica Dias (2010, p. 25): Sob forma de ansiedade, medo e insegurança, isolamento, tristeza e depressão, comportamento hostil, falta de organização, dificuldades escolares, baixa tolerância à frustração, irritabilidade, enurese, transtorno de identidade ou de imagem, sentimento de desespero, culpa, dupla personalidade, inclinação ao álcool e às drogas, e, em casos mais extremos, ideias ou comportamentos suicidas. Não obstante, para Lagrasta Neto (2011, p. 55) “os sintomas afloram, ainda que tardiamente, prejudicando o interesse da criança e do adolescente, até então resguardados pela convivência com aqueles que os amam [...]”. Além desses sintomas que se manifestam nos conflitos emocionais, a implantação de falsas memórias na criança também é um sintoma dessa síndrome. Nesse cenário, Guazzelli (2010, p. 43) complementa: O que se denomina de Implantação de Falsas Memórias advém, justamente, da conduta doentia do genitor alienador, que começa a fazer com o filho uma verdadeira “lavagem cerebral”, com a finalidade de denegrir a imagem do outro – alienado -, e, pior ainda, usa a narrativa do infante acrescentando maliciosamente fatos não exatamente como estes se sucederam, e ele aos poucos vai se “convencendo” da versão que lhe foi “implantada”. (Grifo no original) Em contrapartida, os reflexos vivenciados pelo alienador, não menos importantes, uma vez que ao praticar atos abusivos contra o alienado, produz efeitos nefastos para si mesmo e podem ser percebidos, no entendimento de Dias (2010), como um processo de aniquilação contra si mesmo, envolvendo sentimentos de solidão e amargura, anseios de abandono e prejuízo pessoal. Com efeito, Lagrasta Neto (2011) entende que esse sentimento provocado pelo alienante pode causar culpa e remorso quando a criança atingir a idade adulta, pois 163 perceberá a injustiça praticada contra o outro genitor ou contra os outros alienados, conseguindo perceber o nexo de causalidade existente entre o ato de alienação provocado e o abalo psíquico causado na infância. Diante dessa situação fática, cabe ressaltar a importância de obedecer aos princípios pétreos, dando ênfase ao princípio do melhor interesse da criança, pois no processo de alienação parental, os interesses do cônjuge alienador é que se sobressaem, causando os malefícios ao desenvolvimento da sua prole. Quando descumpridas as obrigações do poder familiar, caracterizando algum abuso psicológico do genitor (alienador) contra seus filhos, Dias (2010, p. 31) evidencia que: Os operadores de direito não podem deixar de identificar a trauma urdida pelo ódio patológico do alienador, cuja excessiva preocupação com o(a) filho(a) e a necessidade premente de afastá-lo(a) do alienado é apenas a máscara da denegação do outro, um instrumento para manipular a justiça em detrimento do alienado, objeto último de seu próprio ataque e fracasso, mesmo que à custa do desenvolvimento emocional dos filhos, as maiores vítimas. Com efeito, esse fenômeno desencadeia a desestruturação familiar, pois interfere tanto no campo psíquico como emocional de todos os envolvidos – alienados, como pai, avós, tutores. Nesse cenário é que Lagrasta Neto (2011, p. 48) reitera que a sintomatologia desse fenômeno interfere no equilíbrio e formação das crianças, entendendo que: Revela-se moléstia mental ou comportamental do alienador, quando busca exercer controle absoluto sobre a vida e o desenvolvimento da criança e do adolescente, com interferência no equilíbrio emocional de todos os envolvidos, desestruturando o núcleo familiar, com inúmeros reflexos de ordem espiritual e material. A doença do agente alienador volta-se contra qualquer das pessoas que possam contestar sua “autoridade”, mantendo-os num estado de horror e submissão, por meio de crescente animosidade. (Grifo no original) A atual Constituição Federal preserva como direito fundamental a dignidade humana. Sendo assim, Figueiredo e Alexandridis (2011, p. 62) observam que afastando o genitor ou parentes do menor: Fere de forma direta a dignidade da pessoa humana, não só do parente vitimado, mas também, em igual proporção – senão maior -, a dignidade do próprio 164 menor que, dado o seu incompleto desenvolvimento, vê-se manipulado pelas ações de alienação parental. Como bem anota Figueiredo e Alexandridis (2011), a prática de atos que consolidam a alienação parental fere direito fundamental que está relacionado com a convivência do menor em seu âmbito familiar, prejudicando, ainda, a realização de atos de afeto e carinho existente entre a entidade familiar; eis que a origem do afastamento do menor com seus familiares provoca buracos nas relações afetivas, que dificilmente serão restaurados com o passar dos anos. Por outro lado, em relação à pessoa do alienador, Freitas e Pellizzaro (2010, p. 22) afirmam que “a falta de autocrítica e percepção do sofrimento alheio, bem como a conduta sinuosa são elementos próprios da sociopatia presente de forma muito clara na Alienação Parental”. Nesse sentido, o alienador se sente realizado com suas atitudes que configuram essa síndrome, pois atinge seus objetivos ao ver que seus filhos estão agindo contra o outro genitor, e ainda torna o filho alvo de patologias emocionais, contribuindo para o desequilíbrio no seu processo de formação. Por isso, Freitas e Pellizzaro (2010, p. 23) sinalizam: O genitor alienador, com o passar do tempo, pode se apresentar com uma personalidade agressiva, bem diferente do genitor alienado, que geralmente não tem um padrão hostil. Entretanto, o alienado pode vir a perder o controle como consequência da dor causada pela campanha difamatória e pelo afastamento dos filhos, causando frustração compreensível (mas que é utilizada pelo alienador como justificativa de seus atos de alienação, e não como consequência). Acerca da figura do alienador, Trindade (2010, p. 32) faz suas considerações destacando que “[...] o alienador, como todo abusador, é um ladrão da infância, que utiliza a inocência da criança para atacar o outro. A inocência e a infância, uma vez roubadas, não podem mais ser devolvidas”. Isso demonstra a perversidade da alienação. Com as atitudes programadas do genitor alienador, a crianças são conduzidas a sentirem raiva e repulsa do ascendente alienado, tornando a guarda ou o direito a visitas quase impossível de ser realizado, dificultando muito a convivência entre este e seus filhos, e ainda, contribuindo para agravar os sentimentos de ódio contra o alienado. Por estarem as crianças e os adolescentes vivenciando um momento de fragmentação na entidade familiar, é que a síndrome da alienação parental estabelece graves 165 sequelas, através de maltrato e abuso contra os mesmos e que, se não tratadas com a forma adequada, podem perdurar pelo resto da vida. 5. Da possibilidade da guarda compartilhada para evitar a desagregação familiar O advento da Lei n° 11.698/08 contribui com um novo modelo de guarda dos filhos, a guarda compartilhada, trazendo modificações nos art. 1.583 e 1.584 do atual Código Civil. Este modelo de guarda pode ser requerido pelo pai ou pela mãe, mediante consenso, e, ainda, decretada pelo juiz de direito. No entanto, este modelo será aplicado sempre que possível afim de atender ao princípio do melhor interesse das crianças. A guarda compartilhada permite a ambos os genitores, já separados, de manterem o exercício conjunto do poder familiar, possibilitando a mútua convivência, envolvendo melhor os direitos e deveres atrelados aos pais com equiparação aos filhos, em relação ao desenvolvimento, à educação e à saúde dos mesmos. Este modelo de guarda cria um ambiente que, mesmo após a dissolução da sociedade conjugal, nenhum dos genitores é excluído da convivência e do poder decisório em relação a seus filhos. Para Gonçalves (2010), o modelo de guarda anterior, em que a mãe detinha a guarda e ao pai cabia apenas o direito de visitas, não perdura nos dias atuais; e a promulgação da referida lei veio em boa hora, pois permite o asseguramento de ambos os genitores realizarem a responsabilidade de forma conjunta, instituindo de forma igualitária os direitos e deveres que concernem a autoridade parental. O presente instituto preserva o bom relacionamento dos pais com seus filhos, demonstrando o verdadeiro sentido quanto ao seu papel no desenvolvimento da criança ou do adolescente quando destituída a sociedade conjugal. Mesmo com a separação dos genitores, é essencial a manutenção da responsabilidade dos pais em busca da realização de seus filhos, pois é necessário para uma formação sólida. De acordo com Silva (2009), e com base em termos psicológicos, esse instituto de guarda recupera os vínculos parentais, uma vez que a relação afetiva com o não-guardião ficará melhor estruturada e estável, o que torna uma convivência com maior intimidade, proporcionando o acompanhamento durante o desenvolvimento dos filhos, em busca conjunta de seus objetivos. 166 Convém destacar que a convivência dos filhos com seus pais é fundamental para a formação da personalidade saudável. Nesse sentido, complementa Barreiro (2011) que: [...] a efetiva aplicação da guarda compartilhada, pode proporcionar aos filhos do litígio (ou até mesmo do consenso) a oportunidade de comungar da companhia, educação e dedicação de ambos os pais, que exercem papéis diferentes e essenciais na vida dos filhos. (Disponível em http://www.ibdfam.org.br/ artigos&artigo=574) A guarda compartilhada apresenta-se como um instrumento favorável para prevenir a SAP também, no que diz respeito a culpa existente nos filhos em relação a separação dos pais. Para Quintas (2010, p. 88) “os pais podem continuar resolvendo outras questões na justiça, mas os filhos não serão objeto delas”, ao passo que os filhos deixarão de ser o cerne da discussão judicial. Por conseguinte, o objetivo principal da nova lei é minimizar a utilização dos filhos que são postos como objeto de vingança. Em consequência disto é que o instituto da guarda compartilhada pode contribuir, haja vista que em um litígio onde ocorre a disputa pela guarda, poderá ser cabível esse modelo de guarda e, ainda, evitar a ocorrência da SAP. Quando aplicado o instituto da guarda compartilhada, o beneficiamento será maior em relação aos filhos, pois ambos os genitores serão os guardiões; ou seja, não cabendo um regime de visitas que em casos concretos é estipulado por juízes, sendo possível a convivência mais profunda entre os genitores e seus filhos. Assim, a responsabilidade pelo desenvolvimento e pela criação que pais e mães têm em relação aos seus filhos é dividida em igualdade quando é fixada a guarda compartilhada. O tempo de permanência vivenciado pelos genitores e a prole também contribuem para o crescimento saudável dos mesmos. Nessa relação, tanto os genitores como os filhos, se sentem parte da vida um do outro, não havendo o sentimento de exclusão e culpa pela dissolução conjugal. Desse modo, é possível evitar a ocorrência da SAP quando é aplicado o presente instituto, pois como não ocorrerá apenas um guardião detentor dos direitos e deveres pertinentes ao poder familiar, os filhos não serão utilizados como mero instrumento de manipulação do então guardião sobre o genitor não-guardião, demonstrando a eficácia da guarda estar sob ambos os genitores, pois proporciona maiores vínculos na constância do desenvolvimento dos filhos. 167 Consagrando o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, é que se faz jus ao uso do instituto da guarda compartilhada, visto que é o instrumento capaz de manter ambos os genitores com a guarda, envolvendo todo o desenvolvimento saudável de seus filhos, atribuindo melhores condições na realização dos seus direitos, todos presentes na Constituição Federal de 1988, no Estatuto da Criança e do Adolescente e demais dispositivos legais. Nesse modelo de guarda, será exercido o exercício conjunto do poder familiar, atrelando igualdades para os guardiões e, consequentemente, gerando menos sequelas aos filhos que já sofrem com a separação dos pais. A presença de pai e mãe no desenvolvimento de crianças e adolescentes é fundamental para a formação moral sólida dos mesmos, criando uma estrutura de personalidade digna. Por sua vez, para Grisard Filho (2009, p. 130-131) o presente instituto: [...] é um dos meios de exercício da autoridade parental, que os pais desejam continuar exercendo em comum quando fragmentada a família. De outro modo, é um chamamento dos pais que vivem separados para exercerem conjuntamente a autoridade parental, como faziam na constância da união conjugal. A contraposição da guarda compartilhada em relação a guarda unilateral, é que a convivência ao invés da visita, proporciona melhores condições para o filho, e acarreta na não ocorrência da síndrome. Complementa Freitas e Pellizzaro (2010, p. 92) que “a utilização da guarda compartilhada como forma de superação das limitações da guarda unilateral é, entre tantos outros benefícios, um meio de evitar a síndrome da alienação parental”. Ainda assim, para Freitas e Pellizzaro (2010, p. 93): [...] é adequado que a Lei da Alienação Parental incentive a realização da Guarda Compartilhada, pois esta permite a aproximação dos filhos sem a conotação de posse que advém da guarda unilateral, embora, na prática, a Guarda Compartilhada, como instituto, seja o resgate do conceito clássico do Poder Familiar. Ademais, a utilização desse instituto propõe aos genitores, além da convivência com frequência, a imposição quando há decisões que deverão ser tomadas em relação à saúde, educação e formação de seus filhos. Essa decisão poderá ser tomada de forma consensual e conjunta, eis que ambos os genitores são detentores do exercício conjunto do poder familiar, inexistindo assim, a figura do regime de visitas, beneficiando os filhos no que tange aos efeitos da dissolução conjugal. 168 Não obstante, o ordenamento jurídico brasileiro é um instrumento apto para dirimir e flexibilizar a ocorrência da SAP, utilizando, como método possível para esse objetivo o modelo de guarda compartilhada, como salienta Dias (2010, p. 32): A concepção de uma “magistratura de amparo”, instituída de uma forma ampla por juízes, promotores de justiça, defensores públicos e técnicos especializados em matéria de família e infância e juventude, e com treinamento para lidar com vítimas de abuso, poderia ser, à semelhança do Defensor do Povo, um instrumento judicial com competência para acudir, com prontidão e eficácia, crianças submetidas à alienação parental. (Grifo no original) Diante dessa realidade, o presente instituto é o que parece melhor atender aos interesses das crianças. Porém, no campo do judiciário, não é muito utilizada, pois, para que haja o sucesso da fixação desse modelo de guarda, é importante que ambos os genitores tenham interesse na sua implementação. Embora as inúmeras vantagens acerca do mesmo, existem desvantagens; no entanto, os operadores do direito optam por garantir os direitos reconhecidos constitucionalmente dos seus filhos. Dessa forma, Fugita (2009) observa entre os pontos negativos do instituto em estudo, a falta de referência dos filhos em relação a sua residência, pois é necessário para sua formação dentro de uma comunidade ter uma referência de seu lar. Nesse contexto, Madaleno (2004) pondera que, não havendo consenso entre os genitores, não tem como aplicar a guarda compartilhada, pois não ocorrerá um comportamento hostil entre os pais, caracterizando sentimentos de rancor, mágoas e desavenças. Em contrapartida, observando o ponto de vista psicológico, Weis (2009) atenta para a facilidade que a guarda compartilhada propicia para enfrentar as consequências da desunião dos pais, pois possibilita aos filhos ter pai e mãe no processo de educação e, ainda assim, obter a colaboração de ambos os genitores os assistindo, engrandecendo o desenvolvimento com autoestima calibrada. A iniciativa da Lei nº 12.318/2010 é avançar em busca do melhor direito em relação à preservação dos filhos quando ocorre a dissolução da entidade familiar. E havendo essa síndrome, buscar dirimir os efeitos através de medidas provisórias que são necessárias para assegurar o melhor desenvolvimento de seus filhos e em busca do convívio saudável entre genitores e filhos, como consagra Madaleno (2011, p. 451) “[...] podem ser tomadas com urgência, medidas provisórias necessárias para preservação da integridade psicológica da criança e do adolescente, inclusive para assegurar sua convivência com genitor [...]”. 169 Afinal, com o consenso dos pais e a divisão dos papéis e responsabilidades, o infante se sentirá seguro e protegido, sendo possível afirmar que o instituto da guarda compartilhada pode ser a solução para erradicar os efeitos causados pela SAP. 6. Da guarda compartilhada: uma solução possível para a alienação parental A previsão legal da guarda compartilhada tem como principal objetivo manter a prole em convivência com ambos os genitores, contribuindo para o desenvolvimento sadio dos mesmos. Dessa forma, a doutrina propõe a fixação desse instituto como uma maneira de se evitar, ou ao menos mitigar, a ocorrência da SAP. Ocorrendo a desagregação familiar, cabe aos pais ou ao Poder Judiciário, na falta de acordo entre eles, definir qual o modelo de guarda cabível para a situação em concreto. Porém, o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente sempre deve ser observado, pois atenta-se para a tentativa de dirimir os conflitos que emergem dessa situação, com a prioridade de evitar a ocorrência da SAP. Convém enfatizar que a convivência dos filhos com os pais depois da dissolução conjugal é de suma importância, como relatam Freitas e Pelizzaro (2010, p. 86) sobre a aplicação do instituto da guarda compartilhada, que “é um sistema em que os filhos de pais separados permanecem sob a autoridade equivalente de ambos os genitores, que vêm a tomar em conjunto decisões importantes [...]”. A oposição que um dos cônjuges cria para os filhos em relação ao outro cônjuge, as reiteradas discussões entre o casal, causam consequências nos filhos, tanto emocionais como psíquicas, com efeitos deletérios. É fundamental que haja, na dissolução conjugal, auxílio dos pais aos filhos, pois, como sustenta Madaleno (2011, p. 447), “os filhos são preservados quando não estão sendo usados como instrumento de máxima vingança dos pais”. A propósito, a aplicação desse instituto pode servir como meio de mitigação da síndrome, uma vez que quando a guarda está sob domínio de ambos os guardiões, os filhos não serão o cerne de discussões judiciais, como aponta Quintas (2010, p. 88) “os pais podem continuar resolvendo outras questões na justiça, mas os filhos não serão objeto delas”. O prejuízo quando a criança está envolvida nas contendas, mesmo na figura de ouvinte, é o sentimento de culpa, pois se encontra no foco da disputa judicial. 170 Em contrapartida, quando a guarda está apenas com um dos genitores, o guardião que detém a guarda é quase sempre o alienante, pois projeta na criança visões maléficas do outro guardião. Incorre nessa situação, a difamação do cônjuge alienado, criando uma perspectiva na criança de que este é o culpado pela atual situação. O ascendente que tem a guarda interfere nos sentimentos da criança, criando anseios negativos, rancores e desprezo pelo outro ascendente. Desse modo, esteia Duarte (2009) que a aplicação da guarda compartilhada visa dirimir alguns efeitos comuns quando da aplicação da guarda unilateral, elencando alguns efeitos como o abuso de poder, o afastamento do genitor não guardião, a manipulação dos filhos por parte daquele que detém a guarda. A convivência em família deve ser atributo primordial entre a entidade familiar, prevalecendo o interesse da criança ou do adolescente. Por sua vez, Dias (2011) através do advento da guarda compartilhada: [...] ao contrário do que todos proclamam, esta não foi uma vitória dos pais, mas uma grande conquista dos filhos, que não podem mais ser utilizados como moeda de troca ou instrumento de vingança. Acabou a disputa pela posse do filho que, tratado como um mero objeto, ficava sob a guarda da mãe que detinha o poder de permitir ou não as visitas do pai. Agora os filhos adquiriram o direito de não serem mais chamados de filhos da mãe! (Disponível em http:// www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=433). Destaca Silva (2009, p. 51) que até mesmo antes da aprovação da Lei da alienação parental, se instaurava o debate sobre os benefícios da fixação da guarda para flexibilizar os efeitos da síndrome. [...] é imprescindível que a guarda compartilhada venha a ser devidamente regulamentada e seja aplicada adequadamente aos casos concretos, para desfazer os graves prejuízos psicológicos que as crianças filhas de pais separados atualmente atravessavam: ser “órfãos de pais vivos”, isto é, terem os vínculos com os pais não guardiões irremediavelmente destruídos pela SAP, a partir da sensação de abandono e desapego ao genitor ausente, e apresenta sintomas psicossomáticos e/ou psicológicos decorrentes dessa perda de vínculos com o genitor ausente e não com o contexto da separação em si. (Grifo no original) A Lei nº 12.318/10 tem como propósito minimizar a utilização dos filhos como objeto de vingança. Ademais, quando houver algum litígio familiar, a aplicação da 171 guarda compartilhada pode ser a solução para evitar a alienação parental. Ainda, nos dizeres de Lagrasta Neto (2011, p. 147-148): [...] não se crê possa surgir ou se desenvolver quando existindo litígio, seja determinado pelo juiz a guarda compartilhada, uma vez que, compartilhar não quer dizer apenas dividir direitos e deveres, mas, conscientemente, participar da vida da criança ou do adolescente. Inexistindo consenso entre os genitores, é necessário e obrigatório implantar-se o sistema; em qualquer caso, a interferência do magistrado poderá ser precedida de estudos multidisciplinares a impedir a instalação ou agravamento de uma alienação parental ou da respectiva síndrome. (Grifo no original) Consolidando o entendimento acima, Freitas e Pellizzaro (2010, p. 92) entendem que “a utilização da guarda compartilhada como forma de superação das limitações da guarda unilateral é, entre tantos outros benefícios, um meio de evitar a síndrome da alienação parental”. Dentre tantas vantagens acerca do instituto da guarda compartilhada, Freitas e Pellizzaro (2010) evidenciam que este é um meio capaz de evitar a SAP, haja vista a necessidade da presença de ambos os genitores na consolidação da estrutura de sua personalidade. Desse modo, é assegurado aos pais separados a convivência igualitária com os filhos, fator que contribui para inibir a prática de atos que caracterizam esse fenômeno. Com efeito, para Freitas e Pellizzaro (2010, p. 93): É adequado que a Lei da Alienação Parental incentive a realização da Guarda Compartilhada, pois esta permite a aproximação dos filhos sem a conotação de posse que advém da guarda unilateral, embora, na prática, a Guarda Compartilhada, como instituto, seja o resgate do conceito clássico do Poder Familiar. Nesse aspecto, o instituto da guarda compartilhada clama pela manutenção dos filhos junto de seus pais, mesmo com o fim da sociedade conjugal. Pode ser entendida como a melhor forma de garantir o não afastamento dos filhos de um de seus genitores, pois a prole não deve sofrer interferência da desunião de seus pais. Ainda nesse cenário, Barreiro (2010)61 contribui que “a guarda compartilhada, quando aplicada em caso de litígio familiar entre casal, que disputa a guarda de criança 61 Disponível em http://www.ibdfam.org.br/ artigos&artigo=574. 172 ou adolescente, pode ser uma solução viável para se evitar a alienação parental”. Nesse segmento, ainda conforme de Barreiro (2010): Na prática forense, os intérpretes do direito vêm entendendo que a guarda compartilhada deve ser aplicada em situação de consenso, sob o fundamento de que, desta forma, o genitor e a genitora poderão dialogar sobre os interesses do filho. Todavia, esta ideia não condiz, sequer, com a letra fria da lei, bem como com a alma do dispositivo. Em verdade, em situação conflituosa, a aplicação da guarda compartilhada, permite que os adultos envolvidos na demanda, assumam e exerçam os papéis de pai e mãe, independentemente, das contendas existentes entre o homem e a mulher (ou o homem e o homem ou a mulher e a mulher, em caso de união homoafetiva), de modo a atender o melhor interesse dos filhos: não se divorciar e se separar dos pais. Consagrando o princípio do melhor interesse da criança previsto na Carta Magna, verifica-se no instituto da guarda compartilhada, um instrumento capaz de dirimir possíveis efeitos advindos da alienação parental, além de proporcionar o exercício conjunto do poder familiar, obtendo como vantagens a responsabilização conjunta e a continuidade de ambos os genitores no desenvolvimento e formação dos menores, e ainda, proporcionando um ambiente harmônico e saudável. 7. Conclusão O instituto da guarda compartilhada confere a ambos os genitores os direitos igualitários na formação e educação dos menores, obedecendo a nova ordem de valores constitucionais, pois ambos os pais exercem de forma conjunta e igualitária os direitos e deveres atinentes a autoridade parental, caracterizando uma responsabilização parental conjunta sobre seus filhos. Por outro lado, a guarda unilateral não obedece tais preceitos fundamentais, eis que quem detém a guarda é um dos guardiões, cabendo ao outro guardião, apenas o direito de visitação, fugindo do princípio constitucional de igualdade entre os cônjuges, e desrespeitando os interesses dos menores, pois ocorre o afastamento dos laços afetivos que antes subsistiam no âmbito familiar. Destarte, os sintomas da SAP começam a aparecer quando os direitos e deveres dos pais em relação aos filhos não ocorrem com igualdade. O processo de dissolução conjugal pode gerar conflitos entre os cônjuges, e a diferença de tratamento entre os guardiões com os filhos pode contribuir para a existência de tal fenômeno. 173 As consequências que a alienação parental pode causar nas crianças e nos adolescentes são, em muitos casos, irreversíveis, pois afeta o seu desenvolvimento. A implantação de sentimentos negativos e de desprezo atinge não só os filhos, mas também o cônjuge alienado, que sofre por sentir o afastamento e a perda do amor do filho. Por se sentir fracassado na relação conjugal, que o cônjuge alienador cria situações desfavoráveis contra o ex-cônjuge, utilizando da custódia dos filhos para causar esse mal tanto nas crianças e adolescentes, como também no cônjuge alienado. Com o intuito de assegurar e proteger os direitos da criança e do adolescente, é que os dispositivos legais, principalmente a positivação da alienação parental, atuam no Poder Judiciário com a premissa de conter os atos de alienação praticados pelo alienador. Deste modo, as mudanças ocorridas no âmbito familiar e o aumento de separações, ocasionam mais litígios conjugais que proporcionam o aparecimento dos sintomas da alienação. Dessa forma, é que as famílias e a sociedade necessitam do auxílio dos operadores do direito para dirimir os efeitos ocasionados tanto nos filhos como no cônjuge alienado, primando pelo melhor interesse da criança e do adolescente. Por ser a guarda compartilhada um instrumento que envolve os direitos e deveres dos filhos de forma igualitária pelos pais, é capaz de dirimir alguns conflitos oriundos da dissolução conjugal, pois propicia a responsabilização parental de forma conjunta, exercendo plenamente o poder parental. Apesar de haver discussões e controvérsias a respeito da guarda compartilhada, o presente instituto demonstra ser o meio capaz e mais eficaz de ter os direitos dos filhos representados por ambos os genitores, contribuindo para um ambiente harmônico mesmo depois de finda a sociedade conjugal. Ainda assim, a guarda compartilhada auxilia para dirimir os efeitos advindos do processo de alienação parental, pois é capaz de diminuir os efeitos maléficos ocasionados em decorrência da desagregação familiar, como também, obedecer a ordem constitucional de igualdade entre os cônjuges, colaborando para que haja o melhor interesse da criança e do adolescente. Mesmo que haja litígios conjugais, o instituto da guarda compartilhada é salutar, pois proporciona diálogo entre os ex-cônjuges, possibilitando que ambos participem de forma conjunta e igualitária da vida de seus filhos, contribuindo favoravelmente para uma responsabilidade parental efetiva, e ainda, resgatando vínculos que são importantes para o pleno e sadio desenvolvimento dos menores. 174 Dessa forma, quando finda a sociedade conjugal, é admissível a fixação do instituto da guarda compartilhada, tendo como objetivo principal garantir e proteger os direitos elencados pela Constituição Federal e, assim, evitar a ocorrência da SAP. Por fim, a participação estatal é de suma importância, pois deve agir ativamente quando houver a percepção de que os filhos, crianças ou adolescentes, estejam sendo vítimas da alienação por parte de um dos genitores, ou seja, o Estado tem o poder-dever de intervir nessa relação, a fim de assegurar o princípio da dignidade da pessoa humana garantido constitucionalmente. 8. Referências bibliográficas ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. BARREIRO, Carla Alonso. Guarda compartilhada: um caminho para inibir a alienação parental. Disponível em: <http://www.ibdfam.org.br/artigos&artigo=574>. Acesso em: 16 out. 2011. BRASIL. Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. 1990. Disponível em: <http:// www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm>. Acesso em: 15 set. 2011. BRASIL. Lei n. 10. 406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 15 set. 2011. BRASIL. Lei n. 12.318, de 26 de agosto de 2010. Disponível em: <http://www. planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/Lei/L12318.htm>. Acesso em: 09 set. 2011. DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. ______. Manual de direito das famílias. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. ______. Manual de direito das famílias. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 175 DUARTE, Lenita Pacheco Lemos Duarte. A guarda dos filhos na família em litígio: uma interlocução da psicanálise com o direito. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. FIGUEIREDO, Fábio Vieira; ALEXANDRIDIS, Georgios. Alienação parental. São Paulo: Saraiva, 2011. FREITAS, Douglas Phillips; PELIZZARO, Graciela. Alienação parental: comentários à lei 12.318/2010. Rio de Janeiro: Forense, 2010. FUGITA, Jorge Shiguemits. Guarda compartilhada: um passo à frente em favor dos filhos. In: COLTRO, Antonio Carlos Mathias; DELGADO, Mário Luiz (Coords.). Guarda compartilhada. São Paulo: Método, 2009. GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Princípios constitucionais de direito de família: guarda compartilhada à luz da lei nº 11.698/08: família, criança, adolescente e idoso. São Paulo: Atlas, 2008. GARDNER, Richard. Síndrome da alienação parental: dezesseis anos depois. Disponível em: <http://www.fact.on.ca/Info/pas/gard01b.htm>. Acesso em: 05 jan. 2012. GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. GORCZEVSKI, Clovis; BITENCOURT, Caroline Müller. Marcos teórico-funcionais dos direitos humanos e fundamentais no Brasil. In: REIS, Jorge Renato dos; LEAL, Rogério Gesta (Org.). Direitos sociais e políticas públicas: desafios contemporâneos. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2011. GRISARD FILHO, Waldyr. Guarda compartilhada: um novo modelo de responsabilidade parental. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. GUAZZELLI, Mônica. A falsa denúncia de abuso sexual. In: DIAS, Maria Berenice (Coord.). Incesto e alienação parental: realidades que a justiça insiste em não ver. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. 176 LAGRASTA NETO, Caetano. A lei 12.318/10 de alienação parental. In: LAGRASTA NETO, Caetano; TARTUCE, Flávio; SIMÃO, José Fernando (Coords.). Direito de família: novas tendências e julgamentos emblemáticos. São Paulo: Atlas, 2011. LÔBO, Paulo. Direito civil: famílias. São Paulo: Saraiva, 2010. MADALENO, Rolf Hanssen. Direito de família em pauta. Porto alegre: Livraria do Advogado, 2004. ______. Curso de Direito de Família. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. QUINTAS, Maria Manoela Rocha de Albuquerque. Guarda compartilhada. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. SANTOS, José Carlos Van Cleef de Almeida; CASCALDI, Luís de Carvalho. Manual de direito civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. SILVA, Denise Maria Perissini. Guarda compartilhada e síndrome da alienação parental: o que é isso? São Paulo: Armazém do Ipê, 2009. ______. Psicologia jurídica no processo civil brasileiro: a interface da psicologia com o direito nas questões de família e infância. Rio de Janeiro: Forense, 2009. SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 1999. TRINDADE, Jorge. Manual de psicologia jurídica para operadores do direito. 4. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. WEIS, Telma Kutnikas. Guarda compartilhada: um olhar psicanalítico. In: COLTRO, Antonio Carlos Mathias; DELGADO, Mário Luiz (Coords.). Guarda compartilhada. São Paulo: Método, 2009. 177 DIREITO COMUM DA HUMANIDADE: A CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS FUNDAMENTAIS DOS TRABALHADORES ATRAVÉS DA OIT Nairo Venício Wester Lamb62 Jane Gombar63 RESUMO O presente trabalho buscou analisar o papel da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no (re)dimensionamento do Direito Internacional do Trabalho como direito comum da humanidade e concretizador dos direitos sociais fundamentais dos trabalhadores. Através de um estudo das principais normas internacionais do trabalho, foi possível ampliar significativamente a atuação e importância do Direito Internacional do Trabalho. Considerando que nosso trabalho é de natureza bibliográfica, o método de abordagem utilizado foi o dedutivo, enquanto o método de procedimento utilizado foi o analítico e o histórico-crítico. No desenvolvimento, primeiramente conceituamos o direito internacional do trabalho, após apresentamos a organização internacional do trabalho e, por último, abordamos os principais documentos da OIT, para, enfim, concluirmos que a OIT exerceu papel de grande importância no cenário internacional nos últimos 90 anos, contribuindo para um (re)dimensionamento do direito internacional do trabalho, ao lhe permitir que atue para garantir a realização dos direitos sociais fundamentais dos trabalhadores, sendo tal fato comprovado a partir de uma análise dos documentos internacionais mais recentes da Organização e da sua Constituição de 1946, também conhecida como Declaração da Filadélfia. Aluno do Programa de Pós-Graduação em Direito - Mestrado e Doutorado - da UFRGS. Bacharel em Direito pela UNISC. Advogado e Conciliador Judicial (TJ/RS). E-mail: [email protected]. 62 Doutora em Direito pela Universidade de Roma Tre. Professora de Direito e Processo do Trabalho da UFPEL, UNISC e Univates. Advogada. E-mail: [email protected]. 63 178 Palavras-chave: Direito internacional do trabalho, Direitos sociais, OIT. 1. Introdução No século XVIII, a Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra, modificou todas as estruturas sociais, permitindo que uma nova classe surgisse - a dos proletários-, composta, na sua maioria, por camponeses que abandonaram a zona rural em busca de uma condição de vida melhor nas fábricas instaladas nas cidades. É nesse período que o trabalho ganha novo significado, passando a ser uma atividade realizada por milhões de pessoas, de forma sistemática, em larga escala. Nessa época, em fábricas mal iluminadas, sem qualquer condição de salubridade, ocorre a exploração do trabalho de crianças e mulheres, através de cargas horárias de até dezenove horas por dia, recebendo em troca salários baixíssimos, quando não apenas um prato de comida. Daí a necessidade de proteção do elo mais fraco nessa relação, os trabalhadores. Para entendermos como se efetivou a proteção dos direitos sociais dos trabalhadores em nível internacional, no primeiro capítulo abordaremos a conceituação do direito internacional público do trabalho, que é o objeto dessa pesquisa, realizando sua diferenciação em relação ao direito internacional privado do trabalho, além de traçarmos um perfil histórico até o surgimento da Organização Internacional do Trabalho. No segundo capítulo, traçamos um breve perfil da estrutura e da organização da Organização Internacional do Trabalho, especialmente após a Declaração da Filadélfia de 1946, que originou a emenda à sua Constituição. Já no terceiro capítulo, abordaremos o papel da Organização Internacional do Trabalho no (re)dimensionamento do Direito Internacional do Trabalho. Nele, nos remeteremos a uma análise dos principais documentos que contribuíram para que se constituísse uma nova fase de importância das normas internacionais do trabalho. Salientamos a importância do presente trabalho, na medida em que, ao buscarmos compreender o papel desempenhado pela OIT no (re)dimensionamento do papel do Direito Internacional do Trabalho na concretização dos direitos sociais fundamentais dos trabalhadores, percebemos a importância das atividades realizadas pela Organização, no sentido de proteger os trabalhadores, e da manutenção do emprego. 179 2. O Direito Internacional do Trabalho O Direito Internacional do Trabalho é assim chamado para identificar a área do Direito Internacional Público que se reserva ao tratamento da proteção do trabalhador, seja como parte de um contrato, seja como ser humano, o qual estabelece como finalidades a universalização dos princípios da justiça social, e, na medida do possível, a uniformização das correspondentes normas jurídicas. O estudo das questões conexas, das quais depende a consecução dessas ideias e o incremento da cooperação internacional, visa a melhoria das condições de vida do trabalhador e a harmonia entre o desenvolvimento técnico-econômico e o progresso social (SÜSSEKIND, 2000). É do Direito Internacional Público que o Direito Internacional do Trabalho retira seu fundamento de existência e validade, não se falando em autonomia científica deste; eis que se vale dos institutos, instrumentos e métodos de investigação - apesar de algumas peculiaridades – iguais aos utilizados por aquele (SÜSSEKIND, 2000). Para Süssekind (2000), a atividade normativa do Direito Internacional do Trabalho (DIT)64 se encontra na incorporação de direitos e obrigações aos sistemas jurídicos nacionais, através de tratados pluricelulares – restritos à ratificação dos Estados partes - e de tratados multilaterais (comumente chamados “convenção” ou “pacto”), que são abertos à ratificação dos Estados – membros da organização que os aprovou. Estes constituem em fontes formais de direito. Outra forma apresentada pelo autor são as declarações, recomendações e resoluções que, por não serem ratificáveis, correspondem a fontes materiais de direito. Como objetivos principais, a doutrina apresenta a universalização dos princípios e das normas trabalhistas, a fim de garantir maior uniformidade em sua aplicação; a difusão em âmbito global das regras de justiça social, fomentando a justiça e a paz nas relações de trabalho; o impedimento que razões econômicas impeçam os Estados de aplicar as normas internacionais de proteção ao trabalhador previstas nas convenções da Organização Internacional do Trabalho; o estabelecimento de regras claras de reciprocidade dos Estados na aplicação das regras de trabalho entre seus cidadãos, e proteger os direitos dos trabalhadores imigrantes, inclusive no que tange a conservação das garantias trabalhistas adquiridas no país de origem, relativamente aos seguros sociais (SÜSSEKIND, 2002). Daqui em diante ao mencionarmos o Direito Internacional do Trabalho utilizaremos também a sigla DIT. 64 180 Para alcançá-los, o Direito Internacional do Trabalho se utiliza de instrumentos normativos de variada índole, dos quais os mais relevantes são os tratados internacionais, que podem ser bilaterais ou plurilaterais, concluídos entre Estados, ou multilaterais, que são denominados pela Organização Internacional do Trabalho de convenções; e as declarações, recomendações ou resoluções que não são instrumentos ratificáveis (MAZZUOLI, 2010). 2.1 A evolução do Direito Internacional do Trabalho A Revolução Industrial, que se desenvolveu a partir do final do século XVIII, evidenciou a cruel realidade da aplicação desses postulados às relações de trabalho. A implantação da máquina a vapor substituiu os braços humanos e desequilibrou a oferta e procura de trabalho. Tal desequilíbrio aumentou pelo fato de que mulheres e crianças, cada vez em maior número, passaram a procurar emprego, a fim de complementar a renda familiar, aceitando receber salários inferiores aos dos homens (MAZZUOLI, 2010). Como bem lembra Süssekind (2000), a liberdade e a máquina não libertaram o trabalhador. A liberdade jurídico-política possibilitou, contudo, os movimentos de intelectuais e trabalhadores contra o quadro de miséria humana que se desenhava; e, mesmo proibidos, os operários se uniram para lutar pela conquista de direitos, que lhes fossem assegurados, com limitação da autonomia da vontade, nos contratos de trabalho. Diante dessa condição desumana imposta pelo capitalismo, surgiram os primeiros críticos a situação vivida pelos trabalhadores. Assim, coube à Robert Owen, nascido no País de Gales, a primazia de defender amplas reformas sociais e aplicar algumas de suas ideias na sua fábrica de tecidos, situada na aldeia escocesa de New Lamarck. Considerado o pai das cooperativas e da legislação do trabalho, ele não obteve o apoio dos intelectuais ingleses, nem dos governantes europeus e dos Estados Unidos da América, a quem dirigiu memoriais em prol da classe trabalhadora, sustentando as ideias difundida em 1813 na sua obra “A New View of Society” (SÜSSEKIND, 2000). Mas foi Daniel Legrand que desenvolveu, a partir de 1841, ação meritória e contínua, com indiscutível sucesso, objetivando a internacionalização das normas sociais trabalhistas. Ele advogava a instituição de um direito internacional que protegesse as classes operárias contra o trabalho prematuro e excessivo, motivo do enfraquecimento físico, de degradação moral e da privação em que viviam os proletários (SÜSSEKIND, 2000). 181 No ano de 1864, baseada no manifesto de Marx e Engels, ocorreu a Assembleia Internacional dos Trabalhadores - que ficou conhecida como a Primeira Internacional – criada em Londres, a qual adotou uma resolução pleiteando uma “legislação social internacional” e defendeu a união do proletariado, com o fim de obter para si o poder político; a quem, com a socialização do Estado, deveria entregar-se o poder econômico. Dois anos depois, no Congresso de Genebra, reivindicaram a limitação internacional das horas trabalhadas. Como lembra Süssekind (2000), paralelamente, embora ideologicamente separadas da ideia marxista, as trade unions passaram a interessar-se pela internacionalização das normas de proteção do trabalho, sem abrir mão da tese da ação direta entre trabalhadores e empregadores. Em 1884, o Congresso Internacional Operário, que se realizou em Roubaix, ousou em ir mais longe e pediu a “[...] interdição do trabalho ao menor de 14 anos, a proibição (sem exceções) do trabalho nocivo à saúde e do feminino, a fixação do salário mínimo e a jornada e de oito horas de trabalho […]” (SÜSSEKIND, 2000, p.88). O Congresso Socialista, realizado em Paris, reafirmou estas reivindicações, acrescentando o repouso semanal e a inspeção internacional do trabalho com as sanções respectivas. Em 1890, ocorreu a conferência de Berlim, a qual, embora sem alcançar seus objetivos concretos, não foi sem importância. Os êxitos obtidos foram assinatura do Protocolo fixando em 14 anos a idade mínima de admissão nos trabalhos das minas (salvo nos países meridionais, onde seria de 12 anos) e de várias recomendações concernentes à proibição do trabalho das mulheres nas minas, à redução da jornada de trabalho nas minas, à arbitragem nos conflitos de trabalho, à organização de sociedades de socorro mútuo entre trabalhadores, à proibição do trabalho de menores de 12 anos nos estabelecimentos industriais (exceto nos países meridionais, onde seria de 10 anos), à proibição do trabalho noturno das mulheres e, finalmente, à concessão de um período de descanso por motivo de parto (SÜSSEKIND, 2000). Posteriormente, recebendo subvenção anual do governo suíço, foi criada a “Associação Internacional para a Proteção Legal dos Trabalhadores”, que inaugurou sua sede em 1º de maio de 1900, na cidade de Basiléia. Até 1914, quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial, a associação já possuía 15 Seções Nacionais65 e já havia realizado oito reuniões66 (SÜSSEKIND, 2000). Alemanha, Áustria, Hungria, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Holanda, Inglaterra, Itália, Luxemburgo, Noruega, Suécia e Suíça. 65 Realizadas na Basiléia (1901,1903 e 1904), em Colônia (1902), Genebra (1906), Lucerna (1908), Lugano (1910) e Zurique (1912). 66 182 Em 9 de julho de 1906, teve início uma Conferência em Berna, reunida em escala diplomática e também convocada pelo governo suíço. Nesta, foram aprovadas duas convenções internacionais, uma determinando a proibição do trabalho noturno das mulheres na indústria67 e outra sobre o emprego do fósforo branco na indústria de ceras e fósforos, com disposições complementares análogas às da primeira68. Dessa forma nascia a legislação internacional do trabalho, com a elaboração de tratados multilaterais e um esboço de controle de aplicação das normas, o qual acabou, mais tarde, aprimorado pela Organização Internacional do Trabalho (SÜSSEKIND, 2000). O início da Primeira Guerra em 1914 tornou impossível a atuação da entidade, sendo que, após quatro anos de guerras e o período que lhe seguiu imediatamente, colocaram as questões sociais trabalhistas entre as preocupações dos países beligerantes. Assim, na data de 25 de janeiro de 1919, instalou-se a Conferência da Paz, no Palácio de Versailles, localizado nas cercanias de Paris. No mesmo dia, a Conferência aprovou a designação de uma Comissão de Legislação Internacional do Trabalho, que se incumbiria ao estudo preliminar para formulação de uma regulamentação internacional do trabalho, transformando-se na Parte XIII do Tratado, que foi dividida em duas seções; sendo que a primeira (denominada Organização Internacional do Trabalho) foi subdividida em quatro capítulos, tratando, na ordem, da organização (arts. 387/389), do funcionamento (arts. 100/420), das prescrições gerais (arts. 421/423) e das medidas transitórias (art. 424/426). A segunda seção foi denominada Princípios Gerais (art. 427). A maioria destas disposições estão vigentes e formam a Constituição da Organização (SÜSSEKIND, 2000). Aliado a estes princípios, o artigo 23 do Pacto das Sociedades das Nações estatuiu que os Estados-Membros da entidade de direito público internacional deveriam se esforçar para assegurar condições de trabalho iguais e humanitárias para o homem, a mulher e a criança, em seus próprios países e naqueles que estendessem suas relações de comércio e indústria; e com tal objetivo, estabeleceriam e manteriam as organizações internacionais necessárias (SÜSSEKIND, 2000). Com base nesse artigo é que será criado um organismo internacional, vinculado à Sociedade das Nações, denominado Organização Internacional do Trabalho (OIT) e que deveria ser constituído de três órgãos intitulados Conferência Internacional do Trabalho (Assembleia Geral), Conselho de Administração (direção colegiada) e Repartição (secretaria). 67 Essa Convenção foi assinada por todos os países membros na época. Essa Convenção foi assinada apenas por sete países: Alemanha, Dinamarca, França, Holanda, Itália, Luxemburgo e Suíça. 68 183 3. A Organização Internacional do Trabalho A OIT surge como um órgão acessório à Sociedade de Nações. Na sua primeira Constituição, traz expressas as ideias principais que deveriam pautar suas ações, devendo-se destacar a declaração preambular de que a paz universal só pode ser estabelecida com base na justiça social, além do reconhecimento de que o trabalho não é uma mercadoria. A Constituição original defende também a liberdade de associação aos trabalhadores e empregadores e o direito à negociação coletiva (MEIRELES, 2011). Tais regras são consideradas princípios basilares da atuação da OIT. Os primeiros anos de atividade da Organização foram de grande produção normativa. Nesse período, a Organização buscou regulamentar as condições de trabalho e emprego e, quando deflagrada a Segunda Guerra Mundial, já contava com 67 Convenções e 65 Recomendações (CRIVELLI, 2010). Mas, na proporção que a Sociedade das Nações mostrava suas fraquezas e perdia espaço político, a Organização Internacional do Trabalho, como agência especializada, tornava-se cada vez mais independente daquela. Já na década de 1930 foi extremamente desafiadora para a Sociedade das Nações, pois, sem condições de responder à crise econômica de 1929 e ao aumento do nacionalismo em muitos Estados, diversos países-membros se retiraram da organização (MEIRELES, 2011). Posteriormente, as atividades praticamente paralisaram em face da deflagração da Segunda Guerra Mundial (KOCHI, 2011). Em 1940, a Repartição se transferiu para Montreal e, no final de 1941, realizou em Nova York (Washington), a reunião da Conferência, com participação de 33 países, na qual foram aprovadas resoluções sobre medidas a serem tomadas após a cessação do conflito bélico (SÜSSEKIND, 2000). Em janeiro de 1941, o Presidente Franklin Roosevelt proferiu o conhecido discurso das quatro liberdades69, no qual concebia que a paz mundial só poderia existir se eliminadas no plano internacional as causas políticas, econômicas e sociais que a perturbavam e que, para a consecução desse fim, deveria ser estreitada a cooperação internacional. O discurso ressaltou que os alicerces da dignidade humana e da segurança social só estariam assegurados se o mundo do pós-guerra garantisse, efetivamente, “a liberdade de palavra e de expressão, a liberdade de crença religiosa, a liberdade para viver isento da miséria, sob o influxo de acordos econômicos internacionais que garantam aos habitantes de todas as Nações a vida sã dos tempos de paz, e a liberdade para viver isento de medo”. 69 184 Ao visualizar a conveniência de rever os princípios cardeais que deveriam nortear sua ação no pós-guerra, com o intuito de manter a sua própria sobrevivência, a OIT convocou, em 1944, a sua 26ª sessão de Conferência, que se realizou na cidade de Filadélfia. Nessa Conferência, foi aprovada uma Declaração referente aos fins objetivos da Organização Internacional do Trabalho, posteriormente também conhecida como Declaração da Filadélfia Posteriormente incorporada à Constituição da OIT. Essa Declaração, segundo Süssekind (2000, p.110) “[...] repetiu, precisou e ampliou os princípios do Tratado de Versailles sob o influxo da ideia de cooperação internacional para a consecução da segurança social de todos os seres humanos [...]”. Além disso, reafirmou o princípio do tripartismo e o de que a justiça social é a base da paz; também ampliou a competência da OIT, ao lhe conferir o encargo de fomentar programas de cooperação técnica social (SÜSSEKIND, 2000). 3.1 Estrutura da OIT A OIT tem natureza de pessoa jurídica de direito público internacional. Portanto, goza de autonomia em relação à ONU, estando apenas vinculada à esta. Assim, pode-se dizer que a Organização Internacional do Trabalho goza de autonomia em relação aos Estados que a compõem. Apesar de ser organização governamental internacional, a OIT tem a peculiaridade de ser composta por integrantes não-estatais, incluindo, assim, representantes de trabalhadores e empregadores dos Estados-membros. Apesar dessa composição mista, empregadores e trabalhadores apenas se fazem representar se o país do qual provém for um Estado-membro da OIT (MEIRELES, 2011). A participação de representantes não-estatais na discussão e aprovação de tratados (sejam Convenções ou Recomendações) que obrigarão Estados é uma característica ímpar da OIT. Essa composição é conhecida como tripartismo e se fundamenta no art. 3 da Constituição da OIT. Além da Conferência Geral, órgão supremo da OIT que se encontra uma vez por ano, a administração da Organização, realizada por meio do Conselho Administrativo, tem também representatividade tripartite. É o Conselho Administrativo que se encarrega de designar o diretor geral do Escritório Internacional do Trabalho (MEIRELES, 2011). Conforme Meireles (2011), o tripartismo objetiva prover maior concretude às deliberações dos representantes das partes integrantes, uma vez que a participação de delegações de diferentes origens tende a aproximar as questões abordadas à rea- 185 lidade socioeconômica, o que não seria possível caso a composição fosse apenas por representantes estatais. Destarte, o tripartismo é também uma balança no conflito de interesses das diferentes partes. A OIT se estrutura sobre três órgãos, a saber: a Conferência Internacional do Trabalho, o Conselho de Administração e o Escritório Internacional do Trabalho. A Conferência Internacional do Trabalho é o principal órgão deliberativo da Organização. Esse órgão é a assembleia geral de todos os Estados-membros e se reúne pelo menos uma vez ao ano; ela é quem delibera e aprova normas internacionais do trabalho e avalia relatórios concernentes à queixas e reclamações elaboradas pela Comissão de Peritos (Organização Internacional do Trabalho, 1946). O Conselho de Administração é o braço executivo da Organização, pois ele estabelece programas e administra o orçamento da Organização, se reunindo três vezes ao ano70, em Genebra. Dentre as competências desse órgão executivo, está a adoção de decisões sobre a política da Organização, a eleição do diretor geral do Escritório Internacional do Trabalho e supervisionar as atividades deste órgão. Além disso, lhe compete elaborar o projeto de programa de orçamento da Organização, instituir comissões permanentes; fixar a data, o local e a ordem do dia das reuniões da Conferência Internacional do Trabalho, das conferências regionais e das conferências técnicas; deliberar sobre os relatórios e conclusões das suas comissões internas; adotar as medidas previstas em caso de reclamação ou de queixa contra um Estado-membro por inobservância de convenção que haja ratificado (MEIRELES, 2011). Por fim, o Escritório Internacional do Trabalho é o secretariado técnico-administrativo da OIT, tendo à sua frente o diretor geral, a quem cabe executar as decisões da Conferência e do Conselho (MEIRELES, 2011). Possui sua sede em Genebra, onde funcionam o diretor geral; o setor técnico, constituído por diversos departamentos, dentre os quais o de Normas Internacionais do Trabalho, o de Promoção de Igualdade, o de Relações Industriais, o de Atividades Setoriais, o de Seguridade Social e o de Empregos; o setor administrativo e o setor de relações. 3.2 Produção e controle de normas no âmbito da OIT Em sua atividade normativa, a OIT elabora dois diferentes tipos normativos, quais sejam convenções e recomendações. Ambos os tipos são formulados como fruto de debates entre governantes, empregadores e trabalhadores, através do tripartismo 70 Normalmente as sessões ocorrem nos meses de fevereiro/março, junho e setembro, em Genebra. 186 da OIT. Tanto um quanto o outro tipo são adotados pela Conferência sob o requisito de terem sido aprovadas pela votação de 2/3 dos votos. Apesar de ambas necessitarem passar pelo mesmo processo de votação na Conferência, somente as convenções são objetos de ratificação pelos Estados-membros, configurando-se como típicos tratados internacionais juridicamente cogentes. As recomendações, por sua vez, são atos normativos que tem importante função como fonte material do direito do trabalho71, na medida em que servem de princípios diretores. As recomendações também devem ser submetidas à autoridade nacional competente, sugerindo-lhe a criação de normas a nível nacional, mas não são objetos de ratificação. Crivelli (2010) observa que pelo fato de não gerarem obrigações como ocorre com as convenções, as recomendações terminam por serem discutidas e elaboradas nas conferências com maior liberdade do que as convenções, dado o seu baixo custo político. Nesse sentido, Süssekind (2000) aduz o relevante papel das recomendações em enunciar regras ainda avançadas para que sejam adotadas universalmente pela Conferência como uma convenção, mas que haja interesse desse órgão em promover sua universalização. Embora muitas recomendações sejam autônomas, muitas vezes elas são adotadas no sentido de completar uma convenção, propondo diretrizes mais precisas de como esta pode ser aplicada. Além das convenções e das recomendações, alguns autores ressaltam a importância das resoluções como fontes de direito produzidas no âmbito da OIT. As resoluções são adotadas por uma Comissão de Resoluções que é instalada eventualmente, para debater propostas que tenham sido submetidas à apreciação da Conferência. As resoluções são comumente editadas para preencher lacunas jurídicas das Convenções e Recomendações, servindo como importantes instrumentos interpretativos (CRIVELLI, 2010). Uma das formas de controle das normas se dá através da Comissão de Peritos da OIT. A Comissão então se reúne uma vez ao ano para uma sessão de três semanas, na sede da OIT em Genebra, normalmente entre novembro e dezembro. Meireles (2011) lembra que, em resposta aos relatórios, a Comissão de Peritos prepara dois tipos de comentários: observações e recomendações diretas, sendo essas são publicadas anualmente no relatório da Comissão de Peritos e encaminhadas à Conferência Internacional do Trabalho. 71 Também as convenções não ratificadas cumprem esse papel. 187 Diversamente da Comissão de Peritos, que tem sessão anual, a Comissão de Aplicação de Normas da Conferência é um órgão da Conferência Internacional do Trabalho que funciona permanentemente. A Comissão foi criada pela mesma resolução que trouxe a lume a Comissão de Peritos, em 1926, e sua composição é tripartite. Por via de consequência, esta Comissão realiza função de cunho muito mais político do que o da Comissão de Peritos (MEIRELES, 2011), pois aquela examina o relatório anual da comissão de juristas, apresentado em dezembro (CRIVELLI, 2010). Visando a conferir eficácia às normas internacionais do trabalho, a OIT foi também dotada de um sistema de controle provocado. Süssekind denomina-o de sistema contencioso. Por esse sistema, o mecanismo de controle pode ser acionado por qualquer Estado-membro interessado, por organizações de empregadores ou trabalhadores, ou ainda por decisão do Conselho de Administração72. Dessa forma, os sujeitos ativos legitimados para propor uma reclamação são organizações profissionais de empregados ou de empregadores. No presente capítulo, foi apresentada toda a estrutura organizacional da OIT, além de como se realizam suas normas e de que forma se dá o cumprimento das mesmas. Percebemos que o amplo rol de normas e instrumentos para sua efetividade concedem à Organização Internacional do Trabalho um papel de extrema importância na construção do Direito Internacional do Trabalho. 4. O (re)dimensionamento do Direito Internacional do Trabalho Conforme analisado até o presente momento, a criação da Organização Internacional do Trabalho deu respaldo para que o Direito Internacional do Trabalho assumisse papel de vanguarda no ordenamento internacional, ampliando e buscando garantir os direitos básicos dos trabalhadores em uma escala global. Dentre os quais, destacamos a declaração relativa aos fins e objetivos da OIT, aprovada pela Conferência da Filadélfia (maio de 1944) e incorporada como anexo à Constituição da OIT na revisão elaborada em 1946, e a Declaração Universal dos Por esse sistema, foram instituídos a queixa e a representação, que podem ser realizadas pelos Estados-membros em relação ao cumprimento das Convenções da Organização. Também nesse contexto se instituiu, em 1951, o Comitê de Liberdade Sindical, pelo qual as entidades representativa dos empregadores ou dos trabalhadores ( de nível nacional ou internacional), podem propor queixa e reclamação em relação a não observância dos direitos sindicais pelos Estados-membros. 72 188 Direitos do Homem, aprovada pela Assembleia da ONU em dezembro de 1948. Além desses documentos, também podemos citar o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966) e as recentes Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho (1998) e a Declaração sobre a Globalização (2008), sendo estes brevemente analisados a seguir. 4. 1 O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais Ao abordarmos a evolução do Direito Internacional do Trabalho, merece especial realce a abordagem sobre o Pacto Internacional Relativo aos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, aprovado conjuntamente com o Pacto Internacional Relativo aos Direitos Civis e Políticos, sendo que ambos tem por objetivo a regulamentação dos direitos humanos fundamentais consagrados na Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948) (SÜSSEKIND, 2000). Gorczevski (2009) informa que o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais teve a ratificação efetuada por 159 Estados, até dezembro de 2008. Segundo Almeida (2001), citado por Schwinn (2011), o mesmo traz garantidos os direitos à autodeterminação dos povos e liberdade de cada Estado de dispor livremente de suas riquezas naturais (art.1º), igualdade entre homens e mulheres (art. 3º), trabalho livremente escolhido e capacidade para exercê-lo (art. 6º), direitos trabalhistas como condições justas de trabalho (art. 7º), sindicalização (art. 8º) e previdência e seguro social (art. 9º), alimentação, vestimenta e moradia (art. 11), saúde física e mental (art. 12), educação (art. 13 e 14) e cultura (art. 15). Uma análise das disposições do Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, com as normas inseridas nas convenções e recomendações da OIT, revela a mais perfeita sintonia entre princípios consagrados por esses textos no campo social, apesar de que, em muitos casos, o nível de proteção dos instrumentos adotados pela Conferência Internacional do Trabalho supera as garantias inseridas no Pacto (SÜSSEKIND, 2000). Süssekind relembra que muitos preceitos do Pacto da ONU são de caráter promocional, o que não desobriga os Estados que aderiram ao Pacto a implantarem as suas normas em sucessivas etapas. Para ele: [...] também a referida Comissão de peritos reconheceu que muitos dos direitos reconhecidos aos trabalhadores pelo Pacto Internacional de Direitos Econô- 189 micos, Sociais e Culturais podem ir sendo assegurados progressivamente pelos Estados que o hajam ratificado. Não obstante em matéria de direitos sindicais o Pacto impõe aos Estados-partes a obrigação imediata de garanti-los. (SÜSSEKIND, 2000, p. 422) O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, aprovado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 16 de dezembro de 1966, segundo Sussekind (2000, p.23), “[...] transformou em tratado multilateral os princípios inseridos na Declaração Universal dos Direitos do Homem que ampliaram as fronteiras do DIT [...]”. Assim, neste aspecto, o Pacto foi apenas o começo de uma grande mudança no cenário do Direito Internacional, com a cada vez mais presente consolidação do Direito Internacional do Trabalho, que iria desembocar na Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, de 1998, sobre a qual abordaremos a seguir. 4.2 A Declaração sobre os Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho A Declaração da OIT relativa aos Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho foi celebrada em 19 de junho de 1998, após a realização da octogésima sexta reunião da Organização Internacional do Trabalho. Süssekind (2000) sustenta que esta declaração é mais tímida que a originalmente pretendida. Logo na sua declaração de motivos, a Declaração relembra que a criação da OIT precedeu do reconhecimento de que a paz universal e permanente só pode ocorrer quando efetivamente existir uma justiça social. Segue lembrando que o crescimento econômico é essencial, mas insuficiente, para assegurar a equidade, o progresso social e a erradicação da pobreza, o que confirma a necessidade de que a Organização promova políticas sociais sólidas, a justiça e instituições democráticas (Organização Internacional do Trabalho, 1998). Diante dos problemas enfrentados para a aprovação da referida declaração, foram escolhidos quatro princípios fundamentais, quais sejam: que devem ter preferência na sua proteção, são eles; a liberdade sindical e o reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva, a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório, a abolição efetiva do trabalho infantil e a eliminação da discriminação em matéria de emprego e ocupação. 190 A respeito do princípio da liberdade sindical e o reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva, apresentou significativos avanços desde a elaboração da Declaração da OIT sobre os Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho, devido não somente ao documento mencionado, mas a série de ações e campanhas empreendidas pela OIT no intuito de buscar a realização desse princípio de forma plena. Mesmo assim, há muitas barreiras impostas pelos estados à aplicação integral desse princípio, às quais precisam ser derrubadas, a fim de que os trabalhadores possam gozar deste direito fundamental73. Sobre a eliminação do trabalho infantil, em 2000, entrou em vigor a Convenção da OIT n.º 182, relativa à eliminação das piores formas de trabalho infantil. Seis anos depois, a Organização Internacional do Trabalho consagrou o objetivo da eliminação de todas as piores formas de trabalho infantil até 2016. O Plano de Ação Global, aprovado pelo Conselho de Administração da OIT em novembro de 2006, criou o quadro estratégico para o cumprimento desse ambicioso objetivo (OIT, 2010). Conforme o mais recente relatório sobre a eliminação, datado de 2010, revela que diante das novas estimativas do trabalho infantil a nível global, o ritmo terá de ser mais rápido e com uma visão e ações mais ambiciosas para se atingir o objetivo de eliminar o trabalho infantil. Além disso, as consequências de uma crise econômica global, cujo verdadeiro impacto social ainda está por avaliar, poderá anular parte dos resultados obtidos no passado recente, bem como impedir a comunidade internacional de cumprir as promessas que assumiu perante as crianças do mundo (OIT, 2010). Em relação a eliminação da discriminação em matéria de emprego e ocupação, as diretrizes da OIT a respeito giram em torno de duas preocupações fundamentais: a primeira é a de garantir a igualdade de oportunidades e de tratamento no acesso à formação, ao emprego, à promoção, à organização e à tomada de decisões, e de lograr a igualdade de condições no que se refere aos salários, às vantagens contratuais, à seguridade social e às prestações de caráter social relacionadas com o emprego; a segunda é de proteger a mulher trabalhadora em especial no que se refere às condições de trabalho que possam representar riscos para a gestante (OIT, 2010). 73 A atuação normativa da OIT visando à abolição do trabalho forçado ou obrigatório teve início na Convenção nº 29 sobre o Trabalho Forçado, de 1930, que define trabalho forçado, para efeitos da lei internacional, como todo trabalho ou serviço que seja exigido a qualquer pessoa, sob ameaça de qualquer penalidade, e para o qual a essa pessoa não se tenha oferecido voluntariamente. O outro instrumento fundamental da OIT, a Convenção de nº 105 sobre a Abolição do Trabalho Forçado, de 1957, não foi adotado como uma revisão do instrumento de 1930, vigendo ambas de forma concomitante. Ele amplia o conceito de trabalho forçado, mas sua incidência está restrita a cinco hipóteses que seu texto explicita. 191 O trabalho contra a discriminação no emprego não se restringe às mulheres e aos migrantes, até agora mencionados, mas também se dá de outras maneiras, baseados em fatores como a idade, a deficiência, o HIV e a Aids, a orientação sexual, a predisposição genética e estilos de vida poucos saudáveis, sendo, portanto, um grande desafio para a Organização Internacional do Trabalho e os Estados-membros, o combate a esse tipo de atitude por parte dos empregadores (OIT, 2011). Contudo, a falta de vontade política e uma crise econômica prolongada expõe as debilidades estruturais e agrava a discriminação estrutural. Além disso, a agenda da discriminação no trabalho está em constante diversificação, e surgem novos desafios, quando subsistem ainda os anteriores, na melhor das hipóteses apenas parcialmente resolvidos. Foi diante da grave crise econômica estabelecida em 2007, que a Organização Internacional aprovou em junho de 2008 a Declaração da OIT sobre a Justiça Social para uma Globalização Equitativa, com objetivo de servir de instrumento como marco para uma nova justiça social. A referida Declaração é objeto de análise no próximo item. 4.3 A declaração da OIT sobre a justiça social para uma globalização equitativa As estatísticas da situação da mão de obra no mundo de hoje, indicam a existência de um mundo do trabalho marcado pela heterogeneidade e em relação ao qual não mais se ajusta a legislação trabalhista clássica, de caráter rígido e protecionista (MAGANO, 2001). Diante disso, a flexibilização e a desregulamentação tornaram-se palavras de ordem no âmbito das relações de trabalho, calorosamente defendidas como caminho adequado para se atingir o desenvolvimento econômico (SILVA, 2001). Ciente dos problemas enfrentados pelo mundo globalizado atual, através das questões relativas à empregabilidade e a grave crise econômica mundial iniciada em 200774, que cada vez mais compromete o trabalho nos países desenvolvidos, causando grandes impactos econômicos e sociais, a Organização Internacional do Trabalho, em 74 A crise financeira mundial começou com os calotes nos pagamentos de hipotecas de casas nos Estados Unidos. A alta dos juros provocou um aumento no valor das mensalidades das casas próprias, enquanto que o preço dos imóveis começou a cair. Com isso, houve um salto na inadimplência e os títulos que eram garantidos pelas hipotecas perderam valor. O problema se alastrou para todo o mundo e atingiu o ápice em setembro de 2008, desencadeando prejuízos bilionários aos bancos e até quebra de instituições financeiras. 192 junho de 2008, estabeleceu a Declaração da OIT sobre a justiça social uma globalização equitativa. Em seu preâmbulo, a Declaração ressalta a importância da relação de trabalho, que deve ser reconhecida como meio de oferecer proteção jurídica aos trabalhadores. Menciona também que as empresas produtivas, rentáveis e sustentáveis, junto com uma economia social sólida e um setor público viável, são fundamentais para um desenvolvimento econômico e realização de oportunidades de emprego sustentáveis (Organização Internacional do Trabalho, 2008). A Declaração estabelece quatro objetivos: o primeiro deles é o de promover o emprego criando uma relação institucional e econômica sustentável, o outro é a adoção e expansão de medidas de proteção social – seguridade social e proteção dos trabalhadores – que sejam sustentáveis e estejam adaptadas às circunstâncias nacionais, e particularmente a extensão da seguridade social a todos os indivíduos. Como terceiro objetivo, temos a promoção do diálogo social e do tripartismo como os métodos mais apropriados para adaptar a aplicação dos objetivos estratégicos às necessidades e circunstâncias de cada país. O quarto objetivo, elencado na Declaração, é a necessidade de respeitar, promover e aplicar os princípios e direitos fundamentais no trabalho. Como consequência da Declaração sobre a justiça social para uma globalização equitativa, a OIT estabeleceu em 2009 o Pacto Mundial para o Emprego, que propõe uma série de medidas para responder à crise econômica mundial, as quais podem ser adaptadas às necessidades e situações específicas de cada país (OIT, 2009). Diante dos dados apresentados e do cenário global que se desenha, a Declaração da OIT sobre a justiça social para uma globalização equitativa tem buscado cumprir seus objetivos, conclamando os governos e a sociedade a buscarem soluções que permitam sair da crise, sem que haja maiores danos aos trabalhadores (OIT, 2009). Assim, a Organização Internacional do Trabalho, mais uma vez demonstra sua visão de vanguarda e de preocupação com a situação do emprego e das condições de vida dos trabalhadores em todo mundo. Dessa forma, os princípios que nortearam a sua criação ainda são os mesmos e mantêm seu valor, mas o Direito Internacional do Trabalho assumiu um novo papel no ordenamento jurídico global. 5. Conclusão O presente trabalho teve como objetivo principal analisar o papel exercido pela Organização Internacional do Trabalho no (re)dimensionamento do Direito Interna- 193 cional do Trabalho, permitindo ao mesmo ser considerado um direito fundamental dos trabalhadores e comum da humanidade. Através de uma análise do conceito de Direito Internacional do Trabalho, do histórico da sua realização, da estrutura da OIT e de uma leitura dos principais instrumentos normativos da OIT, buscou-se uma possível interpretação desse fenômeno. Abordamos a Revolução Industrial no século XVIII e a Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra, que modificou toda uma estrutura social, dando ao termo trabalho novo significado, passando a ser uma atividade realizada por milhões de pessoas, de forma sistemática, em larga escala. A Revolução Industrial, ao mesmo tempo em que se deu um período brilhante no desenvolvimento de tecnologias, instaurou um regime econômico mundial que mostrou a face cruel do ser humano, através da exploração da mão de obra. Diante dessa situação, percebeu-se a necessidade de normas de proteção aos trabalhadores em âmbito interno e externo. Tal só é concretizada em 1919, com a criação da Organização Internacional do Trabalho, com o objetivo de atuar no âmbito de todos os países e fixar princípios programáticos ou regras imperativas para eles voltadas. Posteriormente a sua criação, após a Segunda Guerra Mundial, foi criada a Organização das Nações Unidas (ONU), em 1945, com o nobre objetivo de assegurar a verdadeira paz entre os povos, vindo a OIT integrá-la como órgão associado, após a emenda à sua Constituição, em 1946, através da Declaração de Filadélfia. Analisamos a estrutura organizacional da Organização Internacional do Trabalho após 1946 e percebemos que ela é dirigida pelo Conselho de Administração, que se reúne três vezes ao ano em Genebra na Suíça. Este conselho é competente por elaborar e controlar a execução das políticas e programas da OIT, por eleger o Diretor Geral e elaborar proposta de programa e orçamento bienal. Tal Conselho é formado por 28 representantes dos governos, 14 dos trabalhadores e 14 dos empregadores, sendo que os países considerados de maior importância industrial ocupam os postos governamentais em caráter permanente. A OIT tem por atribuição a emissão de normas internacionais de trabalho, que podem se dar através de Resoluções, Convenções e Recomendações. Analisando estas normas, percebemos que o amplo rol de normas e instrumentos para sua efetividade, concedem à Organização Internacional do Trabalho um papel de extrema importância na construção do Direito Internacional do Trabalho. Os avanços das normas internacionais que contribuíram para que a OIT conseguisse ampliar a dimensão do Direto Internacional do Trabalho, como o Pacto 194 Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966, que estabeleceu um direito comum internacional na matéria, evidenciado em um tratado multilateral de hierarquia inquestionável. O referido Pacto estabeleceu diversos preceitos promocionais para a realização dos direitos sociais, ajudando a ampliar a dimensão das normas trabalhistas internacionais. Mas foi com a Declaração da OIT sobre os princípios e direitos no trabalho, estabelecida em 1998, que o Direito Internacional do Trabalho teve reconhecido o seu novo dimensionamento. O documento apresentou quatro princípios fundamentais do trabalho, os quais devem ser tratados com prioridade máxima, originando uma série de atividades junto aos países-membros para a concretização dos mesmos. Recentemente, no ano de 2008, após a instalação da crise econômica mundial, considerada por muitos de gravidade semelhante à de 1929, a Organização Internacional do trabalho consolidou o seu papel para um redimensionamento do Direito Internacional do Trabalho, ao proclamar a Declaração sobre a justiça social para uma globalização equitativa. Esta declaração une os ideais de uma legislação internacional, que permita a realização de uma verdadeira justiça social, com uma visão avançada do fenômeno econômico, social e jurídico, intitulado Globalização, analisando e trazendo novos objetivos para que se possa permitir que o mundo do trabalho continue evoluindo, ao mesmo tempo em que garanta um respeito total aos direitos fundamentais dos trabalhadores. O Direito Internacional do Trabalho passou a ser o responsável pela concretização dos direitos fundamentais dos trabalhadores, o realizando de forma efetiva, em âmbito global, realizando a proteção não apenas daqueles que exercem uma atividade laboral, mas também com seu lazer, suas famílias, a segurança das condições laborais, e também daqueles que são colocados em situações degradantes de trabalho (trabalho escravo e trabalho infantil). Além disso, as normas internacionais do trabalho também se preocupam com a seguridade social dos trabalhadores e com o futuro de seus empregos em um mundo globalizado. Assim, concluímos que a OIT teve um grande papel no redimensionamento do Direito Internacional do Trabalho, pois foi a partir da sua atuação na concretização deste que hoje pode ser considerado um direito comum da humanidade, na medida em que suas Convenções e Recomendações tornaram-se normas de direitos humanos fundamentais e garantidoras dos direitos dos trabalhadores em todo o mundo, contribuindo para que se estabeleçam relações de igualdades entre patrões e empregados, e caminhando para a realização da tão necessária justiça social. 195 6. Referências bibliográficas Constituição da Organização Internacional do Trabalho. Disponível em: <http://www.oit.org.br/sites/default/files/topic/decent_work/doc/constituicao_oit_538.pdf>. Acesso em 17 de nov. 2011. CRIVELLI, Ericson. Direito internacional do trabalho contemporâneo. São Paulo: Ltr, 2010. Declaração da OIT sobre a justiça social para uma globalização equitativa. Disponível em: <http://www.oit.org.br/sites/default/files/topic/oit/doc/declaracao_oit_globalizacao_213.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2011. DECLARAÇÃO da OIT sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho. Disponível em: <http://www.oit.org.br/sites/default/files/topic/oit/doc/declaracao_oit_547. pdf>. Acesso em: 17 nov. 2011. GORCZEVSKI, Clovis. Direitos humanos, educação e cidadania: conhecer, educar, praticar. Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2009, p. 163. KOCHI, Marines Ivanowski. Organização Internacional do Trabalho. In: MOZETIC, Vinícius Almada; RESINA, Judith Solé (Org.) Reflexões e dimensões do Direito: Uma cooperação internacional entre Brasil e Espanha. Curitiba: Multideia, 2011, p. 400-417. MAGANO, Octávio Bueno. Princípios do direito do trabalho e os avanços da tecnologia. In: SILVESTRE, Rita Maria.; NASCIMENTO, Amauri Mascaro (Org.). Os novos paradigmas do direito do trabalho: homenagem a Valentim Carrion. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 81-89. MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de direito internacional público. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. 196 Meireles, Gustavo Fernandes. O direito do trabalho no cenário internacional contemporâneo: produção e controle de normas no âmbito da Organização Internacional do Trabalho. 2011. 165 f. Monografia (Curso de Direito) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2011. NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Acelerar a acção contra o trabalho infantil. Lisboa: BIT, 2010. ______. Igualdade no trabalho: um desafio contínuo. Genebra: BIT, 2011. ______. Liberdade sindical na prática: lições a retirar. Genebra: BIT, 2005. ______. O custo da coerção. Genebra: BIT, 2009. ______. Para superar a crise: um pacto mundial para o emprego. Lima: OIT, 2009. ______. Prevenção e eliminação do trabalho infantil: guia para a ação governamental. Brasília: OIT, 2011. SILVA, Floriano Vaz da. Os princípios do direito do trabalho e a sociedade moderna. In: SILVESTRE, Rita Maria.; NASCIMENTO, Amauri Mascaro (Org.). Os novos paradigmas do direito do trabalho: homenagem a Valentim Carrion. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 137-146. SCHWINN, Simone Andrea. Proteção internacional dos direitos humanos: um breve estudo comparativo entre o sistema global e americano. 2011, 97 f. Monografia (Curso de Direito) – Universidade de Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul, 2011. SÜSSEKIND, Arnaldo. Direito internacional do trabalho. 3. ed. São Paulo: LTr, 2000. ______. Instituições de direito do trabalho, vol. 2. 20. ed. São Paulo: LTr, 2002. 197 MORTE LEGALIZADA: A ANÁLISE DO PLANO NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS Nº 03 (PNDH3) QUE DETERMINA A DESCRIMINALIZAÇÃO DO ABORTO DE NASCITUROS Juliana D’Ávila Martin75 Karina Meneghetti Brendler76 RESUMO O presente trabalho traz em sua base o desenvolvimento histórico dos direitos humanos e sua conquista, percebendo que os direitos protegidos em muitas constituições são frutos da luta pelo reconhecimento do homem detentor de direitos. Coloca-se em evidência a figura do nascituro como ente detentor de direitos protegidos pela Constituição Federal Brasileira de 1988, dentre eles o direito à vida. Tal proteção outorgada ao ente concebido, mas que ainda não nasceu é alvo de muitas discussões, pois alguns doutrinadores acreditam que o mesmo não possui personalidade e outros acreditam que desde a sua concepção já é ente dotado de personalidade. Nesta discussão acata-se a teoria concepcionista, pois se entende que o nascituro é pessoa, por já ser sujeito de vários direitos, estando condicionado apenas à adquirir a sua de fato capacidade com o nascimento com vida. Além da Constituição Federal, o Código Civil prevê a proteção do nascituro desde a concepção, impedindo a sua violação. Sabe-se que nenhuma norma inferior a Constituição Federal pode estar em desconformidade com a mesma. Acontece 75 Bacharel em Direito. E-mail: [email protected]. Especialista em Direito de Família e Mestrado em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul. Doutora em Direito com tese defendida pela Universidade de Burgos - Espanha. Docente do curso de direito da Universidade de Santa Cruz do Sul e Coordenadora de Estágios na mesma instituição, atuando principalmente no Direito de Família, Direitos Humanos e Direito da Infância e Juventude. E-mail: [email protected]. 76 198 que tramita no sistema jurídico brasileiro o Plano Nacional dos Direitos Humanos, nº 03 que visa a descriminalização da prática do aborto. Buscou-se responder ao questionamento se a legalização do aborto teria respaldo no ordenamento jurídico brasileiro e verificou-se que observando o principio da Dignidade da Pessoa Humana, e os pactos firmados, assim como a inviolabilidade da vida determinada no art. 5º da Constituição Federal, que aprovar o aborto no Brasil seria ato eivado de inconstitucionalidade. Uma forma alternativa à proteção dos direitos do nascituro é o Estatuto do Nascituro, projeto de lei que busca também aprovação, pois elenca os direitos já existentes do nascituro, ampliando a sua proteção, defendendo que o mesmo é um ser humano indefeso carecendo de total amparo. Para tal trabalho utilizou-se o método dedutivo. Palavras-chave: Aborto, Dignidade da Pessoa Humana, Nascituro, Plano Nacional dos Direitos Humanos nº 03, Direitos Humanos. 1. Introdução O presente trabalho busca realizar um estudo aprofundado a respeito dos direitos outorgados ao nascituro, indagando-se a inviolabilidade do direito à vida. Propõe-se, neste sentido, contribuir para a formação ideológica, jurídica e social, fundamentada no ordenamento jurídico, na doutrina acerca dos direitos fundamentais do nascituro, e a necessidade de defender a vida desde a sua concepção. Para tanto, o estudo se divide dividido em três partes, nas quais são abordados a história dos direitos humanos, a figura do nascituro no ordenamento jurídico brasileiro e especialmente a análise do Plano Nacional dos Direitos Humanos, que visa a descriminalização da prática do aborto. Entendendo que o homem merece proteção, surge a figura do ente concebido, mas que ainda não nasceu denominado nascituro, tendo, no ordenamento jurídico brasileiro, direitos protegidos antes de seu nascimento. Sobre esta figura, discute-se o início de sua personalidade, sendo necessário analisar as teorias existentes sobre o tema, se o mesmo é ente capaz de direitos, não podendo se ignorar a existência de direitos personalíssimos ao nascituro, nos quais são inerentes a pessoa humana, não podendo ser renunciáveis, muito menos violados. Neste particular, propõe-se o questionamento: Seria o PNDH-3 constitucional? A fim de responder tal questionamento, necessário analisar o que prevê o ordenamento jurídico brasileiro, e também o conceito de aborto, seu contexto histórico, 199 sua classificação, apresentando, por fim, o Estatuto do Nascituro, projeto de lei que visa tornar integral a proteção dos direitos do nascituro, colocando como objeto de políticas públicas que permitam seu desenvolvimento sadio e harmonioso. Tratar sobre o tema do aborto e as questões relativas ao direito do nascituro nunca será matéria de conteúdo esgotado, pois seus direitos cada vez mais sofrem com o avanço tecnológico; mas, acima de tudo, com o desleixo da sociedade para com os direitos humanos, que colocam em risco a dignidade da pessoa humana, tão defendida pelo sistema jurídico brasileiro. 2. A evolução histórica dos Direitos Humanos Os Direitos Humanos são frutos de um longo processo histórico, não sendo possível compreender sua conquista sem antes conhecer sua história e os fatos que contribuíram para o seu reconhecimento mundial. Ante o estudo, observa-se que a busca pela proteção dos direitos do ser humano jamais terá fim, pois, sendo os homens seres em evolução, a medida que novos acontecimentos surgem, tais como os avanços científicos e tecnológicos, deve-se voltar sempre os olhos para as conquistas históricas, a custa de sofrimentos físicos e morais que devem servir de exemplo para os demais. Neste sentido, leciona Comparato: [...] a compreensão da dignidade suprema da pessoa humana e de seus direitos, no curso da história, tem sido, em grande parte, o fruto da dor física e do sofrimento moral. A cada surto de violência, os homens recuam, horrorizados, à vista da ignomínia que afinal se abre claramente diante de seus olhos; e o remorso pelas torturas, pelas mutilações em massa, pelos massacres coletivos e pelas explorações aviltantes faz nascer nas consciências, agora purificadas, a exigência de novas regras de uma vida mais digna para todos. (COMPARATO, 2010, p. 50) A partir da visão de que o homem merece proteção, se travou uma luta constante para o reconhecimento de garantias inerentes a espécie humana. Foram conquistadas certas liberdades quando outorgada a Magna Charta, limitando o poder do Estado e alertando para a existência de direitos inerentes a pessoa humana, dentre eles o direito a liberdade: No embrião dos direitos humanos, portanto, despontou antes de tudo o valor da liberdade. Não, porém, a liberdade geral em benefício de todos, sem distinções 200 de condição social, o que só viria a ser declarado ao final do século XVIII, mas sim liberdades específicas – o clero e a nobreza -, com algumas concessões em benefício do ‘Terceiro Estado’, o povo. (COMPARATO, 2010, p. 58) De igual forma, com a Lei de Habeas Corpus, se garantiu a liberdade individual, tornando-se a matriz das garantias judiciais. Dentre os vários meios de libertar o cidadão inglês da prisão injusta, o habeas – que nasce como o instrumento de contenção do poder e do arbítrio pela sua eficiência, tornou-se o preferido. Consagrando o princípio da liberdade individual, determinava que o cidadão acusado fosse imediatamente apresentado para o julgamento público – pois que até então os nobres prendiam e faziam a própria justiça. (GORCZEVSKI, 2009, p. 11) Outra grande conquista foi adquirida posteriormente na Declaração de Direitos (Bill of Rigths), como o direito à vida, à liberdade, reafirmando os direitos fundamentais dos cidadãos, proibindo, inclusive, a aplicação de castigos cruéis e desumanos. Tais direitos também foram inseridos na Declaração de Virgínia, sendo o primeiro registro de nascimento dos direitos humanos da história, prevendo direitos independentes do sexo, cor, raça, religião e cultura (GORCZEVSKI, 2009, p. 119). Para assegurar estes direitos, os homens constituem Governos, derivando seus justos poderes do consentimento dos governados. Quando uma forma de governo se propõe a destruir estes fins, toca ao povo o direito de mudá-la ou aboli-la, e instituir um novo governo, baseado nesses princípios e organizando a sua autoridade na forma que seja de agrado do povo, como a mais conveniente para alcançar a segurança e a felicidade. (CARVALHO, 1998, p. 53) A Revolução Francesa ensejou na mudança de pensamento sobre os direitos humanos: com sua tríade famosa, liberdade, igualdade e fraternidade, conquistou inúmeros direitos que hoje encontram-se positivados no ordenamento jurídico brasileiro. Com o ideal de igualdade, a Revolução Francesa desencadeou o movimento de abolição das desigualdades sociais, que fez eclodir uma nova consciência de solidariedade e atenção aos grupos sociais economicamente desfavorecidos. Segundo Gorczevski (2009, p. 122), a Revolução Francesa foi um acontecimento político social de grande magnitude assinalando o início de uma nova era, adquirindo prerrogativas tais como: 201 [...] o princípio da modernidade, a separação do estado da igreja, a proclamação de um estado secular, a participação popular na administração do estado, a liberdade de imprensa, a igualdade de todos ante a lei, a educação pública e gratuita, a abolição da tortura, o início da emancipação feminina, a condenação da escravidão e, principalmente, a ideia de igualdade, liberdade e fraternidade proclamada na Declaração dos Direitos do Homem e do cidadão como os princípios que devem criar a vida de todos os homens. (GORCZEVSKI, 2009, p. 122) A Carta das Nações Unidas, com a criação da Organização Mundial da Saúde (ONU), firmou a responsabilidade pela manutenção da paz mundial e proteção do ser humano. Foi um importante marco histórico para os direitos humanos, alcançando a proteção ao homem à esfera mundial, unindo nações em busca do mesmo ideal, evitando sempre que possível as guerras, voltando suas preocupações para a proteção dos direitos humanos. A ONU, através da criação do comitê de Direitos Humanos, passou a amparar os direitos humanos essenciais, dentre eles o direito à vida, convocando todas as nações à defesa da dignidade da pessoa humana (CARVALHO, 1998, p. 60): [...] ao lado de preocupações de evitar a guerra e manter a paz e a segurança internacional, a agenda internacional passa a conjugar novas e emergentes preocupações, relacionadas à promoção e proteção dos direitos humanos. A coexistência pacífica entre os Estados, combinada com a busca de inéditas formas de cooperação econômica e social e de promoção universal dos direitos humanos, caracterizam a nova configuração da agenda da comunidade internacional. (PIOVESAN, 2010, p. 135) Por fim, conclui Piovesan (2010, p. 35) que “A Carta das Nações Unidas de 1945 consolida o movimento de internacionalização dos Direitos Humanos, a partir do consenso de Estados que elevam a promoção desses direitos a propósito e finalidade das Nações Unidas”. Sendo consequência de toda essa evolução histórica, a Declaração Universal dos Direitos Humanos consagrou os direitos inerentes a pessoa humana em âmbito universal, instituindo sistemas de proteção a fim de responsabilizar as nações que não zelassem pela dignidade da pessoa humana (GORCZEVSKI, 2009, p. 152). O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos é exemplo dessa proteção, pois proclamou o direito à vida, como bem inerente a pessoa humana, assegurando sua integridade física, moral e psíquica (CARVALHO, 1998, p. 55). 202 Sobre a Declaração Universal, conclui Bobbio (1992, p. 34) que está longe de ser um fim, uma conclusão na luta pelos direitos humanos; ela representa a consciência histórica adquirida pela humanidade dos seus próprios valores fundamentais, sendo a síntese do passado e uma aspiração de futuro, concluindo que “as suas tábuas não foram gravadas de uma vez para sempre”. No Brasil, até se chegar a consagrar a dignidade da pessoa humana como princípio basilar de todo o ordenamento jurídico nacional, teve-se que atravessar um período marcado por épocas de instabilidade, oscilando entre o progresso e o retrocesso, principalmente sobre os direitos e garantias fundamentais. Assim como a luta pela conquista dos direitos humanos no mundo foi glorificada a duras penas e através da hecatombe de grandes heróis anônimos, também a incorporação dos direitos humanos nas Constituições brasileiras foi um árduo desafio aos que acreditavam nestes ideais. (GORCZEVSKI, 2009, p. 181) Como corolário, o Estado instaura o regime político democrático no Brasil e promulga a Constituição Federal de 1988, que representou um elevado avanço na consolidação dos direitos humanos e garantias fundamentais. A Carta consagra em seu texto o mais abrangente e pormenorizado rol de garantias sobre os direitos humanos jamais adotados no Brasil, possibilitando, desta forma, o progresso de reconhecimento de obrigações internacionais relativas aos Direito Fundamentais (PIOVESAN, 2010). Em maio de 1996, é instituído no Brasil, o “Programa Nacional dos Direitos Humanos” (PNDH), com o objetivo de identificar e superar os principais obstáculos à promoção e à defesa dos direitos humanos, por meio da criação de políticas públicas observando o disposto no artigo 5º da Constituição Federal de 1988. As questões relativas aos Direitos Humanos passam a ser responsabilidade da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, sendo amparadas pelo Decreto nº 4229, criado para ampliar as atribuições do Programa Nacional dos Direitos Humanos (GORCZEVSKI, 2009). Este plano foi instituído pelo então Presidente da República Federativa do Brasil, Fernando Henrique Cardoso e, consecutivamente, em março do ano seguinte, estabeleceu-se a Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, órgão responsável pela implantação de uma nova política em defesa dos direitos fundamentais do homem. Neste período, mostrou-se grande preocupação em fazer com que o Brasil compreendesse e assumisse os princípios acerca da proteção dos direitos humanos como próprios do governo brasileiro, pois se busca evitar que os atos deploráveis vividos outrora voltem a fazer parte do cenário patriarca (CARVALHO, 1998, p. 384). 203 3. A figura do nascituro no ordenamento jurídico brasileiro À luz de toda a construção histórica a respeito da dignidade da pessoa humana, e sua proteção no âmbito nacional e internacional, surge a figura do nascituro, ente concebido, mas que ainda não nasceu, sendo passível de proteção, ainda estando no vente da mãe. Almeida (1996, p. 55) leciona que, para parte da doutrina, o nascituro é tido como “ser humano concebido, com a formação do zigoto, que é a célula reprodutora resultante da fusão de dois gametas de sexo oposto” e, para outros, é considerado nascituro “o ente após o 14º dia da concepção, que seria o momento de a concepção tornar-se estável”. A legislação brasileira adotou a teoria de que o nascituro se constitui no momento da concepção, sendo desta forma protegido pelo Estado os direitos daquele que ainda não nasceu, conforme estabelece o art. 2º do Código Civil de 2002: “A personalidade civil do homem começa com o nascimento com vida; mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro”. Essas considerações a respeito do nascituro são fruto de muitas discussões doutrinárias, principalmente no que diz respeito a ser ele considerado pessoa desde a sua concepção. Quando analisada a primeira afirmação do artigo, explica Chaves (2000, p. 29), que o feto vive desde a concepção, mas falta a existência individual, sendo este sujeito detentor de direitos, sendo-lhe atribuída a personalidade jurídica, pois que inexiste direito sem sujeito. Em relação a segunda parte, entende-se que a real figura do ente concebido mas que ainda não nasceu é de titular de direitos subordinada a uma condição suspensiva (nascer com vida), pois se essa condição não vir a se realizar no mundo jurídico o mesmo não irá adquirir nenhum direito. Venosa (2008, p. 134) explica claramente a importância de se determinar a personalidade: “A questão do inicio da personalidade tem relevância porque, com a personalidade, o homem se torna sujeito de direitos”. Ou seja, caso seja considerado homem, entendem os seguidores de uma das teorias a cerca do início da personalidade civil, que deve ser atribuído ao nascituro a personalidade civil, pois este possui direitos e respaldo no ordenamento jurídico; se não fosse considerado pessoa, não se admitiria a concessão de direitos, pois como afirma Lisboa (2002, p. 203): “Juridicamente, pessoa é a entidade dotada de personalidade à qual o ordenamento confere direitos e obrigações”. Neste mesmo sentido, dispõe Venosa (2008, p. 123) quando à disciplina que o direito regula e ordena a sociedade. Não existe sociedade sem direito, não existe direito 204 sem sociedade. É, pois, incisivo ao afirmar que a sociedade é composta de pessoas, e são essas pessoas que a constituem. Os animais e as coisas podem ser objeto de direito, mas nunca serão sujeitos de direito, atributo exclusivo da pessoa. 3.1 Teorias a respeito da personalidade Com o intuito de buscar o momento exato em que o ser humano adquire a personalidade civil, os doutrinadores brasileiros se dividem em correntes, ou teorias atribuindo o início da personalidade, dando azo a duas importantes teorias: sendo uma dita como natalista, que atribui a personalidade apenas ao ente que nasce vivo, e a outra, concepcionista, afirmando existir a personalidade desde a concepção do novo ser, já sendo este sujeito de direitos (SEMIÃO, 1998, p. 33). Para a escola natalista, então, o nascituro não tem vida independente; é parte das vísceras maternas. Argumentam que inclusive na fase gravídica, a mãe e o filho nascituro chegam a manter um órgão comum a ambos, que é a placenta. Pode-se dizer que a placenta é um órgão misto, pois é formada em parte por tecido do infans conceptus e em parte por tecido materno. Nela os vasos sanguíneos do nascituro e da gestante ficam muito próximos, permitindo a entrada de alimentos e oxigênio para ele e a saída de ureia e de gás carbônico para a mãe. (SEMIÃO, 1998, p. 42) Por sua vez, a teoria concepcionista, continua Simeão (1998, p. 42), afirma que “a personalidade civil do homem começa a partir da concepção, ao argumento de que tendo assegurado ao nascituro, certos direitos, deve ser considerado pessoa, uma vez que só a pessoa é sujeito de direitos, ou seja, só a pessoa tem personalidade jurídica”. Simeão complementa acerca dos argumentos da doutrina concepcionista: Arremata a doutrina concepcionista com o argumento de que, em face do tratamento dispensado ao nascituro pelo Direito Penal e pelo Direito Civil, há que se reconhecer a sua personalidade civil, uma vez que essas legislações calculam a existência desde a concepção, para atribuir-se, desde então, direito ao homem, sendo assim irrecusável que a começar desse momento ele é sujeito de direitos e, portanto, pessoa. (SEMIÃO, 1998, p. 40) Os concepcionistas, depois de terem analisado a proteção que hoje é dispensada ao nascituro, obtiveram a seguinte conclusão: “sendo ele titular de inúmeros direitos, 205 deve ser considerado pessoa pela ordem jurídica, não havendo razão de ser a objeção feita pelos partidários da doutrina natalista” (SEMIÃO, 1998, p. 38). Entre os direitos está o direito à vida, bem supremo tutelado pelo sistema jurídico, atribuído a todos os seres humanos, não podendo o próprio detentor dispor, renunciar. Ora, se a mãe não pode dispor de seu próprio corpo, como poderia ela dispor da vida de seu próprio filho que irá nascer? (SEMIÃO,1998, p. 36). Chaves (2000, p. 34) ante as considerações a respeito das teorias sobre o início da personalidade, argumenta que a teoria concepcionista, na qual atribui personalidade ao nascituro desde o momento de sua concepção, possui maior razão visto que protege à vida humana desde o seu início, considerando o ser humano como pessoa, sujeito de direitos. 3.2 A personalidade civil no ordenamento jurídico brasileiro Depois de verificados os fundamentos históricos e as teorias a respeito da personalidade civil, cabe agora, à doutrina, baseados no estudo sucinto de cada teoria, contribuir com suas considerações a respeito da personalidade, que não se confunde com o conceito de pessoa. Conforme explica Lisboa (2002, p. 175): “Todo ser humano é dotado de personalidade, assim como a pessoa jurídica, desde o início de sua existência. Não se confunde, porém, a personalidade com a pessoa, uma vez que aquela é atributo desta”. Monteiro conceitua a personalidade como fruto do conjunto das capacidades. Neste sentido, entende Venosa (2008, p. 124) que a capacidade jurídica é quem dá a extensão da chamada personalidade, sendo esta terminologicamente genérica, “assim, ao conjunto de poderes conferidos ao ser humano, para figurar nas relações jurídicas, dá-se o nome de personalidade”. Já Lisboa dispõe que (2002, p. 175): Personalidade, na acepção clássica, é a capacidade de direito ou de gozo da pessoa de ser titular de direitos e obrigações, independentemente de seu grau de discernimento, em razão de direitos que são inerentes à natureza humana e em sua projeção para o mundo exterior. Como visto, atualmente a simples circunstância do existir já se considera possível ao ser humano, ser titular de direitos, sendo este dotado de personalidade (RODRIGUES, 2003, p. 35). O ente concebido, mas que ainda não nasceu, é detentor de direitos, estes inerentes a condição de pessoa, que devem ser preservados ante qualquer direito, conforme o pensamento de Diniz: 206 [...] o direito da pessoa de defender o que lhe é próprio, como a vida, a identidade, a liberdade, a imagem, a privacidade, a honra, etc. É o direito subjetivo, convém repetir, de exigir um comportamento negativo de todos, protegendo um bem próprio, valendo-se de ação judicial. Como todos os direitos da personalidade são tutelados em cláusula pétrea constitucional, não se extinguem pelo seu não uso, nem seria possível impor prazos para a sua aquisição ou defesa. (DINIZ, 2005, p. 123) A construção a respeito do início da personalidade civil funde-se na análise das previsões legais que resguardam os direitos do nascituro, pois, lhe atribuindo direitos, coloca-o como detentor da personalidade, cuja mesma acaba por materializar-se na capacidade do ser humano em adquirir direitos, resumidamente, sem personalidade não existe a capacidade. Almeida assim conclui que: Não há meia personalidade ou personalidade parcial. Mede-se ou quantifica-se a capacidade, não a personalidade. Por isso se afirma que a capacidade é a medida da personalidade. Esta é integral ou não existe. (ALMEIDA, 2000, p. 168) O conceito de personalidade está intimamente ligado ao conceito de pessoa; já o conceito de pessoa é condição primordial para a existência do direito, pois sem o sujeito, não existe o direito, sendo impossível outro ser sujeito de direito senão aquele que possui a qualidade de pessoa. Assim, o nascituro é pessoa dotada de personalidade tendo a sua capacidade limitada, vindo a ser plena apenas com o seu nascimento com vida (MONTEIRO, 2007, p. 61). 3.3 Os direitos personalíssimos do nascituro Os direitos outorgados a pessoa do nascituro já elencados são tidos como direitos personalíssimos. Visam resguardar a dignidade da pessoa humana, sendo irrenunciáveis, adquiridos no instante da concepção a fim de proteger o ser humano contra possíveis violações. Dentre eles, destaca-se o direito à vida, pressuposto de todos os demais direitos. Lisboa (2002, p. 176) afirma que “todos os direitos da personalidade decorrem da existência, ainda que pretérita, da vida”, sendo o mesmo pensamento de Pereira no que tange ao direito personalíssimo do nascituro: [...] o principio contido na Constituição de 1988, segundo o qual o primeiro dos direitos individuais inscreve “inviolabilidade do direito à vida”, sendo 207 descabido argumentar que tal direito somente seria reconhecível se referisse à vida extrauterina, ou subordinado ao nascimento. (PEREIRA, 1997, p. 290) Os direitos personalíssimos estão expressos no Capítulo II do Código Civil, denominados de Direitos da Personalidade tendo suas características elencadas no art. 11: “Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária”. Pereira (1997, p. 25-26) afirma serem além de intransmissíveis e irrenunciáveis, “inalienáveis, vitalícios, extrapatrimoniais, imprescritíveis, impenhoráveis, e como tais oponíveis erga omnes”. Conforme Diniz (2005, p. 192), “a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro”, sendo eles: o direito à vida, à filiação, à integridade física, à alimentos, a uma adequada assistência pré-natal, à representação, a um curador que o represente e zele pelos seus interesses, em caso de incapacidade ou impossibilidade de seus genitores de receber herança, à ser contemplado por doação, à ser adotado, à ser reconhecido como filho, à ter legitimidade ativa na investigação de paternidade entre outros. Lisboa (2002, p. 179) vai mais além e afirma que o direito à vida não é um direito personalíssimo, mas sim pressuposto de existência dos demais direitos personalíssimos. Diante de sua grandeza, Elias (2005, p. 08) confirma que: “O direito à Vida é, sem dúvida, o mais importante de todos, uma vez que sem ela não há de cogitar de outros direitos, pela falta de seu titular”. A respeito do direito à vida, contribui Pereira: À vista de outros conceitos, entretanto, a matéria merece ponderação. Se a lei põe a salvo os direitos do nascituro desde a concepção, é de se considerar que o seu principal direito consiste no “direito à própria vida” e esta seria comprometida se à mãe necessitada fossem recusados os recursos primários à sobrevivência do ente em formação em seu ventre. (PEREIRA, 1997, p. 290) Chaves utiliza-se da seguinte argumentação: A vida é o bem fundamental, base de todos os direitos do homem, tendo o Estado o dever de garantir, por todos os meios e formas, o respeito a ela desde o seu início, principalmente porque o nascituro, cujo nascimento se espera, é um ser ainda fraco e indefeso que necessita de proteção para o seu completo desenvolvimento, vindo a realizar seus interesses nas relações sociais. (CHAVES, 2000, p. 13-14) 208 O direito fundamental à vida, devidamente positivado no âmbito nacional e internacional, como já explanado, é consequência de inúmeras conquistas, conseguindo introduzir o ser humano no centro das relações jurídicas, ou seja, “a pessoa vale pelo que é, e não pelo que tem”, e após a mudança de enfoque, onde se colocou definitivamente os direitos humanos como luzeiro para o ordenamento jurídico brasileiro, é que o direito da personalidade ganhou espaço “merecendo ser repensados a partir da tutela primordial que deve ser conferida à pessoa e aos direitos inexoravelmente nela imbricados” (CANTALI, 2009, p. 21). Disso, conclui-se que o nascituro, apesar da discussão existente a respeito da personalidade e capacidade, é detentor de direitos personalíssimos inerentes a pessoa humana, tendo como primordial a sua proteção contra a inviolabilidade do direito à vida. Nessa trilha segue o próximo ponto, que visa abordar as diretrizes do projeto de lei que objetiva a descriminalização da prática do aborto, a fim de tornar o Brasil legalmente a favor da interrupção da gestação. 4. A análise do Plano Nacional dos Direitos Humanos Três – PNDH3 Demonstrada a figura do nascituro e a sua proteção no ordenamento jurídico brasileiro, coloca-se em pauta o Plano Nacional dos Direitos Humanos nº 03, no que tange a descriminalização do aborto no Brasil e sua viabilidade através do Sistema Único de Saúde. Conforme estabelece o Objetivo Estratégico III do Decreto n. 7.037, de 21 de dezembro de 2009, alínea “g”, Deve-se: [...] Considerar o aborto como tema de saúde pública, com a garantia do acesso aos serviços de saúde (Redação dada pelo Decreto nº 7.177, de 12.05.2010). Recomenda-se ao Poder Legislativo a adequação do Código Penal para a descriminalização do aborto. Sabe-se que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º caput, determina a inviolabilidade do direito à vida, direito este dito como personalíssimo, inerente a pessoa humana. Seguindo o mesmo entendimento constitucional é que o Código Civil Brasileiro de 2002, em seu art. 2º, estabelece a proteção dos direitos do nascituro desde a sua concepção no útero materno. Neste contexto, coloca-se em discussão se este novo Plano Nacional dos Direitos Humanos – PNDH3, determinando a descriminalização do aborto, é perfeitamente constitucional. 209 4.1 Conceitos de aborto A medicina estabelece que a vida humana inicia-se com a união do óvulo ao espermatozoide, determinando, consequentemente, o estado gravídico desde a concepção até o rompimento do saco amniótico. O aborto, neste cenário, consiste na interrupção da gravidez em um estágio de desenvolvimento intrauterino, cujo feto não teria capacidade de vida fora do útero materno, pois apesar de nada mais ser acrescentado a ele após a sua concepção, necessita de suprimentos para o seu total desenvolvimento. Com a fusão dos gametas, constitui-se uma unidade bem estruturada que, pela transmissão dos caracteres hereditários paternos e maternos, tem suas características determinadas: sexo, grupo sanguíneo, fator Rh, cor dos olhos, da pele, dos cabelos, até mesmo o porte, traços psicológicos, de temperamento e etc. (ALVES, 1982, p. 23) Assim complementa Almeida: O desenvolvimento do nascituro, em qualquer dos estágios – zigoto, mórula, blástula, pré-embrião, embrião e feto, representa apenas um continuum, do mesmo ser, que não se modificará depois do nascimento, mas apenas cumprirá as etapas posteriores de desenvolvimento, passando de criança a adolescente, e de adolescente a adulto. (ALMEIDA, 2000, p. 300) Neste sentido, questiona Alves (1982, p. 04): “São todas, etapas da mesma vida. Em qual delas será lícito destruí-la? No caso do abortamento podemos dizer que, de certa forma, é a pior, pois se mata covardemente alguém que não tem qualquer possibilidade de defesa”. 4.2 A classificação do aborto Há duas classificações para o aborto: espontâneo ou provocado. O aborto é tido como espontâneo quando ocorre de maneira involuntária, em virtude de deficiências advindas da patologia materna, ou do próprio feto, podendo ser de ordem genética, infecciosa, física ou química. Brandão (1999, p. 27) lecionada que o aborto espontâneo “é uma situação preocupante para o médico que, consciente de sua missão, emprega todos os seus conhecimentos no sentido de salvar a vida do concepto”. São, em verdade, situações específicas que incidem na morte do concepto tornando-a quase que inevitável, como a existência de patologias graves associadas 210 com a gravidez, por exemplo, o tratamento de carcinoma do colo uterino. A medicina adverte que em nenhum momento visa-se a eliminação do embrião, no entanto, com os procedimentos utilizados para a cura da doença da mãe, o feto é indiretamente atingido, advindo em uma consequência não procurada, mas já prevista (BRANDÃO, 1999, p. 27-28). Por outro lado, o aborto provocado é modalidade de interrupção da gravidez resultado de manobras praticadas deliberadamente, com o fim de provocar a morte do concepto, diferenciando-se do aborto resultante de procedimentos para salvar a vida da gestante, pois neste visa-se a expulsão do produto da concepção intencionalmente (BRANDÃO, 1999, p. 28). Alves (1999, p. 220) complementa conceituando esta espécie de aborto como sendo “a morte provocada e premeditada de um ser humano inocente”. O aborto provocado, conforme classificação de Alves (1999, p. 204), consiste em acidental, legal ou permitido e criminoso. Acidental é o aborto que “decorre de acidentes diversos, traumatismos de que pode padecer a gestante.” O aborto tido como legal ou permitido são modalidades pelo ordenamento jurídico autorizadas. É o caso da gravidez decorrente de estupro e a gravidez que coloca em risco à vida da gestante. Por fim, criminoso é o aborto intencional, onde qualquer pessoa intervém a fim de interromper a gestação, impedindo o nascimento do ente concebido. Atualmente, em virtude dos avanços da medicina, Brandão (1999, p. 29) afirma que a hipótese do aborto necessário deve ser refutada, pois uma conduta médica, atualizada, dotada de conhecimentos técnicos e científicos, é capaz de salvar não só a vida da gestante, mas de igual forma a vida do concebido, tendo como regra geral o bom êxito no procedimento e, como exceção, o insucesso decorrente de causas próprias e imprevisíveis. Além disso, o aborto não é isento de riscos e, muitas vezes, conforme explica Brandão, o próprio abortamento é causador da morte da gestante doente. Severa crítica Brandão (1999, p. 30) sobre a colocação do aborto de fetos com má-formação na categoria de aborto terapêutico/permitido. Ora, sacrificar o nascituro por sua deficiência genética, absolutamente não se enquadra com o delicado problema em salvar a vida de ambos que está posta em risco. Neste caso, evita-se o nascimento de uma criança portadora de genes patogênicos e defeitos congênitos, como, por exemplo, a eliminação de um feto cuja mãe contraiu rubéola, estando o feto fadado a nascer doente, ou então o feto anencéfalo, cuja expectativa de vida é curta. Nestes casos, deveriam tratar como aborto eugênico, tão condenado no passado, mas que hoje infelizmente apontam como um retrocesso na conquista dos direitos da pessoa humana. 211 Brandão (1999, p. 26) afirma que o grande problema existente no aborto provocado está ligado à defesa ou não da vida do nascituro, porque lhe é conferida uma situação de réu sem crime e sem direito a julgamento e defesa legal. Destruir intencionalmente uma vida humana ainda no ventre materno vai contra a finalidade da medicina, que deve atuar na qual luta contra qualquer agressão à vida, sendo esta respeitada tal como principio básico ético do exercício da sua profissão (BRANDÃO, 1999, p. 31). 4.3 Espécies de meios abortivos Os meios abortivos existentes podem ser divididos em químicos e físicos. Os denominados químicos são divididos em inorgânicos e orgânicos. O aborto químico realiza-se por meio de intoxicação grave da mulher, com a introdução, em seu corpo, pela corrente sanguínea, de substâncias inorgânicas constituídas por qualquer elemento químico exceto o carbono (fósforo, compostos de sódio, sais de cobre) ou orgânicas sendo compostos químicos contendo carbono na sua composição (louro, arruda, cânfora) (ALVES, 1999, p. 202). Outro meio utilizado é o aborto decorrente de procedimentos físicos, podendo ser mecânico, térmico e elétrico. Utilizando-se dos meios mecânicos, o aborto pode ser realizado por meio de sucção dos bicos dos peitos; aplicação de sanguessugas, quedas voluntárias, compressão do abdômen, irritação do colo do útero, curetagem. Por meios térmicos, aplica-se gelo ou compressas quentes no hipogástrio ou pedilúvios quentes. Nos meios elétricos, aplica-se corrente elétrica no colo do útero ou nos bicos dos peitos (ALVES, 1999, p. 202). Alves (1999, p. 223) comenta alguns métodos abortivos mais conhecidos, especificando o seu procedimento: pelo método da curetagem, o feto é expulso por meio de raspagem da mucosa uterina dilacerando e esquartejando a criança, certificando sua morte na montagem das partes do corpo como em um quebra-cabeça; pelo método de aspiração, “a criancinha é aspirada junto com a mucosa uterina, transformando-se numa massa de tecido e sangue, quase não sendo possível identificar-se as partes fetais”. Por fim, o terceiro método de Injeção salina: [..] consiste na injeção de uma certa quantidade de solução salina hipertônica no líquido amniótico, no interior do qual a criança se movimenta normalmente. A solução salina hipertônica injetada sob a pele de qualquer pessoa, no tecido celular subcutâneo, provoca forte dor e necrose do tecido, seguindo-se de ferida e escara. Injetada no interior do líquido amniótico, provoca verdadeiras quei- 212 maduras na criança por fora e por dentro pois ela deglute o líquido amniótico – matando-a aos poucos, sendo, algumas vezes, eliminada ainda viva para acabar de morrer fora do útero. (ALVES, 1999, p. 223-224) Os métodos abortivos visam tão somente a retirada da vida humana, podendo ser utilizados desde o início até o final da gravidez. Alves (1999, p. 225) afirma que é “incontestável que o aborto é uma ação contra a vida, é atentado contra uma existência humana. Afirmar contrariamente é falsear a verdade para justificar atos ‘convenientes’ às difíceis circunstâncias do momento”. 4.4 A Constituição Federal e o princípio da dignidade da pessoa humana Promulgada em 1988 a Constituição Federal, em seu preâmbulo destina-se a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Conforme Silva (2009, p. 45), “a constituição se coloca no vértice do sistema jurídico do país, a que confere validade, e que todos os poderes estatais são legítimos na medida em que ela os reconheça e na proporção por ela distribuídos”. Para Moraes (2004, p. 38), a Constituição deve ser entendida como: [...] lei fundamental e suprema de um Estado, que contém normas referentes à estruturação do Estado, à formação dos poderes públicos, forma de governo, e aquisição do poder de governar, distribuição de competências, direitos, garantias e deveres dos cidadãos. Além disso, é a Constituição que individualiza os órgãos competentes para a edição de normas jurídicas, legislativas ou administrativas. Para alcançar os seus objetivos, a Constituição Federal de 1988 é formada por princípios que são denominados como ordenações que irradiam e imantam os sistemas de normas. Neste sentido, entende-se que infringir um princípio é muito mais grave que infringir uma norma. Podem ser discriminados como princípios relativos à forma e tipos de estrutura de Estado; forma de governo e organização; organização da sociedade; ao regime político; a prestação positiva do Estado; e princípios relativos a comunidade internacional (SILVA, 2009). Neste sentido, aduz Carvalho: 213 [...] os princípios expressam valores fundamentais adotados pela sociedade política (função axiológica), vertidos no ordenamento jurídico, e informam materialmente as demais normas, determinando integralmente qual deve ser a substância e o limite do ato que os executam. (CARVALHO, 2006, p. 433) O Estado Brasileiro, segundo o art. 1º da Constituição Federal, tem como fundamento a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre-iniciativa e o pluralismo político. A partir desta base, surgem princípios tais como princípio do Estado soberano; o principio da livre organização social; o princípio da dignidade da pessoa humana; o principio da não discriminação; o principio do repúdio ao terrorismo e ao racismo, e o principio do respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana (SILVA, 2009, p. 94-95). Conforme aduz Paulo: A dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil consagra, desde logo, nosso Estado como uma organização centrada no ser humano, e não em qualquer outro referencial. A razão de ser do Estado Brasileiro não se funda na propriedade, em classes, em corporações, em organizações religiosas, tampouco no próprio Estado, mas sim na pessoa humana. (PAULO, 2011, p. 94) Sobre a dignidade da pessoa humana, complementa Carvalho: A dignidade da pessoa humana decorre do fato de que, por ser racional, a pessoa é capaz de viver em condições de autonomia e de guiar-se pelas leis que ela própria edita: todo homem tem dignidade e não um preço, como as coisas, já que é marcado, pela sua própria natureza, como fim em si mesmo, não sendo algo que pode servir de meio, o que limita, consequentemente, o seu livre arbítrio. (CARVALHO, 2006, p. 462-463) Logo, não se pode falar em princípios sem voltar os olhos para o princípio da dignidade da pessoa humana, pois é um valor supremo, sendo fonte de todos os outros direitos fundamentais do homem. Está a salvo em virtude de sua existência o direito à vida, não apenas no seu sentido biológico, mas se estendendo a sua acepção biográfica mais compreensiva. É ser de uma riqueza significativa e de difícil compreensão “porque é algo dinâmico, que se transforma incessantemente sem perder sua própria identidade” (SILVA, 2009, p. 197). 214 Neste sentido, em 24 de setembro de 1990, foi ratificado pelo Brasil a Convenção sobre os Direitos da Criança (1989), onde: “a criança, em razão de sua falta de maturidade física e mental, necessita proteção e cuidados especiais, incluindo proteção jurídica apropriada antes e depois do nascimento” (ALMEIDA, 2000, p. 299). Observando de igual forma, o exposto no Pacto São José da Costa Rica ou Convenção Americana de Direitos Humanos (1969), ratificado pelo Brasil em 25 de setembro de 1992 ingressando no direito interno pelo Decreto n. 678, de 6 de novembro de 1992, torna-se inadmissível qualquer norma criada no intuito de ferir o direito do nascituro à vida, pois, como expresso no capítulo II – dos Direitos Civis e Políticos: “Toda pessoa tem direito a que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente” (ALMEIDA, 2000, p. 299). Ante o exposto, entende-se que a proteção ao nascituro contra o aborto funde-se no princípio da dignidade da pessoa humana, pois não se pode negar o direito à vida a nenhum ser humano, devendo preservar, desta forma, a sua integridade antes e após o nascimento de um novo ser. 4.5 Controle de Constitucionalidade Faz parte da essência da Constituição ser limitadora dos poderes públicos. Logo, todas as normas devem estar e andar de acordo com ela. Devido ao princípio da supremacia da constituição, a mesma atua como luzeiro para demais normas, controlando a constitucionalidade das normas inferiores, encontrando o legislador em sua supremacia o limite, devendo obedecer à forma e ao conteúdo determinado por ela. Por isso, o ato normativo contrário ao texto constitucional será considerado presumidamente constitucional até que por meio de mecanismos previstos constitucionalmente se declare sua inconstitucionalidade e, consequentemente, a retirada de sua eficácia ou executoriedade. (DINIZ, 2001, p.15) O Controle de Constitucionalidade atua como forma de garantir que os direitos fundamentais constitucionalmente protegidos não sejam violados por norma hierarquicamente inferior ao princípio da dignidade da pessoa humana, verificando a adequação de determinada lei ou ato normativo com os liames da Constituição Federal, tanto nos “aspectos formais quanto nos materiais” (CARVALHO, 2006, p. 318). 215 4.6 O Estatuto do Nascituro Apresentado à luz da Constituição Federal, surge o Estatuto do Nascituro, projeto de lei de autoria do Deputado Luiz Bassuma, que trata da interrupção da gravidez como algo inadmissível no sistema jurídico brasileiro, pois o ente já concebido é portador de direitos que não podem sofrer qualquer lesão, visando alterar o Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 e a Lei nº 8.072, de 1990. Como justificativa, seus autores pretendem tornar integral a proteção ao nascituro, realçando-se, assim “o direito à vida, à saúde, à honra, à integridade física, à alimentação, à convivência familiar” e a proibição de “qualquer forma de discriminação que venha a privá-lo de algum direito em razão do sexo, da idade, da etnia, da aparência, da origem, da deficiência física ou mental, da expectativa de sobrevida ou de delitos cometidos por seus genitores” (BRASIL. Projeto de Lei n. 478, de 19 de março de 2007). Preconiza o referido projeto que, portanto, é dever da família, sociedade e do Estado: [...] assegurar ao nascituro, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, ao desenvolvimento, à alimentação, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à família, além de colocá-lo a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (BRASIL. Projeto de Lei n. 478, de 19 de março de 2007) Um ponto importante no Estatuto encontra-se no artigo 7º, que determina: “O nascituro deve ser objeto de políticas sociais públicas que permitam seu desenvolvimento sadio e harmonioso e o seu nascimento em condições dignas de existência”, consistindo, dentre outros atos, no acompanhamento de mulheres grávidas decorrente de violência sexual, fornecendo tratamento psicológico, assistência pré-natal, direito a pensão até a criança completar 18 anos e direito prioritário à adoção, caso a mãe não queira assumir a criança após o nascimento (BRASIL. Projeto de Lei n. 478, de 19 de março de 2007). O presente estatuto vem contra o argumento de que não se pode outorgar direitos ao nascituro, pois o mesmo não possui personalidade. Bem explica Simeão (1998, p.148-149) que “uma coisa é a personalidade civil do homem começar do nascimento com vida, outra coisa é considerar que a vida do nascituro não seja humana e não mereça proteção”. Se não se considerar que o concebido é um ser humano, estará 216 rebaixando-o a qualidade de coisa, indo contra à natureza do homem enquanto homem e a verdade real, que deve ser protegida pelo Direito, enquanto filosofia social. Sobre a legalização do aborto, Alves aduz que (1999, p. 225): Por mais dramáticas que sejam as circunstâncias arroladas - como perigo de práticas clandestinas, doença da mãe, família numerosa, promiscuidade, pobreza, miséria, desonra, violência, incesto, estupro, malformações fetais, explosão demográfica, etc. - não se justifica a legalização do abortamento voluntário, pois seria legalizar um ato de violência premeditado. Impossível não concordar com o argumento de Semião (1998, p. 149), no sentido de que atualmente não se pode admitir que as mulheres não saibam prevenir-se contra a gravidez, pois vários são os meios disponíveis e tecnologias que garantem a mulher o controle sobre a sua fertilidade. Então, nesta ótica, é dever do Estado disponibilizar políticas públicas, conforme o art. 6º da Constituição Federal, a fim de fornecer tecnologia e informações necessárias para o planejamento familiar ou controle de seu próprio corpo, prevenindo-se de eventual concepção. Na visão de Nogueira (1995, p. 05), sobre a legalização do aborto, é redundante pensar que um país que condena a pena de morte, pois a considera como violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, protegendo um criminoso “calculista e insensível”, seja capaz de fechar os olhos para os “milhões de seres humanos que são condenados a pena de morte por sua mãe ou com o seu consentimento”, defendendo a licitude de um ato tão cruel, que desrespeita e viola o direito à vida de seu semelhante. Nenhum problema social é insolúvel quando existe vontade pública para resolvê-lo, o que poderá ocorrer com união de forças e destinação justa de recursos. E o que está faltando em nosso país é vontade pública para resolver vários problemas sociais, que vão sendo colocados à margem, enquanto obras suntuosas, que rendem dividendos aos inescrupulosos, são realizadas como prioridade. (NOGUEIRA,1995, p. 08) Certamente, através de uma divisão justa de recursos, planejamento voltado a saúde da mulher e do concebido, encarando de uma vez por todas o problema do aborto no Brasil, a vida de milhares de crianças seria preservada da atrocidade que consiste a prática do aborto. Por fim, não se pode negar que o Estado tem o dever 217 de proteger o direito à vida do nascituro, pois apesar das discussões a respeito da sua personalidade, é um novo ser humano, “[...] é o homem na antessala da vida social” (SEMIÃO, 1998, p. 150). Não se pode negar a atrocidade que consiste o ato de abortar. O Estado, detentor da soberania e articulador das relações sociais, possui o dever de controlar a legalidade dos projetos de lei em tramite no legislativo brasileiro. Ante o exposto, conclui-se que está nas mãos do sistema jurídico brasileiro zelar pela vida com os olhos voltados para o princípio da dignidade da pessoa humana, movimentando seus recursos para a preservação do sujeito do qual emanam todos os direitos. 5. Conclusão Ante o estudo do processo de evolução dos Direitos Humanos, observa-se que a busca pela proteção dos direitos do ser humano jamais terá fim, pois, a medida que novos acontecimentos surgem, como os avanços científicos e tecnológicos, novas demandas sociais são constituídas. A Constituição Federal de 1988 representou um grande avanço na consolidação dos direitos humanos no Brasil, garantindo a sua inviolabilidade ante lei hierarquicamente inferior, elencando um grande rol taxativo de direitos fundamentais nunca visto em outras constituições brasileiras. Desde então, o Brasil mostra-se empenhado na proteção de tais direitos, instituindo o Programa Nacional dos Direitos humanos (PNDH), a fim de introduzir políticas públicas para a melhor defesa dos direitos. O direito à vida é um dos direitos fundamentais constitucionais protegidos pelo ordenamento jurídico brasileiro. Surge, então, a figura do nascituro, que é detentor de tal proteção. Analisando os argumentos das teorias a respeito do início da personalidade, conclui-se que a teoria concepcionista, que determina o início da personalidade desde a concepção, é a mais favorável, pois se o sistema jurídico brasileiro outorga direitos ao nascituro, tais como direito à vida, à alimentos, à filiação, assistência pré-natal, dentre outros, coloca-o como sujeito de direitos; logo, não existe sujeito de direito sem a existência da pessoa. Se é pessoa, possui também personalidade; logo, o nascituro é pessoa dotada de personalidade desde a sua concepção, diferente da teoria natalista que o reduz a coisa, parte integrante das vísceras da mãe. Demonstrada a figura do nascituro e a sua proteção no ordenamento jurídico brasileiro, coloca-se em pauta o Plano Nacional dos Direitos Humanos nº 03, criado 218 como visto, a partir do embasamento histórico de luta pelos direitos fundamentais. A diretriz que determina a descriminalização do aborto no Brasil e sua viabilidade através do sistema único de saúde está em conformidade com a Constituição Federal, ou seria ela inconstitucional? Estando a Constituição Federal alicerçada sobre o princípio da dignidade da pessoa humana, o ato de aborto torna-se contrário à busca pela proteção dos direitos inerentes a pessoa humana. Sabe-se que o direito à vida é direto personalíssimo, portanto indisponível, sendo direito do nascituro proteção desde a concepção, conforme ratificado no Pacto de São José da Costa Rica e a Convenção sobre Direitos da Criança, determinando a proteção antes e depois do nascimento. Logo, analisando o Plano Nacional dos Direitos Humanos nº 03, que visa a descriminalização da prática do aborto, sendo financiado pelo Estado através do Sistema Único de Saúde, se conclui que o mesmo vai contra a Constituição Federal, sendo, desta forma, inconstitucional, inadmitindo portanto a mudança do Código Penal para descriminalizar o aborto, pois vai contra o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à vida, previsto no art. 5º da Constituição Federal de 1988. Em um país contrário à pena de morte, parece ser incabível a aprovação de tal medida. O PNDH3 fere indiscutivelmente o principio da dignidade da pessoa humana, não podendo ser aprovada a morte de crianças inocentes, condicionadas a esperar a decisão de sua genitora a respeito de seu futuro extrauterino. Diferente de antigamente, as mulheres têm livre acesso a prática sexual, assim como aos métodos anticonceptivos, vindo apenas a ter uma gravidez indesejada ou por acidente, ou por ter assumido o risco, o que de forma alguma justifica a legalização do aborto. Em contrapartida, encontra-se em trâmite no Brasil o Estatuto do Nascituro, que demonstra ser uma alternativa para a solução do problema do aborto, visto que o mesmo consagra os direitos já existentes do nascituro e possibilita, no caso de estupro que a gestante receba auxílio para levar a gravidez até o fim, e caso não seja seu desejo ficar com a criança, a mesma deverá ser encaminhada à adoção, impedindo com isso que o direito da criança à vida seja ferido. Logo, ao invés do Estado financiar uma série de abortos nos moldes cruéis descritos ao longo deste artigo, proporcionaria o nascimento da criança que, pela decisão de sua genitora, já estaria condenada a morte, mas que, por um ato protetivo do Estado, recebe uma nova chance de viver. Descriminalizar o aborto no Brasil seria um retrocesso frente à conquista dos direitos humanos. Se aprovado, as crianças concebidas, ao invés da segurança do ventre 219 materno, se deparariam com um forjado campo de batalha, onde nenhuma arma de defesa lhe seria entregue, a não ser o apelo silencioso, ecoando dentro da mente e do coração daqueles que buscam a proteção da vida humana, nos quais lutam incansavelmente para que a pátria amada seja realmente com os filhos deste solo, doce mãe gentil. 6. Referências bibliográficas ALMEIDA, Fernando Barcellos. Teoria Geral dos Direitos Humanos. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1996. ALMEIDA, Silmara J.A. Chinelato e Tutela Civil do Nascituro. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2000. ALVES, Ivanildo Pereira. Crimes contra a Vida. 1. ed. Belém: UNAMA, 1999. ALVES, João Evangelista dos Santos. A Vida dos Direitos Humanos. 1. ed. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1999. ______, João Evangelista dos Santos. O Direito do Nascituro à Vida. 1. ed. Rio de Janeiro: AGIR, 1982. BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. 14. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1992. BRANDÃO, Dernival da Silva. A Vida dos Direitos Humanos. 1. ed. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1999. BRASIL, Código Civil Brasileiro. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. ______, Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília (DF): Senado Federal, 1988. ______. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei n. 478, de 19 de março de 2007. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/sileg/integras/353042.pdf>. Acesso em: 25 nov. 2011. 220 ______. Decreto n. 7.037, de 21 de dezembro de 2009. Disponível em: <http:// portal.mj.gov.br/sedh/pndh3/pndh3.pdf>. Acesso em: 25 nov. 2011. CANTALI, Fernanda Borghetti. Direitos da Personalidade. 1. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. CARVALHO, José Marino. Os Direitos Humanos no Tempo e no Espaço. 1. ed. Brasília: Brasília Jurídica, 1998. CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito Constitucional. 12. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2006. CHAVES, Benedita Inês Lopes. A Tutela Jurídica do Nascituro. 1. ed. São Paulo: LTR, 2000. COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. DINIZ, Maria Helena. Direito Civil Brasileiro. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. ______, Maria Helena. Norma Constitucional e seus efeitos. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2001. ELIAS, Roberto João. Direitos Fundamentais da Criança e do Adolescente. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. GORCZEVSKI, Clovis. Direitos Humanos, Educação e Cidadania: conhecer, educar, praticar. 1. ed. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2009. LISBOA, Roberto Senise. Manual Elementar de Direito Civil. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. MONTEIRO, Washington de Barros Monteiro. Curso de Direito Civil - Parte Geral. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 221 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 16. ed. São Paulo: Atlas, 2004. NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Em defesa da vida. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 1995. PAULO, Vicente. Direito Constitucional Descomplicado. 7. ed. São Paulo: Método, 2011. PEREIRA, Caio Mario da Silva. Direito Civil: Alguns aspectos da sua evolução. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001. PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. 34. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. SEMIÃO, Sérgio Abdalla. Os Direitos do Nascituro: aspectos cíveis, criminais e do biodireito. 1. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 1998. SILVA, José Afonso da Silva. Curso de Direito Constitucional Positivo. 33. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 222 A CONVERSÃO DA UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA EM CASAMENTO: UMA ANÁLISE DAS REGRAS PROIBITIVAS E DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS PERMISSIVOS Luma Burtzlaff77 Maitê Damé Teixeira Lemos78 RESUMO O presente artigo trata da possibilidade de conversão da união estável homoafetiva em casamento a partir da análise das regras que proíbem a conversão e dos princípios constitucionais que permitem. A importância do tema deve-se ao fato de que os relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo ganharam maior reconhecimento por parte da sociedade com a difusão do princípio da dignidade da pessoa humana, contemplado pela Constituição Federal de 1988. Assim, foram analisados, discutidos e apresentados os principais aspectos teóricos que envolvem essa problemática, utilizando-se como procedimento de obtenção de informações a pesquisa bibliográfica que consiste, basicamente, na leitura, análise e interpretação de textos e materiais publicados em livros, artigos, periódicos e materiais disponibilizados na Internet, bem como do exame da doutrina e da jurisprudência com relação às situações de uniões e casamentos homoafetivos. Com isso, buscou-se solucionar o problema central do presente trabalhado acerca da solução mais adequada para o conflito normativo Estudante do 10º semestre do Curso de Direito da Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC. e-mail [email protected] 77 Mestre e Doutoranda em Direito – Universidade de Santa Cruz do Sul – RS – Brasil; pesquisadora do grupo de pesquisa “Jurisdição Constitucional Aberta”, vinculado ao CNPq. Professora da Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC. Advogada. 78 223 envolvendo o casamento de pessoas do mesmo sexo. Partiu-se, inicialmente, de um exame dos tipos normativos, conflitos e formas de solução para, posteriormente, se abordar especificamente a questão das regras que proíbem a conversão da união estável homoafetiva em casamento e os princípios que permitem a conversão. Com efeito, constatou-se já haver diversas decisões dos Tribunais brasileiros que concederam a referida conversão da união homoafetiva em casamento, além de julgados que deferiram o casamento direto entre pessoas do mesmo sexo. Palavras-chave: união estável; casamento; regras; princípios constitucionais. 1. Introdução Diferentes das antigas famílias que eram compostas por um homem, uma mulher e sua extensa prole, os atuais núcleos familiares hoje encontrados possuem perfis variados, sendo formados por famílias recompostas, monoparentais, informais e homoafetiva. Porém, no que tange principalmente aos relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo, a legislação não é capaz de acompanhar as rápidas mudanças que ocorrem na sociedade, de modo a formar “vazios” legislativos que devem ser preenchidos por uma interpretação mais ampla das regras ou serem suprimidos por princípios que possuem um maior grau de generalidade. Diante deste contexto e na busca por uma regulamentação das famílias homoafetivas, o STF concedeu, em maio de 2011, por meio do julgamento da ADIN 4.277 e da ADPF 132, o status de união estável a estes relacionamentos. Contudo, muito mais do que o reconhecimento desta entidade familiar, esta decisão proferida fez surgir outro debate: o da possibilidade de conversão da união estável homoafetiva em casamento, nos mesmos termos que o Código Civil de 2002 estabelece para a união estável heterossexual. Desta forma, analisando-se o tema sob o ponto de vista normativo, é possível constatar a existência de um conflito entre as regras proibitivas e os princípios constitucionais permissivos que embasam o direito dos casais homossexuais de ter reconhecida e autorizada à conversão da união estável em casamento, até então, reconhecido apenas a casais heterossexuais. A partir daí, considerando-se a existência de princípios constitucionais protetivos – que conduzem a uma interpretação extensiva –, o objetivo do trabalho consiste em verificar se seria possível a conversão da união estável homoafetiva em casamento, nos termos que o Código Civil estabelece para a 224 união estável heterossexual, bem como analisar qual seria a melhor solução do conflito normativo existente. Para tanto, o trabalho divide-se em três partes. Num primeiro momento, serão apresentados os tipos normativos existentes – regras e princípios –, analisando-os, de forma a se apresentar suas características, existência de conflitos/colisões e possíveis formas de solução. Em um segundo momento do trabalho, serão apresentadas as regras civis que proíbem a conversão da união estável homoafetiva em casamento, bem como os princípios constitucionais que permitem tal conversão. Por fim, realizar-se-á uma análise jurídico-constitucional de casos concretos que envolvem a temática do presente trabalho, ou seja, o conflito normativo entre regras proibitivas e princípios permissivos da conversão de uniões homoafetivas em casamento. 2. A proteção normativa das relações familiares: análise dos tipos normativos, conflitos e formas de solução Para que o objetivo do presente trabalho possa ser alcançado, inicialmente, insta salientar que o gênero norma jurídica se divide em duas espécies: princípios e regras. No entanto, embora seja comum a doutrina estabelecer conceitos e teorias acerca da distinção entre estes tipos normativos, os critérios utilizados são variados, de modo que acabou por gerar uma grande discordância de classificações. Contudo, desconsiderar as dificuldades para proceder a esta diferenciação é de nenhum proveito e de grande prejuízo ao estudo do Direito (OLIVEIRA, 2007). Isto se deve ao fato de que no Brasil é utilizado o sistema aberto de regras e princípios, ou seja, um modelo jurídico composto por ambas as espécies normativas. Caso contrário, se o modelo jurídico fosse composto apenas por regras, haveria um sistema fechado que, embora alcançasse a segurança jurídica, estaria evitando que novas situações fossem disciplinadas, uma vez que o rol de circunstâncias seria taxativo e, por outro lado, um sistema formado apenas por princípios causaria uma enorme indeterminação, além de ser falho com relação à segurança jurídica (CANOTILHO, 1998). Neste sentido, é de fundamental importância estabelecer uma clara distinção entre os tipos normativos, a fim de que este conceito venha a auxiliar na solução do problema proposto, relativo à dogmática dos direitos fundamentais, qual seja, à conversão da união estável homoafetiva em casamento. 225 Assim, de acordo com Leal (2003), os princípios são normas de grande relevância para o ordenamento jurídico, expressam os fins que devem ser buscados pelo Estado e, por serem valores máximos expressos constitucionalmente, apresentam aspecto imperativo, estando o Poder Legislativo necessariamente obrigado com estes. Além disso, devido ao seu caráter de normatividade e sendo admitidos pela teoria constitucional como espécies de norma jurídica, os princípios possuem espaço garantido ao lado das regras jurídicas. No entendimento de Alexy (2011), tanto regras quanto princípios são normas, porque ambos dizem o que deve ser e ambos podem ser formulados por meio de expressões do dever, da permissão e da proibição. A distinção entre princípios e regras é, portanto, uma diferenciação entre espécies normativas, já que os princípios são, tanto quanto as regras, razões para juízos concretos de “dever-ser”, ainda que de espécies diferentes. Ainda, Ávila (2001) endente que a diferença entre princípios e regras depende da função pela qual a dissociação é estabelecida. Assim, várias são as definições encontradas acerca dos princípios, uma vez que estes são conceituados de uma maneira diversa por cada um dos autores, com a utilização de quesitos como o critério distintivo, que pode se referir tanto ao conteúdo ou à estrutura lógica do princípio, o critério do fundamento teórico, que varia do positivista ao jusnaturalista, e o critério da finalidade, para o qual é feita a caracterização das normas. Desta forma, torna-se necessária a busca por uma definição mais precisa dos princípios jurídicos que se encontram inseridos no ordenamento jurídico brasileiro por meio de normas positivas fundamentais ou gerais. Neste ponto, Alexy (2011) e Ávila (2001) concordam que os princípios são normas com alto grau de generalidade, enquanto que as regras possuem um baixo grau de generalidade, contendo elementos relativos a uma conduta concreta e específica. Por outro lado, Ávila (2005) enumera outros três critérios que, segundo autores como Robert Alexy, Ronald Dworkin e Frederick Schauer, seriam determinantes para se estabelecer a distinção entre princípios e regras. De acordo com o primeiro, o critério do caráter hipotético-condicional, as regras possuem uma hipótese de incidência e uma consequência que predeterminam a decisão, sendo aplicadas no modo “se” e “então”, ao passo que os princípios apenas indicam o fundamento a ser utilizado pelo aplicador para, a partir de então, encontrar a regra aplicável ao caso concreto. Assim, enquanto as regras possuem um elemento frontalmente descritivo, os princípios apenas estabelecem uma diretriz. Em contrapartida, o critério do modo final de aplicação leva em consideração como os tipos normativos são aplicados ao 226 caso concreto. Deste modo, as regras seriam aplicadas de modo absoluto, no “tudo ou nada”, ou seja, ela tanto pode ser considerada válida como inválida, enquanto os princípios seriam aplicados de modo gradual ou “mais ou menos”, isto é, não determinam absolutamente a decisão, mas somente possuem fundamentos (ÁVILA, 2005). Isto significa dizer que se a regra jurídica se enquadrar no caso concreto ela será aplicada por completo e, logo, as demais regras que dispuserem de maneira diferente não poderão coexistir no mesmo sistema. De modo diverso, os princípios estão sujeitos a uma ponderação de seus pesos, não havendo uma valoração prefixada e exata. Seguindo este mesmo entendimento, Alexy (2011) defende, na sua teoria, que princípios são mandamentos de otimização, os quais ordenam que algo seja realizado na maior medida das possibilidades jurídicas e fáticas existentes, bem como são caracterizados por permitir serem satisfeitos em graus variados. Por outro lado, as regras são sempre ou satisfeitas ou insatisfeitas, já que, se ela é válida, deve se fazer exatamente aquilo que ela exige, nem mais, nem menos. Além disso, as regras também contêm determinações do que é fática e juridicamente possível. Logo, deduz-se que a distinção entre os tipos normativos é qualitativa, e não de grau, o que significa dizer que toda norma ou é um princípio ou uma regra. Partindo-se desta premissa, para a solução do conflito envolvendo as regras proibitivas e os princípios constitucionais permissivos que embasam o direito dos casais homossexuais de ter reconhecida e autorizada à conversão da união estável em casamento, merece especial atenção a definição de princípios como mandamentos de otimização, uma vez que, deste modo, terão sua eficácia normativa otimizada para que incidam com maior intensidade frente às circunstâncias do problema proposto. Por fim, de acordo com o último critério mencionado por Ávila (2005), o critério do conflito normativo, os princípios poderiam ser distinguidos das regras pela forma como se comportam frente a um conflito, uma vez que a antinomia entre regras é solucionada com a invalidade de uma destas ou com a criação de uma exceção, ao passo que a colisão entre princípios será resolvida com uma ponderação, atribuindo-se pesos diferentes a cada um deles (ÁVILA, 2005). Deste modo, diante dos conceitos apresentados, verifica-se que são diversos os critérios utilizados para se promover a distinção entre regras e princípios. Porém, pode ser considerado o critério do conflito normativo como sendo o mais utilizado e o que melhor explora a tensão envolvendo os choques destas normas, portanto, o estudo deste método distintivo merece ser melhor aprofundado. 227 Inicialmente, no que tange ao conflito envolvendo regras, é possível se afirmar que este somente poderá ser solucionado se for inserida uma cláusula de exceção em uma das regras, ou ainda se uma destas for declarada inválida. Um bom exemplo acerca do conflito que pode ser resolvido com a introdução de uma cláusula de exceção é aquele que proíbe o aluno de sair da sala de aula antes que toque o sinal, estando em contraponto o dever de deixar a sala no caso de soar o alarme de incêndio (ALEXY, 2011). Logo, se o alarme de incêndio tiver soado, sem que o sinal para sair da aula tenha sido tocado, verifica-se a incidência de juízos contraditórios entre si que devem ser solucionados com a inclusão de uma cláusula de exceção para a primeira regra no caso de soar o alarme de incêndio. Porém, caso este tipo de solução não couber ao caso ou não for possível sua aplicação, uma das regras deverá ser invalidada e retirada do ordenamento jurídico vigente. Ao contrário do que ocorre com o conceito de validade social (eficácia ou efetividade), o conceito de validade jurídica (vigência) não é passível de graduação. Assim, ou a norma é válida ou não é, pois, no caso de a norma ser válida e aplicável ao caso concreto, sua consequência jurídica também é dotada de validade. Além disso, independentemente de como sejam fundamentados, não é possível que juízos concretos de “dever-ser”, contraditórios entre si, sejam válidos. Deste modo, caso seja constatada a aplicabilidade de duas regras que incidam em consequências jurídicas contraditórias, e esta oposição não possa ser eliminada com a introdução de uma cláusula de exceção, uma das regras, pelo menos, deverá ser declarada inválida. Ainda, o problema pode ser resolvido por meio de regras como a lex posterior derogat legi priori (a norma posterior revoga a norma anterior) e a lex specialis derogat legi generali (a norma especial revoga a norma geral), ou ainda deve ser analisada a importância de cada regra em conflito (ALEXY, 2011). No entanto, Ávila (2005), ao realizar uma análise crítica acerca do método do conflito normativo como meio para distinguir as regras dos princípios, afirma que a ponderação não pode ser vista como de aplicação exclusiva dos princípios, devendo também ser estendida às regras. Normalmente, no caso de conflito entre regras, ou se declara a invalidade de uma delas, ou é aberta uma exceção que contorne a incompatibilidade. Desta forma, argumenta-se que as regras entram em conflito no plano abstrato, e a solução para estes casos é uma decisão acerca da validade, ao tempo em que quando dois princípios entram em colisão deve se atribuir um peso maior a um deles e, assim, esta oposição estaria no plano concreto. Assim, a ponderação entre regras ocorre na hipótese em que estas abstratamente convivem, mas que concreta- 228 mente podem entrar em conflito, ou seja, nem sempre que há a existência de conflito entre regras a solução será a invalidade de uma delas ou a criação de uma exceção, pelo contrário, em alguns casos o impasse pode ser resolvido por meio da ponderação de pesos. Um ótimo exemplo para esta hipótese é a regra que proíbe a concessão de liminar contra a Fazenda Pública até que se esgote o objeto litigioso. No entanto, em se tratando do fornecimento de medicamentos pelo sistema de saúde do Estado, a quem deles necessite para viver e não tenha meios para prover esta despesa, a regra obrigada que o juiz determine, inclusive por medida liminar, o fornecimento dos remédios pela Fazenda Pública. Por meio deste exemplo, fica claro que as regras também se sujeitam ao balanceamento de valores sem que seja necessário se estabelecer uma cláusula de exceção, afinal, a própria exceção que pode ser usada para solução do conflito não deixa de ser uma expressão de ponderação. Além disso, a única maneira de se afirmar que os conflitos entre regras não são passíveis de ponderação é acreditar que a colisão ocorre entre os princípios que baseiam as regras e não entre as próprias regras. Assim, no exemplo acima citado, é dada preponderância ao princípio do direito à vida, e não à regra que obriga o Poder Público a entrega de medicamentos para quem não tenha como suportar esta despesa (OLIVEIRA, 2007). Contrariamente ao entendimento de que os conflitos entre regras ocorrem no plano da validade, as colisões entre princípios acontecem além desta dimensão, ou seja, na dimensão do peso. Portanto, uma vez que são conflitos distintos, estes devem ser solucionados de maneira diversa (ALEXY, 2011). Assim, cabe mencionar que, enquanto as regras estão sujeitas à interpretação, os princípios se sujeitam à ponderação. Deste modo, o juízo de ponderação é capaz de resolver a tensão existente entre princípios colidentes, identificando aquele que possui maior peso no caso concreto. Consequentemente, ambos os princípios irão permanecer válidos mesmo que um deles deixe de ser aplicado (GARCIA, 2007). Seguindo este entendimento, pode-se afirmar que quando algo é proibido por algum princípio e, ao mesmo tempo, permitido por outro, um dos dois princípios terá de ceder, mas não necessariamente algum terá de ser declarado inválido e tampouco neste será introduzida uma cláusula de exceção, mesmo porque os princípios são mandamentos de otimização, de forma que devem ser concretizados na melhor e na maior medida possível. O que ocorre com os princípios é que estes tem precedência, um em face do outro, em determinadas situações e de acordo com as circunstâncias do caso concreto, diferente do que acontece com as regras, que são aplicadas na base 229 do “tudo ou nada”, como já referido. Assim, no caso concreto, se faz imperiosa a verificação dos pesos que cada princípio ostenta, a fim de que o de maior peso tenha precedência sobre os demais (ALEXY, 2011). Alexy (2011) explica a teoria sobre a colisão entre princípios por meio da Lei de Colisão, segundo a qual é criada uma relação de precedência entre os princípios divergentes, devendo ser analisadas as condições do caso concreto quando não forem quantificáveis os pesos de cada princípio. Portanto, verifica-se que esta lei reflete a natureza dos princípios como mandamentos de otimização, uma vez que por meio dela é possível constatar a inexistência de absoluta precedência de um princípio em face de outro, bem como faz referência a situações que não são quantificáveis. Isto significa que deve ser feita uma verificação acerca de qual bem jurídico tutelado será mais lesado, decidindo por este, caso for preterido em relação ao outro. Entretanto, isto não importa afirmar que o princípio que foi preterido não possui validade, pelo contrário, o princípio/direito possui validade, mas naquela relação jurídica houve a predominância de outro direito fundamental. Assim, para a solução deste conflito se está utilizando a ponderação de bens (TEIXEIRA LEMOS, 2008). Ademais, Ávila (2005) menciona que não se deve delimitar a interpretação da ponderação, pois nem sempre no caso de aplicação das regras e suas exceções haverá a utilização de apenas uma norma, bem como não é também em todos os casos de colisão entre princípios que haverá a aplicação de ambos. Assim, quando o aplicador atribui um peso maior a um dos princípios, ele acredita na existência de razões superiores para o uso de um mandamento em detrimento de outro, circunstância na qual o princípio que não foi empregado poderá não surtir qualquer efeito ao caso concreto. A mesma situação ocorre em relação às regras quando o aplicador resolve que há mais razão no uso da exceção do que da regra em si. Deste modo, ainda que os princípios fossem ponderados por seus pesos, em caso de conflito, o de menor precedência poderia deixar de ser aplicado em sua totalidade, tal como ocorre na relação entre as regras e as exceções. Pelo que foi exposto, depreende-se que, no caso de colisão de princípios, deverá se dar prevalência ao princípio de maior peso, levando-se em conta as circunstâncias do caso concreto e fazendo-se uso do método da ponderação. Em contrapartida, havendo um conflito entre regras, o aplicador, na maioria das hipóteses, ou irá declara inválida uma das regras ou irá introduzir uma cláusula de exceção ao caso. 230 3. Premissas básicas sobre a existência de regras proibitivas e de princípios constitucionais permissivos da conversão da união estável homoafetiva em casamento O casamento sempre foi considerado uma das mais antigas e importantes instituições da sociedade, sendo que, até antes do reconhecimento da união estável e da possibilidade de organização familiar monoparental, este era considerado como única forma legítima de constituição da família. Porém, mesmo não sendo a única forma de se constituir uma entidade familiar, o casamento continua sendo um ato solene de grande importância, o que é confirmado pelo artigo 1.511 do Código Civil ao mencionar que “o casamento estabelece comunhão plena de vida, com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges” (SPENGLER, 2004). Nas palavras de Rizzardo (2009), o casamento é um contrato solene pelo qual duas pessoas de sexo diferente se unem para constituir uma família e viver em plena comunhão de vida, sendo que tal afirmativa encontra-se confirmada pelo artigo 1.565 do Código Civil ao estabelecer que, como efeito do matrimônio, “homem e mulher assumem mutuamente a condição de consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família”. Maria Helena Diniz (2010) ainda refere que o casamento é o vínculo jurídico que une o homem e a mulher e que visa o auxílio mútuo material e espiritual, de modo que haja a constituição de uma família. Neste sentido, Pereira (2006) completa referindo que, dentre outras, também são finalidades do casamento a comunhão de vida e de interesses, a satisfação do amor recíproco e a procriação dos filhos. Por meio de uma rápida análise dos conceitos expostos, percebe-se que em todos há referência quanto à distinção do sexo dos nubentes. No primeiro, faz-se alusão de que o casamento trata-se da união entre “duas pessoas de sexos diferentes”, enquanto no segundo estão estabelecidas de forma expressa no diploma civil as palavras “homem e mulher”. Já no último, é instituída como finalidade do matrimônio a procriação dos filhos, o que só seria possível para casais heterossexuais. Assim, se está diante da maior limitação para a realização do casamento entre pessoas do mesmo sexo, pois um de seus pressupostos existenciais é, justamente, a diversidade de sexos. Ademais, percebe-se que toda legislação civil relativa ao 231 matrimônio faz menção à necessidade de diferença de sexo dos nubentes, o que se pode constatar especialmente pela leitura do artigo 1.514 do Código Civil, o qual menciona que “o casamento se realiza no momento em que o homem e a mulher manifestam, perante o juiz, a sua vontade de estabelecer vínculo conjugal, e o juiz os declara casados”. Deste modo, resta evidente que o principal entrave legal para que seja permitido e ocorra o casamento entre homossexuais é o fato de a lei ser clara ao impor a diversidade se sexos para que o ato tenha validade e exista (SPENGLER, 2004). Este entendimento de proibição do casamento entre pessoas do mesmo sexo deve-se, em especial, a não incorporação no Código Civil de 2002 das conquistas doutrinárias e jurisprudenciais trazidas pela Constituição Federal de 1988. Desta maneira, com o advento da Carta Política de 1988, foi possível perceber a intenção do legislador em conceder maior proteção ao Direito de família ao acolher as expectativas da sociedade com relação à tutela das instituições familiares, definindo os direitos destas e as obrigações do Estado. Foi, então, atribuída uma dimensão constitucional ao tratamento da família, fenômeno este que pode ser denominado de constitucionalização do Direito Privado (BRAUNER, 2004). No entanto, o Código Civil de 2002 pouco inovou na esfera do Direito de família, incorporando necessariamente as inovações trazidas pela Constituição de 1988, mas desconhecendo as diversas conquistas na doutrina e na jurisprudência posterior. Deste modo, algumas leis ordinárias que foram elaboradas para assegurar a efetividade dos princípios constitucionais tiveram sua aplicação restringida pelo novo Código, fato que obstou a proteção de diferentes entidades familiares (BRAUNER, 2004). Com efeito, percebe-se que a não incorporação no Código Civil de 2002 das conquistas doutrinárias e jurisprudenciais trazidas pela Constituição Federal de 1988 colaborou para a formação de uma doutrina mais tradicional no que tange ao reconhecimento de novas entidades familiares, sendo esta a base do entendimento doutrinário pela inexistência do casamento homoafetivo. Em contraponto às regras proibitivas, estão os princípios constitucionais permissivos da conversão da união estável homoafetiva em casamento. Estes princípios merecem especial respeito por estarem no topo da pirâmide normativa do ordenamento jurídico, bem como porque é nítida a prevalência da supremacia dos princípios e valores constitucionais frente às demais normas do ordenamento jurídico. Com efeito, referidos princípios, além de servirem como orientação ao sistema jurídico infraconstitucional, também são tidos como meio de aproximação do ideal de justiça, tendo adquirido força ativa e eficácia imediata (DIAS, 2011). 232 A Constituição Federal promulgada em 1988 foi o marco do Estado Democrático de Direito, ao estabelecer em seu artigo primeiro a dignidade da pessoa humana e em seu preâmbulo ser assegurado o exercício dos direitos sociais, individuais, a liberdade, a igualdade e a justiça, dentre outros fundamentos. Neste sentido, os direitos humanos fundamentais, consagrados constitucionalmente, devem ser exercidos como meio de proteção contra o arbítrio do Estado, considerando que estes formam um conjunto de faculdades capazes de concretizarem as exigências da dignidade, da liberdade e da igualdade, às quais devem ser positivadas pelo ordenamento jurídico (MORAES, 2006). Ademais, a Constituição Federal de 1988 atribuiu uma dimensão constitucional ao tratamento da família ao prever, em seu artigo 226 que têm especial proteção do Estado o casamento, a união estável entre um homem e uma mulher e as comunidades formadas por qualquer dos pais e seus filhos. Ainda, o fenômeno da constitucionalização, ou publicização do Direito Privado, veio assegurar ao indivíduo o direito de constituir família e manter relações afetivas sem qualquer tipo de discriminação, de modo a se estabelecer uma grande ruptura ao modelo único de família constituída pelo casamento e por pares heterossexuais (BRAUNER, 2004). A ideia de dignidade da pessoa humana encontra no texto constitucional a premissa de que a família é considerada a célula da sociedade, seja esta constituída pelo casamento ou pela união estável, bem como reconhece a dignidade como inerente aos membro da família e como fundamento de liberdade e justiça (MORAES, 2006). Também o Direito de Família caminha em direção ao reconhecimento de relacionamentos fundados principalmente no afeto, na sexualidade e na plena comunhão de vida, estando superados antigos dogmas relativos à finalidade reprodutiva como requisito para se admitir a constituição de uma entidade familiar. Assim, considerar as uniões homoafetivas como relações estabelecidas sob estes mesmos fundamentos de afeto, sexualidade e comunhão plena de vida, é respeitar a proteção da dignidade da pessoa humana (RIOS, 2001). Deve-se mencionar, ainda, que estando aludido princípio estampado no artigo primeiro da Constituição, é considerado princípio máximo, superprincípio ou macroprincípio, do qual se irradiam todos os demais, tais como o da liberdade, da solidariedade, da cidadania, bem assim ainda é o responsável pela repersonalização do Direito Privado. Deste modo, é no Direito de Família que a dignidade da pessoa humana encontra maior atuação, o que significa que deve se conceder um tratamento 233 digno e igualitário a todos os tipos de constituição de família (DIAS, 2011). Além disso, este princípio que se encontra inserido no 1º, inciso III e no parágrafo 7º do artigo 226 da Carta Magna, e possui duas funções distintas; a de proteção da pessoa humana, defendendo-a de qualquer ato desumano ou infame do Estado ou da sociedade em geral, bem como a de promover a participação do indivíduo nos destinos da própria existência e da vida comunitária, gerando condições mínimas para esta convivência (GAMA, 2008). Em suma, a possibilidade de desrespeito a alguém em razão de sua orientação sexual é dispensar tratamento preconceituoso e indigno, pois também se relaciona com a proteção da dignidade o respeito à condição pessoal de cada individuo (GIORGIS, 2001). Portanto, entende-se por meio desta análise que, não conceder os mesmo direitos tanto às pessoas hétero como homossexuais, é grave desrespeito ao princípio da dignidade humana, não podendo tal conduta ser aceitável, uma vez que legitima e fortalece o desenvolvimento de preconceitos sociais. Outro princípio consagrado constitucionalmente e decorrente da dignidade da pessoa humana é o princípio da igualdade. De acordo com este princípio, deve ser concedida proteção a todos, sem qualquer tipo de discriminação ou preconceito por motivo de sexo, raça, origem ou idade, ficando assegurado, de acordo com o preâmbulo constitucional, “o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos” (DIAS, 2008). Neste sentido, José Carlos Teixeira Giorgis (2001) esclarece que a ideia de igualdade interessa ao Direito, pois ela se liga à ideia de Justiça, que é a regra máxima de uma sociedade e que dá o sentido ético de respeito a todas as outras regras. Por outro lado, Moraes (2012) afirma que, em que pese sejam vedadas diferenciações arbitrárias, deve se atentar que também é conceito de Justiça tratar desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades, isto é, o princípio da igualdade somente irá ser lesado caso o elemento discriminador não ser encontre a serviço de uma finalidade acolhida pelo Direito. Assim, o princípio da igualdade, em sua dimensão formal, tem como objetivo a superação das desigualdades entre as pessoas por meio da aplicação da mesma lei a todos, concretizando-se, assim, a universalização das normas jurídicas em face dos sujeitos de direito. Deste modo, no âmbito da sexualidade, onde se insere a homossexualidade, isto significa a extensão do mesmo tratamento jurídico a todos, sem dis- 234 tinção de orientação homo ou heterossexual. Porém, a concretização deste imperativo jurídico de igualdade formal torna-se um desafio frente às discriminações em virtude de orientação sexual (RIOS, 2001). No entendimento de Gama (2008), cabe registrar que o princípio da igualdade não possui aplicabilidade absoluta, de modo que pode admitir limitações, desde que não haja violação ou desrespeito ao seu núcleo essencial. Neste sentido, a igualdade geral e seus desdobramentos específicos não desconsideram as diferenças naturais e culturais que existem entre uniões hétero e homossexuais, pois se sabe que estas não são idênticas, apesar se serem extremamente próximas em vários aspectos. Assim, nota-se que o princípio da igualdade não exclui o reconhecimento do direito à diferença, o que justifica serem tomadas medidas e providências diferentes para cada situação fática, ou seja, o ponto central da questão é que as diferenças não devem legitimar um tratamento jurídico desigual no que tange à base comum de direitos e deveres de cada um. Outrossim, a igualdade também pode ser solucionada pela utilização do teste da proporcionalidade, tendo-se, portanto, que se buscar uma igualdade proporcional a uma harmonia com os demais valores constitucionais, com a finalidade de se garantir uma concordância prática entre o bem, a igualdade e a liberdade, por exemplo. Observa-se, assim, que o princípio da igualdade e o princípio da proporcionalidade possuem estruturas diversas, pois, enquanto o primeiro atua individualizando, o segundo concilia e harmoniza. Este caráter conciliador da proporcionalidade é especialmente notado por sua função de hierarquizar os demais princípios, em caso de conflito, buscando sempre a verdadeira ideia do Direito ao ordenar a aplicação dos princípios contidos na Constituição Federal para que haja o maior equilíbrio possível (REZEK NETO, 2004). O princípio da proporcionalidade, embora não esteja explícito no ordenamento jurídico, ao contrário do que ocorre, por exemplo, com a dignidade da pessoa humana, é uma exigência essencial para a fórmula do Estado democrático de Direito, pois é por meio deste que é garantido o respeito simultâneo aos interesses individuais, coletivos e públicos (GUERRA FILHO, 2006). Além disso, também deve se mencionar como princípio permissivo da conversão da união estável homoafetiva em casamento, o princípio da liberdade, que por sua vez está intimamente ligado ao princípio do pluralismo democrático no âmbito das relações familiares. Este também se associa com a autonomia privada no segmento da liberdade de escolha de constituição, de manutenção e extinção da entidade familiar diante do Estado e da sociedade (GAMA, 2008). 235 Pelos ensinamentos de Luís Roberto Barroso (2007), a liberdade possui um conteúdo nuclear que se estabelece no poder de decisão entre várias possibilidades. No entanto, estas escolhas são condicionadas por circunstâncias naturais, psíquicas, culturais, econômicas e históricas e, portanto, se referem não apenas a uma capacidade subjetiva, mas também numa possibilidade objetiva de decidir. Desta maneira, cumpre registrar que num Estado democrático de Direito não se deve somente assegurar ao indivíduo o direito de escolha entre várias alternativas, como também se deve proporcionar condições para que estas escolhas se concretizem, pois as pessoas tem o direito de desenvolver sua personalidade. Certas manifestações de liberdade tem maior vinculação com o desenvolvimento da personalidade, tais como a liberdade religiosa, de pensamento, de expressão e a liberdade de escolher com quem desenvolver relações de afeto e companheirismo de maneira plena. Nesta mesma seara, Delma Silveira Ibias (2001) menciona que as questões relativas às uniões entre pessoas do mesmo sexo se inserem em um contexto em que há carência da efetividade dos valores que devem nortear o sistema jurídico nacional. Deste modo, a evolução deste sistema, onde progressivamente há um aumento da liberdade do indivíduo, reforça a ideia de proteção de interferências na vida privada e na intimidade de cada pessoa. Assim, a luta pela transformação destes princípios constitucionais é no sentido de que seja formada uma verdadeira mentalidade democrática, tanto como na esfera pública como na vida privada. Uma vez que foram apresentadas e ventiladas tanto as regras proibitivas como os princípios constitucionais permissivos da conversão da união estável homoafetiva em casamento, o próximo passo será demonstrar, por meio da análise de casos concretos e da jurisprudência já existente acerca da matéria, como estes princípios vêm sendo otimizados para fundamentarem as decisões de conversão de união estável e até mesmo de casamento direto entre pessoas do mesmo sexo. 4. Análise de casos concretos envolvendo a conversão de união homoafetiva em casamento: o conflito normativo, regras proibitivas x princípios permissivos A discussão central da presente pesquisa está na possibilidade de conversão da união estável homoafetiva em casamento homoafetivo. A partir daí, surgem as 236 dificuldades normativas do sistema jurídico brasileiro, já que existem regras que proíbem a conversão (os artigos 1.514, 1.535 e 1.565 do Código Civil que exigem a diversidade de sexos para os nubentes) e princípios constitucionais que permitem a conversão (dignidade da pessoa humana, igualdade, proporcionalidade, liberdade, dentre outros). Dessa maneira, toda a discussão do presente trabalho parte da decisão do STF no âmbito da ADIN 4.277 e da ADPF 132, que reconheceram que a união homoafetiva tem os mesmos objetivos e deve receber a mesma proteção da união estável entre pessoas de sexos diferentes. Partindo dos princípios constitucionais e dos direitos fundamentais, o STF determinou que o artigo 1.723 do Código Civil, segundo o qual “é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”, fosse interpretado com base na Constituição Federal, de forma que não houvesse qualquer tipo de discriminação quanto aos indivíduos de mesmo sexo que tivessem um relacionamento público e duradouro, com objetivo de constituição de família. Assim, todos os dez Ministros que votaram no julgamento das ações se manifestaram pela procedência dos pedidos, sendo as uniões homoafetivas equiparadas às uniões estáveis heterossexuais e, consequentemente, reconhecidas como um modelo de família que merece ser respeitado pela sociedade. A mencionada decisão ainda foi revestida de eficácia erga omnes e efeito vinculante. Dentre os votos, alguns tiverem como fundamentação a interpretação conforme a Constituição que consiste em tipo de técnica de controle de constitucionalidade, no qual, diante da existência de duas ou mais interpretações possíveis, uma delas seja eleita como a ajustada ao texto constitucional, de acordo com o pedido formulado nas petições iniciais das ações (CHAVES, 2011). Outros votos ainda assinalaram que a constitucionalidade da união homoafetiva como entidade familiar possui suporte nos direitos fundamentais. Por outro lado, também se argumentou no sentido de existir uma lacuna legislativa, que deveria ser suprida por meio da analogia com o instituto mais aproximado, qual seja, a união estável e, bem assim, ainda existiu entendimento de que se deveria aplicar de modo extensivo o regime jurídico da união estável. Em que pese às divergências, ao final todos os entendimentos levaram ao mesmo resultado de equiparar a união homoafetiva à união estável (CHAVES, 2011). Diante desta decisão histórica do STF, bem como levando-se em consideração que a Constituição Federal, em seu artigo 226, §3º, prevê a possibilidade de os companheiros converterem a união estável em casamento, visualiza-se que também a 237 união estável homoafetiva poderá ser convertida em casamento sob a observância dos princípios da dignidade da pessoa humana, igualdade, proporcionalidade, liberdade, dentre outros. Neste sentido, é a sentença do Juiz Fernando Henrique Pinto, da 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Jacareí, interior de São Paulo, que homologou a primeira conversão de união estável homoafetiva em casamento, após o julgamento da ADIN 4.277 e da ADPF 132 pelo STF, e ficou nacionalmente conhecida como um divisor na história dos direitos homossexuais, que é marcada por preconceitos e injustiças. Os autores da ação, ambos do sexo masculino, protocolaram a solicitação em que afirmam viver em união estável há oito anos e o pedido foi instruído com a declaração de duas testemunhas. O magistrado fundamentou sua decisão nos princípios constitucionais da igualdade, da dignidade da pessoa e no artigo 3º, incisos I e IV, da Carta Magna, segundo o qual a República Federativa do Brasil tem como objetivo promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Ainda, foi ressaltada a laicidade do Estado brasileiro, uma vez que este não está vinculado a qualquer religião ou organização religiosa. Percebe-se, por meio desta decisão, que o fato de não haver previsão legal específica para uma determinada situação não significa sua inexistência. Logo, a ausência de lei expressa não significa ausência de direito, nem pode vir a impedir que se extraiam efeitos jurídicos de determinada situação fática, tampouco serve de motivo para deixar de reconhecer a existência de direito merecedor da tutela jurídica. Deste modo, o silêncio do legislador deve ser suprido pelo juiz, o qual molda a lei para o caso concreto com base na analogia, nos costumes e nos princípios gerais de direito (DIAS, 2008). Outro julgamento que abriu importante precedente para o alargamento dos direitos homossexuais foi o reconhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio de provimento de recurso especial, de que é possível a habilitação para o casamento entre pessoas do mesmo sexo diretamente no Cartório de Registro Civil, sem precisar requerer na Justiça a conversão da união estável homoafetiva em casamento. As requerentes, inicialmente, tiveram negada a habilitação para o casamento tanto pelo Juízo da Vara de Registros Públicos da Comarca de Porto Alegre - RS, cuja fundamentação foi no sentido da impossibilidade jurídica do pedido, como pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que na Apelação Cível nº 70030975098, julgada pela 7ª Câmara Cível, manteve a sentença de primeiro grau, fato que ensejou o recurso ao STJ (BOMFIM, 2011). 238 O relator, Ministro Luis Felipe Salomão, defendeu o casamento entre pessoas do mesmo sexo, explicando que o conceito de família não tem forma específica. O Ministro também registrou que os artigos 1.514, 1.521, 1.523, 1.535 e 1.565, do Código Civil, não vedam o casamento homossexual, pois, de maneira contrária, estariam afrontando os princípios constitucionais da igualdade, da não discriminação, da dignidade da pessoa humana, do pluralismo e livre planejamento familiar. No entanto, em que pese as decisões do STF e do STJ em favor dos direitos homossexuais, a autorização para o casamento entre pessoas do mesmo sexo ainda está dividindo os Tribunais estaduais brasileiros que têm adotado diversos posicionamentos. No estado do Rio de Janeiro, o juiz titular da Vara de Registros Públicos está negando os pedidos de matrimônio homoafetivos por entender que a lei refere que o casamento somente pode se realizar entre um homem e uma mulher. Os casos julgados em primeira instância nas cidades de São Paulo e Belo Horizonte seguem o exemplo carioca, uma vez que quase sempre têm sido improcedentes. A exceção à regra foi uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que autorizou o casamento de um casal de dois homens de Bauru, interior do estado (BRISOLLA, 2012). Por outro lado, nos estados do Rio Grande do Sul e de Alagoas, a posição dos juízes tem sido de forma oposta, no sentido de deferir a realização do ato matrimonial. Além disso, na capital gaúcha, dois dos cinco cartórios de registro civil da cidade vêm autorizando as uniões homoafetivas (BRISOLLA, 2012). Já no estado de Alagoas, a Corregedoria-Geral da Justiça, por meio do Provimento 40/2011, autorizou os cartórios a habilitarem o matrimônio entre pessoas do mesmo sexo; assim, não é mais necessário que os noivos ingressem no Judiciário para formalizar a união, eles precisam, apenas, manifestar o desejo no cartório de registro civil. Ainda, o texto do provimento foi encaminhado para todas as demais Comissões estaduais de Diversidade Sexual com o intuito de que os membros se organizem e instiguem as corregedorias a estender essa regulamentação para todo o país (IBDFAM, 2012). Assim, pelo que foi possível observar tanto pelas decisões do STF, do STJ e dos Tribunais estaduais, que estão deferindo a conversão da união estável homoafetiva em casamento, bem como as que estão concedendo autorização para o casamento direto, importa ressaltar que a principal crítica a estas está no fato de não haver previsão de lei para o referido direito, uma vez que o Código Civil é categórico ao citar que a união estável é constituída pelo homem e pela mulher, fazendo referência à distinção do sexo dos nubentes no seu artigo 1.723. 239 Por outro lado, o argumento dos que defendem ser legal a conversão da união homoafetiva em casamento pauta-se na inocorrência de proibição para o ato. Assim, em que pese não haja uma regra permissiva, também não há nenhuma proibitiva, logo, usando da analogia, pode-se afirmar que são aplicáveis também aos relacionamentos homossexuais os mesmos institutos que incidem aos heterossexuais. Ademais, é incontroverso o fato de que o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como dos já mencionados princípios da igualdade, da liberdade e da proporcionalidade são a base fundamental para a permissão da conversão da união homoafetiva em casamento, conforme foi demonstrado pela análise das decisões acerca da matéria, além de contribuírem para a retirada destes relacionamentos da clandestinidade e da marginalidade. Desta maneira, diante do conflito das regras proibitivas e dos princípios constitucionais permissivos da conversão da união homoafetiva em casamento, restou demonstrado que a solução para este caso é a preponderância e otimização dos princípios, a fim de que estes sirvam como fundamento para as demais situações fáticas, restando comprovada a possibilidade de conversão em casamento também da união homossexual, nos mesmos termos que o Código Civil estabelece para a união estável heterossexual. 5. Conclusão O que se pretendeu com a presente pesquisa foi verificar a possibilidade de conversão da união estável homoafetiva em casamento, nos mesmos termos que o Código Civil estabelece para a união estável heterossexual, bem como analisar qual seria a melhor solução do conflito normativo existente entre as regras proibitivas e os princípios constitucionais permissivos desta conversão. Com efeito, a definição de princípios como mandamentos de otimização merece especial atenção, tendo em vista ser este o ponto crucial da diferença entre as regras proibitivas e os princípios constitucionais permissivos da conversão da união estável entre pessoas do mesmo sexo em casamento, pois somente com a eficácia normativa otimizada os princípios irão incidir com uma intensidade maior frente às circunstâncias do problema proposto. Deste modo, no que tange as regras proibitivas, a doutrina que apoia esta tese sustenta que a diversidade de sexos é requisito essencial do casamento, sem o qual este seria um ato inexistente. Ainda, percebe-se que toda legislação civil relativa ao matrimônio faz menção a necessidade de diferença de sexo dos nubentes, uma vez que se encontra previsto expressamente em diversos artigos do Código Civil de 2002, dentre 240 este os artigos 1.514, 1.565 e 1.535, que o casamento se realizará entre o homem e a mulher, sendo este o maior entrave para que ocorra o matrimônio entre homossexuais. Porém, em contraponto a este entendimento, estão os princípios constitucionais permissivos e protetivos da conversão da união estável homoafetiva em casamento. Nesta esfera, segundo os preceitos do mais fundamental de todos os princípios, o da dignidade da pessoa humana, deve ser concedido um tratamento digno e igualitário a todos os tipos de constituição de família. Neste sentido, percebe-se que o Direito de família caminha em direção ao reconhecimento de relacionamentos fundados principalmente no afeto e na sexualidade; logo, reconhecer as uniões homoafetivas como relações estabelecidas sob estes mesmos fundamentos é respeitar a proteção da dignidade da pessoa humana. O casamento entre pares do mesmo sexo também encontra fundamento nos princípios da liberdade, da proporcionalidade e da igualdade, segundo o qual fica vedado qualquer forma de preconceito ou discriminação por razão de sexo, raça, origem ou idade. Assim, diante do evidente conflito entre as regras que proíbem a conversão da união estável homoafetiva em casamento, configurando verdadeira afronta ao respeito à dignidade humana, e os princípio constitucionais que permitem a conversão, conclui-se que a solução para este caso é a preponderância e otimização dos princípios, a fim de que estes sirvam como fundamento para as demais situações fáticas, assim como serviram para o julgamento da ADIN 4.277 e da ADPF 132 pelo STF. Deste modo, restou comprovada a possibilidade de conversão em casamento também da união homossexual nos mesmos termos que o Código Civil estabelece para a união estável heterossexual. Neste sentido, pode-se afirmar que o Direito deve continuar acompanhando a evolução social, de modo a conferir um tratamento igualitário a todo e qualquer tipo de formação familiar, senão com base nas regras, que nem sempre conseguem acompanhar as rápidas mudanças da sociedade, mas especialmente com base nos princípios protetivos que melhor se adéquam a cada caso. 6. Referências bibliográficas ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2011. ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. 241 ______. A distinção entre princípios e regras e a redefinição do dever de proporcionalidade. Revista Diálogo Jurídico, Salvador, CAJ - Centro de Atualização Jurídica, v. I, nº 4, julho, 2001. Disponível em: <http://www.direitopublico.com.br>. Acesso em: 11 nov. 2011. BARROSO, Luis Roberto. Diferentes mas iguais: o reconhecimento jurídico das relações homoafetivas no Brasil. Revista Diálogo Jurídico, Salvador, nº. 16, maio-junho-julho-agosto, 2007. Disponível em: <http://www.direitopublico.com.br/pdf_seguro/diferentes_iguais_lrbarroso. pdf>. Acesso em: 12 nov. 2012. BOMFIM, Silvano Andrade do. A vitória do casamento gay no STJ. Disponível em: <http://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=776>. Acesso em: 11 jun. 2012. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília. Brasília (DF): Senado Federal, 1988. ______. Código Civil (2002). Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 2002. BRAUNER, Maria Cláudia Crespo. O pluralismo no direito de família brasileiro: realidade social e reinvenção da família. In: WELTER, Belmiro Pedro; MADALENO, Rolf (Coord.). Direitos fundamentais do direito de família. Porto Alegre: Liv. do Advogado, 2004. BRISOLLA, Fabio. Casamento de homossexuais divide os tribunais brasileiros. Folha de São Paulo. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ 1099673-casamento-de-homossexuais-divide-os-tribunais-brasileiros.shtml>. Acesso em: 16 jun. 2012. BRITTO, Carlos Ayres. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4277. Supremo Tribunal Federal, Julgado em 05 maio 2011. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI4277.pdf>. Acesso em: 02 mai. 2012. CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 2. ed. Coimbra: Almedina, 1998. 242 CHAVES, Marianna. Algumas notas sobre as uniões homoafetivas no ordenamento brasileiro após o julgamento da ADPF 132 e da ADI 4277 pelo STF. Disponível em: <http://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=728>. Acesso em: 06 mai. 2012. DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 8. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. ______. Família homoafetiva. In: TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; RIBEIRO, Gustavo Pereira Leite (Coord.). Manual de direito das famílias e das sucessões. Belo Horizonte: Del Rey, 2008. DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Princípios constitucionais de direito de família: guarda compartilhada à luz da lei nº 11.698/08: família, criança, adolescente e idoso. São Paulo: Atlas, 2008. GARCIA, Emerson. Conflito entre normas constitucionais: esboço de uma teoria geral. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. GIORGIS, José Carlos Teixeira. A relação homoerótica e a partilha de bens. In: Instituto Interdisciplinar de Direito de Família (Coord.). Homossexualidade: discussões jurídicas e psicológicas. Curitiba: Juruá, 2001. GUERRA FILHO, Willis Santiago. O princípio da proporcionalidade como garantia fundamental do Estado democrático de Direito. In: PEIXINHO, Manoel Messias; GUERRA, Isabella Franco; NASCIMENTO FILHO, Firly. Os princípios da Constituição de 1988. Lúmen Júris. Rio de Janeiro, 2006. IBDFAM. Tribunal de Justiça de Alagoas autoriza cartórios a realizar casamento gay. Disponível em: <http://www.ibdfam.org.br/?noticias¬icia=4707>. Acesso em: 16 jun. 2012. 243 IBIAS, Delma Silveira. Aspectos jurídicos acerca da homossexualidade. In: Instituto Interdisciplinar de Direito de Família (Coord.). Homossexualidade: discussões jurídicas e psicológicas. Curitiba: Juruá, 2001. LEAL, Mônia Clarissa Hennig. A Constituição como princípio: os limites da jurisdição constitucional brasileira. Barueri: Manole, 2003. MADALENO, Rolf. Curso de direito de família. 4. ed., rev., ampl. e atual. Rio de Janeiro: GEN, 2011. MELLO, Celso de. Ação Direta de Incontitucionalidade nº 4277. Supremo Tribunal Federal, Julgado em 05/05/2011. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI4277CM. pdf>. Acesso em: 02 mai. 2012. MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais: teoria geral. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2006. ______. Direito constitucional. 28. ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2012. OLIVEIRA, Fábio Corrêa Souza de. Por uma teoria dos princípios: o princípio constitucional da razoabilidade. 2. ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 16. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2006. PINTO, Fernando Henrique. Protocolo nº 1209/2011 (Conversão de União Estável em Casamento). Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/Quentes/17, MI136337,71043-Juiz+de+JacareiSP+converte+uniao+estavel+de+pessoas+do+ mesmo+sexo+em>. Acesso em: 11 jun. 2012. REZEK NETO, Chade. O Princípio da Proporcionalidade no Estado Democrático de Direito. São Paulo: Lemos & Cruz, 2004. 244 RIOS, Roger Raupp. A homossexualidade no direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001. RIZZARDO, Arnaldo. Direito de família. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. SALOMÃO, Luis Felipe. Recurso Especial nº 1183378. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp?registro=201000366638&dt_ publicacao=01/02/2012>. Acesso em: 11 jun. 2012. SPENGLER, Fabiana Marion. Os transexuais e a possibilidade de casamento. In: WELTER, Belmiro Pedro; MADALENO, Rolf (Coord.). Direitos fundamentais do direito de família. Porto Alegre: Liv. do Advogado, 2004. TEIXEIRA LEMOS, Maitê Damé. Os conflitos entre direitos fundamentais nas relações jurídicas entre transexuais e terceiros: a visão da jurisdição constitucional brasileira em face do princípio da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana. Disponível em: <http://www.unisc.br/portal/pt/cursos/mestrado/mestrado-e-doutorado-em-direito/dissertacoes-defendidas.html>. Acesso em: 29 mai. 2012. 245 A UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DO AMICUS CURIAE COMO FORMA DE PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA NO CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE BRASILEIRO: UMA INVESTIGAÇÃO A PARTIR DAS AÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Juliele Busnello Tramontini79 Caroline Müller Bitencourt80 RESUMO O presente artigo versa sobre a investigação da figura do amicus curie no controle de constitucionalidade no direito brasileiro, com ênfase no estudo da ação de descumprimento de preceito fundamental, com o objetivo de demonstrar, como tal figura tem contribuido para o processo de democratização da interpretação constitucional. Para tanto, parte-se de uma breve abordagem deste instituto e de sua recepção no controle concentrado de constitucionalidade, para a posteriori, proceder uma investigação de como este instituto tem contribuído na pluralização dos argumentos nas ações de descumprimento de preceito fundamental. Pode-se constatar que tal figura vem sendo amplamente aceita pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal, que tem deferido 79 Academica do Curso de Direto da Universidade de Santa Cruz do Sul. E-mail: [email protected] Doutora em Direito. Mestre em Direito. Especialista em Direito Público. Professora da graduação e pós-graduação lato sensu da Universidade de Santa Cruz do Sul e da Universidade de Passo Fundo. E-mail: [email protected]. 80 246 o ingresso de terceiros como amici curiae, com fundamento em ampliar o espaço de discussão e interpretação constitucional. Palavras-chave: amicus curie. ação de descumprimento de preceito fundamental. controle concentrado de constitucionalidade. democratização. interpretação constitucional. 1. Introdução No presente trabalho, abordar-se-á o instituto do amicus curiae como forma de participação democrática no controle concentrado de constitucionalidade brasileiro. Assim, serão analisados os pedidos de ingresso através deste mecanismo nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental, para constatar se esta figura tem sido admitida como forma de viabilizar a pluralização do debate constitucional, e verificar se efetivamente os argumentos por ela trazidos ao processo têm sido referidos nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Para tanto, analisar-se-á a recepção que o ordenamento jurídico brasileiro concedeu ao mecanismo do amicus curie, bem como se este tem sido aceito como forma de democratizar a interpretação constitucional junto ao controle de constitucionalidade, atuando como instrumento de ampliação do campo dos intérpretes da constituição. Por fim, serão estudados os casos das solicitações, deferidas ou não, de ingresso de amicus curiae nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental, a fim de verificar se os argumentos levados ao processo pelos amici curiae serviram como fundamentação para as decisões dos Ministros. 2. O amicus curiae como instrumento de abertura no controle de constitucionalidade brasileiro A interpretação constitucional não deve ficar adstrita apenas aos órgãos institucionalizados. É necessário ampliar a participação de cada vez mais indivíduos no processo de tomada de decisões em questões relevantes da sociedade, caminhando, assim, para a democratização da interpretação constitucional. Nesse contexto, destaca-se a figura do amicus curiae, que pode ser apontada como uma das formas de efetivar a pluralização do debate constitucional. 247 As primeiras menções a que se tem conhecimento da figura do amicus curiae são atribuídas ainda ao direito romano; contudo, é praticamente unânime entre os doutrinadores o reconhecimento do direito inglês como pioneiro na aplicação do instrumento ora estudado. Apesar das primeiras constatações da existência do mecanismo estarem relacionadas ao antigo direito romano, é possível somente na Inglaterra encontrar os primeiros registros da efetiva admissão da figura. É como traz Beckwith e Sobernhein (1948), apud Bisch (2010, p. 20): “a prática de pessoas alheias às lides aconselharem as Cortes em alguma questão de Direito foi estabelecida na formação do common law, e referência a este fato existiria nos Year Books”. Quanto à função assumida pelo instrumento, inicialmente, este tinha o papel de apontar detalhes específicos no processo, assim como precedentes jurisprudenciais que até então não haviam sido ventilados pelas partes ou, ainda, que foram ignorados pelo juiz. Assim, atuava sem interesse próprio, apenas com o intuito de chamar atenção para fatos esquecidos, como no caso da existência de uma norma específica que regulamentava a matéria em debate. A tradução literal da palavra amicus curiae caracteriza muito bem a função desenvolvida inicialmente pelo instrumento. Para Santos (2005)81, “amicus curiae é termo de origem latina que significa amigo da corte”. Segundo Medina (2010), amigo da corte é a melhor definição para compreender o papel desenvolvido inicialmente pelo instrumento, que era outro meio de fonte da qual a corte poderia se valer quando julgasse necessário. Em seu surgimento, o instrumento era meramente informativo e servia para suprir possíveis informações não observadas a priori. Quanto à admissão, segundo Bisch (2010), inicialmente não havia nada previsto referente a regulamentações que definissem a admissão ou não da presente figura, nem mesmo existiam dispositivos que abordassem suas atribuições; de maneira que era a discricionariedade do juiz que comandava sua aplicação ou não. Através do breve resumo histórico, que fez referência ao nascimento da figura estudada, é possível afirmar que basicamente o papel assumido pelo instrumento 81 Disponível em http://www.jus.com.br. 248 era o de auxiliar da corte, que, sem manifestar interesse próprio, tinha como função esclarecer questões fáticas e de direito. O estudo do amicus curiae é relativamente novo no ordenamento jurídico brasileiro, mas existe uma figura similar, em âmbito restrito, que foi trazida com a Lei 6.385/76, que disciplina o mercado de valores imobiliários. Embora nos traga Bueno (2006, p. 196) o fato de que “não há, no direito brasileiro, nenhuma referência legislativa expressa à figura do amicus curiae. Não pelo menos com o emprego desse nome”; é reconhecida a admissão do amicus curiae nos processos que envolvem a Comissão de Valores Imobiliários (CVM). Esse caso nada mais é do que a previsão legal de que um terceiro, estranho à lide, se manifeste no presente processo. Essa especificidade tem fundamento para possibilitar que o juiz competente obtenha informações necessárias e específicas para prolatar a sentença. A CVM auxilia o magistrado a interpretar provas colhidas durante o processo, possibilitando a este a interpretação que sozinho deveria se valer de grande esforço para compreender. Essa maneira de intervenção é somente uma das funções que podem ser atribuídas ao amicus curiae. Essa aplicação assemelha-se à aplicação na França e na Itália, assumindo o caráter de intervenção voluntária. Porém, não possui nenhuma característica da sua aplicação mais democrática. Foi somente com a Lei 9.868/99 que o amicus curiae passou a ter previsão legal no ordenamento jurídico brasileiro. Importa, ainda, ressaltar que a figura ora estudada não pode ser confundida com a intervenção de terceiros, uma vez que, no Brasil, esses dois institutos diferem. Segundo Leal (2011), quando se utiliza a expressão “terceiro” referindo-se ao amicus curiae, não se está caracterizando essa participação com a intervenção de terceiros tradicional, mas somente é uma alusão à participação de outros órgãos ou entidades que não as partes do processo. Segundo a autora, nesse caso a figura visa a contribuir com o debate constitucional. Discorrido sobre o conceito histórico da figura do amicus curiae, passa-se a estudar como a figura vem sendo empregada no controle de constitucionalidade brasileiro, cuja importância é atribuída ao fato de que a Constituição é hierarquicamente superior às demais normas do ordenamento jurídico. Assim, toda lei, ato normativo ou qualquer disposição, deve estar em conformidade com a Carta Magna. 249 2. Alguns tópicos sobre o controle concentrado de constitucionalidade e a previsão jurídica do amicus curie O desenvolvimento do controle de constitucionalidade, segundo Mendes, Coelho e Branco (2008), deu-se a partir de diversas concepções filosóficas e históricas e pode ser dividido em modelo concentrado e difuso, também conhecido por sistema austríaco/europeu e sistema americano. No entanto, ainda segundo o autor, existem dois países que adotam o sistema misto: Brasil e Portugal. Atribui-se a origem do controle concentrado de constitucionalidade ao debate de Kelsen x Schimit, no qual acabou por prevalecer a tese levantada por Kelsen sobre quem seria o Guardião da Constituição. Canotilho (2003) explica que Kelsen defendia a ideia de uma justiça constitucional autônoma, que, a partir da criação de um Tribunal Especial, controlaria, de maneira abstrata e concentrada, a constitucionalidade das leis. O controle concentrado de constitucionalidade, segundo Mendes, Coelho e Branco (2011), atribui a competência para julgar em definitivo sobre a constitucionalidade de uma lei a um único órgão, de maneira a excluir todos os outros. Ainda segundo o doutrinador, esse sistema apresenta eficácia ex tunc da decisão para o caso concreto. No entanto, sabe-se que é possível no Brasil sempre que se tratar de relevante interesse social e questões de segurança jurídica, a modulação temporal dos efeitos (conforme previsão do art. 27 da Lei 9.868/99), o que permite que haja efeito ex nunc, ou pró-futuro. Uma característica do controle concentrado é ser um controle por via principal, que, segundo Canotilho (2003), é chamado dessa forma porque, ao contrário do que acontece no controle incidental, aqui as questões de inconstitucionalidade são o objeto central da discussão. De maneira que são levadas, através de um processo constitucional autônomo, a algum Tribunal com competência para julgá-las. O controle concentrado também é chamado de controle abstrato, que, segundo Canotilho (2003), significa apreciar a inconstitucionalidade de uma norma independentemente de qualquer litígio, inexistindo um caso concreto. No controle abstrato não existem partes, o objetivo é a defesa da constituição através da eliminação de normas contrárias à Constituição. Por se tratar de um processo objetivo, os legitimados para solicitar esse controle formam um rol restrito. Com a Constituição de 1988 surgem novos valores sociais, como a democracia e a soberania popular, que se tornaram pilares do próprio Estado brasileiro. Essa evolução refletiu também na própria prestação jurisdicional. A participação popular 250 passou a existir no campo jurisdicional, com o intuito de garantir a execução dos direitos constitucionais, que se concretizou a partir de um processo de abertura à interpretação Constitucional. Segundo Mendes, Coelho e Branco (2011), a Carta Magna de 1988 foi responsável por ampliar de modo significativo os mecanismos de proteção judicial, bem como o controle de constitucionalidade das leis, inclusive consagrando instrumentos como o habeas corpus e o habeas data. Continua o autor afirmando que a grande mudança trazida pela Constituição de 1988 foi no âmbito do controle concentrado das normas, com a ampliação dos legitimados para ingressar com a ação direta de inconstitucionalidade, bem como a criação de novos mecanismos como a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ação declaratória de constitucionalidade e a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. É possível afirmar que esses instrumentos surgem para colocar em prática efetivamente o que aconteceu em quase todos os Estados Democráticos pelo mundo. O movimento de abertura da interpretação Constitucional, no pensamento do alemão Häberle (1997), é a “sociedade aberta dos intérpretes da Constituição”. A partir de 1988, o rol de legitimados para propor ação direta de inconstitucionalidade e ação de declaração de constitucionalidade foi ampliado, “ex vi” artigo 103 da Constituição Federal. Segundo Mendes, Coelho e Branco (2011), a ampliação do rol dos legitimados para propor a ação direta de inconstitucionalidade e a criação da ação declaratória de constitucionalidade reforçou o controle abstrato em detrimento ao difuso. A Constituição de 1988 ainda foi responsável por outra ação do controle concentrado: a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, que foi prevista de maneira bastante tímida pelo artigo 102, § 1º. Mendes, Coelho e Branco (2008) afirmam que essa ação, apesar de recente, já trouxe significativas mudanças no sistema brasileiro, uma vez que permite a antecipação das decisões sobre controvérsias constitucionais importantes, resolve acerca de controvérsias do direito ordinário pré-constitucional, bem como, devido à eficácia erga omnes e ao efeito vinculantes de suas decisões, permite o juízo sobre a legitimidade ou não de atos editados pelos entes municipais. A Lei 9.882/99, que dispõe acerca do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, traz em seu artigo 1º a descrição do objeto de controle de constitucionalidade via esta ação. Bem como prevê em seu artigo 2º que o rol de legitimados para propor a Arguição é o mesmo da Ação Direta de Constitucionalidade e da Ação Direta de Inconstitucionalidade. 251 Após a breve introdução acerca do controle de constitucionalidade brasileiro e as mudanças trazidas pela Constituição de 1988, passar-se-á a analisar como a figura do amicus curiae foi recepcionada pelo controle abstrato de constitucionalidade. Segundo o autor Del Prá (2007), em 1999, com a aprovação da Lei 9.868/99, que dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, ocorreu um fato histórico no Brasil, pois em seu artigo 7º § 2º, a lei trouxe inovações, ao positivar a possibilidade de ingresso de terceiros ao processo no controle concentrado de constitucionalidade, uma vez que a lei regulamenta ADI e ADC. Pode ser apontada como finalidade dos dispositivos legais que servem de base normativa para legitimar a admissão de terceiros, via o instituto do amicus curiae, a pluralidade do debate constitucional e, consequentemente, a democratização da atividade jurisdicional. A figura também aparece regulamentada pelo Regimento Interno do STF, ainda que de modo sutil o regimento traga em seu artigo 131 a previsão da sustentação oral por aqueles admitidos como amici curiae no processo. Para Bisch (2010), a conotação que o instituto do amicus curiae assumiu a partir de 1999 inevitavelmente nos remete às ideias defendidas por Peter Häberle, uma vez que sua obra foi fonte de pesquisas realizadas pelo Ministro Gilmar Mendes, um dos principais idealizadores das Leis nº 9.868/99 e 9.882/99. O controle abstrato de Constitucionalidade é tido como objetivo, pois não envolve partes, nem interesses específicos, caracterizando-se por discutir o ato normativo em tese. Assim, sua função não é a solução de litígios, mas sim a guarda da Constituição. Como consequência da objetividade desses processos, tem-se a vedação à intervenção de terceiros. Assim, como não há direito subjetivo, bem como não há nenhuma pretensão concreta, não poderá haver intervenção de terceiros. Acontece que, a verificação da constitucionalidade ou não de uma norma não pode estar concentrada na simples análise da letra constitucional sem levar em consideração os aspectos de criação da norma e os presentes fatos. É necessário que o fato e a norma se comuniquem. Foi esse pensamento que: [...] inspirou o legislador da Lei 9.868/99 e da Lei 9.882/99 a avançar no sentido de instalar no Brasil um verdadeiro modelo procedimental aberto de controle de constitucionalidade, como forma de manifestação do princípio democrático expressamente adotado pelo Constituinte de 1988, possibilitando 252 a ampla requisição de informações a uns e a abertura à manifestação de outros. (DEL PRÁ, 2007, p. 77) A análise do artigo 7º, § 2º deixa claro, segundo Binenbojm (2005), que a intenção do legislador era a de pluralizar o debate Constitucional, uma vez que permite ao Tribunal ter conhecimento das razões e elementos trazidos ao processo por aqueles que, embora não sejam legitimados para deflagrar o processo, serão destinatários da decisão que será proferida. Na mesma linha, mostra Leal (2011) que a admissão de terceiro na qualidade de amicus curiae é fator de legitimação social das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal, de maneira que viabiliza a abertura da fiscalização das normas através do controle concentrado de constitucionalidade. Para Celso de Mello, a admissão de terceiros via instituto do amicus curiae, pelos dispositivos legais também pode ser apontada como forma de legitimar a pluralidade do debate constitucional e, consequentemente, a democratização da atividade jurisdicional. Assim, cabe transcrever um trecho de uma decisão do Ministro Celso de Mello: A admissão de terceiro, na condição de amicus curiae, no processo objetivo de controle normativo abstrato, qualifica-se como fator de legitimação social das decisões da Suprema Corte, enquanto Tribunal Constitucional, pois viabiliza, em obséquio ao postulado democrático, a abertura do processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, em ordem a permitir que nele se realize, sempre sob uma perspectiva eminentemente pluralística, a possibilidade de participação formal de entidades e de instituições que efetivamente representem os interesses gerais da coletividade ou que expressem os valores essenciais e relevantes de grupos, classes ou estratos sociais. Em suma: a regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99 - que contém a base normativa legitimadora da intervenção processual do amicus curiae - tem por precípua finalidade pluralizar o debate constitucional. (MELLO, 2001. Disponível em http://redir.stf.jus.br) Ainda nas palavras do Ministro Joaquim Barbosa: [...] a admissão de terceiros na qualidade de amicus curiae traz ínsita a necessidade de que o interessado pluralize o debate constitucional, apresentando informações, documentos ou quaisquer elementos importantes para o julgamento da 253 ação direta de inconstitucionalidade. (BARBOSA, 2009. Disponível em http:// www.stf.jus.br) Uma vez estudada a recepção que o controle concentrado atribuiu a figura do amicus curiae no controle de constitucionalidade brasileiro, será compreendido de que forma a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental prevê o instrumento em sua legislação. 3. Análise da figura do amicus curiae nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental Pelo caráter mais amplo atribuído ao ingresso de amici curiae nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental, essa ação foi escolhida para ser o objeto do próximo passo do presente trabalho, onde serão analisados os pedidos para manifestação de amici curiae, bem como seu deferimento/indeferimento e a respectiva argumentação, para, posteriormente, concluir se a figura, ora estudada, vem sendo utilizada como instrumento que viabiliza a abertura da jurisdição constitucional. Porém, antes cabe compreender a recepção que este mecanismo recebeu nessa ação do controle concentrado. A Lei nº 9.882/99 dispõe sobre o processo e julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental e traz como finalidade da mesma evitar ou reparar lesão a preceito fundamental. E prevê, em seu artigo 6º, § 2º, que a critério do relator poderão ser autorizadas as sustentações orais, bem como a juntada de memoriais por requerimento de interessados no processo. O presente dispositivo vai um pouco além da Lei nº 9.868/99, ao prever expressamente em seu § 2o que poderá ser autorizada a sustentação oral e a juntada de memoriais. Atribui à figura do amicus curiae uma dimensão maior da estudada até então junto à forma de ingresso previsto para a ADI e ADC. Segundo Bisch (2010), o Supremo Tribunal Federal distinguiu a ADPF da ADI e ADC, posto que, nas primeiras ações, há a previsão de participação de entidades e órgãos, contudo, não podem intervir voluntariamente pessoas físicas, a não ser que haja requisição do juiz. Já na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental admite-se a manifestação de todos os interessados no processo, tornando o rol de legitimados para ingressarem como amici curiae mais extenso. 254 Compreende-se que o legislador ampliou a participação do amicus curiae nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental em relação às Ações de Declaração de Constitucionalidade e Inconstitucionalidade. Desta forma, serão analisados os pedidos de ingresso da figura na primeira ação, bem como possíveis contribuições às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Diante do exposto, realizou-se uma pesquisa dos pedidos de ingresso de amicus curiae nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental, para constatar, mediante a análise dos deferimentos e indeferimentos, como o Supremo Tribunal vem se comportando a respeito da matéria. O intuito é constatar se o amicus curiae vem sendo aceito, já que seu ingresso no processo é discricionariedade atribuída ao relator, bem como se esse assumiu o papel de mero instrumento que viabiliza a abertura da jurisdição constitucional, ou se realmente seu ingresso nos processos é relevante a ponto de influenciar nas decisões do Supremo Tribunal Federal. A pesquisa foi realizada por meio eletrônico junto à página on-line do Supremo Tribunal Federal. Os termos utilizados foram: amicus curiae, cujo resultado apontou as ADPFs números: 33, 54, 83, 97, 101, 109, 128, 130, 132, 134, 144, 145, 147, 155, 167 e 183; e o sinônimo amici curiae, que apontou as diferentes ADPFs números: 46, 77, 117, 153, 171, 187 e 234. Juntos, os termos apresentaram 23 resultados. Desse total, o pedido de ingresso na qualidade de amicus curiae foi deferido em 16 Arguições números: 33, 46, 77, 83, 97, 101, 130, 132, 144, 153, 155, 167, 171, 183, 187 e 234. Na ADPF 33, foi admitido o ingresso de dois amici curiae, sendo eles o instituto do desenvolvimento econômico-social do Pará (Idesp), Afonso Silva Mendes e outros; porém, sem reconhecer os recursos interpostos por este. Na ADPF 46, houve o ingresso de dois amici curiae a Associação Brasileira de Empresas de Transporte Internacional (Abraec) e o Sindicato Nacional das Empresas de Encomendas Expressas, porém, o resultado foi contrário ao interesse de ambas as entidades, restando julgada improcedente a Arguição. Houve ainda duas negativas de ingresso como amicus curiae, da Federação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas, Correios e Telégrafos e Similares (Fentect) e do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e Similares do Estado de Minas Gerais (Sintect/MG), por essas entidades não alcançarem diretamente a categoria profissional representada pelo requerente e pela falta de pertinência temática. Na ADPF 77, ainda não julgada, foram admitidos como amici curiae Multiplic Ltda., Federação Brasileira de Banco (Febraban) e Banco Central do Brasil (Bacen). 255 Na ADPF 83, que restou não reconhecida, foi requerido o ingresso do amicus curiae na Associação dos Servidores Inativos do Município de Vitória e de José Ribeiro Machado e outros; no entanto, foi deferido apenas o ingresso do primeiro conforme decisão abaixo: Ante a relevância da matéria e a representatividade da Associação dos Servidores Inativos do Município de Vitória (ASSIM), defiro a sua inclusão no processo, na qualidade de amicus curiae. Indefiro, por outro lado, o ingresso de José Ribeiro Machado e outros, porquanto tal pretensão não encontra fundamento no § 2º do art. 7º da Lei nº 9.868/99 (“O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observando o prazo no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades”). (BRITTO, 2008, grifado no original. Disponível em http://www.stf.jus.br) Na ADPF 97, ainda não julgada, a Associação dos Delegados de Polícia do Pará (Adepol/PA) e o Estado do Pará requereram ingresso como amici curiae. Ambos os pedidos foram deferidos e o relator, Senhor Ministro Gilmar Mendes, em um extenso despacho, apresentou uma verdadeira reflexão sobre a importância do amicus curiae nos processos constitucionais. Trouxe exemplos do processo americano: [...] a prática americana do amicus curiae brief permite à Corte Suprema converter o processo aparentemente subjetivo de controle de constitucionalidade em um processo verdadeiramente objetivo (no sentido de um processo que interessa a todos), no qual se assegura a participação das mais diversas pessoas e entidades. (MENDES, 2007. Disponível em http://redir.stf.jus.br) O Ministro deixou claro que a Lei nº 9.882/1999 não obriga, somente faculta ao relator a possibilidade de ouvir as partes nos processos que ensejarem a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Isso outorga às partes um limitado direito de participação no processo objetivo submetido à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Alegou também que, talvez, em decorrência do universo demasiado amplo dos possíveis interessados, que o legislador tenha pretendido outorgar ao relator alguma forma de controle quanto ao direito de participação dos milhares de interessados no processo. Porém, o Ministro, a todo o momento, se mostrou favorável ao ingresso de terceiros ao processo. Em face do caráter objetivo do processo, é fundamental que não só os representantes de potenciais interessados nos processos que deram origem à ação de 256 descumprimento de preceito fundamental, mas também os legitimados para propor a ação possam exercer direito de manifestação. Independentemente das cautelas que hão de ser tomadas para não inviabilizar o processo, deve-se anotar que tudo recomenda que, tal como na ação direta de inconstitucionalidade e na ação declaratória de constitucionalidade, a arguição de descumprimento de preceito fundamental assuma, igualmente, uma feição pluralista, com a participação de amicus curiae. Assim, também no processo da arguição de descumprimento de preceito fundamental compete ao Relator, por meio de irrecorrível, acolher ou não pedido de interessados para que atuem na situação de amici curiae, hipótese diversa da figura processual da intervenção de terceiros. (MENDES, 2007. Disponível em http://redir.stf.jus.br) Mesmo a manifestação do amicus curiae tendo ocorrido fora do prazo, o Ministro relator deferiu o ingresso da Adepol na causa, alegando ser relevante a matéria do caso em questão e pela notória contribuição que a manifestação do amicus poderia levar para o julgamento da causa. O Ministro ainda alega que a construção jurisprudencial vem inclinando-se para essa decisão, a fim de proporcionar um campo cada vez mais receptivo à interferências de cada vez mais sujeitos, argumentos e visões no campo do processo constitucional. Essa inovação pressupõe, além de um amplo acesso de indivíduos no processo constitucional, a possibilidade efetiva de o Tribunal contemplar as diversas perspectivas na apreciação da legitimidade de um determinado ato questionado. Não há dúvida, outrossim, de que a participação de diferentes grupos em processos judiciais de grande significado para toda a sociedade cumpre uma função de integração extremamente relevante no Estado de Direito. A propósito, Peter Häberle defende a necessidade de que os instrumentos de informação dos juízes constitucionais sejam ampliados, especialmente no que se refere às audiências públicas e às “intervenções de eventuais interessados”, assegurando-se novas formas de participação das potências públicas pluralistas enquanto intérpretes em sentido amplo da Constituição. (MENDES, 2007, grifado no original. Disponível em http://redir.stf.jus.br) Continua o Ministro: Ao ter acesso a essa pluralidade de visões em permanente diálogo, este Supremo Tribunal Federal passa a contar com os benefícios decorrentes dos 257 subsídios técnicos, implicações político-jurídicas e elementos de repercussão econômica que possam vir a ser apresentados pelos “amigos da Corte”. Essa inovação institucional, além de contribuir para a qualidade da prestação jurisdicional, garante novas possibilidades de legitimação dos julgamentos do Tribunal no âmbito de sua tarefa precípua de guarda da Constituição. É certo, também, que, ao cumprir as funções de Corte Constitucional, o Tribunal não pode deixar de exercer a sua competência, especialmente no que se refere à defesa dos direitos fundamentais em face de uma decisão legislativa, sob a alegação de que não dispõe dos mecanismos probatórios adequados para examinar a matéria. (MENDES, 2007, grifado no original. Disponível em http://redir.stf.jus.br) De maneira que conclui, admitindo a figura ao processo: Entendo, portanto, que a admissão de amicus curiae confere ao processo um colorido diferenciado, emprestando-lhe caráter pluralista e aberto, fundamental para o reconhecimento de direitos e a realização de garantias constitucionais em um Estado Democrático de Direito. Assim, defiro o pedido da Associação dos Delegados de Polícia do Pará - ADEPOL/PA para que possa intervir no feito na condição de amicus curiae. (MENDES, 2007. Disponível em http:// redir.stf.jus.br) A matéria abordada na ADPF 101 é a constitucionalidade de importação de pneus usados de qualquer espécie, para uso como matéria-prima ou como bem final de consumo no mercado nacional em face de preceitos fundamentais violados como o direito à saúde e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Nesse caso, foi requerido e deferido o ingresso de três amici curiae favoráveis ao deferimento da ADPF (Conectas Direitos Humanos, Justiça Global e Apromac – Associação de Proteção do Meio Ambiente de Cianorte). E de oito amici curiae contrários ao objeto da ADPF (Abip – Associação Brasileira da Indústria de Pneus Remoldados, BS Colway Pneus Ltda., Tal Remoldagem de Pneu Ltda., ABR – Associção Brasileira do Segmento de Reforma de Pneus, Pneuback Indústria e Comércio de Pneus Ltda., Pneus Hauer do Brasil Ltda., Ribor – Importação, Exportação, Comércio e Representação Ltda. e Associação de Defesa da Concorrência Legal e dos Consumidores Brasileiros – ADCL). No processo houve também o pedido de sustentação oral na sessão de julgamento da presente ação pelos amici: Pneuback Indústria e Comércio de Pneus Ltda., 258 Pneus Hauer Brasil Ltda, ABR – Associação Brasileira do Segmento de Reforma de Pneus e Ribor – importação e exportação, Comércio e Representações Ltda. Todos foram deferidos pela relatora do processo com base ao disposto no art. 131, § 3º, do regimento interno do Supremo, na redação dada pela emenda regimental número 15/2004. O único indeferimento de sustentação oral foi para Recap Pneus Maringá Ltda., por não haver requerimento de seu ingresso como amicus curiae e o peticionário não ter procuração nos autos. Quanto à influência dos amici curiae, em seu voto, o Ministro Gilmar Mendes mencionou os argumentos trazidos pelos amici que eram desfavoráveis à procedência da ADPF, conforme trecho do voto: Os principais argumentos para a não proibição de importação de pneus usados, trazidos pelos amici curiae que defendem tal posicionamento, referem-se, em síntese, ao seguinte: ofensa à liberdade de iniciativa e de livre comércio, ofensa à isonomia, ofensa ao princípio da legalidade, inexistência de dano ambiental e compatibilidade da atividade com a preservação ambiental e com a saúde pública (desenvolvimento sustentável). Além disso, a petição inicial destaca a relevância da controvérsia em âmbito internacional, alçada sua discussão tanto no Tribunal Arbitral do Mercosul (que permitiu ao Uruguai exportar tais bens ao Brasil), quanto na Organização Mundial do Comércio (em que o Brasil não sofreu reprimenda exigida pela Comunidade Europeia, sob a condição de demonstrar, em um determinado tempo, a adoção de normas brasileiras uniformes e eficazes neste setor comercial). (MENDES, 2009. Disponível em http://www.stf.jus.br) Contudo, apesar de o Ministro ter reconhecido os argumentos trazidos pelos amici, seu voto foi contrário, uma vez que decidiu pela parcial procedência da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, aceitando somente a importação de pneus usados de países do Mercosul por força de decisão anterior do Tribunal Arbitral do Mercosul. Esse também foi o voto dos demais Ministros, vencido somente o Senhor Ministro Marco Aurélio, que julgou improcedente a ação. Na ADPF 130, interposta pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) contra dispositivos da Lei Federal nº 5.250, de fevereiro de 1967, autorreferida como “Lei de imprensa”. Requereram ingresso como amici curiae a Federação Nacional dos Jornalistas Profissionais (Fenaj), Associação Brasileira de impressa (ABI) e Artigo 19 259 Brasil; as três entidades tiveram seu pedido atendido. Contudo, a ação foi julgada procedente, interesse que veio de encontro com os interesses dos que requereram a inclusão como amici curiae. A ADPF 132 foi julgada como parcialmente prejudicada e convertida na ADI 4.277. Antes, foram aceitos 15 pedidos de ingresso como amici curiae, que em sua maioria eram favoráveis à aprovação da APDF. Ao longo dos votos que transformou a ADPF em ADI foi possível identificar o posicionamento de alguns ministros, que inclusive citaram em seus votos argumentos trazidos pelos amici. O Ministro Celso de Mello, no início de seu voto, parabenizou às chamadas por ele “valiosíssimas” sustentações orais produzidas pelas partes e pelos terceiros que intervieram como amici curiae. Em seguida, atribuiu como item de seu voto o seguinte: “A intervenção do amicus curiae: fator de pluralização do debate constitucional e resposta à questão da legitimidade democrática das decisões do Supremo Tribunal Federal”. Onde escreveu da seguinte forma: Com a efetiva atuação das partes e, ainda, com a intervenção de diversas entidades e instituições representativas da sociedade civil, pluralizou-se o debate constitucional em torno da matéria ora em julgamento [...] e permitiu-se que o Supremo Tribunal Federal dispusesse de todos os elementos necessários à resolução da controvérsia, viabilizando-se, com tal abertura procedimental, a superação da grave questão pertinente à legitimidade democrática das decisões emanadas desta Corte [...] quando no exercício de seu extraordinário poder de efetuar, em abstrato, o controle concentrado de constitucionalidade. (MELLO, 2011, grifado no original. Disponível em http://www.stf.jus.br) Conclui de maneira a afirmar que: [...] nesse papel de intermediário entre as diferentes forças que se antagonizam na presente causa que o Supremo Tribunal Federal atua neste julgamento, considerando, de um lado, a transcendência da questão constitucional suscitada neste processo (bem assim os valores essenciais e relevantes ora em exame), e tendo em vista, de outro, o sentido legitimador da intervenção de representantes da sociedade civil, a quem se ensejou, com especial destaque para grupos minoritários, a possibilidade de, eles próprios, oferecerem alternativas para a interpretação constitucional no que se refere aos pontos em torno dos 260 quais se instaurou a controvérsia jurídica. (MELLO, 2011, grifado no original. Disponível em http://www.stf.jus.br) O relator do processo, o Ministro Ayres Britto, no decorrer de seu relatório, trouxe argumentos trazidos pelos amici curiae: [...] em razão da complexidade do tema e da sua incomum relevância, deferi os pedidos de ingresso na causa a nada menos que 14 amici curiae. A sua maioria, em substanciosas e candentes defesas, a perfilhar a tese do autor. Assentando, dentre outros ponderáveis argumentos, que a discriminação gera ódio. Ódio que se materializa em violência física, psicológica e moral contra os que preferem a homoafetividade como forma de contato corporal, ou mesmo acasalamento. E, nesse elevado patamar de discussão, é que dão conta da extrema disparidade mundial quanto ao modo de ver o dia a dia dos que se definem como homoafetivos, pois, de uma parte, há países que prestigiam para todos os fins de direito a união estável entre pessoas do mesmo sexo, a exemplo da Holanda, Bélgica e Portugal, e, de outro, países que levam a homofobia ao paroxismo da pena de morte, como se dá na Arábia Saudita, Mauritânia e Iêmen. (BRITTO, 2011. Disponível em http://www.stf.jus.br) Também o Ministro Luis Fux, em seu voto, citou argumentos que foram levados ao processo via amicus curiae: Impende estabelecer algumas premissas fundamentais para a apreciação da causa. A primeira delas, bem retratada nas petições iniciais e nas diversas manifestações dos amici curiae, é a seguinte: a homossexualidade é um fato da vida. Há indivíduos que são homossexuais e, na formulação e na realização de seus modos e projetos de vida, constituem relações afetivas e de assistência recíproca, em convívio contínuo e duradouro – mas, por questões de foro pessoal ou para evitar a discriminação, nem sempre público – com pessoas do mesmo sexo, vivendo, pois, em orientação sexual diversa daquela em que vive a maioria da população. A segunda premissa importante é a de que a homossexualidade é uma orientação e não uma opção sexual. Já é de curso corrente na comunidade científica a percepção – também relatada pelos diversos amici curiae – de que a homossexualidade não constitui doença, desvio ou distúrbio mental, mas uma característica da personalidade do indivíduo. (FUX, 2011, grifado no original. Disponível em http://www.stf.jus.br) 261 O Ministro Gilmar Mendes fez alusão à figura do amicus curiae, no entanto, sem trazer argumentos utilizados por esta ao processo: [...] eu também gostaria de ressaltar a importância deste debate, a partir das sustentações orais apresentadas e da participação dos diversos requerentes, requeridos e amici curiae, e mostrar, inclusive, a beleza desse processo constitucional que permite uma participação tão ampla e plural no âmbito da nossa jurisdição constitucional. (MENDES, 2011. Disponível em http://www.stf.jus.br) NA ADPF 144, julgada improcedente, a Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR), Partido Progressista (PP) requereram ingresso como amici curiae. O Ministro Relator Celso de Mello deferiu o pedido alegando que se encontram atendidas as condições que justificam a intervenção dessa entidade de classe de âmbito nacional. Nas palavras de Mello (2008, p. 1), “impregnada de suficiente e adequada representatividade”. Na ADPF 153, ainda não julgada, foi deferido o ingresso como amicus curiae à Associação Juízes para a Democracia, Centro pela Justiça e o direito internacional (Cejil), Associação Brasileira de Anistiados Políticos (Abap), Associação Democrática e Nacionalista de Militares. Na ADPF 155, reconhecida após a interposição de agravo regimental, o PSDB ingressou com medida cautelar, objetivando conferir interpretação conforme a Constituição ao artigo 224 do Código Eleitoral, de maneira que, seja qual for o motivo da nulidade, e independentemente de a eleição ter ocorrido em dois turnos, se a maioria dos votos for de sufrágios nulos, impõe-se a convocação de nova eleição. Foram indeferidos os pedidos de ingresso como amici curiae de Luciano Cartaxo Pires de Sá e de José Targino Maranhão. O PRTB requereu ingresso como amicus curiae e teve seu pedido indeferido pelo Ministro Relator do processo: Inicialmente, verifico que a agremiação política ora requerente não se inclui no rol de legitimados do art. 103, VIII, da Constituição, uma vez que não possui representação no Congresso Nacional. De outro lado, como bem assentou o iminente Min. Celso de Mello, no julgamento da ADI 3.045/DF, de sua relatoria: “a intervenção do ‘amicus curiae’, para legitimar-se deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em 262 ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional”. (LEWANDOWSKI, 2008. Disponível em http://www.stf.jus. br, grifado no original) No entanto, o mesmo Ministro deferiu o ingresso do amicus curiae ao Partido Verde (PV), ao PMDB e à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Paraíba, mediante a seguinte argumentação: Verifico que o pedido foi formulado por agremiação política que atende os requisitos necessários para participar da presente ação na qualidade de amigo da Corte. Sobre a questão, colho pronunciamento do Min. Celso de Mello, nos autos da ADI 3.045/DF, de sua relatoria: “a intervenção do amicus curiae, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional”. (LEWANDOWSKI, 2008, grifado no original. Disponível em http://www.stf.jus.br) Na ADPF 167, ainda não julgada, proposta pelo PDT contra o Tribunal Superior Eleitoral, em razão da competência daquela Corte para processar e julgar recursos contra a expedição de diplomas derivados de eleições estaduais e federais, os partidos PRTB, PMDB, PPS e PR requereram ingresso como amici curiae. O relator, Senhor Ministro Eros Grau, novamente deferiu o ingresso. Na ADPF 171, julgada parcialmente procedente: Preliminarmente, o Tribunal, por maioria, conheceu da arguição de descumprimento de preceito fundamental [...] falaram: pela Advocacia-Geral da União, o Ministro José Antônio Dias Toffoli; pelos amici curiae Conectas Direitos Humanos, Justiça Global e Associação de Proteção do Meio Ambiente de Cianorte - APROMAC, o Dr. Oscar Vilhena Vieira; pelos amici curiae ABIP - Associação Brasileira da Indústria de Pneus Remoldados; BS Colway Pneus Ltda., Tal Remoldagem de Pneus Ltda.; ABR - Associação Brasileira do Segmento de Reforma de Pneus; Pneuback Indústria e Comércio de Pneus Ltda.; Pneus Hauer do Brasil Ltda., RIBOR - Importação, Exportação, Comércio e Representações Ltda. e Associação de Defesa da Concorrência Legal e dos Consumidores Brasileiros - ADCL, os Drs. Emmanuel de Nora Serra, Ítaro Sarabanda Walker, Carlos Agustinho Tagliari e Ricardo Alípio da Costa. (WEBER, 2009. Disponível em http://www.stf.jus.br) 263 Na ADPF 183, ainda não julgada, o Conselho Federal da Ordem dos Músicos do Brasil, Conselho Regional do Estado de São Paulo da Ordem dos Músicos do Brasil, Sindicato dos Compositores e intérpretes do Estado de São Paulo, Conselho Regional do Estado da Paraíba da Ordem dos Músicos do Brasil, Conselho Regional da Ordem dos Músicos do Brasil de Santa Catarina, Conselho Regional de Minas Gerais da Ordem dos Músicos do Brasil, Conselho Regional da Ordem dos Músicos do Brasil – Seção Vitória do Espírito Santo, Associação Brasileira dos Festivais Independentes (Abrafin), Conselho Regional da Ordem dos Músicos do Brasil do Estado de Sergipe e Conselho Regional da Ordem dos Músicos do Brasil do Estado de Mato Grosso do Sul requereram ingresso como amici curiae, todas tiveram o pedido concedido. Assim entendeu o relator: Pois bem, a Lei nº 9.882 de 03 de dezembro de 1999, que dispõe sobre o processo e julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, não traz dispositivo explícito acerca da figura do amicus curiae. No entanto, vem entendendo este Supremo Tribunal Federal cabível a aplicação analógica do art. 7 da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999. [...] Não obstante o parágrafo 1 do art. 7 da Lei nº 9.868/99 haver sido vetado, a regra é, segundo entendimento deste Supremo Tribunal Federal, a de se admitir a intervenção de terceiros até o prazo das informações. Sucede que a própria jurisprudência desta nossa Corte vem relativizando esse prazo. (BRITTO, 2009. Disponível em http://redir.stf.jus.br) O Ministro faz referência a decisão de Gilmar Mendes: Nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, “especialmente diante da relevância do caso ou, ainda, em face da notória contribuição que a manifestação possa trazer para o julgamento da causa, é possível cogitar de hipóteses de admissão de amicus curiae, ainda que fora desse prazo [o das informações]” (ADI 3.614, Rel, Min. Gilmar Mendes). Nesse sentido foi também a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes na ADPF 97. Ante o exposto, considerando a relevância da matéria e a representatividade do Conselho Federal da Ordem dos Músicos do Brasil, defiro sua inclusão no processo, na qualidade de amicus curiae. (BRITTO, 2009, grifado no original. Disponível em http://redir.stf.jus.br) Somente o Conselho Regional da Ordem dos Músicos do Brasil do Estado do Rio de Janeiro teve seu pedido indeferido por ter sido requerido tardiamente, quando 264 o processo já se encontrava em fase de julgamento. Para tanto, o Ministro Ayres Britto afirmou que, como havia aceitado outros Conselhos Regionais da Ordem dos Músicos do Brasil, estes já estariam amplamente representados. A ADPF 187, não julgada, trata de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, ajuizada pela Procuradoria-Geral da República que postula que seja dada ao artigo 287 do Código Penal, interpretação conforme a Constituição, de forma a excluir qualquer exegese que possa ensejar a criminalização da defesa da legalização das drogas, ou de qualquer substância entorpecente específica, inclusive através de manifestações e eventos públicos. A Associação Brasileira de Estudos Sociais do Uso de Psicoativos (Abesup) e o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM) requereram ingresso como amici curiae, o qual foi deferido pelo Ministro Mello (2011)82: “eis que se acham atendidas, na espécie, as condições que justificam a intervenção dessa entidade de classe de âmbito nacional, impregnada de suficiente e adequada representatividade”. Na ADPF 234, não julgada, a Associação dos Procuradores do Trabalho (ANPT), Instituto Brasileiro do Crisotila (IBC), Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto (Abrea) e Associação Brasileira das Indústrias e Distribuidores de Produtos de Fibrocimento (Abifibro), encaminharam petição requerendo ingresso como amici curiae em ADPF que versa sobre alegada violação ao princípio federativo, à liberdade de locomoção no território nacional e à reserva de competência legislativa da União, previstos, respectivamente, nos artigos 1º, 5º, inciso XV e 22, incisos IX, X e XII da Constituição Federal. O pedido foi deferido, no entanto, sem maior fundamentação. Dessa maneira, restam sete Arguições em que o pedido de ingresso como amici curiae não foi deferido. Importa ressaltar que, na verdade, desse total, seis não foram admitidas pelo Supremo, sendo elas: 109, 117, 128, 134, 145 e 147. O motivo desse indeferimento é simplesmente porque essas ADPFs não foram admitidas, conhecidas, ou seja, não tiveram seguimento. Resta ainda a ADPF 54, que trata de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, a fim de conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 128 do Código Penal, para reconhecer não configurado o crime de aborto nas hipóteses de interrupção voluntária da gravidez de feto anencéfalo. Na presente arguição, foram indeferidos todos os pedidos de ingresso como amicus curiae. Porém, devido à relevância da matéria e aos inúmeros questionamentos 82 Disponível em http://www.stf.jus.br. 265 que provoca, foi estipulada audiência pública para ouvir, além daqueles que tiveram o pedido negado, outras entidades solicitadas pelo Supremo. Medina (2010) afirma que a audiência pública talvez seja o melhor campo para a atuação do amicus curiae. Desta forma: [...] esse auditório público vem se afirmando como uma forma complementar e talvez o ambiente propício para que o amicus possa atuar em vista de preservar o equilíbrio processual e a igualdade entre as partes. (MEDINA, 2010, p. 82) Em seu voto, o relator, Senhor Ministro Marco Aurélio, afirmou que os dados levados à audiência pública contribuíram muito para esclarecer o que é anencefalia e citou definições levadas à audiência pública. Concluída a análise das vinte e três Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental, é possível constatar que, em grande maioria, as petições de requerimento para ingressar como amicus curiae vêm sendo deferidas. Inclusive, em alguns casos, como na APDF 97 e ADPF 167, os Ministros relatores, Eros Grau e Gilmar Mendes, fizeram questão de indicar em seu despacho de deferimento, que a presente figura atua como instrumento de pluralização do debate Constitucional. Mendes, em seu voto na ADPF 97, ressaltou a ideia de Peter Häberle da sociedade aberta aos intérpretes da Constituição. Já o Senhor Ministro Ricardo Lewandowski demonstrou certa restrição quanto à figura do amicus curiae, uma vez que indeferiu mais da metade dos pedidos a ele direcionados. Na ADPF 155, negou o pedido de ingresso do PRTB, com o argumento de que este não estaria enquadrado no artigo 103, VIII, da Constituição, por não ter representatividade no Congresso Nacional, ao passo que deferiu os pedidos de outros dois partidos, PV e PMDB, alegando que estes teriam a representatividade necessária para ingressar com pedido de amicus curiae. É necessário ressaltar que o artigo 103, VIII, da Constituição Federal, apresenta o rol dos legitimados para propor Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, e não o rol dos legitimados para requer ingresso como amicus curiae. Quanto à influência exercida pelos argumentos levados ao processo pelos amicus curiae, cabe apontar a ADPF 101, onde o Ministro Gilmar Mendes, em seu voto, ressaltou os argumentos levados ao processo pelos amicus curiae. No entanto, mostrou-se desfavorável a essas alegações, decidindo, ao final, de maneira contrária aos amicus que citou. 266 Na APDF 54, analisando o voto do relator, Senhor Ministro Marco Aurélio, é possível identificar uma enxurrada de definições e explicações que foram levadas à audiência pública. De forma que resta evidente que as participações foram responsáveis por influenciar o voto ora analisado, uma vez que o voto do Ministro foi pela procedência da ação. O mesmo não pôde ser identificado ao ler o voto do Senhor Ministro Luiz Fux, que, mesmo tendo votado pela procedência da ação, em nenhum momento citou qualquer das manifestações ocorridas nas audiências públicas. No entanto, não pode ser reconhecida a influência dos amicus curiae na presente decisão, uma vez que todas as entidades que haviam requerido o ingresso e posteriormente foram convidadas a participar da audiência pública eram contrárias à aprovação da Arguição. A maioria inclusive de cunho religioso: Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Católicas pelo Direito de Decidir, Associação Nacional Pró-Vida e Pró-Família e Associação de Desenvolvimento da Família. O único caso de sucesso constante no presente trabalho é a ADPF 132. Nela, os Senhores Ministros Celso de Mello, Ayres Britto, Luiz Fux e Gilmar Mendes, em seus votos, trouxeram manifestações alegadas por amicus curiae e ao final decidiram em consonância com o que era proposto por essas figuras. Pelo exposto, conclui-se que a figura do amicus curiae está sendo utilizada como instrumento que viabiliza a abertura da jurisdição constitucional. Foi demonstrado, de forma exemplificativa, através da análise das ADPFs, que, em regra, a figura foi amplamente aceita pelo Supremo Tribunal Federal, de maneira que cumpre a função de pluralizar o debate Constitucional. Quanto à influência desse instrumento nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal, cabe ressaltar que é bastante cedo para afirmar algo a respeito. Porém, ao trazer argumentos ventilados pelos amici curiae, mesmo que para se posicionar de maneira contrária, o Supremo Tribunal Federal demonstra consideração a tudo que é levado ao processo. De maneira que se pode esperar que os argumentos fornecidos por essa figura venham a ter maior influência nos julgamentos desta Corte. 4. Conclusão Conclui-se que a figura do amicus curiae tornou-se instrumento que viabiliza a participação da sociedade no processo de interpretação da Constituição. Sendo reco- 267 nhecido no Brasil, somente quando foram aprovadas as Leis nº 9.882/99 e 9.868/99 responsáveis pela regulamentação da arguição de descumprimento de preceito fundamental, da ações de declaração de constitucionalidade e da ação de declaração de inconstitucionalidade. Sem dúvida, o campo de atuação mais importante da figura no Brasil é no controle concentrado de constitucionalidade. A Lei nº 9.882 referente à arguição de descumprimento fundamental é ainda mais importante na caracterização do amicus curiae, uma vez que prevê a sustentação oral e a entrega de memoriais pela figura, sem nunca deixar de vincular essas novidades ao deferimento do Ministro Relator do processo em questão. Porém, de acordo com o estudo realizado, pode-se dizer que os Ministros do Supremo Tribunal Federal, vem sendo bastante abertos aos pedidos de ingresso de amicus curiae nos processos de arguição de descumprimento fundamental, muitas vezes, inclusive, deferem o pedido manifestando que o ingresso da figura no processo viabiliza a pluralização do debate constitucional. Também pode-se identificar um parâmetro nas decisões proferidas pelo Senhor Ministro Ricardo Lewandowski, pelo fato do mesmo ter indeferido mais da metade dos pedidos ocorridos nos processos em que este foi relator. E um dos argumentos utilizados por este, é o de que as instituições ou pessoas físicas não constavam no rol de legitimados do artigo 103, III da Constituição Federal; porém, cabe ressaltar que esse artigo apenas identifica os legitimados para propor a presente ação, não tendo nenhuma ligação com o deferimento ou não de amici curiae. Por outro lado, cabe ressaltar a importante visão do Ministro Gilmar Mendes sobre os ingressos. Em seu despacho deferindo o ingresso de amici curiae à ADPF 97, Mendes apresentou diversos argumentos a favor do ingresso da figura justamente por conceder a esta o poder de viabilizar a pluralização do debate constitucional ao passo que legitima as decisões do Supremo Tribunal Federal. Quanto à influência trazida pela figura às decisões já proferidas, impede ressaltar que é muito cedo para demonstrar qualquer posição, vez que a figura, por ser relativamente nova no ordenamento jurídico, começou a ser utilizada recentemente e por isso não há muitas decisões para análise. No entanto, é inegável a aceitação que a figura vem recebendo pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal, vez que, em sua maioria os relatores do processo deferem o ingresso de terceiros como amici curiae, sendo assim cabe afirmar que ela vem sim desempenhando o papel de viabilizar o debate constitucional. 268 5. Referências bibliográficas BINENBOJM, Gustavo. A dimensão do amicus curiae no processo constitucional brasileiro: requisitos, poderes processuais e aplicabilidade no âmbito estadual. Revista Eletrônica de Direito do Estado, Salvador, Instituto de Direito Público da Bahia, n. 1 jan./fev./mar. 2005. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com. br>. Acesso em: 03 nov. 2011. BISCH, Isabel da Cunha. O Amicus Curiae, as tradições jurídicas e o controle de constitucionalidade: um estudo comparado à luz das experiências americana, europeia e brasileira. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. BRASIL. Constituição (1988) Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituiçao. htm>. Acesso em: 12 nov. 2011. ______. Lei nº 6.385, de 07 de dezembro de 1976. Diário Oficial da União, Brasília, 07 dez. 1976. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/ l6385.htm>. Acesso em: 12 nov. 2011. ______. Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999. Diário Oficial da União, Brasília, 11 nov. 1999. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/ L9868.htm>. Acesso em: 12 nov. 2011. ______. Lei nº 9.882, de 03 de dezembro de 1999. Diário Oficial da União, Brasília, 11 nov. 1999. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/ l9882.htm>. Acesso em: 12 nov. 2011. ______. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Constitucionalidade n. 18-5/DF, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 25 de março de 2010. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADCN& s1=18&processo=18>. Acesso em: 25 nov. 2011. ______. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.1303/SC, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 03 de dezembro de 2001. Disponível em: 269 <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=363431>. Acesso em: 25 nov. 2011. ______. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.777-8/SP, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 27 de novembro de 2003. Disponível em: <http://jusvi.com/arquivos//VotoVistaADI2777.07.02.07.pdf>. Acesso em: 26 nov. 2011. ______. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.167-3/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 14 de maio de 2009. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s 1=4167&processo=4167>. Acesso em: 26 nov. 2011. ______. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 171-4/MA, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 24 de junho de 2009 Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADPF &s1=171&processo=171>. Acesso em: 19 mai. 2012. ______. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 183-8/DF, Rel. Min. Ayres Britto, julgado em 01 de setembro de 2009. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=12151>. Acesso em: 19 mai. 2012. ______. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 187-1/DF, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 15 de junho de 2011. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADPF &s1=187&processo=187>. Acesso em: 19 mai. 2012. ______. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 234/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 28 de setembro de 2011. Disponível em: 270 <http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADPF &s1=234&processo=234>. Acesso em: 19 mai. 2012. ______. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 33-5/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 07 de dezembro de 2005 Disponível em: <http://www.stf.jus.br/por tal/peticaoInicial/verPeticaoInicial. asp?base=ADPF&s1=amicus%20&processo=33>. Acesso em: 19 mai. 2012. ______. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 46-7/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 05 de agosto de 2009 Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADPF &s1=46&processo=46>. Acesso em: 19 mai. 2012. ______. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 54-8/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 12 de abril de 2012 Disponível em: <http://www.stf.jus.br/por tal/peticaoInicial/verPeticaoInicial. asp?base=ADPF&s1=amicus &processo=54>. Acesso em: 19 maio 2012. ______. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 77-7/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 08 de setembro de 2005 Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=2312348>. Acesso em: 19 mai. 2012. ______. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 83-1/ES, Rel. Min. Ayres Britto, julgado em 24 de abril de 2008. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/por tal/peticaoInicial/verPeticaoInicial. asp?base=ADPF&s1=amicus &processo=83>. Acesso em: 19 mai. 2012. ______. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 97-1/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 01 de fevereiro de 2007 Disponível em: 271 <http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=2390414>. Acesso em: 19 mai. 2012. ______. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 101-3/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 24 de junho de 2009 Disponível em: <http://www.stf.jus.br/por tal/peticaoInicial/verPeticaoInicial. asp?base=ADPF&s1=amicus &processo=101>. Acesso em: 19 mai. 2012. ______. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 109-9/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 14 de abril de 2009 Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADPF &s1=109&processo=109>. Acesso em: 19 mai. 2012. ______. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 117-0/DF, Rel. Min. Eros Grau, julgado em 16 de outubro de 2007 Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADPF &s1=117&processo=117>. Acesso em: 19 mai. 2012. ______. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 128-5/DF, Rel. Min. Ceza Peluso, julgado em 15 de abril de 2008 Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADPF &s1=128&processo=128>. Acesso em: 19 mai. 2012. ______. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130-7/DF, Rel. Min. Ayres Britto, julgado em 30 de abril de 2009 Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADPF &s1=130&processo=130>. Acesso em: 19 mai. 2012. ______. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 132-3/DF, Rel. Min. Ayres Britto, julgado em 05 de maio de 2011. Dis- 272 ponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base= ADPF&s1=132&processo=132>. Acesso em: 19 mai. 2012. ______. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 134-0/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 27 de junho de 2008 Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADPF &s1=134&processo=134>. Acesso em: 19 maio 2012. ______. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 144-7/DF, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 06 de agosto de 2008. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADPF &s1=144&processo=144>. Acesso em: 19 mai. 2012. ______. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 145-5/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 02 de fevereiro de 2009. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADPF &s1=145&processo=145>. Acesso em: 19 mai. 2012. ______. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 147-1/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 19 de dezembro de 2008 Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADPF &s1=147&processo=147>. Acesso em: 19 mai. 2012. ______. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 153-6/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 29 de abril de 2010 Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADPF &s1=153&processo=153>. Acesso em: 19 mai. 2012. ______. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 155-2/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 4 de dezembro de 2008. Disponível em: 273 <http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADPF &s1=155&processo=155>. Acesso em: 19 mai. 2012. ______. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 167-6/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 01 de outubro de 2009. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADPF &s1=167&processo=167>. Acesso em: 19 mai. 2012. ______. Supremo Tribunal Federal. Arguição de descumprimento de preceito fundamental n. 132/RJ, Rel. Ministro Ayres Britto, julgado em 05 de maio de 2011. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=628633>. Acesso em: 25 nov. 2011. ______. Supremo Tribunal Federal. Discurso de saudação do Ministro Gilmar Ferreira Mendes na posse da Presidência do Supremo Tribunal Federal, Rel. Min. Celso de Mello, proferido em 29 de abril de 2009. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/discursoCM29abr.pdf>. Acesso em: 26 nov. 2011. ______. Supremo Tribunal Federal. Informativo referente a notas tomadas nas sessões de julgamento das Turmas e do Plenário n. 331/DF, Rel. Min. Celso de Mello, proferido em 24 de novembro de 2003. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo331.htm>. Acesso em: 26 nov. 2011. ______. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 597.165/DF, Rel. Ministro Celso de Mello, julgado em 04 de abril de 2011. Disponível em: <http:// www.stf.jus.br/noticias>. Acesso em: 26 nov. 2011. BUENO FILHO, Edgard Silveira. Amicus curiae: a democratização do debate nos processos de controle da constitucionalidade. Revista Diálogo Jurídico, Salvador, n. 14, jul./ago. 2002. Disponível em: 274 <http://www.direitopublico.com.br/pdf_14/DIALOGO-JURIDICO-14-JUNHO-AGOSTO-2002-EDGARD-SILVEIRA-BUENO-FILHO.pdf>. Acesso em: 12 nov. 2011. BUENO, Cassio Scarpinella. Amicus Curiae no Processo Civil Brasileiro: um terceiro enigmático. São Paulo: Saraiva, 2006. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. Coimbra: Almedina, 2003. DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Amicus curiae: instrumento de participação democrática e de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Curitiba: Juruá, 2007. GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. São Paulo: Malheiros, 2009. HÄBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional. A sociedade aberta dos intérpretes da Constituição: contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da Constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris Editor, 1997. LEAL, M. C. H.; BITENCOURT, C. M. Amicus Curiae: instrumento de abertura e de democratização da jurisdição constitucional ou mecanismo judicial de legitimação das decisões? Uma análise de sua função justificadora no Recurso Extraordinário n. 597.165/DF. In: REIS, J. R. D.; LEAL, R. G. de (Org.). Direitos sociais e políticas públicas: desafios contemporâneos. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2011, t. 11, p. 84-112. ______. Amicus Curiae, Jurisdição Constitucional e Democracia: uma análise crítica acerca da atuação do Supremo Tribunal Federal e da efetividade da intervenção do amicus curiae no controle de constitucionalidade brasileiro. In: REIS, J. R. D.; LEAL, R. G. de (Org.). Direitos sociais e políticas públicas: desafios contemporâneos. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2010, t. 10, p. 3200-3232. 275 MEDINA, Damares. Amicus Curiae: amigo da corte ou amigo da parte? São Paulo: Saraiva, 2010. MENDES, G.; COELHO, I.; BRANCO, P. Curso de direito constitucional. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. ______. Curso de Direito Constitucional. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. SANTOS, Esther Maria Brighenti dos. Amicus curiae: um instrumento de aperfeiçoamento nos processos de controle de constitucionalidade. Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 906, 26 dez. 2005. Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/7739>. Acesso em: 03 nov. 2011. 276 EFEITOS DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NA AÇÃO JULGADA PROCEDENTE Pâmela Coimbra Ferreira83 Elia Denise Hammes84 RESUMO Este artigo é fruto do trabalho de conclusão de curso defendido em 2012. Apresenta uma breve síntese acerca do controle de constitucionalidade, bem como uma analise acerca dos efeitos da ação direta de inconstitucionalidade na decisão julgada procedente, ou seja, os efeitos da ação direta de inconstitucionalidade quando for declarada a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo pelo Supremo Tribunal Federal. Palavras-chave: efeitos, ação, direta, inconstitucionalidade, procedente. 1. Introdução Ao partir do pressuposto de que nossa Constituição Federal é baseada nos princípios da supremacia da Constituição e rigidez constitucional, pode-se afirmar que nossa Carta Magna possui um tratamento diferenciado e mais rigoroso em comparação com as demais normas do ordenamento jurídico. E não poderia ser de outra forma, visto que em nossa Carta Maior se encontram nossos direitos e garantias fundamentais, normas que estruturam, limitam e organizam os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, dentre outras normas. Pâmela Coimbra Ferreira, acadêmica do 10º semestre do curso de Direito da Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC. E-mail: [email protected]. 83 84 Elia Denise Hammes, mestre em Direito, professora de Direito da Universidade Santa Cruz do Sul -UNISC. E-mail: [email protected]. 277 Logo, em regra geral, toda lei ou ato normativo que estiver incompatível com a Constituição Federal poderá ser objeto, conforme o caso, de uma das ações do controle de constitucionalidade pela via abstrata ou incidental. Desta forma, o presente artigo propõe demonstrar a imensa relevância social que possui a ação direta de constitucionalidade, uma das principais ações do controle concentrado de constitucionalidade, em decorrência de seus efeitos: erga omnes, ex tunc, ex nunc e vinculante, que podem vir a ser fixados conforme o caso. Neste diapasão, o Supremo Tribunal Federal deverá ter muita cautela ao declarar a procedência da ação direta de inconstitucionalidade, uma vez que seus efeitos serão gerais, ou seja, para toda a sociedade, vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário e Executivo, podendo, ainda: retroceder, alterar, criar e excluir direitos desde o seu surgimento, ou determinar que os efeitos da decisão procedente tenham validade a partir de uma data fixada. Ademais, os efeitos da referida ação também apresentam grande relevância social em razão da ampla gama de matérias jurídicas onde pode ser utilizada, visto que a declaração de inconstitucionalidade poderá ocorrer em qualquer ato normativo ou lei pertencente ao direito civil, penal, previdenciário, tributário, etc. Assim, nessa linha, nos propomos a apresentar uma breve síntese acerca do controle de constitucionalidade, suas vias em abstrato e incidental, bem como as ações do controle concentrado, em especial a ação direta de inconstitucionalidade e seus efeitos. 2. Controle de constitucionalidade De inicio, insta frisar que nossa Carta Magna baseia-se nos princípios da supremacia e rigidez constitucional. Conforme o autor Moraes (2007), isso significa dizer que as normas constitucionais são superiores às demais normas, visto que são hierarquicamente superiores, também há maior dificuldade em alterar ou suspender normas constitucionais em relação às demais leis. Ainda neste viés, Lenza (2008) afirma que esta superioridade da Constituição se dá em razão desta estrutura do Estado: organizar, limitar seus órgãos, além de todas as normas fundamentais se encontrarem positivadas na própria Carta Magna. No que pertine à rigidez, não podemos deixar de analisar a hipótese de que não devemos nos obstar pelo sentido literal da palavra “rigidez”, haja vista que deve haver uma certa flexibilidade que possibilite um controle constitucional, que por sua vez deverá analisar a compatibilidade entre a lei ou ato normativo com a Constituição 278 Federal. Tal premissa é confirmada pela autora Ferrari (2004), que também entende que a rigidez constitucional não pode ser absoluta, ou seja, deve permitir uma adaptação das constituições ao progresso e bem-estar social. De outra banda, convém destacar que o controle de constitucionalidade é realizado sob dois requisitos, ou, como define Lenza (2008), dois vícios. O primeiro trata-se do formal, que ocorrerá no momento em que o procedimento de formação da norma estiver incompatível com os ditames da Constituição Federal. Neste caso, Moraes (2007) subdivide o vicio formal em objetivo e subjetivo. O subjetivo se encontra na fase de iniciativa do processo legislativo. Um exemplo citado por Moraes (2007) seria um projeto de lei ordinária apresentada por um deputado federal, aprovada para majoração do salário do funcionalismo público federal. Neste exemplo, esta norma aprovada pelo Congresso Nacional possui inconstitucionalidade formal subjetiva, visto que incompatível à Carta Magna, que prevê expressa e privativamente a competência do Presidente da República pela apresentação do projeto, relativo à referida matéria, perante o Congresso Nacional. Já o requisito objetivo trata das demais fases do processo legislativo, como a constitutiva e complementar. Para exemplificar este último caso, Moraes (2007) cita o exemplo de um projeto de lei complementar aprovado pela maioria simples na Câmara dos deputados e no Senado Federal, sendo que, na verdade, deveria ser aprovado o projeto de lei complementar pelo quórum de maioria absoluta, conforme previsto no art. 69 da Carta Maior. Logo, neste caso, há claramente inconstitucionalidade de vicio formal objetivo, uma vez que o quórum para aprovação da lei complementar está incompatível com a Constituição Federal. Por sua vez, o vicio material ocorrerá quando o próprio conteúdo da norma, ou seja, a própria matéria de que trata a lei ou ato estiver incompatível com a Carta Magna. Ainda referente ao controle de constitucionalidade, importa explanar que há dois momentos de controle, o preventivo e o repressivo. O preventivo ocorrerá antes da entrada em vigor da norma no ordenamento jurídico, ou seja, antes de sua promulgação, para prevenir que a lei inconstitucional entre em nosso ordenamento jurídico. Esta espécie de controle poderá ser realizada tanto pelo Poder Legislativo, através do parlamento e da Comissão de Constituição de Cidadania e Justiça, no qual se faz a análise da constitucionalidade do projeto de lei, quanto pelo Executivo, através do Presidente da República; após aprovado o projeto de lei em ambas as casas do Congresso Nacional, cabe ao Presidente do Executivo sancionar ou vetar o projeto de lei quando entender inconstitucional, neste caso, o chamado veto jurídico. 279 Ainda referente ao controle preventivo, excepcionalmente o Poder Judiciário poderá realiza-lo, como nos casos em que o Supremo Tribunal Federal analisar mandado de segurança, impetrado por parlamentar, contra o processamento de propostas de emenda constitucional, onde o conteúdo viole uma das clausulas pétreas do art. 60 § 4º da Constituição Federal. Já o controle repressivo ocorrerá após a promulgação da norma, ou seja, quando esta já está gerando efeitos no ordenamento jurídico, sendo inconstitucional em razão de vicio formal ou material, conforme já explanado nos parágrafos anteriores. Lenza (2008, p. 142) explana que o Supremo Tribunal Federal afirmou que o controle de constitucionalidade é competência exclusiva do Judiciário, e os poderes Executivo e Legislativo podem somente “determinar aos órgãos subordinados que deixem de aplicar administrativamente as leis ou atos com força de lei que considerem inconstitucionais”. 2.1 Controle difuso e controle concentrado No Brasil, adota-se o sistema misto de constitucionalidade, o que significa que tanto o controle difuso, advindo da Áustria, quanto o controle concentrado, americano, são utilizados em nosso Estado. O controle difuso ou incidental caracteriza-se pelo fato de a inconstitucionalidade estar inserida no caso concreto, não no mérito da causa a ser discutido, mas sim a inconstitucionalidade incide de maneira secundária; ou como bem explica o autor Barroso (2011), tecnicamente a questão constitucional figura como questão prejudicial, necessitando ser decidida como premissa necessária para a resolução do litigio. Ademais, a legitimidade ativa para propor esta ação é de qualquer pessoa que ajuíze ação pleiteando questão de qualquer matéria, ou seja, referente a direito civil, penal, previdenciário, etc. Quanto ao órgão competente para julgar ação do controle difuso de constitucionalidade, poderá também qualquer órgão ou tribunal conforme o caso. Logo, pode-se observar que o controle difuso é amplo no sentido de qualquer pessoa poder argumentar a questão da inconstitucionalidade, conforme o seu caso concreto, e também no que se refere a qualquer juiz ou tribunal poder se manifestar sobre a inconstitucionalidade, podendo ainda o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal em sede de recurso. Em relação aos efeitos das decisões no controle difuso, serão inter partes, ou seja, limitam-se somente as partes do processo, bem como serão retroativos, mais conhecidos 280 como ex tunc, o que significa dizer que uma vez declarada a inconstitucionalidade de uma lei ou ato, este será considerado nulo, como se jamais tivesse produzido efeitos no ordenamento jurídico. No entanto, nem sempre os efeitos serão inter partes e ex tunc, visto que o Supremo Tribunal Federal tem entendido que na qualidade de guardião da Constituição, a fim de evitar uma demanda muito grande de processos tratando da mesma matéria poderá fixar efeitos erga omnes nas decisões do controle difuso. Assim, haverá casos em que os efeitos da decisão proferida em controle difuso será erga omnes, ou seja, se estenderá a todas as pessoas, e ex nunc, no qual os efeitos da decisão só surgirão a partir do trânsito em julgado da referida decisão, ou após data fixada pelo STF. A este fato dá-se o nome de modulação temporal dos efeitos, ou abstrativização do controle difuso, que ocorrerá em sede de recurso extraordinário, quando o STF poderá determinar efeito erga omnes e ex nunc, desde que o procurador da parte interessada argumente na repercussão geral, relevância econômica, politica ou jurídica do caso, que deverá se estender além das pessoas envolvidas no processo. Há ainda a possibilidade de criação de súmula vinculante, no qual o STF poderá aprovar quando houver várias decisões semelhantes sobre a mesma matéria. Logo, este é mais um fenômeno de abstrativização do controle difuso, que gerará efeito vinculante ao Poder Judiciário e Executivo e, ainda, efeito erga omnes. Outra mudança de efeitos no controle pela via concreta está relacionada ao Senado Federal, que pode suspender em todo ou em parte a norma ou ato declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quando realmente entender inconstitucional através de seu poder discricionário. Tal fato ocorrerá quando, em sede de recurso extraordinário, o STF declarar inconstitucional lei ou ato, que por sua vez será dirigido ao Senado Federal que, por meio de resolução, poderá atribuir efeitos erga omnes e ex nunc à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Por sua vez, no controle concentrado/abstrato, a competência para julgar as ações se concentra apenas em um único órgão, o Supremo Tribunal Federal, considerado o guardião da Constituição Federal. Outra característica importante do controle abstrato, seria que a questão da inconstitucionalidade é tema principal das ações do referido controle, não recaindo de forma secundária como no controle difuso. Outrossim, os legitimados ativos das ações do controle jurisdicional são diversos aos do controle difuso, haja vista que apenas aqueles elencados no art. 103 da Constituição Federal possuem legitimidade para propor as ações do referido controle, como: 281 Art. 103. Presidente da República, Mesa do Senado Federal, Mesa da Câmara dos deputados, Mesa da Assembleia Legislativa do Distrito Federal, o Governador de Estado ou do Distrito Federal, Governador de Estado ou do Distrito Federal, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido politico com representação no Congresso Nacional e Confederação Sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Neste viés, importante destacar que, conforme Siqueira Junior (2011), há alguns destes legitimados, caracterizados como especiais, que necessitam comprovar interesse especifico para a propositura da ação, a tal fato dá-se o nome de pertinência temática, no qual se aproxima mais do conceito processual de interesse de agir, conforme Barroso (2011). Haverá, ainda, os legitimados ativos caracterizados como universais, que não necessitam de comprovação da pertinência temática, como o Presidente da República, Mesa do Senado Federal e da Câmara dos deputados, Procurador-Geral da República, Partido Politico e Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, enquanto dos demais, como: Mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Governador do Estado ou do Distrito Federal, das Confederações Sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional, é exigido a pertinência temática. De outra banda, no controle abstrato encontramos várias ações, todas com os mesmos legitimados ativos e o STF como órgão julgador. Importante frisar também que cada ação será proposta conforme a finalidade pretendida, no qual algumas apresentam características próprias como a ação declaratória de constitucionalidade, no qual sua principal finalidade é declarar a constitucionalidade de uma norma, consolidando um determinado entendimento, a fim de afastar as controvérsias existentes no Poder Judiciário; isto é, quando vários juízes divergem sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de determinada matéria. Ademais, só podem ser propostas ações declaratórias de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, consoante exposto no art. 13 da Lei nº 9.868/99. Já a ação direta de inconstitucionalidade, conforme veremos a seguir, objetiva a declaração de inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo federal e estadual, consoante disposto no art. 102, I da Constituição Federal. E é desta forma que se extrai o caráter ambivalente das referidas ações, visto que uma objetiva à declaração da constitucionalidade, no qual a decisão poderá ser improcedente, o que significa que seus efeitos poderão ser tanto para declarar a constitucionalidade como a in- 282 constitucionalidade. Por sua vez, a ação direta de inconstitucionalidade objetiva a declaração de inconstitucionalidade, no qual a decisão do Supremo Tribunal Federal poderá ser improcedente, ou seja, da mesma forma que na ação declaratória, poderá ser declarado tanto a constitucionalidade quanto a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo. Neste controle jurisdicional abstrato, também há a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Esta ação, conforme Bulos (2008, p. 248), “é o mecanismo de defesa abstrata da constituição que se destina a combater a inércia legislativa”. Logo, consoante o autor Siqueira Junior (2011), a ADI por omissão se torna ainda mais complexa que as demais ações, visto que o Poder Legislativo tem discricionariedade para criação de leis; porém, aqueles contidos no texto constitucional ensejam um dever de legislar e, nestes casos, caberá ação direta de inconstitucionalidade por omissão como meio de segurança jurídica as omissões contidas na lei. O autor Siqueira Junior (2011) afirma que a decisão da ação direta de inconstitucionalidade por omissão será mais ampla, uma vez que a sentença não será meramente declaratória de inconstitucionalidade, mas também possui um caráter mandamental, no qual se determina ao poder competente que se adote medidas para suprir a omissão. Deste modo, não se cogitará o efeito erga omnes, mas será determinado a tomada de diligência pelo referido poder. Neste diapasão, cabe destacar os efeitos da ADI por omissão. São diversos os efeitos das demais ações do controle concentrado, uma vez que não afeta por si só o ordenamento jurídico em vigor, visto que, conforme Barroso (2011, p. 296), “somente haverá alguma modificação do direito posto se e quando o poder ou órgão administrativo vierem a editar o ato normativo faltante”. A arguição de preceito fundamental, nos termos do art. 1º da Lei nº 9.882/99 tem como objetivo “evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público”. Outrossim, o art. 1º da Lei nº 9882/99 acrescenta que caberá ADPF “quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre a lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição”. Quanto ao significado de preceito fundamental, Siqueira Junior (2011) dispõe que seriam as regras e princípios mais fundamentais de nosso ordenamento jurídico, decorrentes da própria Constituição Federal. No entanto, Siqueira Junior (2011, p. 317) também expõe que compete ao Supremo Tribunal Federal “a identificação e individualização dos preceitos fundamentais”, haja vista a impossibilidade de enumerar de forma taxativa os preceitos fundamentais. 283 Ainda sobre a arguição de preceito fundamental, Mendes (2008) explana que, de acordo com o principio da subsidiariedade presente na ADPF, esta somente será utilizada após esgotados todos os meios existentes e eficazes de sanar a lesividade. Para finalizar, os efeitos da ADPF, conforme o autor Ramos Tavares (2008), serão erga omnes (se estenderá a todas as pessoas) e vinculante aos demais órgãos do Poder Público; logo, isto significa dizer que seus efeitos têm maior alcance do que os efeitos da ação direta de inconstitucionalidade e declaratória de constitucionalidade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade A ação direta de inconstitucionalidade faz parte do controle concentrado, logo, não poderá ser ajuizado para tratar de caso concreto. Ademais, a ADI, de acordo com Bulos (2008, p. 168), tem como finalidade principal “transformar o STF em um legislador negativo, que ao declarar em abstrato a inconstitucionalidade normativa, expurga leis e atos viciados do ordenamento [...]”. Quanto aos legitimados ativos para propor ação, são aqueles elencados no art. 103 da Constituição Federal, no qual alguns desses deverão efetivamente comprovar pertinência temática. Neste viés, importa destacar que, conforme Lenza (2008), somente os legitimados citados nos incisos de I a VII do art. 103 da CF, que possuem capacidade postulatória para propor ADI sem a necessidade de advogado. Já os partidos políticos e as confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional não possuem o jus postulandi, necessitando então de procurador. No caso das entidades sindicais, de acordo com Bulos (2008), em razão da falta de capacidade postulatória, poderão solicitar ao Procurador-Geral da República a propositura de ADI perante o Supremo Tribunal Federal, tendo em vista o direito de petição, que objetiva garantir a defesa aos interessados, mesmo que de natureza coletiva, e mesmo destituídos de personalidade jurídica. Todavia, deve se ter muito cuidado ao falar em legitimidade ativa e passiva, uma vez que, conforme Cléve (2000), inexistem partes no processo objetivo, visto que não há contraditório, mesmo que a criadora da norma possa impugnar e ser ouvida pelo órgão julgador. Assim, a ADI jamais será proposta contra determinada pessoa ou órgão, mas sim, contra a lei ou ato normativo considerado inconstitucional. De outra banda, no que pertine ao objeto de controle da referida ação, conforme já visto, cabe ação direta de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos federais e estaduais. 284 Logo, não há possibilidade de ação direta de inconstitucionalidade de leis municipais incompatíveis com a Constituição Federal. Assim, as leis ou atos normativos municipais poderão ser objeto de controle de constitucionalidade pelo sistema difuso. O que não pode ocorrer é a discussão de constitucionalidade de uma norma municipal em face da Constituição Federal em Tribunal de Justiça Estadual, tampouco em ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Para finalizar, importante destacar uma peculiaridade das ações do controle concentrado de constitucionalidade pertinente à impossibilidade de intervenção de terceiros na ação direta de inconstitucionalidade, vedada pelo art. 7º da Lei nº 9.868/99. Entretanto, no §2º do art. 7º da Lei nº 9.868/99, atribui-se ao relator a discricionariedade de nos casos de relevância da matéria ou representatividade dos autores, aceitar a manifestação no processo de determinados órgãos ou entidades, com profissionais de profundo saber técnico acerca da matéria discutida nos autos. Tais órgãos ou entidades são denominados de amicus curiae, ou seja, o amigo da corte. Neste caso, o relator poderá ou não aceitar a participação do amicus curiae, quando entender preenchidos os requisitos de oportunidade e conveniência. 4. Efeitos da ação direta de inconstitucionalidade Conforme o disposto no art. 102, § 2º da Constituição Federal, a decisão julgada procedente, ou seja, que declara a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo em sede de ação direta de inconstitucionalidade, terá efeito erga omnes; isto significa que os efeitos dessa decisão se estenderão a todas as pessoas, e não apenas entre as partes do processo como ocorre no controle difuso. Outrossim, a referida decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal terá efeito vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. Há que se frisar acerca do efeito vinculante, da não ocorrência da autovinculação do Supremo Tribunal Federal das suas próprias decisões, uma vez que, diante da atribuição dada a Suprema Corte de guardiã da Constituição, esta não poderá criar limitações para as suas próprias decisões, ocasionando o engessamento do sistema jurídico com decisões ultrapassadas e afastadas do mundo fático. Logo, o STF pode alterar seu posicionamento anterior e reinterpretar a norma a qualquer tempo, de acordo com a evolução ou alteração das relações fáticas e sociais (FROEHLICH, HAMMES, 2009). 285 De outra banda, Bulos (2008, p. 255) afirma que “os atos praticados com base na lei inconstitucional que não foram afetados, de nenhuma maneira, pelo veredito do Pretório Excelso continuam válidos”. Desta feita, o efeito erga omnes da decisão que declara a inconstitucionalidade da norma pelo STF, só se estende aos atos sujeitos a revisão ou impugnação. Importante destacar que além dos efeitos erga omnes e vinculante, ainda teremos o efeito ex tunc que, conforme Moraes (2007, p. 783), será retroativo: Desfazendo, desde sua origem, o ato declarado inconstitucional, juntamente com todas as consequências dele derivadas, uma vez que os atos inconstitucionais são nulos, e portanto, destituídos de qualquer carga de eficácia jurídica, alcançando a declaração de inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo, inclusive os pretéritos com base nela praticados. Todavia, nem toda vez o efeito da decisão em sede de controle concentrado será ex tunc, podendo ser ex nunc conforme art. 27 da Lei nº 9.868/99, a chamada modulação ou efeito temporal na ação direta de inconstitucionalidade, desde que apresentado razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social e por maioria de dois terços dos membros do STF. Cumpre observar que, conforme a autora Ferrari (2004), a finalidade do art. 27 da Lei nº 9.868/99 é evitar que o Supremo Tribunal Federal deixe de declarar a inconstitucionalidade em razão das consequências que esta declaração pode gerar se, obrigatoriamente, deveria ser atribuído efeito ex tunc. Deste modo, há plena possibilidade de ser atribuído efeito ex nunc (prospectivo) na decisão julgada procedente pela Suprema Corte, o que significa dizer que os efeitos da referida decisão serão fixados a partir do seu trânsito em julgado ou a partir de determinada data. No que se refere à premissa da nulidade e anulabilidade presente principalmente nas decisões julgadas procedentes pela Suprema Corte, Ferrari (2004) explana que nula seria aquela norma incompatível com os ditames da Constituição Federal desde o seu nascimento, e a decisão que declara a inconstitucionalidade desta norma comprova efetivamente este vicio. Deste modo, o efeito retroativo ou ex tunc apresenta essa característica de que a lei sempre foi nula, não podendo gerar nem direitos e nem efeitos, assim defendida por muitos autores. No entanto, Ferrari (2004, p. 269) também posiciona-se no sentido de que uma norma inconstitucional não será nula, mas sim anulável, ou seja, “que a lei tem plena 286 vigência e obrigatoriedade até o pronunciamento do órgão competente, expedido no sentido de sua invalidade”. Sendo assim, Ferrari (2004) argumenta que a aplicação do efeito ex tunc deve ser visto com reservas, visto que uma norma declarada inconstitucional produziu efeitos até o momento da procedência da ação direta de inconstitucionalidade, não sendo prudente ignorar o fato de que foi eficaz, criando e excluindo direito, e portanto, gerando consequências até esse momento. Já de outro modo, a autora Ferrari (2004, p. 291) também posiciona-se afirmando que não devemos ser radicalistas, como aqueles que pregam o dever de uma lei ou ato normativo declarado inconstitucional produzir efeitos somente a partir desta data, uma vez que “a anulabilidade da lei viciada não exclui a possibilidade de sua retroatividade, já que esta, possuindo graus, possibilita a existência de uma anulação retroativa”. Logo, de acordo com o já exposto, os principais efeitos da ação direta de inconstitucionalidade serão erga omnes, ex tunc (retroativo) ou ex nunc (prospectivo) e vinculante, ou seja, uma vez procedente a ação direta de inconstitucionalidade, esta declaração de inconstitucionalidade da norma ou ato gerará efeito a toda a coletividade, podendo retroceder até o seu surgimento, como se nula fosse, alterando o direito de várias pessoas, ou ainda será considerada inconstitucional a partir do trânsito em julgado ou de determinada data fixada pelo Supremo Tribunal Federal. Quanto ao efeito vinculante, uma vez declarada inconstitucional a norma, os demais órgãos do Poder Judiciário e Executivo deverão obedecer a decisão proferida pelo STF. Assim, para concluir, não há duvidas quanto a grande relevância que os efeitos da ação direta de inconstitucionalidade e demais ações do controle concentrado representam para a coletividade, não só em razão de criar, excluir e alterar direitos, mas também pela abrangência nas proposituras das ações do controle de constitucionalidade, que poderão ser referentes a qualquer área do direito público ou privado, como, por exemplo, o direito civil, penal, previdenciário, tributário, empresarial, etc. Além disso, outra conclusão importante seria referente ao dever da Suprema Corte de analisar caso a caso, não podendo ser radicalista demais a ponto de somente fixar os efeitos da declaração de inconstitucionalidade a partir da decisão, mas também devendo ter reservas quanto a fixação do efeito ex tunc, pois a nulidade total de uma lei ou ato normativo pode gerar sérias consequências na vida de diversas pessoas. 287 5. Referências bibliográficas BARROSO, L. Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília (DF): Senado Federal, 1988. ______. Lei nº 9.868, de novembro de 1999. Dispõe sobre processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade perante o STF. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 06 nov. 2012. BULOS, U. Lammêgo. Curso de direito constitucional. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. CLÉVE, C. Merlin. A fiscalização abstrata da constitucionalidade no direito brasileiro. 2 . ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. FERRARI, R. M. M. Nery. Efeitos da declaração de inconstitucionalidade. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. FROEHLICH, C. A.; HAMMES, E. D. Manual do controle concentrado de constitucionalidade. Curitiba: Jaruá, 2009. JUNIOR, P. H. Siqueira. Direito Processual Constitucional. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. MENDES, G. F. ; COELHO, I. M.; BRANCO, P. G. G. Curso de direito constitucional. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. MORAES, Alexandre de. Direito constitucional positivo. 20. ed. São Paulo: Malheiros, 2007. TAVARES, A. Ramos. Curso de direito constitucional. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 288 CONDIÇÕES E POSSIBILIDADES DE COMPREENSÃO DO PODER DE DISPOR DA PROPRIEDADE PRIVADA PELO CADE ENQUANTO ÓRGÃO REGULADOR DA LIVRE CONCORRÊNCIA Marson Toebe Mohr85 Theobaldo Spengler Neto86 RESUMO Através do presente estudo pretende-se abordar os aspectos econômicos e constitucionais que permeiam as condições e possibilidades de intervenção do CADE na propriedade privada, como órgão regulador da concorrência. Partindo-se de uma análise da auspiciosa interação entre o direito e a economia, busca-se estabelecer pontos de intersecção entre as duas disciplinas na consecução de uma sociedade mais justa e próspera. Nesse sentido, busca-se o suporte constitucional e infra-constitucional para a intervenção do Estado, através do CADE, enquanto órgão regulador da concorrência, na propriedade privada, analisando-se as formas de atuação do órgão regulador e as restrições por ele impostas à iniciativa privada na defesa da concorrência. Graduado em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul (2011). Membro do Grupo de Pesquisas “Políticas Públicas no tratamento dos conflitos”, certificado ao CNPq. Advogado. 85 Mestre em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul (2000), onde atualmente é professor-adjunto. Professor de Direito Processual Civil (Processo de Conhecimento, Processo de Execução, Procedimentos Especiais e Processo Cautelar) e de Direito Civil - Responsabilidade Civil. Vice-líder do Grupo de Pesquisas “Políticas Públicas no tratamento dos conflitos”, certificado ao CNPq. Coordenador do Centro de Pesquisas Jurídicas do Curso de Direito da Universidade de Santa Cruz do Sul. Sócio titular do escritório Advocacia Spengler Assessoria Empresarial – SC. 86 289 Palavras-chave: economia, direito da concorrência, princípio constitucional, intervenção, CADE 1. Introdução Desde os primórdios da organização da vida em sociedade, direito e economia são duas ciências que estão em constante desenvolvimento e em invariável interconexão, uma interagindo ativamente com a outra. De forma não díspar, foi especialmente reservado na Constituição Federal de 1988, em seu Título VII, lugar de destaque à Ordem Econômica e seus princípios gerais, sinalizando a importância da matéria à República Federativa do Brasil. Pelo legislador constituinte, foram privilegiados não só o fundamento da livre-iniciativa, insculpido no artigo 1.º da Constituição Federal, mas também os princípios da livre concorrência, da propriedade privada, da função social da propriedade, da defesa do consumidor e da defesa do meio ambiente, dentre outros, como alicerces para a consecução da justiça social e da existência digna de todos. Instrumento para efetivação destes princípios constitucionais, o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, assume posição de destaque ao ser composto por três órgãos independentes que não economizam esforços à efetivação do comando constitucional. Ademais, é previsto pela Carta Maior que a reprimenda de atos atentatórios à livre concorrência ocorrerá mediante lei, a qual tomou melhor forma com a edição tanto da Lei nº 8.884/94 – que foi o dispositivo legal que alçou o Conselho Administrativo de Defesa Econômica à condição de Autarquia federal, emprestando-lhe maior autonomia em sua atuação em favor da concorrência – como a recente a Lei nº 12.529 de 30 de novembro de 2011, que, dentre outras alterações, trouxe mudanças estruturais ao órgão de defesa da concorrência. Analisar as condições e possibilidades de intervenção do Cade na propriedade privada significa mergulhar neste universo envolvendo direito e economia, assim como a forma como é tratada a matéria na Constituição Federal, para, em seguida, adentrar no complexo Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e trazer às claras as formas de atuação do Cade e as restrições por ele impostas aos atos de concentração, no controle de estruturas. Assim sendo, pode-se perceber que o tema proposto à pesquisa revela-se não só oportuno ao atual cenário mundial, onde resta consolidado o sistema capitalista e 290 a livre-iniciativa para o acúmulo de capitais, como também relevante ao debate acadêmico, no sentido de buscar aproximar discussões econômicas e jurídicas ao mesmo tablado, com o notável objetivo de erigir o país como uma sociedade justa, onde se possa afirmar a existência digna de todos. 2. Intervenção do Estado no domínio econômico como forma de defesa da livre concorrência Segundo a nossa atual Constituição Federal, à iniciativa privada restou assegurada a preferência para exploração da atividade econômica, não mais possuindo, portanto, o Estado a prerrogativa de atuar de forma interventiva em tal atividade. Isto significa dizer que o Estado terá uma atuação supletiva na atividade econômica, possuindo somente as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, como acima exposto, estando, assim, a autuação do Estado na atividade reguladora sujeita ao princípio da subsidiariedade, de forma que cabe aos particulares regulamentar suas próprias atividades (FONSECA, 2010). O Estado não deve fazer o que a sociedade pode fazer e ele não deve substituir-se nos esforços e nas iniciativas das empresas, dos cidadãos e de seus agrupamentos. O segundo aspecto do princípio da subsidiariedade é mais conhecido, e significa que o Estado não deve reger do centro o que pode sê-lo alhures, isto é, da periferia, através de mecanismos de descentralização e de desconcentração, mas também por meio de organismos públicos que permanecem na órbita do Estado, embora atuando independentes ao mesmo tempo dos ministros e do poder político (GENTOT, 1992 apud FONSECA, 2010, p. 201) Ou seja, com base no princípio da subsidiariedade, deve o Estado concentrar-se na execução de funções essenciais, delegando aos particulares funções que podem por eles serem desenvolvidas com maior eficiência, independente se em regime de livre-iniciativa ou em regime de direito público, desde sob regulação estatal (SOUTO, 2002). Pode-se, em rápidas pinceladas, aderir à classificação em intervenção mediata ou imediata também transcrita como direta ou indireta, como se observa do Voto do Ministro do STJ Cesar Asfor Rocha, no julgamento do MS 2887/DF: 291 A Constituição Federal de 1988 não ficou alheia a essa verdade, daí que cuidou de estabelecer diretrizes que desaguariam tanto na intervenção direta (art. 173), quando o Estado explora diretamente por seus agentes a atividade econômica, quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, quanto na intervenção indireta, conforme postulados inscritos nos seus demais dispositivos que integram o Título VII, que cuida da ordem econômica e financeira. (Grifo próprio) Tem-se, então, a intervenção direta prevista no artigo 173 da Carta Magna, e a intervenção indireta prevista no artigo 174 da Constituição Federal. Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. [...] Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. (Grifo próprio) Pode (e deve), portanto, o Estado atuar diretamente na atividade econômica, em atuação supletiva à iniciativa privada, como também atuar de forma disciplinante (indireta), como agente normativo e regulador, sobre a economia. Da mesma maneira, fato é que ao Estado brasileiro não é dada a possibilidade de inércia diante das violações dos preceitos constitucionais inerentes à ordem econômica. Mais do que uma possibilidade, a intervenção do Estado na ordem economia é um dever a ser fielmente cumprido pelos órgãos reguladores da economia. 2.1 O Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência No Brasil, recentes e profundas foram as mudanças trazidas pela Lei nº 12.529/2011. De forma comparativa, pela Lei nº 8.884/1994, dois órgãos da administração direta – Secretaria de Direito Econômico (SDE), vinculada ao Ministério da Justiça, e a Secretaria de Acompanhamento Econômico (SEAE), vinculada ao Ministério da Fazenda – mais uma autarquia com competência acerca da matéria concorren- 292 cial - Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) – compunham o que se convencionou chamar de Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC). Com as alterações trazidas pela Lei nº 12.259/2011, o SBDC – que não existia formalmente até então – passa a ter previsão expressa no próprio texto de lei, como se vê da literalidade de seu art. 3º: Art. 3.º O SBDC é formado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE e pela Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, com atribuições previstas nesta lei. Outra clara mudança que se percebe da simples leitura do artigo supra é a extinção da Secretaria de Direito Econômico vinculada ao Ministério da Justiça e sua incorporação ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica. 2.1.1 O Conselho Administrativo de Defesa Econômica O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) foi criado pela Lei n.º 4.137, de 10 de setembro de 1962, como órgão vinculado à Presidência do Conselho de Ministros. Todavia, foi através da Lei n.º 8.884/1994 que o Cade foi alçado à categoria de “autarquia federal, vinculada ao Ministério da Justiça, com sede e foro no Distrito Federal”, o que foi mantido pela Lei nº 12.259/2011. Quanto à competência administrativa do Cade, importa destacar que esta autarquia federal não possui competência para julgar conflitos entre partes privadas ou que envolvam interesses individuais, muito menos para julgar matéria penal. O que significa dizer que das três esferas de responsabilização do agente econômico: cível (com base no Código Civil); penal (com base na Lei nº 8.137/1990 com alterações da Lei nº 12.259/2011); e administrativa (com base na Lei nº 12.259/2011), somente nesta última é que tem o Cade competência para julgar e impor sanções. Com efeito, importante esclarecer que eventual responsabilização em uma dessas esferas não exclui a possibilidade de responsabilização em outra. Elas são independentes, cada uma em seu respectivo âmbito jurídico. Todavia, de forma exclusiva, pertence ao Cade a competência da tutela administrativa da livre concorrência, não cabendo ao judiciário aplicar as sanções administrativas previstas na lei antitruste brasileira. Salienta-se, outrossim, que o Cade é órgão judicante com jurisdição em todo o território nacional, não importando se a infração à ordem econômica ocorra em 293 um pequeno município interiorano ou uma metrópole, havendo responsabilidade administrativa, o caso poderá ser submetido ao Cade. A rigor, não obstante sua função judicante, o Cade não está vinculado ao Poder Judiciário, mas sim ao Executivo. Daí porque não possui o Cade poder jurisdicional, exclusivo dos órgãos do Poder Judiciário, conforme art. 92 da Constituição Federal. Contudo, convém fazer a ressalva de que os julgados do Cade sempre poderão ser apreciados pelo Poder Judiciário, seja pelo controle formal das decisões exaradas pelo Cade, examinando a legalidade e o preenchimento dos procedimentos legais referentes ao processo administrativo, seja em reexame à matéria julgada. Com relação à atual estrutura funcional do Cade, é possível notar que três são os órgãos que o constituem: (a) Tribunal Administrativo de Defesa Econômica; (b) Superintendência-Geral; e (c) Departamento de Estudos Econômicos. O Tribunal Administrativo de Defesa Econômica é o órgão com poder judicante dentro da nova estrutura, composto por um presidente e seis Conselheiros; a Superintendência-Geral assume uma função investigativa “com atribuição para instruir os atos de concentração e os processos administrativos para apuração de condutas” (LEONOR CORDOVIL, 2012, 33); o Departamento de Estudos Econômicos, por sua vez, é “dirigido por um Economista-Chefe, a quem incumbe elaborar estudos e pareceres econômicos (...) de modo a zelar pelo rigor e atualização técnica e científica das decisões do órgão” (LEONOR CORDOVIL, 2012, 74). Sobre esta nova estruturação do SBDC, válida é a percepção de Vinícius Marques de Carvalho (LEONOR CORDOVIL, 2012, 32): Essa reestruturação procura sanar as deficiências do sistema atual em que há sobreposição de tarefas entre três agências distintas: a Secretaria de Direito Econômico (SDE) e a Secretaria de Acompanhamento Econômico (Seae) – ambos órgãos encarregados da instrução e da análise preliminar dos casos –, e o Cade, autarquia encarregada da decisão final. Com efeito, ainda que vista com bons olhos por boa parte da doutrina, certo é que os reflexos destas profundas alterações inauguradas pela Lei nº 12.259/2011 somente poderão ser melhor apreciados com o decurso do tempo, mostrando-se incipiente ao momento análises mais aprofundadas da matéria. 294 2.1.2 A Secretaria de Acompanhamento Econômico Como suprarreferido, a Secretaria de Acompanhamento Econômico está vinculada ao Ministério da Fazenda. Com efeito, com as novas premissas trazidas pela Lei nº 12.259/2011, passa a Seae a “ser responsável pela coordenação das atividades relativas à intersecção entre regulação e defesa da concorrência” (LEONOR CORDOVIL, 2012, p. 36). Pode-se, ainda, destacar a prerrogativa prevista no § 1º, do art. 19 da Lei nº 12.259/2011, onde há previsão de, para o cumprimento de suas atribuições, requisitar informações e documentos de quaisquer pessoas, órgãos, autoridades e entidades, públicas ou privadas, mantendo o sigilo legal, quando for o caso, além de celebrar acordos e convênios com órgãos ou entidades públicas ou privadas, federais, estaduais, municipais, do Distrito Federal e dos Territórios para avaliar e/ou sugerir medidas relacionadas à promoção da concorrência. 2.1.3 A Procuradoria do Cade e o Ministério Público Federal Válido registrar, ainda, que junto ao Cade existe uma Procuradoria Federal, cujas atribuições são: a) prestar consultoria e assessoramento jurídico ao Cade; b) representar o Cade judicial e extrajudicialmente; c) promover a execução judicial das decisões e julgados do Cade; d) proceder à apuração da liquidez dos créditos do Cade, inscrevendo-os em dívida ativa para fins de cobrança administrativa ou judicial; e) tomar as medidas judiciais solicitadas pelo Tribunal ou pela Superintendência-Geral, necessárias à cessação de infrações da ordem econômica ou à obtenção de documentos para a instrução de processos administrativos de qualquer natureza; f ) promover acordos judiciais nos processos relativos a infrações contra a ordem econômica, mediante autorização do Tribunal; g) emitir, sempre que solicitado expressamente por Conselheiro ou pelo Superintendente-Geral, parecer nos processos de competência do Cade, sem que tal determinação implique a suspensão do prazo de análise ou prejuízo à tramitação normal do processo; zelar pelo cumprimento desta Lei; e h) desincumbir-se das demais tarefas que lhe sejam atribuídas pelo regimento interno. Note-se que, em comparação com a Lei nº 8.884/1994, a Procuradoria Federal Especializada junto ao Cade (ProCade) possui uma participação mais ativa na instrução dos processos, especialmente no que diz respeito à competência para tomar medidas judiciais para obtenção de documentos para a instrução de processos administrativos, assim como para propor ação cautelar de busca e apreensão indireta (VINÍCIUS MARQUES DE CARVALHO, 2011, p. 35-36). 295 De igual forma, atua perante o Cade o Ministério Público Federal, uma vez que não há como se olvidar que, dentre os bens jurídicos protegidos pela Lei nº 12.529/2011, está a ordem econômica, integrante da ordem jurídica. Resulta, portanto, da interpretação conjunta do artigo 127 da Constituição Federal, e do artigo 20 da Lei nº 12.529/2011, a obrigatoriedade da intervenção do Ministério Público Federal nos processos em trâmite no Cade. A ordem jurídica da economia, a ordem econômica. Qual é o compromisso do Ministério Público com ela? Lembro que o art. 127 da Constituição Federal afirma que o Ministério Público é uma instituição essencial à função jurisdicional do Estado e é incumbido da defesa da ordem jurídica. Quando falamos de ordem econômica, tal qual falei agora, estamos falando numa parcela da ordem jurídica, cuja defesa incumbe ao Ministério Público. (GRAU, 2006. p. 135) Outrossim, é digno de nota que com a Lei nº 12.529/2011, diferente da lei anterior que regulava a matéria, a atuação do MPF dar-se-á apenas “nos processos administrativos para imposição de sanções administrativas por infrações à ordem econômica”, conforme se vê da literalidade do art. 20 da Lei nº 12.529/2011. De qualquer forma, válido registrar o importante papel desempenhado pelo MPF em inúmeros atos de concentração, quando da vigência da lei anterior, o que, com a nova Lei de Defesa da Concorrência, possivelmente não mais se verificará, tendo em vista a expressa limitação de sua intervenção no controle das condutas. Por fim, curial é a sempre atual ressalva trazida por Luciano Sotero Santiago (2008) quanto às diferentes funções da Procuradoria do Cade e do Ministério Público Federal perante o Cade, no sentido de que enquanto o primeiro tem a função específica de prestar assessoria ao Cade e realizar sua defesa em juízo, o segundo tem a atribuição de zelar pelo interesse da coletividade. Evidente, pois, os diferenciados e insubstituíveis papéis exercidos pela Procuradoria do Cade e pelo Ministério Público Federal na defesa do Direito Concorrencial. 2.2 Formas de atuação Compete ao Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência a responsabilidade para atuar em todos os atos restritivos à concorrência, seja pelo controle estrutural, seja pelo controle da conduta. 296 Por controle estrutural, entende-se, em sucintas linhas, o controle preventivo de estruturas, através de medidas estruturais. “O controle de estrutura monitora a configuração dos mercados por meio do controle de atos e contratos de operações de fusão, incorporação, aquisição, joint venture, dentre outras, que gerem uma concentração econômica” (SANTIAGO, 2008, p. 151). A previsão legal desta forma de controle concorrencial, que anteriormente encontrava guarida no art. 54 da Lei nº 8.884/1994, está hoje estampado no artigo 88 da Nova Lei de Defesa da Concorrência, apresentando significativas mudanças nos critérios de intervenção do órgão regulador. Como exemplos de controle de estrutura pelo Cade, pode-se citar os famosos casos Colgate-Kolynos, Ambev, Nestlé-Garoto e BRFoods, todos sob a vigência da antiga legislação antitruste. Neste último, mais recente, houve manifestação dos Conselheiros Carlos Emmanuel Jopert Ragazzo (Relator) e Ricardo Machado Ruiz (Voto-Vista) quanto à possibilidade de fusão das empresas Sadia e Perdigão para formação empresa BRFoods (Ato de Concentração n.º 08012.004423/2009-18), manifestando-se pela aprovação do ato de concentração, contudo, desde que implementadas algumas restrições. Daí porque se pode afirmar que, ao impor restrições aos atos de concentração entre empresas privadas ou mesmo ao vetá-los, intervém o Estado no domínio econômico, ainda que de forma indireta, por meio de seu órgão regulador da livre concorrência, o Cade, exercendo controle das estruturas e atuando de forma preventiva. O controle de condutas, por sua vez, tem o objetivo de reprimir as práticas lesivas aos valores protegidos por lei. É o controle das regras de comportamento definidas em lei para o mercado. “É importante ressaltar que a simples existência de estruturas concentradas de mercado não são ilegais em si, do ponto de vista da lei de proteção da ordem econômica” (PETTER, 2011, p. 227). Em outras palavras, pode-se afirmar que o controle de condutas não reprime o acúmulo de poder econômico por si só, esta forma de controle condena a utilização abusiva deste poder, daí porque se costuma denominá-la de controle repressivo. Quanto à finalidade do controle de conduta, afirma Luciano Sotero Santiago (2008, p. 151) que “é inibir, proibir e sancionar certos tipos indesejáveis de condutas dos agentes econômicos, tais como, a formação de cartel, venda casa, acordos de exclusividade e preço predatório”. Entrementes, em atenta análise aos institutos anteriormente citados, pode-se afirmar que o sistema brasileiro de controle da concorrência acerca-se de duas histó- 297 ricas formas de controle: a preventiva – de estruturas –, e a repressiva – de condutas. A primeira com nítida influência do Sherman Antitrust Act, dos Estados Unidos e sua preocupação com as grandes estruturas de mercado; a segunda com clara influência da UWG (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb) e da GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrankungen), ambas normas antitrustes Alemãs, cujo foco estava na lealdade das condutas de competição. Sobre esta posição eclética do Brasil, que adotou as duas correntes, tem-se os ensinamentos de Calixto Salomão Filho (2007, p. 81): “É difícil imaginar que um sistema concorrencial possa se organizar sem um controle da formação de estruturas econômicas com poder sobre o mercado. Não bastam, no entanto, essas regras para garantir o funcionamento do sistema concorrencial (ou, para usar a expressão ordo-liberal, para garantir o “autocontrole” do mercado). Fazem-se necessárias regras que garantam a lealdade do comportamento dos agentes econômicos, sem as quais a concorrência, ainda, que existente e livre, desandaria em um processo autofágico que favoreceria o restabelecimento de estruturas monopolistas e oligopolistas”. (Grifado no original) Evidente, pois, os benefícios advindos da adoção em nosso ordenamento jurídico destas duas formas de atuação do SBDC na economia como forma de preservação da concorrência, seja com o viés preventivo – no controle das estruturas do mercado –, seja com o viés repressivo – no controle das condutas desleais. Outrossim, às formas preventiva e repressiva de atuação, tão debatidas acima, soma-se a função de advocacia da concorrência, também exercida pelo Cade e demais órgãos integrantes do SBDC, os quais trabalham a favor da promoção da cultura da concorrência, “através da realização de seminários, elaboração de cartilhas e textos explicativos, programas de estágio e intercâmbio com universidades, esclarecimentos de dúvidas dos agentes econômicos e da sociedade” (SAMPAIO; PEREIRA NETO, 2011, p. 07). De toda sorte, não importa qual a forma de atuação do SBDC na economia, todas possuem igual fim na construção de um sólido ambiente de concorrência nos mercados. Todavia, como o presente trabalho estuda as formas de intervenção do Cade na propriedade privada, dar-se-á maior ênfase ao controle preventivo das estruturas e ao dever de submissão das empresas nos atos de concentração. 298 2.3 O controle preventivo das estruturas e os atos de concentração econômica Tendo em vista que o presente trabalho tem a pretensão de analisar as condições e possibilidades de intervenção do Cade na propriedade privada, dar-se-á maior destaque ao controle preventivo de estruturas do que ao controle de repressivo de condutas. O controle de estrutura tem por mister monitorar a configuração dos mercados, através do controle de atos e contratos de operações de fusão, incorporação, aquisição, joint ventures, constituição conjunta de empresas. São os chamados atos de concentração que serão monitorados desde que possam representar uma concentração econômica. Esta forma de controle encontra-se expressa no artigo 88 da novel Lei 12.529/2011. Prevê, pois, o aludido preceito legal requisitos objetivos, dispostos em elementos quantitativos de participação no mercado, os quais poderão ser adequados, simultânea ou independentemente, por indicação do Plenário do Cade, por portaria interministerial dos Ministros de Estado da Fazenda e da Justiça. Sob este aspecto, a grande novidade fica por conta do § 2º, do art. 88 da Lei 12.529/2011, que prevê o controle prévio realizado em, no máximo, 240 (duzentos e quarenta) dias, a contar do protocolo de petição ou de sua emenda. Com a publicação da Lei nº 12.529 em 1º de dezembro de 2011, os critérios para submissão de atos de concentração ao Cade passam a ser mais objetivos, de forma que “uma transação deve ser notificada se uma das partes tiver no Brasil, no último balanço, faturamento bruto anual de pelo menos R$ 400 milhões computados no ano anterior à transação, e a outra parte tiver, pelo menos, R$ 30 milhões” (TITO; FARINA, 2012, p. 17). Outrossim, não se pode deixar de exaltar a exclusão do anterior critério subjetivo de 20% de participação em pelo menos um mercado relevante afetado pela operação. Ao excluir o critério de participação de mercado, o legislador eliminou um foco de insegurança jurídica presente na Lei 8.884/1994. Identificar o mercado relevante e calcular a sua respectiva participação do(s) agente(s) econômico(s) em tal mercado envolve questão complexa, muitas vezes de difícil superação. (ANDERS, 2011, p. 197) Com efeito, é justamente por controlar o tamanho do poder econômico das estruturas do mercado que se diz que o objetivo do controle de estrutura é a prevenção. 299 Ora, evidente que uma empresa que tem grande capital e uma parcela significante do mercado também possui maiores poderes para, querendo, lesar à livre concorrência ou mesmo prejudicar a livre-iniciativa por meio de condutas desleais. Evidente, pois, que os motivos ensejadores deste controle de estrutura não repousam tão somente na seara econômica, mas sim em seu espírito mantenedor da ordem pública (econômica e social) instituída na Constituição Federal. A exagerada concentração de poder econômico representa um prejuízo à sociedade e um grande risco à democracia, tendo em vista que o detentor deste poder poderá exercer influência sobre as políticas econômicas do Poder Executivo, nos projetos de lei do Poder Legislativo e nas decisões do Poder Judiciário, além de poder intervir no processo eleitoral alavancando candidatos de seu interesse (SANTIAGO, 2008). No mesmo ensejo é o entendimento pronunciado em nossos tribunais, veja-se o interessante trecho do voto do Ministro Herman Benjamin, no REsp 615.628/DF: “mais do que agente de repressão, o Cade é órgão de prevenção de abusos anticoncorrenciais. Na selva do mercado, como na vida em geral, prevenir danos à concorrência e ao consumidor é melhor (e mais eficiente) do que remediar” (Grifado no original). Assim, ao estabelecer regras à apresentação de atos concentradores do poder econômico, a Lei nº 12.259/2011 revela seu objetivo de garantir o direito da coletividade à concorrência nos mercados. O aludido texto legal encontra fundamento no artigo 173, § 3º da Constituição Federal, que assegura: “a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros”. Assim sendo, partindo-se deste contexto, pode-se extrair que dentre os atos que deverão ser submetidos ao Cade – em razão da potencial limitação ou prejuízo à concorrência, ou, ainda, por resultar em dominação de mercados relevantes de bens ou serviços – incluem-se aqueles que visem, de qualquer forma, a concentração econômica, seja através de integração vertical ou integração horizontal. De maneira sucinta, pode-se afirmar que um ato de concentração econômica se caracteriza por mudanças não breves que interfiram de forma significante na estrutura das empresas envolvidas, sendo ainda necessário que a empresa, em razão destas mudanças, atue como único agente, sob o viés econômico, em todas as operações por ela realizadas (SANTIAGO, 2008). 300 Com efeito, a doutrina costuma dividir o ato de concentração em vertical, horizontal e conglomerado. Dessa maneira, caracteriza-se a concentração horizontal87 quando ocorre entre agentes econômicos que atuam no mesmo mercado relevante, em direta relação de concorrência (SANTIAGO, 2008). Por sua vez, a concentração vertical88 “ocorre quando os agentes econômicos desenvolvem suas atividades em diferentes níveis ou estágios da mesma indústria, mantendo entre si relações comerciais, na qualidade de comprador, vendedor ou prestador de serviço (SANTIAGO, 2008, p. 250). Já o conglomerado, caracteriza-se pela união de empresas atuantes em ramos completamente diversos, agregando mercados relevantes completamente distintos, que não guardam relação entre si, mas que compartilham um núcleo comum onde são tomadas as decisões. O conglomerado não é nem uma concentração vertical, tampouco horizontal. Quanto às formas de manifestação do ato de concentração, pode-se elencar as mais comuns, quais sejam, fusão e incorporação. A incorporação ocorre quando uma empresa absorve uma ou mais empresas, sucedendo-a tanto nos direitos como nas obrigações. A respeito do conceito de incorporação, tem-se o texto legal do artigo 227, da Lei nº 6.404/1976 (Lei das Sociedades por Ações), que melhor a define como: “a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações”. Tem-se a fusão de duas ou mais empresas quando estas se unem para formar uma nova sociedade, extinguindo-se as empresas originárias e persistindo no mercado apenas a empresa derivada da união delas. Novamente, recorre-se ao texto de lei, especialmente ao artigo 228, da Lei nº 6.404/76, para se conceituar a fusão como “a operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar sociedade nova, que lhes sucederá em todos os direitos e obrigações”. Em outras palavras, pode-se estabelecer a diferença básica entre incorporação e fusão pelo fato de que, na primeira, uma empresa absorve outra(s), mantendo-se Um exemplo de concentração horizontal pode ser visualizado no Ato de Concentração nº 08012.001350/2001-55, onde é submetida ao Cade a aquisição da Goodman Fielder Limited pela Deutsche Gelatine Frabriken Stoess, ambas as empresas atuantes no mercado relevante de gelatinas bovina e suína, para utilização comestível e/ou farmacêutica. 87 88 Como exemplo tem-se o Ato de Concentração nº 08012.003330/2008-95, onde é analisada a aquisição pela Votorantim Cimentos Brasil Ltda. da Mineração Treze de Maio Ltda., existindo concentração vertical entre o mercado de brita e o mercado de concreto, não restando, contudo, caracterizado qualquer prejuízo à concorrência e tendo sido aprovado o ato com algumas restrições. 301 no mercado, enquanto que, na segunda, a operação de concentração gera, inevitavelmente, a extinção das empresas que estão se unindo para formação de um novo grupo econômico, diverso daqueles que se fundiram. 2.4 Decisões do Cade e sua intervenção no domínio econômico no controle de estruturas Após analisar os atos previstos no artigo 88 da Lei nº 12.529/2011, o Cade, com seu poder judicante, entendendo que os atos praticados são restritivos à concorrência, poderá chegar, basicamente, em três distintas decisões, concluindo pela: i) aprovação integral; ii) rejeição; ou iii) aprovação parcial, caso em que determinará as restrições que deverão ser observadas como condição para a validade e eficácia do ato, conforme previsão do art. 61, da Lei nº 12.529/2011. Dessa maneira, se o ato preencher os requisitos do controle objetivo, sendo, pois, submisso à análise do Cade, poderá o órgão regulador da concorrência, entendendo que o ato não limita ou prejudica a livre concorrência e nem resulta na dominação de mercados relevantes de bens ou serviços, aprová-lo sem a imposição de quaisquer restrições. Todavia, se o ato de concentração prejudicar a livre concorrência ou implicar no domínio de mercado econômico relevante, ainda assim o Cade poderá autorizar esta concentração, mas com a imposição de algumas restrições. Luciano Sotero Santiago (2008, p. 262) traz a distinção entre restrições estruturais e comportamentais, aduzindo que: Na solução estrutural há desconstituições parciais do ato. Assim, pode haver, o exemplo, a determinação de que a empresa em questão venda uma ou mais de suas fábricas. O objetivo da solução estrutural é recriar as condições do mercado para eliminar, em definitivo, os riscos de dano à concorrência no setor. [...] Na solução comportamental estabelecem-se compromissos específicos para a empresa, como, por exemplo, aumento de produtividade, incremento de exportações e de investimentos. 302 Não obstante à distinção doutrinária, não há como escapar do fato de que ambas estão alinhadas aos preceitos constitucionais da ordem econômica, já levantados em anterior capítulo, sendo certo que, indiferente da restrição aplicada, o objetivo final e elidir o abuso de poder econômico. Distanciando-se um tanto da parte teórica, a memória popular não falha ao relembrar alguns casos de grande repercussão submetidos ao Cade, tais como os paradigmáticos casos da Nestlé/Garoto, Kolynos/Colgate e Ambev89 90, onde o órgão regulador da concorrência interveio na propriedade privada. De forma a não pairar superficialmente sobre a matéria, e diante da repercussão dos casos acima assinalados, convém analisá-los, ainda que de maneira sucinta, um a um para visualizar esta interferência do Cade no domínio econômico, intervindo na propriedade privada. Primeiramente, adotando-se a ordem cronológica dos eventos, tem-se o caso Kolynos/Colgate. Nesta ocasião, foi submetida ao Cade a operação de incorporação da Kolynos do Brasil Ltda pela Colgate-Palmolive Company, através do Ato de Concentração n.º 0027/1995, tendo sido reconhecida a submissão da operação ao Cade diante da evidente alteração do padrão de concorrência nos mercados de creme e escova dental, e da detenção do controle de cerca de 80% do mercado nacional pela empresa resultante da incorporação. No presente caso, foi proferida, sob a lavra da Conselheira-Relatora Lúcia Helena Salgado e Silva, a seguinte decisão: Ato de Concentração. Lei nº 8.884/94, art. 54. Caso Kolynos-Colgate. Mercados de creme, escova, fio e fita dentais e enxaguante bucal. Concorrência intermarcas. 1. Mercado de creme dental: A lealdade à marca Kolynos, cujo titular detém market share superior a 78%, revela dominação de mercado de creme dental capaz de limitar ou prejudicar à livre concorrência, sobretudo Pode-se, ainda, destacar o caso da fusão das empresas Perdigão S/A e Sadia S/A para formação do grupo econômico BRFoods, onde, embora ainda não haja julgamento do ato pelo Cade, há parecer tanto da SEAE como da Procuradoria do Cade no sentido da aprovação da operação com relevantes restrições estruturais. 89 90 Voltando os olhos para o setor fumageiro, que domina a economia local, pode-se, também, citar o Ato de Concentração n.º 08012.007240/2010-98, onde é aprovada, sem restrições, pelo Cade a cessão de contratos de compra de folha de tabaco, as respectivas dívidas que acompanham cada contra e determinado ativos pela Alliance One Brasil Exportadora de Tabacos Ltda. à empresa Philip Morris Brasil Indústria e Comércio Ldta. 303 tendo em vista a conservadora relação produto/consumidor. Operação que se excede em escopo, opõe considerável obstáculos (sic) a entradas e não oferece eficiências suficientemente compensatórias. 2. Mercados de escova, fio e fita dentais e enxaguante bucal: ausência de danos. Nessa parte, a operação gera maior vigor concorrencial e por isso merece aprovação. 3. Aprovação parcial: Alienação forçada da marca Kolynos que se suspende sob dois conjuntos de condições: (A) suspensão temporária ou licença sob regime de marca dupla por 4 anos ininterruptos e (B) licença exclusiva por 20 anos. Aceita e cumprida integral e satisfatoriamente uma dessas condições, devidamente dimensionadas, a ordem de alienação se exaure (Grifo próprio). CADE, Conselheira-Relatora Lúcia Helena Salgado e Silva, Ato de Concentração n.º 0027/1995. Dessa maneira, no caso da Colgate/Kolynos, o Cade, para aprovação da incorporação da Kolynos pela Colgate, estabeleceu como condição a alienação da marca Kolynos; ou a suspensão temporária do uso da marca Kolynos; ou a licença exclusiva da marca Kolynos para terceiros por 20 anos. Em seguida, tem-se o emblemático caso da criação da Companhia de Bebidas das Américas – AmBev (Ato de Concentração n.º 08012.005846/1999-12), cuja operação foi “submetida à apreciação do CADE porque o ato de concentração representou mais de 20% do mercado relevante de bebidas. A união da Brahma e da Antártica representa 72% do mercado de cerveja no Brasil, e 40% do mercado de bebidas em geral” (TADDEI, 2011, p. 11). Neste caso, sob o jugo da Conselheira-Relatora Hebe Teixeira Romano Pereira da Silva, foi proferido a seguinte decisão: ATO DE CONCENTRAÇÃO. REUNIÃO DE CONTROLE ACIONÁRIO. CRIAÇÃO DE NOVA SOCIEDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 54 DA LEI Nº 8.884/94. APROVAÇÃO DO ATO, POR MAIORIA DE VOTOS, COM RESTRIÇÕES. TERMO DE COMPROMISSO DE DESEMPENHO. I. As questões preliminares aduzidas pela Conselheira-Relatora foram, por unanimidade, acompanhadas pelo Plenário. II. No mérito, o requerimento de aprovação do ato foi acolhido, com restrições, por maioria de votos, vencido o Conselheiro Ruy Santa Cruz. 304 III. Sob a denominação de COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS – AmBev, a nova sociedade, deverá firmar com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE Termo de Compromisso de Desempenho, em que se compromete a implementar a viabilização de uma nova entrante nacional; a providenciar oferta pública de unidades fabris de cervejas que pretenda desativar; promover o compartilhamento regional de distribuição com empresas para cinco cervejarias; a não impor exclusividade em ponto de venda, e a manter o nível de emprego (Grifo próprio). CADE, Conselheira-Relatora Hebe Teixeira Romano Pereira da Silva, Ato de Concentração n.º 08012.005846/1999-12. Resultou, pois, do julgamento do Cade que a aprovação da fusão das tradicionais cervejarias Antártica, Brahma e Skol para criação de novo grupo econômico somente seria possível com o cumprimento de algumas restrições. Dentre estas, destaca-se: Viabilização de novo concorrente mediante a alienação da marca Bavaria, assim como a transferência dos contratos de fornecimento e distribuição relacionados a marca e a alienação de uma unidade fabril para a produção da cerveja, localizada em cada uma das 5 regiões do mercado relevante geográfico (Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte); acesso a distribuição para o mercado (a Ambev deverá compartilhar sua rede de distribuição com o comprador, em todas as regiões do país, pelo prazo de 4 anos, prorrogável por mais 2); a Ambev deverá providenciar a oferta pública das unidades fabris de cerveja que pretender desativar nos próximos 4 anos (não pode fechar fábrica sem oferecer ao mercado antes); deve promover programa de retreinamento e recolocação de trabalhadores que perderam emprego em razão da fusão nos próximos 4 anos; desobrigação da exclusividade no ponto de venda; entre outras. (TADDEI, 2011, p. 11, grifo próprio) Percebe-se, assim, tanto no primeiro como neste último caso abordado, a nítida intervenção do Cade na propriedade privada, forçando atos de alienação e licenciamento de marcas pelas empresas submetidas à análise, como forma de restabelecimento do equilíbrio concorrencial. Por fim, quanto ao caso de grande repercussão mais recentemente submetido ao Cade, ou seja o Ato de Concentração n.º 08012.001697/2002-89, envolvendo as empresas Nestlé Brasil Ltda e Chocolates Garoto S/A, tem-se não menos relevante e surpreendente decisão do Cade não aprovando o ato de concentração. 305 A referida incorporação da empresa Chocolates Garoto S/A pela subsidiária da Nestlé no Brasil foi submetida à apreciação do Cade, tendo como principal fundamento a hipótese de que a operação “causaria concentração de mercado apta a concretizar a posição dominante pela Nestlé, com a possível eliminação da concorrência, tendo como consequência o aumento arbitrário dos lucros mediante o controle dos preços pela sociedade remanescente” (GONÇALVES, 2009, p. 08, grifo próprio). Seguindo o mesmo padrão de apresentação dos casos anteriores, colaciona-se a ementa do acórdão do Cade de relatoria do Conselheiro Thompson Almeida Andrade, referente ao caso em análise: Ato de Concentração. Aquisição da totalidade do capital social da Chocolates Garoto S/A pela Nestlé Brasil Ltda. Hipótese prevista no artigo 54, §3°, da Lei n° 8.884/94. Concentração horizontal. Apresentação tempestiva. Acordo de Preservação de Reversibilidade de Operação - APRO. Denúncias de descumprimento do APRO. Ausência de comprovação de descumprimento do APRO. Aprovação dos relatórios definidos no APRO pela CAD/CADE. Produtos relevantes: balas e confeitos sem chocolate, achocolatados, cobertura de chocolate e chocolates sob todas as formas. Dimensão geográfica dos mercados relevantes: território nacional. Grau de concentração resultante: mercado de balas e confeitos sem chocolates: 2,7%; mercado de achocolatados: 61,2%; cobertura de chocolate: 88,5%; e chocolates sob todas as formas: 58,4%. Reduzidos danos à concorrência nos mercados de balas e confeitos e de achocolatados. Eliminação de um dos três grandes players dos mercados de coberturas de chocolates e chocolates sob todas as formas. Estudos quantitativos e simulações mostram que operação reduz rivalidade no mercado de chocolates sob todas as formas. Adequação do modelo price standard às condições definidas no §1° do artigo 54 da Lei nº 8.884/94. Eficiências (reduções reais de custo) em torno de 12% dos custos variáveis de produção e de distribuição são necessárias para compensar dano e impedir aumentos de preço. Eficiências insuficientes para compensar dano à concorrência e garantir a não redução do bem estar do consumidor. Não aprovação da operação. Solução estrutural. Desconstituição do Ato. (Grifo próprio) A adoção do sistema da notificação prévia está em linha com as melhores práticas internacionais e vai ao encontro das jurisdições que contam com órgãos antitrustes mais experientes e respeitados no mundo: a Divisão Antitruste 306 do Departamento de Justiça e a Federal Trade Comission (ambas dos Estados Unidos da América) e a Diretoria Geral de Concorrência (União Europeia). (ANDERS, 2011, p. 208) Outrossim, ainda que incipiente qualquer crítica à atuação do Cade sob a nova estruturação trazida pela Lei nº 12.529/2011 e sem pretensões de ameaçar a autonomia e independência do Cade na apreciação dos atos de concentração, válido registrar a crítica feita por Arnaldo Magalhães (2005, p. 21) quanto à falta de celeridade e adequação do tempo de tramitação do procedimento administrativo com a dinâmica do mercado. Nos EUA e na Inglaterra, as agências reguladoras decidem pela viabilidade da operação antes mesmo de o investimento concretizar-se. Nos EUA, se a Federal Trade Comission (FTC), órgão equivalente ao CADE, não se manifestar no prazo máximo de 30 dias, a operação é considerada aprovada. No Brasil, pode-se perceber que o Cade infelizmente não goza desta mesma celeridade na análise dos atos de concentração, não sendo rara a submissão da decisão do Cade ao judiciário, quando dela advier evidente prejuízo econômico aos agentes econômicos, não só pelo mérito da decisão, mas pela incerteza gerada na demora da prestação judicante. Outrossim, voltando aos atos de concentração acima expostos, observa-se a força da intromissão do Cade na propriedade privada, como longa manus do Estado no controle do da economia, para a consecução dos princípios constitucionais da ordem econômica. Nos três casos acima apresentados pode-se verificar esta intervenção do Estado por seu órgão regulador, impondo condições ou restrições à livre-iniciativa dos agentes econômicos em sua liberalidade de contratar ou se unir com outros agentes em busca de melhor posição no jogo do mercado, seja através da aprovação do ato com restrições, seja através do completo veto do ato de concentração. 3. Conclusão No decorrer do presente trabalho, buscou-se desvendar as formas de atuação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – Cade, e sua intervenção no domínio econômico e, consequentemente, na propriedade privada. Durante este 307 caminhar, foi constante a busca de uma sintonia entre duas disciplinas tão distantes academicamente, e ao mesmo tempo tão próximas que chegam a se complementar: o Direito e a Economia. Nesse prisma, e tendo por frente um oceano ainda pouco antes navegado, tentou-se situar o pensamento jurídico em terreno lindeiro ao da disciplina econômica, como duas ilhas, independentes e autônomas, mas componentes do mesmo arquipélago. Neste sentido, demonstrou-se que é crescente a preocupação, não só de doutrinadores da área jurídica, mas também da seara econômica, no sentido de se encontrar uma intersecção entre as duas disciplinas como forma de se complementarem, na perseguição dos preceitos constitucionais. Ademais, foi apresentada a estrutura do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e os órgãos que a compõem, explicitando-se a função e a importância de cada ente na consecução da defesa da concorrência. Seguindo este rastro, adentrou-se no estudo das formas de atuação do Cade no domínio privado, na condição de órgão regulador da concorrência, dando-se maior privilégio à análise do controle estrutural dos mercados, em prejuízo do controle das condutas dos agentes econômicos. Esta proposital escolha teve como base, essencialmente, o fato de que é nesta forma de controle exercido pelo Cade que ocorrem, com maior frequência, as sanções restritivas aos agentes econômicos e a decorrente intervenção do aludido órgão regulador da concorrência no campo da propriedade privada, onde ele pode determinar, dentre outras medidas, a cessão de direitos, suspensão do uso de determinadas marcas, ou mesmo a alienação de bens e ativos financeiros. Seguindo este raciocínio, e de forma a tornar os comentários expostos mais palatáveis, foram analisados, ainda que de forma mais singela, os três atos de concentração mais importantes na recente história do Cade. O resultado deste trabalho foi a identificação de um complexo sistema de proteção à concorrência, dotado de órgãos e entes públicos habilitados a analisar a matéria econômica e jurídica dos mercados, sempre perseguindo os princípios sociais e econômicos em prol da realização dos fundamentos de nosso país e dos princípios orientadores da Ordem Econômica. A nova estruturação do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, dada pela Nova Lei de Defesa da Concorrência, representa um clarividente avanço na forma de análise e intervenção do Cade na ordem econômica, preservando os preceitos constitucionais para efetivação de uma existência digna e da justiça social. 308 Assim sendo, a intervenção do Cade, assessorado pelos demais órgãos do SBDC, de sua Procuradoria e do Ministério Público Federal, no domínio privado, encontra viabilidade e legitimidade quando acerca-se dos princípios estabelecidos na Carta Magna. Além do mais, esta intervenção do Estado – de forma indireta, pelo Cade – na economia e, por conseguinte, na propriedade privada, encontra suporte constitucional nos artigos 170 e seus incisos e 173, § 3.º da Constituição Federal, onde estão, respectivamente, erigidos os princípios da Ordem Econômica e o comando do legislador constituinte, no sentido de que deve ser por lei reprimido o abuso do poder econômico, a dominação de mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros. O que se percebe, portanto, é que a Lei nº 12.529/2011, ao regulamentar a defesa da concorrência, o faz em uniformidade à Carta Maior, confiando ao Cade o poder judicante para decidir sobre a matéria, inclusive com poderes para dispor sobre a propriedade privada dos agentes econômicos. Todavia, evidente que o Cade, por mais esmerado que seja no exame da matéria concorrencial, não está livre de cometer erros estratégicos em suas decisões, podendo, eventualmente criar um ambiente não tão propício ao bom desenvolvimento da livre-iniciativa e livre concorrência, quando cerceia a liberdade de disposição de seus bens pelos agentes econômicos. Entretanto, alimentar obstáculos à análise e eventual intervenção do Cade no domínio econômico, representa a criação de empecilhos à efetivação da própria Carta Magna, abrindo-se espaço à superveniência de situações antônimas à realização da justiça social e da existência digna. 4. Referências bibliográficas ANDERS, Eduardo Caminati. Capítulo I – Dos atos de concentração. In: BAGNOLI, V. ; CORDOVIL, L. ; ANDERS, E. C. ; CARVALHO, V. M. Nova Lei de Defesa da Concorrência comentada: Lei 12.529, de 30 de novembro de 2011. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. v. 01. p 195-215. ANDRADE, Thompson Almeida. Ato de Concentração n.º 08012.001697/200289. Julgado em: 27/04/2005. Disponível em: <http://www.cade.gov.br>. Acesso em: 13 jun. 2011. BAGNOLI, Vicente. Capítulo III – Da Secretaria de Acompanhamento Econômico. In: BAGNOLI, V. ; CORDOVIL, L. ; ANDERS, E. C. ; CARVALHO, V. 309 M. Nova Lei de Defesa da Concorrência comentada: Lei 12.529, de 30 de novembro de 2011. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. v. 01. p 76. BENJAMIN, Herman. REsp 615.628/DF. Julgado em 08/06/2010. DJ 04/05/2011. Disponível em: <http://www.stj.jus.br>. Acesso em: 28 out. 2010. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília (DF): Senado Federal, 1988. ____________. Lei das Sociedades por Ações. Lei 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976. Brasília (DF): Senado Federal, 1976. ____________. Lei de Defesa da Concorrência. Lei 8.884/94, de 11 de junho de 1994. Brasília (DF): Senado Federal, 1994. ____________. Nova Lei de Defesa da Concorrência. Lei 12.529/11, de 30 de novembro de 2011. Brasília (DF): Senado Federal, 2011. CARVALHO, Vinícius Marques. Lei 12529, de 30 de novembro de 2011. In: BAGNOLI, V. ; CORDOVIL, L. ; ANDERS, E. C. ; CARVALHO, V. M. Nova Lei de Defesa da Concorrência comentada: Lei 12.529, de 30 de novembro de 2011. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. v. 01. p 31-41. FARINA, Elizabeth; TITO, Fabiana. Desafios e Consequências da Nova Lei de Defesa da Concorrência. In: BAGNOLI, Vicente (Org.); ANDRADE, Maria Cecilia (Org.). Boletim Latino-americano de Concorrência. Bruxelas: Comissão Europeia, 2012. p. 15-21. FONSECA, João Bosco da. Direito econômico. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. GONÇALVES, Leonardo Gomes Ribeiro. Caso Nestlé-Garoto: o Ato de Concentração nº 08012.001697/2002-89 e suas repercussões no direito antitruste brasileiro. 2009. 37 f. Monografia (Especialização em Gestão e Business Law) - FGV, Rio de Janeiro, 2009. GRAU, Eros Roberto. Ordem econômica e o Ministério Público. De Jure: revista jurídica do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, n. 6, p. 133-141, jan./jun. 2006. Disponível em: 310 <http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/27389>. Acesso em: 18 dez. 2010. MAGALHÃES, Arnaldo. A análise dos atos de concentração pelo CADE: consequências da análise posterior ao evento. Revista Magister de Direito Empresarial, Porto Alegre, n. 28, p. 13-25, fev./mar. 2005. PETTER, Lafayete Josué. Direito econômico. 5. ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2011. ROCHA, Cesar Asfor. MS 2887/DF. Julgado em 09/11/1993. DJ 13/12/1993. Disponível em: <http://www.stj.jus.br>. Acesso em: 16 out. 2010. SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito concorrencial: as estruturas. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2007. SAMPAIO, Patrícia Regina Pinheiro; PEREIRA NETO, Caio Mário da Silva (Org.). Sistema brasileiro de defesa da concorrência. Disponível em: <http://www.fgvsp. br>. Acesso em: 29 maio 2011. SANTIAGO, Luciano Sotero. Direito da concorrência: doutrina e jurisprudência. Salvador: Juspodivm, 2008. SILVA, Hebe Teixeira Romano Pereira da. Ato de Concentração n.º 08012.005846/ 1999-12. Julgado em: 30/03/2000. Disponível em: <http://www.cade.gov.br>. Acesso em: 13 jun. 2011. SILVA, Lúcia Helena Salgado e. Ato de Concentração n.º 0027/1995. Julgado em 18/09/1996. Disponível em: <http://www.cade.gov.br>. Acesso em: 13 jun. 2011. SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito administrativo regulatório. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2002. TADDEI, Marcelo Gazzi. O CADE e o controle preventivo dos atos de concentração empresarial. Disponível em: <http://www.franca.unesp.br/O CADE.pdf>. Acesso em: 11 jun. 2011. 311 O RECONHECIMENTO DA UNIÃO HOMOAFETIVA COMO ENTIDADE FAMILIAR E SEUS REFLEXOS NA SEARA DO CASAMENTO CIVIL E DA ADOÇÃO Kellen Eloisa dos Santos91 Marli Marlene Moraes da Costa92 RESUMO Este artigo, cujo tema é “o reconhecimento da união homoafetiva como entidade familiar e seus reflexos na seara do casamento civil e da adoção” é fruto de estudos e pesquisas desenvolvidas sobre a união homoafetiva, o qual pretende analisar, especialmente, os fundamentos da decisão que reconheceu a união homoafetiva como entidade familiar, bem como as questões que possibilitam a concretização do acesso ao direito de formalização do casamento civil e da adoção de filhos, em situação de igualdade de direitos com as uniões estáveis heteroafetivas, traçando um contexto Graduada em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC. Integrante do Grupo de Estudos de Direito, Cidadania e Políticas Públicas (UNISC), coordenado pela Pós-Doutora Marli Marlene Moraes da Costa. E-mail: [email protected]. 91 Pós-doutora em Direito pela Universidade de Burgos/Espanha, com bolsa CAPES. Doutora em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Direito - Mestrado e Doutorado - na Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC. Coordenadora do Grupo de Estudos “Direito, Cidadania e Políticas Públicas” da UNISC. Professora da Graduação em Direito na Fundação Educacional Machado de Assis de Santa Rosa - FEMA. Psicóloga com especialização em terapia familiar. Coordenadora dos Projetos de Pesquisa: «O Direito à Profissionalização e as Políticas Públicas da Juventude na Agenda Pública: desafios e alternativas para a inserção dos jovens no mercado de trabalho - um estudo no município de Santa Cruz do Sul – RS” e «O Brincar e a Construção da Cidadania nas Escolas: uma releitura do Estatuto da Criança e do Adolescente». E-mail: [email protected]. 92 312 entre o fato social e as regras de direito, que deverão ser interpretadas conforme os preceitos erigidos pela Constituição Federal de 1988. A escolha por essa temática se deu pela importância que tem na atualidade e por controverter a realidade enfrentad a por homossexuais que, apesar do reconhecimento de suas uniões como entidades familiares, ainda, são alvos de preconceito e discriminação. Para tanto, foi adotado o método dedutivo de análise, por meio da pesquisa bibliográfica em livros e artigos científicos de doutrinadores e aplicadores do direito. Palavras-chave: união homoafetiva; reconhecimento; entidade familiar; casamento civil; adoção. 1. Introdução As relações em família vivem em constante desenvolvimento, por situações sociais e familiares que, por vezes, não se conformando com os limites impostos pela lei criada em um determinado momento histórico, buscam à satisfação dos anseios através da jurisprudência. Estas inquietações vivenciadas pela sociedade brasileira assumem importante papel para conduzir e direcionar uma conciliação do texto de lei aos fatos sociais de cada época, e eventuais resistências ou oposições à conciliação devem ser consideradas retrógradas e preconceituosas. Este artigo é fruto de pesquisa desenvolvida sobre a união homoafetiva, que trata da relação afetuosa entre pessoas do mesmo sexo e que convivem em âmbito familiar. Tem como propósito principal analisar o reconhecimento da união homoafetiva como entidade familiar para, posteriormente, demonstrar a possibilidade da concretização do direito ao casamento civil e à adoção de filhos, em situação de igualdade com as uniões estáveis heteroafetivas, traçando um contexto entre o fato social e as regras de direito, às quais deverão ser interpretadas conforme os preceitos erigidos pela Constituição Federal de 1988. No desenvolver deste trabalho, apresentar-se-á a linha convergente de pesquisa em prol dos direitos das famílias homoafetivas, fazendo-se uma análise construtiva das normas infraconstitucionais e o texto constitucional, considerando que as questões voltadas às famílias homoafetivas apresentam abordagem legal limitada quanto à complexidade da temática no contexto social. O presente estudo destina-se, portanto, a abordar o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), nº. 132 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº. 4277, que reconheceu a união homoafetiva como 313 entidade familiar, bem como demonstrar seus reflexos no âmbito do casamento civil e da adoção que permanecem alvos de intensa discussão. 2. ADPF nº. 132 e ADI nº. 4277: o reconhecimento da união homoafetiva como entidade familiar Antes de perscrutar sobre os fundamentos que motivaram o reconhecimento da união homoafetiva como entidade familiar, cumpre trazer à tona o que pugnavam cada uma das ações, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº. 132 e Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº. 4277. Em 27 de fevereiro de 2008, foi apresentada pelo governador do Estado do Rio de Janeiro a ADPF nº. 132, a qual indicava a violação dos preceitos fundamentais da dignidade da pessoa humana, da igualdade, da liberdade e da segurança jurídica, bem como pleiteava pela aplicação do regime jurídico da união estável para as uniões homoafetivas, o que asseguraria aos servidores estaduais que mantém relação afetiva com pessoas do mesmo sexo as mesmas garantias conferidas aos servidores heterossexuais (TAVARES, 2008). No dia 02 de julho de 2009, aproximadamente um ano e seis meses após a propositura da ADPF nº. 132, foi interposta pela Procuradora Geral da República, originalmente, a ADPF nº. 178, posteriormente reclassificada como Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº. 4277. Referida ação foi ajuizada com o propósito do reconhecimento das uniões homoafetivas como entidades familiares, de modo a conferir-lhes os mesmos direitos e deveres assegurados às uniões estáveis heteroafetivas, desde que essas relações atendam aos mesmos requisitos exigidos para a constituição da união estável entre homem e mulher (PEREIRA, 2009). No dia 05 de maio de 2011, em julgamento conjunto das ações acima referidas, o Supremo Tribunal Federal reconheceu, por unanimidade, as uniões homoafetivas como entidades familiares, concedendo-as os mesmos direitos que são auferidos às uniões estáveis heteroafetivas (BRITTO, 2011). Nesse passo, importante demonstrar os principais fundamentos do voto do Ministro Relator, Carlos Ayres Britto, que motivaram o reconhecimento jurídico das uniões homoafetivas como entidades familiares. Ressalta-se inicialmente que, em seu voto, o Ministro Carlos Ayres Britto opinou pela procedência dos pedidos formulados por ambos requerentes, qual seja, o pedido de “interpretação conforme a Constituição” do artigo 1.723 do Código Civil, e, para 314 tanto, argumentou que é nela, na Constituição, que constam os requisitos essenciais para o reconhecimento jurídico das relações homoafetivas que se caracterizam em face de sua durabilidade; do conhecimento público e, portanto, não aceitação da clandestinidade; da continuidade; e do desígnio de constituir uma família (BRITTO, 2011). A interpretação, conforme a Constituição, é um princípio instrumental de interpretação constitucional, que além de servir como forma de preservação de determinadas normas que possam vir a ser declaradas inconstitucionais, também se destina a atribuir o melhor sentido à adequação dessas normas aos princípios constitucionais. Essa técnica de interpretação determina a interpretação, por magistrados e tribunais, de leis ordinárias da forma mais apropriada para a afirmação dos valores erigidos no texto constitucional, em outras palavras, dentre as possíveis interpretações, devem optar por aquela que melhor atenda o que determina a Constituição (BARROSO, 2011a). Prosseguindo em seu voto, o Ministro Carlos Ayres Britto asseverou que nossa Carta Magna utiliza o vocábulo “sexo” em seus dispositivos no sentido de “conformação anátomo-fisiológica descoincidente entre o homem e a mulher” (BRITTO, 2011, p. 10), ou seja, como forma de diferenciar as duas espécies humanas, homem e mulher (BRITTO, 2011); consoante se pode observar no artigo 3º, inciso IV, “promover o bem de todos, sem preconceitos de [...] sexo [...] e quaisquer outras formas de discriminação”; no artigo 5º, inciso XLVIII, “a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com [...] o sexo do apenado”; no artigo 7º, inciso XXX, “proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo [...]”; e no artigo 201, § 7º, inciso II, “sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, [...]”. Desse modo, verifica-se que a Constituição, salvo determinação constitucional em contrário, veda a desigualdade jurídica entre homem e mulher, bem como proíbe expressamente quaisquer tratamentos discriminatórios ou preconceituosos em virtude do sexo das pessoas, ocorrência que infringe de igual forma outro objetivo constitucional, aquele que visa à promoção do bem de todos, conforme expressamente dispõe o artigo 3º, inciso IV da Carta Constitucional, anteriormente transcrito (BRITTO, 2011). Pelo exposto, pode-se concluir que a Constituição, ao assegurar “o bem de todos”, visou eliminar tratamentos preconceituosos em razão do sexo, o que garante a não discriminação em razão das particularidades de cada ser humano e, por consequência, reflete positivamente no equilíbrio da sociedade, consagrando o chamado Constitucionalismo fraternal (BRITTO, 2011). 315 Tipo de constitucionalismo, esse, o fraternal, que se volta para a integração comunitária das pessoas (não exatamente para a “inclusão social”), a se viabilizar pela imperiosa adoção de políticas públicas afirmativas da fundamental igualdade civil-moral (mais do que simplesmente econômico-social) dos estratos sociais historicamente desfavorecidos e até vilipendiados. Estratos ou segmentos sociais como, por ilustração, o dos negros, o dos índios, o das mulheres, o dos portadores de deficiência física e/ou mental e o daqueles que, mais recentemente, deixaram de ser referidos como “homossexuais” para ser identificados pelo nome de “homoafetivos”. Isto de parelha com leis e políticas públicas de cerrado combate ao preconceito, a significar, em última análise, a plena aceitação e subsequente experimentação do pluralismo sócio-político-cultural (BRITTO, 2011, p. 11, grifo no original. Disponível em http://www.stf.jus.br) Como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, o pluralismo, contido no artigo 1º, inciso V da Constituição Federal de 1988, como bem destacado pelo Ministro Carlos Ayres Brito, “serve de elemento conceitual da própria democracia material ou de substância, desde que se inclua no conceito da democracia dita substancialista a respeitosa convivência dos contrários” (BRITTO, 2011, p. 12, grifo no original). Ou seja, o respeito à diferença. O Ministro Relator ponderou em seu voto que o Direito é uma técnica de controle social, que de forma razoável e proporcional visa submeter as relações baseadas em sentimentos e instintos humanos às normas que lhes dirigem e lhes fundamenta, agindo em algumas situações como norma geral positiva e, em outras, como norma geral de cunho negativo (BRITTO, 2011). Nessa esteira, ressalta-se que nossa Carta Magna consagrou em seu artigo 5º, inciso II, “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”, uma norma geral negativa, segundo a qual tudo o que não é juridicamente proibido, ou obrigado, está juridicamente permitido. Nesse sentido, destaca que o uso pelo ser humano da sua sexualidade se enquadra nesta regra da norma geral negativa. Logo, se a Constituição silenciou, tem-se que as pessoas podem livremente exercer sua sexualidade (BRITTO, 2011), liberdade essa que, segundo o Ministro Carlos Ayres Britto (2011, p. 18) é: [...] um tipo de liberdade que é, em si e por si, um autêntico bem de personalidade. Um dado elementar da criatura humana em sua intrínseca dignidade 316 de universo à parte. Algo já transposto ou catapultado para a inviolável esfera da autonomia de vontade do indivíduo, na medida em que sentido e praticado como elemento da compostura anímica e psicofísica (volta-se a dizer) do ser humano em busca de sua plenitude existencial. [...] Uma busca da irrepetível identidade individual [...]. Afinal, a sexualidade, no seu notório transitar do prazer puramente físico para os colmos olímpicos da extasia amorosa, se põe como um plus ou superávit de vida. Não enquanto um minus ou déficit existencial. (Grifo no original) Nesse sentido, a orientação sexual não pode significar uma maior ou menor dignidade do ser humano, muito menos a livre disposição da sexualidade pode implicar em desigualdade jurídica, até mesmo porque referida liberdade é direito fundamental e possui proveniência do princípio da dignidade da pessoa humana. Assim, a referida liberdade é de suma importância para afirmação, elevação pessoal e autoestima do indivíduo (BRITTO, 2011). Desse modo, nenhum indivíduo poderá sofrer quaisquer tipos de discriminações em virtude de sua orientação sexual e, portanto, deve ser assegurado aos homossexuais os mesmos direitos conferidos aos heterossexuais. Nesta linha de raciocínio, as famílias homoafetivas e heteroafetivas devem ser tratadas de forma igualitária, com iguais direitos, o mesmo respeito e a mesma proteção do Estado e da sociedade (OPPERMANN, 2011). Como visto, é tão proibido discriminar uma pessoa em virtude do seu gênero, masculino ou feminino, como também em razão de sua orientação sexual. Assim como as mulheres devem ser tratadas igualitariamente aos homens, as uniões homoafetivas e as uniões heteroafetivas devem seguir a mesma lógica de tratamento igualitário (BRITTO, 2011). Seguindo a regra do artigo 5º, inciso II, de que tudo o que não está juridicamente proibido está permitido, tem-se, portanto, que o livre arbítrio da sexualidade, e o uso de sua intimidade e privacidade, devem ser respeitados; eis que não é vedada a liberdade para o uso dessas garantias. Nesse fluxo de raciocínio, como também não está juridicamente proibido que as pessoas se relacionem com outras do mesmo sexo, logo, a união homoafetiva deve também ser reconhecida e respeitada (BRITTO, 2011). Analisando o dispositivo 226, caput, da Constituição Federal de 1988, o qual aduz que “a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”, verifica-se que em momento algum houve exclusão das uniões homoafetivas do âmbito de sua proteção. Vale dizer que referido artigo dispõe de forma generalizada que a família 317 merece proteção estatal, sem efetuar qualquer tipo de diferenciação ou definição do vocábulo família, diferente do que constava na Constituição de 1967, que possuía expressamente em seu texto, como única família merecedora de proteção do Estado, aquela fundada no matrimônio (SILVA JÚNIOR, 2011). Nessa senda, afirma Britto (2011, p. 33) em seu voto, a família: [...] é, por natureza ou no plano dos fatos, vocacionalmente amorosa, parental e protetora dos respectivos membros, constituindo-se, no espaço ideal das mais duradouras, afetivas, solidárias ou espiritualizadas relações humanas de índole privada. O que a credencia como base da sociedade, pois também a sociedade se deseja assim estável, afetiva, solidária e espiritualmente estruturada [...]. (Grifo no original) Assim, tendo em vista que na atualidade o que caracteriza a base familiar é a afetividade e não o casamento, ou seja, o que diferencia a família dos demais agrupamentos é o intuito de vida em comum, de forma estável, respeitosa e solidária, e não aspectos ideológicos, culturais ou religiosos, possuindo as uniões homoafetivas estas características, não há de se falar no não reconhecimento das mesmas (SILVA JÚNIOR, 2011). Segue este raciocínio outro membro do STF, que se refere ao afeto como valor jurídico, aspecto caracterizador da família constitucionalizada. Isso significa que a qualificação da união estável entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, desde que presentes, quanto a ela, os mesmos requisitos inerentes à união estável constituída por pessoas de gêneros distintos, representará o reconhecimento de que as conjugalidades homoafetivas, por repousarem a sua existência nos vínculos de solidariedade, de amor e de projetos de vida em comum, hão de merecer o integral amparo do Estado, que lhes deve dispensar, por tal razão, o mesmo tratamento atribuído às uniões estáveis heterossexuais (MELLO, 2011, p. 39, grifo no original. Disponível em http://www.stf.jus.br) Consoante, se pode observar, restou claro que a afetividade também foi um dos princípios fundamentais para o reconhecimento das uniões homoafetivas como entidades familiares, haja vista que são caracterizadas pelo afeto, pelo amor e pela 318 solidariedade. Assim, vale dizer que “o afeto foi erigido ao seu mais alto conceito” (IBIAS, 2011), pois se tornou o principal aspecto caracterizador dos relacionamentos contínuos, públicos e duradouros, os quais se manifestam com intuito de constituir família, o que não exclui as uniões homoafetivas que vierem a se constituir nas mesmas condições (IBIAS, 2011). Deve-se destacar que, ao conferir igualdade de direitos entre famílias homoafetivas e heteroafetivas, a decisão do STF possibilitou não somente o reconhecimento dessas uniões como entidades familiares, como também, por consequência, os demais direitos assegurados às uniões estáveis, tais como o direito à dissolução desta união e partilha de bens, herança, benefícios previdenciários, dentre outros direitos (OPPERMANN, 2011). Nessa linha de raciocínio, tem-se, portanto, que todos os magistrados deverão julgar as demandas que versem sobre essa matéria de acordo com a decisão do STF, ou seja, além de possuírem o dever de reconhecer as uniões homoafetivas como entidades familiares, também deverão lhes conceder idênticos direitos que são conferidos às uniões estáveis formadas por pessoas de sexos distintos. Nesse passo, caso o magistrado deixar de aplicar referida decisão em seu julgamento, haverá a possibilidade de a parte recorrer ao Tribunal que deverá reconhecer. No entanto, se houver resistência também por parte do Tribunal, poderá, ainda, a parte recorrer ao STF, que determinará ao Tribunal que reaprecie a causa em consonância com a decisão da ADPF nº. 132 e ADI nº. 4277, que reconheceu a igualdade absoluta entre as uniões estáveis heteroafetivas e homoafetivas (OPPERMANN, 2011). Oportuno descrever uma situação que gerou grande polêmica e repercussão na mídia versando sobre a determinação, de ofício, por parte do magistrado da primeira Vara da Fazenda Pública de Goiânia, Jeronymo Pedro Villas Boas, em 18 de junho de 2011, para que fosse anulado o primeiro contrato de união estável entre homossexuais firmado em Goiás. Como forma de embasar sua decisão, o magistrado alegou que a Suprema Corte ao reconhecer a união estável entre pessoas do mesmo sexo alterou a Constituição, o que é de competência apenas do Congresso Nacional. Segundo ele, o núcleo familiar apenas é constituído entre homem e mulher, conforme dispõe a Carta Magna (PASSARINHO, 2011), argumentos esses, diga-se de passagem, totalmente equivocados se comparados com a construção feita pelo voto do relator da decisão do STF. Frisa-se que, embora tendo o magistrado utilizado do mecanismo processual do livre convencimento como forma de fundamentação da sua decisão, esta foi proferida 319 em total desconformidade com a decisão vinculante do STF, o que é inadmissível. Referida determinação foi anulada, tendo em vista a inadequação com a decisão da Suprema Corte (BAY, 2011). Em síntese, com o resultado do julgamento da ADPF 132 e da ADI 4277, há muitos motivos para comemorações pela realização de justiça no Brasil; eis que ambas as ações reafirmaram os princípios da dignidade da pessoa humana, da liberdade, da igualdade e, como consagração do pluralismo, se resgatou a cidadania, dando o direito aos homossexuais de alcançarem, com o reconhecimento de suas uniões estáveis como entidades familiares, a almejada felicidade, que é um direito pleiteado por todos (CHAVES, 2011a). No entanto, destaca-se que apenas se conquistou o primeiro passo, qual seja a equiparação das uniões estáveis homoafetivas às uniões estáveis heteroafetivas, havendo ainda inúmeras questões a serem enfrentadas (OPPERMANN, 2011), considerando-se que a decisão implica consequências sociais e jurídicas em relação a outros direitos não enfrentados pelos ministros do STF nas ações citadas. Desse modo, optou-se neste artigo por abordar dois dos principais reflexos sociais e jurídicos oriundos do reconhecimento da união estável homoafetiva como entidade familiar: a possibilidade do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo e a possibilidade de adoção por essas entidades familiares. 3. A possibilidade do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo como consequência da decisão do Supremo Tribunal Federal Conforme já exposto, o STF, em julgamento conjunto da ADPF nº. 132 e da ADI nº. 4277, interpretou o artigo 1.723 do Código Civil conforme a Constituição, de modo a garantir às uniões homoafetivas os mesmos direitos conferidos às uniões estáveis heteroafetivas. Referida interpretação destinou-se a excluir quaisquer hipóteses que venham a impedir o reconhecimento dessas uniões como entidades familiares. A decisão possui eficácia contra todos e efeito vinculante, devendo o reconhecimento da união estável homoafetiva ser realizado de acordo com os mesmos requisitos e possuir as mesmas consequências da união estável entre pessoas do mesmo sexo (DIAS, 2012). 320 Apesar de a união homoafetiva ser detentora dos mesmos direitos inerentes às uniões estáveis heteroafetivas, sobreveio, como consequência da decisão, dúvidas relativas à possibilidade ou impossibilidade de casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Os conservadores, em face de questões ideológicas, culturais, religiosas, ou, ainda, em virtude do persistente preconceito e discriminação, entendem e defendem que não há possibilidade, argumentando que foi reconhecido aos homossexuais apenas o direito à união estável e não o direito ao casamento civil, argumento esse, frisa-se, totalmente equivocado (DIAS, 2012), conforme se passará a demonstrar. Ao se fazer uma análise ao artigo 226, § 3º da Constituição Federal, o qual dispõe que “é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento”, conclui-se que, se é dever da lei facilitar a conversão da união estável em casamento e, se o STF conferiu às uniões estáveis homoafetivas idêntica proteção que é aferida às uniões estáveis heteroafetivas, logo a facilitação ao casamento também é garantia constitucional inerente às famílias homoafetivas. Nessa linha, se faz necessário esclarecer o porquê da utilização das nomenclaturas “homem” e “mulher” no dispositivo supracitado, o que Britto (2011, p. 42) em sua fundamentação no julgamento da ADPF nº. 132 e ADI nº. 4277, faz muito bem. [...] Essa referência à dualidade básica homem/mulher tem uma lógica inicial: dar imediata sequência àquela vertente constitucional de incentivo ao casamento como forma de reverência à tradição sócio-cultural-religiosa do mundo ocidental de que o Brasil faz parte (§1º do art. 226 da CF), sabido que o casamento civil brasileiro tem sido protagonizado por pessoas de sexos diferentes, até hoje. Casamento civil, aliás, regrado pela Constituição Federal sem a menor referência aos substantivos “homem” e “mulher” [...] também se deve ao propósito constitucional de não perder a menor oportunidade de estabelecer relações jurídicas horizontais ou sem hierarquia entre as duas tipologias do gênero humano [...] nada tendo a ver com a dicotomia da heteroafetividade e da homoafetividade. (Grifo próprio) Portanto, o fato de constar as terminologias “homem” e ”mulher” no artigo 226, § 3º da Constituição Federal, é no sentido apenas de estabelecer relações horizontais e igualdade entre os gêneros, e não o impedimento ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ressalta-se que o Código Civil de 2002, diferente do que fez a Constituição em seu artigo 1.726, não faz qualquer menção à diferença de gêneros, apenas 321 aduz que “a união estável poderá converter-se em casamento, mediante pedido dos companheiros ao juiz e assento no Registro Civil”. Assim, não restam dúvidas de que a união homoafetiva pode ser convertida em casamento. Nessa linha, cabe mencionar alguns dos dispositivos do Código Civil de 2002 que tratam acerca da capacidade e impedimentos ao casamento para, a partir disso, se fazer uma análise construtiva de modo a demonstrar que a possibilidade de homossexuais contraírem matrimônio é garantia inafastável. Nesse sentido, o artigo 1.517 do Código Civil de 2002 dispõe que “o homem e a mulher com dezesseis anos podem casar, exigindo-se autorização de ambos os pais, ou de seus representantes legais, enquanto não atingida a maioridade civil”. Assim, verifica-se que tanto homens quanto mulheres, desde que respeitando as condições estabelecidas pelo artigo, possuem o direito de se casar, agora se referidas uniões serão hétero ou homoafetivas, isso nada menciona o artigo. Logo, conclui-se que a orientação sexual não poderá ser fator que motive a exclusão/negação de direitos. Nesse desiderato, assume relevo transcrever também o artigo 1.521 do mesmo diploma legal, Código Civil, de forma a apresentar todos os impedimentos para o casamento. Art. 1.521. Não podem casar: I - os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil; II - os afins em linha reta; III - o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem o foi do adotante; IV - os irmãos, unilaterais ou bilaterais, e demais colaterais, até o terceiro grau inclusive; V - o adotado com o filho do adotante; VI - as pessoas casadas; VII - o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Mais uma vez, verifica-se que homossexuais não estão impedidos de se casar, haja vista que o dispositivo infraconstitucional acima transcrito dispõe de maneira taxativa e não exemplificativa o rol de impossibilidades à constituição de família por meio do matrimônio. Outro dispositivo que assume relevância destacar é o 1.523 do Código Civil de 2002, o qual apresenta as causas suspensivas do casamento, impondo quem não deve se casar. 322 Art. 1.523. Não devem casar: I - o viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não fizer inventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros; II - a viúva, ou a mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido anulado, até dez meses depois do começo da viuvez, ou da dissolução da sociedade conjugal; III - o divorciado, enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha dos bens do casal; IV - o tutor ou o curador e os seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos, com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não cessar a tutela ou curatela, e não estiverem saldadas as respectivas contas. Como se vê, a união homoafetiva também não configura causa suspensiva do casamento. Dessa forma, não havendo nada que impeça ou suspenda a possibilidade de casamento por pessoas do mesmo sexo, tem-se, como única justificativa, que a negação de lhes conferir tal direito se dá em virtude de preconceitos e discriminações. Nesse sentido foram os argumentos utilizados pelo Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Felipe Francisco (2012), em sua decisão que reconheceu o pedido de conversão da união estável em casamento, formulado por duas pessoas do mesmo sexo. Se a Constituição da República determina que seja facilitada a conversão da união estável em casamento, e o Supremo Tribunal Federal determinou que não fosse feita qualquer distinção entre uniões hétero e homoafetivas, não há, pois, como afastar a recomendação constitucional negando [...] a conversão da união estável em casamento, máxime porque consta [...] a prova de existência de convivência contínua, estável e duradoura [...] sem qualquer impedimento ou causa suspensiva. [...] o ordenamento jurídico não veda expressamente o casamento entre pessoas do mesmo sexo e, portanto, ao se enxergar uma vedação implícita ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, estar-se-ia afrontando princípios consagrados na Constituição da República, quais sejam, os da igualdade, da dignidade da pessoa humana e do pluralismo (FRANCISCO, 2012, p. 01, grifo próprio. Disponível em http://www.tjrj.jus.br) Além do mais, frisa-se que o casamento civil, por ser considerado o vínculo que confere às famílias maior segurança jurídica, não pode ser negado a nenhuma entidade 323 familiar que desejar se constituir dessa forma, e isso, inclusive, independentemente da orientação sexual, até mesmo porque a união homoafetiva possui os mesmos núcleos axiológicos de dignidade dos componentes da família e de afetividade que os da união entre pessoas de sexos distintos (SALOMÃO, 2011). Não é a toa que nossa Carta Magna, em seu dispositivo 226, caput e parágrafos, ao consagrar diferentes formações familiares, assegurando a todas elas a “especial proteção do Estado”, trouxe como primeira constituição de família, aquela fundada no casamento civil, o que é natural, haja vista que este instituto configura ampla notoriedade, publicidade e compromisso público, o que vem em benefício da estabilidade, continuidade e segurança jurídica da família (BRITTO, 2011). Frisa-se que a Carta Constitucional de 1988 passou a ver a família sob uma nova ótica, mais humanizada, não mais focada e idealizada no casamento e sim, na dignidade dos componentes familiares (SALOMÃO, 2011). Essa nova visão da família foi objeto de análise do voto proferido por Britto (2011, p. 39) quando do julgamento da ADPF nº. 132 e ADI nº. 4277. [...] “O casamento é civil e gratuita a celebração”. Dando-se que “O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei” (§§1º e 2º). Com o que essa figura do casamento perante o Juiz, ou religiosamente celebrado com efeito civil, comparece como uma das modalidades de constituição da família. Não a única forma, como, agora sim, acontecia na Constituição de 1967, literis: “A família é constituída pelo casamento e terá direito à proteção dos Poderes Públicos” (caput do art. 175, já considerada a Emenda Constitucional nº1, de 1969). É deduzir: se, na Carta Política vencida, toda a ênfase protetiva era para o casamento, visto que ele açambarcava a família como entidade, agora, na Constituição vencedora, a ênfase tutelar se desloca para a instituição da família mesma. Família que pode prosseguir, se houver descendentes ou então agregados, com a eventual dissolução do casamento (vai-se o casamento, fica a família). (Grifo no original) Verifica-se que a característica principal do casamento desloca-se daquela visão retrógrada para uma visão focalizada na dignidade da pessoa humana. Portanto, o casamento na atualidade não pode ser visto sob o mesmo aspecto do passado, que possuía como características essenciais a procriação, a indissolubilidade e a necessidade de ser constituído por pessoas de diferentes sexos (SALOMÃO, 2011). 324 Diante de todo o exposto, verifica-se que tanto a Constituição Federal de 1988 quanto o Código Civil de 2002, em momento algum, excluíram a possibilidade de casamento civil ou de conversão da união estável em casamento por pessoas do mesmo sexo. Desse modo, ao impedir o casamento entre homossexuais, estar-se-á afrontando os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da igualdade, do pluralismo, do planejamento familiar e da não discriminação (SALOMÃO, 2011). Nesse sentido, destaca-se a afirmação do Deputado Federal Wyllys (2011) sobre o impedimento de homossexuais de constituírem família por meio do instituto do casamento civil e a discriminação que enfrentam. Estamos falando de uma forma de discriminação do mesmo tipo que a exclusão das mulheres do direito ao voto, a proibição do casamento inter-racial, a segregação de brancos e negros, a perseguição contra os judeus e outras formas de discriminação e violência que, mais tarde ou mais cedo, emergiram à superfície e ficaram em evidência como tais. Da mesma maneira que hoje não há mais “voto feminino”, mas apenas voto, nem há mais “casamento inter-racial”, mas apenas casamento, chegará o dia em que não haja mais “casamento homossexual”, porque a distinção resulte tão irrelevante como resultam hoje as anteriores e o preconceito que explicava a oposição semântica tenha sido superado. Verifica-se, portanto, que a busca pela possibilidade de casamento entre pessoas do mesmo sexo é também no sentido de “reconhecimento social e político da dignidade e da condição humana das pessoas homossexuais. É luta não apenas jurídica como também cultural e simbólica” (WYLLYS, 2011). Para aperfeiçoar todos os argumentos acima expostos, cabe ressaltar que o Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luis Felipe Salomão (2012), em julgamento ao Recurso Especial nº. 1183378, publicado em 01 de fevereiro de 2012, interpretou os dispositivos que tratam do casamento civil de acordo com a técnica de interpretação conforme a Constituição, orientação principiológica concedida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF nº. 132 e ADI nº. 4277, reconheceu o direito de homossexuais se habilitarem para o casamento; eis que inexiste vedação expressa em contrário e, logo, qualquer interpretação que venha a vedar o casamento entre pessoas do mesmo sexo irá afrontar os princípios constitucionais da igualdade, dignidade da pessoa humana, pluralismo, livre planejamento familiar, e o da não discriminação. 325 DIREITO DE FAMÍLIA. CASAMENTO CIVIL ENTRE PESSOAS DO MESMO SEXO (HOMOAFETIVO). INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 1.514, 1.521, 1.523, 1.535 e 1.565 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO EXPRESSA A QUE SE HABILITEM PARA O CASAMENTO PESSOAS DO MESMO SEXO. VEDAÇÃO IMPLÍCITA CONSTITUCIONALMENTE INACEITÁVEL. ORIENTAÇÃO PRINCIPIOLÓGICA CONFERIDA PELO STF NO JULGAMENTO DA ADPF N. 132/RJ E DA ADI N. 4.277/DF. REsp.1183378/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJ 01/02/2012. Como forma de atender e regularizar os direitos de casais homoafetivos que queiram fundar sua entidade familiar pelo vínculo matrimonial, e para que não haja quaisquer hipóteses de impedimento dos Cartórios em receber pedidos de habilitação ao casamento, o Desembargador James Magalhães de Medeiros, Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições, determinou por meio do Provimento nº. 40, de 06 de dezembro de 2011, que os Cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais do Estado de Alagoas deverão receber os pedidos de habilitação para casamento entre pessoas do mesmo sexo. Frisa-se que, referida determinação, dentre outras considerações apontadas pelo Desembargador, deu-se especialmente em razão do Julgamento da ADPF nº. 132 e da ADI nº. 4277, bem como do julgamento do Recurso Especial nº. 1183378 (ALAGOAS, 2011). No mesmo sentido, por meio do procedimento nº. 4640, o Ministério Público do Estado de São Paulo requereu à magistrada Betina Rizzato Lara, da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Osasco, a homologação para que seja concedida habilitação ao casamento civil para homoafetivos, tendo em vista que o mesmo raciocínio que conferiu os direitos decorrentes da união estável deve ser utilizado para conceder-lhes o direito ao casamento civil (OSASCO, 2011). Há que se considerar que ao impedir o casamento entre pessoas do mesmo sexo, conforme corroborado, estar-se-á violando os princípios da igualdade, liberdade, dignidade da pessoa humana e da afetividade. Desse modo, tendo as famílias heteroafetivas a possibilidade de constituir a sua entidade familiar com base no matrimônio, o mesmo direito de escolha deve ser conferido aos homoafetivos, já que a orientação sexual não deve ser motivo de preconceito e discriminação (CHAVES, 2011b). Derradeiramente, frisa-se que a transformação da concepção de família, por possuir na atualidade como aspecto caracterizador a afetividade entre os membros da 326 entidade familiar, tornou “possível” a adoção de crianças, adolescentes e jovens por uniões homoafetivas. No entanto, apesar de ser “possível” a adoção por essas entidades familiares, sabe-se que ainda não há igualdade de direitos entre adotantes heterossexuais e homossexuais. Por isso, o reconhecimento da união homoafetiva como entidade familiar com direitos idênticos às uniões estáveis heteroafetivas também refletiu na seara da adoção. É o que será analisado a seguir. 4. A possibilidade da adoção por entidades familiares homoafetivas como consequência da decisão do Supremo Tribunal Federal Antes de analisar os fundamentos que possibilitam a adoção por entidades familiares homoafetivas, surge a necessidade de se fazer algumas considerações acerca do princípio da prioridade absoluta e do princípio do melhor interesse da criança, princípios basilares dos direitos das crianças e dos adolescentes e que, portanto, regem a adoção. A Constituição Federal de 1988, em seu dispositivo 227, caput, prevê como dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a proteção e os direitos fundamentais de crianças e adolescentes com prioridade absoluta. Ao materializar o princípio da prioridade absoluta, a Carta Constitucional, se tornou a base fundamental do Direito da Criança e do Adolescente, conferindo especial proteção aos direitos das crianças e adolescentes, tendo em vista a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento (BOCHNIA, 2008). A condição peculiar da criança e do adolescente se refere à fragilidade natural desses sujeitos de direito, por estarem em crescimento. Faticamente aparece a vulnerabilidade de crianças e adolescentes em relação aos adultos como geradora fundante de um sistema especial de proteção. (BOCHNIA, 2008, p. 66. Disponível em http://dspace.c3sl.ufpr.br) Portanto, a existência da proteção integral se dá por reconhecer a condição peculiar e a vulnerabilidade que se encontram crianças e adolescentes frente a adultos. A Lei nº 8.069 de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, também assegura em seu artigo 1º a proteção integral da criança e do adolescente ao aduzir que “esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente”. 327 Por influência da Convenção Internacional dos Direitos da Criança, aprovada em 20 de novembro de 1989 e ratificada pelo Brasil por meio do Decreto 99.710/90, foi incorporado ao Estatuto da Criança e do Adolescente o princípio do melhor interesse da criança, o qual consiste em conceder às crianças e adolescentes um desenvolvimento moral, psicológico e social, de maneira sadia e preservando a estrutura emocional, sempre em atenção aos princípios constitucionais da liberdade e dignidade, bem como observando o melhor interesse da criança ou adolescente (SPENGLER, 2003). A busca do atendimento aos “interesses da criança” está positivada no Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem tais interesses como regra fundamental, inspirada no texto constitucional, que estatuiu a garantia de um desenvolvimento digno e sadio, em exortação à dignidade humana. (FACHIN, 2001, p. 145) Assim, tem-se que o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, por ter como principal objetivo assegurar o desenvolvimento saudável e digno, vale dizer que, consequentemente, visa garantir à convivência familiar e ao não abandono de crianças e adolescentes. Desse modo, verifica-se que a adoção é uma das alternativas que veio para suprir situações de infantes que se encontram fora de um âmbito familiar (CHAVES, 2011b). Desse modo, a convivência familiar, resultante da adoção, tornará possível que a criança e o adolescente tenham seus direitos e garantias fundamentais assegurados – como o direito à convivência familiar e comunitária, o direito de ter uma família, dentre outros – tornando-se viável o sadio desenvolvimento psíquico, social e moral, contribuindo para a formação de um indivíduo apto à convivência comunitária. (DOMINGOS, 2006, p. 80. Disponível em http://fdc.br) Destaca-se que o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 29, ao dispor que “não se deferirá colocação em família substituta a pessoa que revele, por qualquer modo, incompatibilidade com a natureza da medida ou não ofereça ambiente familiar adequado”, mais uma vez assegurou o melhor interesse da criança e do adolescente, que apenas serão colocados em família substituta se o ambiente familiar possuir estrutura adequada a conceder-lhes um desenvolvimento saudável, com educação, amor, afeto, dignidade, respeito. Adentrando ao foco principal, qual seja a adoção por entidades familiares homoafetivas, importante se fazer uma análise dos dispositivos de lei a fim de corroborar que nada impede referida adoção. É o que se passará a demonstrar. 328 O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, como requisitos para a adoção, que o adotando possua no máximo 18 (dezoito) anos na data do pedido de adoção, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes, consoante se pode verificar em seu artigo 40, caput; que haja consentimento dos pais ou do representante legal do adotando, desde que não sejam desconhecidos ou destituídos do poder familiar, casos em que haverá dispensa no consentimento, conforme artigo 45, caput e § 1º; e, consentimento do adotando maior de 12 (doze) anos, artigo 45, § 2º. Frise-se, ainda, que a adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando, artigo 43, também do referido Estatuto. Por outro lado, o Estatuto da Criança e do Adolescente determina como requisitos do adotante: a) ser maior de 18 (dezoito) anos, independentemente do estado civil, artigo 42, caput; b) não pode ser ascendente ou irmão do adotando, artigo 42, § 1º; c) para os casos de adoção conjunta é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável, comprovada a estabilidade da família, artigo 42, § 2º; d) deve ser o adotante no mínimo 16 (dezesseis) anos mais velho que o adotando, artigo 42, § 3º. Como se vê, em momento algum a Constituição Federal ou o Estatuto da Criança e do Adolescente incluem qualquer referência expressa no tocante à orientação sexual dos adotantes. A partir da análise do artigo 42 do referido Estatuto, a única conclusão que se faz é que há possibilidade de adoção por maiores de 18 (dezoito) anos, ou seja, tanto homem quanto mulher podem adotar, de forma isolada ou conjuntamente, independentemente da orientação sexual do adotante. Portanto, se atendidos os requisitos para adoção, esta deverá ser concedida (DIAS, 2001). Nessa senda, assume relevo ressaltar as palavras de Britto (2011, p. 37), Ministro Relator do julgamento da ADPF nº. 132 e da ADI nº. 4277 que, ao falar da adoção, aduz: [...] Sabido que lugar de crianças e adolescentes não é propriamente o orfanato, menos ainda a rua, a sarjeta, ou os guetos da prostituição infantil e do consumo de entorpecentes e drogas afins. [...] não se pode pré-excluir da candidatura à adoção ativa pessoas de qualquer preferência sexual, sozinhas ou em regime de emparceiramento. [...] a Constituição Federal [...] não abre distinção entre adotante “homo” ou “heteroafetivo”. E como possibilita a adoção por uma só pessoa adulta, também sem distinguir entre o adotante solteiro e o adotante casado, ou então em regime de união estável, penso aplicar-se ao tema o mesmo raciocínio de proibição do preconceito e da regra do inciso II do art. 5º da CF, combinadamente com o inciso IV do art. 3º e o §1º do art. 5º da Constituição. 329 Mas é óbvio que o mencionado regime legal há de observar, entre outras medidas de defesa e proteção do adotando, todo o conteúdo do art. 227, cabeça, da nossa Lei Fundamental. Nessa linha, cabe salientar que a Carta Magna garante a todos o direito de buscar a guarda, de tutelar e adotar, independente da orientação sexual, até mesmo porque se contrário fosse, ou seja, se a orientação sexual fosse motivo para não conceder referidos direitos, se estaria infringindo os princípios da igualdade, da não discriminação e o da dignidade da pessoa humana (DIAS, 2001). Princípios esses que, frisa-se, embasam as decisões de alguns magistrados que reconhecem a possibilidade de adoção por uniões homoafetivas. Como forma de corroborar tal alegação, segue enunciado jurisprudencial nesse sentido: [...]. PEDIDO DE HABILITAÇÃO À ADOÇÃO CONJUNTA POR PESSOAS DO MESMO SEXO. ADOÇÃO HOMOPARENTAL. POSSIBILIDADE DE PEDIDO DE HABILITAÇÃO. Embora a controvérsia na jurisprudência, havendo possibilidade de reconhecimento da união formada por duas pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, consoante precedentes desta Corte, igualmente é de se admitir a adoção homoparental, inexistindo vedação legal expressa à hipótese. A adoção é um mecanismo de proteção aos direitos dos infantes, devendo prevalecer sobre o preconceito e a discriminação, sentimentos combatidos pela Constituição Federal, possibilitando, desse modo, que mais crianças encontrem uma família que lhes conceda afeto, abrigo e segurança. [...] (Apelação Cível nº. 70031574833, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 14/10/2009) Verifica-se, portanto, que mesmo antes da decisão da ADPF nº 132 e da ADI nº 4277 que reconheceu a união homoafetiva como entidade familiar, alguns juízes já reconheciam a possibilidade de adoção por pessoas do mesmo sexo. Diante desse posicionamento, vale dizer que a proteção integral dos direitos de crianças e adolescentes prevalece sobre qualquer discriminação ou preconceito. O que realmente importa é o melhor interesse do infante. Dias (2001) destaca como um dos maiores problemas encontrados, quando da adoção realizada em conjunto por uma entidade homoafetiva, a identificação dos adotantes na certidão de nascimento do adotando, sob o argumento de que o legislador, 330 ao prever a adoção, supôs ser esta realizada por pessoas de sexos distintos, havendo na adoção a simples substituição do nome dos pais biológicos pelo nome dos adotantes. Portanto, segundo esta autora expõe, se a procriação só é possível quando da união entre pessoas de sexos distintos, homem e mulher, na certidão de nascimento constará os dois gêneros, masculino e feminino, o que, em princípio, impossibilitaria a adoção por pessoas do mesmo sexo, mesmo gênero. No entanto, diante dos princípios já apresentados e da Constituição Federal, esta reveste-se de uma questão meramente formal e de fácil resolução, considerando que, ao modificar-se os modelos estabelecidos nos cartórios de registro de pessoas naturais, alterando-se os campos em que constam “pai” e mãe” para “pais”, à título exemplificativo, não prejudicaria a identificação da filiação do adotado. Salienta-se ainda que esta substituição não estaria ferindo lei em vigor, já que, após decisão do STF, as uniões homoafetivas seriam agora entidades familiares, com base na Constituição Federal, com iguais direitos às uniões estáveis heteroafetivas. Assim, tem-se que apesar de ser possível a adoção conjunta por entidade familiar homoafetiva, esta encontra dificuldade quando do assento do nome dos adotantes na certidão de nascimento, pois por via de regra, os cartórios de registros civis não registram o nome de ambos os adotantes homoafetivos, caracterizados pela dupla maternidade ou dupla paternidade. Entretanto, há que se salientar que alguns magistrados vêm reconhecendo tal possibilidade e, determinando que os registros façam constar o nome de ambos adotantes, como foi o caso da decisão do juiz de Direito, Fernando Henrique Pinto, da 2ª Vara da Família e das Sucessões de Jacareí, no Estado de São Paulo, que reconheceu a dupla maternidade e autorizou o registro civil do filho nessas condições (PINTO, 2012). Entretanto, a igualdade de direitos entre adotantes heteroafetivos e homoafetivos está muito aquém do que se deseja e, com vistas a resolução desse problema, já existem algumas propostas de projetos de lei e emenda Constitucional, com vistas a conceder as mesmas garantias que são conferidas às famílias heteroafetivas também às famílias homoafetivas. Como exemplo disso, o projeto de lei nº. 2.153 de 2011, apresentado pela Deputada Federal Janete Rocha Pietá, que propõem alteração ao parágrafo § 2º do artigo 47 do Estatuto da Criança e do Adolescente, passando esse a constar que “para adoção conjunta é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente, ou mantenham união estável ou homoafetiva, comprovada a estabilidade familiar”. Como justificativa, Pietá (2011) afirmou que: 331 [...] devemos pensar muito mais no interesse dos menores do que nos preconceitos da sociedade; isto porque os filhos, gerados ou adotados de forma responsável, como fruto do afeto, merecem a proteção legal, mesmo quando vivam no seio de uma família homoafetiva. (Disponível em http://www.direitohomoafetivo.com.br) A Senadora Marta Suplicy apresentou proposta de emenda à Constituição nº 110 de 2011, a qual pugna pela alteração do artigo 7º da Constituição Federal de 1988, “para dispor sobre licença-natalidade, licença após adoção e vedar discriminação de trabalhador em virtude de orientação sexual ou identidade de gênero” (SUPLICY, 2011). Por fim, frisa-se, como anteriormente já destacado, que o direito à convivência familiar é direito prioritário de crianças e adolescentes e, tendo em vista que a defesa, promoção e proteção dos direitos de crianças e adolescentes é dever da família, da sociedade e do Estado, estes dois últimos, mais especificamente, não podem negar aos infantes a possibilidade de conviver em um ambiente familiar que lhes conceda educação, amor e afeto, família esta apta a atender suas necessidades básicas, pelo fato de esta entidade familiar fugir dos parâmetros tradicionais; eis que, do ponto de vista da previsão constitucional, o fundamento para tal impedimento à adoção não mais subsiste e, do ponto de vista da sociedade, o preconceito não deve prevalecer aos direitos da população infantil de ter uma família. 5. Conclusão Basilar da estrutura de princípios fundamentais erigidos na Carta Magna, o princípio da afetividade confere, aos aplicadores do direito, novas interpretações acerca de situações sociais existentes que, diante da inércia do legislador, não foram devidamente regulamentadas, sendo o princípio da afetividade vinculado aos demais princípios fundamentais, quais sejam, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da igualdade e o princípio da liberdade, elementos essenciais de embasamento para o reconhecimento das uniões familiares homoafetivas pelo Supremo Tribunal Federal. Sob essa perspectiva, o presente artigo se propôs a uma análise da decisão que reconheceu as uniões homoafetivas como entidades familiares, buscando demonstrar os fundamentos utilizados pelo Ministro relator Carlos Ayres Britto, os quais reafirmaram os princípios da dignidade da pessoa humana, da liberdade, da igualdade, da afetividade, bem como da consagração do pluralismo e da não discriminação. 332 Entretanto, muito embora o STF tenha reconhecido a união homoafetiva como entidade familiar, com os mesmos direitos e deveres inerentes às uniões estáveis heteroafetivas, a decisão proferida não se ateve a apreciar outros assuntos relativos aos direitos dessas entidades a partir do seu reconhecimento jurídico como entidade familiar. É o caso do casamento civil e da adoção, duas das principais searas a sofrer consequências sociais e jurídicas que, mesmo que se entenda estarem abrangidas, não foram claramente enfrentadas pelo STF. Nessa linha, um dos principais objetivos foi demonstrar que nada impede que pessoas do mesmo sexo se casem, haja vista que o Supremo Tribunal Federal ao conferir igualdade de direitos entre uniões homoafetivas e heteroafetivas, consequentemente possibilitou constituição dessas famílias por meio do vínculo matrimonial, tendo como únicas justificativas de negação de tal direito, o preconceito e a discriminação, já que a legislação em vigor, interpretada conforme a Constituição, não impede o casamento civil homoafetivo. Ao contrário, incentiva a conversão da união estável em casamento, não devendo a lei, sob risco de violar o princípio da igualdade, conferir dois pesos e duas medidas à uniões estáveis heteroafetivas e uniões estáveis homoafetivas. Seguindo esse raciocínio, se buscou demonstrar que o reconhecimento da união homoafetiva como entidade familiar com direitos idênticos às uniões estáveis heteroafetivas também refletiu na seara da adoção, devendo ser aferidos os mesmos direitos, tanto a adotantes homoafetivos quanto aos heteroafetivos, pelos mesmos fundamentos já expostos. No entanto, com a recente alteração na lei de adoção, responsável pelo deslocamento desta temática do Código Civil para o Estatuto da Criança e do Adolescente, torna pertinente salientar a prevalência dos princípios que balizam e garantem o predomínio dos direitos dos infantes, quais sejam: o Princípio do Melhor Interesse da Criança e o Princípio da Prioridade Absoluta. Frente a estes, o direito de todas as crianças à convivência familiar deve, de igual forma, prevalecer ao preconceito. Em síntese, o presente artigo visou demonstrar que tanto o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo como a adoção por essas entidades familiares são possibilidades jurídicas inerentes não só às uniões heteroafetivas como também às uniões homoafetivas, de forma a evidenciar que o não reconhecimento de tais garantias é decorrente de atos preconceituosos e discriminatórios. Como resultado desta pesquisa, foi possível verificar também que, no raciocínio dos direitos aferidos, tem-se que os magistrados deveriam julgar as demandas que versem sobre essa matéria de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal; ou seja, além 333 de possuírem o dever de reconhecer as uniões homoafetivas como entidades familiares, também deverão lhes conceder idênticos direitos conferidos às uniões estáveis formadas por pessoas de sexos distintos, exatamente como demonstrado no decorrer deste artigo. Por fim, denota-se que a temática das uniões homoafetivas ainda deverá ser objeto de estudos que visem transformações positivas no tocante aos direitos dessa parcela da população. Não se pretendeu, com este artigo, esgotar o assunto, mas iniciar discussões com vistas a combater preconceitos ainda latentes em todos os meios da vida privada e pública. 6. Referências bibliográficas ALAGOAS. Provimento nº. 40, de 06 de dezembro de 2011. Alagoas, 2011. Disponível em: <http://direitohomoafetivo.com.br/anexos/normatizacao/ provimento_-_cgj-al.pdf>. Acesso em: 15 maio 2012. BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2011a. BAY, Jefferson Brenno Bezerra. O reconhecimento da união estável homossexual: a omissão do STF na análise processual. 2011. 27f. Curso de especialização (Programa de Pós-Graduação em Direito) – Universidade Potiguar, Natal, 2011. Disponível em: <http://www.direitohomoafetivo.com.br/anexos/trabalho_tese/bay ,_jerfferson_brenno_bezerra_2.pdf>. Acesso: 10 maio 2012. BOCHNIA, Simone Franzoni. Da adoção: categorias, paradigmas e práticas do direito de família. 2008. 223f. Dissertação (Programa de Mestrado em Direito) – Universidade Federal do Paraná, 2008. Disponível em: <http://dspace.c3sl.ufpr. br/dspace/ bitstream/handle/1884/17098/Disserta%E7%E3o%20Da%20ado%E7;jsessionid=68 EC78C4375A3607FF8711300C342E5C?sequence=1>. Acesso em: 20 maio 2012. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília (DF): Senado Federal, 1988. ______ . Lei nº. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília (DF), 11 jan. 2002. Dis- 334 ponível em: <http://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/ leis/2002/L10406 compilada. htm> Acesso em: 10 abr. 2012. ______ . Lei nº. 8069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília (DF), 13 jul. 1990. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>. Acesso em: 26 mai. 2012. BRITTO, Carlos Ayres. Íntegra do voto da decisão da ADPF nº. 132 e ADI nº. 4277. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI4277.pdf>. Acesso em: 05 abr. 2012. CHAVES, Marianna. As uniões homoafetivas e a corte constitucional brasileira. 2011a. Disponível em: <http://www.direitohomoafetivo.com.br/anexos/artigo/as_uni%D5es_ homoafetivas_e_a_corte_constitucional_brasileira.pdf>. Acesso em: 11 jun. 2011. ______. Homoafetividade e direito: proteção constitucional, uniões, casamento e parentalidade: um panorama luso-brasileiro. Curitiba: Juruá, 2011b. DIAS, Maria Berenice. Um sonho convertido em casamento. Disponível em: <http://www.direitohomoafetivo.com.br/anexos/artigo/um_sonho_convertido_em_ casamento.pdf>. Acesso em: 05 jun. 2012. ______ . União homossexual: o preconceito & a justiça. 2. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001. DOMINGOS, Carla Hecht. Família e adoção: os novos paradigmas que autorizam a adoção por casais homossexuais. brasil. 1988-2006. 2006. 171f. Dissertação (Programa de Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito de Campos, Campos dos Goytacazes, 2006. Disponível em: <http://fdc.br/Arquivos/Mestrado/Dissertacoes/Integra/CarlaHecht.pdf>. Acesso em: 25 mai. 2012. 335 FACHIN, Rosana Amara Girardi. Em busca da família no novo milênio: uma reflexão crítica sobre as origens históricas e as perspectivas do Direito de Família brasileiro contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. FRANCISCO, Luis Felipe. Apelação Cível nº. 0007252-35.21012.8.19.0000. Julgado em 08/02/2012. DJ 24/04/2012. Disponível em: <http://www.tjrj.jus.br/ scripts/weblink.mgw?MGWLPN=JURIS&LAB=CONxWEB&PGM=WEBPCNU 88&PORTAL=1&N=201200108500>. Acesso em: 30 mai. 2012. IBIAS, Delma Silveira. O afeto como valor jurídico. Disponível em: <http:// www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=725>. Acesso em: 10 abr. 2012. MELLO, Celso. Íntegra do voto da decisão da ADPF nº. 132 e ADI nº. 4277. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI4277CM.pdf>. Acesso em: 05 abr. 2012. OPPERMANN, Marta Cauduro. A vitória da cidadania. Disponível em: <http://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=726>. Acesso em: 10 abr. 2012. OSASCO. Procedimento nº. 4640, de 2011. Osasco, 2011. Disponível em: <http://direitohomoafetivo.com.br/anexos/normatizacao/80__7950855c4888a135 297f13eb1f040314.pdf>. Acesso em: 15 mai. 2012. PASSARINHO, Nathalia. Juiz anula contrato de união estável entre homossexuais. Globo notícias, Brasília, jun. 2011. Disponível em: <http://g1.globo.com/brasil/ noticia/2011/06/juiz-anula-contrato-de-uniao-estavel-entre-homossexuais.html>. Acesso em: 10 mai. 2012. PEREIRA, Débora Macedo Duprat de Britto. Ação declaratória de inconstitucionalidade. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/geral/ verPdfPaginado.asp ?id=400547&tipo=TP&descricao=ADI%2F4277>. Acesso em: 05 abr. 2012. PIETÁ, Janete Rocha. Apresentação de proposta de projeto de lei nº. 2.153 de 2011. Disponível em: <http://www.direitohomoafetivo.com.br/anexos/projeto_ lei/2011_-_ pl_2153_-_altera_o_%A7_2%BA_do_art._42_da_lei_n%BA_8.069 _de_13_de_ju- 336 nho_de_1990%2C_para_permitir_a_ado%E7%E3o_de_crian%E7as_e_adolescentes_por_casais_homoafetivos..pdf>. Acesso em: 10 jun. 2012. PINTO, Fernando Henrique. Sentença. Disponível em: <http://www.direitohomoafetivo.com.br/anexos/juris/1208__3ef1fd7414ddcf114f028c043bb5104c. pdf>. Acesso em: 10 jun. 2012. SALOMÃO, Luis Felipe. REsp.1183378/RS. Julgado em 25/10/2011. DJ 01/02/2012. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita. asp?registro=201000366638&dt_publicacao=01/02/2012>. Acesso em: 30 mai. 2012. SILVA JÚNIOR, Enésio de Deus. Amor e família homossexual: o fim da invisibilidade através da decisão do STF. Disponível em: <http://www.ibdfam.org. br/?artigos&artigo=727>. Acesso em: 10 abr. 2012. SPENGLER, Fabiana Marion. União homoafetiva: o fim do preconceito. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2003. SUPLICY, Marta. Apresentação de proposta de emenda constitucional nº. 110, de 2011. Disponível em: <http://www.direitohomoafetivo.com.br/anexos/projeto_lei/2011_-_pec_110.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2012. TAVARES, Lúcia Lea Guimarães. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Disponível em: <http://www.lrbarroso.com.br/pt/casos/uniao/ peticao_inicial_adpf132_governador_do_estado_do_rio_de_janeiro.pdf>. Acesso em: 05 abr. 2012. VILLARINHO, André Luiz Planella. Apelação Cível nº. 70031574833. Julgado em 14/10/2009. DJ 13/11/2009. Disponível em: <http://www.tjrs.jus.br/busca/ ?q= APELA%C7%C3O+C%CDVEL.+PEDIDO+DE+HABILITA%C7%C3O+%C0+ ADO%C7%C3O+CONJUNTA+POR+PESSOAS+DO+MESMO+SEXO.+ADO %C7%C3O+HOMOPARENTAL&tb=jurisnova&pesq=ementario&partialfields= tribunal%3ATribunal%2520de%2520Justi%25C3%25A7a%2520do%2520RS.% 28TipoDecisao%3Aac%25C3%25B3rd%25C3%25A3o%7CTipoDecisao%3Amo 337 nocr%25C3%25A1tica%7CTipoDecisao%3Anull%29&requiredfields=&as_q=>. Acesso em: 30 maio 2012. WYLLYS, Jean. Casamento igualitário. Disponível em: <http://casamentocivil igualitario.com.br/casamento-igualitario/>. Acesso em: 30 mai. 2012. 338 MEDIANDO CONFLITOS: O DIREITO DE FAMÍLIA SOB O FOCO DAS SOLUÇÕES ALTERNATIVAS Anelise Trevisan Secretti93 Maikiely Herath94 Eliana Weber95 RESUMO O tempo provoca inúmeras mudanças sociais em praticamente todas as esferas, menos uma: a existência dos conflitos. Contudo, a análise do conflito de forma positiva permite que se promova um resultado satisfatório a todos os envolvidos. É neste contexto que surge a necessidade de se estudar os conflitos, sua origem, suas espécies e, principalmente, os meios disponíveis para a busca de sua solução. No que concerne aos conflitos familiares, além dos fatores jurídicos, há de se considerar as questões psicológicas envolvidas, pois decorrem de abalo na relação de afeto entre duas ou mais pessoas – neste caso, quando mal solucionado, pode ensejar sérias consequências na continuidade da relação, mesmo que esta seja em outra esfera, bem como provoca grave prejuízo aos envolvidos, principalmente crianças frutos dos relacionamentos afetivos. Dentre as principais formas de solução dos conflitos, sempre que a negociação direta entre as partes não for possível, tem-se que a melhor forma de resolução seria a da mediação, onde os próprios sujeitos envolvidos ficam engajados, mutuamente, na busca da melhor solução. Esta proposta possibilita um encorajamento à pacificação social, uma vez que a solução foi encontrada pelos próprios sujeitos conflitantes, di- 93 Acadêmica do Curso de Direito da Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC, campus Sobradinho. 94 Orientadora: Advogada. Mestra em Direito. Professora da Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC. Coorientadora. Advogada. Mestra em Direito. Professora da Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC. 95 339 minuindo as chances de desrespeitos mútuos e de geração de novos conflitos, já que o diálogo se torna a prática primária de enfrentamento do problema. Palavras-chave: conflito, família, mediação, solução. 1. INTRODUÇÃO Este artigo possui como título “Mediando conflitos: o Direito de Família sob o foco das soluções alternativas”, desenvolvida no Curso de Direito da Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC, campus Sobradinho. Como tema central, pretende analisar a aplicação da mediação nos conflitos familiares, sob o seguinte questionamento: considerando a característica interpessoal envolvida no direito de família, qual o papel que tem sido desenvolvido pela Jurisdição e quais os fundamentos aplicáveis aos casos concretos pelas soluções alternativas de conflitos, principalmente a mediação? O estudo foi pautado no método hipotético-dedutivo, no qual são construídas hipóteses ao problema proposto - hipóteses estas que poderão ou não ser falseadas; neste caso, o principal método de falseamento será o confronto das alternativas de soluções de conflitos aos fatos concretos. A escolha do método levou em consideração a impossibilidade de ser elevarem os dilemas jurídicos a uma esfera de certeza, quando muito a uma probabilidade capaz de direcionar as questões jurídicas e sociais envolvidas na escolha da melhor forma de solução dos conflitos familiares. A relevância social do estudo se apresenta na medida em que se propõe uma nova perspectiva de solução dos conflitos familiares, analisando os métodos, técnicas e opções de solução hoje existentes, de forma a buscar uma apaziguação da família, instituto-base da vida em sociedade. Ainda em tempo, torna-se necessário mencionar a relevância científica, uma vez que esta pesquisa pode contribuir sobremaneira para a melhora do Direito de Família, bem como forma de melhor compreensão, divulgação e aceitação de institutos alternativos à jurisdição quando o assunto é a desavença inserida no contexto familiar por várias razões, enumeradas, muito embora sem a pretensão de exauri-las ao longo do texto. O trabalho se divide em três grandes capítulos, distribuídos de forma a possibilitar uma melhor compreensão do raciocínio lógico pretendido. Contempla os conflitos de forma genérica, trazendo seus conceitos históricos e, principalmente, jurídicos, bem como a identificação dos níveis que se pode encontrar em qualquer conflito. A partir disto, é proposta uma verificação das bases e fundamentos históricos, 340 chegando à judicialização do conflito, onde o Estado, através da Jurisdição, exerce o papel de “solucionador” das lides que a ele são apresentadas. Diante da atual crise do Poder Judiciário e do crescente número de demandas na seara familiar, é imperioso encontrar novas alternativas de solução destes conflitos que realmente atendam o verdadeiro objetivo, que é o da pacificação social através do respeito aos sentimentos envolvidos no contexto familiar. Na maioria das vezes, uma correta condução aos conflitos familiares evita problemas de ordem tanto pessoal quanto interpessoal - não só dos envolvidos diretamente, mas também dos envolvidos de forma indireta, incluída aí toda a rede de parentesco, principalmente os filhos. Um conflito familiar mal solucionado poderá gerar novos e intermináveis conflitos, poderá repercutir em problemas de ambientação social ou mesmo de descrença total na Justiça – a qual, enquanto conceito e ideal, é superior à própria jurisdição e deveria estar presente em qualquer uma das formas de solução das contendas. 2. Conflitos: do conceito à jurisdição Desde os primórdios da existência humana, mesmo antes de o homem viver em sociedade, os conflitos estão presentes; afinal, os conflitos existem em todo o reino animal, seja na luta pelo território, na disputa pela fêmea ou na batalha pelo alimento. Situação diferente não se apresenta com o homem. Em outras palavras, os conflitos são inerentes à própria raça humana. Curioso é verificar que o que se modificou através dos tempos não foi o conflito em si, mas tão somente as forma de sua solução. Os homens continuam, assim como os animais ou o homem préhistórico, lutando por território, relacionamentos, bens ou alimentos – apenas em uma escala mais complexa. A palavra conflito, conforme Morais e Spengler (2008), nasceu do antigo latim e tem como raiz etimológica a ideia de choque, de contraposição de ideias, palavras ou valores. Consiste em um enfrentamento de dois seres ou mais, os quais manifestam, uns em relação aos outros, uma intenção hostil, geralmente com relação a um pretenso direito. Para Vasconcellos (2008), os conflitos aparecem quando as pessoas defendem sua posição frente à posição ou ato de outrem, sendo que cada uma das partes em disputa tende a concentrar todo o seu raciocínio e provas que possui na busca de novos fundamentos para reforçar sua posição, na tentativa de enfraquecer ou destruir totalmente os argumentos da outra parte. Esse estado emocional estimula as polaridades e dificulta a percepção do interesse comum. 341 Quando se fala em conflito, o senso comum sugere uma ideia negativa: um alerta de perigo próximo. Assim, age-se de forma a se conseguir o que se quer, sendo que isso provoca naquele que recebe esse proceder contrário a seus interesses uma reação a essa atitude, e assim por diante (SILVA, 2004). Vasconcelos (2008) corrobora a ideia de que o conflito é inerente às relações humanas e que não deve ser encarado negativamente, sendo fruto das posições divergentes quanto a fatos, atos e condutas que envolvem expectativas, valores ou interesses comuns. Isto porque cada pessoa é dotada de uma originalidade única, com experiências e circunstâncias existenciais personalíssimas e, assim, por mais afinidade e carinho que uma pessoa tenha pela outra, algum dissenso estará presente em algum momento, tendo em vista que é impossível uma relação interpessoal plenamente consensual. Para a solução desses conflitos, necessário se faz o reconhecimento das diferenças comuns e contraditórias entre as partes envolvidas. Há muito tempo doutrinadores psicanalistas observaram e analisaram o comportamento humano, constatando que a pessoa já possui conflitos desde a época intrauterina até a beira de sua morte (SILVA, 2004). Isto se justifica a medida que, quando um dos envolvidos na relação quer realizar a sua vontade e não consegue, surge a pretensão, ou seja, a exigência que a outra pessoa se sujeita ao cumprimento do interesse alheio (TARTUCE, 2008). Entre os doutrinadores jurídicos e de áreas afins, é bastante clara a identificação entre os conceitos de conflito, uma vez que todos eles têm em comum a ação de uma pessoa como resposta às ações de outras. Aprofundando a ideia do conflito, pode ainda se dizer que seu embrião surge no momento em que a ideia ou a ação de alguém chega ao simples conhecimento de outrem sem que haja sua concordância; contudo, para ganhar corpo no mundo jurídico, este embrião conflituoso necessita de uma reação, imediata ou não, que demonstre a instalação da discórdia. Do contrário, muito embora haja divergência de ideias, este conflito será mascarado por um véu, mesmo que irreal, de concordância. Uma situação bastante comum nos conflitos é a ausência ou, no mínimo, a carência de diálogo: para que ocorra um diálogo é necessária a existência de, no mínimo, dois interlocutores, capazes de desenvolver um pacto semântico. Em outras palavras: um dos interlocutores deveria falar, o outro ouvir e, principalmente, ser capaz de compreender a linguagem e as argumentações utilizadas para, somente depois, desenvolver sua resposta – que, por sua vez, também deve ser ouvida e interpretada pelo primeiro interlocutor – e assim por diante. Desta forma, grande parte dos conflitos 342 seriam solucionados de forma mais harmônica, uma vez que haveria uma vontade real de compreensão entre os opositores, em uma possibilidade muito maior de se reconhecer uma solução comum. Neste mesmo sentido, Vasconcelos (2008) reconhece que o que geralmente ocorre é o argumento unilateral, pois cada conflitante não se importa com o que o outro fala ou escreve, pois quando um se expressa, o outro já prepara uma nova argumentação. Ao perceberem que não estão sendo entendidas, escutadas, as partes se exaltam e dramatizam, salientando mais ainda a sua posição. A solução do conflito, assim, depende do reconhecimento das diferenças e da identificação dos interesses comuns e contraditórios, pois a relação interpessoal funda-se em alguma expectativa, valor ou interesse comum. Via de regra, as pessoas que estão diante de um conflito o temem ou procuram negá-lo, pois possuem apenas o reconhecimento negativo sobre ele. Em muitas oportunidades, o conflito é evitado por falta de habilidade dos envolvidos de lidar com ele, reconhecendo a improbabilidade de se obter uma solução adequada para uma das partes envolvidas na disputa, que não ficará satisfeita com a solução que lhe é imposta (THOMÉ, 2010). Sendo o conflito na sociedade inevitável, o importante não é evitá-lo, mas sim encontrar meios de manejá-lo, fugindo da ideia de que seja um fenômeno patológico, encarando-o como um fato social típico, se corretamente transcendido. Portanto, as relações com suas percepções, sentimentos, crenças e interesses são conflituosas por natureza. A negociação desses desentendimentos é um labor comunicativo, cotidiano em nossas vidas. Assim, verifica-se que o conflito não tem solução, o que se pode solucionar são disputas pontuais, confrontos específicos (VASCONCELOS, 2008). Várias áreas estudam o conflito, justamente pela sua inerência à vida e ao universo. A psicanálise tem o conflito como situação diária e universal, sendo qualquer forma de interação ou oposição. Para a sociologia, o conflito é identificado quando o sistema social perde o seu equilíbrio, deixando de permanecer em repouso. Já em um conceito sócio-psicológico, o conflito está diretamente ligado com a personalidade e suas características peculiares. Para a corrente semanticista, que é minoritária, só existe conflito devido à má comunicação entre os indivíduos, e que se todos se comunicassem adequadamente, praticamente não teríamos conflito. Ainda tem-se o conceito jurídico, onde conflito é uma pretensão resistida, uma contraposição de direitos e obrigações (GORCZEVSKI, 2007). 343 Para Vasconcelos (2008), a paz não é fruto da ausência de conflito, sendo que somente é conquistada por pessoas que aprendem a lidar com o conflito, pois se ele é bem conduzido, poderá trazer mudanças positivas para o indivíduo. 3. Jurisdição, Estado e solução dos conflitos Com o intuito de atingir os objetivos para o qual foi criado, o Estado repartiu suas funções em três órgãos distintos, quais sejam: Legislativo, Executivo e Judiciário. É assim, do poder estatal, que surge a jurisdição, sendo essa uma das funções do Estado, exercida através do Poder Judiciário. Historicamente, houve uma enorme transformação na busca de organizar e disciplinar a convivência social até chegar-se à criação deste órgão, pois o Estado nem sempre prestou a tutela jurisdicional, sendo que houveram períodos na história da humanidade de ausência absoluta dessa prestação estatal, onde sequer havia leis impostas pelo Estado aos particulares. Para Moraes e Spengler (2008, p. 57): A medida que as sociedades foram se complexificando, produziu-se uma normatização mínima de condutas viabilizadoras e reguladoras do convívio harmônico entre os integrantes dos grupos sociais, implicando também a elaboração de instrumentos que as possam fazer valer. Assim, as primeiras manifestações do hoje nominado “direito de agir” antecedem ao próprio Estado, quando a justiça era obtida mediante a defesa privada dos interesses, reflexo da Lei de Talião. (Grifado no original) O legislador passou a transformar os fatos da vida civil em normas jurídicas, mediante a imposição de sanções. Porém, importante ressaltar que mesmo que o Estado tenha o dever de regular as relações das pessoas, não pode deixar de respeitar o direito à liberdade e garantir o direito à vida – aqui englobado o direito à vida digna e feliz. Por outro lado, tendo em vista que a norma escrita não tem o dom de aprisionar sentimentos, realidades e as inquietações dos seres humanos, surgiram normas que simplesmente descrevem valores, tendo os direitos humanos se tornado a espinha dorsal da produção normativa contemporânea (DIAS, 2010). À medida que se instaurava o direito objetivo, mais ou menos complexo, surgiu a necessidade de um instituto capaz de fazer valer este direito e regular a 344 vida social. Em outras palavras, com o passar do tempo e com as mudanças sociais que foram ocorrendo, necessário se fez a instauração da jurisdição, onde entra um terceiro imparcial e neutro, substituindo a vontade das partes, resolvendo o conflito e aplicando, forçadamente, o direito positivo ao caso concreto (RODRIGUES JUNIOR, 2006). Conforme ensinamentos de Morais e Spengler (2008), o conflito e a jurisdição andam intimamente ligados, uma vez que a jurisdição se direciona, em especial, à eliminação dos conflitos existentes. Assim, a jurisdição nasce como poder jurisdicional, sendo função exclusiva do Estado dirimir os conflitos de interesses, passando a ser exercido por órgãos estatais separados da legislatura e da administração. Já para Rodrigues Jr. (2006), a jurisdição tem como objetivo social a educação para o exercício dos próprios direitos e respeito aos direitos alheios. O Estado deve esclarecer os membros da sociedade acerca dos seus direitos e deveres, visando instruir a população para levar suas insatisfações para serem remediadas em juízo. Contudo, nesta solução tradicional, o Judiciário não escuta os anseios, aflições, angústias e expectativas das partes, apenas decide o processo, colocando fim à lide (THOMÉ, 2010): No judiciário não há espaço para oferecer atenção às carências emocionais das partes envolvidas em conflitos, principalmente familiares, como frustações, abandonos, honra e respeito, que são aspectos subjetivos das pessoas, mas que quando afetados pelos conflitos, acarretam na disputa judicial, compensação financeira como se constata nos longos processos litigiosos de separação e divórcio, com disputas acerca da guarda, visitas e alimentos para os cônjuges, para os filhos menores ou incapazes e na partilha de bens. O Poder Judiciário não trata dos sentimentos que cada parte está sentindo no decorrer do processo, sendo que a sentença dificilmente alcança essas emoções. Isto ocorre porque se trata de soluções impostas, extraídas através de um sistema de valoração probatória que finaliza com a vitória de uma parte em detrimento da perda de outra parte – quando não ocorre a procedência parcial, na qual as emoções envolvidas poderão ser ainda piores, uma vez que ambos os conflitantes se sentirão, ao menos em parte, injustiçados. Aquele que sucumbiu em seu direito, total ou parcialmente, provavelmente não se sentirá livre da angústia gerada pelo conflito, demonstrando que a jurisdição promove, na verdade, uma solução “aparente”; eis que o conflito permanece vivo no intelecto e nos sentimentos do perdedor. 345 3. 1 A crise do Poder Judiciário A partir da apropriação do poder em dizer o direito, o Estado passou a ser o único legitimado para resolver os conflitos existentes na sociedade, sendo que hoje se apresentam nos Foros questões das mais diversas espécies, onde o Estado deveria dar resposta de imediato. A ideia do acesso universal à Justiça, somada ao Princípio da Tutela Jurisdicional, que prevê que o Estado não deixará de prestar a jurisdição a autor e réu, aplicando ao caso as regras de direito material e processual; mesmo na falta destas a reger o caso concreto, a tutela jurisdicional não poderá deixar de ser prestada, devendo invocar a jurisprudência, a doutrina, os usos e costumes e demais fontes de direito a fim de resolver o conflito e buscar a apaziguação social. Com o desenvolvimento (e crescimento) da sociedade, questões cada vez mais complexas se formam, exigindo mais e mais do Poder Judiciário. O considerável aumento das demandas é inversamente proporcional à celeridade processual, requisito básico para que as partes em crise sintam a eficácia jurisdicional. Esta realidade acaba por provocar uma gradativa perda de ser soberano, a sua incapacidade de apresentar soluções céleres aos conflitos apresentados e a sua quase total perda na exclusividade de dizer e, principalmente, aplicar o direito, é que se começou a discutir a crise que a jurisdição vem passando nos últimos anos, sendo que “o Poder Judiciário foi estruturado para atuar sob a égide dos códigos, cujos prazos e ritos são incompatíveis com a multiplicidade de lógicas, procedimentos decisórios, ritmos e horizontes temporais hoje presentes” (MORAIS, e SPENGLER, 2008, p. 77). A demora processual excessiva, muitas vezes provoca, além da erosão da prova, o retardo na justa reparação do direito violado, se constituindo, assim, um desestímulo à busca da justiça. O Poder Judiciário foi preparado e estruturado para fazer cumprir as leis nos prazos previstos. Contudo, não há como negar que faltam recursos e meios para que o Judiciário possa observar o devido tempo na solução dos litígios. Em outras palavras, pode se dizer que sua estrutura funcional em conjunto com o Estado é que deveriam ter sido preparados para suportar tal avanço (SPENGLER, 2010). Além do mais, o formalismo excessivo também dificulta o acesso à justiça, bem como o baixo número de servidores que atualmente fazem parte do quadro de funcionários públicos. Não se pode pretender que a manutenção dos quadros funcionais seja capaz de acompanhar o crescimento vertiginoso das demandas processuais, originadas em uma sociedade na qual a cultura da judicialização do conflito está fortemente incorporada. Lembra Spengler (2008) que uma decisão judicial, por mais justa e correta que seja, 346 muitas vezes se torna ineficaz quando chega tarde. Se a função social do processo é a distribuição da justiça, não há como negar que, nas atuais circunstâncias do Poder Judiciário, a entrega da prestação jurisdicional no momento certo confere credibilidade. Frente a estes problemas e ao número cada vez maior de processos judicializados, somado ao descrédito crescente na atividade jurisdicional, tem-se hoje um Poder Judiciário em crise. Parte-se, aqui, da ideia de que crise judiciária significa ruptura, a quebra de um modelo já não mais condizente com a realidade social, um Poder que se mostra incapaz de exercer sua função principal, que é a de trazer paz social através da solução dos conflitos. Para Spengler (2010), deve-se discutir a crise da jurisdição a partir da crise do Estado, tendo em vista sua perda de soberania, sua incapacidade de dar respostas céleres, sua fragilidade nas esferas legislativa, executiva e judiciária, enfim, em sua quase perda de dizer o Direito. Assim, o Judiciário, enfrenta o desafio de aumentar os limites de sua jurisdição, modernizar suas estruturas e rever seus padrões funcionais, tudo no intuito de continuar como um poder autônomo e independente. Nesse contexto, demonstrada a atual incapacidade do Estado, tendem a se desenvolver outros procedimentos jurisdicionais, como a mediação, negociação, arbitragem e a conciliação, com o objetivo de alcançar celeridade e informalização. Contudo, um dos fatores que mais preocupam, ao se analisar a crise do Poder Judiciário, é a descrença social de que a jurisdição é capaz de atingir seus objetivos. Isto se justifica à medida que, uma vez o estado substituindo os litigantes na solução da lide, imperiosamente ele deverá aplicar o direito material ao caso concreto, surgindo, como consequência, a procedência ou a improcedência da demanda. A parte que não obtiver seu intento sentir-se-á lesada e duvidará da imparcialidade do juiz, sentindo-se injustiçada. Nas palavras de Gorczevski (2007, p. 52), tendo em vista que o cidadão espera do Judiciário uma decisão ao seu caso, a fim de que seus conflitos sejam solucionados, a crença na imparcialidade do juiz significa outro “elemento destruidor do sistema judiciário”. 4. Conflitos familiares: em busca da melhor solução A atual crise jurisdicional do Estado tem demonstrado que nem sempre o Poder Judiciário resulta como melhor opção para a solução dos conflitos. Necessário se fez, então, criar, ou melhor, reavivar, outros institutos capazes de solucionar os conflitos, 347 como forma alternativa à jurisdição. Tratam-se de meios extrajudiciais, como formas alternativas de resolução de conflitos, opções estas que, segundo Cahali (2011, p. 36), possuem como objetivo a garantia de acesso à Justiça, “o que nunca foi exclusividade do poder Judiciário, mas sim finalidade do estado, que, assim, pode incentivar que os conflitos sejam resolvidos no âmbito estatal ou fora dele, como, de fato, ocorre em muitos desses métodos alternativos”. Esse modelo de resolução de conflitos possui base no direito fraterno, os quais são focados na criação de regras de compartilhamento e de convivência mútua que vão muito além dos litígios judiciais, os quais determinam formas de inclusão de proteção dos direitos fundamentais (Morais e Spengler, 2008). Sobre o tema, com muita propriedade, Rodrigues Jr. (2006, p.37) se manifesta afirmando que estes métodos não significam o final do monopólio do Estado, mas sim “alternativas mais baratas e dinâmicas para a pacificação social. Além disso, nada impede, quando necessário, que os interessados recorram ao Órgão Público”. Assim, vale dizer que a atuação do Estado-Juiz não é o único modo de se alcançar a Justiça, não sendo, portanto, necessário todos os conflitos passarem pelo veredito do judiciário para serem resolvidos. Muitas vezes, a melhor forma de se resolver um conflito é por uma forma menos solene, tais como mediação, que melhor pacifica a sociedade, com ganhos mútuos, pois refletem a própria vontade das partes. As vantagens desses meios alternativos são inúmeras, pois além de reduzir as demandas judiciais, aparecem como opções ao cidadão - que pode escolher o melhor método a ser aplicado ao seu caso concreto resultando em agilidade, confiança no profissional e economia processual. Reitera-se, contudo, a necessária mudança de paradigma do conflito; é preciso que deixe de ser considerado uma patologia, para ser compreendido como parte natural do indivíduo e do sistema social (SPENGLER, 2010). 4.1 Formas alternativas de solução dos conflitos Tem-se, ao lado da jurisdição, outras opções de solucionar os conflitos, a começar pela negociação, que é o primeiro e, talvez, o mais comum dos métodos autocompostivos de solução de conflitos; eis que está presente no dia a dia, nos mais variados atos sociais, a exemplo do comércio, com os atos de compra e venda, onde as partes negociam, por si, o melhor preço, prazos de entrega, quantidades de mercadorias. Na negociação, são as próprias partes que buscam a solução para seus conflitos através 348 da argumentação, sem a intervenção ou a ajuda de terceiros, satisfazendo-se, assim, mutuamente. Pode se dizer, assim, que a primeira tentativa de solução dos conflitos geralmente passa por algum estágio de negociação – esta, não sendo possível, revelará a necessidade de outro meio de solução. A negociação, para Thomé (2010, p. 114), “busca a solução de um conflito por meio da comunicação direta e aberta entre os envolvidos no impasse, sendo um elemento importante e muito utilizado nos relacionamentos humanos”. Para Calmon (2008), a negociação é uma atividade que está ligada à condição humana, pois é hábito do homem, quando possui interesse, apresentar-se perante a outra pessoa envolvida para solucionar o conflito. Thomé (2010, p. 114), assim se manifesta acerca do procedimento da negociação: Para se negociar em situações de conflitos existes, há alguns passos positivos a serem seguidos, como por exemplo, buscar um enfoque de solução do problema; saber ouvir, pois saber ouvir aquilo que o outro tem a dizer pode ser difícil, uma vez que as pessoas envolvidas no conflito tendem a ficar pensando naquilo que pretendem dizer, formular questões para conhecer um pouco mais sobre os pontos de vista ou propostas dos outros envolvidos; manter a mente sempre aberta a novas opções, tanto para si como para o outro envolvido; lembrar que os outros movimentos são a única maneira de se estabelecer progressos e para fazer com que o outro se mova em sua direção e, isolar o problema das pessoas envolvidas, concentrando-se em negociar uma solução, esquecendo-se da personalidade da pessoa envolvida no conflito. Os conflitos mais adequados à negociação direta, segundo Sales (2010, p. 37), “são aqueles em que as pessoas possuem condições de dialogar mesmo sem a intervenção de um terceiro para facilitar esse diálogo – normalmente conflitos de ordem material, patrimonial”. O segundo dos métodos é a conciliação, a qual também visa a autocomposição; porém, aqui aparece a figura de um terceiro que atua como intermediário entre os litigantes, com o objetivo de chegar a um entendimento entre as partes, independentemente da qualidade das soluções ou da interferência na interpretação das questões (RODRIGUES JR., 2006). Na conciliação, a tarefa do conciliador será, após ouvidas as partes, sugerir meios de solução do problema. Esta influência se dá de forma direta no dialogo entre 349 o conciliador e as partes conflitantes. O papel do conciliador é extremamente importante, conforme enfatiza Cahali (2011, p. 37): O conciliador intervém com o propósito de mostrar às partes as vantagens de uma composição, esclarecendo sobre os riscos de a demanda ser judicializada. Deve, porém, criar ambiente propício para serem superadas as animosidades. Como terceiro imparcial, sua tarefa é incentivar as partes a propor soluções que lhes sejam favoráveis. Mas o conciliador deve ir além para se chegar ao acordo: deve fazer propostas equilibradas e viáveis, exercendo, no limite do razoável, influência no convencimento dos interessados. Para exercer suas funções, o conciliador deve possuir boa capacidade de diálogo, bem como ser dotado de um bom senso capaz de opinar na(s) forma(s) mais adequada(s) para solução do conflito. Portanto, o conciliador busca a aproximação das partes para compor um acordo, sugerindo alternativas, tudo tendo em vista da existência do litígio. Sobre a atividade do conciliador, Cahali (2011, p. 37) acrescenta que um dos principais atributos do conciliador deve ser a criatividade, pois “dele espera-se talentosa condução das tratativas e na oferta de diversas opções de composição equilibrada, para as partes escolherem, dentre aquelas propostas, a mais atraente á solução do conflito”. De fato, a conciliação nada mais é que do que uma discussão aberta entre os envolvidos no conflito, o qual poderá acontecer antes de ser instaurado um processo, bem como no decorrer deste, tudo no intuito de estabelecer uma harmonia entre os litigantes. Este método tem previsão legal no ordenamento jurídico nacional, sendo apresentado de forma ampla no artigo 125, IV, do Código de Processo Civil; de forma mais restrita no artigo 331, também do Código de Processo Civil; e de forma obrigatória nos Juizados Especiais Cíveis, conforme está previsto na Lei nº 9.099, de 16 de setembro de 1995 (THOMÉ, 2010). É importante ressaltar, como bem lembra Rodrigues Jr. (2006), que no Brasil há duas formas de conciliação: a judicial e a extrajudicial. A conciliação extrajudicial pode ser realizada a qualquer momento, dependendo somente da vontade das partes. Já a conciliação judicial pode ser facultativa ou obrigatória. Na facultativa, as partes tomam a iniciativa de conciliar; já na obrigatória, a iniciativa é dever do juiz, mas a conciliação também só se dará em respeito à vontade das partes. O maior dos desafios a ser superado pela conciliação é justamente a forma que se apresenta a solução. Uma vez que esta surge da sugestão de terceiros, há grandes 350 possibilidades de uma das partes aceitar por se sentir acuada, diminuída naquele instante, quer seja por timidez ou por menor capacidade argumentativa; ou, em outros casos, uma das partes pode concordar naquele instante para, logo depois, raciocinar melhor e entender ter sido induzida a aceitar algo que realmente não condizia com sua vontade. Em outras palavras, o risco se apresenta na medida em que há possibilidade de inconformidade por um ou ambos os sujeitos envolvidos, que passa logo em seguida a desconfiar da solução adotada; o resultado desastroso poderá ser tanto a instauração de novo conflito quanto a continuação do próprio. A arbitragem é um método de solução de conflitos que, muito embora seja alternativo à jurisdição, dela em muito se assemelha. O processo de arbitragem transfere a um terceiro imparcial, que não faz parte do Poder Judiciário, o poder de decidir o conflito apresentado pelas partes, sendo que o árbitro não estará promovendo acordo, e sim analisando e julgando o caso concreto, à semelhança da atividade jurisdicional. Este método possui previsão legal - no Brasil, atualmente, está regida pela Lei 9.307, de 1996 - e também em convenções internacionais, a exemplo da Convenção de Nova York, realizada em 1958. Entretanto, conforme bem colocou Rodrigues Jr. (2006), a arbitragem não é um método moderno de solução dos conflitos no Brasil. Ao contrário. Ela sempre esteve presente no ordenamento jurídico brasileiro, desde a época do Brasil Colônia, por meio das Ordenações do Reino de Portugal. No Brasil, o Regulamento 737 e o Código Comercial, ambos de 1850, bem como o Código Civil de 1916 e os Códigos de Processo Civil de 1939 e 1973, falavam sobre o instituto; contudo, estas revisões legais eram consideradas “letras mortas”, tendo em vista sua pouca utilização. A partir da elaboração da Lei 9.307, de 1996, tal quadro jurídico começou a mudar, passando a ser mais utilizada a arbitragem, principalmente nos grandes centros urbanos. A diferença entre a decisão arbitral e a decisão judicial gira em torno somente de sua origem; enquanto esta provém do Poder Judiciário e, consequentemente, da prestação da tutela jurisdicional, aquela resulta da decisão tomada por um terceiro também imparcial, cuja submissão foi escolhida pelas partes envolvidas. A atividade das partes será similar ao que ocorreria em um processo judicial, onde lhes cabe a produção de teses e provas, as quais serão analisadas pelo árbitro até que este chegue a uma decisão sobre o pleito. Nota-se que o consenso, neste método, consiste apenas na escolha da forma de resolução do conflito e não na obtenção da solução em si. Assim descreve Cahali (2011, p. 36): 351 Caracteriza-se, assim, ainda como um método adversarial, no sentido de que a posição de uma das partes se contrapõe à da outra, outorgando-se autoridade ao arbitro para solucionar a questão. A decisão do árbitro se impõe às partes, tal qual uma sentença judicial; a diferença é que não foi proferida por integrante do Poder Judiciário. Neste contexto, consensual será a eleição deste instituto, e de uma série de regras a ele pertinentes, mas a resolução do conflito pelo terceiro se torna obrigatória às partes, mesmo contrariando a sua vontade ou pretensão. A participação das partes, neste instrumento, volta-se a formular pretensões e fornecer elementos que contribuam com o árbitro para que este venha a decidir o litígio. Trata-se, assim, de um instituto em que as partes em litígio escolhem um terceiro, o qual irá colher as provas, argumentos e decidir mediante laudo ou sentença arbitral irrecorrível (VANCONCELOS, 2008). Para Morais e Splengler (2008), a arbitragem imita e muito o procedimento judicial, pois, do mesmo modo que o juiz tenta conciliar as partes em audiência, o arbitro também o fará e, caso seja exitosa, redigirá sentença declaratória de extinção do procedimento pelo acordo. Porém, o procedimento arbitral é organizado pelo árbitro de acordo com regras previamente estabelecidas pelas partes. Entretanto, quando não houver acordo entre as partes acerca das regras que deverão orientar o processo de arbitragem, o árbitro poderá fazê-lo ou aplica-se a legislação do estado que figura como local da arbitragem. Para Cahali (2011), a flexibilidade do procedimento da arbitragem é um dos pontos positivos deste método. Com efeito, as normas estabelecidas no Código de Processo Civil acabam gerando uma série de atos cartorários, devido às inúmeras formalidades. Já na arbitragem, o objetivo principal é a solução da matéria de fundo, havendo, desta forma, menos formalidade nas providências para se alcançar o objetivo: solucionar a controvérsia. Entre os principais ganhos efetivos deste método encontra-se a celeridade da solução, somada à redução dos custos com o prolongamento do processo, que também é uma das vantagens desse instituto. Contudo, recorda Morais e Spengler (2008), que o procedimento da arbitragem traz vantagens e, também, desvantagens. Quanto aos aspectos positivos, os autores destacam a rapidez relativamente maior ao procedimento judicial; procedimento em tese mais barato, embora em muitos casos possa ser mais caro do que uma ação judicial; execução do laudo arbitral atualmente fácil; possibilidade de continuar executando o contrato objeto do litígio enquanto se discute o mesmo; desejo de manter as relações 352 cordeais entre as partes, privacidade do contrato e facilitação da transação. Quanto às desvantagens, os autores citam: risco de ser mais lento e demorado do que via judiciário; possibilidade de ocorrer a intervenção judiciária; a carência de procedimentos rígidos pode dar margem a atos ilegítimos, imorais, ou dar lugar a disputas ainda maiores entre as partes; e, por fim, ausência de neutralidade, pois, em muitas vezes, os árbitros mantém relações com uma das partes ou com os advogados destes. As matérias que podem ser levadas a um processo arbitral são as que envolvem direitos patrimoniais disponíveis, sendo que a lei estabelece o prazo máximo de seis meses para a conclusão do procedimento, podendo tal prazo ser alterado se for da vontade das partes. Quanto à figura do árbitro, este será nomeado pelas partes, sendo essa uma das grandes características desse instituto. Não havendo acordo quanto a esta escolha, a questão poderá ser remetida ao judiciário estatal para que o juiz, após ouvir as partes litigantes, redija a sentença nomeando o árbitro ou os árbitros que irão conhecer e decidir o litígio. A atuação do árbitro deverá ser imparcial, independente, competente e discreta, devendo agir com eficácia, manter a aparência de imparcialidade e independência, além de manter sigilo sobre o tema submetido à sua apreciação (MORAIS e SPENGLER, 2008). Segundo consta no artigo 17 da lei de arbitragem brasileira (Lei nº 9.307/96), o árbitro é equiparado ao funcionário público, sendo que poderá ser responsabilizado penal e civilmente quando estiver no exercício de suas funções. Quanto às consequências para as partes envolvidas, o laudo arbitral é ainda mais complexo do que a sentença judicial, uma vez que sobre esta existe uma gama de recursos disponíveis às partes, enquanto que não há nenhum recurso cabível ao laudo arbitral, devendo as partes aceitar na íntegra e fazer cumprir a decisão. Por fim, é necessário aprofundar a análise do instituto da mediação, quarto método alternativo à jurisdição aqui explanado. A mediação foi deixada para o final por razões bastante específicas, principalmente por não se assemelhar a nenhum outro dos institutos, uma vez que é um meio pelo qual duas ou mais pessoas buscam a solução de um conflito, com a colaboração de um terceiro imparcial e livremente escolhido – o mediador. Ao contrário do que ocorre com a conciliação, na mediação o papel do mediador compreende o de facilitador do diálogo, na aproximação das partes de forma que elas mesmas possam chegar a um resultado que as favoreça. Para Vasconcelos (2008, p. 36), a mediação é o meio pelo qual duas ou mais pessoas procuram um terceiro, o mediador, onde “expõem o problema, são escutadas e questionadas, dialogam construtivamente e procuram identificar os interesses comuns, 353 opções e, eventualmente, firmar um acordo”. De acordo com Thomé (2010), o verbo latino mediare, que deu origem ao termo mediação, significa mediar, dividir ao meio, intervir ou colocar-se no meio. A mediação mostrou-se realmente como um sistema estruturado a partir do século XX, principalmente nos Estados Unidos, como sendo uma forma alternativa de resolução de interesses. A partir daí, ela vem sendo amplamente utilizada em outros países, como França, Inglaterra, Irlanda, Japão, Noruega, Bélgica, Alemanha, dentre outros. Portanto, foi a partir do século passado que a mediação se inseriu no contexto jurídico como uma alternativa eficiente para os problemas existentes no campo do Direito, tais como descongestionar os tribunais, diminuir custos e acelerar as resoluções (RODRIGUES JR., 2007). Este último instituto aceita a ideia de que o conflito é inerente ao convívio social, pois sem ele seria impossível haver progresso e as relações sociais estariam, provavelmente, paradas em algum momento da história. É necessário, assim, que haja uma boa administração do conflito para que haja harmonia entre as partes, sendo, dessa maneira, uma boa opção a mediação (SALES, 2010). A ciência da mediação, para Silva (2004), procura transmitir o conflito como algo necessário para o aperfeiçoamento humano, afirmando que ninguém normal ou anormal, somente por se ter diferentes modelos de realidade. Recorda esse autor que a mediação poderá ocorrer a qualquer momento, inclusive no decorrer do processo judicial, até a prolatação da sentença. Ainda, em qualquer fase do processo, qualquer uma das partes poderá requerer a suspensão do mesmo por prazo indeterminado com a finalidade de dar início à mediação. Como visto, a mediação é um mecanismo consensual de conflitos, sendo que as próprias pessoas envolvidas são as responsáveis pela decisão que melhor as satisfaça, sendo o mediador tão somente (mas não menos importante) a pessoa que auxilia na construção do diálogo. Em que pese ser um processo essencialmente informal, a mediação, para ser válida, deve preencher alguns, conforme explica Júnior (2006), de ordem objetiva e subjetiva. Os requisitos subjetivos dizem respeito às partes integrantes da disputa, às quais devem ser capazes juridicamente, principalmente, para dispor de seus bens e direitos; além disso, a manifestação de vontade das partes não pode estar eivada de vício de consentimento (erro, dolo, coação, simulação ou fraude) e, por fim, as partes devem estar de boa-fé. Entretanto, quanto ao mediador, este poderá ser incapaz juridicamente – já que não irá proferir nenhuma decisão de mérito, e sim facilitar um acordo entre as partes -, embora seja aconselhável que tenha uma formação específica para tal. 354 Quanto aos requisitos objetivos, tem-se que a mediação somente será possível se versar sobre interesses passíveis de conciliação, reconciliação, transação, ou acordo de outra ordem - pois há objetos que não são passíveis de acordo, não podendo fazer parte da mediação. Assim, apesar de não haver uma lei específica de mediação no Brasil, é possível utilizar esse meio alternativo, desde que respeitado os pressupostos de validade do ato jurídico, ou seja: agente capaz, objeto lícito e forma prescrita em lei. Quanto aos tipos de conflitos que podem ser solucionados na mediação, se encontram os conflitos familiares, comerciais e consumeristas, incluindo mesmo os conflitos dificilmente judicializáveis, como os conflitos escolares ou de vizinhança. Assim os descreve Sales (2010, p. 75): a) questões familiares: separação ou divórcio, alimentos, revisão de pensão e guarda dos filhos, conflitos entre pais e filhos adolescentes, conflitos entre irmãos. Para dar validade jurídica, deve o acordo ser encaminhado ao Poder Judiciário para apreciação do juiz (homologação); b) questões cíveis: situações patrimoniais, como aluguel, recálculo de dívida, financiamentos, indenização em acidentes de veículo automotores, etc.; c) comercial: títulos de crédito, frete, seguro e entrega de mercadorias, comércio, cheques; d) consumidor: revisão de compra e venda de mercadoria, etc.; e) conflitos escolares: entre professores e diretores, professores e alunos, professores e professores, alunos e alunos, enfim, todos os problemas vivenciados pelos indivíduos no ambiente escolar; f ) conflitos de vizinhança: questões de convivência, conflitos variados que perturbem a convivência pacífica; ambiental: poluição sonora, poluição ambiental, etc. Importante mencionar que, no artigo 851 do Código Civil vigente, há um fundamento para o uso da mediação, estabelecendo que “é admitido compromisso, judicial ou extrajudicial, para resolver litígios entre pessoas que podem contratar”. Junto ao Congresso Nacional, tramita o Projeto de Lei nº 94, de 2002, que visa para regular a mediação, de acordo com o qual a mediação pode ser prévia ou incidental ao processo judicial. O projeto tenta, inclusive, tornar obrigatória a tentativa de mediação de forma incidental nos processos, salvo nos casos revistos no artigo 34: I – na ação de interdição; II – quando for autora ou ré pessoa de direito público e a controvérsia versar sobre direitos indisponíveis; III – na falência, na concordata e na insolvência civil; IV – no inventário e no arrolamento, quando houver incapazes; V – nas ações de imissão de posse, reivindicatória de bem 355 imóvel e de usucapião de bem imóvel; VI – na ação de retificação de registro público; VII – quando o autor optar pelo procedimento do juizado especial ou pela arbitragem; VIII – na ação cautelar; e IX – quando a mediação prévia, realizada na forma da Seção anterior, tiver ocorrido sem resultado nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao ajuizamento da ação. O fato a ser previamente considerado é que na mediação existe maior autonomia de vontade das partes no processo decisório. Para Thomé (2010, p. 113): A intervenção de um terceiro para solucionar o conflito apresenta algumas vantagens, quais sejam: as partes, quando descrevem o conflito a uma terceira pessoa, ganham tempo para se acalmar, já que interrompem o conflito para descrevê-lo; a comunicação entre as partes pode melhorar, já que a terceira pessoa auxilia as pessoas envolvidas a terem mais clareza e a ouvirem melhor a outra parte; as partes definem as questões que realmente são importantes, pois o terceiro envolvido sugere a priorização de alguns aspectos conflitantes; os custos crescentes de permanecer no conflito podem ser controlados e até reduzidos. O mediador deve ser capaz de entender o conflito, ser paciente, criativo, confiável e imparcial. Cabe a ele agir de forma a acalmar as partes, pois somente assim irão resolver os conflitos com a razão e da melhor maneira possível. Ademais, ele não poderá estar comprometido com nenhuma das partes, seja em termos profissionais, afetivos ou sociais. Ainda, deve o mediador conduzir o processo de comunicação entre as partes, porém, não deve decidir pelos mesmos, pois a finalidade da mediação é permitir que as partes conversem e cheguem às suas próprias escolhas. Qualquer pessoa poderá ser o mediador, desde que seja da confiança das partes. O mediador, como dito, deverá ser de confiança das partes, o qual não poderá repassar as informações recebidas dos envolvidos. As perguntas a serem feitas pelo mediador, conforme Silva (2004) são: o que, para que? Sem a intenção de culpar ninguém, mas voltado sempre a conhecer melhor a realidade das partes. O mediador deve, ainda, fomentar o desabafo emocional, sem agressões, e deve sempre deixar claro que o objetivo é encontrar soluções que satisfaçam ambas as partes. Assim prossegue o autor: O mediador deve saber diferenciar quando seus clientes estão confundindo problema com uma briga pessoal, por causa da cultura adversarial em vigência; de quando o objetivo de seus clientes é simplesmente brigar entre eles sem outra 356 razão que a de vender. No primeiro caso a insistência para focalizar as discussões nos problemas e não neles mesmo será suficiente para introduzir o respeito nas negociações. No segundo caso será melhor suspender a mediação até que eles se acalmem e revejam seus objetivos. (SILVA, 2004, p. 103) A mediação é tida como um método, tendo em vista o complexo interdisciplinar de conhecimentos científicos, os quais são extraídos em especial da comunicação, da psicologia, da sociologia, da antropologia, do direito e da teoria dos sistemas. Além disso, também é uma arte, em vista das habilidades e sensibilidades dos mediadores (VASCONCELOS, 2008). No Brasil, é crescente o número de curso de capacitação de mediadores, os quais exigem sempre a teoria e a prática para uma boa formação do mediador. De acordo com o Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem, foi aprovado um programa mínimo de capacitação em mediação, onde estabelece 60 horas mínimas de aprendizagem teórica e 50 horas de aprendizagem prática (SALES, 2010). Existe, ainda, o código de ética do mediador – elaborado pelo Conselho Nacional de Instituições de Mediação e Arbitragem -, que traz um conjunto de valores expressos em normas e traça as diretrizes fundamentais para o bom desempenho dessa função. Esse método de resolução de conflitos, além de desafogar o judiciário, obtém resultados os quais são considerados verdadeiros êxitos, não sendo, assim, apenas remédio para problemas do Judiciário, os quais poderiam ter outras soluções. Dentre os resultados obtidos, pode-se destacar a agilidade com a qual é resolvido os problemas, o baixo custo da resolução, bem como a satisfação de ambas as partes (SILVA, 2004). Há dois modelos diferentes de mediação, como ensina Vasconcelos (2008), quais sejam, um modelo focado no acordo e outro focado na relação. O modelo focado no acordo visa o problema e busca o acordo para tal resolução, sendo apropriada para lidar com relações de consumo e outras relações casuais em que não prevalece o interesse comum de manter um relacionamento. Já o modelo focado na relação prioriza a transformação do padrão relacional, por meio da comunicação, da apropriação e do reconhecimento, sendo que obtém melhor resultado nas relações permanentes ou continuadas, como os conflitos familiares, comunitários, escolares e corporativos. A mediação, pois, é um meio adequado para a solução dos conflitos que envolvem relações continuadas, além das situações que há sentimentos envolvidos, bem como situações-fruto de um relacionamento (SALES, 2010). 357 4.2 Agravamento dos conflitos familiares em razão da crise do judiciário A família é vista como a base da sociedade, sendo tão antiga quanto a própria espécie humana. Justamente por esta razão é que vem sofrendo inúmeras transformações no tempo. Para Sales (2010, p. 79): O conceito tradicional de família restrito ao núcleo formado por pai, mãe e filhos já não mais se sustenta diante das mudanças ocorridas no seio familiar e na sociedade como um todo. Vários novos enlaces familiares foram estabelecidos, exigindo o reconhecimento e o respeito social. Mães ou pais solteiros, uniões estáveis, produções independentes, uniões entre casais do mesmo sexo, pessoas casadas, mas que não dividem o mesmo lar, indivíduos vivenciando o segundo matrimônio com filhos de uniões anteriores, enfim, inúmeras são as novas situações existentes que também podem configurar uma família. Todas as transformações ocorridas geraram novos e complexos conflitos entre os membros familiares, os quais devem, assim, ser tratados com cuidado. Com muita propriedade, Sales (2010, p. 80) complementa, afirmando que os conflitos familiares são merecedores de extremo cuidado, “visto que envolvem relações de sentimentos, laços consanguíneos e afetivos que, apesar do momento do conflito, perduram”. Para o autor, estas relações envolvem “sentimentos de amor, ódio, raiva ou afeto, por envolverem filhos e todas as responsabilidades morais advindas da existência de filhos, continuam no tempo – relações continuada”. Assim, diante das complexas relações familiares, das quais nascem conflitos ímpares, necessário se faz, dadas as peculiaridades, o encontro de meios de soluções adequados que permitam a convivência familiar, tanto solucionando quanto evitado as controvérsias. A família sofreu inúmeras mudanças de função, natureza e composição no decorrer dos anos. Para Maria Berenice Dias (2010), a família tinha uma formação extensiva, verdadeira comunidade rural, onde era formada por todos os parentes, onde seus membros eram força de trabalho, além da existência de amplo incentivo à procriação. Porém, esse quadro não resistiu à revolução industrial; eis que fez aumentar a mão de obra, necessitando o ingresso da mulher no mercado de trabalho. Acabou, assim, a prevalência do caráter produtivo e reprodutivo da família, o qual se tornou nuclear, formada pelo casal e sua prole, passando a uma nova concepção de família, formada por laços afetivos de carinho e amor. 358 Recorda Venosa, contido, que por muito tempo na história, inclusive na Idade Média, o casamento esteve longe de qualquer conotação afetiva, sendo um “dogma da religião doméstica” (VENOSA, 2010, p. 4). Com o passar dos anos, o casamento passou a valer somente para o prisma jurídico e não mais está ligado à religião oficial do Estado, em que pese a célula básica – formada por pais e filhos – não ter mudado com a sociedade urbana. A família atual, entretanto, difere das formas antigas, tanto na sua finalidade, composição e papel dos pais e filhos. A declaração Universal dos Direitos do Homem, votada pela Organização das Nações Unidas, reconhece aos seres humanos a formação de uma família, estabelecendo no artigo 16.3: “A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado”. Sobre a evolução familiar e o poder dos pais perante seus filhos, se manifesta Ataíde Júnior (2009, p. 19) no sentido de que: “só recentemente se veio compreender que o poder atribuído aos pais deve ser exercido no interesse do filho, abrandando-se, nos costumes e na lei, o jugo paterno e materno”. Até que o Estado - que era antes ausente - começou a se interessar pelas relações familiares, passando a discipliná-las através de normas, os quais nem sempre conseguem acompanhar a rápida evolução social. Tendo em vista a interferência estatal nos elos de afetividade, o legislador começou a dedicar um ramo do direito à família. Sendo assim, no Código Civil de 1916, a família foi reconhecida e protegida pelo ordenamento jurídico, porém, correspondia apenas a um modelo único, constituído pelo casamento indissolúvel e o poder do homem em relação à esposa e os filhos; entretanto, com a Constituição Federal de 1988, a família passou a ser reconhecida por um modelo aberto e plural, nas suas mais variadas formas e variações, tendo como fundamento a dignidade da pessoa humana e o respeito de cada ser humano formar sua família de acordo com seu desejo e vontade (THOMÉ, 2010). O ramo do direito civil, para Venosa (2010, p. 10): [...] é integrado pelo conjunto de normas que regulam as relações jurídicas familiares, orientado por elevados interesses morais e bem-estar social. Originalmente, em nosso país, o direito de família vinha regulado exclusivamente pelo Código Civil. Princípios constitucionais e numerosas leis complementares derrogaram parcialmente vários dispositivos do Código Civil de 1916, além de disciplinar outros fenômenos e fatos jurídicos relacionados direta ou indiretamente com a família. O Código Civil de 2002 procura fornecer uma nova compreensão da família, adaptada ao novo século, embora tenha ainda com 359 passos tímidos nesse sentido. Seguindo o que já determinara a Constituição, o atual estatuto procura estabelecer a mais completa igualdade jurídica dos cônjuges e dos companheiros, do homem e da mulher. Nesse delicado ramo do direito, as questões sociais e psicológicas dos envolvidos devem ser valoradas para compreender melhor a realidade das partes. Tendo em vista isso, cada vez mais é indispensável conciliar o direito com outras áreas do conhecimento, como exemplo, a psicanálise, a sociologia e assistência social, desenvolvendo, assim, um trabalho muito mais integrado. Além disso, é necessário a qualificação de forma interdisciplinar dos agentes envolvidos no conflito familiar para a compreensão das emoções e a complexidade das causas (DIAS, 2010). Levando em conta as particularidades do Direito de Família, para Venosa (2010), deve-se pensar, em um futuro próximo, no direito como um microssistema jurídico, elaborando um Estatuto da Família, como em outras legislações, onde abrangerá todos os princípios, o direito sucessório, o direito do menor e institutos correlatos. De qualquer forma, sente-se necessidade na atualidade de profissionais que se especializem nessa área. A essa situação agrega-se o fato de que o Juiz de uma vara de família deve ter vocação e preparo emocional diverso do magistrado que somente decide questões matrimoniais. Daí porque, sempre que possível, os Estados criam varas especializadas em direito de família, com serviços auxiliares de ordem sociológica e psicológica. A mediação e a conciliação, com profissionais habilitados, devem cada vez mais ganhar amplo espaço, evitando, assim, processos inúteis e depreciativos da honra de membros da família. Para compreender a evolução do Direito de Família é preciso a aplicação de uma nova cultura jurídica, estabelecendo um processo de proteção a todas as entidades familiares, devendo centrar-se na manutenção do afeto, sua maior preocupação. Diante da inquestionável importância deste ramo do Direito, o número dos processos na área familiar nunca esteve tão elevado como nos últimos anos. A demora da prestação jurisdicional, somado ao excesso de formalismo processual, à falta de recursos suficientes do judiciário e ao alto índice de litigiosidade, criaram um desagradável descrédito do Poder Judiciário. Em especial na área do Direito de Família, em que os assuntos são particularmente mais delicados e complexos, é que se percebe que a solução judicial tem-se mostrado insuficientes, na medida em que define a contenda com a determinação de um vencedor e um perdedor (LEITE, 2008). Ele acrescenta: 360 A mera consideração das palavras vem carregada de significação; o processo clássico não prepara o pós-ruptura do casal e dos filhos, mas, ao contrário, criando a figura do vencedor e do perdedor, aumenta o ressentimento numa área na qual as paixões e os ressentimentos são a tônica maior da conduta humana. Além disso, como já anotado pelos estudiosos da matéria, a coisa julgada que emana da ação reflete tão somente a verdade formal (leia-se legal) mas não soluciona o problema das partes cujos interesses sofrem variações, desde a inicial até a solução da lide. (LEITE, 2008, p. 106) A situação em que passam as partes gera desgastes, tensões que aumentam a fragilidade da relação entre elas, piorando, muitas vezes, o convívio familiar que possuíam antes da propositura da ação. Para Leite (2008), não se trata de querer eliminar a solução judicial, pois tal via será sempre válida quando a negociação não é possível, porém a experiência de foro tem se mostrado em desvantagem face a outros sistemas de composição de controvérsias que têm se imposto no cenário jurídico atual, que, ao lado de outros métodos de solução de disputa, a mediação tem se revelado importante alternativa. 4.3 Mediação no Direito de Família A mediação na área da família surgiu, sobretudo, tendo em vista as crises no âmbito familiar, quando seus membros se tornam mais vulneráveis, oferecendo, assim, estrutura de apoio profissional aos mesmos, exigindo-se desses operadores do Direito envolvidos no tratamento das controvérsias, além de sensibilidade mais acentuada, uma formação diferenciada para que possam lidar eficazmente com as frustações das pessoas. Desde os tempos mais remotos, a família representa um ideal de felicidade, sendo que a família se tornou uma instituição “sagrada”. Diante disso, a separação é uma medida drástica, pois terminar com o casamento pode representar uma ação contrária à vontade divina e a vontade da sociedade. A separação, muitas vezes, não é aceita pela sociedade e nem para o superego do casal. O mediador, portanto, deve ter a responsabilidade de trabalhar suas ideologias, e que também tenha um conhecimento real dessas coisas e não simples opiniões (SILVA, 2004). A mediação extrajudicial de conflitos matrimoniais existe há muitas décadas, sendo suas principais vantagens ser um procedimento voluntário, célere, consensual, sigiloso e econômico, amenizando a dor e o sofrimento da demora e frieza de um processo judicial. 361 Conforme Thomé (2010), ela surgiu nos Estados Unidos, na segunda metade de 1970, a qual evoluiu rapidamente para a regularização das questões envolvendo guarda, visitas, amparo aos filhos menores de idades e questões decorrentes da ruptura conjugal. Após, se expandiu para o Canadá, onde existem serviços de mediação tanto de caráter privado como público, instituídos em 1997. Na Europa, a Grã-Bretanha foi pioneira na criação de centros de mediação familiar. Na Europa continental, criaram-se serviços similares na França, Áustria, Alemanha, Bélgica, Finlândia, Itália, Polônia, Noruega e Suécia. Em Portugal, o Instituto Português de Mediação foi criado em 1993. Na França, ganhou importância na década de 1980, mas somente foi institucionalizada em 1973. Na Argentina, a Lei nº 24.573/95, exige que as partes participem da audiência de mediação, inclusive com a participação de um advogado, e o mediador é sorteado pelo Tribunal entre os advogados com capacidade para mediação que estejam registrados junto ao Ministério da Justiça. Nas rupturas de casais, o Direito oferece procedimentos judiciais e extrajudiciais de divórcio, mas o conflito de família, antes de ser jurídico e legal, é afetivo, psicológico, relacional, envolvendo muito sofrimento e frustações, uma vez que o Direito de Família trabalha, segundo Thomé (2010), com as relações humanas, e para que estas alcancem a profundidade na solução dos desacordos, é necessário um espaço de escuta, permitindo a solução dos conflitos, e não somente através de uma mera sentença. Isto porque a sentença judicial raramente produz o efeito apaziguador de que o legislador desejou ao criá-las, principalmente nos processos que envolvem vínculos afetivos, onde as partes estão cheias de mágoas e sentimentos de amor e ódio se confundem. Sobre o tema, assim se manifesta Dias (2010, p. 85): [...] a resposta judicial jamais corresponde aos anseios de quem busca muito mais resgatar prejuízos emocionais pelo sofrimento de sonhos acabados do que reparações patrimoniais ou compensações de ordem econômica. Independentemente do término do processo judicial, subsiste o sentimento de importância dos componentes de litígio familiar além dos limites jurídicos. O confortante sentido de justiça e de missão cumprida dos profissionais quando alcançam um acordo dá lugar à sensação de insatisfação diante dos desdobramentos das relações conflituosas. Para Dias (2010), quem procura o Judiciário, na maioria das vezes, chega fragilizado, cheio de medos e magoas, devendo, assim, ser recebido por um juiz ciente de que deve ser mais pacificador, do que qualquer atitude moralista. No mesmo sentido, 362 se manifesta Lôbo (2010), afirmando que, sempre que possível, deve o juiz recomendar à família litigante a prévia tentativa da mediação, pois, se o resultado for exitoso, terá probabilidade de se manter com maior estabilidade afastando o surgimento do mesmo conflito. Sabe-se que o Poder Judiciário não dispõe de um espaço adequado para ouvir os envolvidos nos litígios familiares, sendo, portanto, a mediação uma solução capaz de promover a humanização destas questões. Acerca da mediação familiar, assim se manifesta Tartuce (2008, p. 278): Nesse tão peculiar ramo jurídico, em respeito à sua capacidade de autodeterminação, o indivíduo deve estar pronto para definir os rumos de seu destino, sabendo identificar o melhor para si sem necessitar da decisão impositiva de um terceiro que não conhece detalhes de sua relação controvertida. Por tal razão, avulta a importância da mediação; afinal, o sistema jurídico, cada vez mais, valoriza e fomenta a realização de atos negociais pelos indivíduos para a definição, por si próprios, de suas situações jurídicas. Sobre o objetivo da mediação familiar, Silva (2004, p. 53) diz que: A mediação em matéria de família, sobretudo, tem objeto a família em crise, quando seus membros se tornam vulneráveis, não para invadir ou para dirimir o conflito, mas para oferecer-lhes uma estrutura de apoio profissional, a fim de que lhes seja aberta a possibilidade de desenvolverem, através das confrontações, a consciência de seus direito e deveres, criando condições para que o conflito seja resolvido com o mínimo de comprometimento da estrutura psicoafetivade seus integrantes, podendo também ser vista como uma técnica eficiente para desobstruir os trabalhos nas varas de família e nas de sucessões, influindo decisivamente para que as demandas judiciais tenham uma solução mais fácil, rápida e menos onerosa. Já Dias (2010, p. 85), com muita precisão, assim define a mediação familiar: A mediação pode ser definida como um acompanhamento das partes na gestão de seus conflitos, para que tomem uma decisão rápida, ponderada, eficaz e satisfatória aos interesses em conflitos. Deve levar em conta o respeito aos sentimentos conflitantes, pois coloca os envolvidos frente a frente na busca da melhor solução, permitindo que os envolvidos, através de seus recursos pessoais, 363 se reorganizam. O mediador favorece o diálogo na construção de alternativas satisfatórias para ambas as partes. A decisão não é tomada pelo mediador, mas pelas partes, pois a finalidade da mediação é permitir que os interessados resgatem a responsabilidade por suas próprias escolhas. Não é meio substitutivo da via judicial. Estabelece uma complementaridade que qualifica as decisões judiciais, tornando-as verdadeiramente eficazes. Cuida-se de busca conjunta de soluções originais para pôr fim ao litígio e maneira sustentável. A proposta da mediação, para Leite (2008), é inovadora e revolucionária, pois convoca o casal a tomar as decisões, deslocando a responsabilidade do ente público (Poder Judiciário) para a espera privada (casal), fazendo com estes decidam os assuntos de seu exclusivo interesse, de acordo com a dinâmica de cada grupo familiar. Assim, tendo em vista a possibilidade de achar uma forma adequada para o tratamento dos conflitos, surge uma prática onde o individualismo não está à frente, busca-se uma participação efetiva e conjunta das partes que estão envolvidos no conflito. Assim afirma Spengler (2010, p. 295): “essas praticas passam a observar a singularidade de cada participante do conflito, considerando a opção de ‘ganhar conjuntamente’, construindo em comum as bases de um tratamento efetivo, de modo colaborativo e consensuado”. Importante salientar que a mediação familiar tem aplicabilidade em todas as situações de conflito do núcleo familiar, como nos processos de alimentos, guarda de crianças e adolescentes, regulação de visitas e outras situações presentes no dia a dia das famílias, não sendo, assim, somente aplicável nos casos de separação e divórcio – em que pese ter sido a mediação concedida inicialmente para atender a estes casos. A mediação, especialmente nas separações e nos divórcios, representa uma gestão de conflitos, no qual os integrantes do conflito aceitam a intervenção de um terceiro mediador e confidencial, com o objetivo de levá-los a encontrar por si próprios a base de um acordo durável e mutuamente aceito, e, acima de tudo, numa conduta de corresponsabilidade acerca das necessidades dos filhos (THOMÉ, 2010). Para Dias (2010), é na seara da família que a mediação desenvolve seu principal papel, pois torna possível a identificação das necessidades específicas de cada integrante da família, distinguindo funções e atribuições de cada um. Além disso, acaba facilitando que os membros configurem um novo perfil familiar. A mediação ajuda os casais, por exemplo, a dissolverem o vínculo matrimonial e, após o término do casamento, continuar mantendo uma relação adequada. Necessário 364 se faz, assim, disponibilizar elementos para que as pessoas que fazem parte da família possam reforçar tal instituição de forma que elas mesmas supram suas necessidades, sem delegar tal solução de suas crises a terceiros (TARTUCE, 2008). Acerca da importância desse instituto na fase da ruptura conjugal, Thomé (2010, p. 120), diz que a mediação familiar pode oferecer: [...] um ambiente propício à negociação, à escuta, a autodeterminação para a escolha das regras e condutas a serem seguidas após a concretização da separação ou divórcio, garantindo a continuação das relações parentais com a implementação de acordos de participação direta no exercício do poder familiar de ambos os ex-cônjuges, mas principalmente daquele que está fisicamente afastado do grupo familiar, alterando a forma de comunicação para reformar a capacidade de autogerenciamento e negociação do casal. A posição de Tartuce se justifica à medida que, no processo de mediação, é grande a preocupação com a diminuição do dano emocional, sendo no mesmo sentido a manifestação de Silva (2004, p. 56): O processo da mediação deve ajudar toda a família a realizar a ruptura com o menor dano emocional, ensinar o casal a separar-se e ao mesmo tempo manter sua responsabilidade como pais, possibilitando que os filhos mantenham uma relação adequada com ambos depois d separação. E, ainda, que eles possam avaliar sem culpas com quem as crianças estão melhor assistidas e amparadas. Ainda, com muita propriedade, Tartuce (2008, p. 109), assim diferencia as decisões judiciais da mediação: A solução judicial aponta problemas, a mediação potencializa a capacidade de compreensão dos problemas e a possibilidade das respostas mais corretas; a solução judicial impõe normas e posturas, por isso na sua grande maioria, não são respeitadas; a mediação conduz as partes a decidir o que é melhor para a continuidade da vida familiar no pós-ruptura, o que justifica a maior adesão dos destinatários; a decisão judicial cria o impasse da infinita litigância enquanto a mediação procura, no consenso, meios de diminuir a gravidade da situação fática conduzindo as partes à segurança de resoluções sugeridas pelo mediador e pelo advogado. 365 Em seguida, o autor complementa (2008, p. 280) dizendo que “uma está centrada na composição (a mediação) enquanto a outra conduz, naturalmente, ao litígio e à discórdia, que só tendem a aumentar com o desdobrar dos infinitos procedimentos”. Não é de hoje que, ao tratar de dissolução da sociedade conjugal, se fomenta a necessidade de oportunizar as partes a reflexão sobre sua decisão. Tanto é assim que a Lei do Divórcio, criada em 1977, afirma que o juiz deverá promover todos os meios para que as partes se reconciliem ou transijam, ouvindo, pessoal e separadamente, cada uma delas e, a seguir, reunindo-se em sua presença, se assim considerar pertinente (Lei 6.515, artigo 3º, §2º). Para Tartuce (2008, p. 283): Em termos de guarda dos filhos, é fundamental que os pais possam se comunicar eficientemente sobre detalhes do exercício do poder familiar. Situações como o direito de visitas e eventuais controvérsias sobre a divisão do tempo com a criança podem ser bem equacionadas se houver clareza, consideração, respeito e empatia entre os interessados. O mediador não só visualiza os aspectos jurídicos da questão posta em tela, mas também os elementos subjacentes (de ordem afetiva, psicológica ou emocional) que geram posturas de aceitação ou não do ato jurídico. Pois, de nada adianta obrigar um homem a aceitar a paternidade de um filho, sem que ele elabore a ideia de que a geração de um filho acarreta direitos e obrigações (LEITE, 2008). Este exemplo demonstra que, muitas vezes, para melhor comunicação entre os pais para definir os detalhes acerca do poder familiar, necessário se faz a intervenção do instituto da mediação, pois de nada adianta qualquer decisão proferida pelo Poder Judiciário envolvendo matéria de guarda e visitação, sem a participação e aceitação dos pais. É importante esclarecer que o mediador não é um julgador, seu papel é aproximar os litigantes para que possam alcançar o máximo de consenso. As disputas entre cônjuges, companheiros e pais e filhos, que dizem respeito ao Direito de Família, saem do conflito que degrada as relações familiares, responsabilizando-se as pessoas em tomar suas próprias decisões, que tendem a ser mais duradouras que as decisões judiciais, pois estas não encerram o conflito (LÔBO, 2010). Sugere Silva (2004), que o mediador não pode deixar de lado três aspectos, a saber: centralizar as discussões nos problemas e não nas pessoas; investigar os interesses desarmando o discurso infértil da posição; prestar muita atenção às emoções dos clientes. Ao mediador, por lidar com conflitos humanos e afetivos, Lôbo (2010) recomenda a abordagem multidisciplinar, na qual é preferível que o mediador esteja 366 entre o direito e as ciências da psique, pois as dificuldades são os limites emocionais das partes envolvidas, a privação que impede compensações emocionais, a exigência da boa-fé de todos e os desequilíbrios de poder. Assim, para Thomé (2010), verifica-se que é um método de transformação de conflitos, tendo em vista que o tratamento do conflito se dá através do diálogo, pois além dos problemas centrais do casal em sua separação, existem dificuldades periféricas que advêm de relacionamento problemático entre pais e filhos, eis que é cada vez maior o número de filhos que mantém um contato saudável, constante e estável emocionalmente com ambos os genitores. É importante salientar que, se as partes sentirem necessidade de apreciação judicial acerca do resultado obtido na mediação, em nada estará comprometida a existência e validade do poder Judiciário. Para Leite (2008, p. 140), é “no sistema judicial que a mediação familiar encontra seu suporte fundamental de consolidação jurídica dos resultados obtidos, por via homologação judicial e dos acordos celebrados pelos interessados”. Além do mais, quando a via judicial é insubstituível (quando houver filhos menores, por exemplo), a mediação, nesses casos, poderá ocorrer antes do ingresso em juízo ou de forma incidental. Portanto, a mediação poderá ser uma técnica complementar, subsidiária do Poder Judiciário, devendo ser buscada por todos que pretendem manter continuidade na relação familiar. A mediação tem como meta ajudar o casal a negociar seus desacordos, com o objetivo de resolvê-los de uma maneira pacífica. Os pontos que foram discutidos, serão transmitido ao termo do acordo, que é o documento legal que será necessário para tramitar e ser homologado junto ao Poder Judiciário quando a separação ou o divórcio for de maneira amigável (SILVA, 2004). A mediação estabelece caminhos entre o sistema familiar, o jurídico e o meio social, sendo uma prática social útil no exercício da cidadania, não se limitando, entretanto, aos conflitos familiares, pois os padrões apreendidos com a mediação familiar poderão ser aplicado a todos os demais conflitos sociais (THOMÉ, 2010). O processo de mediação deve ajudar toda a família a passar pela ruptura do casal com o menor dano emocional possível, bem como deverá ajudar o casal a manter sua responsabilidade como pais, onde os filhos mantenham uma relação adequada com os genitores. Ainda, deve ter um cuidado especial com as crianças, possibilitando que os pais sigam atuando ao seu lado, protegendo, deste modo, o direito que os filhos possuem de seguir a vida do lado de ambos os genitores. Assim, mantendo a harmonia entre pais e filhos, se estará diminuindo o medo do futuro – o qual tão frequentemente 367 aparece em crianças em virtude da separação dos seus pais – e aumenta o sentimento de segurança pessoal e autoconfiança (SILVA, 2004). Não se pode esquecer que, na mediação familiar, o que está em jogo muitas vezes são sentimentos fragilizados vindos de seres humanos mais sensíveis, sendo papel do mediador reconhecer essa sensibilidade e esses sentimentos. Por esta razão, o mediador deve trabalhar a si próprio para não impor valores. Nesse sentido, manifesta Silva (2004, p. 63): O mediador deve ter claro que seu papel é levar esclarecimento e consciência aos mediados para que eles decidam por si próprios o destino. O mediador tem que despir-se do papel de salvador, deve estar consciente de que ele não sabe o que é melhor para o outro, que não pode interferir na história pessoal do mediador. Para Silva (2004, p. 56), o resultado transformativo da mediação familiar acontece quando: 1 – Se introduz no casal uma nova forma de inter-relação baseada na cooperação e diálogo. 2 – Os filhos já não são usados como anteparos de reações emocionais dos pais, mas respeitadas como pessoa. 3 – O casal assume as responsabilidades afetivas e econômicas em relação aos filhos, independente de guarda. 4 – Cada membro do casal pode respeitar o outro em suas novas relações. Existem três formas de mediação familiar, conforme descreve Silva (2004, p. 57): I – a intervenção mínima, na qual o mediador é uma presença neutra que estimula o duplo fluxo de informações. II – o da intervenção dirigida, onde o mediador identifica e avalia com as partes as opções existentes, tentando persuadi-las a adotar aquela que considera mais conveniente; e III – a intervenção terapêutica, que tem por objetivo proceder a uma intervenção que corrija as disfuncionalidades detectadas, procurando uma decisão conjunta. O que realmente importa é o respeito à família e a cultura da sociedade na qual está estabelecida, pois assim como a família é o pilar da sociedade, a mediação vem em sua defesa e visa, principalmente, o seu fortalecimento. 368 No Brasil, segundo Sales (2010), a mediação na solução dos conflitos familiares é crescente, sendo bastante significativo o número de processos. Para Leite (2008), a mediação familiar se tornou uma medida de comunicação muito útil para a sociedade, a fim de melhor construir a igualdade, o equilíbrio e o direito entre os homens e as mulheres, dos quais os filhos têm tanta necessidade. 5. Conclusão Desde os primórdios da existência do homem o conflito de faz presente, mudando tão somente o grau de complexidade de acordo com a complexidade da própria coletividade. Os principais conceitos acerca do conflito o apresentam como choque entre dois ou mais indivíduos, como contraposição de suas ideias e valores, normalmente com uma intenção hostil, pois a intenção de cada um dos sujeitos conflitantes é, justamente, “vencer” o conflito, ou seja, subjugar a ideia ou a vontade de seu opositor. A presente pesquisa teve como objetivo principal a análise da mediação como forma alternativa à jurisdição na solução dos conflitos inseridos no contexto familiar, mas é importante ressaltar que este instituto pode ser aplicado aos mais variados tipos de conflitos. Por longo tempo, a única forma de solução dos conflitos foi a jurisdição. Assim, o Estado, nas vestes de Poder Judiciário, simbolizado pela deusa grega Themis – a deusa da Justiça - se investe de poder para se colocar no lugar das partes e dizer-lhes o Direito. Em outras palavras, o juiz, investido pela jurisdição, analisará as alegações de ambas as partes e ditar-lhes-á a solução. Assim, os sujeitos conflitantes buscam a esfera judicial na esperança de encontrar uma resposta à contenda por eles formulada quando a solução lhes fugiu do alcance. Contudo, a prática tem mostrado que o que parece justo ao juiz e, por consequência, ao Direito, nem sempre parece justo a um ou a ambos os envolvidos. Um exemplo claro, apesar de simplista, pode ser retratado da seguinte forma: em uma ação de divórcio com divisão de bens, existindo dois imóveis a partilhar, se as partes não acordarem sobre a destinação de cada bem, o juiz poderá, por exemplo, determinar suas vendas e, respectivamente, dividir os valores com elas auferidos. Nota-se, com frequência, nestes casos, que apesar de ser a decisão aparentemente mais “justa”, sua adoção poderá deixar ambos os conflitantes desgostosos e, muito provavelmente, queixosos e desconfiados do próprio Poder Judiciário. Situações como esta são recorrentes e, infelizmente, não raro provocam a ampliação das contendas 369 familiares, justamente por não promoverem um espaço viável de interlocução entre os envolvidos. Ao contrário: o Poder Judiciário, ao dirimir questões a ele conduzidas (familiares ou não), tem como único interesse a “solução do processo” através da aplicação do direito, o que em muito se diferencia da pretendida “solução do conflito”. Da mesma maneira que ocorre com o juiz na jurisdição, a arbitragem e a conciliação também envolvem terceiras pessoas, as quais, apesar de desinteressadas, estarão atuando diretamente na busca de soluções para o conflito, o que nem sempre promove aceitação verdadeira e comprometimento real pelos sujeitos envolvidos; é comum, por exemplo, a submissão de ao menos um dos conflitantes à opinião ou ao conselho do terceiro, principalmente quando o papel deste não é devidamente compreendido entre as partes e estas se sentem psicologicamente coagidas, oprimidas ou qualquer outro sentimento negativo. Nestes métodos, em que pese seja inegável sua importância na solução de várias contendas e no desafogamento do Poder Judiciário, não se trabalha a fonte, a origem do conflito, nem mesmo visam a aproximação dos sujeitos ou o aprimoramento de suas capacidades de diálogo. Por estas razões, pode se dizer que, sempre que possível, a melhor maneira de solucionar os conflitos – principalmente os familiares - seria através da aplicação de técnicas capazes de colocar as partes em condições de dialogar e, juntas, obter a fórmula aplicável ao caso concreto; exemplificando através da situação antes retratada, seria bem possível que (após a aplicação de técnicas comuns à mediação, dotando os sujeitos de um padrão comunicativo viável, fazendo-os exercer ambos os papéis de locutores e ouvintes) as partes identificassem, por si, uma solução bem mais proveitosa, como, por exemplo, a manutenção de um dos bens para cada um dos divorciandos, respeitadas, claro, as condições peculiares ao caso (valor, localização, utilidade, interesse das partes, etc.). Pode se dizer, então, que o diálogo e a aproximação dos sujeitos conflitantes são os reais alvos da mediação, até porque a solução do conflito surgirá como consequência natural entre pessoas que antes não conseguiam o consenso, mas com a mediação tem suas faculdades comunicativas aumentadas consideravelmente, passando a ser capazes de falar, ouvir e refletir em busca da solução mais adequada. Os ganhos, nesta seara, são incontáveis; além de evitar a condução do problema ao Poder Judiciário, o qual tem se mostrado muitas vezes incapaz de oferecer às partes a solução pretendida e, principalmente, dentro de um tempo razoável, oferece ao homem uma forma de ser agente do próprio destino, de fazer-se entender e ser compreendido através do diálogo, garantir-lhe justiça e, sobretudo, felicidade. 370 6. Referências bibliográficas ATAÍDE JÚNIOR, Vicente de Paula. Destituição do poder familiar. São Paulo: Juruá, 2009. CALMON, Petrônio. Fundamentos da mediação e da conciliação. Rio de Janeiro: Forense, 2008. CAHALI, Francisco José. Curso de arbitragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. GORCZEVSKI, Clovis. Jurisdição paraestatal: solução de conflitos com respeito à cidadania a aos direitos humanos na sociedade multicultural. Porto Alegre: Imprensa Livre, 2007. LEITE, Eduardo de Oliveira (Coord.). Mediação, arbitragem e conciliação. Rio de Janeiro: Forense, 2008. LÔBO, Paulo. Direito civil: famílias. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. MORAIS, J. L. B. de; SPENGLER, F. M. Mediação e arbitragem: alternativas à jurisdição!. 2. ed., rev. e ampl. Porto Alegre: Liv. do Advogado, 2008. RODRIGUES JÚNIOR, Walsir Edson. A prática da mediação e o acesso à justiça. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. SALES, Lilia Maia de Morais. Mediare: um guia prático para mediadores. 3. ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro, 2010. SPENGLER, Fabiana Marion. Da jurisdição à mediação: por uma outra cultura no tratamento de conflitos. Ijuí: Unijuí, 2010. 371 ______, Fabiana Marion. Tempo, direito e constituição: reflexos na prestação jurisdicional do Estado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. SILVA, João Roberto da. A mediação e o processo de mediação. São Paulo: Paulistanajur, 2004. TARTUCE, Fernanda. Mediação nos conflitos civis. São Paulo: GEN, 2008. THOMÉ, Liane Maria Busnello. Dignidade da pessoa e mediação familiar. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. VASCONCELOS, Carlos Eduardo de. Mediação de conflitos e práticas restaurativas. São Paulo: Método, 2008. VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: direito de família. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 372 A PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR DE CRÉDITO FRENTE ÀS ABUSIVIDADES DOS CONTRATOS BANCÁRIOS: DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO Maiara da Silva Fantinel96 Veridiana Maria Rehbein97 RESUMO O presente artigo trata dos contratos bancários, também chamados contratos financeiros, à luz do direto do consumidor. Mais especificamente, será analisado o dever de informação imposto aos fornecedores, dentre eles as Instituições Bancárias, eis que declaradas, pelo STF, como instituições enquadradas nesta definição. Serão, ainda, discutidas as cláusulas que o CDC define como abusivas aos direitos dos consumidores. Desta forma, será possível, em análise mais aprofundada, traçar-se a relação existente entre estas cláusulas abusivas e o descumprimento do dever de informação, imputado aos fornecedores. Assim, buscando estabelecer a conexão existente entre estes dois pontos do direito do consumidor, o presente estudo utiliza-se a metodologia de pesquisa bibliográfica que consistirá, basicamente, em uma análise da doutrina brasileira, acerca do assunto, bem como das mais recentes decisões dos Tribunais Superiores. Partindo-se do pressuposto de que o direito do consumidor é extremamente usual e cotidiano, esta pesquisa mostra-se fundamental, eis que busca esclarecer, as irregularidades contidas nos contratos financeiros, decorrentes, principalmente, da falta de conhecimento jurídico da maioria dos consumidores brasileiros. Em consequência Estudante concluinte do Curso de Direito na Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC. E-mail: [email protected]. 96 97 Mestre em Direito. Professora do Curso de Direito na Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC. 373 disto, as Instituições Bancárias têm se valido de práticas abusivas e ilegais para obter, sobre estes consumidores leigos, lucros indevidos e vinculações vantajosas. Palavras-chave: direitos; consumo; banco; informação; abusividade. 1. Introdução O Direito do Consumidor é de fundamental importância no direito contemporâneo, tendo em vista que tem por principal objetivo promover a igualdade material entre os sujeitos da relação de consumo. A partir da constatação do desequilíbrio na relação, surge a necessidade de proteção do consumidor. Neste sentido, são considerados fornecedores, de acordo com o artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), também as instituições bancárias, fazendo com que os consumidores de crédito sejam amparados pela legislação consumerista. O reflexo mais expressivo do CDC, quanto aos consumidores de crédito, é o amparo que ele exerce a estes contra as cláusulas abusivas muitas vezes contidas nos contratos bancários; eis que estes são, por natureza, contratos de adesão, nos quais o consumidor não tem a disponibilidade de contrapor as cláusulas ali previstas. A análise da licitude destas cláusulas é essencial, eis que é cediço que as instituições financeiras se valem de práticas que são abusivas para colocar-se em situação de vantagem sob seus consumidores. Estas instituições aproveitam-se da vulnerabilidade do consumidor, que não é devidamente informado sobre o serviço que está contratando, para incluir nos contratos cláusulas abusivas aos seus direitos. Assim, o presente artigo objetiva verificar a relação existente entre a abusividade das cláusulas contidas nos contratos financeiros e o descumprimento do dever de informação por parte dos fornecedores. Para tanto, será abordada, inicialmente, a natureza dos contratos financeiros e suas peculiaridades, avaliando-se a aplicabilidade do Direito do Consumidor aos contratos que envolvam outorga de crédito. Posteriormente, serão elencadas e comentadas as cláusulas que o CDC considera como abusivas aos direitos do consumidor, além de conceituar-se e discutir-se o dever de informação, imposto aos fornecedores. O tema central deste artigo, finalmente, é a análise da relação existente entre estes dois pontos do Direito do Consumidor: clausulas abusivas e o dever de informação. 374 2. Contratos bancários Para posterior análise sobre as abusividades encontradas nos contratos financeiros, é essencial a prévia definição deste tipo contratual, suas características e peculiaridades, bem como que sejam apontados os diferentes tipos de contratos bancários. No entendimento de Maria Helena Diniz (2003 b, p. 573), os contratos bancários são: Negócios jurídicos em que uma das partes é uma empresa autorizada a exercer atividades próprias de bancos. Assim, esses contratos, apesar de específicos do comércio bancários, poderão ser praticados por comerciantes não banqueiros. Se efetivados sem a participação de um banco, entrarão nos seus esquemas típicos, porém só serão operações bancárias se uma das partes for um banco. Da mesma forma entende Arnoldo Wald (1998, p. 522), que afirma, ainda, que “na prática e de acordo com a lei, só as instituições bancárias e assemelhadas é que realizam habitualmente tais contratos com seus clientes”. Por fim, Cláudia de Lima Marques (1995, p. 141) refere que “é o contrato de adesão por excelência, é uma das relações consumidor-fornecedor que mais se utiliza do método de contratação por adesão e com ‘condições gerais’ impostas e desconhecidas”. Para que possam ser definidas as instituições que podem figurar como partes predisponentes dos contratos bancários, é necessário conceituar-se o que são atividades bancárias. Desta forma, estas atividades podem ser definidas como: O exercício das funções básicas das entidades componentes do Sistema Financeiro Nacional. Estas funções básicas constituem a coleta e a intermediação ou a aplicação dos recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira. Ressalta o trato com a captação de recursos junto a terceiros e com a concessão do crédito. Estas as grandes atividades das instituições financeiras. Dedicam-se à circulação do dinheiro, arrecadando-o junto a quem faz investimentos, e aplicando-o através de várias operações, como o empréstimo, a abertura de crédito, o desconto, e os vários tipos de financiamentos. (RIZZARDO, 2004, p. 1.395) Além disso, conforme refere Arnaldo Rizzardo (2004), para que uma instituição exerça atividades bancárias é necessário o preenchimento de vários requisitos. Dentre 375 eles é possível citar a autorização governamental, a qual é expedida pelo Banco Central do Brasil – uma autarquia da União que integra o Sistema Financeiro Nacional. Desta forma, conforme já explanado, a instituição autorizada ao exercício das atividades tipicamente bancárias poderá proceder a diversas operações, como o empréstimo, desconto, abertura de crédito, financiamentos, etc. Tais contratos, tratando-se de contratos de adesão, são padronizados e massificados, ou seja, com mínima variação entre as diversas instituições. Esta padronização, conforme refere Maria Helena Diniz (2003 b, p. 574): Se deu por intervenção do Estado, por meio do Banco Central, cujas circulares e resoluções fazem com que as operações bancárias sejam praticadas de modo uniforme, pois chegam até a determinar a minuta do contrato. Assim sendo, tais formulários apresentam identidade formal, predeterminação de suas cláusulas e inflexibilidade e rigidez do seu esquema. Resta, então, demonstrada a natureza dos contratos bancários como contratos de adesão. Como é cediço, este tipo de contrato pode trazer inúmeras abusividades. Assim, com a vinda do Código de Defesa do Consumidor, este tratou de regular estas relações, fazendo valer suas garantias e prerrogativas também nos contratos bancários. 3. Aplicabilidade do Direito do Consumidor às relações bancárias Como se vê, os contratos bancários são sempre formados por um banco ou uma instituição financeira. Estas instituições, por serem na sua maioria economicamente mais fortes que os seus consumidores, começaram a utilizar-se de práticas abusivas aos direitos destes. Esse tipo de contrato ressaltou o desequilíbrio entre as partes, visto que os fornecedores, que são a parte mais forte da relação contratual, passaram a abusar do direito de livre disposição das cláusulas, afrontando os direitos do consumidor, mero aderente do contrato. Desta forma, o Código de Defesa do Consumidor, quando editado, definiu em seu artigo 3º: Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade 376 de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Este dispositivo causou profundo descontentamento nas instituições financeiras de todo país, visto que, com a inclusão dos serviços de natureza bancária sob a tutela do Código, passou-se a ter maior controle sob as cláusulas contratuais. Além disso, o princípio protecionista presente no Código de Defesa do Consumidor também passou a ser aplicado nestes contratos, causando diminuição na autonomia das instituições bancárias. Todavia, alguns doutrinadores passaram a sustentar que o CDC não poderia ser aplicado à grande parte dos contratos bancários, defendendo que “o dinheiro e o crédito não constituem produtos adquiridos ou usados pelo destinatário final, sendo ao contrário instrumentos ou meios de pagamento” (CAVALIERI FILHO, 2008, p. 175). Já observamos que a característica maior do consumidor é ser destinatário final do serviço, é utilizar o serviço para si próprio. Nesse sentido, é fácil caracterizar o consumidor como destinatário final de todos os contratos de depósito, de poupança, e de investimento que firmar com os bancos. A dificuldade está na caracterização do consumidor, nos contratos de empréstimo, onde há uma obrigação de dar, de fornecer o dinheiro, que é bem juridicamente consumível. Nestes casos a pessoa é destinatária final fática, mas pode não ser a destinatária final econômica. (MARQUES, 1995, p. 141, grifo no original) Nelson Nery Júnior (1991, apud RIZZARDO, 2000, p. 25), compartilhava desta linha de pensamento, acrescentando ainda: Havendo outorga do dinheiro ou do crédito para que o devedor o utilize como destinatário final, há a relação de consumo que enseja a aplicação dos dispositivos do CDC. Caso o devedor tome dinheiro ou crédito emprestado do banco para repassá-lo, não será destinatário final e, portanto não há que se falar em relação de consumo. 377 Cláudia Lima Marques (1995, p. 141), uma das defensoras da chamada teoria finalista aprofundada, tratou de esclarecer as possibilidades de equiparação do sujeito ao destinatário final: Observamos, porém, que o sistema do CDC é um sistema aberto, que trabalha com a técnica de equiparação de pessoas à situação de consumidor quando se constatar o desequilíbrio contratual e a vulnerabilidade (técnica, jurídica, ou fática) da pessoa que contrata com o fornecedor. Porém, nestes casos a autora acreditava que a vulnerabilidade deveria ser declarada por decisão do judiciário, não sendo presumida neste tipo de contrato. Assim, não havendo declaração neste sentido, seria aplicado, a estes contratos, o direito comum. Todavia, nem toda a doutrina posicionava-se desta maneira. Arnaldo Rizzardo, (2000), diferentemente dos doutrinadores acima citados, defendia que o déficit informacional violava o princípio da autonomia da vontade nos contratos de crédito, que se reduzia à mera aceitação do aderente a totalidade do contrato, restando evidente a hipossuficiência deste; eis que era obrigado a aceitar cláusulas aleatórias, abusivas e unilaterais. Além disso, o eminente Ministro do Superior Tribunal de Justiça, José Augusto Delgado (1996, apud CAVALIERI FILHO, 2008, p. 176), analisando argumentos da corrente que defendia a inaplicabilidade do CDC à determinadas atividades bancárias, manifestou-se nos seguintes termos: Não me permito empregar qualquer interpretação restritiva aos dispositivos legais que compõe o Código de Proteção ao Consumidor, pelo fato de que ele tem por finalidade tornar efetiva uma garantia constitucional. A expressão natureza bancária, financeira e de crédito, contida no § 2º do art. 3º, não comporta que se afirme referir-se, apenas, a determinadas operações de crédito ao consumidor. Se a vontade do legislador fosse essa, ele teria explicitamente feito a restrição, que, se existisse, daria ensejo a se analisar da sua ruptura com os ditames da Carta Magna sobre o tema. (Grifo no original) Foi nesse sentido, então, que passou a decidir o STJ sobre as questões que envolviam aplicação do CDC aos contratos bancários, conforme se verifica no julgado a seguir, do ano de 2001: Direito comercial e econômico. Recurso especial. Alienação fiduciária. CDC. Aplicabilidade. Juros. Limitação. Cédula de Crédito Industrial. Capitalização. 378 A atividade bancária de conceder financiamento e obter garantia mediante alienação fiduciária sujeita-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, no que couber, convivendo este estatuto harmoniosamente com a disciplina do Decreto-lei nº 911/69. Às cédulas de crédito comercial aplica-se a limitação de 12% ao ano prevista na Lei de Usura. Se a pretensão do recorrente quanto a capitalização mensal dos juros depende da análise das cláusulas contratuais para atestar sua estipulação, inviável se afigura o Recurso Especial. REsp n° 323986/RS, Rel. Ministro NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2001, DJ 01/10/2001, p. 45. Assim, criou-se a polêmica sobre a inconstitucionalidade da norma que incluía no gênero “fornecedor” a espécie “fornecedor de crédito”. A famosa ação direta de inconstitucionalidade n° 2591, proposta em 2001 pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro (CONSIF), propunha o seguinte: [...] assim, está em causa a qualificação das atividades de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária como serviço, para efeito de sobre elas incidir o Código de Defesa do Consumidor, alegando a autora que haveria, na espécie, afronta ao disposto no art. 192 da Constituição de 1988, o qual exigiria que a matéria, supostamente integrante do Sistema Financeiro Nacional, fosse veiculada em lei complementar, bem como violação ao cânone da razoabilidade, extraído do art. 5º, LIV, também da Carta Republicana. (2006)98 Em outros termos, a ação pretendia a declaração de inaplicabilidade do CDC às cadernetas de poupança, aos depósitos bancários, aos contratos de mútuo, aos contratos de utilização de cartões de crédito, aos contratos de seguros, aos contratos de abertura de crédito e todas as demais atividades bancárias, alegando-se ofensa ao artigo 192 da Constituição Federal (CAVALIERI FILHO, 2008). Em 2004, entretanto, foi editada a súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça, que disciplinava a aplicação do CDC aos contratos financeiros e de outorga de crédito, referindo apenas que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 98 Disponível em http://www.agu.gov.br/upload/docs/spc/INTER_BRASILIA/Memorial Bancos.pdf. 379 Quanto à ADIN 2591, felizmente foi julgada improcedente em 2006, por maioria de nove votos a dois, sendo desacolhido o pedido da Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CONSIF), tendo o Supremo Tribunal Federal reconhecido a aplicação do CDC às relações de consumo de crédito, cessando assim a discussão em torno do assunto (MORAIS, BERNARDINO, 2010). Assim, não há mais o que se discutir sobre a tutela do CDC aos consumidores aderentes dos contratos financeiros, havendo a aplicação das normas consumeristas a este tipo de contrato, o que, sem dúvida, representa a efetividade da proteção do consumidor, parte mais vulnerável dos contratos bancários. 4. O dever de informação e as abusividades nos contratos bancários Após analisados os contratos bancários e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a estes, passa-se ao tema central da presente pesquisa. Como é cediço, os contratos bancários, por tratarem-se de contratos de adesão, desta forma não possuem negociação prévia e não raro trazem cláusulas abusivas aos direitos dos consumidores. Assim, desde o surgimento do Código de Defesa do Consumidor, tenta-se coibir as práticas abusivas, seja por meio do Poder Judiciário ou mesmo através de organizações e associações que defendem os direitos do consumidor. O movimento consumerista sempre se caracterizou pelas revoltas contra as prática abusivas dos comerciantes e dos fabricantes, consideradas como aviltadoras das dignidades e dos direitos pessoais dos consumidores. (GAMA, 1999, p. 02) Não obstante, estes contratos não apresentam abusividades apenas nas suas cláusulas analisadas isoladamente. Existem outros tipos de situações que geram abusividades aos direitos dos consumidores e que, no entanto, ainda não mereceram a devida atenção por parte da jurisprudência. Desta forma, serão abordadas as diferentes formas de abusividades existentes nos contratos bancários, nos quais a parte economicamente mais forte – os bancos – aproveita-se da hipossuficiência e vulnerabilidade dos consumidores para a obtenção de vantagens. 380 4.1 As cláusula abusivas aos direitos do consumidor aplicáveis aos contratos bancários São consideradas abusivas as cláusulas contratuais que ferem os direitos inerentes aos consumidores. Desta forma, o artigo 51 do CDC elencou as cláusulas que são nulas de pleno direito, por trazerem benefícios apenas ao fornecedor e, por esse motivo, colocarem o consumidor em situação de extrema desvantagem. Entretanto, este rol não é taxativo, existindo outras cláusulas que, apesar de não estarem elencadas neste artigo, podem ser consideradas, por decisão judicial, abusivas aos direitos do consumidor, o que se nota na expressão “entre outras”, constante no caput do artigo 51 do CDC. É costume definir-se as nulidades com algumas características que lhes seriam próprias. Assim, seriam elas insanáveis e irratificáveis (artigo 146, parágrafo único, do Código Civil); alegáveis por qualquer interessado (artigo 146, caput do Código Civil); decretáveis de ofício (artigo 146, parágrafo único, do Código Civil); dispensam ação específica, podendo ser decretadas incidenter tantum (artigo 146, parágrafo único, do Código Civil); imprescritíveis; e sem efeito. (BONATTO, 2001, p. 38, grifo no original) Desta forma, cabe destacar quais são as cláusulas que o Código de Defesa do Consumidor considera abusivas e, portanto, nulas de pleno direito, que podem ser aplicadas aos contratos financeiros: a) Cláusulas de exoneração da responsabilidade do fornecedor Esta nulidade advém do princípio da irrenunciabilidade de direitos, o qual preceitua que, mesmo querendo, o consumidor não poderá, jamais, renunciar a um direito que a lei lhe assegura. Significa que a lei nunca poderá ser afastada do contrato, ainda que por vontade dos contratantes. Esta nulidade é relativa, podendo o fornecedor, em relações de consumo entre este e uma pessoa jurídica, exonerar-se, desde que a situação seja justificável. b) Cláusula de subtração da opção de reembolso de quantias já pagas O CDC, em diversas oportunidades, garante aos consumidores o direito ao reembolso de quantia que já foi paga. Por esta razão, tanto o artigo 51, em seu inciso 381 II, quanto o artigo 53 do CDC consideram nulas estas cláusulas, eis que contrariam os preceitos consumeristas. c) Cláusula de transferência de responsabilidades a terceiros O fornecedor dos produtos ou serviços é responsável pelos danos causados por estes, não havendo possibilidade de transferência dessa responsabilidade a outrem. Esta transferência “configura um desequilíbrio e a consequente quebra da harmonia que deve prevalecer nas relações de consumo, eis que dificulta ao consumidor a obtenção do direito a que faz jus”, conforme explica Cláudio Bonatto (2001). Desta forma o artigo 51, em seu inciso III, proíbe que sejam incluídas estas cláusulas de transferência da responsabilidade do fornecedor a terceiros nos contratos. d) Cláusulas incompatíveis com a boa-fé A boa-fé é um princípio atinente aos contratos, devendo ser observada sempre. Desta forma, qualquer cláusula que coloque o consumidor em desvantagem fere o princípio da boa-fé contratual. Sendo assim, uma cláusula que visa exclusivamente os lucros ou benefícios do fornecedor é nula de pleno direito. e) Cláusula de inversão prejudicial ao consumidor do ônus da prova O CDC define que, não havendo a possibilidade de o consumidor provar uma lesão ao seu direito, havendo, assim, efetiva hipossuficiência deste, cabe ao fornecedor, pela figura da inversão do ônus da prova, provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor. Sendo assim, é nula de pleno direito a cláusula que limita a defesa do consumidor; eis que este, muitas vezes, não possui os recursos necessários para defender-se em juízo. Desta forma, nos contratos financeiros, deve-se sempre haver a possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos no CDC. f ) Cláusula de utilização compulsória de arbitragem A cláusula que prevê a utilização compulsória de arbitragem é nula de pleno direito, visto que o ordenamento jurídico pátrio afirma que a defesa do consumidor será promovida pelo Estado, sendo um garantia fundamental da pessoa, prevista no artigo 5º, inciso XXXII, da Constituição Federal. g) Cláusula de representante imposto 382 A origem desta proibição do CDC à imposição de representante, que se vislumbra pela figura do mandato, surgiu, conforme explica Cláudio Bonatto (2001, p. 96), pela utilização deturpada deste tipo de cláusula, visto que esta utilização agride princípios atinentes à transparência e confiança, aplicáveis aos direitos do consumidor. h) Cláusula de opção exclusiva à conclusão do contrato O CDC proíbe práticas que prevejam direitos apenas a uma das partes contratantes. Desta forma, não pode o fornecedor, por proibição expressa do artigo 51, inciso IX, obrigar o consumidor a concluir o contrato, quando ainda pendente este, não sendo prevista a mesma imposição ao fornecedor. Esta proibição se dá, inclusive, em contratos firmados entre iguais, por vedação expressa do artigo 115 do Código Civil, pois é considerada potestativa, quando aplicada somente a um dos contratantes. i) Cláusula de variação unilateral do preço Esta vedação baseia-se na manutenção da harmonia e equilíbrio que deve prevalecer nos contratos, conforme assegura o artigo 4º do CDC. Desta forma, não pode o fornecedor, sem o consentimento do consumidor, alterar o preço do produto, eis que este fora anteriormente acordado entre as partes. j) Cláusula de cancelamento unilateral do contrato Levando-se em consideração o exposto no item “h” deste capítulo, o CDC não autoriza que sejam conferidos direito a uma parte, sem que haja previsão do mesmo direito a outra parte. Assim, não pode o contrato prever que somente o fornecedor possa cancelar o contrato sem a aprovação da outra parte, se igual direito não for concedido ao consumidor. k) Cláusula de ressarcimento unilateral de custos de cobrança Conforme exposto no item anterior, o CDC proíbe práticas que beneficiem apenas uma das partes contratantes. Desta forma, se o fornecedor puder cobrar do consumidor os custos de cobrança de sua obrigação, também deverá haver previsão deste direito ao consumidor, principalmente por ser esta a parte mais vulnerável do contrato. l) Cláusula de modificação unilateral do conteúdo do contrato Conforme destaca Cláudio Bonatto (2001), a doutrina clássica reconhece como princípios gerais do contrato a autonomia de vontade, o consensualismo, a igualdade, 383 a obrigatoriedade, a intangibilidade, a inalterabilidade, a relatividade dos efeitos e a boa-fé. Desta forma, a formação do contrato observa a concessão de oportunidades idênticas às partes. Sendo assim, torna-se nula de pleno direito a cláusula que permite ao fornecedor alterar o contrato sem o consentimento do consumidor, eis que tal procedimento fere o princípio da inalterabilidade. m) Cláusula em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor Existem dúvidas acerca do alcance que esta norma teria. Impõe-se questionar se “sistema de proteção ao consumidor” refere-se apenas ao CDC, ou se esta definição engloba todo o ordenamento jurídico que vêm de modo a proteger os direitos do consumidor. Segundo Cláudio Bonatto (2001, p. 64), conclui-se que: [...] a expressão “sistema de proteção ao consumidor” engloba conceito mais amplo do que o de um Código de Proteção ao consumidor. Destarte, incluem-se no “sistema de proteção do consumidor” as disposições legais de proteção do consumidor em sentido estrito, bem como as relativas à proteção indireta do consumidor, constantes em várias leis que tutelam seus direitos ou interesses. (Grifo no original) Deste modo, devemos considerar como “sistema de proteção ao consumidor” toda e qualquer norma, expressa por lei, decreto ou códigos, que venha em benefício do consumidor. 4.2 O dever de informação – um reflexo do princípio da transparência O dever de informação é um reflexo do princípio consumerista da transparência das relações de consumo, como define Sergio Cavalieri Filho (2008, p. 83). Este princípio, elencado no artigo 4º do CDC, orienta o dever do fornecedor de informar ao consumidor todos os dados e características do serviço ou produto que este adquire. O artigo 6º, inciso III, do CDC, prevê como direito básico do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”. Assim, este dever representar verdadeiro ônus aos fornecedores e assume uma posição relevante que instrumentaliza a defesa do consumidor (ALMEIDA, 2002). 384 Com efeito, o consumidor não tem conhecimento algum sobre o produto ou serviço que necessita; detentor desse conhecimento é o fornecedor que tem o domínio do processo produtivo. Este sim sabe o que produziu, como produziu, por que e para quem produziu, aspectos em que o consumidor é absolutamente vulnerável. Logo a informação torna-se imprescindível para colocar o consumidor em posição de igualdade. (CAVALIERI FILHO, 2008, p. 83) Reconhecida a vulnerabilidade do consumidor, a igualdade que o CDC busca com este dispositivo é a igualdade material. Impõe-se, assim, aos fornecedores, o compromisso com a verdade, que demonstra maior fidelidade à boa-fé, princípio básico das relações contratuais e de consumo. Como lembra Cláudia de Lima Marques (1995), a prestação destas informações ao consumidor pode ter como instrumento a embalagem do produto, os impressos que servem de divulgação do produto ou serviço, ou ainda a publicidade veiculada na televisão ou qualquer outro meio de comunicação, que deve conter informações verdadeiras e claras. Tratando-se das relações de consumo contratuais, como é o caso do consumo de crédito, existe a imposição da informação correta das cláusulas contidas no contrato como pressuposto de validade do mesmo, conforme se verifica na leitura do artigo 46 do CDC: Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance. Este dispositivo demonstra claramente a intenção do legislador de condicionar a validade do contrato à boa-fé das institições financeiras, que têm o dever de orientar corretamente o consumidor sobre os ônus que este assume aderindo ao contrato. Assim nasce o dever das instituições de agir com boa-fé na elaboração do contrato, sob pena de não obrigatoriedade deste. Estes deveres de conduta que acompanham as relações contratuais vão ser denominados de deveres anexos (“Nebenpfichten”), deveres que nasceram da observação da jurisprudência alemã ao visualizar que o contrato, enquanto fonte imanente de conflitos de interesses, deveria ser guiado e, mais ainda, guiar a atuação dos contraentes conforme o princípio da boa-fé nas relações. Dever 385 aqui significa a sujeição a uma determinada conduta, sujeição esta acompanhada de uma sanção em caso de descumprimento. (MARQUES, 1995, p. 82, grifo no original) Outro aspecto que se entende da leitura do artigo 46 do CDC é que resta proibido que o contrato seja redigido de modo a dificultar a leitura e o entendimento do consumidor. Assim, contratos que forem redigidos com caracteres minúsculos demonstram clara afronta a esta norma, eis que estes passam despercebidos quando da leitura do contrato. Além disso, outra grande dificuldade que o consumidor encontra no momento de firmar o contrato é a linguagem contida nestes, que é muito técnica, sendo muito difícil a compreensão pela pessoa que é leiga no assunto. Em razão disso, a linguagem do contrato deve ser simples, evitando-se o uso de expressões que sejam extremamente técnicas, de modo que qualquer consumidor possa entender o contrato em todos os seus termos (MORAIS, BERNARDINO, 2010). Estas práticas ilegais resultam no vício de consentimento do consumidor que, sem a informação necessária, opta por contratar um serviço que se torna excessivamente oneroso, ou ainda que o coloque em situação de desvantagem em relação à instituição bancária. Assim, estas normas consumeristas buscam fazer com que o consumidor, no momento da contratação, tenha informações suficientes, e acima de tudo reais, sobre o serviço, para que sua escolha seja consciente e livre destes vícios. Desta forma, tratando-se de instituições bancárias, é necessário que a instituição forneça ao consumidor todas as informações necessárias, explicando a ele o teor do contrato, de maneira que este entenda as cláusulas a que está aderindo. Cumpre-se o dever de informar quando a informação recebida pelo consumidor preenche três requisitos principais: a adequação – os meios de informação devem ser compatíveis com os riscos do produto ou do serviço e seu destinatário; a suficiência – a informação deve ser completa e integral; veracidade – além de completa, a informação deve ser verdadeira, real. (CAVALIERI FILHO, 2008, p. 83) Entretanto, sabe-se que isto não ocorre nas instituições financeiras, pois se deve levar em consideração que informar é muito mais que fornecer o contrato ao consumidor. Desta forma, as instituições bancárias usam-se destes artifícios para inserir no contrato cláusulas que trazem benefícios exclusivamente a elas, colocando-se em situação de vantagem sobre o consumidor. 386 Por este motivo é que se torna tão importante o dever de informação dos fornecedores, para evitar que o consumidor seja influenciado a contratar um serviço que lhe traz mais ônus que benefícios. Assim, visando evitar, ou ao menos diminuir, casos em que o consumidor seja prejudicado em virtude da omissão da informação, o artigo 47 do CDC estipula que “as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”. Para Luiz Antonio Rizzato Nunes (2009), esta cláusula decorre do princípio do protecionismo, que é um dos princípios gerais da atividade econômica. Assim, vige o princípio da interpretatio contra stipulatore, mas de forma mais ampla. Com efeito, com base nesse princípio, nos contratos de adesão, havendo cláusulas ambíguas, vagas ou contraditórias, a intepretação se faz contra o estipulante. Contudo, na lei consumerista esse princípio veio estampado de maneira mais ampla no art. 47, que estabeleceu que as “cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”. Isto é, toda e qualquer cláusula, ambígua ou não, tem de ser interpretada de modo mais favorável ao consumidor. (NUNES, 2009, p. 637, grifo no original) Assim, pode-se dizer que a exigibilidade da boa-fé e da informação precisa nos contratos é a limitadora das práticas abusivas aos direitos do consumidor, pois nota-se que a liberdade de contratar do consumidor, parte extremamente vulnerável falando-se em contratos de adesão, está cada vez menor, não havendo possibilidades do consumidor contrapor as cláusulas, que já estão pré-dispostas no contrato. 4.3 O superendividamento como reflexo do descumprimento do dever de informar Deve-se atentar ao fato de que a ausência de informações corretas aos consumidores no momento da contratação, reputa a outro problema gravíssimo na sociedade brasileira atualmente: o superendividamento. Entende boa parte da doutrina, que os contratos de crédito são grandes causadores do superendividamento dos consumidores. Neste sentido, Clarissa Costa de Lima e Karen Rick Danilevicz Bertoncello (2010, p. 25) referem que “a penetração do crédito ao consumo e o hábito de recorrer ao crédito trouxe consigo o crescente endividamento dos consumidores e de suas famílias”. 387 Existem, então, três fatores que contribuem para superendividamento: a facilidade de acesso ao crédito, a vulnerabilidade dos consumidores e a cobrança abusiva de juros e taxas bancárias. A ausência de um regime formal de tratamento dos casos de superendividamento impede que eles sejam detectados de forma sistemática, o que explica a ausência de dados oficiais acerca do número de pessoas ou núcleos familiares superendividados. É certo, porém, que assistimos atualmente no Brasil a uma liberação nunca antes vista do crédito, semelhante ao que ocorreu na Europa e nos Estados Unidos nas décadas de 70 e 80, com forte apelo publicitário, sobretudo, a segmentos mais vulneráveis da população, notadamente os aposentados, o que os torna, sem dúvida, suscetíveis ao endividamento excessivo e irrefletido. (LIMA,C.C; BERTONCELLO, K. R. D., grifo próprio) Todavia, um projeto de lei que alteraria e incluiria dispositivos ao Código de Defesa do Consumidor está atualmente tramitando no Senado Federal. Este projeto traz alterações significativas quanto ao superendividamento, apontando novas obrigações e restrições às instituições financeiras. Assim, em seu Capítulo VI – Seção IV, o Código de Defesa do Consumidor poderá passar a prever diversos mecanismos que buscam a prevenção do superendividamento, conforme artigo 54-A desta proposta: Art. 54-A Esta seção tem a finalidade de prevenir o superendividamento da pessoa física, promover o acesso ao crédito responsável e à educação financeira do consumidor, de forma a evitar a sua exclusão social e o comprometimento de seu mínimo existencial, sempre com base nos princípios da boa-fé, da função social do crédito ao consumidor e do respeito à dignidade da pessoa humana. Percebe-se que a ideia de prevenção ao superendividamento fundamenta-se no acesso responsável ao crédito. Os juristas que desenvolveram os estudos que deram origem a proposta de revisão do Código de Defesa do Consumidor, identificaram que o grave problema de inadimplência nos contratos de crédito está relacionado ao modo de seu fornecimento. Com efeito, uma das mudanças propostas por este projeto de lei refere-se a proibição das instituições de utilizarem-se de publicidades 388 que façam referência a crédito “sem juros”, “gratuito”, “sem acréscimo”, com “taxa zero” ou expressão de sentido ou entendimento semelhante, nos termos no inciso II, §4º do artigo 54-B. Além deste dispositivo, em relação à oferta de crédito o projeto também prevê: § 3º Sem prejuízo do disposto no art. 37, a publicidade de crédito ao consumidor e de vendas a prazo deve indicar, no mínimo, o custo efetivo total, o agente financiador e a soma total a pagar, com e sem financiamento. § 4º É vedado, expressa ou implicitamente, na oferta de crédito ao consumidor, publicitária ou não: I – formular preço para pagamento a prazo idêntico ao pagamento à vista; II – fazer referência a crédito “sem juros”, “gratuito”, “sem acréscimo”, com “taxa zero” ou expressão de sentido ou entendimento semelhante; III – indicar que uma operação de crédito poderá ser concluída sem consulta a serviços de proteção ao crédito ou sem avaliação da situação financeira do consumidor; IV – ocultar, por qualquer forma, os ônus e riscos da contratação do crédito, dificultar sua compreensão ou estimular o endividamento do consumidor, em especial se idoso ou adolescente. Estes dispositivos visam evitar que os consumidores venham a superendividar-se em razão de publicidades que ocultem riscos na contratação ou que ofereçam crédito fácil ao consumidor, situações que conduzem ao superendividamento. Neste sentido, é importante destacar que a restrição à publicidade, tratando-se de contratos de crédito, contribui para a correta informação, eis que o consumidor procura a própria agência, a fim de firmar um contrato, não gerando expectativas irreais sobre as forma e condições de pagamento. Além disso, este projeto prevê a implementação do “crédito responsável”, que obriga os fornecedores a informar e aconselhar os consumidores, avaliando as condições deste de honrar com as dívidas, sob pena de redução dos juros, conforme refere o artigo 54-C deste projeto, in verbis: Art. 54-C. Sem prejuízo do disposto no art. 46, no fornecimento de crédito, previamente à contratação, o fornecedor ou o intermediário devem, entre outras condutas: 389 I – esclarecer, aconselhar e advertir adequadamente o consumidor sobre a natureza e a modalidade do crédito oferecido, assim como sobre as consequências genéricas e específicas do inadimplemento; II – avaliar de forma responsável e leal as condições do consumidor de pagar a dívida contratada, mediante solicitação da documentação necessária e das informações disponíveis em bancos de dados de proteção ao crédito, observado o disposto neste Código e na legislação sobre proteção de dados; III – informar a identidade do agente financiador e entregar ao consumidor, ao garante e a outros coobrigados uma cópia do contrato de crédito. § 1º A prova do cumprimento dos deveres previstos neste Código incumbe ao fornecedor e ao intermediário do crédito. § 2º O descumprimento de qualquer dos deveres previstos no caput deste artigo, no art. 52 e no art. 54-B, acarreta a inexigibilidade ou a redução dos juros, encargos, ou qualquer acréscimo ao principal, conforme a gravidade da conduta do fornecedor e as possibilidades financeiras do consumidor, sem prejuízo de outras sanções e da indenização por perdas e danos, patrimoniais e morais, ao consumidor. Outra inovação trazida é a vedação do “assédio de consumo”, que é definido pelo inciso IV do artigo 54-F, in verbis: IV – assediar ou pressionar o consumidor, principalmente se idoso, analfabeto, doente ou em estado de vulnerabilidade agravada, para contratar o fornecimento de produto, serviço ou crédito, em especial à distância, por meio eletrônico ou por telefone, ou se envolver prêmio. Como se vê, este dispositivo busca proteger aqueles consumidores que encontram-se e estado de maior vulnerabilidade de serem convencidos a fazerem negócios financeiros que não lhes seja benéfico ou que lhes possam superendividar. Assim, bem se visualiza que a relação existente entre ambos os pontos anteriormente abordados e o superendividamento de consumidores. Desta forma, o projeto de lei supramencionado busca prevenir o superendividamento, buscando maneiras de coibir atuações que não seja dotadas de responsabilidade no consumo. 390 4.4 As abusidades decorrentes do descumprimento do dever de informação nos contratos bancários Após a análise das cláusulas contratuais abusivas aos direitos do consumidor, da conceituação do dever de informar dos fornecedores e do superendividamento decorrente da cominação destes dois fatores, passa-se a uma análise da relação existente entre ambos os assuntos. Com efeito, cabe, inicialmente, ressaltar que a abusividade não está presente apenas na inclusão de umas das cláusulas contratuais elencadas no artigo 51 do CDC. Observa-se, também, a presença da abusividade no âmbito contratual bancário e tratando-se da tutela consumerista, quando o consumidor, mero aderente da relação, não é devidamente informado e advertido do teor do contrato, bem como do ônus e bônus que este traz. Além disso, pode também ser considerada abusiva a cobrança não prevista no contrato. Isto ocorre quando as instituições bancárias cobram juros ou taxas que não foram previamente ajustadas entre as partes. Exemplo disso é a cobrança de juros remuneratórios, juros moratórios, ou qualquer outra tarifa que não está prevista expressamente no contrato firmado entre a instituição e o consumidor. É neste sentido que têm se manifestados os Tribunais, asseverando a abusividade da cobrança destas taxa e juros não previstos nos contratos: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. Preliminar. Sentença Extra Petita. JUROS REMUNERATÓRIOS. Sentença que revisa cláusula que trata dos juros remuneratórios sem que tal pretensão tenha sido requerida pela parte autora é extra petita. Trata-se de nulidade sanável e, nesta hipótese, o Tribunal, «sempre que possível prosseguirá o julgamento da apelação» (art. 515, § 4º, do CPC), deixa-se de declarar a nulidade da decisão a quo, cabendo a sua adequação aos limites da lide. Preliminar acolhida. Ponto comum. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. A capitalização de juros somente pode ser admitida mediante expressa disposição legal e desde que devidamente pactuada, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e do direito do consumidor à informação (arts. 6º, inc. III, 46 e 54, § 3º, do CDC). Ausência de cláusula expressa. Impossibilidade de incidência em qualquer periodicidade. Apelação da parte ré. JUROS REMUNERATÓRIOS. Prejudicado diante do acolhimento da preliminar. MULTA DE MORA. 391 COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DO INDEBITO. Ausência de interesse recursal. Tópicos não conhecidos. Recurso adesivo. MORA. Diante do reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos, resta descaracterizada a mora, até o recálculo do débito. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDA. Apelação Cível Nº 70045463783, Rel. Ministro ALTAIR DE LEMOS JUNIOR, SEGUNDA CÂMARA ESPECIAL CÍVEL, julgado em 25/04/2012, DJ 27/04/2012, p. 137. (Grifo no original). (Grifo próprio) O julgado acima apenas reforça que, nos contratos de adesão (neste caso, um contrato bancário), a boa-fé é requisito de validade das cláusulas contratuais. No caso em tela, fora declarada a nulidade da capitalização de juros, eis que não havia, no contrato, previsão expressa de tal cobrança. Assim, não houve por parte do banco a observação dos artigos 6º, 46 e 54 do CDC, tendo esta instituição se valido de práticas que violaram o direito à informação do consumidor, que não tinha conhecimento da referida cobrança, bem como não agiu a instituição com boa-fé, cobrando taxas inexistentes no contrato firmado entre as partes. Outro julgado semelhante, porém do Superior Tribunal de Justiça, demonstra a vedação de capitalização mensal de juros, quando não previstas no contrato: AGRAVOS REGIMENTAIS. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7 DESTA CORTE. JUROS. LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO. IOF DILUÍDO NAS PRESTAÇÕES. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LEGALIDADE. 1.- Tendo o acórdão reconhecido a ausência de expressa pactuação a respeito da capitalização mensal de juros, não há como acolher a pretensão do banco recorrente, ante o óbice das Súmulas 05 e 07 do Superior Tribunal de Justiça. 2.- Os juros pactuados em taxa superior a 12% ao ano não são considerados abusivos, exceto quando comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado, após vencida a obrigação, hipótese não ocorrida nos autos. 3.- Conforme entendimento das Turmas que compõem a Segunda Seção deste Tribunal, no mesmo passo dos juros remuneratórios, “em relação à cobrança das tarifas de abertura de crédito, emissão de boleto bancário e IOF financiado, há 392 que ser demonstrada de forma objetiva e cabal a vantagem exagerada extraída por parte do recorrente que redundaria no desequilíbrio da relação jurídica, e por consequência, na ilegalidade da sua cobrança” (AgRg no REsp 1.003.911/ RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 11.2.2010). 4.- É admitida a cobrança da comissão de permanência no período da inadimplência nos contratos bancários, à taxa de mercado, desde que (i) pactuada, (ii) cobrada de forma exclusiva - ou seja, não cumulada com outros encargos moratórios, remuneratórios ou correção monetária - e (iii) que não supere a soma dos seguintes encargos: taxa de juros remuneratórios pactuada para a vigência do contrato; juros de mora; e multa contratual. 5.- Agravos Regimentais improvidos. AgRg no REsp 1301560 / RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJ 05/06/2012, p. 37. (Grifo no original). (Grifo próprio) O problema, no entanto, não reside na declaração da abusividade deste tipo de cobrança, eis que devidamente reconhecida pelos tribunais brasileiros. Maior problema enfrentam os consumidores que, desavisados do conteúdo do contrato e leigos, de modo que não entendem a linguagem técnica dos contratos, são prejudicados em razão da falta de prestação da informação, pelas instituições bancárias, no momento da formação do contrato. A jurisprudência, em alguns casos, aceita que a desatenção ao dever de informar, por falha do fornecedor na prestação das informações necessárias sobre o contrato, gera direito de reparação ao consumidor. Neste sentido segue decisão da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Consoante dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. DANO MORAL IN RE IPSA. Inexige prova de prejuízo material ou de constatação de abalo psicológico sofrido pela vítima. A prova é in re ipsa, ou seja, 393 “ínsita na própria coisa”. A caracterização desta espécie de dano está na violação de um direito, de um interesse jurídico tutelado material ou moralmente, não dependendo do sentimento negativo consequente, o qual deverá ser considerado quando da quantificação do dano. A simples inscrição indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito basta à configuração do dever de indenizar, pois é capaz de afetar, presumidamente, sua dignidade, assim como sua honra, tanto subjetiva como objetiva. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO DE TERCEIRO. Atuação de terceiro de má-fé, não elide responsabilidade de indenizar consumidor lesado. É possível responsabilizar instituição financeira por ato de falsário. Não enseja exclusão de responsabilidade o fato de ter sido vítima de fraude perpetrada por falsário, uma vez não comprovada a culpa exclusiva deste ou do consumidor. QUANTUM INDENIZATÓRIO. O valor da indenização deve observar princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; não há de se permitir o enriquecimento sem causa ou representar vantagem exagerada ao lesado; tampouco ser ínfima a ponto de perder o aspecto expiatório frente ao réu. Devem ser consideradas as condições socioeconômicas da vítima e do agressor, objetivando-se o ressarcimento justo e o cumprimento do caráter pedagógico-punitivo da medida. Dano moral asseverado, no caso concreto, diante das condições pessoais do autor e renitência da instituição financeira. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. Apelação Cível Nº 70039457536, Rel. Ministra LAURA LOUZADA JACCOTTET, PRIMEIRA CÂMARA ESPECIAL CÍVEL, julgado em 19/04/2011, DJ 02/05/2011, p. 49. (Grifo no original). (Grifo próprio) Todavia, tal situação não tem o destaque merecido nos tribunais. Conforme a jurisprudência aponta, atualmente muitos julgadores não atentam a não ocorrência da prestação da correta informação sobre os itens do contrato no momento da contratação, voltando-se apenas à questão formal do contrato. Deve-se destacar que a prova da inocorrência da informação correta não é tarefa fácil, tendo em vista que a lei não possui mecanismos, atualmente, que possam ajudar na demonstração da inocorrência da prestação das informações. Neste sentido, demonstra o julgado abaixo, que reputa a não comprovação desta omissão: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RECONHECIDA A LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BAN- 394 CO INTEGRANTE DO CONGLOMERADO AO QUAL TAMBÉM FAZ PARTE A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FALHA DO DEVER ANEXO DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS A SEREM REPARADOS. RESCISÃO DO CONTRATO MANTIDA. RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PAGAS A SER REALIZADA DE ACORDO COM O PREVISTO NAS CLÁUSULAS GERAIS E NA LEI N. 11.795/08. APELO PROVIDO. UNÂNIME. Apelação Cível Nº 70045380276, Rel. Ministra BERNADETE COUTINHO FRIEDRICH, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, julgado em 22/03/2012, DJ 04/04/2012, p. 80. (Grifo no original). (Grifo próprio) Assim, denota-se que atualmente a matéria não tem o destaque que deveria ter, fazendo com que as instituições bancárias se beneficiem, cobrando de seus correntistas taxa e tarifas que o consumidor nem sabe quer aderiu, visto o descumprimento do dever de informar. Contudo, conforme referido no item anterior, existe, atualmente, um projeto de lei que tramita no Senado Federal que propõe alterações no Código de Defesa do Consumidor. Assim, relativamente ao dever de informar imposto aos fornecedores, este projeto dispõe, em seu artigo 54-C, § 1°: Art. 54-C. Sem prejuízo do disposto no art. 46, no fornecimento de crédito, previamente à contratação, o fornecedor ou o intermediário devem, entre outras condutas: I – esclarecer, aconselhar e advertir adequadamente o consumidor sobre a natureza e a modalidade do crédito oferecido, assim como sobre as consequências genéricas e específicas do inadimplemento; § 1º A prova do cumprimento dos deveres previstos neste Código incumbe ao fornecedor e ao intermediário do crédito. (Grifo próprio) Caso tal projeto de lei venha a ser aprovado, este poderá, de maneira eficaz, garantir que os consumidores vejam efetivado este direito conquistado em decorrência do próprio Código de Defesa do Consumidor. Outrossim, em decorrência de eventual aprovação do projeto de lei, poderão os consumidores reclamar em juízo prejuízos suportados em razão do descumprimento deste preceito, o que poderá refletir em condenações às instituições financeiras que vierem a descumprir tal imposição legal. 395 5. Conclusão Com a presente pesquisa, foi possível analisar o direito do consumidor, como um todo, o seu surgimento e a relação de consumo, bem como os contratos bancários, que são essencialmente contratos de adesão, com suas especificidades, bem como algumas das abusividades que este tipo de contratos contém, focando-se, principalmente, no dever de informação, atribuído aos fornecedores. Conforme se verificou, este dever de informar, em muitas situações, não é cumprido pelas instituições financeiras, que fornecem aos consumidores contratos previamente redigidos, não lhes explicando sobre os ônus que aquela negociação pode trazer. Desta forma, foi possível perceber que a doutrina brasileira classifica os contratos bancários e financeiros como grandes causadores do superendividamento atualmente. Isto ocorre essencialmente em razão da falta de informação dos consumidores, quanto às cláusulas que aderiram, bem como pela cobrança, muitas vezes, de juros ou taxa que não se encontram previstos no contrato. Assim, o consumidor, que na maioria dos casos trata-se de pessoa leiga e sem conhecimento técnico sobre os contratos e as cobranças indevidas destas tarifas e juros, acaba endividando-se em razão da falha na prestação da informação por conta das instituições financeiras. Além disso, foi possível compreender que as abusividades existentes nos contratos bancários não ficam limitadas apenas às clausulas que o Código de Defesa do Consumidor elenca como abusivas aos direitos do consumidor ou a cobrança de juros e taxas não previstos no contrato. Além dessas cláusulas, existem situações que também geram abusividade mas não ficam restritas ao teor do contrato, como é o exemplo do descumprimento da obrigação legal, imposta aos fornecedores, de informar o consumidor sobre dados ao qual este não tem conhecimento, com relação ao contrato por este aderido. Todavia, este descumprimento não vem sendo reconhecido pelos tribunais brasileiros, que se limitam ao teor do contrato no momento de julgar possíveis abusividades praticadas pelas instituições financeiras. Impõe-se que a forma da contratação seja também objeto de análise e não apenas as cláusulas do contrato. Porém, a constatação deste descumprimento legal dos fornecedores não é tarefa fácil para os julgadores, tendo em vista que, atualmente, a lei não traz mecanismos que auxiliem a comprovação da inocorrência da correta prestação das informações 396 necessárias ao consumidor. Por esta razão, atualmente o consumidor tem ficado desamparado quanto a este aspecto. O consumidor não ficaria de todo desamparado caso os tribunais atribuíssem maior relevância à inversão do ônus da prova, exigindo que as instituições financeiras comprovassem a efetiva prestação da informação ao consumidor. Contudo, a proposta de alteração do Código de Defesa do Consumidor que tramita no Senado Federal prevê que o ônus de provar que tais informações foram devidamente repassadas ao consumidor é do fornecedor. Assim, caso o referido projeto venha a ser aprovado, tal direito dos consumidores passará a ser efetivado, podendo os consumidores verem reconhecido este direito e refletindo, eventual descumprimento deste dever, em condenações às instituições bancárias que deixarem de prestar as informações que a lei determina que são direito do consumidor receber. Registre-se, por fim, que antes mesmo da consolidação das alterações propostas, o Código de Defesa do Consumidor já impõe aos fornecedores o dever de informação. Assim, tem o Poder Judiciário condições imediatas de efetivar mais este direito ao consumidor vulnerável, promovendo, de fato, o equilíbrio nas relações de consumo. 6. Referências Bibliográficas ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO. Memorial – Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2.591. Disponível em: <http://www.agu.gov.br/upload/docs/spc/ INTER_BRASILIA/ Memorial%20Bancos.pdf>. Acesso em: 28 nov. 2011. ALMEIDA, João Batista de. A proteção jurídica do consumidor. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. ANDRIGHI, Nancy. REsp n° 323986/RS. Julgado em 28/08/2001. DJ 01/10/2001, p. 45. BENETI, Sidnei. AgRg no REsp 1301560/RS. Julgado em 05/06/2012. DJ 05/06/2012, p. 37. BONATTO, Cláudio. Código de defesa do consumidor: cláusulas abusivas nas relações contratuais de consumo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001. 397 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado, 1988. ______. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Brasília: Senado, 2002. ______. Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Brasília: Senado, 1990. CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de direito do consumidor. São Paulo: Atlas, 2008. ______. Tratado teórico e prático dos contratos. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. v. 4. GAMA, Hélio Zaghetto. Curso de direito do consumidor. Rio de Janeiro: Forense, 1999. FRIEDRICH, Bernadete Coutinho. Apelação Cível Nº 70045380276. Julgado em 22/03/2012. DJ 04/04/2012, p. 80. JACCOTTET, Laura Louzada. Apelação Cível Nº 70039457536. Julgado em 19/04/2011. DJ 02/05/2011, p. 49. LEMOS JÚNIOR, Altair de. Apelação Cível Nº 70045463783. Julgado em 25/04/2012. DJ 27/04/2012, p. 137. LIMA,C.C; BERTONCELLO, K. R. D. Superendividamento aplicado – aspectos doutrinários e experiência no Poder Judiciário. Rio de Janeiro: GZ, 2010. MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no código de defesa do consumidor: o novo regime das relações contratuais. 2.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANA. Senado recebe “novo” código do consumidor. Disponível em: <http://www.consumidor.caop.mp.pr. gov.br/modules/ 398 noticias/article.php?storyid=328&tit=Senado-recebe-novo-codigo-do-consumidor>. Acesso em: 12 jun. 2012. MORAIS, E.; BERNARDINO, D. Contratos de crédito bancário e de crédito rural – questões polêmicas. São Paulo: Método, 2010. NUNES, Luiz Antônio Rizzato. Curso de direito do consumidor: com exercícios. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 2009. RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004. ______. Contratos de crédito bancário. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. SENADO FEDERAL. Projeto de Lei do Senado n° de 2012 - Altera a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção do superendividamento. Disponível em: <http://www.senado.gov.br/senado/codconsumidor/pdf/Anteprojetos_finais_14_mar.pdf>. Acesso em: 12 jun. 2012. WALD, Arnoldo. Curso de direito civil brasileiro - obrigações e contratos. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998. 399
Download