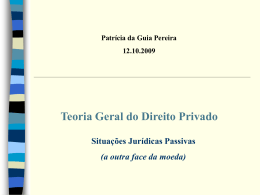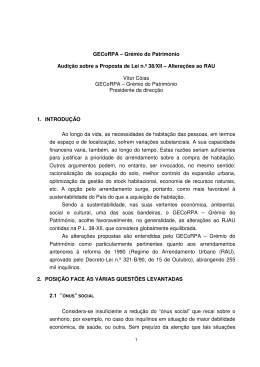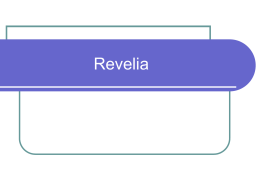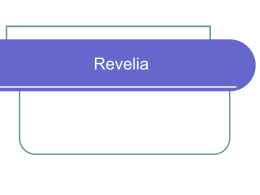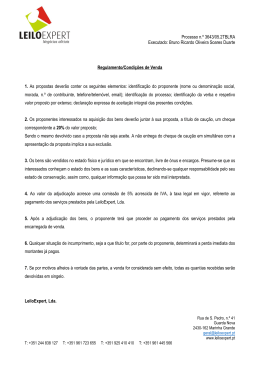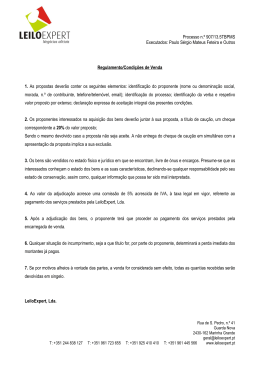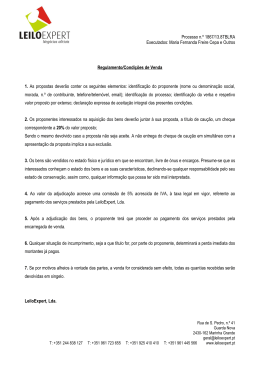POR UMA DISTRIBUIÇÃO FUNDAMENTADA DO ÓNUS DA PROVA Pedro Múrias Assistente da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa Aos meus Pais Em memória da minha Avó materna 2 NOTA PRELIMINAR O estudo agora publicado tem por base a dissertação de mestrado em ciências jurídicas entregue pelo autor na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa em 13 de Outubro de 1998 e aí discutida em 22 de Julho do ano seguinte. Em relação a esse texto, há, porém, diferenças significativas. Foram numerosos os esclarecimentos, correcções e desenvolvimentos introduzidos. Além disso, o actual ponto 13 é novo, quase na totalidade, e os aspectos nele tratados assumem alguma importância no conjunto do escrito. Quem ler as páginas seguintes poderá sentir alguma desilusão. Encontrará poucos auxílios para a descoberta da solução final de problemas de distribuição do ónus da prova. As teses defendidas são essencialmente destrutivas, tentando mostrar como não se pode repartir o ónus. A intenção negativa só se atenua no referido ponto 13 e nalguns temas acessórios. Pensa-se, contudo, que tal trabalho era imprescindível, pois o objecto impugnado, a chamada «teoria das normas», tem um acolhimento esmagadoramente maioritário na doutrina e jurisprudência, apesar das crescentes críticas que vem sentindo, e, em certa medida, é «consagrado» no art. 342.º, n.ºs 1 e 2, do Código Civil. O estudo monográfico de critérios alternativos de distribuição do ónus da prova não caberia na dimensão pretendida para esta investigação, que visa justamente abrir caminho a esses outros entendimentos. Deve sublinhar-se, de toda a maneira, que a posição aqui adoptada se reporta ao direito português vigente. Discute-se de iure condito, o que é dizer que se apontam as grandes limitações daquele preceito do Código Civil; defende-se uma sua compreensão fortemente restritiva. A dissertação entregue na Faculdade de Direito foi orientada pelo Prof. Doutor Miguel Teixeira de Sousa. Pela sua disponibilidade, pelo incentivo, pelos conselhos em aspectos importantes do tema, pelas indicações bibliográficas e pelo apoio dado à presente publicação, manifesto aqui um sentido agradecimento académico. As provas públicas de discussão decorreram perante um júri presidido pelo Prof. Doutor António Menezes Cordeiro e constituído ainda pelos Profs. Doutores Miguel Teixeira de Sousa, Sérvulo Correia, Calvão da Silva e Lebre de Freitas. Também a estes Professores é devido um agradecimento, pois as críticas e sugestões então feitas foram extensamente aproveitadas na revisão do texto. Agradeço especialmente ao Prof. Doutor Lebre de Freitas, a quem coube a arguição principal, a gentileza de me ter facultado uma súmula dactilografada dessa arguição. Se, entre os defeitos, este livro tiver algum mérito, dever-se-á em grande parte à amizade ou generosidade de muitas outras pessoas. Por isso, para aqueles que me quiseram aturar, ralhar, alimentar, substituir, ler, criticar, informatizar, aconselhar, ouvir, incentivar, confortar, indicar livros e artigos, trazer outros do estrangeiro e, por fim, ceder uma impressora, fique um profundíssimo agradecimento. 3 CONVENÇÕES O índice bibliográfico final contém a identificação completa das obras citadas, salvo nos casos de citação única e com finalidades marginais. As datas entre parênteses respeitam à da provável elaboração dos trabalhos — se significativamente distinta da da respectiva publicação ou se esta não for indicada — ou à do texto original, quando se trate de traduções. Suprimem-se as maiúsculas nos títulos e subtítulos quando tal não contenda com a ortografia. Os subtítulos são separados do título por um ponto final, salvo optando o Autor por pontuação diversa. Nos nomes das editoras, suprimem-se expressões como «editora», «livraria», «Verlag», «Press», «Lda.», «GmbH», etc.. As obras colectivas inserem-se na bibliografia pelo título quando o seu conteúdo não integre estudos autónomos. «Anotação», «recensão» e respectivas abreviaturas ficam sempre em português. Nas notas de pé de página, dá-se apenas a informação mínima que permita localizar a obra no índice final; se possível, apenas o nome do autor, salvo pretendendo chamar-se a atenção para outros elementos. No caso de obras não incluídas no índice, a citação em nota é completa. Nas citações de obras identificadas em momento imediatamente anterior, indica-se apenas a página, precedida, se necessário, da abreviatura «loc. cit.» Não impondo a exposição outra coisa, cita-se por ordem cronológica. Transcreve-se em português e com ortografia actualizada, sem prejuízo da utilização de locuções estrangeiras e latinas correntes ou, p. ex., de tradução discutível. Esta é da nossa responsabilidade sempre que não se dê conta do contrário no índice bibliográfico final. Nas transcrições, entre parênteses rectos vão interpolações nossas, ainda que impostas apenas por razões de sintaxe ou para suprir a falta do contexto. Pertencem ao código civil português em vigor as disposições legais referidas simplesmente pela respectiva numeração. 4 ABREVIATURAS Em itálico, na coluna da direita, os nomes de publicações periódicas A., AA. ac. AcP anot. art., arts. BFDUC BGB BGH BMJ c. C. Seabra CC CCTF CEF CEsp cf. CFr cit., cits. CIt Code Codice coord. CP CPA CPC CPI CPT CRP CRPred CS D. Dir. Diss. DJT D.L. DR ed., eds. esp.te et al. FCG FG FS i.e. intr. it. JuS JZ L. Autor, Autores acórdão Archiv für die civilistische Praxis anotação, Anmerkung artigo, artigos Boletim da Faculdade de Direito [da Universidade de Coimbra] Bürgerliches Gesetzbuch, código civil alemão Bundesgerichtshof, Supremo Tribunal Federal alemão Boletim do Ministério da Justiça conto, contos CS código civil Cadernos de Ciência e Técnica Fiscal Centro de Estudos Fiscais código civil espanhol confira, confronte código civil francês citado, citada, etc., cita-se; citação, citações; código civil italiano CFr CIt coordenação código penal código do procedimento administrativo código de processo civil código da propriedade industrial código de processo do trabalho Constituição da República Portuguesa código do registo predial Código de Seabra Digesto O Direito Dissertation (dissertação universitária alemã não publicada) (vide Verh. .... DJT) decreto-lei Diário da República edição, edições; editora, editoras especialmente et alii, e outros Fundação Calouste Gulbenkian Festgabe für Festschrift für id est, isto é introdução italiano; itálico Juristische Schulung Juristenzeitung lei 5 loc. cit. n., nn. NJW op. cit. OR org. p. p. ex. pág., págs. port. pp. pr. pref., prefs. publ. R., RR. rec. reimp. RFDUL RG RLJ ROA s. s. d. s. e. s. l. ScI sep. ss. STJ supl. tb. trad. Verh. ... DJT VersR v.g. vol. ZGB ZPO ZSR ZZP no lugar citado nota, notas Neue juristische Wochenschrift na obra citada Obligationenrecht, lei das obrigações suíça organizador, organização página por exemplo página, páginas português, portuguesa, etc. páginas proémio prefácio, prefácios publicado (por) réu, réus recensão reimpressão Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa Reichsgericht, Supremo Tribunal alemão até 1945 Revista de Legislação e Jurisprudência Revista da Ordem dos Advogados seguinte sem data sem indicação da editora sem indicar o local de edição Scientia Iuridica separata seguintes Supremo Tribunal de Justiça, acórdão do STJ suplemento também tradução (de); traduzido (por) Verhandlungen des ... [número de ordem] Deutschen Juristentages Versicherungsrecht. Juristische Rundschau für die Individualversicherung verbi gratia, por exemplo volume Zivilgesetzbuch, código civil suíço Zivilprozeßordnung, código de processo civil alemão Zeitschrift für Schweizerisches Recht / Revue de Droit Suisse / Rivista di Diritto Svizzero / Revista da Dregt Svizzer Zeitschrift für Zivilprozeß 6 «Recht ist gedachte Gerechtigkeit.» «O direito é justiça pensada.» FIKENTSCHER, Methoden, IV, 6. «Não há normas.» OLIVEIRA ASCENSÃO, O Direito, 488. INTRODUÇÃO 1. O tema O problema quotidiano de decidir juridicamente em situações de incerteza determina, na generalidade dos casos, a intervenção do instituto do ónus da prova, que se torna portanto um dos caminhos mais percorridos na procura de uma solução justa. Esta presença assídua não impede que, mesmo quanto a aspectos nucleares da figura, haja um número muito insuficiente de consensos, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, a que se junta uma sensível oscilação legislativa. Diz-se até, de várias dificuldades, que estão envolvidas numa «polémica sem esperança»1. Nesse espaço polémico, de entre os múltiplos modelos gerais de distribuição do ónus da prova, vai-se destacando, pela sua já longa conservação, pelo maioritário acolhimento doutrinal e, nalguns ordenamentos, pela consagração legal mais ou menos explícita, a chamada «teoria das normas», que, separando «normas» ou «factos» «constitutivos», por um lado, e, por outro, «impeditivos», «excludentes» ou «extintivos», e talvez ainda «modificativos» do «direito», faz pender o risco de non liquet probatório, respectivamente, ora contra uma, ora contra outra das versões disputadas. Numa apreciação geral do que se diz nestas áreas, podemos considerar a teoria das normas como o modelo de base contra ou para além do qual se vão oferecendo os demais. Contudo, o seu predomínio não obsta a que deva reconhecer-se grande peso argumentativo a BAUMGÄRTEL, Beweislastpraxis, 56, 82, 105... Em sentido contrário, ROSENBERG, Beweislast, p. VI, mas, já em 1952, data da 3.ª ed. dessa obra, a afirmação mereceria com certeza censura, como nota REINECKE, p. 15. 1 7 algumas ideias que lhe são totalmente estranhas. Pretende-se influir na distribuição do ónus da prova, designadamente, delimitando «esferas de risco», distinguindo «factos positivos» e «negativos», recorrendo à maior ou menor «normalidade» ou «probabilidade» de certas ocorrências ou invocando o «significado substantivo» daquela distribuição, para só referir algumas. A teoria das normas, como cada um dos critérios alternativos, apresenta limites que não podem ser negados, embora alguns menos claros. Para conjuntos não negligenciáveis de problemas, não dá qualquer resposta. Depois, a bondade e a fundamentação daquela teoria e destes critérios deixam enormes dúvidas, que importaria esclarecer, sendo certo que não se prefigura nenhuma nova construção apta a resolver em termos gerais os casos de non liquet de facto, isto é, de incerteza quanto a algum pressuposto «fáctico» do juízo. O nosso estudo, observando tais limites e dúvidas, mas também a persistência da argumentação nos parâmetros indicados, procurará discutir a teoria das normas, sem esconder, desde já, que nem ela nem todos os critérios alternativos podem simplesmente ser tidos por dispensáveis. Uma crítica de fundamentos à teoria das normas impõe-se, não só por ela surgir como modelo de base, como «doutrina tradicional» e mais nitidamente «legal», mas também — tentaremos demonstrá-lo — porque as suas putativas virtudes, a sua pretensão de evidência e o seu exacto papel, o plano em que incide, têm de ser repensados. A crítica que empreenderemos adopta uma perspectiva interna, ou seja, discute os fundamentos, os modos de operar e as consequências da teoria das normas em si mesma considerada; não parte da aceitação de algum outro critério de distribuição do ónus da prova que pretendesse mostrar-se preferível. Os problemas do ónus da prova não são problemas de um direito estadual. E não o são tanto no sentido óbvio de que decorrem, como veremos, da necessidade de optar, na falta de prova bastante, entre uma ou outra das decisões (normas) simetricamente orientadas cujos fundamentos (previsões) referem factos contrários, com exclusão de uma terceira hipótese — necessidade que temos por universalmente generalizada, apesar de alguns desvios em cada sistema jurídico —, quanto no sentido, bem mais importante, de que se encontra na grande maioria dos direitos com que contactamos uma vasta identidade na apresentação das «regras gerais» de distribuição do ónus da prova2. Justifica-se por isso inteiramente a análise desenvolvida de uma tese que, apesar de construída para o direito alemão3, influenciou de alguma sorte o Código de 1966 e, decididamente, toda a doutrina portuguesa posterior, tendo sido já considerada «direito consuetudinário mundial»4. Não poderá surpreender então que o nosso estudo se desenvolva em diálogo privilegiado com a literatura jurídica germânica. A teoria das normas foi criada por um A. alemão, ROSENBERG, e «modificada» ainda no seu país, mas tornou-se referência central na nossa doutrina sobre o ónus da prova5 e poderia com facilidade ter-se por «consa2 Veja-se a recolha de PRÜTTING, Gegenwartsprobleme, 270-7 (com indicações bibliográficas), que considera haver, «sem prejuízo de muitas diferenças de formulação, uma espantosa [erstaunliche] unidade de fundo [in der Sache]». Cf. tb. infra, no ponto 11, as referências aos códigos civis francês, espanhol, italianos e suíço. 3 O título da obra de ROSENBERG em que se produziu a teoria das normas traduz-se por «O ónus da prova, com fundamento no BGB e na ZPO». 4 A expressão terá sido usada por ZWEIGERT numa conferência não publicada que POHLE refere (322-3 e n. 9). 5 Cf. infra, no ponto 11. 8 grada» no art. 342.º. Compreender este preceito é, antes de mais, descortinar o sentido, os méritos e as falhas das teses rosenberguianas: tal o propósito do presente trabalho. Para delimitar a investigação, haverá que demarcar as fronteiras do instituto do ónus da prova objectivo, que se integra no direito comum ou no ramo do direito da norma cuja previsão estende e se distingue do ónus de alegar. Poderá depois tratar-se a «teoria das normas» e a sua possível inclusão no art. 342.º, n.ºs 1 e 2. A apreciação que dela se fará deve explicar qual o lugar que ocupa na compreensão geral do ónus da prova e, conjuntamente, exigir o preenchimento de um vasto campo com os ditos «critérios alternativos» de distribuição. Observá-la-emos na forma originária e mais divulgada. De seguida, impõe-se estudar a sua aceitação crítica por um importante sector da doutrina, evoluindo, daí, para a determinação de outras insuficiências dos seus modelos de decisão. Comparada, logo após, com um princípio que é usual associar-lhe, fica aberto o caminho para apurar a natureza e especificidades de uma «teoria das normas» num ordenamento como o português, esclarecendo qual a função que lhe deve caber. 2. Ónus objectivo e ónus da produção de prova. Versão onerada e parte onerada. Localização e âmbito do ónus objectivo Debruçamo-nos sobre o chamado ónus da prova objectivo. É corrente a distinção entre ónus objectivo e ónus subjectivo ou ónus da produção de prova6, mas levantam-se aqui dificuldades inesperadas e, tanto quanto percebemos, surgem na doutrina algumas confusões. Em nosso entender, é necessário olhar também a uma outra distinção: entre uma perspectiva objectiva e uma perspectiva subjectiva do ónus da prova, aquela respeitante às versões discutidas, esta concernente às partes em litígio. A diferença entre ónus objectivo e ónus da produção de prova é uma diferença dogmática entre institutos, «com efeitos práticos». A oposição de perspectivas, ao invés, situa-se unicamente no plano dos conceitos e da linguagem utilizados. A confusão está em que boa parte da doutrina, ao descrever o sentido do ónus da produção de prova, o define como situação das partes resultante da distribuição do ónus da prova objectivo, ou seja, separa os dois institutos, dois diferentes corpos de regras, como se se tratasse apenas de duas perspectivas do mesmo problema, o que não é correcto, como os mesmos AA., aliás, reconhecem. Ainda há que fazer notar que estas dicotomias não têm nada que ver com uma terceira, em que se contrapõem ónus da prova e distribuição do ónus da prova. Comecemos por esta última e mais simples distinção. Ao falarmos em ónus da prova, dizemos que, nos casos de insuficiência de prova quanto a algum facto juridicamente relevante, o decisor jurídico — em princípio, o tribunal — julga de acordo com uma das versões discutidas, a versão privilegiada, em prejuízo da outra, a versão onerada, não podendo optar por uma terceira decisão, independente dessas versões. A expressão «insuficiência de prova» é intencionalmente ambígua, procurando abranger a variedade que se documenta nos parágrafos seguintes. A ideia de distribuir o ónus da prova, em primeiro lugar, corresponde a determinar a sua direcção, a 6 Estas duas últimas expressões são sinónimas. 9 escolher qual das versões é afinal beneficiada, e qual delas onerada. Sempre que a decisão deva assentar no ónus, é então necessária a distribuição7. Numa acepção mais forte, «distribuição» exprime ainda a ideia de que, para cada problema substantivo, o ónus incumbe, quanto a alguns factos, sobre uma das partes e, quanto a outros, sobre a outra. Distribui-se o ónus, que não recai sobre a mesma versão quanto a todos os factos relevantes. Nesta acepção, pode haver ónus da prova sem distribuição, mas não será isso o mais comum8. Passemos agora às duas distinções com maior interesse: de institutos e de perspectivas. A oposição ónus objectivo/ónus da produção de prova foi descoberta em finais do séc. 9 XIX . O instituto do ónus objectivo impõe ao aplicador do direito uma certa decisão de mérito perante um non liquet de facto, estendendo ao caso ou a facti species10 que inclui a verificação desse pressuposto, ou a que inclui a sua não verificação. Numa formulação mais sugestiva e menos rigorosa: o ónus objectivo auxilia o tribunal na decisão perante dúvidas quanto a certo facto relevante, indicando se devem resolver-se as dúvidas no sentido de o «considerar» verificado ou não verificado, ou seja, resolvendo o caso com apoio nesse facto ou no facto contrário. Ainda de outro modo: o ónus da prova objectivo é o instituto que determina segundo qual das versões disputadas deve decidir-se quando é incerta a verificação de algum facto pertinente. O instituto do ónus subjectivo ou ónus da produção de prova11 prescreve a qual das partes processuais incumbe alguma actividade probatória, sob pena de ver a sua pretensão desatendida. Por aplicação deste instituto, o tribunal só pode decidir com apoio em certo «facto» se a parte por ele beneficiada fizer prova bastante. O ónus objectivo prevê um resultado probatório, a incerteza, determinando a decisão; o ónus subjectivo dispõe sobre a actividade probatória, atribuindo-a, para cada matéria, a uma parte. Quando predomine o ónus objectivo, «insuficiência de prova» é sinónimo de «incerteza». Quando vigore o ónus subjectivo, «insuficiência de prova» quer dizer «actividade probatória deficiente da parte onerada». É claro que uma boa produção de prova pela parte onerada tende a gerar certeza. No entanto, é manifesto que pode surgir certeza mesmo sem essa actividade eficiente, bastando para isso que surjam meios de prova bastantes trazidos pela parte contrária ou introduzidos oficiosamente. Segundo entendimento comum, o ónus da produção de prova será exclusivo de processos em que vigore a disponibilidade das partes12. Melhor dizendo, o ónus subjectivo perde intensidade em toda a medida em que o tribunal tenha poderes de direcção ou de determinação da proInfra, nos pontos 6 e 9, veremos os casos fundamentais de decisão na incerteza sem recurso ao ónus da prova e desenvolveremos a distinção entre os momentos «lógicos» da opção pelo ónus e da distribuição. 8 Em BAUMGÄRTEL, Beweislastpraxis, p. 6, cf. a autonomia conceptual entre «ónus da prova» e esta «distribuição». LÍBANO MONTEIRO, 41-3, pelo contrário, sustenta que só estamos perante verdadeiro ónus da prova se encontrarmos uma distribuição, mas a A. pressupõe o que não demonstra. 9 Deve-se a JULIUS GLASER, que, nos Beiträge zur Lehre vom Beweise im Strafprozeß e no Handbuch des Strafprozesses, ambos de Leipzig, 1883, usava «ónus da prova material» (objectivo) e «formal» (subjectivo). As expressões «ónus subjectivo» e «ónus objectivo» serão, diz ROSENBERG, 18-9, austríacas. Cf. ainda MUSIELAK, Grundlagen, 280-1. 10 Por gosto, «facti species». «Factispécie», termo que OLIVEIRA ASCENSÃO, O Direito, p. 45, «não [vê] motivo para não» utilizar, parece-nos até o mais bem recebido pelo português padrão e sua ortografia. 11 Referimos apenas o ónus subjectivo abstracto. P. ex., BAUMGÄRTEL, Beweislastpraxis, 15-8, em crítica a MUSIELAK (Grundlagen, 45-9), admite um ónus subjectivo concreto; mas a figura tem uma utilidade explicativa muito duvidosa — assim, PRÜTTING, Gegenwartsprobleme, 29-30. 12 Cf., p. ex., TEIXEIRA DE SOUSA, As partes, p. 216-6, e HEINRICH, p. 22, com outras indicações. 7 10 dução de prova, pelo que a sua importância actual sempre dependeria do concreto uso dado pelos tribunais aos seus poderes (cf. art. 265.º/3 CPC). Mas mais importante: só vigorou plenamente o ónus da produção de prova antes de ficar assente o princípio da aquisição processual (cf. art. 515.º CPC). Hoje, pelo contrário, é totalmente irrelevante para o tribunal que a prova relativamente a certa «questão de facto» tenha provindo da actividade de uma ou da outra parte. Interessa apenas que, finda a produção de prova, haja ou não convicção dos juízes quanto às versões em disputa. Nos nossos dias, a figura do ónus da prova subjectivo não pode deixar de ter um papel reduzido. No passado, simetricamente, quando ainda não se interiorizara o carácter real e problemático da incerteza em processo, ignorou-se o ónus objectivo. Ónus objectivo e ónus subjectivo são dois termos de uma evolução secular13. Vários AA. alemães negam hoje a autonomia do ónus da produção de prova14. Naquele sistema jurídico, no entanto, o conceito conserva utilidade, na medida em que expressa, por um lado, que certo requerimento de produção de prova só pode ser feito pela parte onerada, ou que só a ela pode ser exigida certa actividade probatória (cf. sobretudo os §§ 445 I e 447 ZPO, sobre o depoimento de parte15) e, por outro, que não é de aceitar, em termos gerais, por razões de economia processual, a oferta de prova por uma parte quando a parte onerada tenha ficado inactiva16. Para a aplicação do ónus subjectivo, será necessária a determinação da parte onerada com a prova, através do ónus objectivo. Daqui há-de resultar a correspondência entre ónus objectivo e ónus subjectivo, apesar do seu diferente conteúdo: a parte que tem o ónus objectivo tem também o ónus subjectivo, desde que este releve no processo em causa. 13 Cf., com indicações bibliográficas e de fontes, MUSIELAK, Grundlagen, 196-201 (nos períodos pré-clássico e clássico, concebia-se apenas um ónus da produção de prova), 205-8 (no direito justinianeu, quando surgem as expressões «necessitas probandi», «onus probandi» e, mais discutivelmente, «præsumptio», somente se procura saber, ainda, quem deve provar), 210-1 e 217-21 (a produção de prova, entre os povos germânicos, destina-se a cumprir um formalismo, mais do que a produzir a convicção do juiz, e é vista como um direito, em regra... do R.), 224-30 (o tempo dos francos trouxe poucas alterações, não estando porém excluída a influência de considerações de «probabilidade» na distribuição da prova ; no tribunal régio [Königgericht ], porém, surge expressa uma intenção de «verdade material», com alguma liberdade do tribunal na escolha dos meios de prova), 236-44 (até à recepção, por via italiana, do direito romano, as progressivas inovações não ultrapassaram um rígido formalismo probatório, acompanhado do desconhecimento do non liquet e, consequentemente, do ónus objectivo), 254-61 (com a recepção e o direito canónico, surgem variadas categorias de præsumptiones ; a apreciação da prova fica sujeita a um apelo à ideia de convicção; o «princípio» de dever cada parte provar as suas «posições» jurídicas tem inúmeras restrições, designadamente através da «teoria das negativas», tb. elas objecto de distinções; compreende-se já no ónus um meio de decidir apesar do fracasso da prova, mas as referências são ainda e só ao problema da produção de prova pelas partes), 262-7 (até ao advento da ZPO, em 1877, o direito probatório não experimenta mudanças de tomo, mas o espaço alemão caracteriza-se pela diversidade das soluções singulares), 267-281 (os variados desenvolvimentos anteriores ao BGB incluíram a distinção de JULIUS GLASER; ao tempo, a «teoria das negativas» mantém numerosos simpatizantes, mas ora se integra, ora se confronta com a «teoria das presunções», recebendo golpes definitivos com os trabalhos de DIETERICH WEBER e VON BETHMANN-HOLLWEG, reportados já aos conceitos de «direito» e seus «pressupostos» ou «condições», bem como com a «teoria da causa eficiente», que pouco se distinguia, nas soluções, das propostas daqueles AA.; esta «teoria» sobrepunha-se às demais ao tempo da preparação do BGB e distinguia factos «constitutivos», «impeditivos», «excludentes» e «extintivos»). 14 Cf. STECHER, 51-3, com outras indicações. 15 Em crítica de iure condendo às restrições à prova por depoimento de parte, cf. GEHRLEIN, Warum kaum Parteibeweis?, 1995. Cf. restrições paralelas no art. 553.º CPC. Acompanhamos as sugestões de GEHRLEIN. 16 Cf. ROSENBERG, 20-4, WAHRENDORF, Prinzipien, 3-5, PRÜTTING, Gegenwartsprobleme, 26-8. Não se impõe, supomos, um conceito autónomo de ónus da prova subjectivo para exprimir as regras que arrola BAUMGÄRTEL, Beweislastpraxis, 11-2. 11 Se, no direito alemão, apesar das dúvidas, o ónus da produção de prova ainda tem algum peso, não deve dizer-se o mesmo, em termos gerais, para o direito português17, sem prejuízo de poderem eventualmente encontrar-se previsões específicas. No sistema nacional, não se encontram associadas ao ónus objectivo restrições subjectivas à produção de prova, nem é dada qualquer preferência à actividade probatória de uma das partes quanto a algum facto controvertido. A irrelevância de um tal ónus detecta-se no modo de requerer, produzir e apreciar a prova. Veja-se, desde logo, a amplitude do objecto de prova reconhecida pelos arts. 523.º e 524.º, 554.º, 577.º/2 e 638.º/1 CPC. Note-se ainda que os depoimentos seguem uma ordem que não tem em conta a distribuição do ónus (arts. 558.º e 634.º CPC). Segue que as razões de economia processual que a ZPO permite chamar à colação dificilmente serão invocáveis entre nós: não pode considerar-se ex ante inútil a utilização de certo meio de prova, pois, atento o princípio da aquisição processual (cf. art. 515.º CPC), sempre qualquer outro poderia fundar a convicção do juiz em sentido contrário. Não se pode antever que o tribunal não vá obter convicção sobre certo facto controvertido, tal como não é possível suspender a produção de prova com o fundamento de a ter já obtido18. Por outro lado, uma estatuição como a do art. 553.º/3 CPC, que restringe subjectivamente o requerimento de um meio de prova, não respeita à nossa matéria, visto não relacionar a distribuição da actividade probatória, rectius, de certo requerimento de prova com quaisquer específicos factos a provar. O ónus da prova, nas suas variadas manifestações, é sempre relativo a certo conjunto de factos. A história do ónus demonstra uma evolução de um sentido subjectivo para um sentido objectivo. No direito alemão, mantêm-se manifestações efectivas do primeiro. No direito português, elas reduzem-se a aspectos verbais, v.g., a própria designação «ónus» e algumas expressões, aliás mais carregadas, como «deve provar» (cf. art. 515.º CPC), «incumbe provar», esta generalizada, ou, na doutrina, «tem de provar». Mesmo estas expressões, contudo, explicam-se de outra forma, que veremos de seguida. Não há, no nosso direito actual, um ónus da prova subjectivo. Quanto aos usos de linguagem que tratam o ónus como se tivesse natureza subjectiva, não há motivo para os afastar, e a sua manutenção é cómoda. Deve unicamente reter-se que, ao dizer «Tício tem de provar x», significa-se «O ónus da prova relativo a x/não-x privilegia a versão não-x, prejudicial a Tício». Por fim, observemos a diferença entre as perspectivas objectiva e subjectiva do ónus da prova. Em nossa opinião, quando a maioria dos AA. — e não só portugueses — distingue ónus objectivo e subjectivo, tem em mente, na verdade, a contraposição destas duas perspectivas. O ponto tem importância porque só a real distinção entre ónus objectivo e ónus da produção de prova permite uma correcta compreensão do sentido que o ónus adquiriu nos últimos dois séculos. Os usos linguísticos acabados de referir são permitidos por uma perspectiva subjectiva Disse MANUEL DE ANDRADE, Noções, 197-200: «está, quando menos, bastante atenuado o ónus probatório correspondente» ao «ónus afirmatório subjectivo ou formal». ALBERTO DOS REIS, Código, III, 272-4, avançou no bom sentido, chegando a afirmar que o subjectivo «passa para plano secundário» e que não via «utilidade apreciável em distinguir os dois aspectos», mas, a nosso ver, numa utilização equívoca dos conceitos, termina: «Caímos, por isso, no critério do ónus subjectivo.» O A. referia-se ao problema da distribuição do ónus da prova. 18 Cf. TEIXEIRA DE SOUSA, Livre apreciação, p. 123. Cf. tb. infra, n. 55. Claro que o tribunal, como qualquer pessoa, poderá adivinhar o resultado final da produção de prova, mas não resultam daí consequências jurídicas. 17 12 do ónus da prova objectivo, mas tiveram decerto a sua origem na antiga figura do ónus da produção de prova. O ónus objectivo denota o critério de decisão do aplicador do direito perante um non liquet, privilegiando uma ou outra das versões em questão. Dirigindo-se ao decisor, dá preferência a uma das versões controvertidas. Podemos descrevê-lo sem mencionar as partes num eventual processo. Contudo, em processos de partes, é obviamente possível fazer corresponder ao privilégio de uma das versões o privilégio da parte que a sustenta. Quando, ao reflectir sobre o ónus da prova, olhamos às versões controvertidas, adoptamos uma perspectiva objectiva do ónus. Quando consideramos a vantagem da parte favorecida pelo ónus da prova — e vice-versa —, seguimos a perspectiva subjectiva. A visão objectiva considera o regime das versões disputadas. A subjectiva atenta na situação jurídica de cada parte19. Assim, mesmo num sistema de ónus puramente objectivo como o que temos, cabe dizer «a parte onerada com a prova» ou «a parte beneficiada pela distribuição do ónus». Nos processos de partes, o ónus da prova pode ser olhado como vantagem ou desvantagem, como situação jurídica. Esta situação jurídica é o espelho imediato do regime das versões que se combatem; no fundamental, temos um novo prisma, não um novo ente. Ainda que realidade distinta, seria forçosamente implicada pelas regras a que o decisor está sujeito perante o non liquet, de modo que dizer que uma parte processual tem o ónus da prova é dizer que o juiz deve julgar segundo a versão contrária à sua se não atingir o grau de convicção suficiente. Claro que já não pode aceitar-se uma expressão como «o Ministério Público tem o ónus da prova», pois, além do seu dever de contribuir para a realização da justiça e, na medida em que esta o imponha, para a descoberta da verdade, ele não tem em processo nenhuma posição pessoal que autorize descrevê-lo como beneficiado ou onerado. Em muitos dos processos em que intervém, aliás, não há partes proprio sensu20. O Estado terá o ónus da prova quando se discutirem situações jurídicas da sua titularidade. A perspectiva subjectiva do ónus da prova objectivo apenas reflecte o problema básico, a necessidade de decidir apesar da incerteza. É certo que a visão subjectiva do ónus da prova poderia designar-se «ónus subjectivo» ou «em sentido subjectivo»21 — o que talvez explique o uso desta expressão pela doutrina nacional —, mas com isso só fomentaríamos confusões. Assinalemos que esta possibilidade de distinguir a perspectiva objectiva e a perspectiva subjectiva não tem em termos imediatos nenhuns efeitos práticos, dogmáticos22. Em suma, deixemos assente: o ónus da prova objectivo — a que o nosso estudo se dirige — é um critério de decisão nos casos de incerteza quanto à verificação de algum facto jurídico, 19 O ónus da produção de prova admitiria igualmente uma perspectiva objectiva, pois também nesse sistema se disputavam versões. Contudo, visto reportar-se à actividade das partes, a sua visão objectiva seria sempre derivada, secundária e facilmente esquecida. 20 Para o processo penal, CAVALEIRO DE FERREIRA, 145-8, admite haver partes «em sentido formal», e MARQUES DA SILVA, vol. I, 128-133, atendendo a critérios variados, limita o alcance de se considerarem o arguido e o ministério público como partes. 21 Cf., aliás, MUSIELAK, Grundlagen, 38-9. 22 Seria lícito entrar ainda numa quarta distinção, entre o instituto do ónus da prova e a situação jurídica do onerado com a prova, que obedeceria à diferença linguística e conceptual, na nossa cultura, entre normas e situações jurídicas. Não há ganho, porém, em acentuar este aspecto simples. 13 mandando julgar ou «como se»23 o facto se tivesse verificado, ou como se assim não tivesse ocorrido. O ónus da produção de prova é essencialmente uma categoria histórica, anterior ao princípio da aquisição processual, caracterizando-se pela distribuição da actividade de produção de prova pelas partes em litígio. Nesse tempo, o problema da incerteza ficava obnubilado. Hoje é a origem da actividade probatória que não tem relevância. Nalguns sistemas jurídicos, que não o português, o ónus da produção de prova ainda terá uma ou outra concretização. Numa perspectiva objectiva do ónus (objectivo24), temos em conta que este instituto favorece uma das versões questionadas, em detrimento da outra. Numa perspectiva subjectiva, atendemos a que o ónus da prova dá vantagem a uma das partes, em prejuízo da outra. A escolha entre os prismas objectivo e subjectivo é, em princípio, arbitrária e inconsequente, não se erguendo sequer obstáculos ao uso indiscriminado de ambos. No seu ângulo principal, enquanto critério de decisão relativo a versões opostas, o ónus da prova tem lugar em qualquer tipo de processo. A maioria da doutrina portuguesa25, ao contrário da alemã26, nega porém a vigência do próprio ónus da prova objectivo em direito penal, mas, cremos, sem razão. O in dubio pro reo não afasta o onus probandi, apenas determina o seu sentido. Tal como o ónus recai totalmente sobre uma das versões nos processos civis em que, p. ex., se aleguem apenas os ditos «factos constitutivos», assim no processo penal é a acusação, pelo menos em princípio, a única versão onerada. A acusação, não o Ministério Público ou o acusador particular. O problema é o mesmo num caso ou no outro: como decidir — pois é imperioso decidir — perante a insuficiência da prova produzida? Só a comunhão de terminologia permite descrever de modo simples preceitos, ainda que de constitucionalidade duvidosa, como o do art. 180.º/2, b) CP, ou propostas de «inversão do ónus da prova» em certos tipos de criminalidade27, o que impede, inclusive, que se diga que o ónus da prova se chama, em direito penal, in dubio pro 23 Infra, no ponto 6, haverá oportunidade de precisar o sentido deste «como se». No início desta exposição sobre a variedade subjacente à expressão «ónus da prova», já usámos maior rigor. 24 Omitimos este adjectivo daqui em diante, quando não se queira acentuar a «objectividade» do ónus da prova. 25 Cf. FIGUEIREDO DIAS, Ónus de alegar, 139-140. Note-se que, quanto à possível vigência de um ónus material (objectivo) em processo penal, o A. objecta exclusivamente que a absolvição não é uma decisão desfavorável à acusação, por não haver um «interesse» contraposto ao do arguido, o que parece deslocado. Fala ainda de «uma arbitrária transposição para o processo penal de categorias dogmáticas do processo civil», mas aqui sem qualquer razão, pois o ónus da prova é uma figura de teoria geral do direito, se não de teoria geral da argumentação ou da decisão. Contra um ónus da prova em processo penal, cf. tb. TEIXEIRA DE SOUSA, Livre apreciação, 116-7, SALDANHA SANCHES, Ónus da prova, 108 (cf. tb. 128-136), ISABEL ALEXANDRE, Ónus da prova, 21-3, F. COSTA PINTO, 108-9 (esp.te n. 263), MARQUES DA SILVA, vol. I, 74-7, vol. II, 91-4, LÍBANO MONTEIRO, 41-3. Com menor clareza, LINHARES, pp. 6 e 149, n. 441. Diversamente, como no texto, CASTANHEIRA NEVES, Questão-de-facto, 471. 26 ROSENBERG, 28-30 e 37-8, LEIPOLD, 129-135, MUSIELAK, Grundlagen, 31-2, ENGISCH, p. 103, PRÜTTING, Gegenwartsprobleme, 36-9, G. HEINE, Beweislastumkehr im Strafverfahren?, passim, SCHLEMMER-SCHULTE, p. 2. 27 Cf. G. HEINE, loc. cit., com atenção ao crime organizado e, em especial, ao «branqueamento de capitais». KEANE, 87-8, dá conta de casos do direito criminal inglês em que o «persuasive burden» («ónus da persuasão», comparável ao nosso ónus objectivo, diferente do «evidential burden», ónus de produção de prova inicial: cf. 66-9 e SCHLEMMER-SCHULTE, 33-5) recairá sobre a defesa, embora se satisfaça com uma medida da prova inferior à de que depende, nos casos inversos, a condenação. Apresentam-se como exemplos situações de corrupção, uma vez provada a entrega de dinheiro, e de alegação de demência (insanity) ou imputabilidade (responsibility) diminuída. Refira-se ainda, por curiosidade, que em 25-6-1998 algumas estações radiofónicas portuguesas anunciaram uma estranha «proposta» de pôr fim à presunção de inocência do arguido em questões de tráfico de estupefacientes! Cf. outras referências em PRÜTTING e COSTA PINTO, loc. cit.. LEIPOLD, 135-151, negava que as remissões do direito penal para o civil pudessem em regra afastar a distribuição do in dubio. 14 reo. Há ónus da prova em direito penal, como em administrativo28, em fiscal29, em processos de «jurisdição voluntária» (em que a ausência de «interesses contrapostos» é comum) — até aqui, sempre com predomínio da inquisitoriedade —, em qualquer processo em que o Ministério Público tenha de intervir, defendendo ou não o «interesse do Estado», ou mesmo na fiscalização da constitucionalidade, na medida, certamente restrita, em que haja «questões de facto». Perante tão grande diversidade, não se vê por que havia o direito penal de ter tratamento singular. O medo dos AA. portugueses foi inquestionavelmente o de se acompanhar a transposição terminológica e conceptual com uma importação de soluções30. Nada disso se pretende. O in dubio terá uma vigência amplíssima em processo penal, abrangendo, p. ex., as causas de justificação, os pressupostos da desistência da tentativa ou a prescrição do processo criminal. As suas restrições, enquanto não colidam com o art. 32.º/2 CRP, hão-de justificar-se no interior do direito penal, do direito processual penal ou, com eles, da criminologia, com intervenção mínima da teoria geral do ónus da prova, que é, nestes campos, absorvida no reconhecimento do in dubio pro reo, atentos os valores em jogo. Só deve aceitar-se que o ónus da prova, o problema de ter de decidir por uma das versões em casos de non liquet de facto, se encontra também em direito penal. O ónus objectivo encontra-se hoje em qualquer processo se olhado objectivamente; visto subjectivamente, surge em quaisquer processos de partes. Já na perspectiva subjectiva do ónus da prova, não se observa um verdadeiro ónus, por não haver, em nenhuma das direcções, uma relação de implicação entre uma conduta da parte e a obtenção da vantagem pretendida31, ou seja, a convicção do tribunal que evite a aplicação das regras de distribuição do ónus da prova. Atendendo a que se oneram versões, nem por sombras poderia pensar-se naquela classificação. Já se vê que a locução tradicional «onus probandi», evidenciando uma genealogia, não prima pela univocidade. Propuseram-se, pois, expressões alternativas, tendo tido algum sucesso apenas a do próprio ROSENBERG, «Feststellungslast»32, i.e., «ónus da determinação»33. Cabe, porém, reconhecer que só o prestígio do seu A. pode explicar este Multiplicam-se os estudos sobre o tema. Refira-se a monografia de M. NIEHRHAUS, Beweismaß und Beweislast. Untersuchungsgrundsatz und Beteiligtenmitwirkung im Verwaltungsprozeß, Vahlen, Munique, 1989. Por último, cf. SCHLEMMER-SCHULTE, 55-74, com indicações actualizadas de doutrina e jurisprudência. O art. 88.º CPA, apesar da epígrafe, só no n.º 1 tenta regular o ónus da prova, de que demonstra ainda um entendimento subjectivo. Cf. infra, n. 334. 29 Cf. SALDANHA SANCHES, Ónus da prova, e Quantificação, com indicações bibliográficas, que aponta como indesejável a transposição das técnicas de partilha do risco probatório para o direito público (Quantificação, 437-9; cf. tb. 412-5). Cf. o art. 74.º da Lei Geral Tributária (D.L. 398/98, de 17 de Dezembro, alterado pela L. 100/99, de 26 de Julho), epigrafado «ónus da prova», apesar da heterogeneidade dos seus números. 30 Basta notar que o estudo de FIGUEIREDO DIAS há pouco citado é anot. discordante ao ac. STJ 14-7-1971 (loc. cit., 121-5), que pretendeu deixar ao R. o ónus da prova quanto ao «erro desculpável» sobre a idade da vítima. No cerne da sua análise (140-3), está, claramente, a preocupação de defender uma solução (que em nada contestamos), não a simples questão terminológica ou conceptual. 31 Acentua-o CASTRO MENDES, Conceito, 437-441: «estamos perante algo que de ónus só tem o nome.» 32 O título da sua obra é Die Beweislast (O ónus da prova), o que não demonstra incoerência, pois nem o A. fez questão no termo proposto, nem aquela se limita ao aspecto objectivo. Seja como for, ROSENBERG quis reservar Beweislast para o ónus subjectivo (p. 16-7). Seguiram-no, sem abandonar o nome antigo, v.g., MUSIELAK, Grundlagen, PRÜTTING, Gegenwartsprobleme, e BAUMGÄRTEL, Beweislastpraxis, talvez os nomes mais sonantes da actual teoria do ónus da prova. 33 MANUEL DE ANDRADE, Noções, p. 199, e VAZ SERRA, Provas, BMJ 110, p. 116, traduzem «ónus da averiguação». Para algumas variantes, cf. MUSIELAK, Grundlagen, p. 33, n. 227, e BAUMGÄRTEL, Beweislastpraxis, p. 4. Além de nenhuma ter entrado no léxico comum, é de notar que a proposta «consequências da falta de prova» («Folgen der Beweislosigkeit») é incorrecta, pela simples razão de que o ónus da prova não é o único modo de lidar com o non liquet. 28 15 relativo êxito, visto que a proposta deixa intacto precisamente o elemento que merecia reservas, i.e., «Last», «ónus»34. Traz irreprimivelmente à memória a historieta do indivíduo de apelido indizível que pretende alterar o nome próprio. Não vale a pena procurar uma designação sucedânea, tão enraizada está a que temos. O sentido das palavras não é correcto nem incorrecto — é o que o uso lhe dá. As línguas naturais conservam sempre alguma ambiguidade, que os falantes estão habituados a ultrapassar. Para aliviar o texto, sempre podem fazer-se referências descomprometidas ao «risco do non liquet», «risco da prova»35 ou à «versão privilegiada»36. Assinala ainda uma diferença entre o ónus da produção de prova e o ónus objectivo o facto de este não ser um instituto processual, mas sim uma figura de direito comum, de «teoria geral do direito». Com afastamento mínimo da formulação maioritária, deve dizer-se que as normas de ónus da prova se integram no mesmo ramo do direito da norma cuja previsão estendem37. Sinteticamente, pertencem ao ramo «da norma a que respeitem». Quando se dirijam à generalidade do sistema — como se passará, p. ex., com o disposto no art. 344.º/2, que, de toda a maneira, não tem aplicação em direito penal — são de direito comum, o que em termos de inserção legal as deverá levar aos códigos civis. Como, em boa parte dos casos, o non liquet ocorre relativamente a questões substantivas, dir-se-á, tomando a parte pelo todo, que o ónus da prova é direito material, mas não deve perder-se de vista a construção correcta: o ónus pode ser direito civil, penal, processual, administrativo, etc.. O estudo do ónus da prova, em termos genéricos, na disciplina de direito do processo civil apenas honra uma tradição, nota que o non liquet se manifesta no processo — pelo menos, via de regra — e permite um desejável confronto com o direito probatório formal. Fez alguma carreira, no entanto, a afirmação do onus probandi como direito adjectivo. Tinha por decisivo que problemas de prova e de non liquet só poderiam surgir em processo38, o que vale dizer que a facti species das normas de ónus da prova integraria obrigatoriamente um quid processual. Mas peca por excesso, pois conduziria ao direito processual figuras como a hipoteca judicial (art. 710.º e s.) e normas avulsas como a que estatui a interrupção da prescrição com a citação judicial (art. 323.º/1), entre miríades de exemplos39. Antes de resumir a argumentação corrente a favor da pertença do ónus da prova «ao ramo da norma que permite aplicar», uma breve nota sobre a afirmação muito repetida — e pelos melhores autores — de que uma ou outra inserção sistemática do ónus da prova acarreta consequências práticas, entre as quais sobressairiam as diferentes soluções dadas à sua «aplicabilidade no espaço», à sucessão de leis, ou à sua recorribilidade em termos de agravo ou, ao invés, de apelação ou revista. Pelo menos nestas vestes, parece inaceitável. Sugerir que, de uma proposição tão 34 É certo que o ónus ou encargo, substantivo ou de teoria geral do direito, é designado na literatura alemã, geralmente, por «Obliegenheit» — cf. LARENZ, Allgemeiner Teil, 205-6, e, para o problema da tradução, MENEZES CORDEIRO, Tratado, p. 145, n. 272 — mas o vocábulo «Last», não exclusivamente de direito processual, refere realidades análogas, como se vê em «Behauptungslast», ónus da alegação. 35 Cf. MUSIELAK, loc. cit., com referência ao manual (em sueco) de EKELÖF. 36 Esta inspira-se nas já citadas págs. de CASTRO MENDES, Conceito, esp.te, 437-443. 37 Veja-se, precursoramente, ROSENBERG, 81-2. 38 ROSENBERG expõe e critica estas posições nas pp. 77-89. 39 Para as dificuldades da distinção entre direito processual e direito material e para as possibilidades de as ultrapassar, remete-se a TEIXEIRA DE SOUSA, Aspectos, 366-374, com indicações. 16 abstracta e formal como «a norma X pertence ao direito substantivo», podem extrair-se soluções jurídicas concretas releva do mais puro conceitualismo, numa acabada inversão metodológica40. Saber se os regimes de direito internacional privado, de sucessão de leis ou de recurso, em sede de ónus da prova, hão-de ser os comummente atribuídos ao direito processual ou ao substantivo são, em primeiro lugar, três problemas distintos e, depois, têm de ser resolvidos de acordo com as razões admissíveis em cada um desses âmbitos problemáticos, não com uma solução generalizadora, conceptual e, porque abstracta, «cega», não jurídica. Assentes ideias sobre essas questões, só então poderia extrair-se alguma conclusão sobre a localização das normas de ónus da prova. Esquematizando agora os passos tidos por decisivos para a inclusão do instituto que nos ocupa no «direito material», nos termos vistos, temos a pré-eficácia (i.e., anterior ao processo) das normas de distribuição do ónus da prova, o seu carácter de complemento das normas a que respeite o non liquet e, acima de tudo, o facto de determinarem imediatamente a decisão de mérito, com força de caso julgado material, e não o andamento do processo ou qualquer outro aspecto que lhe seja interno41. A pré-eficácia exprime que a parte onerada procurará de antemão reunir meios de prova que lhe permitam transpor num futuro processo a posição desfavorável inicial e, ainda, que ela tentará conduzir-se de modo a evitar conjunturas que, embora tuteladas pelo restante direito substantivo, se afigurem difíceis de provar. A complementaridade resulta de a previsão material paradigmática não ser uma asserção de conhecimento, ignorância ou probabilidade42, mas sim de ser ou não ser, de ter ou não acontecido. Por exemplo, e simplificando muito, se se concluir apenas, numa questão concreta de responsabilidade civil, que talvez o devedor tenha cumprido, não há solução para o caso sem a presença do ónus da prova. Há uma solução para o não cumprimento, i.e., a obrigação de indemnizar, e outra para o cumprimento, i.e., a inexistência dessa obrigação, a liberdade de o alegado lesante não indemnizar. Só o operar do ónus da prova sana esta «incompletude», estendendo ao caso duvidoso uma das facti species. Os argumentos são de acolher. Falta assinalar, contudo, um ponto de capital importância. A necessidade de decidir sem certeza ou, mais amplamente, a ausência de certeza («absoluta») é inerente à condição humana. Além de se reconhecer, com WITTGENSTEIN, que «Eu sei [que...]» não tem sentido43, deve-se acompanhá-lo ainda ao sustentar que, «mesmo quando, para mim, o cálculo é certo, isso é apenas uma decisão para um fim prático»44. Se tal pouco se nota nas matemáticas, é Disso não se apercebeu CRUZ ALMEIDA, 274-303. Parece-nos apenas aparentemente idêntica a argumentação de POHLE, 325-339, em 1963, que invoca, bem vistas as coisas, a «adequação material» e a «possibilidade prática» da qualificação das normas de ónus da prova para efeitos de direito internacional privado. 41 Neste sentido, além de ROSENBERG, p. ex., LEIPOLD, 67-75, que sustenta, contudo, a ambiguidade da afirmação de pertença quer ao «direito material» quer ao direito processual, MUSIELAK, Grundlagen, 26-31, tendo por decisiva a «indissociabilidade» entre a norma do ónus e a norma material a que a primeira remete, PRÜTTING, Gegenwartsprobleme, 175-8, GMEHLING, 54-7, LEBRE DE FREITAS, Confissão, 209-10, n. 33, BAUMGÄRTEL, Beweislastpraxis, 105-7, ou HEINRICH, 50-2. Para uma pensável relevância do tema... na discussão jurídico-constitucional sobre o ónus, cf. SCHLEMMER-SCHULTE, 22-3. 42 Sobre as «proposições de crença», que se integrariam neste grupo, cf. LINHARES, 169-197, em diálogo com WITTGENSTEIN (cf. Tractatus, 5.54 e ss.), CARNAP e MORRIS. 43 Sobre a falta de sentido de asserções que refiram o próprio valor de verdade, como «Nesta fraze há dois erros.», e sobre o dito «paradoxo da auto-referência», cf. MACKIE, Truth, 237-301. 44 It. nosso. Cf. WITTGENSTEIN, Über Gewissheit, pp. 8-10 (esp.te, n.ºs 49 e 58). O cepticismo do A. quanto à indução e às «chamadas leis da natureza» podia ver-se já no Tractatus, 6.363 a 6.372: «Só existe necessidade lógica.» (it. do A.). 40 17 patente em filosofia ou no discurso político45. No dia-a-dia, constantemente optamos de acordo com um «pode ser» ou um «pode ser, mas». O que significa terem pleno cabimento as referências a um «ónus da prova» fora do mundo jurídico, enquanto tenha de optar-se entre duas possibilidades. Avançando, vemos que também o legislador ou a administração terão, por vezes, de escolher este ou aquele rumo sem poderem sequer afirmar mais «provável» a oportunidade de um do que a do outro. No plano infralegal, só num positivismo irrealista se pensaria que as «dúvidas relevantes» não atingem a «questão de direito» ou que não se carece aqui de «presunções». Goza de claro favor, p. ex., a «opinião dominante», que receberá por isso o nome de «privilegiada»46. Tudo isto para tornar óbvio que a decisão perante elementos indeterminados de modo nenhum é exclusiva do tratamento jurisdicional da «questão de facto». A dúvida não está reservada aos juízes. Ora, quando a incerteza sobre factos substantivamente relevantes é «objectiva», i.e., intersubjectiva, comum às pessoas mais esclarecidas sobre dado assunto, inultrapassável segundo «o estado actual dos conhecimentos» — o que pode até perdurar indefinidamente — e ainda quando é consensual entre os interessados, o problema jurídico que a inclua, manifestamente, não é processual, dado não se relacionar de forma alguma com os tribunais, como bem se vê num exemplo: Por falta grave da vigilância exigível, uma fábrica emite durante vários meses flúor em quantidade muito superior ao máximo legalmente permitido. No mesmo período, fizeram sentir-se condições atmosféricas excepcionais de calor e humidade. Num viveiro de árvores das cercanias, o crescimento das plantas foi inferior ao esperável, com danos quantificados para o seu proprietário.47 Sucessivas equipas de peritos, escolhidas por acordo dos interessados, não chegaram a quaisquer conclusões sobre a relação, ou falta dela, entre a emissão de gás e o menor desenvolvimento das árvores. Os donos do viveiro e da fábrica, discutindo uma eventual indemnização, concordam que «a verdadeira causa» dos danos não pode ser determinada sem margem para dúvidas. 45 GASKINS, Burdens of proof in modern discourse, em paralelos com a discussão jurídica, olha ao significado de um «ónus da prova» e do «argumentar com a ignorância» em áreas tão diversas como a filosofia de tradição europeia, a teoria sociológica, a actividade política, as ciências empíricas (enfatizando a ligação entre as duas últimas) ou a inteligência artificial. O A. sublinha a valia dialéctica de «inversões do ónus da prova». E não se deve a vício de juristas a afirmação do chefe do Governo espanhol, após o recente anúncio de cessar-fogo, de que a ETA teria la carga de la prueba da seriedade da sua declaração, nem a coluna de um semanário que pretenda trazer a favor de uma ou outra das posições as dúvidas sobre a «regionalização» (A. PINTO LEITE, O ónus da prova, no Expresso. Revista, 12 de Setembro de 1998, p. 14.). Poderá perguntar-se, apenas, se estes temas «políticos» não são já jurídicos. 46 Dabo tibi jus... mas a própria lei orienta o aplicador com «presunções» quanto ao «direito»: vejam-se logo os arts. 9.º/3 e 12.º/1, sem pensar por agora no 342.º/3. Porque também aqui há dúvidas, bem proclama hoje o art. 3.º/3 CPC que o contraditório se estende às «questões de direito». Nem é por mera cortesia que os pareceres jurídicos terminam «s. m. o.». Sobre um «ónus» relativo ao lado jurídico, veja-se, recentemente, KREBS, Begründungslast, invocando parcialmente a teoria da argumentação jurídica de ALEXY, com especial atenção ao problema de decisão contra um «precedente» (em mais uma aproximação ao discurso anglo-americano) e recusando um paralelismo excessivo com o ónus da prova (esp.te, 172-6, 195-7 e 198-211). Dando igual peso ao «precedente», tb. na sequência de ALEXY, mas recolhendo de CHAÏM PERELMAN a fundamentação numa «espécie de princípio de inércia», cf. RICŒUR, 159-160. Cf. ainda CASTANHEIRA NEVES, Fontes, 85-6. Já ENGISCH notava (Introdução, p. 102), quanto à aplicação de um ónus da prova apenas na questão de facto, que «não se trata de um princípio lógico ou sequer de um princípio “natural”». Não é incomum nos AA. querer usar «presunções» ou referir um non liquet em dúvidas de direito: cf. PRÜTTING, Gegenwartsprobleme, 174-5, FIKENTSCHER, Methoden, v.g. 127 e 204 («presunções» em «sentido metodológico», não no sentido «processual»), LARENZ, Metodologia, 413-5 e, sobre KRIELE, 204-210, ou, embora na zona peculiar da consideração conflitual de direitos estrangeiros, MAGALHÃES COLLAÇO, 227-229. Cf. ainda o § 293 ZPO e PRÜTTING, loc. cit., 29 e 122-3, com uma solução diferente da do art. 348.º/1. Também acolheremos uma «presunção» semelhante, no n.º 13. 47 Adaptado de GMEHLING, p. 136. 18 No caso, procedeu-se a uma actividade probatória extraprocessual, mas é claro que a incerteza poderia resultar também da sua ausência, por lesado e possível lesante a terem querido omitir (v.g., devido à desproporção dos custos) ou, simplesmente, por não haver notícia de qualquer expediente técnico capaz de esclarecer a situação. Em problemas de causalidade, a «objectividade» da dúvida, a certeza sobre a incerteza é particularmente comum48, mas, sobretudo restringindo o círculo dos sujeitos de conhecimento, os exemplos multiplicam-se indefinidamente. Apesar disso, em nenhum deles pode recusar-se a valoração jurídica. O ónus da prova é, em princípio, o critério de decisão. O ónus não tem de suceder à produção de prova, processual ou extraprocessual, nem sequer a uma controvérsia, explícita ou encoberta49. O seu pressuposto nuclear, a dúvida, não depende de um processo judicial. Cai o argumento mais forte das teses processuais. O ónus da prova não pode ser direito adjectivo. No nosso exemplo, é direito civil. Ainda se ensaiaria que, no caso, a solução de direito civil seria uma, embora «incognoscível»50, e a dada pelo ónus uma outra, talvez divergente. Mas, cum igitur hominum causa omne ius constitutum sit51, é absurdo considerar um direito inacessível aos humanos. A solução de direito civil é a solução dada pelo ónus da prova. Consinta-se apenas que se contraponha ónus da prova e direito substantivo por economia de palavras. Em vez de se dizer «o restante direito substantivo», dir-se-á «o direito substantivo». O ónus aparece com toda a frequência, portanto, como se se situasse num espaço próprio, equidistante do material e do processual, mas esta «falta de rigor» não deve ser mal interpretada. Não se justifica, por isso, apodar o ónus de «truque» ou «artifício» nos casos em que é «impossível» a prova a ambas as partes. Antes pelo contrário, o ónus da prova surge com toda a nitidez e «pureza»: a «impossibilidade de prova», «objectividade da dúvida» ou «certeza quanto à incerteza» revela a perfeita autonomia, que não é demais frisar, entre a intenção de justiça e a de verdade, sem que aquela possa subordinar-se a esta52. Terá talvez interesse, porém, distinguir os dois tipos de dúvida. Quando ela não se configure «objectiva», mas o produto das contingências da produção de prova em tribunal, é pensável ultrapassá-la com apelo a outros argumentos, mais próximos do direito adjectivo. A distinção, que se saiba, não tem sido feita. A possível objectividade da incerteza impõe que se reveja a relação entre o âmbito de aplicação do ónus da prova e os conceitos processuais de matéria «assente» e matéria «que constitui a base instrutória» (art. 508.º-A/1, d) CPC)53. Diz-se que o ónus é uma ultima ratio 54, Cf. GREGER, 177-8. Não esquecemos a intensidade com que se proclama que os problemas de ónus da prova surgem apenas no processo, só mediatamente comandando a conduta extraprocessual das partes, ou a afirmação comum de que as normas de «valoração da prova» serão «lógica e cronologicamente» anteriores ao ónus da prova, o que não pode aceitar-se com generalidade. Correcto é que, havendo produção de prova, há tb. essa anterioridade lógica e cronológica. Cf. POHLE, 329-330, que ainda refere um conceito de «prova extraprocessual», e LEIPOLD, 25-6, 29-30 e 61-2, admitindo que haja, ao lado do ónus, regras de tratamento da incerteza substantiva. Embora não defenda a natureza processual do ónus da prova, ROSENBERG, p. 61, entende — pelo que dissemos, mal — que o seu significado exterior ao processo é só o que deste decorre. 50 Incognoscível, como quem diz inatingível. Dar solução de direito não é conhecer, é decidir. 51 «Como, em suma, todo o direito se constituiu por causa dos homens...» HERMOGENIANUS, D. 1. 5 (De statu hominum), 2. 52 Cf. CASTANHEIRA NEVES, Questão-de-facto, 469-474. 53 Ou os antigos «especificação» e «questionário». 54 Cf. BAUMGÄRTEL, Beweislastpraxis, p. 4. 48 49 19 posterior ao esgotamento de todas as possibilidades de prova, que o juiz pode até ordenar oficiosamente (cf. art. 265.º/3 CPC). Contudo, havendo acordo, confissão ou mesmo admissão (art. 490.º/2 CPC) quanto à incerteza «dos factos», em processos de objecto disponível, exorbitaria das suas competências o tribunal que prosseguisse a investigação. Não há que procurar a «verdade» a todo o custo, para além de uma controvérsia entre as partes. Tem de imperar aqui a autonomia (privada), se não chegar a auto-responsabilidade. Acrescente-se que podem inclusive prosseguir-se assim finalidades atendíveis, como o não protelamento do fim do processo ou a contenção nas custas. Quando o consenso for inicial, designadamente se resultar dos articulados, a incerteza quanto a algum facto relevante tem de ser integrada na «matéria assente». Aliás, a incerteza é também «facto». No nosso exemplo, a petição e a contestação que se seguissem ao descrito só cumpririam com todo o escrúpulo o «dever de boa fé processual» (art. 266.º-A CPC) dando como irremediavelmente duvidosa a causalidade entre a emissão de flúor e a perturbação do crescimento das árvores, mantendo-se o litígio através da divergência, explícita ou não, quanto à distribuição do ónus da prova. A dúvida sobre o nexo causal deveria, pois, ser «considerada como assente». As regras de decisão do non liquet iriam incidir sobre matéria não controvertida, no que se evidencia que não têm natureza processual. Contra isto, tentaria dizer-se que o autor não pode formular a petição em termos dubitativos, que deve indicar como certos os elementos em que sustenta o seu pedido, sob pena de haver falta ou manifesta insuficiência da «causa de pedir» (cf. art. 193.º CPC), que tem o ónus de alegar os factos em que fundamenta o seu pedido (cf. arts. 264.º/1 e 664.º CPC). Mas não. A acção tanto procede com a prova, scilicet, certeza sobre todos os factos que substantivamente (excluindo agora o ónus) a sustentam, quanto com a falta de prova, i.e., incerteza quanto a alguns deles, se as regras do ónus da prova que lhes respeitem beneficiarem o autor, pelo que não há qualquer ganho em dá-los como certos na petição. Não há que alegar como se existisse certeza quando basta a incerteza para a procedência. Voltando ao caso da emissão de flúor, só consideraríamos improcedente ab initio a acção se a prova da causalidade entre aquele ilícito gravemente negligente e o dano incumbisse ao autor, o que não é seguro. Também não colhe a objecção de que a declaração pelo R. de que «não sabe se determinado facto é real» implicaria sempre ou a sua «confissão» ou a impugnação (cf. art. 490.º/3 CPC). Uma coisa é afirmar o desconhecimento próprio, outra declarar uma incerteza que o transcende. Claudica, por fim, o reparo de que, na matéria «dada como assente», na antiga especificação, só poderiam incluir-se factos certos. A «matéria assente» inclui aquilo sobre o que não existe uma controvérsia actual (cf. 511.º/1, in fine, e 513.º CPC). Se a incerteza, como vimos, é muito mais do que a dúvida do juiz — ou seja, se ultrapassa o processo — e se nenhuma das partes a questiona num concreto litígio de objecto disponível — quer dizer, se é consensual — não cabe proceder a prova sobre o seu tema, não há que incluí-lo na base instrutória. E, com isto, não custa afirmar que, mesmo em termos de tratamento processual, a incerteza pode apenas reclamar uma decisão de direito substantivo55. 55 A possibilidade de incerteza pré-processual não contradiz a «impossibilidade» de se antever a convicção (ou falta dela) do juiz (cf. supra, n. 18): se o facto não é consensualmente incerto, só na «decisão da matéria de facto» cabe processualmente aferi-la. A incerteza pode ser um dado anterior inquestionável, mas, uma vez negada, só pode ser dada por estabe- 20 Não surpreende agora que inúmeras outras soluções de direito privado dependam de uma situação de incerteza, duradoura ou não, variando o círculo de sujeitos perante quem ela se afere. Se perante um círculo delimitado, fala-se em «ignorância» ou «desconhecimento», em vez de «incerteza». Sem mencionar, por ora, as mais chegadas ao ónus da prova, pense-se no art. 23.º/2, nos vários casos de ausência56, na existência de erro negocial, e não de error in futurum, apenas quanto a um facto futuro «certo», na distinção entre condição e termo, em certas faculdades extrajudiciais de exigir documentos, informações ou «provas»57, no art. 881.º e nos contratos aleatórios, na relevância múltipla da ideia de risco, que exclui a certeza do resultado, etc., etc.58. Repete-se: nem só os juízes têm dúvidas com efeitos de direito. 3. Distinção e discrepâncias entre ónus da alegação e ónus da prova Ocupamo-nos apenas do ónus da prova e não do ónus da alegação, que determina a inadmissibilidade de consideração pelo tribunal de versões «de facto» não trazidas àquele processo (alegadas) pelas partes em momento oportuno, maxime, nos articulados59. Tradicionalmente e nos textos legais, diz-se que o tribunal só decidirá com fundamento nos «factos alegados» pelas partes60, salvas excepções legais, como a dos «factos que são do conhecimento geral» (art. 514.º/1 CPC). Esta maneira de dizer é enganadora, embora retrate bem o aspecto linguístico61 mais frequente do ónus da alegação: o tribunal não menciona quer a versão que lhe está vedado considerar, quer a versão contrária. Contudo, a definição só será suficientemente abrangente se expressar que a decisão se terá de fundar na versão contrária à que teria cabido alegar, como se vê num exemplo: Caio propõe contra Tício acção declarativa do seu direito de propriedade, adquirido por usucapião, sobre certo imóvel, com fundamento em posse em nome próprio durante vinte e um anos. Tício impugna a duração da posse. Prova-se que a posse durou 17 anos. Na «discussão do aspecto jurídico da causa», Caio pretende a procedência, pois a sua posse fora de boa fé. O tribunal absolve Tício, visto que Caio não invocara antes a boa fé e, sendo a posse de má fé, são necessários vinte anos para a aquisição do direito (art. 1296.º). A posse ou é de boa fé ou de má fé. Se há o ónus de alegar a boa fé, não sendo ele cumprido, decide-se com fundamento na má fé. lecida ao decidir-se a «questão de facto». O problema é, simplesmente, de competência e de tempo processuais da decisão. Por outras palavras, a antevisão da falta de certeza dos juízes, ainda que justificadíssima, não tem consequências processuais. 56 Além do pensamento global subjacente, cf. arts. 89.º/1, 98.º, e), 99.º, 112.º, b) e c), 116.º e 119.º. 57 Cf. arts. 260.º (exigibilidade da prova dos poderes do procurador), 573.º e ss. (obrigação de informação ou de apresentação de «coisas ou documentos») e 787.º e ss. (embora o sentido destes seja mais amplo do que o de evitar situações de incerteza). As obrigações de informar (e de prestar contas), quando se destinam a eliminar o desconhecimento, interessam menos ao nosso tema — cf. arts. 465.º, d), 988.º, 1038.º, g) e h), 1135.º, g), 1161.º, 1944.º, etc.. 58 Por vezes, a lei exige uma «dúvida fundada» (v.g., arts. 365.º/2 e 573.º CC, 31.º-B, apesar do lapso de redacção, e 678.º/1, in fine, CPC), parecendo responder à pergunta de WITTGENSTEIN, Über Gewissheit, 18-9 (esp.te n.º 122): «Braucht man zum Zweifeln nicht Gründe?» («Não são precisos fundamentos para duvidar?»). 59 Não deve confundir-se o ónus da alegação com o ónus da impugnação. Sobre este, cf. o art. 490.º CPC e, p. ex., ROSENBERG, Beweislast, 51-2, ou TEIXEIRA DE SOUSA, Estudos, 287-8, que fazem a distinção. 60 Cf. art. 264.º/1 e 2 e 664.º CPC e, exemplificativamente, ROSENBERG, v.g., 43-7, TEIXEIRA DE SOUSA, Estudos, 69-79, LEBRE DE FREITAS, Introdução, 128-132. 61 Reconhece-se que, perante os «limites objectivos» do caso julgado, a fórmula é também utilmente simplificadora quando diga respeito ao ónus de alegação do A. (cf. art. 498.º/4 CPC). Além do lado linguístico, relevará aqui ainda a perspectiva que desenvolvemos infra, no ponto 13. 21 Decidir o tribunal «como se certo facto não existisse» significa decidir com fundamento na versão contrária à que deveria ter sido alegada. Isto é, em geral, inobservável, pois a sentença nem referirá a alternativa, como se a negação do «facto» que devia ter sido alegado fosse «um nada» insusceptível de produzir efeitos de direito. Mas não há «nadas»62 e o valor jurídico de um facto implica o valor inverso da sua negação. Com o que acaba de afirmar-se, já se mostra uma proximidade entre ónus da prova e ónus da alegação. Ambos levam à opção, numa decisão jurídica, entre a fundamentação num facto ou no seu contrário. Até aqui, cumpre apenas aclarar que o ónus da alegação concerne unicamente a decisões judiciais ou de entidades análogas, no que já se distingue do ónus da prova. Acrescenta a doutrina que os ónus de alegar e de provar, «em princípio», se distribuem pelas partes em concordância, ou seja, que são excepções os poucos casos de divergência63. Ocorreu até afirmar que ónus da prova e ónus da alegação são dois lados do mesmo problema64. A aceitação da harmonia de princípio entre os dois institutos revela-se ainda na popularidade da locução «o ónus da alegação e prova». E os conceitos já surgiam em mútua companhia no brocardo iudex debet iudicare secundum allegata et probata a partibus. Não importa agora questionar que, na maioria dos casos de relevância de um ónus da alegação, ele coincida com o ónus da prova. Deve temer-se, porém, que não passe disso mesmo, de uma coincidência, e fica portanto restringida a matéria que nos propomos tratar. À partida, uma diferença manifesta entre ónus da prova e ónus da alegação está em não se verificar este quando os poderes inquisitórios do tribunal autorizem decisões assentes em factos não alegados. O ónus da prova é, portanto, uma figura de maior âmbito de aplicação. Pense-se no art. 66.º/1 CPT 1981 (art. 72.º/1 CPT 1999), já sem falar no art. 665.º CPC ou na consideração, em processo penal, de quaisquer elementos favoráveis ao arguido. Identicamente, sobre «factos» de conhecimento oficioso, como as causas de nulidade ou a culpa do lesado (arts. 286.º e 572.º)65, recai apenas o ónus da prova, na medida em que, perante o non liquet de facto, o tribunal decide contra uma das versões, ainda que o problema tenha sido introduzido por sua iniciativa. Os casos de eficácia ulterior do incumprimento de obrigações de facere mostram já um sério desvio entre os ónus de alegação e de prova. O credor que pretenda, p. ex., uma indemnização tem de alegar o incumprimento66, mas, se houver controvérsia, é o devedor onerado com a prova67. Quando a distribuição do risco de non liquet é regulada por negócio jurídico (cf. art. 345.º/1), o ónus da alegação mantém-se, e o mesmo ocorre quando o ónus se inverta por uma parte ter «culposamente» tornado impossível a prova (art. 344.º/2), o que aqui é até mais claro, Cf. as breves observações infra, no final do ponto 12, sobre os «factos negativos». NICOLINI, 1767-8, em sumária anot. crítica a BGH 17-12-1958, BAUMGÄRTEL, Beweislastpraxis, p. 21. 64 ROSENBERG, 49-50. Cf. tb. MANUEL DE ANDRADE, Noções, p. 200. 65 Sobretudo quanto às primeiras, poderá pensar-se que os poderes do tribunal se restringem à «questão de direito», caindo, afinal, no regime genérico dos arts. 264.º e 664.º CPC. No entanto, sempre que o regime de nulidade resulte de valorações que ultrapassem os interesses e pretensões das partes — será até a regra —, parece que o art. 286.º deve ter um alcance mais forte, funcionando como lex specialis relativamente aos preceitos indicados do Código de Processo. 66 Já não o credor que pretenda o cumprimento (art. 817.º). Aí, o ónus da alegação restringe-se aos «factos constitutivos» da obrigação. 67 Cf., v.g., ROSENBERG, Beweislast, 53-4 e 321-8, MANUEL DE ANDRADE, Algumas questões, 21, em n.. Mas tb. ALBERTO DOS REIS, Código, vol. III: «Há paralelismo completo entre o ónus do pedido, o ónus da afirmação e o ónus da prova», p. 277. 62 63 22 uma vez que a inversão pode dar-se durante o processo. É discutido se uma presunção iuris tantum, ao determinar certa distribuição do ónus da prova, determina simultaneamente o ónus da alegação, mas parece que não68, deixando documentar uma outra divergência. Note-se ainda que, numa acção de apreciação negativa, o autor terá porventura de alegar a inexistência de concretos factos constitutivos do (pretenso) direito do R.69, o que vale por maioria de razão se se tratar da apreciação negativa da existência de factos, mas o ónus da prova opõe-se à existência (art. 343.º/1). Querendo ser mais expressivos do que rigorosos, diremos, em termos gerais, que a «inversão do ónus da prova» não é acompanhada por uma «inversão do ónus da alegação»70. Em matéria de alegação, há ainda inúmeras especialidades, designadamente as que, entre nós, a recente reforma do processo civil introduziu (cf. art. 264.º/1 e 2 CPC)71, sem ligação com o ónus da prova. Pensa-se que as «excepções» à correspondência entre os ónus são em número bastante para fazer questionar o paralelismo. Bem podiam ser acidentais, é certo; todavia, ao procurarmos as rationes dos institutos, vemos que o ónus da alegação é uma decorrência das ideias de disponibilidade e de auto-responsabilidade das partes quanto ao objecto do processo, que sem dúvida se associam às discussões sobre o sentido do caso julgado e, evidentemente, da preclusão, enquanto que nada disso há-de relevar para efeitos de uma «distribuição fundamentada do ónus da prova»72, o que a sua natureza extraprocessual indiciava. Por conseguinte, é a coincidência entre ónus da prova e ónus da alegação que deve qualificar-se como acidente. No mínimo, a relação entre os dois corpos de regras tem de ser dada como duvidosa e, assim, um estudo sobre o ónus da prova não tem de incluir o ónus da alegação. No final deste trabalho, contudo, retomaremos a contraposição entre os dois institutos, que se tornará então mais clara, com vista a uma última explicação da origem e das insuficiências da «teoria das normas»73. Cf. MUSIELAK, Grundlagen, p. 57, o A. que, no conjunto da bibliografia consultada, reconhece em mais ampla medida a divergência entre ónus da prova e ónus da alegação (p. 50-8). 69 Sem embargo do art. 502.º/2 CPC. Cf. TEIXEIRA DE SOUSA, Acções de apreciação, 135-143. Na decisão aí anotada, o ónus de alegação e da substanciação pelo A. foi esp.te discutido. ROSENBERG, 174-5, pretende que o A. só alegue a inexistência do direito, não dos factos que o fundamentam. Tal afirmação compreende-se na medida em que o direito alemão não admite, em regra, acções de apreciação de factos (cf. § 256 ZPO e ROSENBERG/SCHWAB/GOTTWALD, 518-521). 70 TEIXEIRA DE SOUSA, As Partes, p. 225. 71 Cf. TEIXEIRA DE SOUSA, Estudos, 69-82, e LEBRE DE FREITAS, Introdução, 130-143. 72 Pelo menos, nos diversos quadrantes da doutrina actual. Cite-se o rol de «princípios» do ónus da prova de PRÜTTING, Gegenwartsprobleme, 257-263, com indicações bibliográficas. 73 Temos referido que o âmbito do objecto do ónus da prova — daquele que tratamos — se restringe a «factos» ou à chamada «questão de facto». Fez-se, ainda, uma separação entre direito «substantivo» e direito «adjectivo» como se se tratasse de universos incomunicáveis, em vez de duas fontes de argumentos e de legitimação que convergem na apreciação do caso. E várias vezes usámos os termos «norma», «facti species da norma», ou «aplicação de regras», mas o cerne do jurídico não se encontra nestas figuras etéreas. Interessa afastar conotações indesejadas. Além disso, a crítica da relação entre a «teoria das normas» e os «critérios alternativos» postula um certo posicionamento metodológico que convém desde já esclarecer. Abre-se, portanto, nesta n., sobre duas ou três daquelas questões, um parêntese que se espera poder contribuir, dando um contexto, para a interpretação do que mais se escrever. A primeira questão concerne à necessidade genérica de não desgarrar o direito substantivo do conjunto do ordenamento e de submeter o discorrer dogmático aos problemas concretos, mormente na sua revelação jurisprudencial, e não a normas preexistentes. Encontra-se talvez a máxima — porventura, excessiva — acentuação da preeminência do problema (perante o sistema lógico-dedutivo) nos paladinos da tópica, esp.te em VIEHWEG, Topik, 31-45, 95-105 e passim. Para além disso, cf., p. ex., ESSER, Grundsatz, 14-28 e 267-293, que apela ao conhecimento do law in action determinado processualmente (para lá do empirismo, que não o fundamenta), na busca dos princípios assente numa análise comparativa que também nos sistemas continentais descobre a actividade judicial como «fonte» do direito; CASTANHEIRA NEVES, Questão-de68 23 -facto, XI-XXIII, 44-5 e 256-274, para quem as correlativamente implicadas quaestio facti e quaestio juris concretas são constitutivas da juridicidade, e o juízo de juridicidade do caso concreto, que não é dado pelas «normas» que se pressuponham, acarreta o problema da «norma aplicável», rectius, da norma materialmente adequada ao caso, implicando que só o caso fornece o ponto de partida metodologicamente correcto; EIUSDEM, Metodologia, 127-133 (prius metodológico é o caso concreto decidendo, na sua autónoma e específica problematicidade jurídica, e não a «norma-prescrição fechada na sua significação e subsistente na sua idealidade», o que tenderá a ser hoje um lugar comum); FIKENTSCHER, Methoden, IV, sobretudo 194-210, 215-6 e 272-9, que sustenta ser o direito objectivo composto apenas de «normas do caso» (e não de princípios ou outros «conceitos de agrupamento») e eclodirem estas ao «quebrar-se a espiral hermenêutica» cujo ponto de partida é o caso concreto a decidir; MENEZES CORDEIRO, Da boa fé, p. 29 («[F]ora do caso concreto decidido, [...] há especulação teorética que, mesmo iluminada, não é Direito.»), e Evolução juscientífica, 232-7, sublinhando, aqui, a globalidade da ordem substantiva, processual (com o ónus da prova), registal (abarcando as regras internas dos serviços) e notarial; e F. BRONZE, 102-111 e 166-171, que vê o problema do direito no da realização da justiça, sendo esta o direito «no instante da concreta decisão dos casos juridicamente relevantes», que são o «omnia movens de todo o sistema jurídico». A essencialidade do problema (concreto) torna-se óbvia, como se lê nas citadas págs. de ESSER, na comparação; cf. ZWEIGERT / KÖTZ, 33-9, que lhe dão como «princípio metodológico basilar» a funcionalidade, mas delimitam-na pelos problemas cuja solução se procura, e FERREIRA DE ALMEIDA, Introdução, 20-22, que acrescenta, porém, que a afinidade de institutos deve «ser julgada também em função do seu enquadramento jurídico». Não falte mencionar, contudo, alguma reacção à tendência para só no caso concreto encontrar direito — cf. OLIVEIRA ASCENSÃO, O Direito, 223-227. Devemos concordar que só por metonímia — compreensível — o problema concreto será o problema jurídico. É direito a decisão sobre a constitucionalidade da lei na fiscalização preventiva abstracta. São plenamente direito, inclusive porque carecem de fundamento, as próprias decisões legislativa e constituinte, não relevando que sejam diferentes da judicial (diferença salientada, a nosso ver excessivamente, por CASTANHEIRA NEVES, Metodologia, 17-23, em diálogo, entre outros, com BAPTISTA MACHADO, Introdução, 214-5, e G. CANOTILHO, Constituição dirigente, 202-4, n. 87, 217, 239-41, etc.; a propósito da juridicidade — e problematicidade — da questão constituinte e do momento de ruptura que a precede, veja-se, tb. de C. NEVES, A revolução, 52-71, 233-5 e passim; cf. também infra, no ponto 8, um breve desenvolvimento sobre a legislação como decisão jurídica). Como diz SOUSA E BRITO, Estudos, 224, seguindo RADBRUCH, é «indiferente se, como material da valoração jurídica, se apresenta um caso concreto ao juiz ou toda uma suma de casos conexos ao legislador e aos juristas» [ it. nosso]. Isto mostra-se com a máxima acuidade no facto de algumas disposições legais só ganharem sentido por atingirem um grande número de casos, não lhes importando uma ou outra possível concretização singular. Tome-se como exemplo a proibição, com escopo anti-inflacionista, de certos subtipos negociais, acompanhada de cominação de invalidade. Aí, o caso concreto alcança aquela dimensão problemática apenas enquanto ocorrência de uma totalidade que só como tal pode ser valorada. Haverá fenómenos idênticos em matéria de ónus da prova, p. ex., quando se use como argumento de distribuição a «probabilidade abstracta», uma finalidade «preventiva geral», etc.. É eminentemente jurídico e prático, insista-se, o problema, sobremodo «geral» (porque, além de a todos os presentes, no conjunto das suas acções, respeita aos indetermináveis vindouros), dos «direitos das gerações futuras» (cf., em vez de muitos, F. OST, cit., 314-349) — e não devido ao art. 66.º/2, d) CRP. Como é, por fim, intencional e constitutivamente jurídica a «descoberta» doutrinária esteada numa auctoritas ou num poder intrínseco de persuasão legitimadores, a que serve de arquétipo a criação da culpa in contrahendo por V. JHERING. Mas não espanta nem merece censura que se tome a parte, o caso concreto, pelo todo, pois só nele conflui (e dele conjuntamente emana) o mais extenso acervo de tópicos ou de razões, textuais e valorativas, que fazem o pensamento jurídico. E será, assim, falsamente jurídica a atribuição pelo legislador substantivo cuja «concretização» se mostre processualmente impraticável (o que permite uma certa linha de argumentação em matéria de ónus da prova). Por outro lado, a grande maioria dos problemas «abstractos», sobretudo entre os que se colocam ao legislador, apenas autoriza uma pré-decisão, incompleta, necessitada de integração. O juiz sempre terá de refazer no caso as opções prévias, sendo-lhe exigida constante e ostensivamente a inovação. Se há direito antes do caso concreto, só neste se encontra todo o direito. Quanto à história do direito e aos estudos comparativos, em que OLIVEIRA ASCENSÃO (loc. cit.) vê direito solto do caso concreto, parece que, além do que ficou dito, cabendo no discurso jurídico (numa acepção ampla certamente útil), se situam já para além do direito: são subprodutos de diversa natureza, apenas observam teoreticamente um direito alheio, i.e., pensado como problema por outrem. O reconhecimento da prioridade do caso concreto acompanha a superação do «esquema subsuntivo». Uma análise desenvolvida e uma impugnação radical daquele «esquema» encontram-se em CASTANHEIRA NEVES, Questão-de-facto, assentes na consideração dos postulados ideológicos que o motivaram e de um seu possível triplo significado, logo se observando a incapacidade de reconduzir a própria subsunção a um dos termos da dicotomia «facto»/«direito» pressuposta (105-128), bem como no apontar das aporias lógicas em que incorre (128-250) e da sua total ineficácia perante os problemas da procura da «norma aplicável» e de «ausência» de tal «norma» (251-420), que já resultaria, em geral, da cegueira para a intenção axiológica prática que o pensamento jurídico, sem pretensões «cientistas», tem de assumir (cf. 505-582). E se algum ponto deste trabalho de demolição poderá talvez ser menos sedutor — considere-se, apenas, o respeitante ao problema lógico da viabilidade de uma ponte formal imediata entre o conceito e o existente concreto (cf., loc. cit., 128-156, respondendo negativamente, e o «tradicional» ENGISCH, Introdução, 95-6 e 112-3, afirmativamente) — temos de dar por «definitiva» a generalidade das objecções levantadas e de testemunhar a total falência da subsunção e do «silogismo judiciário», quer como instrumento de um projecto político-constitucional ingénuo (de separação dos poderes em moldes formais e preconcebidos), quer como representação e receita metodológica, ainda por cima com aspirações de omnipresença e de exclusividade (ilusória «metodologia» aproblemática, logicista, legalista, 24 abstractizante e, por isso, não jurídica). Cremos haver uma tendência generalizada da doutrina nesse sentido. Note-se que, em escrito posterior (Metodologia, 144-6), o Professor de Coimbra, embora mais contrariando toda a afirmação de um valor normativo no texto legal em abstracto, recusa até entendimentos como o de FIKENTSCHER, cujo conceito de subsunção (operação posterior ao momento fulcral do nascimento da «norma do caso», referido há pouco) tem já um sentido metodologicamente evoluído (cf. Methoden, 180-5). Pouco antes daquele A., I. DE MAGALHÃES COLLAÇO, Da qualificação, p. 31 (cf. 93-4, 97-9, 134-6 e 215-227), anunciara, para o campo conflitual, a unidade entre previsão e estatuição da norma e assentara, em termos gerais (130-4), a impossibilidade de «aplicar» normas a um dado naturalístico, em vez de a um a posteriori normativamente recortado, persistindo, porém, inconciliavelmente, em invocar os quadros subsuntivos (passim !). Em ilustração da tendência referida, que, fique claro, se reúne muito mais na imputação de inúmeros limites à subsunção do que no seu simples afastamento, cf., além de C. NEVES e de FIKENTSCHER, LARENZ, Metodologia, 379-389 e 391-406, OLIVEIRA ASCENSÃO, O Direito, 599-604, e MENEZES CORDEIRO, v.g., em Introdução, CI-CXIV, ou, ainda, H.-M. PAWLOWSKI, 65-71, 75-8, 135-9 ou 177-9 (que atribui uma «função positiva» aos «modelos de subsunção», apesar de tudo, nos «casos claros» e, irrenunciavelmente, na fundamentação das decisões, deixando o núcleo da sua crítica, depois, na circunstância de esses «modelos» ocultarem o modo activo por que os vários sujeitos processuais, e não só o juiz, intervêm na «determinação da questão de facto» e na «qualificação»), BAPTISTA MACHADO, Introdução, 79-82, 205-217, 314-9, 322-5 (reconhecendo o silogismo, apenas, como «modelo puramente formal da estrutura e do funcionamento da norma jurídica»), e F. BRONZE, v.g., 95-111, 491-6 (que sem dúvida verá no superar da ilusão subsuntiva uma «indiscutida trivialidade», para usarmos uma expressão do A., na p. 485). Vai no mesmo sentido, inclusive, um «jurista acidental» como RICŒUR, p. 156-7, embora numa formulação muito discutível, pois, ao recusar, bem, «a via directa da subsunção», acolhe, mal, o «silogismo jurídico», o que poderá compreender-se pelo contexto geográfico em que as suas reflexões emergem. No mínimo, os AA. reconhecem áreas que escapam à subsunção (v.g., ENGISCH, 248-9) ou recusam a preponderância da lógica formal nos seus momentos (v.g., ZIPPELIUS, 80-82). Abandonado o «silogismo judiciário», cumpre então observar a indissociabilidade entre o «facto» (juridicamente relevante) e o «direito» (reclamado pelos «factos»). «Não o “direito” e o “facto”, mas, e simultaneamente, o “direito” do “facto” e o “facto” do “direito”» (CASTANHEIRA NEVES, Questão-de-facto, p. XIII). Referir as duas «questões» obriga a uma remissão genérica para a obra de C. NEVES acabada de citar, de 1967, que olha a distinção como problema metodológico — além do próprio subtítulo da obra e do prefácio, cf. 11-46, onde se apontam as fragilidades das tentativas de aproveitamento «dogmático» da distinção, como nos arts. 652.º, 653.º e 657.º CPC. Da sua investigação (cf., sobretudo, 128-156, 201-224, 237-250, 455-504 e 579-584), o A. conclui (p. 585-6) que «o direito não é elemento, mas síntese, não é premissa de validade, mas validade cumprida [...], não é prius, mas posterius, não é dado, mas solução, não está no princípio, mas no fim.» «Não é “o direito” que se distingue de “o facto”, pois o direito é a síntese normativo-material em que o “facto” é também elemento, aquela síntese que justamente a distinção problemática criticamente prepara e fundamenta.» O problema, para C. NEVES, não está, pois, em distinguir o direito, como «objecto», de outro algo objectivo não-direito, mas em distinguir no próprio seio da intenção constitutiva do direito os momentos que aí funcionam como momentos dessa constituição e que vêm a integrar-se na síntese que ele próprio (o direito) é, quando constituído e realizado. Deve confrontar-se a investigação, pouco anterior, de CASTRO MENDES, Conceito de prova, 1961, esp.te 489-501 e 561-593. Na literatura mais recente, cf. as referências, naturalmente sumárias, de LARENZ, Metodologia, 433-8, H.-M. PAWLOWSKI, 129-139, ou mesmo ZIPPELIUS, 84-5 e 90-3 (que, partindo do modelo silogístico, acaba por admitir que algumas questões tanto se possam formular como «de facto» ou «de direito», voltando às antigas «questões mistas» — sobre estas, cf. C. NEVES, loc. cit., 212-224). Quem quisesse manter, para além da distinção, a separação entre «questão de facto» e «questão de direito», à maneira do silogismo subsuntivo, consideraria o ónus da prova, sem dúvida, uma «questão de direito», mas confinante com a «questão de facto». A quem aceite a impossibilidade de separar as «duas» questões, o ónus da prova surge, sem dificuldades, como uma manifestação particular dessa unidade. Cabe aqui, por isso, uma nota. O leitor deverá subentender, nas págs. que hão-de seguir-se, o pressuposto de que já na questão de facto, onde quer que devam colocar-se as suas fronteiras, se visa, sempre, uma solução de direito para um problema (concreto ou abstracto) de direito, ou seja, pretende resolver-se uma questão de direito que se inicia num juízo de juridicidade. A «questão de facto» é exigida e «recortada» (delimitada) por certa «questão de direito», pensada e decidida em atenção a ela, que, por seu turno, é a um tempo pré-entendida, a outro plenamente assumida, antes de decidida. Quer dizer, a intencionalidade especificamente jurídica (normativa, hoc sensu) e a conformação jurídica da acção do decisor nunca abandonam o processo de decisão: a questão de facto é uma questão de direito. Não o podem impedir preceitos como os arts. 652.º e 653.º CPC: do seu cumprimento jamais resultarão «puros factos». Claro que o condicionamento pelos juízes da decisão «de facto» à sentença pretendida, contornando o direito tido (talvez por lapso) como vigente, é, a todas as instâncias, condenável — cf., aliás, ENGISCH, 107-9. Lembrem-se as queixas relatadas por ALBERTO DOS REIS, Código, IV, 569-571. Mas a antecipação do «direito» no «facto» vai muito além desse vício. Já não suscitará reservas, p. ex., que o tribunal competente em «matéria de facto» se «deixe convencer» mais facilmente da verificação dos pressupostos de uma condenação civil em sumaríssimo do que dos de uma condenação a prisão efectiva. Por outro lado, nada disto obsta à consideração, e em três sentidos, de «factos sem direito», para além dos que sejam «irrelevantes para o direito». Primeiro, mas sem aproveitamento metodológico, concebe-se e pressupõe-se a existência de factos, de «coisas reais», de «coisas em si», anteriores (exteriores) aos problemas jurídicos. Depois, encontram-se, antes da decisão, momentos teoréticos, cognitivos, jurídicos apenas pelo contexto, em que se pretendem «juízos de facto» (contra, C. NEVES, loc. cit., 455-504; cf. ainda, quanto à «ciência do direito», a n. 93 das pp. 908-921) — o «facto sem direito» surge aqui como finalidade (não como dado), embora contingente e instrumental. O juiz e o legislador perguntam 25 A TEORIA DAS NORMAS E O ART. 342.º, N.ºS 1 E 2 4. A «teoria das normas» de ROSENBERG Para compreender a «teoria das normas», convém, antes de mais, situar no tempo o pensamento de ROSENBERG. Tendo a 1.ª ed. em 1900, Die Beweislast é, em rigor, uma obra de 1923, momento em que surgiu a sua 2.ª ed., com alterações essenciais, feita por ocasião da passagem do A. a Ordinarius Professor na Universidade de Gießen. As três edições posteriores, a última trabalhada até ao falecimento do A., em 1963, visam sobretudo a actualização de referências jurisprudenciais e doutrinárias, respondendo ainda a algumas críticas entretanto vindas a lume74. A informação cronológica parece necessária para que não surpreenda o posicionamento metodológico do A.. É relativamente simples expor esta doutrina sobre a repartição do ónus da prova. Para o A. de Die Beweislast, nenhuma norma pode ser aplicada sem que o juiz se convença da verificação de todos elementos da sua facti species. Na incerteza, decide, portanto, contra a parte que a norma beneficiaria. Importa, então, distinguir cuidadosamente as normas que aproveitam a cada uma das partes. Essa distinção faz-se tendo em conta a redacção legal, que autonomiza os vários preceitos. Encontramos, assim, «normas de base» e «contranormas»; aquelas são constitutivas, estas impeditivas, excludentes ou extintivas das anteriores. É necessária convicção do juiz relativatambém «o que se passa?» ou «o que se passou?», e por isso se socorrem de outras áreas do saber, se bem que as suas respostas (a que não se podem furtar) sejam de juristas, e não de historiadores, sociólogos, economistas ou médicos. Curiosamente, até na que foi tida como a «questão de direito» por excelência, i.e., na interpretação da lei, se topa aqui e ali com esse modo de perguntar. P. ex.: «o que diz o art. 342.º?» — idêntico a «leia-se o art. 342.º» (podemos pedi-lo a uma criança de 6 anos), mas diferente do comum «o que quer dizer o art. 342.º?». Voltando à questão de facto, já será incorrecto, contudo, pensar (como farão os defensores do «silogismo») que ela corresponde (apenas) à aludida intenção teorética. A actividade cognitiva é descontínua, fragmentária, geralmente sem um tempo próprio, e sempre uma reacção à perspectiva prática, normativa, que a absorve, mas não a anula. A interrogação (eventual) «a compressa deixada durante a operação tinha mais de 4 cm?» («facto sem direito»), além de condicionada, por exemplo, pela ausência de uma «confissão» ou «admissão» eficaz a seu respeito, é apenas acessória de uma outra (necessária): «deve julgar-se como se a compressa... tivesse mais de 4 cm?» («facto do direito»). Num terceiro sentido, o «facto sem direito» é, por contraditório que pareça, um produto do direito. A decisão jurídica pressupõe, pelo menos em regra, uma representação do «real histórico». P. ex., certa condenação a indemnizar teve como pressuposto, nem importa se expresso, que «...o veículo conduzido por A. atingiu B., que fracturou nesse momento...». Não se trata de um «puro facto» ou de uma «pura afirmação de facto», pois, ainda que tudo o mais faltasse, sempre estaríamos diante do resultado da notoriamente jurídica «prudente convicção dos juízes», da «admissão por acordo», etc., e de um elemento de uma condenação (cf. uma exposição e crítica das teses do «facto puro» ou da «percepcionalidade do facto» em LINHARES, 32-68). Por isso, «o veículo... atingiu...» será, antes de mais, justo ou injusto. Tomada em si, porém, aquela proposição descreve um mundo concebível com autonomia de qualquer valoração, de qualquer normatividade. Será, por isso, verdadeira ou falsa. Produto do direito (e, logo, «impura»), mas «facto sem direito». Da decisão jurídica retiramos por análise uma abstracção que — ela ou o seu possível referente — é apenas facto. A abstracção é necessária para fins descritivos, pedagógicos, de controlo e de dogmatização. O ónus da prova, quando tem lugar a sua invocação, é anterior ao «facto resultado», contribuindo para o determinar — é, então, um dos aspectos jurídicos da questão de facto. Sucede, no entanto, às tentativas de «mero conhecimento» dos «factos carecidos de valoração». Sucede, inclusive, ao juízo de «não convicção», de non liquet. É uma pura «questão de direito». «O ónus da prova pressupõe a incerteza na questão de facto» quer dizer «o ónus da prova destina-se imediatamente à obtenção, em situações de incerteza, do “facto resultado”». 74 Cf. os prefs. das pp. V e VI e os importantes distanciamentos relativamente à 1.ª ed. nas pp. 42 e 176. Cf. ainda PRÜTTING, Gegenwartsprobleme, 163-4, sobre o surgimento das «normas de ónus da prova» na 2.ª ed.. Até o subtítulo se alterou: ...nach [segundo] der ZPO und dem BGB, passou a ...auf der Grundlage [com fundamento em] des BGB und der ZPO.... 26 mente a todos os elementos da facti species, como quer que eles se concretizem num processo. A distribuição do ónus da prova não depende, portanto, da posição das partes: quem afirma que celebrou certo contrato, pedindo, v.g., o seu cumprimento, terá de provar essa celebração quer seja autor numa acção de cumprimento, quer seja R. numa acção de apreciação negativa, porque sempre invoca a norma que prevê a celebração do contrato. ROSENBERG parte da consideração de que nenhuma norma pode ser aplicada sem que o juiz se convença da verificação de todos os seus pressupostos. Extrai daí que a recusa de aplicação sucederá tanto quando o juiz se convença da não verificação de um ou mais dos elementos da facti species (Tatbestand ) da norma a aplicar, quanto quando o juiz não se convença quanto à sua verificação. Quer isso dizer, então, que «a parte cuja pretensão processual não pode ter sucesso sem a aplicação de determinada norma jurídica suporta o ónus da alegação e da prova de que os elementos da facti species dessa norma se verificaram de facto na situação» ou, abreviadamente, que «cada parte tem de alegar e provar os pressupostos da norma que a favorece»75. O problema do ónus da prova seria apenas, então, um dos aspectos da aplicação do direito76. Cabe desde já assinalar que, ao longo de todo o seu trabalho, o A. utiliza indiferentemente os termos «Rechtsnorm» e «Rechtssatz»77. Se o primeiro deve ser traduzido, sem dúvida, por «norma jurídica», o segundo, summo rigore, só poderia ser vertido para a nossa língua como «enunciado jurídico» ou mesmo como «trecho legal». Na verdade, «Satz» designa o significante, quer dizer «frase» ou «oração»78. «Norm» respeita ao significado ou a um ente ideal para lá do significado. Usamos «norma» para qualquer um dos compostos germânicos. Não resulta daqui menor clareza do que do texto original, mas ela é desembaraçadamente desfeita por ROSENBERG a partir de dado passo: «normas», começa o A., «não são necessariamente cada um dos preceitos do BGB» (it. nosso); há normas complementares, quer quanto à facti species quer quanto aos efeitos. E não se refere apenas às normas definidoras, tratar-se-ia de um fenómeno geral79. Num exemplo muito elucidativo, usando o § 937 BGB80, exprobra-se a afirmação civilista de que a usucapião de móveis teria como requisitos a posse em nome próprio por dez anos e a boa fé. A boa fé não é requisito da usucapião. A única reprodução fiel do direito legal tem de ver a má fé como um impedimento da usucapião, o § 937 II é uma contranorma81. Mais à frente, o A. explica que a distinção entre as normas tem de ser identificável, num direito codificado, através da redacção legal. A separação entre a norma de base (Grundnorm) e a contranorma é feita muitas vezes pela lei através do uso de expressões como «a não ser que», «salvo se», «excepto se», «isto não vale se», «este preceito não se aplica quando», etc.. É este o modo normal de se exprimirem excepções (em alemão, como em português). Ao invés, há apenas uma norma, indicando-se mais alguns dos seus pressupostos, quando a lei usa «se», «quando», «na medida em que», «desde que», etc., seguindo-se um «não» se esses pressupostos forem negativos. É o legislador, com efeito, quem está mais bem colocado para dizer se se trata apenas de uma norma ou de uma norma e uma contranorma, pois assim exprime o seu conteúdo material 82. O ónus define-se «com as Beweislast, 11-12 e 98-99, 106, etc.. Beweislast, 112. 77 Fazem-no, aliás, AA. muito posteriores, como os próprios MUSIELAK e PRÜTTING. 78 Por isso, também a tradução de «Satz» por «proposição», feita nas versões portuguesa e inglesa que citamos, respectivamente, do Tractatus e do Über Gewissheit de WITTGENSTEIN, aceita-se apenas por tradição. Em rigor, como nota J. TIAGO DE OLIVEIRA, Alguns comentos sobre o «Tractatus», p. XI, preferir-se-ia «enunciado», «frase», «expressão» ou «asserção». Por outro lado, poderá dizer-se que o próprio termo alemão é ambíguo. Simplificadamente, diríamos que as frases são estudadas pela sintaxe; as proposições, pela lógica e pelos ramos do saber que tenham por objecto o que nelas se refere; cabe à semântica a relação entre umas e outras — ou entre significado e sinal (Zeichen), como nota, por exemplo, ZIPPELIUS, p. 102. 79 Beweislast, 104-5. 80 Diz o § 937 BGB: «(1) Quem tiver a posse em nome próprio por dez anos de uma coisa móvel adquire a propriedade. (2) Não há usucapião [Ersitzung] quando o adquirente não está de boa fé ao adquirir a posse em nome próprio ou quando vem a saber mais tarde que a propriedade não lhe pertence [zusteht]». 81 Beweislast, 112-3, 135, 204, etc.. O A. usa com frequência este exemplo. A categoria «contranorma» não é exclusiva de ROSENBERG. BETZINGER, que, no pref. (p. V), contesta o «radicalismo» contra a «jurisprudência dos conceitos» e lembra que «não há ciência sem conceitos!», acolhe-a (p. 4-32), mas acaba por lhe negar carácter decisivo na distribuição (78-81). 82 Beweislast, 126-9. Não há interesse em indicar os correspondentes termos alemães, sem prejuízo, evidentemente, de que o paralelismo é apenas aproximado. 75 76 27 palavras dos elementos da facti species legal»83. Na concepção de ROSENBERG, portanto, a redacção legal é decisiva para a distinção das várias normas jurídicas. De tal modo que a sua teoria foi já chamada «teoria da estrutura das frases»84. A enorme relevância da «estrutura sintáctica» da lei para a distribuição do ónus da prova é hoje um ponto assente na doutrina alemã dominante, sempre em referência a ROSENBERG. Como lembra o nosso A. e a restante doutrina — este ponto é fundamental — os redactores do BGB tiveram justamente o cuidado de escolher a sintaxe legal de que resultasse a distribuição do ónus da prova85. ROSENBERG tenta abrandar depois o vínculo entre distribuição do ónus da prova e redacção legal, sustentando que os restantes «elementos da interpretação» intervêm igualmente na autonomização das normas, que seria possível a analogia nesta tarefa e que a sua teoria vale ainda para um direito não codificado ou mesmo para as leis anteriores ao BGB, em que não houvera o mesmo cuidado na redacção legal. Noutro ponto, porém, recusara que a distribuição do ónus da prova pudesse resultar do costume86. Ficou assente o «princípio fundamental» de distribuição do ónus da prova na teoria rosenberguiana, que lhe valeu o nome de «teoria das normas» (Normentheorie), aceite pelo A.87. Com este apoio, vem distinguir-se entre normas de base e contranormas, que funcionam como regra e excepção — sendo certo que os conceitos são relativos, de modo que a mesma norma pode ser aqui norma de base e ali contranorma. Todo o esforço da teoria das normas vai no sentido de identificar e delimitar reciprocamente as várias normas legais. Ao criarem direitos, as normas de base são normas constitutivas (rechtsbegründende); ao afastarem-nos, as contranormas serão impeditivas, se evitarem desde o início o efeito da norma constitutiva, excludentes (rechtshemmende), quando a sua facti species se preenche, pelo menos em parte, ou antes, ou durante o preenchimento da da norma constitutiva, conferindo o direito potestativo de extinguir o direito criado, ou extintivas, quando produzem o desaparecimento do direito, mas toda a sua facti species é posterior à da norma constitutiva. Em relação às contranormas, haverá outras normas que impeçam, excluam ou extingam a sua eficácia, sem limite. A contranorma contém forçosamente na sua facti species todos os elementos da norma de base, acrescentando alguns outros, correspondendo, portanto, a um «sim, mas». Diferentes são as «normas autónomas incompatíveis», de que é principal exemplo o caso de o autor alegar ter mutuado, pretendendo a restituição, e o R. opor ter ocorrido doação. Aqui, para a improcedência do pedido, não é necessário fazer prova da doação, basta ser incerto o mútuo, previsto pela norma que serviria de fundamento à obrigação de restituir88. A distinção entre factos constitutivos, impeditivos, extintivos, etc., anterior a esta obra, é aceitável, mas só imperfeitamente espelha que a norma é o critério. Esse carácter dos factos é-lhes dado sempre pela norma, não devendo confundir-se a causa com o efeito89. A identificação das diferentes categorias de normas não geraria quaisquer dificuldades se devêssemos optar apenas entre constitutivas, extintivas e excludentes. Estas últimas ostentam o traço inequívoco de darem origem a um direito potestativo, e as anteriores o de terem toda a sua previsão preenchida apenas depois de completa a das constitutivas, que, por sua vez, fundam uma pretensão. Entre normas constitu- Beweislast, p. 169. It. nosso. «Satzbautheorie». Cf. LEONHARD, 102-120, que critica tb. outros AA.. Cf. ainda STECHER, 62-3. 85 Motive, vol. I, p. 382: «De resto, na redacção dos preceitos do projecto, dirigiu-se em geral um esforço, em relação a cada uma das facti species [Tatbestände] juridicamente relevantes, no sentido de permitir identificar, tanto quanto possível, o âmbito do dever de alegar e, mediatamente, também do dever de provar.» É habitual citar ainda as actas da revisão dos projectos (Protokolle, vols. I, 259, VI, 383-4), textos a que não tivemos acesso. Os Motive respeitam ao primeiro projecto. 86 Beweislast, 128-9, 130-1 (outros «elementos da interpretação»), 241-2, 334, 362, etc. (analogia), 117-8 (impossibilidade de regulação consuetudinária, em manifesta contradição com a p. 222). 87 V.g., pp. 198 e 280, primeiro com aspas, depois sem elas. TEIXEIRA DE SOUSA, Responsabilidade médica, p. 131, traduz «Normentheorie» por «teoria normativa». A nossa opção ganhará, talvez, em expressividade, pois o nome da tese de ROSENBERG nem denota apenas uma intencionalidade prático-normativa, nem a mera referência a um critério normativo-abstracto, mas, para além disso, a preocupação de encontrar e distinguir «cada uma das normas legais». O criador da Normentheorie também chamou ao seu postulado «plenitude da facti species» (Vollständigkeit des Tatbestandes; pp. 153 e ss.), mas essa designação veio a ser reservada por alguns AA. (MUSIELAK, Grundlagen, 283-4, PRÜTTING, Gegenwartsprobleme, 254, BAUMGÄRTEL, Beweislastpraxis, 101-2) para a tese de LEONHARD, que apreciaremos sumariamente. 88 Beweislast, 100-4. «Norma excludente» traduz literalmente «rechtsausschließende Norm», que ROSENBERG dá como sinónimo de «rechtshemmende Norm» (p. 101). Tanto o A. quanto os seus seguidores usam preferencialmente o segundo termo. «Hemmend» poderia traduzir-se por «impeditivo», com o inconveniente óbvio, ou, melhor, por «repressivo». MANUEL DE ANDRADE, Noções, p. 134, n. 1, usa «paralisante» por «hemmend» e «preclusiva» por «ausschließend». 89 Beweislast, 107-9. 83 84 28 tivas e impeditivas, contudo, a opção é difícil. AA. como LEONHARD90 negaram a existência de normas impeditivas. Por os elementos da sua facti species se concretizarem antes dos das constitutivas, ou simultaneamente, assemelham-se a pressupostos negativos destas. Mas não pode aceitar-se a identificação. A oposição entre norma constitutiva e impeditiva segue a contraposição regra / excepção, que, como se disse, num direito codificado, terá de ser identificável, sendo por isso de saudar que os redactores do BGB tenham tido essa preocupação. LEONHARD pretende que as impeditivas não são normas autónomas por não terem efeitos próprios, i.e., não alterarem situações jurídicas91, mas o seu conceito de efeito jurídico é demasiado estreito: tem de se acrescentar a não alteração por circunstâncias especiais, apesar de existirem os seus pressupostos. Mais afirma LEONHARD que a distinção seria alheia ao direito material, relevando unicamente para efeitos de distribuição do ónus da prova92. Se isso fosse verdade, porém, já seria suficientemente significativo. A norma impeditiva corresponde ainda, contudo, ao conceito de «meios de defesa», que o BGB utiliza. A diferença linguística é também evidente. Nalguns casos, acresce, a norma tanto pode surgir em concreto como extintiva quanto como impeditiva, sendo absurdo pensar que só na primeira hipótese teríamos uma contranorma. A tese de LEONHARD é, em termos práticos, insustentável, pois alargaria incomportavelmente o ónus de quem pretende fazer valer o seu direito e, por isso, o próprio LEONHARD apresenta inúmeros meios alternativos de tutela probatória, designadamente através de um acrescido ónus de alegação do R., da invocação de critérios de probabilidade que satisfariam o ónus da prova e da indicação de várias outras regras de apreciação da prova no mesmo sentido93. ROSENBERG dá uma série de exemplos com pares de normas em que ora surge um facto como impeditivo, ora como pressuposto negativo de norma constitutiva, tentando com eles corroborar a diferenciação material entre ambas. Tem interesse reproduzir dois deles94: Saindo do campo jurídico, o A. de Beweislast descreve uma disputa entre Lutero, por um lado, e Calvino e Zwinglis95, por outro, em cujos termos o primeiro pretendia afastar, das instituições e dogmas da Igreja, apenas os que contrariassem as escrituras, enquanto que os segundos defendiam dever-se fazê-lo com todos os que não encontrassem aí um apoio. Para Calvino e Zwinglis, diz ROSENBERG, uma concordância positiva seria pressuposto da manutenção de uma instituição, enquanto que para Lutero a contradição seria um impedimento, e ninguém afirmaria haver aqui apenas uma questão de ónus da prova. Segundo a ordenação alemã do tráfego ferroviário — prossegue ROSENBERG — «em primeira classe, só pode fumar-se com a concordância de todos os viajantes do mesmo compartimento.» Segundo uma regra anterior, vigente na Baviera, era «proibido fumar em caso de oposição dos restantes passageiros.» A diferença entre os preceitos é substantiva; no primeiro, a concordância é pressuposto da licitude de fumar; no segundo, a oposição impede essa permissão. ROSENBERG tem ainda o cuidado de apontar que a relação regra/excepção se refere à regra legal, e não a qualquer regra da experiência. Não está em causa a maior ou menor probabilidade de um facto. As regras da experiência e a probabilidade só têm alcance em sede de apreciação da prova, i.e., contribuindo para a convicção do juiz. O ónus da prova está para além disto, só releva quando não há regra da experiência alguma que tenha permitido essa convicção. A regra da experiência tem um papel idêntico ao de uma testemunha. Por isso, a regra da experiência pode, no máximo, ser o motivo de uma presunção legal, que inverte o ónus da prova, mas ela própria não dá a sua distribuição96. A teoria rosenberguiana tem também como característica de enormes repercussões o afastamento entre a distribuição do ónus da prova e o concreto processo em que surja um problema de non liquet, ou Cf. LEONHARD, Beweislast, 2.ª ed., 1926 (1.ª ed., 1904), p. 138 e nos locais indicados de seguida. Cf. LEONHARD, 138-156 (contra ROSENBERG, em especial, nega que uma «mera possibilidade» seja um efeito). 92 Cf. LEONHARD, 72-84, ao negar significado à relação regra/excepção do direito material, esp.te 78-84, ao considerar impossível uma separação rigorosa das regras. Admitindo por hipótese que a ZPO distinguisse «normas impeditivas», então, a distinção não seria de direito material, mas sim processual. 93 ROSENBERG, 139-143. Cf. LEONHARD, 177-182 (ónus da alegação acrescido, com apoio em decisões do RG), 183-9 (apelando ao máximo uso da apreciação da prova, anterior ao ónus da prova), 203-5 (ónus da iniciativa [Anregungslast], que implicaria uma alegação contrária a elementos «tacitamente invocados»). Alguns desses meios de atenuação dos «grandes rigores» da distribuição do ónus da prova continuam hoje a ser invocados. 94 ROSENBERG distingue entre normas impeditivas e constitutivas nas págs. 119-145. Vide, esp.te, 124-5, 132-8, 144-5. Os exemplos surgem de págs. 135 a 138. Repete-se um, já citado, referente à usucapião de móveis (§ 937 BGB). 95 Em português, parece, «Zuínglio», segundo MANUELA PARREIRA/J. MANUEL DE CASTRO PINTO, Prontuário ortográfico moderno, 6.ª ed., Asa, Porto, 1997, p. 291. 96 Beweislast, 125-6, 186-193, 208, 211, 339, etc.. 90 91 29 seja, a defesa de uma distribuição abstracta do ónus, o que decorre com nitidez da associação feita às normas legais. Nas palavras do A., a questão é transportada «da arena batalhada do litígio para o éter puro da ordem jurídica»97. É certo — digamos nós — que o «éter» não existe, mas a comunidade científica ainda não teria chegado a consenso público a esse respeito quando Die Beweislast foi escrita. A distribuição abstracta do ónus mostra-se plenamente na irrelevância da posição processual das partes. É indiferente quem seja autor ou R.; interessa apenas quais as normas cujos pressupostos podem ter-se concretizado ou não. Assim, é indiferente que, numa acção de cumprimento, o R. invoque a anulabilidade do contrato que a funda ou que o mesmo sujeito tenha proposto uma acção de anulação desse contrato; neste caso, não tem ainda qualquer consequência que o R. reconvenha ou não: sempre recairá o ónus da prova do preenchimento dos pressupostos da anulação àquele que a pretende. De igual modo, numa acção de apreciação negativa, incumbe ao R. a prova dos factos constitutivos do seu direito, tal como lhe caberia idêntica prova se fosse autor na simétrica acção de apreciação positiva ou na acção de condenação correspondente. Esta é uma decorrência elementar da tese de ROSENBERG, e pode dizer-se que não veio a ser posta em causa pela doutrina alemã posterior. A ordem por que as alegações surgem no processo e, nomeadamente, as «alegações antecipadas» não interferem, igualmente, na distribuição. Tanto faz que o autor alegue apenas na petição «celebrou-se a compra e venda X», quanto que junte a essa a afirmação de que «o R. não pagou» ou de que «o R. conhecia perfeitamente a coisa comprada». É o autor que tem de provar as declarações que consubstanciam a compra e venda, nos termos da sua previsão legal; sobre o R. recai o ónus da prova da extinção da sua obrigação; prove o autor o conhecimento do R. que impede a «prestação de garantia» (Gewährleistung) por defeitos da coisa (o § 460 I BGB como contranorma do § 459)98. A construção de ROSENBERG afasta-se ainda do concreto processo — de novo numa decorrência esperada das suas anteriores asserções, embora aqui com alguns «complementos» — na defesa de que não desempenham qualquer papel as diferentes concretizações in casu dos elementos da previsão legal. Num exemplo nosso: tanto importa que quem faz valer as regras do contrato de compra e venda alegue, com oposição do R., que as partes assinaram um documento que consubstancia tal acordo, quanto que ampare o seu pedido numa longa sequência de declarações, ora propostas, ora rejeições, ora contrapropostas, umas verbais e outras escritas, umas expressas e outras tácitas, algumas sob a forma de «silêncios» eloquentes, outras sem o significado de rejeição que teriam no contexto invocado pelo R., de cujo conjunto resultaria o consenso contratual. Em todos os casos, sempre a incerteza sobre a sua verificação reverteria em prejuízo do autor, pois é dele o ónus de que se «celebrou um contrato» e de que ele consubstanciava «uma compra e venda», tal como as previsões legais descrevem. O «ónus da prova concreto», i.e., a respeito dos concretos factos controvertidos que o juiz subsumirá a uma norma legal, determina-se pelo ónus abstracto, i.e., definido na redacção dessa norma99. A opção do A. é manifesta em casos de facti species complexa, quer dizer, com um número elevado de elementos autónomos, e ainda naqueles em que ela é verbalmente limitada, mas admite concretizações variadíssimas e com um grande elenco de aspectos juridicamente autonomizáveis. A teoria das normas manda, p. ex., que o ónus da prova de uma «violação grave dos deveres conjugais», como dizia o então vigente § 43 EheG100, que recai sobre o cônjuge que pede o divórcio, inclua não só a prova de factos perturbadores da vida conjugal, mas também das circunstâncias que determinam que aí se tenha consubstanciado uma «violação» e que ela tenha sido «grave». Designadamente, o autor tem de provar que uma agressão do R. não ocorreu em legítima defesa, não foi provocada, não resultou de doença mental, etc.. ROSENBERG explica que não estamos perante normas impeditivas como a da comum legítima defesa, mas apenas da concretização do conceito de «violação grave». Isto não é especialidade do processo de divórcio: p. ex., se se pretende anular um contrato por dolo omissivo, é necessário provar que a contraparte não deu certa informação; se é problemática a existência de indignidade sucessória, tem de se provar não só que houve maus tratos dolosos contra o autor da sucessão, mas também que os maus tratos não ocorreram em legítima defesa, pois só assim terão sido «culposos», como diz o § 2333, 2 BGB, sem prejuízo, naturalmente, de o juiz se poder convencer dessa ausência de diferentes maneiras101. ROSENBERG só admite que o ónus da prova «Aus der kampferfüllten Arena des Rechtsstreits in den reinen Äther der Rechtsordnung» (Beweislast, p. 117). Beweislast, 173-9 e, para o exemplo da Gewährleistungsanspruch, p. 353. 99 Beweislast, 166-173. 100 Ehegesetz (Lei do Casamento), de 20-2-1946. A matéria do divórcio encontra-se hoje no BGB, §§ 1564 a 1588. 101 Beweislast, 157-162. 97 98 30 concreto «complemente» a distribuição abstracta no campo da chamada «contraprova indirecta», i.e., quanto a indícios, elementos probatórios exteriores à facti species da norma a aplicar, que abalariam a convicção quanto ao seu preenchimento. Quanto a esses indícios, o ónus é, não de quem invoca a norma, mas da parte contrária, desde que já houvesse convicção quanto aos factos principais. Nestes «indícios», ROSENBERG inclui uma gama muito variada de situações102. 5. A aceitação crítica da «teoria das normas» Como se sabe, esta teoria das normas é ainda o eixo das concepções dominantes na Alemanha sobre distribuição do ónus da prova. Os AA. reportam-se hoje a uma «teoria das normas modificada». «Modificada» por duas vias: não aceita os pressupostos teóricos originários e, em soluções concretas demarcadas, afasta-se do que resultaria da construção rosenberguiana103. A terminologia «normas» ou «factos» «constitutivos, excludentes, impeditivos e extintivos» tem sido geralmente mantida. O mesmo se diga da afirmação da insignificância da posição processual das partes, i.e., da insignificância de surgir uma ou outra das partes como autor ou R., que, de tão consensual, só em estudos mais desenvolvidos sobre ónus da prova é mencionada104. Entre os pontos recebidos, destaca-se, porém, o comum entendimento de que a redacção legal nas matérias a que respeite o non liquet, ao menos no BGB, tem associada uma distribuição do ónus da prova, no sentido, pretendido por ROSENBERG, de que distingue «normas» cujos pressupostos de aplicação têm de ser provados por quem delas aproveitaria. Quer dizer que a redacção «Há direito a P quando se verifique x e não se verifique y» implica que recai sobre o pretenso titular do direito a P o ónus da prova de x e de não-y. Da fórmula «Há direito a P quando se verifique x, salvo se se verificar y» decorre, pelo contrário, que o titular tem o ónus de x, mas a contraparte tem o ónus de y. Note-se que, obtendo o juiz convicção sobre todos os aspectos relevantes, qualquer que seja a redacção, reconhecerá o direito no caso de terem ocorrido x e não-y, recusando-o se tiver sucedido não-x e/ou y. P. ex., o § 178 BGB preceitua que «até à ratificação do contrato, a outra parte tem direito à revogação, a não ser que conhecesse a falta de poderes de representação no momento da conclusão do contrato»105. Decorre daqui que, não sendo líquido para o tribunal se a contraparte conhecia ou não a falta de poderes, decidirá como se ela não conhecesse, pois a lei autonomiza o conhecimento numa «norma impeditiva» do direito de revogar. Não havendo certeza quanto ao preenchimento dessa norma, ela não opera, aplicando-se plenamente a norma de base, que atribuía o direito; o ónus da prova é do represenBeweislast, 193-8. A locução «teoria das normas modificada» é de PRÜTTING, Gegenwartsprobleme, p. VII e 352, e nem sempre aceite. A crítica de fundamentos teve, porém, o seu fulcro na obra de LEIPOLD, Beweislastregeln und gesetzliche Vermutungen, de 1966. A adesão à «teoria das normas» com «modificações» é largamente maioritária nos últimos 20 anos: cf. GMEHLING, 59-67 (e 67-103), HANSEN, 63-74 (numa muito grande adesão às teses de ROSENBERG: cf. tb., p. ex., 109-119), KEMPER, 37-44, BAUMGÄRTEL, Beweislastpraxis, 110-121 (com o cuidado, p. 113, de exemplificar os desvios práticos que concretizam a «modificação»), STECHER, 67-9, HEINRICH, 79-86, SCHLEMMER-SCHULTE, 23-6. As teses de MUSIELAK, Grundlagen, de 1976, faziam já uma «teoria modificada». 104 LEIPOLD, p. 49, REINECKE, 31-2, PRÜTTING, Gegenwartsprobleme, 189-190, 242-3, que diz tratar-se de «opinião absolutamente unânime», BAUMGÄRTEL, Beweislastpraxis, p. 109. No mesmo sentido, WAHRENDORF, p. 63, embora erre quanto ao que resultaria do princípio do queixoso, como notam PRÜTTING, loc. cit., e BAUMGÄRTEL, op. cit., p. 107, n. 144. 105 Equivalente ao 268.º/4 CC: faculdade de a contraparte revogar o negócio para que o representante não tinha poderes. A sintaxe do enunciado português é absolutamente paralela à do germânico. 102 103 31 tado106. Inversamente, numa redacção hipotética do § 178 como «[...] a outra parte tem direito à revogação se não conhecesse a falta de poderes [...]», o ónus da prova do desconhecimento seria, à partida, da contraparte, pois o seu direito de revogar teria como facto constitutivo o desconhecimento. A técnica de descobrir a repartição do onus probandi na sintaxe da lei parece ter vindo para ficar. Poderia pensar-se que a talvez defensável associação estreita entre distribuição do ónus da prova e redacção legal não resulta propriamente das teses rosenberguianas, mas sim do cuidado posto pelos redactores dos textos legais — sobretudo, do BGB — na indicação das regras de distribuição do ónus através dessa mesma estrutura frásica. Uma consequência primária da «teoria das normas» não dependeria afinal dos seus termos, mas da específica técnica de expressão usada pelo legislador. Aliás, já antes de ROSENBERG, mas sobretudo após a publicação do BGB, se chamava a atenção para a relevância da «estrutura das frases» e, em especial, para locuções como «excepto se», etc., que tivemos oportunidade de arrolar107. A doutrina alemã, todavia, não tem seguido esta pista. Cabe agora registar o que foi abandonado da «teoria das normas». Encontramos de imediato a questão da distinção entre normas constitutivas e normas impeditivas. É hoje ponto assente na literatura alemã que não existe diferença substantiva entre ambas. Aqui, LEONHARD vence claramente ROSENBERG108. Comecemos por pôr a nu a total improcedência dos exemplos aduzidos por este A. para demonstrar tal diferença. No caso da usucapião de móveis nos termos do § 937 BGB, não consegue descortinar-se qualquer divergência substantiva entre formular «há usucapião se houver posse e boa fé» ou «há usucapião se houver posse, mas a regra não se aplica se houver má fé». O pretenso vício civilista de que fala o A. não é senão o louvável esforço de apresentar sucintamente os factos relevantes. O próprio ROSENBERG, num primeiro momento, critica na literatura de direito privado que se esqueça a posição do juiz que tem de decidir apesar 106 BAUMGÄRTEL/LAUMEN, vol. I, p. 162. No mesmo sentido ia, naturalmente, ROSENBERG, p. 335. Veja-se como LARENZ, Allgemeiner Teil, p. 628, alheio à questão do ónus da prova, tanto diz «Se [...] não conhecia, [...] pode revogar» quanto «Se [...] conhecia, fica vinculado [...]». 107 O próprio ROSENBERG, Beweislast, p. 127, n. 6, remete a BETZINGER, 109-110. Cf. tb. BETZINGER, 12-19, que usa a redacção como auxiliar da determinação da «facti species mínima», BECKH, 47-54, que esclarece tratar-se de meras «regras formais de interpretação», e não dos «resultados materiais» que devem nortear essencialmente o intérprete, e as indicações de LEONHARD, p. 104, nn. 1 e 3. Tratamos as teses de BECKH infra, no ponto 10. 108 Já fomos descrevendo alguns dos passos da obra de LEONHARD. Acrescente-se que este A. (Die Beweislast, 79-80) foi o primeiro a impugnar a correcção dos exemplos «que vão da teologia protestante ao fumar nos comboios», fazendo-o, contudo, em termos muito breves, pelo que o seu opositor, decididamente, não o compreendeu (cf. ROSENBERG, Beweislast, p. 139). Sintetizando rapidamente o que de mais importante se deixou por dizer das teses de LEONHARD, notemos a peculiaridade da sua concepção das facti species das normas materiais não enquanto proposições referidas ao que sucede, mas ao que se prova (Die Beweislast, 127-8); é a «teoria dos factos provados» (Erwiesenheitstheorie), de que coerentemente se extrai a ausência de normas de distribuição do ónus da prova (sobre a Erwiesenheitstheorie, cf. pp. 124 e 136-7). Nas soluções, LEONHARD distingue-se tb., agora por, ao recusar validade às «normas impeditivas», bem como a quaisquer outras formas de «divisão da facti species», a saber, a «teoria das normas especiais», a «teoria da causa eficiente» e a «teoria da facti species mínima» (Beweislast, 63-99), ou à «teoria da estrutura das frases» (op. cit., 102-120), exigir da parte que invoca um efeito jurídico a prova de todos os factos relevantes contemporâneos da sua verificação (op. cit., esp.te 124, 144-5, 148-150). Bem se aplica aqui o nome de «teoria da plenitude» (Vollständigkeitslehre) da facti species, que o A. aceita. Sem nos alongarmos (cf. tb. infra, n. 133), veja-se apenas que a tese conduz a resultados profundamente desequilibrados, como já ROSENBERG observara, forçando quem invoca um contrato, v.g., a provar a inexistência de causas de nulidade. Não se encontram hoje defensores da sua posição. LEONHARD só venceu na não distinção entre normas constitutivas e impeditivas. Para maiores desenvolvimentos, cf. MUSIELAK, Grundlagen, 283-6. 32 das incertezas. Ora isto significa que, para além da incerteza, que o A. vê como um fenómeno processual, a redacção não pesa. Decerto, se a dúvida fosse introduzida pelo A. no hemisfério substantivo, a redacção influiria neste campo, mas a discussão está em saber se um texto diverso traduz uma diversidade no restante direito privado, i.e., no direito privado exterior ao onus probandi. Num segundo passo, o mesmo exemplo tenta ser configurado substantivamente significativo porque implicaria a estatuição legal da má fé como um facto impeditivo, o que, na dúvida, leva à preferência pela alegação da boa fé. O círculo lógico109 é manifesto. A diferença é material porque cria um facto impeditivo, que releva na repartição do ónus. O que se impugna é a afirmação de que o conceito de «facto impeditivo» seja de direito material. ROSENBERG não nos traz nenhum argumento válido, sequer logicamente110. Como acentua, entre nós, O. ASCENSÃO, até mesmo redigir a norma contrária como regra e o facto contrário como excepção é «exactamente a mesma coisa»111/112. Quanto aos exemplos da querela entre os teólogos reformistas e das limitações ao fumar, a falha de ROSENBERG é mais grave, pois desvia-se do ónus da prova dando uso equívoco à categoria fundamental do facto contrário. Noutros contextos, poderá porventura admitir-se, p. ex., que dizer «aceito» é o contrário de dizer «recuso». Para os problemas de decisão do non liquet, o contrário de dizer «recuso» é não dizer «recuso», quer dizendo «aceito», quer tossindo, quer mantendo a boca fechada, quer falando do tempo. Só pode discutir-se o sentido da contraposição norma impeditiva/norma constitutiva se se pensar um facto numa e o facto contrário na outra113. Se Lutero defende a manutenção do credo católico, salvo no que encontrasse oposição dos textos sagrados, as teses de Calvino e Zwinglis só poderiam ser trazidas ao tema se estes quisessem conservar a doutrina antiga desde que não houvesse oposição na Bíblia. Na verdade, isto já chegaria para, seguindo a «teoria da estrutura das frases», mandar uma distribuição diversa do ónus da prova, pois, com Lutero, só se afastaria uma instituição provando-se a oposição e, com os segundos, o afastamento decorreria já da incerteza quanto à oposição, i.e., seria necessário provar a não oposição para conservar, v.g., um dogma católico, mas as teses coincidiriam em absoluto no aspecto «substantivo». Contudo, a posição de Calvino é mais reformista, dado optar pelo abandono de toda a instituição que não encontre apoio nas escrituras. Lutero defenderia a correspondente «versão impeditiva» se sustentasse a reforma do credo salvo no que tivesse apoio bíblico ou, o que é o mesmo, se propugnasse a permanência de tudo o que aí fosse acolhido. Mas já vimos que não foi essa a sua intenção. O A. de Die Beweislast considerou que o facto contrário de ter apoio seria ter oposição, cometendo um erro — aliás, comum — de teoria do ónus da prova. LEIPOLD, p. 42, diz com razão que «Quem se opõe à pretensão tem o ónus da prova dos factos impeditivos» é idêntico a «Quem se opõe à pretensão tem o ónus da prova dos factos constitutivos de que tem o ónus da prova». 110 No sentido exposto, LEIPOLD, 38-42, com indicações da crítica anterior, mas em parte inconsequente, à autonomização dos «factos impeditivos». 111 O Direito, 450-1. 112 O recurso a exemplos com o par boa fé/má fé em teoria do ónus da prova só é lícito se os conceitos forem, hoc sensu, contrários, i.e., se estiver excluída uma terceira possibilidade. Implica isso, p. ex., que um estado de dúvida deva ser considerado pelo direito civil ou como boa fé, ou como má fé (sobre o tema, cf. GUICHARD ALVES, 24-31), e que um desconhecimento com «culpa levíssima» não possa merecer um regime intermédio e uma qualificação como «quase boa fé». Pressupomos a dicotomia. 113 E vice-versa. «Ser o contrário de» é comutativa. 109 33 Repetiu-o na prosaica questão do tabaco nas carruagens, visto ter confrontado a anuência de todos os passageiros com a discordância de alguns. A negação do acordo de todos os passageiros — ensina a lógica bivalente elementar — é a inexistência de acordo de algum ou alguns deles, porque discordou, porque ficou em silêncio114 ou porque se tinha ausentado no momento em que a questão foi colocada. O contrário da discordância de algum viajante é a falta de discordância de cada um, quer por ter positivamente autorizado, quer por nada ter dito, quer por ter dito outras coisas, quer ainda por não ter presenciado o problema115. ROSENBERG deu exemplos logicamente incorrectos e exemplos que não o apoiam, antes evidenciam a total equivalência material entre normas impeditivas e normas constitutivas que prevejam ocorrências inversas. A doutrina alemã reconheceu-o, aqui defendendo que «facto impeditivo» é conceito a substituir por «norma especial do ónus da prova», dada através da redacção legal116, ali mantendo os «factos impeditivos» por «comodidade de linguagem». Já quanto às normas «excludentes» e «extintivas», aceita-se a sua autonomia relativamente à questão do ónus. A crítica à «teoria das normas» vai mais fundo ao desmontar o fundamento/«princípio geral» rosenberguiano do ónus da prova. Dizia o fundador da moderna doutrina germânica sobre as «consequências da falta de prova» que o juiz só pode «aplicar» uma «norma jurídica» estando positivamente convencido da verificação em concreto de todos os elementos da previsão legal, ou seja, que «não a aplica» nas duas hipóteses de estar convencido da não verificação de algum dos pressupostos e de não estar convencido de coisa alguma, com a decorrência de o ónus da prova reverter em prejuízo da parte a quem aproveitaria a «aplicação» dessa norma. Este logicismo optimista cai por terra ante a objecção de LEIPOLD de que se confundem aqui dois conceitos de «não aplicar»117/118. «Não aplicação» abrange igualmente a aplicação da norma contrária (segundo LEIPOLD, a decisão contrária à aplicação da norma) e a não aplicação de nenhuma delas (a não decisão). Como se viu logo de início, «não aplicar» a regra da usucapião de boa fé sem registo, etc. (i.e., «o» art. 1296.º/1.ª parte), ao fim de 17 anos de posse, por não poder ser considerada a boa fé — v.g., nos termos do art. 1260.º/2, in fine — é «aplicar» a regra de que a posse de má fé só concede a usucapião de imóveis após 20 anos. Em termos de distribuição do ónus da prova, «não aplicar» certa norma é «aplicar» a norma contrária. Notemos que a parte final do art. 1296.º contém um duplo sentido normativo, grosso modo, encerra «duas normas»: por um lado, estatui que, de boa ou má fé, há usucapião ao fim de vinte anos119; por outro, dispõe para as situações de posse de má fé não titulada nem registada que não há usucapião antes de decorrido tal período. Poderíamos talvez dizer que, neste caso concreto, o silêncio seria de equiparar à declaração de anuência (numa restrição ao art. 218.º), mas aí a dificuldade estaria apenas em que a redacção legal «não seria correcta», pois, por interpretação, teríamos descoberto que o «pensamento legislativo» se desviava do «sentido literal», o que nada tem que ver com a opção entre «se todos anuírem» e «salvo se algum não anuir». 115 No mesmo sentido, e criticando ainda outros exemplos de ROSENBERG, cf. LEIPOLD, 38-42, ou MUSIELAK, Grundlagen, 295-8. 116 REINECKE, 29-30 e 32-3, seguindo LEIPOLD, 42-3 e 52-3. 117 LEIPOLD, 32-3. No seu seguimento, PRÜTTING, Gegenwartsprobleme, 118-9. 118 Voltaremos a esta insistência na ideia pouco refinada de «aplicar normas». 119 Sem prejuízo da articulação dos arts. 303.º e 1292.º. 114 34 Lembre-se que norma e trecho legal são coisas bem diferentes120! E não pensemos que estas considerações só valem para binómios como boa fé/má fé, em que salta aos olhos a juridicidade de ambos os termos. Os exemplos são ainda fáceis com quaisquer «normas impeditivas», como se vê no art. 470.º, em que a correspondência da gestão ao exercício profissional comanda que se retribua a actividade do gestor, e a falta dessa conformidade implica a ausência de retribuição. Mas passemos além disso. A norma que dispõe, para quem dirija efectivamente e «no próprio interesse» um veículo de circulação terrestre, que se indemnizem os danos de terceiros advindos dos riscos próprios do veículo (salvo...121) coexiste com a norma que estatui a liberdade de não indemnizar — pois tanto há normatividade imperativa quanto permissiva122 — quando, p. ex., a lesão 120 Em termos simplicíssimos, teria pelo menos de se dizer que os artigos, números e trechos ou enunciados legais são texto, são palavras, enquanto que a norma é uma realidade conceptual. O enunciado é objecto de interpretação — numa visão tradicional —, ao passo que a norma é descoberta no final da actividade hermenêutica. Expressões como «interpretação extensiva» ou «restritiva» denotam justamente divergências entre o texto e a norma. Pode a um artigo não corresponder qualquer sentido de normatividade, bem como uma norma respeitar a vários trechos legais ou — só aqui poderá faltar unanimidade — não encontrar nenhum que a consagre. Cf., por exemplo, OLIVEIRA ASCENSÃO, O Direito, 48-50 e 485-6. Para uma exposição relativamente actual que acentua muito a importância da distinção, sugira-se FRIEDRICH MÜLLER, Juristische Methodik, 7.ª ed., Duncker & Humblot, Berlim, 1997 (há traduções em línguas latinas), 29-34 e 128-208, que obviamente ultrapassa a ambiguidade do alemão Satz (cf. supra, n. 78). 121 Agora que abandonámos a teoria do carácter material das «normas impeditivas», já podemos citar F. BRONZE, 506-515, que ensina, com ALEXY, ser impossível conceber e formular uma norma jurídica sem uma infinidade de excepções e contra-excepções, não valendo por isso a ideia do «tudo ou nada» (supostamente destinada só às normas) para distinguir norma e princípio. No caso dos acidentes de viação, a ressalva incluiria, p. ex., a inimputabilidade do lesante (cf. art. 503.º/2), salvo razões de equidade, salvo sendo possível obter ressarcimento contra outrem, salvo, talvez, sendo extremamente difícil esse ressarcimento, salvo acordo das partes em contrário, salvo dolo gerador de erro determinante, salvo decurso do prazo de anulação, salvo o perpetua sunt ad excipiendum (287.º/2), etc.. E a ordenação dos «impedimentos» é arbitrária. Pelo menos, temos de concordar com F. BRONZE no que respeita a normas de conduta. 122 Cf. LARENZ, Metodologia, 353-9, com indicações, e OLIVEIRA ASCENSÃO, O Direito, 494-6 e 504-5. Não cabe aqui desenvolver o tema — aliás, da máxima importância para a teoria do direito — mas sempre diremos que essencial ao mundo jurídico não é o imperativo, mas sim a predicação ou a valoração, tal como noutras esferas de «dever-ser». Se o direito tem de encontrar-se plenamente na solução de problemas concretos (cf. supra, n. 73, esp.te nas referências a FIKENTSCHER e CASTANHEIRA NEVES), logo descobrimos que essa tanto pode condenar quanto absolver. A juridicidade do problema jurídico primário — a valoração de comportamentos humanos — nasce de ele encerrar a necessidade de decidir entre um dever e uma permissão, e não entre um dever e um nada. E se a liberdade é princípio jurídico fundamental, não pode tb. duvidar-se de que as suas garantias são já outros conteúdos normativos. Só a recondução do permitido a normas jurídicas possibilita um correcto entendimento do que seja extrajurídico. O direito define em simultâneo espaços de ilicitude — i.e., proíbe ou impõe — e espaços de licitude — quer dizer, permite. A doutrina porventura dominante ou, talvez, tradicional sustenta, ao invés, uma total imperatividade do direito. Cf., por último, P. OTERO, tomo 2, 143-208. Este A., contudo, pouco discute a categoria específica «normas permissivas» e prefere analisar o tema pelo prisma dos «actos» jurídicos, embora pareça aí incluir «normas». A nosso ver, P. OTERO talvez manifeste algum legalismo — v.g., na posição que toma sobre as definições legais — e, sobretudo, apoia-se em efeitos acessórios de actos cujo significado nuclear é permissivo — vejam-se as considerações sobre «normas revogatórias de proibições» e «actos atributivos». Em nosso entender, a absolvição do pedido numa acção de condenação, p. ex., é por excelência direito permissivo, sem prejuízo de um instituto como o caso julgado dela extrair imperatividade. De modo idêntico, o facto de uma permissão legal ter de ser respeitada pelo julgador não lhe muda a natureza. Acontece unicamente que, ao lado dessa permissão, há o dever genérico de o tribunal aplicar o direito vigente, seja ele imperativo ou não. Ainda em oposição ao que temos por correcto, lembrem-se ENGISCH, 35-54, e N. BOBBIO, 79-114, esp.te 96-103. Para ambos, as normas permissivas seriam, pela sua função, meras limitações das imperativas, que teriam de se pressupor. Como BOBBIO expressamente afirma, a licitude poderia resultar também da ausência de quaisquer normas. É aqui, pensamos, que se encontra o erro das teses imperativistas. Não há licitude sem norma — ou sem normatividade, para que não se objecte com acepções restritas de «norma» —, como não há decisão jurídica, ainda que absolutória, sem a «aplicação de uma norma», pois mesmo a licitude é já um valor normativamente dado. Sem direito, há meros factos: o voo das aves não é lícito, mas estranho ao ordenamento. Robinson Crusoe seria, de facto, livre, embora nos limites da sua prisão insular; juridicamente, porém, nem livre, nem condenado, pois não há direito para o homem só. A visão das permissões como limites aos imperativos envolve uma clara petição de princípio. Na verdade, só a consciência do ilícito é anterior. Uma anterioridade lógica ou funcional não passa de preconceito, que provém, segundo parece, de a percepção dos fenómenos éticos começar pelas proibições ou imposições e de se verificar alguma dificuldade ou relutância no manuseio de um conceito de norma que não recorra à ideia, tão ou mais com- 35 não for efeito desses «riscos próprios» (salvo...). A inoponibilidade da anulação a certos terceiros adquirentes de direitos sobre imóveis (cf. arts. 17.º/2 CRPred e 291.º) é oponibilidade no caso de móveis. A incapacidade para casar com idade inferior a 16 anos é capacidade para o fazer uma vez completado o 16.º ano de vida, etc., etc.. Toda a resolução jurídica de um caso concreto, seja em que sentido for, é «aplicação» de normas, ou não será jurídica. E também toda a solução assente no ónus da prova é «aplicação» de uma das normas substantivas candidatas ao lugar. Tenha-se em atenção que não fazemos qualquer defesa da validade do argumento a contrario ! Isso é um problema de solução do caso perante as fontes, que agora não importa resolver. Dizemos, sim, sem novidade substancial123, que, uma vez formulada (ou formulável) «a norma», tendo em conta todas as razões atendíveis, a relevância de um dos elementos da sua previsão implica a relevância, em sentido contrário, da negação desse elemento. A juridicidade de x é juridicidade de não-x. Poderia replicar-se improceder esta ideia sempre que se depare na facti species da norma com elementos alternativos. A negação de um deles não leva à norma inversa se um dos restantes ocorrer. O raciocínio falha, porém, de duas maneiras. Prevendo a norma em alternativa, i.e., com um «ou» não exclusivo, devemos em rigor considerar essa alternativa como o facto relevante, que só é negado pela negação de todos os seus termos. Mantêm-se, então, duas normas simétricas. Por outro lado, ainda que não se queira seguir em tese geral esse caminho, sempre diremos que a opção do ónus da prova é uma opção entre duas soluções — i.e., normas ou «concretizações de normas» — que tem por afastada a possibilidade de obter uma delas por outro caminho. Noutras palavras, a intervenção do ónus da prova faz sentido apenas na medida em que o objecto da incerteza decida por uma ou outra solução, i.e., como se fosse certo o preenchimento dos restantes elementos cumulativos da facti species e o não preenchimento dos elementos alternativos, de modo que o ónus da prova fornece a solução apenas quando as normas candidatas a regular o caso em apreço são duas, de sentido inverso e com previsões também inversas quanto ao objecto da incerteza124. O que leva a afirmar com segurança que o ónus da prova escolhe sempre uma de duas normas a aplicar. Resumindo: «não aplicar uma norma» equivale, num dos sentidos, a «aplicar a norma contrária». Há, no entanto, o outro. «Não aplicar uma norma» pode ser usado em sinonímia com «não decidir». A falha de ROSENBERG deixa-se adivinhar. O A. começa por dizer que o juiz só pode «aplicar» a norma material quando esteja convencido de se verificarem todos os seus pres- plexa, de dever. Tal dificuldade desvanece-se ao retratarmos a norma como atribuição de um valor, de um sentido que não estava na realidade visada. Aí se distingue a norma da proposição em sentido estrito, que faz apenas uma representação do ser. Esse entendimento simplificaria até a descrição de normas que não têm por objecto comportamentos. O tradicional e arreigado legalismo favorecerá a teoria imperativista. Todavia, tb. a lei não deve ser vista como o modo de o soberano exprimir a sua vontade de intervenção social, mas sim como pré-decisão, ora exigindo, ora deixando. Quem reconhecer, como hoje será maioritário, que o direito parte do problema prático — ainda que abstracto —, que integra por definição a admissibilidade de, pelo menos, duas soluções (cf. VIEHWEG, Topik, 32-3), não poderá negar que tão originariamente jurídico é impor como permitir. Sobre a presença de normas em toda a decisão jurídica, cf. tb. a referência infra, n. 425. 123 Apenas desenvolvemos um pouco mais o tema, tentando afastar reservas e acrescentando exemplos, salvo os da boa/má fé e os das «normas impeditivas», que são comuns. 124 Quanto a esta última argumentação, cf. esp.te, com grande paralelismo, LEIPOLD, 19-22. O A. cuida da alternativa de normas que produzam o mesmo efeito jurídico, enquanto no texto falámos de alternatividade na facti species de «uma» norma. Os problemas não são diferentes. 36 supostos. Admitamos. A consequência é, contudo, que o juiz «não pode aplicar a norma» no sentido de que não pode decidir, pois o direito substantivo (excluindo o ónus da prova) não lhe dá solução, já que, como se disse, as previsões materiais são em regra proposições de ser, e não de «ser talvez». Quer a norma que tutela certa pretensão, quer a norma contrária não podem ser aplicadas, pois nenhuma delas prevê a incerteza. ROSENBERG, porém, ao dizer que, na falta de convicção, a norma material «não pode ser aplicada» e que o juiz, portanto, deve «não aplicar a norma», reporta-se ao primeiro sentido de «não aplicar», ou seja, ao sentido de «aplicar a norma contrária». Não tem razão. A incerteza impediria que se decidisse, pois impede qualquer das soluções substantivas125. Pressente-se que a «teoria das normas» cai neste lapso porque só vê «normas» na lei. Com frequência, a «norma contrária» — i.e., uma delas — não tem apoio num enunciado legal específico. Por isso, escapou a ROSENBERG, na fundamentação geral do seu «princípio», a ambiguidade de «não aplicar». Vem à tona um legalismo nada disfarçado126. Passando um pouco além da doutrina corrente, deve elevar-se a impugnação do «princípio geral» da «teoria» ao plano de negar que lhe tenha sido dada alguma fundamentação. Por que razão não poderá «aplicar-se uma norma» sem convicção quanto a todos os «elementos da sua facti species»? Ainda se se desse por necessária a inaplicabilidade nos casos de convencimento quanto à não verificação de um dos elementos... Por outro lado, o conceito de «convicção» revela-se tão impregnado de considerações axiológico-normativas que o «princípio» rosenberguiano redunda numa remissão em branco para esse mesmo conceito, deixando de ser capaz de, por si, fundamentar substancialmente qualquer solução. E lembremos que no processo civil anglo-americano e escandinavo basta a «maior probabilidade» de um facto, relativamente ao seu contrário, para permitir a respectiva utilização pelo tribunal127. Acresce que toda a «presunção legal» torna aplicável sem prova a regra que previr o facto presumido, sendo irrelevante a asserção de que terá de provar-se a base da presunção128, dado passarmos aí a atender a outra norma. Noutro registo, cf. ENGISCH, Introdução, p. 99: «do não estabelecimento da premissa maior não se segue absolutamente nada»; são precisas «premissas adicionais». Uma outra crítica, hoje corrente, à argumentação em favor do «princípio geral» rosenberguiano, devida também a LEIPOLD, 31-2, aponta a manifesta contradição em dizer-se, em Die Beweislast, que a incerteza implica a «não aplicação», no sentido visto, que acarreta certa distribuição do ónus da prova, e simultaneamente, ao longo de toda a obra, admitir a existência de «normas de ónus da prova». Se decorre da incerteza uma distribuição do ónus, esta já não decorre de uma norma específica. Para a explicação histórica da contradição, remete-se a PRÜTTING, Gegenwartsprobleme, 163-4. 126 Nada por acaso, o subsuntivismo do pai da «teoria das normas» é apresentado como exemplar em CASTANHEIRA NEVES, Questão-de-facto, p. 131, em nota. 127 Sobre o standard of proof no direito inglês, cf. KEANE, 83-94 (para o «direito civil», 83-4 e 88-94). Quanto à discussão sobre o «princípio da maior probabilidade» (Überwiegensprinzip ou, em sueco, Överviktsprincip), cf., p. ex., PRÜTTING, Gegenwartsprobleme, 67-73 (conceito e determinação da medida da prova) e 73-86, com referências à doutrina sueca. PER OLOF EKELÖF será o mais conhecido defensor no estrangeiro do sistema do seu país: cf. Beweiswürdigung, Beweislast und Beweis des ersten Anscheins, ZZP 75, 1962, 289-301 (com o especial interesse de incluir uma crítica nesse prisma às teses de ROSENBERG), e Beweiswert, FS FRITZ BAUR, Mohr (Siebeck), Tubinga, 1981, 343-363. 128 Como fez ROSENBERG, 216-7. Aliás, a afirmação é errada; chega o exemplo de que o art. 1252.º/2 pode dispensar a prova da posse, por sua vez pressuposta na «presunção» do art. 1268.º/1. A base de qualquer presunção pode ainda ser objecto de pacto probatório (cf. arts. 344.º/1 e 345.º/1) ou ficar dispensada de prova nos termos do art. 344.º/2. 125 37 Se é proibido o non liquet de mérito, o que uma tradição sedimentada trouxe ao art. 8.º/1129 e não se discute nos nossos dias, nada obsta, à partida, a que a norma que serviria de critério na certeza tenha a mesma função em caso de dúvida. Por que não utilizá-la, v.g., quando ocorra a «maior probabilidade» de que se fala no common law ou nos sistemas escandinavos? Ou nas situações em que seja «mais grave» para uma das partes a sua não aplicação do que o inverso para a outra? As «normas» não se «aplicam» somente nos casos incluídos a priori na sua previsão; basta, p. ex., que a analogia alargue o seu âmbito; aí, por definição, «aplica-se uma norma» sem se verificarem os elementos previstos — o que nem é prejudicado pelo fácil reconhecimento de que a norma de referência já é outra. É absolutamente vicioso pensar que a decisão assenta só em «factos provados». O dito iudex debet iudicare secundum […] probata é erróneo. Desde logo, porque a incerteza significa justamente que não se provou nenhum dos factos contrários — ambos são «factos» — e o ónus da prova manda julgar de acordo com um deles, «aplicando» sempre a norma respectiva. Não se pedia a ROSENBERG, é claro, um argumentar ad infinitum130, mas o seu gigante devia, pelo menos, ter pés de barro. Não é evidente que «uma norma» só possa «aplicar-se» com certeza quanto aos seus pressupostos131. ROSENBERG, além de confundir os conceitos de «não aplicar», tomou como axioma um «princípio» puramente formalista não demonstrado132. Numa rápida sinopse, o estado actual da crítica e «modificação» da teoria das normas revela a rejeição de dois pressupostos metodológicos centrais do pensamento rosenberguiano: a autonomia substantiva das «normas impeditivas» e a dedução da distribuição do ónus da prova a partir da impossibilidade de «aplicar uma norma» sem convicção quanto à ocorrência dos elementos da sua facti species. Em sentido inverso, observa-se o acolhimento de uma distinção substantiva entre normas constitutivas, excludentes e extintivas, a atribuição de um papel determinante à sintaxe dos textos legais e um consenso generalizado quanto à irrelevância da posição processual das partes para a distribuição. A teoria das normas merece o seu nome, e não a designação pejorativa «teoria da estrutura das frases», graças à oposição normas constitutivas/ normas excludentes ou extintivas. Cf. tb. arts. 3.º/2 do Estatuto dos Magistrados Judiciais (L. 21/85, de 30 de Julho), 2.º/1 CPC, 20.º/4 CRP, 10.º da Declaração Universal dos Direitos do Homem (cf. 16.º/2 CRP) e 6.º/1 da Convenção Europeia dos Direitos do Homem (cf. L. 65/78, de 13 de Outubro). 130 Nem a solução do «trilema de Münchhausen». Cf. F. BRONZE, 37-43. 131 ROSENBERG escreveu, p. 153, que «o postulado da plenitude da facti species é evidente e não carece de fundamento; pois, sem a presença [Vorliegen] de todos os elementos da sua facti species, não pode uma norma jurídica obter aplicação» (it. nosso). Este equívoco repete-se, de algum modo, num A. como PRÜTTING, Gegenwartsprobleme, 116-7. 132 Seria admissível, embora sujeito a impugnação, utilizar um princípio não «demonstrado», mas cujo peso argumentativo próprio apelasse a alguma ideia de justiça, o que não foi o caso. Coube a ESSER a contraposição fundamental entre, por um lado, «princípios materiais» («expressão de uma exigência material de justiça») e, por outro, «princípios técnicos» ou «de reconhecimento» e «princípios de trabalho do jurista» (Grundsatz, 91-101), ainda que nela haja alguma «relatividade» (loc. cit., 107-16). LARENZ, Richtiges Recht, 27-32, aproxima-se declaradamente da distinção de ESSER, apesar de uma ou outra divergência nítida, identificando os princípios «do direito justo» e os que apenas corresponderiam a uma «adequação final», a uma «técnica de regulação» ou a alguma particularidade historicamente explicável; só os primeiros remeteriam ao sentido fundamental (a «justiça») ou ao fim último do direito (a «paz jurídica»), à «ideia de direito». Aponte-se que a distinção de OLIVEIRA ASCENSÃO, O Direito, 416-8, entre «princípios materiais» e «formais» tem outro sentido. ROSENBERG tenta fundar todo um instituto naquilo que nunca poderia ser mais do que um «princípio técnico». Com isso, não dá fundamento algum. 129 38 6. Pressuposto e estrutura formais da decisão de ónus da prova A carência de um fundamento geral para o ónus da prova, que reage ao non liquet, deu azo a várias tentativas de a suprir133. A rubrica, primo conspectu, foge parcialmente aos problemas de distribuição, porque alguns AA. querem somente basear o ónus, mas são de admitir interferências recíprocas. LEIPOLD opina que, não havendo solução no restante direito substantivo para os casos de prova inconcludente, são necessárias «regras especiais» que superem o impasse, as normas de ónus da prova, que estatuem uma ficção. MUSIELAK prefere conceber uma «norma fundamental negativa», em si «sem conteúdo», que ordena a «não aplicação» (no primeiro dos sentidos vistos, naturalmente) das «normas» singulares em situações de non liquet. SCHWAB, o mais explícito continuador de ROSENBERG, faz decorrer o ónus da prova de uma «regra operativa» (Operationsregel ) suportada pelo § 286 ZPO134 ou por «uma regra não escrita». PRÜTTING elege também como base «metodológica», como necessário «ponto de apoio» do ónus da prova As considerações seguintes pressupõem a falência não só da teoria das normas rosenberguiana, mas também da referida «teoria dos factos provados» (cf. supra, n. 108), de LEONHARD, que dá um apoio visível ao ónus da prova, recusando a existência de normas de distribuição. A crítica de LEIPOLD, Beweislastregeln, 23-30, e PRÜTTING, Gegenwartsprobleme, 146-8, começa pelo argumento — a nosso ver, salvo o devido respeito, absurdo — de que o «teor verbal» ( ! ) do «direito material» prevê na grande maioria dos casos a existência/inexistência, e não a prova/incerteza. Reconhecem os AA. que o argumento não é determinante, mas dissemo-lo absurdo porque nem o direito substantivo tem um «teor verbal», nem cabe, neste momento, pôr em causa a diferença entre enunciado legal e norma, discutindo LEONHARD, apenas, a melhor forma de configurar esta última. Avançam LEIPOLD e PRÜTTING pela impugnação de um entendimento estritamente processual da norma jurídica, a que obviamente aderimos. Juntam que as previsões da prova de factos visam sempre uma situação no processo. Todavia, como pensamos ter demonstrado, a questão da incerteza e da prova não é exclusivamente processual, pelo que bem poderia aceitar-se a previsão substantiva de uma certeza comum aos sujeitos de direito, que só não desempenharia papel generalizadamente decisivo no ónus da prova se se demonstrasse haver que ponderar nesta matéria razões reservadas aos casos de dúvida processual, o que está por fazer, ou se a teoria de LEONHARD devesse por outras vias ser recusada. PRÜTTING não aceita a «teoria dos factos provados» tb. porque ela acarreta a negação das normas de ónus da prova, que a lei substantiva expressamente contém nalguns casos, p. ex., através de «presunções legais». Ainda aqui, devemos obtemperar que o A. de Gegenwartsprobleme manifesta algum legalismo serôdio, porquanto essas previsões «expressas» (e tanto faria que fossem «tácitas») se transformam sem custo em perífrases (cf. as ficções, presunções inilidíveis, remissões) da alteração de facti species, considerando terem de ser «provados» outros factos. Este professor alemão prossegue invocando o aspecto — para si, o fundamental — de que a «teoria dos factos provados» levaria a uma inaceitável intermitência das situações jurídicas, no que igualmente não convence: em termos analíticos (i.e., esquecendo conveniências do discurso e, nomeadamente, o relevo dogmático do chamado «sistema externo»; cf. MENEZES CORDEIRO, Introdução, LXVII-LXIX, ou, recentemente, BYDLINSKI, System, 27-31 e 46-9), só pode incomodar-se com tal carácter intermitente quem abrace um descuidado «platonismo de situações jurídicas» (cf. infra, no ponto seguinte, designadamente nas nn. 210 a 213). A facilidade de oscilação do produto das decisões jurídicas manifesta-se inclusive em ser aleatório o momento do seu cristalizar (ou não) num caso julgado, cuja eficácia não depende univocamente da perda temporária, durante o processo, de um meio de prova (cf. art. 771.º, c), CPC). A tese de LEONHARD, a nosso ver, falha no ponto, já aludido, de conduzir a um discurso complexo e pouco transparente. Para além disso, vemos com indiferença formular «as normas» substantivas prevendo «factos» ou a «certeza de factos». O que tem de ser sublinhado — mas recebeu a atenção de PRÜTTING numa acanhada meia dúzia de linhas — é a absoluta irrelevância para o ónus da prova de escolher uma ou outra formulação. Como se viu há pouco, o duplo significado de «não aplicar» e a aceitação, ao menos para a teoria do ónus, de que cada norma se faz acompanhar da norma contrária («deve pagar se tiver contratado» / «não deve pagar se não tiver contratado») conduzem a que a dúvida, releve ela substantiva ou processualmente, impede toda e qualquer decisão de direito material «em sentido estrito». Ou talvez não impeça nenhuma, como também se sugeriu. A «teoria dos factos provados» tão pouco funda o ónus da prova quanto a primeira «teoria das normas» o fazia. 134 Corresponde ao conjunto dos arts. 653.º/2, 2.ª parte, e 655.º CPC, embora o n.º 2 deste art. e o 2.º parágrafo do § 286 se afastem na forma e, pelos diferentes contextos, na substância. Reza a lei alemã: «(1) O tribunal deve decidir segundo a sua livre convicção, tendo em conta a totalidade do conteúdo das discussões [Verhandlungen] e o resultado da eventual produção de prova, se uma afirmação de facto há de ser considerada verdadeira ou não verdadeira. Na sentença, devem ser indicados os fundamentos que tenham sido decisivos para a convicção dos juízes. (2) O tribunal está vinculado a regras sobre o valor da prova [Beweisregeln] apenas nos casos indicados neste código [Gesetz].» 133 39 uma «regra operativa»135, que, todavia, comprimida entre a proibição do non liquet de mérito e as normas de distribuição do ónus da prova, «não tem carácter de norma». BAUMGÄRTEL, por fim, excluindo que a discussão tenha reflexos práticos, considera «decisiva, apenas, a distribuição do ónus da prova» e evolui laconicamente num relativo ecletismo136. Porque o direito material «em sentido estrito» associa efeitos à existência e não à prova de factos, LEIPOLD entende, num trabalho que marca toda a discussão posterior, que não se descobre ali solução para os casos de incerteza e, logo, que há-de haver outras normas, «especiais» na medida em prescindam da existência de factos137. São assim as normas do ónus da prova, em cuja facti species se encontra a incerteza processual sobre um elemento que preenchesse a previsão da norma material138. As normas de ónus da prova não são regras de prova legal, não excluem, por isso, o non liquet processual; nem prescrevem um efeito substantivo, pois não têm intervenção extraprocessual, podendo a solução correcta (richtig) de direito material ser diferente da solução correcta em termos de ónus da prova139. São normas de decisão. Não ordenam uma decisão de conteúdo independente, antes se restringindo a uma das duas possibilidades substantivas, dadas pela presença ou ausência de certo elemento da facti species. Delas decorre o tratamento do caso como se houvesse certeza, ora quanto à presença, ora quanto à ausência. Linguisticamente, temos, pois, uma ficção, i.e., a igualdade de regulação apesar da desigualdade de previsões, que representa uma forma de remissão. Não uma ficção substantiva, pois a igualdade de valoração respeita a resultados processuais e só para a decisão judicial140. Como o seu A. haveria de assinalar, a tese de habilitação de MUSIELAK apresenta-se com a particularidade de dar um suporte de pesquisa histórica à reflexão dogmática nela contida141. Recolhendo de LEIPOLD a necessidade de um mecanismo particular de regulação do non liquet, considera que essa regulação, cujas disposições são as «normas do ónus da prova», devia «não só abrir o caminho para uma decisão de mérito, mas também determinar o conteúdo da decisão e, no caso concreto, prescrever o modo como o juiz tem de decidir»142. As normas de ónus da prova são, «quanto à questão da [sua] eficácia», apenas um meio auxiliar da decisão de mérito que autoriza o juiz a decidir como se tivesse obtido um resultado positivo ou negativo quanto à verificação de certo facto, i.e., através da ficção143, eficaz apenas para a decisão judicial, da prova de certos factos (não dos próprios factos, o que afastaria esta matéria das «regras de prova» legal). O comando da norma de ónus da prova, portanto, não tem, considerada por si, qualquer sentido, pressupondo a questão formulada pela fracção da facti species cuja verificação é duvidosa. Devido a este nexo e ao carácter de ficção, não há determinação do facto controvertido e, por isso, ele pode valer para uma facti species como existente, para outra como não existente144. O ónus da prova objectivo e, com ele, o subjectivo são a perspectiva das partes, «um mero reflexo das normas de ónus da prova» (it. nosso)145. O ponto de partida para esclarecer os «princípios gerais» da regulação do ónus da prova são, pois, as normas do ónus da prova, que ficcionam um sim ou um não na resposta processual quanto à ocorrência de certo facto, mas 135 «Regra operativa» usa também ZIPPELIUS (cf. Methodenlehre, 88-90), desde a 3.ª ed. da sua Einführung, em 1980 (cf. PRÜTTING, p. 113, n. 9), pouco posterior ao trabalho citado de SCHWAB, A. que, logo em nota prévia (p. 505), agradece a ZIPPELIUS (e a LEIPOLD) as discussões sobre o tema. Na Methodenlehre de ZIPPELIUS, contudo, alude-se a «regras operativas», no plural, entre as quais se incluem as de distribuição do ónus da prova e até as de prova legal. 136 Beweislastpraxis, p. 104. Em boa verdade, BAUMGÄRTEL acolhe em larguíssima medida as teses de PRÜTTING, excepto quanto à não normatividade da «regra operativa», tema que não toca. 137 Beweislastregeln, 1966, 17-8, 22, 29-30, etc., com apoio nas pp. 23-9. Em seu seguimento, REINECKE, 26-7. 138 Beweislastregeln, p. 59. 139 Beweislastregeln, 59-64. LEIPOLD abstrai expressamente da matéria da justeza de decisões transitadas em julgado. 140 Beweislastregeln, 64-66. 141 Cf. GegenwartsP, 1987, p. 392, n. 32. Em Grundlagen, a «evolução histórica», em que se versa não só sobre o ónus, mas tb. sobre aspectos gerais do processo, os meios de prova e a apreciação da prova, ocupa cerca de 90 das 400 pp. de texto, mas os apelos a esse estudo surgem permanentemente. Com certeza por isso, WAHRENDORF, p. 13, contrapôs que o estudo de MUSIELAK teria tido mais preocupações históricas do que dogmáticas. 142 Grundlagen, 19-21. 143 Em nota, Grundlagen, p. 22, n. 149, não contesta exprimir-se um sentido idêntico ao de «ficção» através de «remissão». 144 Grundlagen, 21-26. Sobre o conceito de ficção, cf. 82-3. 145 Grundlagen, 33-9. O A. faz um desvio terminológico que não põe em causa a nossa anterior discussão dos conceitos. 40 sempre em referência à norma de que decorreria o efeito jurídico em causa. Assim, as normas de ónus da prova não determinam por si o significado do «sim» ou do «não». A resposta resultante da «regra fundamental», do «princípio fundamental» da regulação do ónus da prova, assim chamado por abranger a generalidade dos casos, é «não» — o que vai coincidir com o «princípio fundamental» de ROSENBERG. MUSIELAK fala, então, de uma «norma fundamental negativa». As «normas de efeitos jurídicos materiais» (materielle Rechtsfolgesätze), definidas por contraposição às «normas de ónus da prova», podem ser constitutivas, excludentes, extintivas ou impeditivas, mas, como já sabemos, MUSIELAK recusa que a distinção entre constitutivas e impeditivas tenha alguma consequência para o direito material. O conceito de normas impeditivas, contudo, não deve ser abandonado, visto poder haver razões que justifiquem não se impor à parte que faz valer um direito a prova de todos os seus pressupostos, e a caracterização de um elemento da facti species como impeditivo permite uma conclusão quanto ao ónus da prova, pois as normas que ficcionam um «sim» perante o non liquet são excepções146. Os redactores da lei devem permitir a identificação das «normas de efeitos jurídicos» através da «teoria da estrutura das frases»; quando não o façam ou quando o resultado «não seja aceitável segundo fundamentos supra-ordenados independentes do caso», intervêm os restantes métodos interpretativos. Ao lado da «norma fundamental negativa», encontram-se «regras especiais», que recebem o nome por ficcionarem a verificação (positiva) de um facto147. Estimulado pelo desvio das «doutrinas modernas» em relação à teoria das normas, SCHWAB coloca-se explicitamente, com o seu breve estudo, no momento «pós-LEIPOLD», querendo estudar a «regra operativa», sobre a qual «ROSENBERG não se pronunciou univocamente», que confere ao juiz competência para, em caso de non liquet, «não aplicar» certa norma148. Essa «regra operativa» resultaria do § 286 ZPO, ao exigir a convicção do juiz, ou seria «regra não escrita»149. É importante notar que, apesar das críticas às «doutrinas modernas», SCHWAB admite correcções «ao teor literal» da lei substantiva e ao que dele decorre segundo a teoria das normas, como fez o BGH com a responsabilidade do produtor, mas só quando o contrário leve a «pesadas ofensas [Verstöße ] à justiça». SCHWAB usa sempre o conceito de «não aplicação» de normas. A «regra operativa» conservaria o papel das normas materiais que ROSENBERG lhes reconhecera150. PRÜTTING enuncia com especial clareza as duas questões distintas que o non liquet desperta: a «metodológica», de saber como ultrapassa o juiz, em termos formais, a incerteza, e a questão posterior da distribuição do ónus da prova, ou seja, a questão material de atribuir a desvantagem que a falta de prova acarreta. E pergunta, consequentemente, o que legitima o juiz a decidir apesar da incerteza, sobre que normas se apoia a decisão e que posição têm nesse sistema as normas de ónus da prova151. Cumpre agora apreciar a questão «metodológica». Deixado o logro rosenberguiano, que foi também de LEONHARD, de ver no «não poder aplicar» a recusa necessária da solução de uma norma, PRÜTTING dá por assente que o non liquet requer um «auxiliar adicional». Esse poderia ser a «regra operativa» de SCHWAB, as «normas especiais» de LEIPOLD, regras que excluíssem a existência do non liquet152, a possibilidade de omitir toda e qualquer decisão, o dever de decidir sem força de caso julgado153, presunções inilidíveis e ficções154, a previsão substantiva da incerteza e mesmo vias sucedâneas como o «dever de esclarecimento» da parte não onerada com a prova, a estatuição da «alteração do efeito jurídico», p. ex., através da divisão pelas partes do objecto («mediato») do processo, a autorização de uma «avaliação judicial», o «enfraquecimento da facti species», de que será exemplo a transformação de uma responsabilidade civil subjectiva em responsabilidade pelo risco, ou a liberdade de Grundlagen, 292-300. Grundlagen, 300-303. 148 Abkehr, 1978, 505-6. 149 Abkehr, 506 e 519. 150 Abkehr, 507, 518-9. 151 Gegenwartsprobleme, 1983, 17-8, 112-3. 152 O A. pensa (Gegenwartsprobleme, 120-4) nas hipóteses de recurso a meios sobrenaturais, acolhidas no passado, num sistema de prova legal rígido, ou, pelo contrário, na eventual obrigatoriedade da certeza em sistemas de prova livre, que alguns AA. erroneamente pretenderam. 153 Que teria sido discutível em certas acções de paternidade anteriores a 1970 (PRÜTTING, Gegenwartsprobleme, 126-131). 154 Na medida em que pode ou não verificar-se o facto «presumido» ou ficcionado (op. cit., 132-3). Parece, no entanto, que o A. desconsidera que estes expedientes legais alteram os elementos da facti species da norma que vão permitir aplicar, de modo que não pode verdadeiramente falar-se de non liquet sobre um facto jurídico. 146 147 41 escolha entre versões apresentadas, como nos casos de «alegações equivalentes»155. Em Gegenwartsprobleme, concorda-se com SCHWAB no ponto de que ROSENBERG apenas teria deixado uma lacuna por preencher156 e admite-se, a princípio, uma «regra não escrita» subjacente ao ónus da prova. Aceitam-se os resultados básicos de LEIPOLD, mas é notado que as suas «normas especiais» apenas respeitam à distribuição do ónus, ignorando «a questão metodológica» anterior, e teme-se que a «autonomia formal» daquelas leve a um afastamento (Loslösen) «quanto ao conteúdo» entre o ónus e o direito substantivo. PRÜTTING ataca ainda um seguidor de LEIPOLD, BERG157, que terá negado a vigência no ónus da prova de uma norma fundamental, antes fazendo corresponder a cada regra substantiva uma norma autónoma de distribuição. PRÜTTING tem por, «sem dúvida, pouco convincente» tal crescimento multiplicativo do número das normas158. Contra MUSIELAK, afirma essencialmente a dualidade (involuntária) do seu esquema, pois a «norma fundamental negativa» «sem conteúdo» só pode ser completada pelas normas materiais constitutivas, excludentes e extintivas. As impeditivas, por só relevarem na distribuição do ónus da prova, não são «materiais». As «normas especiais» de que decorra o carácter impeditivo já fazem a distribuição, prescindindo da «norma fundamental negativa»159. Com este lastro, PRÜTTING esclarece que a decisão de ónus da prova é um problema com vários níveis160. Num primeiro grau, o de saber se o juiz deve ou não decidir; depois, o «processo metodológico [Methodische] sobre o qual o juiz alcança a sua decisão e em que expressamente se deixa em aberto como o ónus da prova é distribuído» (it. do A.); por fim, a distribuição do ónus da prova. O dever de decidir, e, no direito alemão actual, com força de caso julgado, é regra sem excepção. O terceiro grau não interessa para fundamentar o ónus. Para o segundo plano, importa acentuar a indissolubilidade da ligação da distribuição do ónus da prova ao direito material. O A. observa ainda que as normas expressas sobre o ónus só cuidam da sua distribuição. Ao «instrumento metodológico» de superação do non liquet, chama «regra operativa», e concorda com LEIPOLD e posterior doutrina em que o seu «conteúdo material» tem de ser uma ficção, a ficção de que certo elemento da facti species se cumpriu ou não. As normas de distribuição (o 3.º nível) indicarão o sentido em que se ficciona. PRÜTTING acentua a separação entre estes diferentes «conteúdos materiais»161. Com isto, falta apenas determinar «a essência da regra operativa» e, então, dar resposta à questão de saber «quais dos três níveis têm de estar regulados». Só há, materialmente, regras quando quem cria o direito (der Rechtssetzer) escolhe a melhor de várias alternativas; «seria sem sentido», i.e., meramente linguístico, p. ex., que o legislador fizesse de uma «lei natural genericamente reconhecida» uma norma jurídica. O dever de julgar tem, decerto, de se extrair de uma «decisão normativa»; das várias alternativas, só essa, aliás, imposta consGegenwartsprobleme, 113-145. Mas não se permite (p. 150-1) colmatá-la com o referido § 286 ZPO, que apenas regularia a livre apreciação da prova (identicamente, MUSIELAK, Grundlagen, p. 19, n. 121, HEINRICH, 43-4). Cf. tb. pp. 161-3, na crítica à teoria de SCHWAB (em complemento de ROSENBERG) da «não aplicação», que, muito manifestamente, embate na falta de autonomia material das «normas impeditivas». 157 Die Verwaltungsrechtliche Entscheidung bei ungewissem Sachverhalt, Berlim, 1980. 158 Gegenwartsprobleme, 153-7. Em rigor, PRÜTTING critica BERG para evitar criticar LEIPOLD. Nos lugares cit. na n. anterior e nas seguintes, PRÜTTING sempre invoca o perigo da «multiplicação das normas» inerente à obra do segundo A.. 159 Gegenwartsprobleme, 157-161. MUSIELAK tenta responder às críticas de PRÜTTING numa recensão alargada — e muito elogiosa — a que chamou também Gegenwartsprobleme der Beweislast, cit. GegenwartsP. Reitera a consensual indiferença substantiva entre impeditivos e constitutivos, mas aduz uma observação surpreendente: os impeditivos têm significado substantivo, porque integram as facti species das suas normas. É uma falsa verdade, pois a sua relevância substantiva não foi jamais negada, mas apenas que se distinguissem substantivamente dos constitutivos. Falha por isso a sua afirmação, já presente em Grundlagen, de que a «regra negativa fundamental» funcionaria com os impeditivos, por ainda neles levar à «ficção da sua não verificação» (que seria o «caso normal»), enquanto que só «normas especiais», como a maioria das presunções e outras regras expressas sobre o ónus, «ficcionariam a verificação de um facto». O A. não ultrapassa a dualidade do seu sistema e, mais gravemente, argumenta em termos que nos parecem sem sentido. «Ficção de verificação» de x é «ficção de não verificação» de não-x e optar por pôr x ou não-x na facti species é arbitrário, dada a equivalência entre impeditivo e constitutivo e, mais amplamente, por força da coexistência necessária entre cada norma e a sua norma contrária, na perspectiva do ónus da prova. O A. não olha a essa arbitrariedade da concepção das normas apenas porque pensa «norma» como «norma com apoio legal explícito». Cf. MUSIELAK, GegenwartsP, 397-405. Aproveita-se para impugnar rapidamente a defesa da categoria «norma impeditiva» por este A.. MUSIELAK não evita o círculo vicioso apontado há muito, antes o explicita, de fazer depender a distribuição do ónus da prova (e a opção entre «norma fundamental negativa» e «regras especiais») de um conceito que é definido unicamente pelo seu regime de ónus da prova. 160 Assim, já POHLE, 319-20. 161 Gegenwartsprobleme, 164-9. Sobre o conceito de ficção, cf. 48-9 e 154. 155 156 42 titucionalmente. A distribuição do ónus da prova tem a mesma natureza, tem de resultar de uma norma. Diferentemente se passam as coisas no segundo nível. Se o juiz tem de decidir e a norma de distribuição lhe diz em que sentido, está já normativamente regulado que há que proceder à ficção. A regra operativa não é uma norma. Se o legislador quisesse expressá-la, a «norma» obtida não teria conteúdo de regulação, pois tudo estaria já decidido. Encontra-se um paralelo de «regra sem conteúdo normativo» no modelo subsuntivo. O fundamento material da regra operativa é a proibição da denegação de justiça. Com isto, considera PRÜTTING ter posto a teoria do ónus da prova «de pernas para o ar», pois o verdadeiro conteúdo das normas de ónus da prova não é a superação metodológica do non liquet, mas sim a distribuição do ónus da prova162. A distribuição do ónus é, afinal, independente da construção metodológica adoptada. As normas de distribuição, por seu turno, não são proposições jurídicas (Rechtssätze) completas, pois só em associação à norma material estatuem um efeito, o efeito dessa norma material. Nesta dependência, a norma de distribuição do ónus da prova nunca se distanciará do direito substantivo, perigo que existia na autonomização de LEIPOLD. P. ex., as lacunas relativas ao ónus no direito do trabalho alemão terão de ser integradas atendendo ao fim (Zweck) do respectivo direito material. E uma «inversão» do ónus da prova será sempre uma alteração do direito material. Na dúvida, «que, contudo, só é pensável fora do BGB», sobre se uma norma material co-envolve uma distribuição do ónus da prova ou, ao invés, deparamos com uma lacuna, a referida dependência impõe que a segunda hipótese se admita «excepcionalmente, se se provar de modo positivo que, de facto, a lacuna existe». Não há, em síntese, dois tipos de normas de ónus da prova163. Desculpará o leitor esta extensa reprodução se demonstrarmos que não se trata de «problemas teóricos», «metajurídicos», mas que lhes subjaz, inversamente, uma intenção prática, que, como diz MUSIELAK, se procura «obter métodos melhores e mais seguros de solução dos casos concretos»164. PRÜTTING pretende o contrário, mas, em contradição difícil de negar, retira das propriedades da sua «regra operativa» numerosas consequências, designadamente, a «indissociabilidade» entre o ónus da prova e o «direito material». O simples facto de haver quem, razoavelmente, defenda tais consequências já as torna reais, pois a adesão a essa tese implicá-las-ia e a não adesão possibilitaria a consequência de não haver consequências. Não se acuse de logomaquia. A ausência de constrangimentos prévios na discussão sobre a distribuição do ónus da prova é já um resultado de peso da discussão precedente. E nesse sentido vão as observações seguintes. A apreciação global das posições descritas faz-se com sucesso partindo dos maiores desenvolvimentos de PRÜTTING. Aceitam-se as críticas do A. a SCHWAB/ROSENBERG e MUSIELAK. Clarificando a nossa posição: «não aplicar» uma norma, mesmo sem renunciar ao esquema subsuntivo, é uma ideia radicalmente improdutiva para o ónus da prova; o mesmo se diga de «ficcionar a prova da não verificação» de um facto, que é, para mais, sinónimo de ficcionar que se verificou a sua negação, i.e., outro facto. Quanto a PRÜTTING, em termos gerais, é de opor que o A. hipostasia a norma jurídica, do que decorrem algumas considerações que não serão de seguir. A objecção que ergue contra LEIPOLD/BERG, ao ter por muito «pouco convincente» a multiplicação das normas que as teses destes AA. implicariam, peca precisamente nesse ponto. As normas não ocupam espaço nem consomem energia. Como ensina OLIVEIRA ASCENSÃO165, nem sequer «existem». A pergunta sobre se do art. 342.º, n.ºs 1 e 2, se extraem uma, duas ou Gegenwartsprobleme, 169-172. Gegenwartsprobleme, 172-5. Muito próximo das teses de PRÜTTING, cf. GMEHLING, 52-4. 164 MUSIELAK, GegenwartsP, p. 411. Não se esconde que vemos o «mais seguros» já incluído no «melhores», em articulação com o que de resto contribua para serem «melhores» — mais justos — os métodos. O «seguro» não anda sozinho. 165 O Direito, 488-9, na expressão que elegemos como inspiradora do nosso estudo. 162 163 43 quatro normas não tem resposta, porque não tem sentido166. Interrogar se o art. 879.º, b) e c), contém normas distintas da(s) do art. 406.º/1 merece sorte idêntica. Regula est quae rem quae est breviter enarrat 167. Se houvermos de configurar «uma», «duas» ou mais normas de distribuição para «cada» preceito material, a sua «quantidade» não pode dissuadir-nos. PRÜTTING qualifica depois as normas de distribuição do ónus da prova como normas incompletas, mas a afirmação é, no seu contexto, excessivamente ambígua. O A. parece querer negar-lhes lugar no conjunto das normas jurídicas, mas não pode fazê-lo. As normas remissivas, se são incompletas, não deixam de ser normas. Assim as normas de distribuição do ónus da prova. Com LEIPOLD, podemos aceitar a presença de normas de repartição disseminadas por todo o sistema, incluindo o non liquet na sua previsão. Já daqui se intui que não nos satisfazem as coordenadas metodológicas que localizam estes AA.. O pendor «historicista» acentuado da investigação de MUSIELAK, se bem que propiciador de algumas vantagens comparativas, coarctou preocupações de fundamentação material, que surgem só nas páginas finais da sua obra mais desenvolvida168. Quanto a PRÜTTING, apesar de não ter ignorado a discussão metodológica, acaba por enquadrar a sua exposição exclusivamente no esquema subsuntivo, dando a justificação — que temos por gratuita e insuficiente — de que todas as restantes propostas concordariam «plenamente [em que] a aplicação do direito só é possível perante uma factualidade assente ao ponto da convicção do tribunal»169. Como veremos ao longo do trabalho, estas balizas reflectiram-se negativamente. A triplicidade dos planos da decisão do ónus da prova não deve ser posta em causa após Gegenwartsprobleme. Não aceitamos, porém, que se identifique a questão do non liquet com o ónus da prova — e só para este pode dar-se por certo esse triplicar das «regras», normas ou não. A necessidade de um meio específico de reacção à incerteza, além do direito material «em sentido estrito», é ponto assente desde LEIPOLD. PRÜTTING faz, no entanto, um amálgama de possíveis «ajudas» cuja total falta de unidade rouba clareza à questão. Melhor andou CASTRO MENDES, que, ainda assim, equacionava a «prevenção da falta de probabilidade suficiente», i.e., os meios de obviar ao non liquet, o «prescindir da decisão», a «decisão especial» e o ónus da prova170. As regras destinadas a impedir a falta de prova ou são, aos olhos de hoje, um engano, porque não eliminam qualquer incerteza, apenas a ignoram, ou, de qualquer maneira, não interessam ao nosso tema, que é o de enfrentar o non liquet que se verifique. Paliativos como o «dever de esclarecimento», por maioria de razão, ficam aqui deslocados. Ficções substantivas, presunções inilidíveis e a alteração das previsões do direito material, suprimindo os factos mais aptos a gerar a dúvida Já tem todo o sentido perguntar se de um artigo, i.e., de um trecho legal se podem extrair normas. E tem ainda sentido inquirir se em certo artigo — p. ex., no art. 342.º, n.ºs 1 e 2 — se pode fundar alguma norma... 167 «Regra é o que explica com brevidade o caso que se apresenta» — PAULUS, D. 50, 17 (De diversis regulis iuris antiqui), 1, que prossegue: «Non ex regula ius summatur, sed ex iure quod est regula fiat»; «Não se extrai o direito da regra; é a regra que se faz a partir do direito que existe». Sem sombra de dúvida, dos fragmentos mais citados do Digesto. Que CASTANHEIRA NEVES, Questão-de-facto, p. XI, e OLIVEIRA ASCENSÃO, O Direito, 490-1, o invoquem, em nada surpreende. Que ROSENBERG os tenha antecedido, repetidamente, ao longo de todo o seu Beweislast, já causa alguma estranheza. 168 Grundlagen, 353-398, mas sempre acompanhados de explicações históricas. 169 Gegenwartsprobleme, 116-7. Cf. o que se disse supra, no final do ponto anterior, sobre o «princípio geral rosenberguiano». 170 Conceito, 431-7. 166 44 a seu respeito, não podem ser o auxílio de que precisamos, pois o non liquet ou a certeza sobre aqueles factos com propensão para a dúvida tornam-se, com elas, acasos sem eficácia jurídica. Mais: cada uma destas figuras tem de se justificar no universo substantivo stricto sensu a que pertence, furtando-se às nossas preocupações. Já são, de pleno direito, reacções à incerteza todos os casos em que se estatui para ela uma terceira solução substantiva, distinta das do direito material (que prevê apenas a existência de factos). PRÜTTING demarca «previsão substantiva da incerteza»171, «alteração do efeito jurídico» (como no juízo salomónico) e possibilidade de «avaliação judicial». As três categorias são uma só. Na «avaliação judicial», especificamente, há ainda um simples acréscimo às soluções do direito substantivo, que não ganha autonomia por caber ao juiz, no caso concreto, a sua determinação. O primeiro auxiliar possível, que tem, diga-se, consagração legal variada172, é, por conseguinte, a «regulação material específica da incerteza» — chamemos-lhe assim. Uma «regra operativa» ou apenas as «normas especiais», no sentido de LEIPOLD, as normas de distribuição do ónus da prova, são outro auxiliar. Não são dois, porque é um problema de construção, de representação formal — de que nos ocupamos mais à frente —, optar por um ou outro dos meios. O terceiro auxiliar admissível, a que ainda falta designação, tem um âmbito de incidência limitado a priori, pois as «alegações equivalentes» e figuras afins nem sempre ocorrem. Estes casos, contudo, reconduzem-se sempre ou a uma decisão de ónus da prova ou a uma regulação específica da incerteza. Permanecemos, portanto, apenas com dois auxiliares disponíveis. Sobra, pelo menos, teoricamente, o não dever de decidir com força de caso julgado material, que requer esta identificação espinhosa pela sua variedade. É curioso notar que estes três meios de ultrapassar a incerteza judicial esgotam as possibilidades. Na verdade ou há o dever de decidir com eficácia de caso julgado material, ou não o há. Se houver, ou se decide de acordo com uma das duas estatuições substantivas — o que resulta de qualquer sistema de ónus da prova — ou se decide de uma outra maneira. Quartum non datur. A dicotomia dever decidir/ausência do dever de decidir com caso julgado material convida a alguns esclarecimentos, que já não dizem integralmente respeito ao nosso tema e que, por isso, não aprofundaremos. A começar, é bom de ver que um dever de decidir de mérito, com ou sem força de caso julgado material, nunca serve como auxiliar na superação do non liquet, visto que a dificuldade associada à incerteza se mantém na sua plenitude. A mera permissão de não decidir (e de decidir) de mérito é, por sua vez, apenas «metade» de um auxiliar, visto que, optando o juiz pela decisão, renasce o obstáculo da incerteza. Então, a não vinculação a decidir de mérito só transpõe o non liquet enquanto se deva não decidir ou opte por isso. Ainda aqui, temos duas possibilidades, embora isto tenha escapado a PRÜTTING: a licitude de decidir processualmente e a licitude de não decidir de todo173. A segunda hipótese desfaz a triplicidade do esquema do A., ao contrário da primeira, que desencadeia a questão de como decidir processualmente. Parece-nos que a total ausência de decisão, contudo — e correndo o risco de alguma heterodoxia — mais do que ser proibida, não é possível. O problema prático, «objecti171 Figura, de si, heterogénea, pois inclui, para PRÜTTING, «presunções legais» e outras regras de distribuição. Abstraímos, agora, destes casos. 172 Inclusive na forma de «alteração do efeito substantivo». Cf. infra, no ponto 9. 173 LEIPOLD, p. 33, identifica até «não decisão» e «decisão sem força de caso julgado», o que parece francamente abusivo. MUSIELAK, Grundlagen, 19-20, rejeitando que a «lógica» implique uma decisão, para o que invoca a literatura sobre o ónus da prova e uma passagem de ENGISCH que referimos de seguida, dá exemplo de uma não decisão com a figura romana do non liquet (de mérito), que, no entanto, descreve (p. 199) como juramento quanto à dúvida (sibi non liquere), com a frequente e, por vezes, obrigatória consequência da mudança de juiz. Cf. tb. LÍBANO MONTEIRO, p. 22, em n.. 45 vamente», só existe na medida em que seja possível decidir. Decidir é agir sobre o problema enquanto tal. Não dizer o direito, podendo fazê-lo, é ainda agir sobre o problema, é um agir omissivo. «Objectivamente», teríamos então dois tipos de «acção» sobre o problema: a «decisão» (dizer o direito) e a «não decisão» (não dizer o direito). Vê-se bem, contudo, pelo lado «subjectivo», i.e., o lado do decisor, que, na consciência do problema174, a própria omissão de dizer o direito é um acto normativamente (moralmente) significativo, pois conserva a ausência de predicação declarada, o que, tal como a «decisão», será justo ou injusto — embora, em princípio, injusto. O decisor consciente (não há outro), ainda quando «nada faz», age. O seu «nada fazer» pode ser objecto de valoração e também interfere no problema, visto que também a omissão é causa. «Nada decidir», portanto, é apenas uma das opções colocadas cuja escolha o decisor ponderará, visto ter consciência do problema. Sendo causa, acção (opção) e objecto de valoração, sempre relativamente ao problema, o «não decidir» ostenta uma manifesta unidade com o «decidir», o que só pode ser bem expresso entendendo ambos como decidir, num, «dizendo o direito», no outro, não o fazendo. Isto torna-se óbvio na esfera judicial, pois a ausência de «decisão» mantém todos os efeitos da pendência processual, nomeadamente, impedindo outro processo, pela excepção de litispendência. Dada a proibição de autodefesa (cf. art. 1.º CPC), há inclusive uma manutenção do status quo que tem uma pequena semelhança com a decisão de improcedência. Já o adiar a decisão é significativo, pois conserva durante algum tempo o problema. Adiar sine die — i.e., decidir, perante as partes, adiar sine die a «decisão» — e nada declarar são rigorosamente o mesmo. Ao lavar as mãos, Pilatos não conseguiu purificar-se. Com estes exemplos — e voltando agora a uma perspectiva objectiva, sempre pressupondo a possibilidade de decidir, pois só assim há problema175 —, é de crer que mesmo a falta de «dizer o direito» é uma reacção ao problema, é um seu tratamento e, portanto, uma decisão. Aqui está o inafastável lado trágico da possibilidade de decisão, de que nos fala RICŒUR176. Por isso dizemos que não há a possibilidade de não decidir. Em processo, ou se decide o mérito, ou se decide processualmente, i.e., no mínimo, prolonga-se o problema. Acabamos, então, perante três possibilidades de fazer face ao non liquet: a decisão meramente processual, a solução substantiva específica e a recondução a uma das soluções do direito substantivo «em sentido estrito», i.e., o ónus da prova. Porque a decisão apenas processual é ilícita (cf. art. 8.º/1)177, o que já resulta de uma opção jurídica, restam-nos duas. Na grande maioria dos casos, o caminho é o ónus da prova. A regra de distribuição é também uma opção jurídica, i.e., «resulta» de uma norma. PRÜTTING não tem razão, no entanto, ao dizer que a escolha de quem sofre a consequência do non liquet, i.e., a determinação do sentido da ficção consumiria, com a proibição de denegação de justiça, toda a normatividade do caso. MUSIELAK178 contrapõe que a norma de distribuição apenas indica quem é o prejudicado, sendo necessária uma norma que aponte a ficção como o modo dessa desvantagem. A crítica procede, mas seria contornada colocando na estatuição da norma de distribuição a concreta ficção em benefício de uma das partes SARTRE, em O ser e o nada, nota que a «consciência do prazer» só bem se exprimiria eliminando a contracção «do», pois o prazer é já consciência. Escreve, portanto, «a consciência (do) prazer». Do mesmo modo, o problema prático (humano) de decidir só existe se dele houver consciência. Em rigor, teríamos de usar «a consciência (do) problema». 175 Recorda-se o adágio: «o que não tem remédio remediado está». 176 RICŒUR, 192-4, recolhe o «trágico» de ATIENZA, que o usava, porém, noutro sentido. RICŒUR, ao contrário do que vai no texto, concebe a não decisão. Esse lado trágico é muito acentuado no comentário de ABEL, 99-100. Quando CASTANHEIRA NEVES, Questão-de-facto, 471-3, fala de farisaísmo ou de uma «imoral abdicação», coloca-se tb. numa posição distinta da do texto. Ainda HEGEL, no § 214 dos Princípios (p. 199-200), apenas concebe como decisão a determinação, e não a permanência da indeterminação. O farisaísmo ou abdicação, contudo, é apenas imoral, e não amoral, mostrando-se, portanto, como uma decisão (um acto humano) valorável em referência ao problema que se encontrou e causal em relação a ele. Note-se a dificuldade de um puro «abster-se […] de qualquer decisão» quando ENGISCH, Introdução, p. 99-100, o faz corresponder «porventura [...] à chamada absolutio ab instantia». Assumimos, com isto, um pouco mais do que CASTANHEIRA NEVES, loc. cit., o célebre estar «condenado a ser livre», de SARTRE. 177 Naturalmente, se não houver fundamento processual para a absolvição da instância ou decisão paralela. 178 GegenwartsP, 393-7. 174 46 (o que, como vimos, é feito por LEIPOLD) e deixando para a «regra operativa» a ficção «em bruto», ainda por dirigir179. A normatividade da «regra operativa» resulta antes de a opção por uma ficção ser a resposta a um quid juris anterior ao de saber quem sofre com a ficção. Por outras palavras, tanto podemos formular, sinteticamente, que certo non liquet leva à ficção adversa àquela parte, o que até consumiria a proibição de non liquet de mérito perante um non liquet de facto, quanto, com mais rigor e analiticamente, que a incerteza, primeiro, não libera do dever de julgar, segundo, impõe a ficção do preenchimento de uma das normas substantivas «em sentido estrito» e, terceiro, é adversa a uma certa parte. A normatividade (juridicidade) do segundo elemento resulta de que se teria podido optar pela «solução material específica». Por isso, não temos nada comparável a incluir num diploma legislativo uma «lei natural». Mais uma vez, PRÜTTING reifica a norma e, o que mais incomoda, a norma verbalizada pelo legislador. Erradamente: o facto de a norma de distribuição do ónus da prova «resolver tudo» não impede que nela descubramos, afinal, várias normas, i.e., vários momentos de decisão, cada uma «resolvendo parte». Note-se a incoerência do A.: se a «regra operativa» não fosse norma, não precisaria de fundamento algum. Mas o nosso A. procura-o, e encontra-o na proibição de denegar justiça. Não podemos concordar. Se fosse permitido não decidir de mérito, quando o juiz optasse, no âmbito da permissão, por decidir, apoiar-se-ia de novo na «regra operativa». Para além disso — este ponto é capital — a simples proibição do non liquet de mérito tanto pode levar ao sistema da ficção, i.e., ao ónus da prova, quanto ao da solução material específica. Para eleger um deles, não se colhe apoio algum no dever de julgar. O modo de reagir ao non liquet, em suma, não responde, apenas, a um «problema metodológico». A triplicidade de uma concreta valoração de um non liquet, nos nossos sistemas jurídicos, exprime, pois, que intervêm as seguintes normas: (1) o juiz deve decidir de mérito; (2) normas «operativas»: (2a) deve dar uma das soluções substantivas em sentido estrito, ou seja, utilizar o ónus da prova (casos comuns, regra subsidiária); (2b) deve dar outra solução (casos raros); (3a) o ónus da prova favorece a versão X (atribuição do ónus da prova); (3b) a solução substantiva específica é S. Aparecendo a incerteza, todavia, como um quid ora processual, ora extraprocessual, o esquema carece de uma reformulação que o alargue: (1) o direito «material» predica situações juridicamente problemáticas apesar da incerteza; (2a) fá-lo mediante normas pensadas para casos de certeza ou (2b) mediante normas específicas; (3a) no caso, a predicação é a da norma que prevê a versão X ou (3b) a predicação específica é S. Segundo parece, o primeiro É estéril, pelo contrário, a crítica de HEINRICH, 37-42, à não normatividade da regra operativa. Para o A. a normatividade resultaria da necessidade de articular a proibição da denegação de justiça com o princípio da legalidade. Sem razão: a «articulação» poderia resultar na íntegra da norma de distribuição do ónus da prova, excluindo outra norma. Além disso, não se impõe «articulação» alguma. Ou a lei trata a distribuição do ónus da prova, e o juiz obedece-lhe, ou a lei não trata, e o princípio da legalidade não tem qualquer papel, pois, para o juiz — ao contrário da administração pública — basta a juridicidade para uma decisão. E porque tem de haver alguma decisão, ela não depende da contingente previsão legal. Só se esta ocorrer surgirá para o juiz um dever de obediência. Para lá do «sentido das palavras» da lei, há liberdade (de decisão fundamentada), como diz FIKENTSCHER, Methoden, p. 294 — cf. ainda, contra um «limite do sentido das palavras», CASTANHEIRA NEVES, Metodologia, 115-126, e, a favor, FIKENTSCHER, op. cit., 289-300, já distinguindo um período «pré-semântico» e outro «semântico», LARENZ, Metodologia, 190-6, em crítica, aliás, a ESSER, Vorverständnis und Methodenwahl, 1970, que menosprezaria «o significado do texto e, com ele, a participação do legislador no law in action». 179 47 passo perde agora o carácter normativo180, o que iria condizer com a sugestão feita de uma impossibilidade de não decidir. Já se notou que o non liquet faz parte da previsão da norma de distribuição do ónus da prova. A doutrina tende hoje a colocar na estatuição uma ficção: ou da certeza, ou da verificação de um dos factos contrários. Talvez seja possível uma apresentação mais enriquecida e simultaneamente mais simples. Como os AA. que agora criticamos reconhecem, a ficção é um meio legal de remissão181. No discurso «jus-científico»182, utilizar ficções é expor sem clareza. Somente as palavras distinguem uma remissão «expressa», por um lado, de uma «presunção iuris et de iure» ou de uma ficção, por outro, visto que a «identificação» dos «antecedentes», que caracterizaria estas figuras, só linguisticamente é acessível ao mundo jurídico. Quanto às «presunções inilidíveis» e às ficções, apenas um dado empírico as separa, i.e., a probabilidade, numas, ou a impossibilidade, nas outras, de coexistirem os «factos» equiparados, o que não tem reflexos jurídicos, porquanto se trata pura e simplesmente de remissões de direito material e não de um enquadramento de direito probatório, que implicaria ser substantivamente relevante apenas o facto ficcionado ou presumido. Sempre que há uma remissão, o direito entende — e tem de se fundamentar — que basta a base da remissão para desencadear a estatuição antes reservada à facti species da norma alvo. Verificar-se esta última não tem qualquer peso. Logo, o que importa é expressar a ocorrência de uma remissão. Acresce que só poderia falar-se em ficção da convicção, pois só a convicção é incompatível com o non liquet. Contudo, a norma a que se remete é a norma substantiva. Esta, diz hoje toda a doutrina, prevê não a prova, mas a existência de «factos». Ora a verificação do facto beneficiado pelo ónus da prova, por definição, não é incompatível com a incerteza a seu respeito. A doutrina dominante cai, portanto, nalguma contradição183. Por nossa parte, tendo recusado que a incerteza fosse específica do momento processual, a simples ideia de remissão impõe-se com evidência: longe do juiz, nem ficcionada teria lugar qualquer convicção, pois o decisor é aí uma abstracção impessoal. Não se «presume» nem se «ficciona» a verificação de facto algum. Decide-se, na incerteza a seu respeito, como se ele se tivesse verificado. A questão é, porém, exclusivamente terminológica. Tem um alcance extremo, ao invés, discutir a «indissociabilidade» entre normas de distribuição do ónus da prova e direito material. A argumentação de PRÜTTING é, neste ponto, algo sofística. A única inseparabilidade resultante do esquema formal apresentado consubstancia-se na remissão — correspondente a uma ficção, para quem preferir — da norma de distribuição do ónus à norma material. A «estreita ligação» ao direito substantivo, que os AA. pretenderiam, não Afirmar o contrário assentaria em deparar-se já no juízo de juridicidade (i.e., de que há matéria de direito) com uma opção jurídica. 181 Sobre as ficções, «presunções inilidíveis» e «remissões», em apoio do que se diz de seguida, cf., v.g., OLIVEIRA ASCENSÃO, O Direito, 506-10, e LARENZ, Metodologia, 364-70. 182 As «» limitam-se a não imputar à «ciência do direito» uma natureza «científica». 183 LEIPOLD, 64-6, vê o ónus como norma de decisão processual que não dá por si a solução (procedência ou improcedência), carecendo da norma substantiva e relevando apenas para a decisão judicial. O A. esquece que a norma de distribuição do ónus da prova remete para uma ou outra norma substantiva conforme o objecto do non liquet e os factos sobre que haja certeza. PRÜTTING, 168-9 e, sobre o conceito de ficção, 48-9 e 154, num momento, diz que se decide «como se fosse clara» a verificação ou não do facto, noutro, que se ficciona o preenchimento da facti species ; antes, caracterizara a ficção como norma remissiva. 180 48 pode ser mais do que a sua incontornável confluência na resolução dos casos, concretos ou «abstractos». Por o non liquet ser um elemento novo relativamente ao direito substantivo «prévio»184, implica, na sua específica problematicidade, novos argumentos. Não remove os anteriores, ao que sabemos neste momento, mas acrescenta alguns. Se o non liquet for especificamente processual, entra ainda em jogo mais uma linha de discurso. É certo, embora omitido pelas auctoritates do ónus da prova, que a simplicidade de configurar uma remissão envolve já a complexidade de (quase) explicitar uma analogia, mas nem esta, porque supõe diferença, pode ser lida como um automatismo formal185, nem a concorrência entre os dois desenlaces substantivos consente de início até o que menos fosse que intuir uma preferência por um deles. Nada pode ser dito, aqui, sobre uma maior proximidade do ónus ao direito material. A imposição de que as lacunas quanto a certos sectores do ónus da prova sejam resolvidas «atendendo ao fim» do direito material, como se defende em Gegenwartsprobleme, ainda não tem fundamento, embora não seja totalmente incorrecta. Esse «fim», se houver algum «fim» prosseguido186, terá de ser atendido em conjunto com as restantes razões, se a incerteza o não tiver posto em causa. P. ex., o «fim» jus-laboral de proteger a «parte fraca», para quem o admita, será ferido quase mortalmente quando não se sabe, em concreto, se a parte é «fraca», quando é incerto, porventura, que haja um vínculo laboral, mas sairia incólume da incerteza quanto ao contrato de trabalho se tivesse por beneficiários os membros duma categoria que não dependesse da celebração de tal contrato ou se uma das manifestações de fraqueza que se visasse tutelar fosse a debilidade probatória. Não há indissociabilidade do direito material. Há diálogo de pontos de vista na solução do caso. Conceber as normas de repartição do ónus como «normas incompletas» é fomentar confusões. Porque remissivas, são normas «incompletas» ou «não autónomas», mas são a resposta a específicos problemas «completos» e «autónomos», tendo em conta valores próprios ou comuns, exactamente como as normas de conflitos de leis ou o direito transitório. Assim, temos normas «completas» e «autónomas». O afirmado torna-se por demais manifesto com a verificação, algo empírica, de que a distribuição do ónus da prova se resolve num subsistema, se reconduz a princípios187 ou, mais amplamente, a argumentos próprios, não obstante partilhar outros com diversas áreas do jurídico. Qualquer monografia sobre estes assuntos documenta vectores comuns a todo o ónus da prova e o processamento central de razões específicas. «Prévio» apenas simplifica o texto. Que nem deixaria discernir os casos de analogia dos de uso do a contrario, que implica semelhança. Cf., p. ex., CASTANHEIRA NEVES, Questão-de-facto, 263-6, MENEZES CORDEIRO, Da boa fé, 1118-20, F. BRONZE, 555-576 (esp.te, 564-6), ou PAIS DE VASCONCELOS, Contratos, 95-102. 186 A ideia de que a toda a norma subjaz «uma finalidade» é anacrónica. Cf. ENGISCH, Introdução, p. 141. Recolhe-se de ESSER, Grundsatz, 90-1, a noção do erro que estaria tb. em pensar que, para cada norma, se disponibilizaria um princípio. 187 Cf. CANARIS, Pensamento sistemático, 9-13 e 76-88, que vê o sistema como ordenação e os princípios como os elementos preferíveis de formação do sistema, e BYDLINSKI, System, 9-31, que exige, para a formação do sistema externo, a consideração de «princípios valorativos» subjacentes e das «especificidades normativas», embora recuse a suficiência dos princípios para essa tarefa, tal como recusara uma sistematização apenas de acordo com «os estratos da realidade» relevantes. 184 185 49 Quando PRÜTTING sustenta que uma «inversão»188 do ónus é uma alteração do direito material, tropeça numa tautologia, considerando o direito material «em sentido amplo», ou numa contradição, olhado este «em sentido estrito». Uma alteração do ónus da prova é uma alteração do ónus da prova, passe o «jogo de linguagem». É uma alteração do direito vigente, que pode ou não aceitar-se, nos termos gerais ou nos termos específicos do ramo do direito em causa. Porque o ónus determina a decisão de mérito e o non liquet é vulgar, tal modificação sente-se intensamente na decisão final dos casos — é decerto o que o A. quer dizer —, mas isso não tem qualquer relação com regras operativas ou com ficções. Na defesa de uma «presunção de inexistência de lacuna» — «presunção» na «questão de direito» por que exprimiremos até, em termos restritos, alguma simpatia —, ilidível, pretende, «só» fora do BGB — supomos que devido aos cuidados dos redactores do centenário código — o A. de Gegenwartsprobleme não consegue apresentar qualquer fundamentação. A «incompletude» das normas de distribuição de tal modo as aproximaria das normas substantivas que a expressão legal destas havia de conter, em princípio, uma regulação do ónus da prova. Visa o A., recordemos, o papel da sintaxe legal na descoberta das regras de distribuição. No entanto, a proximidade formal («construtiva») relaciona-se acidentalmente com a simultaneidade de expressão legal, uma vez que a questão substantiva ignora modos de redacção. Se o legislador se alhear, na composição dos textos, do problema do ónus da prova, dedicando-se apenas ao fundo normativo — o que, com os dados de que agora dispomos, tanto pode acontecer quanto não acontecer —, como arrancar da «estrutura das frases» tão só um indício da distribuição do risco probatório? 7. Natureza meramente verbal das «normas constitutivas». «Normas impeditivas de segundo grau». «Normas conservativas» Voltemos à distribuição do ónus da prova. Até aqui, conseguimos uma «teoria das normas modificada». Nela, a repartição obedece ora a uma distinção de normas — constitutivas, por um lado, extintivas e excludentes, pelo outro — ora a uma distinção de enunciados legais — «constitutivos» ou «impeditivos». Em rigor, temos uma «teoria modificada» que já não é «teoria das normas», porque não se refere só a normas. Explicando: a doutrina alemã dominante é dual; são duas doutrinas, que só se unificam no ponto de apoio estéril dos três momentos da decisão de ónus da prova. Surpreende apenas que não se tenha exprimido um desconforto que nos parece imediato. «Constitutivas», aparentemente, pode qualificar normas ou orações (trechos legais). Isso implicaria, no entanto, usar o termo com dois significados distintos. Se não há diferença substancial entre «constitutivas» e «impeditivas», e a contraposição entre «constitutivas» e «extintivas» ou «excludentes» é, pelo contrário, material, então, «constitutivas», nesta segunda oposição, As aspas são do A. (como tb. de MUSIELAK, Grundlagen, p. 132), mas subscrevemo-las inteiramente. «Inverter» implicaria uma distribuição anterior que, via de regra, não ocorre, nem sequer num plano «lógico» ou «valorativo». Como já se intui e melhor resultará do ponto seguinte, nem a «teoria das normas», nem qualquer outro possível critério de distribuição poderia reivindicar esse género de primazia. 188 50 inclui as «impeditivas»189. Daqui resulta com meridiana clareza que «constitutivas», quando referido a normas, não indica uma distribuição do ónus da prova (pois podemos estar perante «impeditivas»). Quando «constitutivas» indica uma distribuição, não se refere só a normas, mas também a orações, e só na segunda referência faz a distribuição. Por fim: a negação de uma preexistência material das impeditivas que releve para o ónus é negação da preexistência das constitutivas para o mesmo efeito. Não há uma dificuldade com as «impeditivas», mas sim com as «impeditivas» e «constitutivas», que são indiscerníveis. Não temos, portanto, nenhum critério, além da redacção legal, para manusear o ónus quanto a factos previstos por normas de «eficácia» contemporânea ou anterior ao nascimento incerto de um direito. Os AA. afirmam, por vezes com veemência, a autonomia substantiva das extintivas e das excludentes. O momento da sua eficácia é distinto do das constitutivas (agora, sem aspas), aspecto com repercussões manifestas. Ter-se o direito extinguido ou nunca ter chegado a existir são coisas diferentes; só no primeiro caso há disponibilidade e licitude do exercício durante algum tempo, com reflexos perante terceiros a disponibilidade, com efeitos na responsabilidade civil a licitude. Tratando-se de um crédito pecuniário vencido, a extinção posterior não elimina forçosamente os juros. Só teremos pagamento do indevido se, ao tempo do pagamento, o crédito não existia190. A ideia de retroactividade — como se sabe, mais importante no direito português do que em sistemas que tutelem de modo acrescido a confiança de terceiros ou «o tráfego» — introduz no tema, porém, alguns transtornos. A usucapião, que opera como «contranorma», i.e., «facto extintivo», relativamente aos direitos reais prejudicados, produz os seus efeitos antes de um usufruto validamente constituído pelo primeiro proprietário durante a posse191, i.e., antes de se concretizar toda a sua facti species (cf. art. 1288.º). O usufruto começou a sua existência, mas, «depois, nunca existiu», passe o atentado gramatical. O terceiro adquirente da propriedade sobre um móvel «deixa de a ter tido» com a anulação da compra por aquele de quem adquiriu (cf. arts. 289.º/1 e 291.º). Propicia-se o mesmo exemplo com a condição (cf. art. 274.º). Obtemos daqui uma restrição à «materialidade» da diferença entre constitutivos e extintivos ou excludentes, ou então a necessidade de os definir apenas pelo momento do seu efeito, sem aludir ao momento da concretização da sua facti species, o que levaria a encaixar nos «impeditivos»/«constitutivos» alguns factos que ocorrem ulteriormente. Ou redefinimos os «extintivos», fugindo à terminologia corrente, que neles encaixa apenas as ocorrências posteriores a uma constituição, ou aceitamos que nem sempre é substancialmente significativa a sua distinção da simples negação de «constitutivos». Todavia, isso não faz perigar, por si, a «teoria modificada». A sintaxe legal é o único meio de fundar a distribuição do ónus da prova, excepto quanto aos factos de eficácia diferida em relação ao surgimento do direito. A ressalva traduz que, Sem querer repisar o óbvio, quando se afirma que um «impeditivo» não se distingue de um «constitutivo», pretende significar-se, de modo breve, que a negação de um impeditivo não se distingue de um constitutivo, e vice-versa. 190 A exposição mais completa é de LEIPOLD, 36-7. Acrescentou-se-lhe o exemplo da licitude/responsabilidade civil. Cf. ainda as sumárias indicações de REINECKE, p. 29, PRÜTTING, Gegenwartsprobleme, 240 e 267-8, e MUSIELAK, Grundlagen, 294, 285 e 288-9. 191 Para a situação não ter nada de «académico», basta que o proprietário não possuidor tenha constituído o usufruto por testamento, posteriormente aceite. 189 51 mesmo sem atender à redacção da lei, sabemos que o ónus da prova, quanto a factos previstos por normas cuja eficácia suceda à constituição do direito, recai sobre a versão/a pessoa contra a qual se faz valer o direito ou, abreviadamente, sobre o «réu»192. Esta afirmação é, contudo, «falsa», quer dizer, injusta e sem consagração no direito vigente. Nenhum dos paladinos da «teoria das normas modificada» a subscreveria, decerto. Vimos que já ROSENBERG alertara para que a oposição «norma»/«contranorma» é relativa, podendo prolongar-se sem divisarmos à partida o seu termo193. Com alguma literatura jurídica mais recente194, diremos até que a «excepção» é essencial à norma de conduta, embora não se requeira tanto para ilustrar os problemas da repartição do risco de non liquet. P. ex., o crédito extingue-se por contrato de remissão (cf. arts. 863.º e ss.) cuja eficácia não seja «impedida» por uma anulação, que não acontece se entretanto tiver decorrido o seu prazo, salvo conhecimento posterior da causa de invalidade195, etc.. O cumprimento extingue a obrigação, não se verificando a sub-rogação de terceiro (cf. arts. 589.º e ss.). A prescrição extingue o crédito, rectius, transforma-o em obrigação natural, se não tiver sido «impedida» ou diferida pela interrupção ou suspensão, respectivamente. A superfície extingue-se com a destruição da obra e o decurso de, supletivamente, 10 anos, excepto se houver entretanto reconstrução (cf. art. 1536.º/1, a) e b)). A ordenação destes «factos» como «extintivos» do crédito ou como «impeditivos» (ou «excludentes») da extinção é «materialmente» arbitrária, dado que o momento relevante da extinção ou não extinção é apenas um. A «teoria modificada» comparou as «normas excludentes» e «extintivas» com as «constitutivas», mas esqueceu-se de fazê-lo também com as que chamaremos «impeditivas de segundo grau»196. Transpondo elementos anteriores, temos que só a redacção legal distingue «constitutivas» e «impeditivas», que, por isso, não representam, nem umas nem outras, a invocação no âmbito do ónus da prova de qualquer categoria substantiva. Só a redacção legal aparta, também, «extintivas» e «excludentes», por um lado, e «impeditivas de segundo grau», por outro, o que de novo nos deixa perante uma dicotomia materialmente nula. É inevitável, então, abandonar a designação «teoria das normas» e adoptar «teoria das frases» ou, com outros AA., «teoria da estrutura das frases». Não é sequer de aceitar a concessão de PRÖLSS à doutrina dominante, sugerindo que «ponderações de justiça material desempenham […] um papel na medida em que se discuta qual das normas deve ser vista como favorável a qual das partes»197. PRÖLSS, um dos principais críticos da «teoria das normas», foi demasiado generoso. Na verdade, não podem ter lugar quaisquer argumentos materiais na distinção das «normas», porque estas — como vemos — não passam de categorias formais e da sintaxe legal. Do mesmo modo, não se pode discorrer em termos jurídico-materiais sobre a diferença entre páginas ímpares e pares do jornal oficial ou entre adjectivos e advérbios. Não é a nossa visão que reduz a «interpretação da lei» quanto ao A posição processual, como vimos, não é atendida pelo ónus da prova. Usa-se «réu» (ou «autor») por simplicidade. Norma/contranorma/contranorma/contranorma etc.. 194 F. BRONZE, loc. cit. supra, na n. 121. 195 Desviamo-nos intencionalmente da redacção do art. 287.º/1 e abstraímos tb. do disposto no art. 343.º/2. 196 É muito rara a clarificação de que também relativamente aos «extintivos» há «impeditivos». Lembramos, apenas, CAVALEIRO DE FERREIRA, 215-6. 197 PRÖLSS, Beweislastverteilung, p. 903. 192 193 52 ónus da prova a uma «interpretação literal». É, pelo contrário, a denominada «teoria das normas» que pretende distribuir o ónus de acordo com figuras que não têm outra real autonomia, senão a de corresponderem a trechos legais autónomos. Bem podia ROSENBERG pretender que todos os «elementos da interpretação» contribuíssem para separar as normas198; nunca isso poderia ser feito nos quadros da sua «teoria». Além disto, a «teoria» esvaziar-se-ia por completo se permitisse a convocação de outros critérios para a identificação das «normas». Para aquele A., cada norma é um dado — o dado legal — necessariamente prévio à distribuição do ónus da prova, que dele decorre. ROSENBERG acreditava apenas que a distinção sintáctica implicaria algum sentido substancial, mas sem razão. Exemplifiquemos. Reza o art. 268.º/4 que a contraparte pode revogar o negócio «salvo se […] conhecia a falta de poderes do representante». Esta redacção — «salvo se…» — significa, para o A. de Die Beweislast, que o preceito contém «duas normas», uma que atribui o direito de revogar, outra que o retira quando a contraparte conhecesse a falta de poderes. Daí resultaria que o representado que quisesse evitar a desvinculação da contraparte teria de fazer prova do conhecimento. Seríamos tentados a dizer que, para além deste «elemento literal», a necessidade de distinguirmos «duas normas» decorreria, p. ex., de ser «mais fácil» ao representado provar que a contraparte fora informada da falta de poderes do que a esta provar a ausência da informação, confirmando a repartição do ónus que o «elemento literal» indicava199. Todavia, esta invocação do desequilíbrio na facilidade de prova aconselha de imediato uma certa distribuição: prove quem melhor pode fazê-lo. Não passa por solucionar o pseudo-problema — já o dissemos absurdo, sem sentido — de haver no art. 268.º/4 «uma» ou «duas» normas. A «quantidade de normas» não tem qualquer relação com a facilidade de prova. Se fizermos uso deste género de argumentos de fundo, perdemos todo o contacto com a «teoria» de ROSEN200 BERG, porque a distinção «das normas» é deles independente e, inclusive, por eles dispensada . E vamos vendo que distribuir o ónus de acordo com a distribuição «das normas» — das frases — não tem qualquer espécie de fundamento. Em seguida, questiona-se o que é a teoria das frases201. Não é uma doutrina relativa à repartição do ónus da prova, mas sim sobre a interpretação da lei em matéria de distribuição do ónus da prova. Nada se diz sobre a repartição do risco do non liquet, mas exclusivamente sobre o significado das estruturas gramaticais da lei para essa questão. «Interpretação da lei» vai ainda num sentido desligado do problema pleno da realização do direito em plano subordinado aos exercícios do «poder legislativo». «Interpretação» quis dizer exegese. Porém, uma «teoria» ( ! ) que não fornece mais do que um «algoritmo metódico»202 de exegese deixa tudo por dizer. Contrapor-se-ia que a «teoria das normas» mantém uma conexão com o direito material na assunção implícita da necessidade, para a eficácia jurídica, de algum «facto constitutivo» ou algum Cf. supra, no ponto 4, designadamente na n. 86. MUSIELAK, p. ex., tb. acreditou nessa possibilidade (cf. supra, n. 147). Este é apenas um exemplo de argumentação. Não será decerto o único modo pensável de justificar tal distribuição do ónus da prova, nem porventura o melhor. 200 ROSENBERG pronuncia-se, aliás, contra as sugestões de distribuir o ónus de acordo com a dificuldade ou mesmo impossibilidade de prova: cf. Die Beweislast, 153 e 331-2. 201 A designação «teoria das frases» é pejorativa, mas nem por isso menos verdadeira. 202 Sobre a articulação de «método», «metodologia» e «metódico», cf. CASTANHEIRA NEVES, Metodologia, 9-23. 198 199 53 «facto extintivo» ou «excludente», e da contingência dos «factos impeditivos», de primeiro ou segundo grau. Na verdade, a «impeditiva» mal se concebe sem uma «constitutiva», e o mesmo se dirá, mutatis mutandis, para eficácias supervenientes; nunca se encontraria um facto impeditivo sem, logicamente antes, um facto constitutivo ou extintivo. Pelo contrário, «constituição» e «extinção»203, porque referem uma mudança no mundo jurídico, definir-se-iam por si. Contudo, este contra-argumento não poderia valer em absoluto, pois é pensável, «logicamente possível» uma «norma sem facti species», ou seja, para os quadros de pensamento da «teoria», um preceito legal cuja relevância concreta não faça incumbir o seu beneficiário de qualquer prova, mesmo que os exemplos rareiem204. A objecção, que não se lê nas «teorias modificadas», com boas razões, claudica ainda por três vias. Primeiro — e é o ponto decisivo — porque não vem em socorro da «teoria das normas», antes a confundindo com o «princípio do queixoso» (ou «princípio do agressor»), numa das suas versões205. É este que, na maioria dos casos, atribui ao «autor» — rectius, ao «queixoso» — o ónus da prova (algum ónus da prova) da constituição e ao «réu» — ao «agredido» — o da extinção. A «teoria das normas» nasceu contra o princípio do agressor, reduzindo-o a uma motivação legal distante e insuficiente206, e só se justifica se, pela distinção de «normas» e «contranormas» — designadamente, «impeditivas» —, onerar umas vezes o pólo activo, outras o pólo passivo da relação material de pretensão207, o que o princípio do queixoso não faz. Teremos oportunidade de precisar os termos da diferença e da coexistência destas duas linhas argumentativas. O segundo defeito daquela tábua de salvação das «constitutivas» e «extintivas» mostra-se em não flutuar ela com mais de um facto. Discutindo-se uma eficácia inicial, p. ex., seriam «constitutivos» os «dois factos» relevantes ou seria um deles «impeditivo»? E qual? O terceiro senão de reclamar-se que a «teoria das normas» imporia a prova de alguma coisa da constituição ou da extinção está na ignorância subjacente das «normas conservativas». ROSENBERG entendeu que «não há norma alguma que tenha por efeito a manutenção [Bestehen] de um direito», decorrendo esta, apenas, da «norma constitutiva» e da inaplicabilidade Doravante, «extintivas», «extinção», etc. podem incluir, por simplicidade, as «normas excludentes» ou a «exclusão». Poderia pensar-se na excepção do contrato não cumprido (cf. ROSENBERG, 321-8), em que quem excepciona não terá de provar o incumprimento da contraparte, mas sempre terá de fazer prova do fundamento do sinalagma (sem prejuízo, claro, de o credor o poder ter admitido ou confessado). Consideraríamos as regras de forma com cominação de invalidade, cujo «cumprimento» terá de ser provado por quem invoca o negócio jurídico, por força dos preceitos que para ele impõem «prova legal» (cf. art. 364.º/1), mas só se trataria de «normas sem facti species» se preconcebêssemos o seu carácter «impeditivo». Este argumento, aliás, bem deixa notar que só ao nível das «constitutivas» seria pensável encontrar a «norma sem facti species». Bom exemplo seria, enfim, um imposto de capitação. Num grau absoluto de «pureza», a sua «contranorma» seria apenas a «extintiva» que previsse o cumprimento. Neste momento, claro, já não se está propriamente a falar de direito. 205 A versão dos adeptos da «teoria modificada». Sobre o princípio do agressor, cf. infra, no ponto 10. 206 Cf. ROSENBERG, p. 97, e infra, no ponto 10. 207 Esta situação jurídica não tem tido na nossa doutrina atenção suficiente, mas foi objecto de um estudo profundo de TEIXEIRA DE SOUSA (Concurso, 19-100, esp.te 61-78), nos planos substantivo e processual. O A. conclui que a pretensão integra uma competência de aquisição (com paralelo na «afectação de um bem» no direito subjectivo de GOMES DA SILVA) e uma faculdade de exigibilidade (ao contrário do direito subjectivo, a pretensão não inclui os poderes de extinção ou disposição nem a faculdade de imposição erga omnes). É neste sentido rigoroso que se usa a palavra, embora considerando que a «afectação» de GOMES DA SILVA (cf. Dever de prestar, 49-52) visa descrever um mais amplo conjunto de elementos. A competência de aquisição está, em nosso entender, mais perto da «permissão» (sem «específica») de MENEZES CORDEIRO (cf. Tratado, 123-7). 203 204 54 de «extintivas», etc.208. Dificilmente se negará que a firmeza confiante do A. de Beweislast fica muito a dever a um positivismo legalista (direito = «normas legais») que se contenta com não encontrar nos textos por si estudados certa qualidade de «normas». Mas a ausência de alusão noutras obras a «normas conservativas» — fique esta designação — dá a entender que se tem por apodíctica a sua inexistência. Os direitos surgem e só desaparecem quando «alguma coisa acontecer», não precisam de uma norma que os suporte, mas apenas daquela que os crie, mantendo-se até outra os extinguir209. A ideia de uma situação jurídica «auto-subsistente», no entanto, vai apressadamente buscar ao mundo extrajurídico uma analogia que não se permite. Ao lado do «platonismo de regras» de que nos fala CASTANHEIRA NEVES210 — contestando que a norma-prescrição «fechada na sua significação e subsistente na sua idealidade» anteceda, na lei, o caso decidendo —, entendemos estar ainda mais enraizado, e com idênticos efeitos nefastos, um «platonismo de situações jurídicas», que as coisifica para além duma intenção metafórica211. Não é preciso acolher a moral nietzscheana para perceber que o pano de fundo da cultura cristã beneficia este género de entendimentos212, que assim nos fazem pensar igualmente evidente a permanência, «se nada acontecer», da coisa corpórea e do direito de propriedade que sobre ela incida. A melhor representação do universo jurídico passa, contudo, por entender o direito subjectivo — e as restantes situações jurídicas — como «norma ou produto de normas»213 e a sua conservação como a repetição, em contínuo, de soluções. Aceita-se sem esforço a realidade social de um crédito, uma posição accionista ou uma nua propriedade, mas o mesmo vale para as normas jurídicas. Num caso e no outro, temos o direito como «facto sociológico». A única perspectiva que nos pode interessar, todavia, é a do direito como problema, decisão e valor (normatividade). A afirmação da sobrevivência do crédito um ano após a sua constituição implica uma valoração — na conceptologia cara à «teoria das frases», a «aplicação de normas» — que tem em conta o decurso de um ano (não mais, nem menos) e a falta de cumprimento e de quaisquer outros «factos extintivos», sem contar com uma eventual declaração de recusa de uma contraproposta final de novação, a manutenção da personalidade jurídica das partes, a actual licitude do comportamento devido, o carácter temporário da sua impossibilidade, a anulação de um anterior cumprimento, etc., etc. — tudo isto são «factos», embora alguns porventura «negativos». Ainda há crédito porque a apreciação jurídica do caso para o momento presente conduz à Beweislast, 110-112 e 228-9. Junta-se que «a manutenção de um direito é, no máximo, presumida», exemplificando com a presunção de propriedade favorável ao possuidor. 209 Em sentido contrário, sugeriu-se no séc. XIX uma «presunção de continuidade» (Fortdauervermutung) dos direitos. Cf. MUSIELAK, Grundlagen, 271-2 e 358. A «presunção» fundar-se-ia na probabilidade! 210 CASTANHEIRA NEVES, Metodologia, 19-20 e 127-130. 211 As preocupações de C. MOTA PINTO, Cessão, 32-7, não andavam essencialmente afastadas das nossas, mas o A. execrava, esp.te, a hipóstase da linguagem, que, reconhecemos, prejudica de modo mais imediato uma sã visão do direito. 212 NIETZSCHE insultou: «O cristianismo é platonismo para o povo». A frase surge na obra Para além do bem e do mal, com trad. portuguesa na Guimarães Ed.. 213 A expressão é de MENEZES CORDEIRO, Tratado, 121-2, 126 e 99-100, que a considera «uma asserção básica quase consensual» e define situação jurídica como «o produto de uma decisão jurídica, isto é, o acto e o efeito de realizar o Direito, solucionando um caso concreto». Cf. tb. GOMES DA SILVA, Dever de prestar, 52-4, para quem, «pela noção dada de direito subjectivo, verifica-se que a essência deste não difere da das normas jurídicas», e, em sentido contrário, OLIVEIRA ASCENSÃO, logo em O Direito, p. 43, e em Teoria, vol. IV, 4-7, que recusa integrar na ordem jurídica as normas, mas não as situações jurídicas. 208 55 mesma decisão que para momentos anteriores. Uma apreciação jurídica é a «aplicação» de uma norma, ou melhor, é a descoberta, à face do problema, de uma norma que se lhe adequa. Mantém-se o direito porque uma norma o mantém; há que fundamentar a subsistência da situação jurídica. Bem podemos dizer que a morte do usufrutuário extingue o usufruto, mas também que a sua vida o sustenta (cf. arts. 1443.º e 1476.º/1, a)). O não uso põe fim às servidões, tal como o uso as conserva (cf. art. 1569.º/1, b)). A anulação tempestiva faz cessar retroactivamente o negócio, ou só o decurso do prazo de anulação vem permitir, ab initio, a produção dos efeitos214? A compreensão material das «normas extintivas» mostra que são o reverso das «conservativas» e que ambas pertencem licitamente ao direito aplicável. Reconheçamos aqui algum mérito a MUSIELAK, que, embora autonomizando primeiro as «extintivas», chegou a exprimir que elas ganham significado estritamente para o processo, não só porque interessa apenas descobrir se o direito, agora, existe ou não, mas também porque seria «teoricamente pensável» considerar «constitutivos» todos os factos215. Com estas considerações formais, tentamos retirar qualquer peso argumentativo em sede de distribuição do ónus da prova às distinções também formais que a «teoria modificada» invocava. Mais uma vez, discorre-se unicamente com vista a impugnar outros discursos. Neste instante, tem de fazer-se a seguinte opção: ou a «teoria das normas» parte de «normas» — já sabemos tratar-se de estruturas sintácticas — ou parte da quadripartição prévia «normas constitutivas», «impeditivas», «excludentes» e «extintivas». MUSIELAK, sem pôr as coisas nestes termos, opta pela segunda hipótese, com a explicação histórica de, ao tempo da feitura do BGB, ser essa a distinção generalizadamente aceite, mas logo dá um passo atrás e justifica a categoria das «extintivas» com a sua autonomia temporal216. Como, porém, as «impeditivas de segundo grau», ou de qualquer outro, devem ser acolhidas pela «teoria modificada», temos que a referência se faz sempre à autonomização legal das figuras, ou seja, às normas-frases. Portanto, nada impede que o legislador produza «enunciados conservativos», i.e., «materialmente», que preveja factos extintivos cuja negação, segundo a redacção legal, tenha de ser provada por quem invoca o direito. O próprio ROSENBERG nos dá exemplos disso, sob o título «estados de facto»217, não obstante a sua oposição às «conservativas». Pode o enriquecimento sem causa actual, cuja restituição se exige, ter de ser provado pelo autor, embora só nalgumas previsões específicas do direito patrimonial do casamento. A manutenção de um comportamento desonroso ou contrá214 Não se confunda a intenção de equivalência dos termos desta alternativa com a tese de FERREIRA DE ALMEIDA, Texto, vol. I, 217-9, para quem o negócio anulável será ou não negócio conforme venha ou não a ser anulado. Parece-nos inaceitável que a adequação de um conceito a certo quid em certo momento dependa de uma ocorrência posterior. O que dissemos ambiciona menos: num sistema de retroactividade perfeita da anulação — como, nalguns casos, será o da nossa lei (cf. arts. 289.º e 291.º) —, tanto faz afirmar que houve eficácia inicial, a destruir posteriormente, quanto que o negócio só gera situações jurídicas com a confirmação ou o decurso do prazo (cf. art. 287.º), mas reportando-se os efeitos ao momento da celebração. Note-se que, em rigor, não contrapomos aqui um «extintivo» e um «conservativo», mas sim um «extintivo» e um «constitutivo ulterior», que nos dá ainda mais um modo de indistinção das normas de ROSENBERG. 215 Cf. Grundlagen, 356-7. 216 Grundlagen, 357-6. REINECKE, 161-181 e 181-8, embora discutindo a permanência de obrigações duradouras, não foge à quádrupla alternativa, pois o A. preocupa-se com a denúncia e o despedimento, por um lado, e, por outro, com a aposição de um termo ao contrato de trabalho. 217 «Tatsächliche Zustände». Cf. Beweislast, 149-152. As figuras usadas pelo A. respeitantes ao direito matrimonial (§§ 1539 e 1550 II BGB) têm hoje um tratamento legal diferente. 56 rio aos bons costumes de um descendente terá de ser segura para que ainda haja o direito a deserdá-lo (cf. § 2333/5 BGB). Mesmo a vida de uma pessoa pode ser pressuposto da conservação do direito. Olhando à lei portuguesa, não são raros os casos em que um direito só é atribuído «enquanto x ocorrer»/«não ocorrer»218/219. O art. 476.º/1 outorga o direito à repetição da prestação a terceiro «enquanto não se tornar liberatória nos termos do art. 770.º». A «teoria das frases» retiraria daqui o ónus de provar que a prestação ainda não se tornou liberatória, já que não é argumento a negatividade (cf. art. 770.º) do facto controvertido. Certos atravessadouros com posse imemorial são reconhecidos enquanto não existirem vias públicas (cf. art. 1384.º). Segundo o art. 1532.º, só há direito a fruir até se iniciar a construção ou ser feita a plantação. Note-se que não estamos a ajuizar sobre a repartição do ónus da prova nestes casos, mas sim do que a seu respeito deveria resultar da «teoria das frases». De qualquer modo, a nossa lei impõe explicitamente, em uma ou duas situações, a prova de conservativos. Atente-se na «renovação anual da prova de que se mantêm os pressupostos subjacentes» ao crédito de alimentos contra o Estado, quando este garante a sua prestação a menores220, ou na «prova anual da manutenção dos requisitos» que conferem direito a pensão por acidente de trabalho221/222/223. Pensamos ter assim conquistado o último reduto da «materialidade» das «normas extintivas» e «excludentes». Já não seria necessário, pois a simples contemplação das «impeditivas de segundo grau» eliminava a sua autonomia. Fica por dar um outro passo, o de contestar a prioridade das «constitutivas» relativamente às «impeditivas», visto que a não constituição também assenta em pressupostos fácticos, em elementos da facti species de «normas», tal como vimos quanto à não extinção, que é conservação. Caberia citar DIAS MARQUES, para quem uma «nova situação, na realidade, não é mais que uma continuação da anterior, uma situação em que esta se converte ao produzir-se o facto jurídico, e pode, por sua vez, ser considerada por uma outra A «teoria das normas» acolhe com igual facilidade elementos «positivos» e «negativos» nas facti species. Esta doutrina surgiu, aliás, quando a «teoria das negativas», no espaço alemão, se tornava uma mera lembrança. Nos Motive, p. 383, dizia-se já: «Não tem interesse, para o ónus da prova, que o facto a provar seja positivo ou negativo, que consista na existência ou na inexistência de certas circunstâncias. [...] A opinião de que a inexistência de factos, em princípio, não precisaria de ser provada perdeu cada vez mais o apoio da doutrina e do foro. A afirmação correcta de que, quando se invoquem especiais efeitos associados pela lei ou por negócio jurídico ao incumprimento de uma obrigação positiva, não tem o credor de provar o incumprimento, mas sim o devedor o cumprimento, foi atendida nos §§ 425 e 434 II». Hoje, vejam-se os §§ 345 e 358 BGB. De toda a maneira, BECKH, 58-65, em 1899, deu ainda grande relevância, embora tendencial, aos «factos negativos», expressão que, aliás, não aceitava. 219 «Enquanto» é uma subordinativa temporal, apenas localiza a acção da subordinante, acrescenta elementos à «previsão» da «norma». Uma breve busca informática descobre o vocábulo em 67 arts. do CC, mas, na maioria dos casos, não se originam «enunciados conservativos»; cf., v.g., logo o art. 477.º/1. 220 Nos termos da L. 75/98, de 19 de Novembro. Cf., esp.te, o seu art. 3.º/6. 221 Cf. arts. 45.º/4 e 49.º/3 do D.L. 143/99, de 30 de Abril, sobre responsabilidade civil por acidentes de trabalho. 222 Um outro caso seria o da «prova de vida», necessária para fazer perdurar o direito à pensão de reforma. Quanto a este, cf., por último, o art. 89.º do D.L. 329/93, de 25 de Setembro, que deixa ao Centro Nacional de Pensões a fixação dos «prazos» e «termos» da prova. A figura foi «suspensa» por despacho (211/MSSS/96, de 29 de Outubro; DR, 2.ª série, de 20 de Novembro) do Ministro da Solidariedade e da Segurança Social, «a partir do ano de 1997», «tendo em vista a revisão do art. 89.º» referido. As cits. são do texto do despacho. A figura surgia já no art. 64.º do D.L. 498/72, de 9 de Dezembro, bem como em diplomas subsequentes. Não será relevante que se tratasse de prova perante uma entidade administrativa. Para mais, esse verdadeiro ónus de produção de prova seria, porventura, repercutido na distribuição do risco do non liquet numa discussão judicial ulterior (sobre o momento da morte), se não relevasse substantivamente. 223 Poderíamos juntar os casos de presunções relativas a «factos extintivos», maxime as de cumprimento — cf. art. 786.º, mas tb. arts. 312.º ss., aqui acompanhada da regra de prova legal do art. 313.º. Estes exemplos têm, porém, menor interesse, visto haver aí primeiro uma deslocação do objecto de prova, sem alteração do ónus, para a base da presunção. 218 57 norma como situação inicial», mesmo quando se trata de «factos constitutivos», embora o A. afirme que, aqui, as situações iniciais se configuram «como meras situações do sujeito perante a ordem jurídica, em geral, e não em face de qualquer norma em particular»224. Sem esta última distinção — que, na verdade, talvez não seja de acolher —, teríamos negada toda a diferença entre «constituição» e «extinção». A eficácia jurídica reduzir-se-ia a uma categoria única, a alteração, convivendo pacificamente com a outra descrição temporal das soluções jurídicas, a conservação. Cada uma delas pressuporia, respectivamente, «factos eficazes» ou «factos conservativos», uns a negação dos outros, perfazendo o conjunto dos factos jurídicos, todos equivalentes, à partida, para efeitos de ónus da prova. E não damos este passo somente porque nos faria cair num analitismo extremo, linguisticamente impraticável e perturbador de uma compreensão frutuosa dos casos225. Mas severamente analítica foi a «teoria das normas», embora nos quadros mesquinhos da norma-lei que se oferecia ao silogismo e dos factos «excludentes», «impeditivos», «extintivos» ou «constitutivos» legislados que o formalismo oitocentista legara a uma mal-afortunada tradição jurídica. 8. O problema legislativo Acentuou-se logo a princípio que a decisão legislativa é plenamente jurídica226. A derrota do positivismo legalista, porém, não levou com ele — e devia tê-lo feito — o hábito de dizer «isso são opções do legislador» ou «de iure condendo é outra questão», como que afastando do mundo dos juristas aquele momento da realização do direito. A juridicidade da legislação assenta na juridicidade do problema colocado aos órgãos competentes — o que reclama de imediato uma metodologia — e na necessidade de fundamento das escolhas legais. Não consideramos tanto o fundamento constitucional227, cuja falta tem reflexos sabidos, quanto os «pontos de vista jurídicos» de que a lei «é já uma objectivação linguística», «o direito», «esse algo» de que «é ela Noções elementares, p. 54, no texto e em n.. Lembra-se, a este propósito, que MENEZES CORDEIRO, Da boa fé, 820-8, perguntando pela relação surrectio/supressio, figuras de exercício inadmissível (abuso do direito), vem a reconduzir a primeira, como subproduto, à segunda, mostrando que a desvantagem trazida pela supressio se justifica ou pela concessão de um espaço de liberdade, ou pela constituição de um direito incompatível, i.e., a surrectio, num sentido amplo preferível. Bem se vê que, sem reduções formais, mas olhando aos fundamentos, pode preferir-se uma perspectiva a outra sua simétrica. Isso, porém, é alheio à doutrina que se contesta. 226 Na n. 73, que encerra o ponto 3. 227 Apesar da amplitude que dá a «princípios jurídicos fundamentais», é nesse sentido, que agora nos preocupa menos, que LARENZ, Richtiges Recht, 142-3 e 155-60, olha a vinculação do legislador, o que o leva com naturalidade a reconhecer uma «muito vasta margem de liberdade», mas o seu «direito justo» (cf. pp. 12-23) tem um conteúdo muito mais amplo. Vai na mesma direcção, é claro, a perspectiva de GOMES CANOTILHO, Constituição dirigente (cf. 202-3, 217 e 239-40), que por isso sublinha a importância do controlo das leis, diminuindo o relevo de uma limitação pela ideia de justiça, mas o A. tinha primeiro tomado a «teoria jurídica» tb. como fundamentação da «ciência da legislação» e discutido a eventual consideração da lei como «aplicação da constituição». Podemos já invocar BYDLINSKI, Rechtsgrundsätze, 61-72, que nota a insuficiência do apoio constitucional, mesmo num sentido alargado, para tornar dispensável uma «análise normativa material [inhaltliche]» de princípios. Fora do direito penal, a discussão constitucional do ónus da prova, que teve recentes desenvolvimentos, tem-se dirigido tanto à questão da admissibilidade do papel criativo da jurisprudência, quanto ao da liberdade do legislador. Cf. REINHARDT, 93-9, com um incompreensível substrato rosenberguiano, e HUSTER, 112-3, em crítica cerrada ao anterior. Mais ambicioso, o estudo posterior de SCHLEMMER-SCHULTE visa tb. ambos os problemas, no lado civil e no administrativo (cf. 1-5 e passim, a partir da p. 37), partindo da consideração material (não rosenberguiana) do ónus (p. 25-6). 224 225 58 própria já uma interpretação»228, os pontos de apoio materiais, que o legislador procurará se não quiser ceder ao arbítrio ou a uma compilação formal do acquis histórico. E, com isto, ficou dito que a liberdade de conformação pelo legislador ordinário dentro do limite da constitucionalidade é muito maior do que a deixada por poderem ser várias ou, inclusive, ilimitadas (mas não todas)229 as soluções justas de um mesmo caso («abstracto»)230. Em especial, recusamos o adjectivo semi-renunciador «político-jurídico» ou «político-legislativo». No que tenha de estritamente «político», a lei não nos interessa. Na medida em que deva conciliar «valores jurídicos» — num entendimento restritivo escusado — com imperativos económicos, financeiros, de exequibilidade, de gestão de conflitos sociais, de promoção cultural, etc., etc., a lei apenas «pensa a justiça»231, atendendo às múltiplas condições de uma sua expressão232. Temos de defrontar a dificuldade de, porventura, serem radicalmente distintos os planos metodológicos da decisão legislativa e da jurisdicional233. Invocar o carácter concreto da juridicidade seria, porém, petição de princípio e esqueceria ainda o controlo da constitucionalidade e da legalidade de leis e regulamentos. E não ajuda o radicalismo daquela distinção uma actual transformação dos órgãos que fazem as leis em «gabinetes administrativo-técnicos», pois o erro ou irrealismo metodológico, até ser costume, não desnatura o dever-ser de uma actividade que é constitutiva do direito, mas igualmente por ele visada. Em muitas leis, depara-se com o arrolar, nos «anexos», de membros de grupos forjados por químicos e biólogos, mas circunscreverem-se a um anexo logo demonstra a acessoriedade das suas descrições, e nenhuma acção de filiação passa bem, hoje, sem comparar os ADN. O fragmentado e eventual momento «teorético» pode revelar-se útil quer em concreto, quer em abstracto, ainda que tenhamos de aceitar um muito mais vasto papel dessas interferências extrajurídicas em algumas das decisões legislativas. A presença de um caso, outrossim, é tão sentida pelo legislador como pelo juiz, e em ambas as As expressões são de BAPTISTA MACHADO, Introdução, 214-5. Infinidade e totalidade distinguem-se. Considerem-se os números pares no conjunto dos inteiros. 230 Quanto à pluralidade de soluções justas do caso, cf., por último, P. OTERO, tomo 1, 173-6, embora os exemplos dados talvez não sejam inequívocos. Preferiríamos os que o A. usa antes, pp. 169-173, para uma categoria difícil de acolher. 231 Cf. FIKENTSCHER, Methoden, p. 6., no trecho que escolhemos como mote da nossa exposição. 232 OLIVEIRA ASCENSÃO, O Direito, 101-3 e 217-8, opõe que «certos juristas têm uma exagerada propensão para confundir o que pertence à Política Legislativa e o que pertence à Ciência do Direito», caracterizando aquela como aspecto da «arte do bem comum», esta pela intencionalidade de uma solução válida e por um método próprio. O projecto dum novo código seria obra de política legislativa. Quanto ao exemplo, assim tomado, discordamos: projectar um código é preparar um «dizer o direito». Se a política é arte do bem social, transcende o direito, mas já respeita o direito, que atende ao bem comum. Quando essa «técnica», porém, se destina ao momento específico de declarar o que é de direito, mesmo que abstractamente, já se transformou num momento «técnico» do direito — e um projecto de código, ou de lei, tem de ser elaborado, no princípio e no fim, por juristas, pesem embora os auxílios dos mais variados quadrantes. BYDLINSKI, Rechtsgrundsätze, 80-6 e 149-55, na sua intenção de uma «constituição ética da sociedade» (cf. o subtítulo), defende o abandono de uma «política meramente instrumental do direito», que se molda ao pensamento jurídico positivista oficial. O legislador não está vinculado só à Constituição, mas também a princípios de racionalidade ético-jurídica, com um papel indispensável na consistência interna do ordenamento, que ultrapassam uma igualdade pela mera generalidade e abstracção ou uma igualdade sem diferenciação neles fundamentada; é necessária uma fundamentação «racionalista» integradora, que vai buscar-se aos «princípios fundamentais». Tudo isto, obviamente, acolhemos. Mas o A. mantém que a legislação é, «em medida muito relevante, decisão política; concretização em forma jurídica de particulares desejos ou interesses políticos.» Interesses e desejos contrários ao direito? Nunca são irrelevantes, pois a lei interfere com a liberdade dos seus destinatários. 233 CASTANHEIRA NEVES, Metodologia, 17-23, dirige para aqui os seus argumentos, mas não irá ao ponto de radicalizar a distinção. No parágrafo seguinte do texto, tenta-se um diálogo com este A.. 228 229 59 situações se pede uma declaração, ora também imperativa/permissiva, quando se discutem condutas, ora apenas predicativa, quando os deveres ou permissões «não passam de» consequências a ponderar na decisão. As referências normativas e axiológicas de ambos os actores jurídicos separam-se exclusivamente em termos de grau, pois o tribunal, a mais que o parlamento, só não pode desrespeitar os marcos do «mínimo textual». A «eficácia» política, por fim, não está excluída das sentenças, como alguns desvarios da «comunicação de massas» não se cansam de lembrar, nem a índole política das leis faz esmorecer a sua congénita intencionalidade jurídica. Acima de tudo, importa reter que a argumentação utilizável pelo legislador no momento de produzir a lei e o pensamento que lhe é então exigível são grandemente coincidentes com os da decisão jurisprudencial. Basta pensar nos trabalhos preparatórios de qualquer código. Desse modo, só poderá considerar-se material — ou seja, relativo ao fundo dos problemas, e não às contingências de uma «positivação» textual — o discurso jus-científico que sirva quer ao tribunal, quer ao Parlamento234. «Assente»235, pois, a juridicidade da questão legislativa, nem será preciso perguntar que resposta tem para ela a «teoria das normas». A absoluta vacuidade do seu discurso para quem ainda vai compor as frases indispensáveis será difícil de refutar236. Bem avisa PRÜTTING que a área do ónus da prova é essencialmente um espaço livre para o legislador. Posta assim a questão, não vê o lado principal. O legislador, no seu campo de manobra, quer critérios que o possam orientar para a melhor ou uma das melhores (ex æquo) decisões; uma «liberdade» absoluta não serve em nada os seus desígnios. Tais critérios não podem ser encontrados na «teoria das frases». A «tarefa de regulação» de que está incumbido carece de «fundamentos materiais», o que não passou despercebido a REINECKE237. Por isso, num tempo em que as teses rosenberguianas não tinham sido ainda «modificadas», a sua elevação a «o mais seguro fundamento para a doutrina e jurisprudência» não impedia que um estudo de reforma legislativa tivesse de recorrer já a princípios238, que não se encontram no jogo «norma/contranorma». BLOMEYER escrevia, então, 234 Dois corolários imediatos seriam que cabem ainda ao jurista enquanto tal a crítica e eventuais propostas de alteração da lei e que o ensino jurídico não pode ser amputado dessas mesmas discussões. 235 A questão não fica «assente» em dois ou três parágrafos, mas nem se podia deles prescindir, por causa do ónus da prova, nem seria minimamente razoável ou apropriado tentar um maior esclarecimento do tema nesta ocasião. 236 Por isso, quando OLIVEIRA ASCENSÃO, Patente, p. 19, contestava o art. 3.º do D.L. 176/80, de 20 de Maio, por distribuir o ónus em prejuízo do fabricante que, alegadamente, transgride, não poderia ter invocado o art. 342.º/1, que é produto de uma «teoria das normas» e não dispensa o art. 342.º/2, mas apenas o art. 342.º/3, que dá letra de lei ao princípio do queixoso, num dos seus matizes. Aquela «inversão» do ónus resulta hoje do art. 93.º/3 CPI. 237 O A. intitulou o seu estudo A distribuição do ónus da prova em direito civil e direito do trabalho como tarefa de regulação jurídico-política. Soube distinguir, portanto, entre o meio de exprimir linguisticamente uma norma de distribuição e o fundamento dessa norma, mas, o que cabe agora realçar, separou tb. a norma vigente da norma «pensada» (gedachte), que poderia ser melhor. Melhor, para o A., estaria muito em diminuir os casos de decisão jurisprudencial contrária ao resultado substantivo, que lida com o existente, provado ou não. Nessa linha, considera a «probabilidade abstracta» e as «possibilidades de prova» (tendo em conta os «factos negativos» e as «esferas de risco») os critérios básicos de distribuição (pp. 34-73), em ambos os casos, aderindo a um discurso com uma tradição prolongada. 238 Cf. BLOMEYER, Gutachten, 1966, 3-6. O termo «princípios» (Prinzipien) viria depois a conotar-se com as posições, francamente adversas à teoria das normas, defendidas por DUBISCHAR, em 1971, WAHRENDORF, em 1976, e, com maiores concessões, REINECKE, na mesma data. Quando BLOMEYER se pronunciava no 46.º Congresso dos Juristas Alemães (Deutscher Juristentag), o ataque mais digno de nota (e ainda hoje por resolver) à posição doutrinal dominante devia-se a PRÖLSS, no primeiro dos trabalhos que citamos, acabado de publicar, com a sua dogmatização da distribuição por «esferas de risco» que o RG e o BGH criaram, por enquanto apresentada muito sinteticamente. 60 reportando-se às ideias de «probabilidade», «proximidade da prova», distinção entre factos «positivos» e «negativos» e «favorecimento» ou não pelo legislador de certo «efeito jurídico», mas fê-lo sumariamente. Porque a lei tivera o cuidado suficiente de atender a esses princípios, o A. não sugere aqui alterações239, avançando na discussão da chamada «prova de primeira aparência», que é já, parcialmente, um problema de apreciação da prova240 — apesar das vozes discordantes que na altura se faziam ouvir, querendo trazê-la à repartição do non liquet. Na verdade, tratava-se ainda dos critérios impostos ao juiz. Os «princípios» mereciam um tratamento desenvolvido, mas faltava que primeiro se apontassem as fraquezas mais nítidas da «teoria das normas»241. Esta, tal como tivemos de representá-la, só serve os propósitos do legislador que se restrinja a indicar o modo de o juiz descobrir as opções singulares feitas ainda por quem legisla, num segundo momento, relativamente a cada instituto. A «teoria» recusa-se pura e simplesmente a dar-lhe outro apoio. Ao contrário de qualquer elaboração dogmática substancial, só serve para a decisão sob a lei. Mas os deputados, membros do governo e autores de anteprojectos legislativos merecem maior atenção. Com a «teoria das normas», «três palavras de correcção do legislador e bibliotecas inteiras transformam-se em papel de embrulho»242, no que se evidenciaria serem más bibliotecas… Uma outra questão é a de saber se pode a lei, na distribuição do ónus da prova, orientar-se por critérios vedados ao juiz. É característico dos defensores da «teoria», desde o primeiro momento, fazer essa distinção, ainda que em termos moderados. Em princípio, o aplicador do direito no caso concreto deveria restringir-se à consideração das «normas» legais, mas a «analogia» ou o «desenvolvimento judicial do direito» teriam em conta os «motivos» da distribuição. Num ponto, porém, mesmo os AA. da «teoria modificada» tornam absoluta a diversidade dos papéis. A recusa de argumentos de «probabilidade», ainda que «abstracta», na decisão judicial, com o muito forte apoio de que isso levaria a um dupla consideração daquela — primeiro, na apreciação da prova, depois, na distribuição do ónus —, é acompanhada pela aceitação de que o id quod plerumque accidit, a «normalidade», justifique a repartição do risco de non liquet feita «em abstracto» pelo legislador243. Esta separação extrema é muito difícil de justificar244. Designadamente, não serve a ideia de segurança na aplicação judicial do direito, já que qualquer margem de livre valoração (fundamentada) pelo tribunal sempre diminui a possibilidade de prever as suas decisões, sem se apresentar neste tema uma conjuntura especial. Parece, efectivamente, muito duvidosa a licitude da utilização da «probabilidade» — conceito, aliás, camaleónico245 — em sede BLOMEYER, Gutachten, 6-9 e 53. BLOMEYER, Gutachten, 13-43. 241 O que aconteceu nesse mesmo ano de 1966, com as investigações de LEIPOLD. 242 Célebre dito de VON KIRCHMANN, magistrado alemão autor de uma conferência, de 1847, sobre a «falta de valor da jurisprudência como ciência» (Wertlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft, apud, p. ex., LARENZ, Metodologia, 55-6 e 336-7). 243 Cf. ROSENBERG, 186-9 e 208, e BAUMGÄRTEL, Beweislastpraxis, 114-5 e 120-1. LEIPOLD, 56-7, não afasta a probabilidade do juiz, visto não «presumir» a existência de uma regulação do ónus na redacção legal (51-2). 244 Cf. REINECKE, logo na p. 37. O A. pretende, já vimos, que a «probabilidade abstracta» seja critério de distribuição. 245 São infindas as discussões matemáticas, filosóficas e jurídicas do tema e do próprio conceito de probabilidade. Na melhor das hipóteses, há que distinguir probabilidade abstracta, concreta, objectiva e subjectiva, ou os sentidos «comum» (incluindo o subjectivo), de medida (incluindo o axiomático), de frequência, de grau de confirmação e de possibilidade objectiva ou propensão. Cf., p. ex., MACKIE, Truth, 154-236, com o especial interesse de relacionar os conceitos de probabilidade 239 240 61 de distribuição do ónus da prova. Supõe-se que o enquadramento de algumas regras legais de repartição do ónus terá de ser criticamente reexaminado. 9. Limites da «teoria das normas» e limites do ónus da prova A «teoria das normas» propõe-se como esquema geral de tratamento do non liquet. No número anterior, evidenciou-se o seu limite «vertical», mas também «horizontalmente» se encontram problemas para os quais ela não pode dar soluções, nem sequer injustas. Temos em conta duas ordens de limitações: as que restringem o próprio instituto do ónus da prova, em termos gerais, e as que pesam apenas sobre a «teoria das normas»; as segundas justificam a nossa atenção, mas não se dispensa uma visão um pouco alargada, que nos conduz, bem entendido, ao terreno da «solução substantiva específica». Por vezes, a inconveniência de uma atribuição do risco de non liquet em termos de simples remissão para o direito material «em sentido estrito» parece evoluir para uma «impossibilidade lógica» da sua aplicação. Esse género de argumentos, sabidamente246, merece a máxima reserva, ainda quando não se conceba como abalá-los ou substituí-los. O primeiro limite horizontal intrínseco da «teoria das normas» concerne aos casos de lacuna ostensiva247, sobretudo quando rebelde à chamada analogia legis 248. Os seus cultores só reconheceriam o limite nas distinções «constitutivas»/«impeditivas» e, embora não tenham dado atenção ao assunto, «excludentes» ou «extintivas»/«impeditivas de segundo grau», mas foi visto que o carácter meramente verbal das categorias usadas vai mais longe. Naquelas situações, o suporte sintáctico legislado não existe, deixando a indiferença das representações formais do direito substantivo. E é de notar que se toma já um conceito impróprio de lacuna, pois a normatividade consuetudinária furta-se igualmente à cristalização numa sintaxe que sirva de referência. Encarando-se uma positivação em textos de actos judiciais, sejam decisões com valor de precedente, sejam acórdãos com «força obrigatória geral»249, o caso muda de figura. Há matéria capaz de ser recortada em «norma» e «contranorma» se se reduzir o cerne da «questão de direito» a uma fórmula sintética, como sucedia, antes da reforma, com os assentos250. Desde que tenhamos um texto «abstracto» assumido como modelo, a «teoria da estrutura das frases» não tem a que admite e justificar tal relação, GREGER, 38-57, questionando a adequação de um conceito de probabilidade ao direito probatório, e GMEHLING, 13-4 e 67-72, aqui impugnando a relevância da probabilidade na distribuição do ónus. Vide ainda, tb. como exemplos, K. POPPER, Logik der Forschung, 10.ª ed., Mohr (Siebeck), Tubinga, 1994 (1.ª ed. 1934), v.g., 106-166 e 198-218, LINHARES, 70-103, J. TIAGO DE OLIVEIRA, Probabilidades e estatística. Conceitos, métodos e aplicações, vol. I, McGraw-Hill, Alfragide, 1990, 1-13 e 43-61. W. MUMMENHOFF, Erfahrungssätze im Beweis der Kausalität, Carl Heymanns, Colónia / etc., 1997, 20-5, 77-89, 117-125, e H. WEBER, Der Kausalitätsbeweis im Zivilprozeß. Kausalität — Beweiswürdigung und Beweismaß — Beweiserleichterungen, Mohr (Siebeck), Tubinga, 1997, 28-38 e 56-62. 246 Basta lembrar C. MOTA PINTO, Cessão, 38-40. 247 PRÜTTING, Gegenwartsprobleme, 284-5, pensou ser esta a única situação. 248 O conceito, distinto da analogia juris e da «norma que o intérprete criaria», seria aceite com maior facilidade nos moldes silogísticos, e por isso mesmo o usamos, combatendo a «teoria das normas» com as suas armas. Depois, ao menos como representação tendencial, não há razões de tomo para enjeitar a distinção. Cf. OLIVEIRA ASCENSÃO, O Direito, 455-64. 249 Não importa agora a sua constitucionalidade ou consagração no direito português ou em qualquer outro. 250 O «assento» era justamente a fórmula final. Cf. art. 768.º/3 CPC, antes do D.L. 329-A/95. À actual «decisão em revista ampliada» ou «uniformização de jurisprudência», como se queira chamar-lhe, ao «novo assento», enfim, não será imprescindível aquele estilo (cf. arts. 732.º-A e s. CPC), que, no entanto, tem sido mantido. 62 intervenção automaticamente vedada. Só tem de perguntar-se quais as leis adequadas, pressupondo haver algumas, ou o que são leis para a «teoria». Em resposta, atento o subsuntivismo imanente às teses de ROSENBERG, teríamos inelutavelmente como lei apenas a pré-decisão escrita do problema substantivo, provinda do poder instituído e sintetizada numa fórmula genérica, mas a necessidade imediata de não deixar explodir as limitações de que falamos logo quereria fazer equivaler às leis qualquer escrito a que a decisão pudesse reconduzir-se, embora não consiga divisar-se para isso fundamento bastante. Sem aquela fórmula, aliás, uma pensável aplicabilidade da «teoria das normas» iria depender, desde logo, da constância do modo de redigir, o mesmo valendo para os casos de autoridade de uma corrente jurisprudencial, sendo de acreditar que, aqui, a homogeneidade rareie. Contudo, a falta de um enunciado que se abstraia do caso concreto a decidir reforça a imperatividade de um reasoning from case to case 251, um pensamento analógico — e retomemos agora a dita analogia legis — que exclui o imediatismo inerente à «teoria das normas». A diferença, conatural à analogia, perturba irrecuperavelmente a separação de «elementos da facti species» verbalizada pelo decisor originário. Uma substituição minuciosa, «facto a facto», do primeiro caso ou previsão de casos pelo que agora se apresenta só será possível em situações extremamente simples, não bastando a parecença extrema exterior. Cumpre notar — e abreviando — que discutimos a analogia com uma regra de direito material, não a analogia quanto à distribuição do ónus da prova. Esta, admitida desde o tempo de ROSENBERG — ainda que sem podermos compreender a analogia no formalismo implicado pelas teses do A. e dos seus seguidores «com modificações» — não tem de ser aqui discutida. Antes nos concentramos na questão de a «teoria das normas» em si mesma ser apta a resolver a distribuição num problema enquadrado materialmente por um processo analógico. Ora, se a analogia foi substantiva, a distribuição do ónus da prova não tem de coincidir. Para além disso — que agora é o menos — o novo caso não tem, por definição, uma resposta directa na norma ou caso de partida. A analogia pode exprimir-se, v.g., através de «o ponto x é diferente, mas a intensidade do ponto y compensa-o, e surge ainda o ponto z». A redacção prévia não descreve nada disto. A distribuição do ónus da prova aí descoberta não é a do novo caso. Daqui se depreende a insuficiência da «teoria das normas» perante qualquer afastamento dos textos substantivos. Não só em situações de lacunas patentes, mas também nos de lacunas ocultas e, aceitando as distinções, nos de interpretação que estenda ou reduza a mens legis compa«Argumentar de caso a caso», se é que pode traduzir-se. Cf. ESSER, Grundsatz, 7-8, n. 17, referindo (só) o papel da analogia, 52-3 e 90-3, em ligação à relevância argumentativa dos princípios (no common law e nos direitos continentais), 141-2, explicando a «falta de norma» na família anglo-saxónica, 183-6, onde se mostra «a ilusão» do «limite formal do stare decisis», etc., e F. BRONZE, 576-91, com amplas indicações, A. que, tomando o exemplo da decisão com base em precedentes, acentua a necessidade de problematizar a pluralidade de vectores da decisão (sintetizada na ratio decidendi) para uma analogia metodologicamente consequente. Cf. ainda, com menor desenvolvimento no aspecto estrito que nos interessa, CASTANHEIRA NEVES, Fontes, 35-7 e 84-9, questionando tb. a aproximação dos sistemas continentais à ideia de precedente, FERREIRA DE ALMEIDA, Introdução, 90-8, 120-3, 131, 137-40, cuja intenção pedagógica não prejudica o interesse da comparação entre os sistemas inglês e americano, e de ambos com os continentais, ZWEIGERT / KÖTZ, 250-9 e 262-5, com essa dupla comparação e informação histórica e bibliográfica, que fazem notar as mudanças no entendimento da ratio decidendi (mostrando a importância dos «princípios» [Leitsätze]), dos obiter dicta e do próprio stare decisis, bem como as alterações e os limites da distinção perante a família romano-germânica, e OLIVEIRA ASCENSÃO, O Direito, 152-4, que, além de referir as categorias do raciocínio por precedentes, faz atentar no carácter histórico-político da difusão do common law, ao contrário da do sistema romanístico. 251 63 rativamente às possibilidades semânticas das expressões empregues. Pode exemplificar-se com proveito através da «interpretação restritiva». Um grupo de casos ou de soluções é destacado do sentido juridicamente relevante do enunciado legal. É afastado «em silêncio», não há palavras fixas para o expressar. Tanto pode ter-se entendido que o texto só fazia sentido (jurídico) sem aquela sua secção, quanto que fazia pleno sentido excepto se a integrasse; e, na verdade, não se «entendeu» nem uma coisa nem outra, que os seus significados são o mesmo. O que se tiver escrito sobre o assunto pouco importa, pois mais retratará a ênfase que um ou outro intérprete tenha querido dar252. Experimentaríamos dizer que o desvio relativamente ao teor literal faz, por ser desvio, uma contranorma, mas isso é o que falta demonstrar e não tem nada que ver com os pressupostos da «teoria modificada». A lei não optou por uma ou outra redacção, apenas incluiu, na sua letra, algo a mais ou a menos do que queria fazer. Não há prioridade do texto em relação ao sentido jurídico construído e, se houvesse, seria apenas cronológica, nunca em termos de deixar inferir uma distribuição do ónus da prova. Nem a «teoria das normas» alguma vez pensou em justificar dessa forma surpreendente as suas teses. A ausência de resposta no discurso rosenberguiano vai-se repetindo a cada momento. Veja-se o recurso à equidade. Abrangendo, em princípio, a própria questão do ónus da prova e a possibilidade de uma via substantiva específica, não prescinde de fundamentação. Aí, mesmo que o «extra-sistematismo» da equidade seja «formal», que o ponto de partida tenha de ser o direito positivo, na sua concretização histórica253, a «teoria das frases» não ajuda. A simples recusa do formalismo implica o afastar de constrangimentos sintácticos. O sustentáculo da descoberta da «contranorma» desaparece com a eliminação da rigidez do direito legal, o que há-de ser o mínimo caracterizador da equidade. Na sede, próxima, da arbitragem internacional, o fracasso das teses impugnadas é ainda mais evidente. Não conta apenas que estes tribunais «não têm uma lex fori comparável à dos tribunais estaduais e que, designadamente, não estão submetidos a um particular sistema nacional de direito internacional privado», mas também que, na perspectiva das partes, «não há uma ordem jurídica que constitua um sistema de referências necessário e suficiente», que se invoca uma normatividade não específica de certo direito estatal e que, em suma, a emergência de um «direito autónomo» tem de ser aceite, com a sua diversidade de positivações. Ainda que o direito aplicável ao fundo seja estadual, os «critérios gerais» que têm por fonte o «costume jurisprudencial e os regulamentos» — note-se o plural — «dos centros de arbitragem» não são capazes de fazer assentar a «teoria das normas» ao nível da convenção de arbitragem e do direito de conflitos254. E o que dizer das soluções «adaptadas» em Certamente, maior nos primeiros estudos, que optariam por um «só faz sentido se». Cf. MENEZES CORDEIRO, Equidade, esp.te 270-3 e 280, e Da boa fé, 1197-1208. Apela-se à lição deste A. precisamente por tender a um afastamento mínimo do «direito positivo», o que favoreceria a «teoria das normas», mais incomodada com uma referência genérica, p. ex., à justiça do caso. 254 Cf. LIMA PINHEIRO, 285-291 e 407-447, de onde provêm os trechos transcritos. O A. faz lembrar que alguma autonomia da arbitragem se faz sentir com intensidade tb. ao nível interno. 252 253 64 correcção do dépeçage próprio da regulação de tipo savignyano das situações internacionais? Também em sede de ónus da prova se «adaptará», mas sem ajuda do modelo de ROSENBERG255. Toda a criatividade do decisor concreto, porque que se distancia de um texto legal, inibe a «teoria das normas» na medida do distanciamento. Num prisma algo invertido, o «minus de juridicidade» das acções de apreciação «da existência ou inexistência de um facto», que o direito português acolhe com amplitude (cf. art. 4.º/2, a) CPC), também impede aqueles «critérios» de distribuição. Sem dúvida, não se perde nestas acções o ponto de vista jurídico, mas o juízo de relevância pode apelar a uma variedade de possíveis problemas256, com idêntica variedade de «normas», que inviabiliza qualificar o «facto» como «constitutivo», «extintivo», etc.. Introduzindo um nível de ponderação material na escolha dos enunciados legais — o que, digamos, não condiz perfeitamente com a «teoria» —, poderíamos ver a antecâmara de um dever de indemnizar num pedido da declaração de se ter produzido certo dano, mas não seria fácil o mesmo raciocínio se o «facto» a apreciar fosse o valor corrente de certas mercadorias em dado período, que pode fundar inúmeras decisões jurídicas, mesmo entre as concretas partes envolvidas. A menção de um valor, hoc sensu, transporta-nos para outro tipo de limites da «teoria das normas», agora, conceda-se, que não lhe são exclusivos e, por isso, terão um tratamento sumário, apesar do grande interesse do tema. Trata-se dos «limites do ónus da prova», que, por muito que se quisesse, não pode resolver todos os casos de non liquet 257. Não se restringindo à «teoria das frases», eles mostram a sua incapacidade de chegar aos aspectos decisivos em discussão. Na configuração mais simples, tome-se uma pretensão indemnizatória sobre cujos pressupostos há convicção, excepto no que toca ao exacto montante do dano, sendo certo que terá sido inferior a 100 c. e superior a 80. Logo nos ocorre o art. 566.º/3258, mandando que o tribunal julgue «equitativamente dentro dos limites que tiver por provados»259. Escondem-se aqui duas questões principais. Comecemos por notar que, mesmo na quantificação, há já alguma certeza: o valor não atingiu 100 c.; houve danos no montante de 80 c.. Obtivemos assim «duas» decisões substantivas: deve indemnizar-se em 80 c.; além desse valor, não há direito a receber o que atinja ou exceda 20 c.. No intervalo de incerteza, é pensável uma decisão de ónus da prova, p. ex., fazendo-o incidir sobre o lesado. Assim, o crédito decidido seria apenas de 80 c.. Contudo, já errámos na decisão, pois a convicção era de que o dano ultrapassava 80 c. e, assim, simplificando, havia pelo menos 80,01 c. a pagar. Para ser justa a primeira hipótese, teríamos de ter formulado o caso «... inferior a 100 c. e igual ou superior a 80 c.». Errámos, pois, ao descrever a convicção do tribunal. É certamente vã, porém, a esperança de se conseguir, em regra, precisar «até ao A atipicidade negocial poderia levar-nos a pensar em dificuldades semelhantes, mas a presença de um texto, que aqui, por definição, acontece, dá já alguma hipótese de intervenção da «teoria das normas», embora ela se guardasse, à partida, para os textos legais. 256 Cf. LEBRE DE FREITAS, Introdução, 23-4. 257 Eis por que não foi aceite, antes, a sinonímia entre «ónus da prova» e «consequências da falta de prova». 258 Não devemos aproximar este preceito de outros em que o problema da prova não tem de se colocar, antes havendo problemas de «valoração», «questões de direito», i.e., uma muito menor relevância de dificuldades de «conhecimento extrajurídico». Cf., p. ex., os arts. 494.º, 496.º/3, 572.º/1. 259 Apresenta semelhanças com o nosso preceito o § 287 ZPO, cuja redacção é, porém, distinta; na segunda parte, estende o disposto a outras questões relativas ao montante de um crédito. A bibliografia sobre o tema é vastíssima. 255 65 tostão»260 o limite do convencimento dos juízes. A naturalidade da formulação «tenho a certeza que foi mais de 100» contrasta com a especificidade das circunstâncias que permitem um «sei que foi (foram) ou 100 ou mais»261, associadas geralmente — crê-se — a intervalos discretos, ou seja, grosso modo, à pergunta «quantos?», e não «quanto?». Querer forçar a exactidão do limite da certeza judicial conduziria ao arbítrio, se não conduzisse à boa solução que a lei adoptou262. Estas considerações respeitaram unicamente à determinação dos limites da certeza, relevando depois o superior ou o inferior consoante a versão beneficiada pelo ónus da prova, instituto que pareceu imune ao problema. O art. 566.º/3, no entanto, não se fica pelo apuramento dos limites, ordenando uma decisão equitativa dentro dos limites tidos por provados. Dissemos que, nesse «intervalo de incerteza», seria pensável uma decisão de ónus da prova, mas a representação formal da sua actuação, neste caso, é complicada. Ao ser imposta, no exemplo, a decisão pelo limite inferior, resolve-se não por uma das versões incertas, mas por algo sobre que incidia a convicção. Num caso de incerteza deste género, há um mau funcionamento do ónus da prova logo porque, conforme olharmos, ou não se verifica uma dúvida entre factos contrários — «qual o valor neste intervalo?» não contém alternativa — ou temos uma miríade de factos contrários em que um dos termos não serve para a decisão jurídica, por não ter determinação suficiente — a negação de, p. ex., «o dano equivale a 85 c.», dentro do intervalo pressuposto, é «o dano equivale a um valor inferior a 100 c., superior a 80 c. e diferente de 85 c.», o que deixaria o decisor na mesma. Observemos que não se trata de uma «impossibilidade lógica» de fazer intervir o ónus da prova, dado ser acessível uma interrogação que lhe abriria o caminho, a saber: «o dano era superior a 80 c.?», scilicet, «era superior ao limite da convicção?». A resposta «mihi non liquet» passaria, então, a resposta negativa — pois o exemplo incluía uma distribuição favorável ao lesante — e o dever de indemnizar ficaria pelos 80 c.. O mau funcionamento do ónus da prova revela-se agora de várias maneiras. Primeiro, pela curiosidade de remeter para um fundamento de decisão que fora abrangido por alguma certeza. Depois — com crescente importância — por a pergunta que antecedia o ónus («foi superior...?») não descrever todo o tema de prova, que se destinava a esclarecer um «quanto?». Segue que a própria formulação dessa pergunta sucedia a um momento de convicção («foi igual ou superior a 80 c.»), o que vem contrariar o papel comum do ónus, que decide perante a incerteza na alternativa («ou x ou y»). Daqui resulta um certo desarranjo processual, já que a apresentação da «matéria controvertida» não vai dar lugar a uma decisão da «matéria de facto» em termos de «provado» /«não provado». Procurando a ratio do art. 566.º/3, diríamos que o facto de o comportamento processual da partes, a sua estratégia, se dirigir, nestas ocasiões, à prova de um «mais» ou de um «menos», conjugado com a certeza parcial e com alguma dificuldade de prova de valores exactos, A expressão não é nossa, tanto no sentido óbvio, quanto no de os AA. alemães usarem muito «auf Heller und Pfennig». E, porque estamos a discutir o conjunto dos valores mínimos sobre os quais há convicção, cabe citar PAIS DE VASCONCELOS, Contratos, 28-32, no seu alerta para o conceito de «conjunto difuso» (fuzzy set) e respectiva relevância jurídica. 262 Lê o paralelo § 287 ZPO em função da necessidade de precisar uma quantificação, embora sem a distinção que faremos de seguida, v.g., PRÖLSS, Beweiserleichterungen, 47-61, que invoca o § 214 dos Princípios, de HEGEL (p. 199-200 da ed. port.), preocupado com a opção entre a punição de «catorze pancadas ou de catorze pancadas menos uma». Pelo contrário, outra doutrina, com o impulso jurisprudencial, tem visto o § 287 como uma «facilitação de prova» de sentido mais alargado. Cf. p. ex., WAHRENDORF, 42-50. 260 261 66 conduz à inibição de princípios ponderosos na distribuição do ónus da prova — nomeadamente, o princípio do queixoso, que trataremos em breve — e incentiva uma «solução material específica» de estilo quase salomónico. Isto, veja-se, sem ter qualquer cabimento a referência a «normas», quer enquanto modelos de resolução, quer enquanto argumentos para a solução obtida. Mais uma recusa dos propósitos de omnipresença da «teoria das frases»263. Ainda noutros casos de non liquet, como mostrou M. TEIXEIRA DE SOUSA a respeito do art. 264 237.º , a lei afasta o regime do ónus da prova, embora fosse concebível uma aplicação do algoritmo «norma»/«contranorma»265. Prosseguindo, descobrimos precisamente a feliz solução salomónica266 do art. 1354.º/2, que CASTRO MENDES fez notar267. O preceito deve ser usado para ilustrar o carácter inaceitável de uma (não) solução a que a «teoria das normas» conduziria. Pressupõe-se, na lei, que a demarcação não possa «ser resolvida pela posse ou por outro meio de prova», ou seja, prevê-se um non liquet que escapa às presunções dos arts. 1268.º/1 e 1252.º/2. Os postulados rosenberguianos implicariam que quem pedisse a demarcação provasse a constiUma referência, ainda, à coexistência dos arts. 566.º/3 e 563.º. Os nossos obrigacionistas ora descobrem no art. 563.º uma consagração da antiga «teoria da causalidade adequada», rectius, «teoria da adequação» (cf., p. ex., PIRES DE LIMA/ANTUNES VARELA, vol. I, 578-9) — diríamos contra litteram, mas com algum apoio histórico — ora quase o remetem a um limbo de direito probatório (MENEZES CORDEIRO, Responsabilidade, p. 541) — «limbo», dizemos, porque não é clara a necessidade ou oportunidade de tal redução da medida da prova, como mostra a discussão germânica a que aludimos de seguida. Acolhemos, sem dúvida, a recusa da primeira opção, pois a «teoria da adequação», como termo de um debate científico muito vasto, não pode ser «consagrada» (cf. MENEZES CORDEIRO, loc. cit.: «nem faria sentido prescrever teorias obrigatórias»), e o texto legal não impõe qualquer solução. Cf., tb., a proximidade ao art. 707.º CS. Tem todo o interesse notar que, na história, no texto, no «entendimento tradicional» e na relação com o art. 566.º/3, o art. 563.º repete invertidamente os problemas que o § 252 II BGB levanta perante o § 287 ZPO, recusando as doutrina e jurisprudência alemãs largamente dominantes um sentido substantivo (próximo, no uso de «probabilidade», mas, de resto, bastante distinto do da «teoria da adequação») que a sua origem e o seu texto apoiariam, pois «não teria qualquer justificação» (cf. AA. e loc. cit. na n. anterior), lendo-o antes processualmente, numa articulação difícil com o § 287 ZPO. É muito curioso registar que VAZ SERRA, Obrigação de indemnização, 101-8, tomou conhecimento da polémica — na altura, mais viva — e quis que o futuro Código também desse guarida a uma relevância probatória da «probabilidade». As revisões (cf. a evolução em RODRIGUES BASTOS, Das obrigações em geral, vol. III, pp. 77-8) produziram o que acabaria na fórmula do art. 563.º. 264 TEIXEIRA DE SOUSA, Apontamento, 281-290, com indicação de outras situações. O A. dá a entender que o art. 237.º tanto serve para casos de non liquet adjectivo quanto para ambiguidades do texto negocial, o que, nos confrontos feitos pelo A. com outras disposições (v.g., o art. 280.º), nos parece com bastante utilidade. PAIS DE VASCONCELOS, Contratos, 378-381, saúda o preceito, cujo espírito é «rico de sentido», como consagração de uma interpretação de acordo com a equidade. Para casos semelhantes do direito alemão, cf. PRÜTTING, Gegenwartsprobleme, 141-2, que não considera tratar-se de «alterações da solução substantiva», embora sendo previsões substantivas específicas do non liquet. CASTRO MENDES, Conceito de prova, 434-5, lia o art. 685.º CS, equivalente, «sobre os acessórios do contrato», ao 237.º, como uma «presunção», i.e., um caso de distribuição do ónus da prova, pois mandaria decidir com base numa das versões alegadas pelas partes, e não numa terceira. Esta restrição conduzirá, pensamos, a um subaproveitamento do dispositivo. A objecção de CASTRO MENDES já valeria — pelo menos, nalguns casos — para reconduzir o art. 68.º/2 ao ónus da prova. 265 Já diferentes do que estudamos são as sugestões de substituição do ónus da prova por um sistema que acolha, em regra, a divisão da prestação em todos os casos de igual «probabilidade» das versões controvertidas. Além da natural limitação deste sistema aos casos de divisibilidade do objecto litigioso, podemos sustentar que a mudança só seria para melhor em casos de «incerteza substantiva». 266 O episódio bíblico surge no 1.º Reis, 3, 16-27. 267 Direito, vol. II, p. 667, n. 563. Em Conceito de prova, 1961, 434-5, CASTRO MENDES tinha deixado passar a idêntica resposta do art. 2342.º CS, afirmando que, «no nosso direito, porém, não é admissível a solução especial». O CIt de 1865 estatuía de igual modo (ao contrário do actual Codice ; cf. art. 950), tal como faz ainda, desde 1889, o CEsp, no art. 386, mas não o Code (no CFr, a acção de demarcação está regulada apenas no art. 646, mas supomos uma origem francesa e/ou anterior à codificação). Rigorosamente a mesma solução encontra-se ainda no § 920 I BGB, embora os AA. sustentem que a «terceira solução» não está consagrada no direito alemão vigente. O vol. II do Handbuch der Beweislast, coord. por BAUMGÄRTEL, tratando a matéria dos direitos reais, poderia iluminar a questão, mas os comentários gerais ao BGB não o fazem. O art. 1354.º/3, com paralelos nos restantes códigos referidos (o § 920 II BGB remete à equidade, além de mandar atender às áreas determinadas), passa consequentemente de uma ideia de simples igualdade a outra de proporção. Até à recente reforma do CPC, o art. 1354.º/2 CC era dobrado pela regra do art. 1058.º/3, e) CPC. 263 67 tuição da propriedade sobre aquela fracção de terreno e que, não podendo fazê-lo, a sua pretensão fosse desatendida. A outra parte teria de fazer prova simétrica, não conseguindo demarcação favorável na sua falta. Note-se que não estamos perante «contranormas», mas sim ante «normas autónomas incompatíveis», que se distinguem por o preenchimento de uma impedir o preenchimento da outra, daí resultando que, num confronto de «normas incompatíveis», a incerteza incida sempre simultaneamente sobre a verificação de ambas as facti species268. O resultado seria uma decisão de «improcedência», o que, no caso da demarcação, é claramente inadequado, pois não se pede a declaração de certo direito, mas sim a dos limites do seu objecto, pelo que «improcedência» seria sinónimo de «não decisão», i.e., conservação da incerteza anterior ao processo. Devemos atentar, ainda, que não está «logicamente excluída» uma decisão de ónus da prova que privilegiasse, v.g., a versão do R. (agora, em sentido próprio, i.e., processual), a do autor ou a do proprietário mais antigo, mas qualquer delas aparenta total falta de fundamento. O princípio do agressor não pode desempenhar o seu papel, visto não existir situação possessória ou quase possessória. Quer dizer: a «manutenção do estado actual» (a pura indeterminação, mesmo em termos «fácticos») não merece tutela jurídica. Não intervindo outro princípio de distribuição do ónus da prova (pense-se, p. ex., no art. 344.º/2), o único meio disponível é uma atribuição material segundo a ideia da igualdade. Encontramos, então, uma dificuldade acrescida da «teoria das normas», as «normas incompatíveis». Como mostra o art. 1354.º, uma distribuição contrária à verificação em concreto das previsões constitutivas é inaceitável sempre que o status quo não mereça tutela jurídica. Num breve estudo, com intenção restrita, F. PETERS269 deu-nos recentemente mais um exemplo. Trata situações em que a prestação é consignada em favor de uma de duas pessoas, i.e., em que há dúvidas sobre quem é o credor. PETERS tenta mostrar que, em regra, se obtém uma solução satisfatória através da «teoria das normas», bastando para isso ter em atenção a relação entre os actuais pretendentes à prestação (v.g., uma cessão de créditos). Se ela não existir, porém, o jogo «norma»/«contranorma» é inaplicável e o A. defende — o que merece todo o nosso apoio — a divisão da prestação. PETERS toma uma posição muito cautelosa e não pretende questionar a doutrina dominante, mas, avançando, este verdadeiro «limite do ónus da prova» põe a nu uma fraqueza das teses que criticamos, por conduzirem a uma quase «não decisão» substantiva, transformada em decisão através da ideia de inércia processual, que é a do princípio do queixoso. Contudo, por vezes, a muito justificável preferência por uma não intervenção do tribunal não está disponível como argumento, não é valorativamente aceitável, o que não afecta o princípio do agressor em si mesmo considerado — que não pretende ser mais do que princípio — mas apenas quando absorvido na rigidez da «teoria das normas». Um exemplo mais, somente, que manifesta a generalidade do problema. Cf. supra, no ponto 4. Como vimos, para ROSENBERG, a «contranorma» inclui sempre na sua previsão a totalidade da previsão da «norma de base». Pelo menos, digamos, a «contranorma» é sempre compatível com ela. 269 Beweislast und Anspruchsgrundlagen, 1996, pp. 1246-9. 268 68 Caio e Tício são comproprietários de um restaurante onde se encontram dois televisores, um de cada um dos donos, que se distinguem pelo lugar onde estão colocados e por duas etiquetas presas com fita adesiva. Após um furto, a polícia recupera apenas um dos aparelhos, já sem etiqueta, que entrega a Caio e Tício, conjuntamente. Um deles propõe em tribunal uma acção de declaração da sua propriedade, reconvindo o outro, com pedido simétrico. A falta de prova levaria, segundo a «teoria das normas», à declaração de que nenhum deles é proprietário270. A posse comum não autorizaria uma solução pelo art. 1268.º/1. O simples «não serem proprietários» é, contudo, substantivamente indesejável, visto que, no caso, está assente não se tratar de uma res nullius, nem de um bem de terceiro, além de que a primeira situação não se mantém, no nosso sistema, quando há um exercício possessório ou equiparável sobre o bem (cf. art. 1318.º). O tribunal teria de decidir pela compropriedade271/272. Hão-de aparecer situações idênticas quando, num processo com intervenção de opoente, se demonstre a não propriedade de quem tem em seu poder a coisa, mas não fique assente a propriedade de uma das outras partes, sendo certo que será de uma delas. Decida-se, uma vez mais, pela compropriedade, ou dar-se-á benefício injustificável ao actual detentor com prejuízo total e absurdo dos únicos possíveis titulares legítimos. Sem dúvida, será concebível em muitos casos de confronto de «normas incompatíveis» uma solução rosenberguiana, mas a sua autêntica falta de fundamento, no sentido de que depende de um dado que lhe é estranho e pode ou não ocorrer — a admissibilidade substantiva do status quo —, aconselha um repensar de problemas antigos. Perante a exigência da restituição de quantia mutuada, a que se contraponha uma suposta doação, a falta de prova sobre se ocorreu uma doação ou um mútuo, porque institutos independentes nas suas previsões, levaria à absolvição do R. e, em caso de reconvenção, também à absolvição do autor. A reconvenção é supérflua, porquanto, de toda a maneira, o tribunal sempre ordenaria que se conservasse o estado actual. Note-se, todavia, que a decisão é, realmente, farisaica, pois o único apoio substantivo da não entrega seria a existência de uma doação, e essa, segundo a «teoria das normas», não pode igualmente ser tida em conta. O enriquecimento sem causa não ajuda o alegado mutuante, pois, na maioria dos Pressupondo, para simplificar, que nem Caio, nem Tício haviam adquirido ao outro o seu televisor, o que criaria uma relação entre as partes que, com a «teoria das normas», já teria solução, ainda que muito discutível. A «teoria» dá resposta porque haveria certeza quanto a que, em tempos, aquele aparelho pertencera, p. ex., a Caio, duvidando-se da concretização da norma que estatuiria a transmissão da respectiva propriedade a Tício (são paralelos os argumentos de PETERS, 1247-8), mas o benefício do primeiro dificilmente será justo, porque o problema não reside na aquisição, antes partindo de uma situação indiscutida e estabilizada de duas propriedades sobre dois objectos distintos. A ideia de estabilidade é essencial ao princípio do agressor, que estudamos no ponto seguinte, e veremos que não pode deixar de ser acarinhada, através dele, pelos prosélitos da «teoria da normas». A «teoria» em si, pelo contrário, não interioriza nenhum pensamento substancial. 271 A solução passará pelo art. 10.º/3, dado que a analogia com o art. 1354.º/2 acaba na indivisibilidade do televisor. A compropriedade surge como resposta mais simples ao problema, respeitando uma ideia de igualdade; outras hipóteses careceriam de um pedido específico, além de poderem contrariar a tipicidade dos direitos reais. Dificuldades acrescidas, mas semelhantes, podem surgir em acções de estabelecimento da paternidade, quando seja seguro que um dos pretensos pais o é, de facto, sem se saber qual dos dois. Cf. a referência de VAZ SERRA, Obrigação de alimentos, p. 45, e as dúvidas de POHLE, p. 337. 272 Se, por algum acaso — p. ex., por lapso da polícia —, o televisor fosse entregue apenas a um dos possíveis donos, o art. 1268.º/1 pareceria forçar uma outra solução. Duvida-se, no entanto, que essa interpretação deva prevalecer nos casos em que uma acção de reivindicação seja proposta de imediato. Veja-se o que é dito sobre a relevância do decurso do tempo infra, ainda neste ponto, esp.te na n. 280, e na n. 310. 270 69 casos, caberá ao credor provar «a ausência de causa»273, além de que, manifestamente, o pensamento dos arts. 473.º e ss. é, nestas circunstâncias, um terceiro excluído, por ter ocorrido ou doação ou mútuo. A prisão às construções de ROSENBERG impede, contudo, solução diferente da exposta274. Em 1991, um historiador do direito veio contestar este estado de coisas, invocando, designadamente, o aforismo donatio non præsumitur, elementos histórico-comparativos, uma ideia geral de tutela do doador e «regras da experiência»275, mas é de notar ainda, no A., um forte apelo ao «sentimento jurídico»276 e a acusação de legalismo dirigida aos defensores da tese que combate277. A nosso ver, a solução do problema tem de passar por uma avaliação substantiva do status quo e da aceitabilidade da sua manutenção. Para isso, ajuda bastante notar a incongruência da solução ali proposta com a que seria devida, no direito português, perante a exigência da restituição de coisa infungível, com o fundamento alternativo da reivindicação ou da extinção de um comodato278. A doação invocada pelo suposto obrigado à restituição é «contranorma» da prévia aquisição da propriedade — porque a transmite —, mas não do comodato — porque os elementos da sua facti species são incompatíveis com os da doação. Nos termos do comodato, a «teoria das normas» distribuiria o ónus contra o antigo proprietário, i.e., na incerteza, contra a obrigação de restituir em sede do art. 1135.º, h), sendo indiferente a prova da doação. Pelo mecanismo da reivindicação, pelo contrário, a doação seria um «facto extintivo», pelo que só improcederia a acção pela sua prova. Como, de qualquer maneira, o direito de propriedade anterior estava assente, a solução final é a oposta à do caso de alegado mútuo, pois, aqui, quer com Cf. a referência de LUÍS MENEZES LEITÃO, p. 484-5, n. 9, e p. 956. O A. acolhe as teses de WACKE, que referimos de seguida. Cf., relativamente ao § 812 BGB, BAUMGÄRTEL/STRIEDER, 1272-87, que restringem a regra nalguns casos em que a «falta de causa» corresponde à inexistência de obrigação prévia. 274 Cf. ROSENBERG, 103-4 e 281. 275 WACKE, Donatio, esp.te 1-5 e 13-31. BAUMGÄRTEL, Handbuch, 599-601, resguarda-se na «teoria das normas», ainda quando directamente se defende do ataque de WACKE, mas acrescenta que quem entrega um objecto patrimonial suportaria já, substantivamente, o risco de não o reaver e teria, por isso, de suportar tb. o risco de non liquet ; seria esta a «justiça material» subjacente à distribuição. Fica a cargo do alegado mutuante precaver-se com meios probatórios. A crítica de HEINRICH, 167-70, põe em dúvida o fundamento histórico e comparativo das teses de WACKE, invoca os quadros rosenberguianos e impugna a presunção favorável ao mútuo que aquele A. teria implicada. Dos argumentos de WACKE, impressiona-nos o «princípio» a que podemos chamar da «menor tutela das atribuições gratuitas» ou, com L. MENEZES LEITÃO, p. 845-56, do entendimento do negócio gratuito como uma causa minor de aquisição. A ideia emerge em inúmeros institutos: v.g., sem quaisquer intenções de exaustividade, os visados pelos arts. 481.º, 289.º/2, 612.º/1 (estudados por L. MENEZES LEITÃO; o último, no seu significado para o art. 616.º), 237.º, 17.º/2 CRPred e 291.º, 956.º e 957.º, 969.º e ss., 1134.º e 1137.º; talvez tb. pelos arts. 942.º/1 e 947.º. BAUMGÄRTEL e HEINRICH, representantes da doutrina dominante, i.e., da «teoria das normas», não atentaram suficientemente neste aspecto substantivo, que, para as duas hipóteses de decisão incorrecta, pode exprimir-se assim: mais vale desproteger o donatário do que o mutuante. No nosso direito, porém, isto não deveria autorizar o funcionamento da «presunção» do art. 1145.º/1 (aliás, justamente contestada por MENEZES CORDEIRO, Bancário, 526-7). Nada sugere que, sem prova do mútuo, o alegado mutuante tenha direito, p. ex., a juros. WACKE, pelo lado contrário, não dá importância a que a sua solução fragiliza em extremo toda a doação manual. Cf. o que se diz de seguida, no texto. 276 WACKE, p. 15, qualifica a solução da «teoria das normas» como «injustiça gritante». «Que Moral estranha seria esta?», pergunta, considerando que a tese que impugna desaconselharia todo o mútuo com espírito altruísta (p. 25). 277 Loc. cit., p. 27. Os seus opositores defenderiam um quod non est in legibus non est in mundo. Na p. 28: «o esforço no sentido de uma subsunção formalmente correcta fez, por si, [...] influentes “papas do ónus da prova” (como ROSENBERG e BAUMGÄRTEL)». Quanto à qualificação da obra de BAUMGÄRTEL, não acompanhamos WACKE. 278 O concurso não só mantém a competência de aquisição, já inerente à propriedade, mas também a faculdade de exigibilidade, pelo regime de extinção do comodato (cf. arts. 1137.º/1 e /2 e 1135.º, h)). A distinção é fundamental, como pode ver-se em TEIXEIRA DE SOUSA, Concurso, 261-8, pressupondo nós, naturalmente, não se estar perante um dos casos em que o comodato se prolonga para além da exigência de restituição (cf. art. 1137.º/1). 273 70 doação, quer com mútuo, a propriedade transmitiu-se (cf. art. 1144.º), não cabendo já a reivindicação. Esta divergência entre os regimes aplicáveis a bens fungíveis e infungíveis é difícil de explicar279. Cabe notar que a solução, nos casos de comodato, só não é prejudicada por uma possível invocação, em favor do eventual obrigado à restituição, das presunções conjugadas dos arts. 1252.º/2 e 1268.º/1 se a entrega do bem tiver ocorrido há menos de um ano. Nestes casos, é o alegado doador que pode invocar em seu favor o art. 1268.º/1, por ter posse mais antiga (cf. art. 1278.º/3). Se, pelo contrário, tiver decorrido um ano, já o art. 1252.º/2 força o recurso ao art. 1267.º/1, d), ficando livre o caminho para a «presunção de propriedade» favorecer quem actualmente tem a coisa em seu poder280. Esta compreensão mais cuidada da ideia de «inércia» em sede de coisas infungíveis, que não a estende em benefício de um estado recém-adquirido, mostra que a teoria das normas não cuida de fundamentar as suas soluções. Pese embora a grande dificuldade de importar uma figura tão específica como a «posse de ano e dia» para o hemisfério obrigacional, que regula a maioria dos litígios relativos a coisas fungíveis, não há dúvida de que a discussão sobre se seria ou não aceitável essa analogia poderia dar apoio material para a solução do problema. A «teoria das normas» é totalmente alheia a uma ponderação do que possa subjazer às questões descobertas281. Resumindo este capítulo: vimos que a «teoria das frases» é impotente para deslindar os casos de distribuição do ónus da prova em que o aplicador do direito substantivo não pode prender-se a um recurso silogístico ou quase silogístico a textos legais. Depois, a «teoria», mesmo estando em causa «normas», e não «frases», é naturalmente limitada pela extensão do próprio instituto do ónus da prova. Aqui, no entanto, ela não tem papel explicativo. Em rigor, oferecer-se-ia para «resolver» casos em que a ponderação legal já contradiz que se atribua o risco de non liquet apenas a uma das partes. Nalgumas situações de «normas incompatíveis», o recurso A distinção entre fungíveis e infungíveis é difícil já no plano «semi-jurídico» (abstracto) da sua definição (cf. art. 207.º), embora algumas obras gerais não o deixem entrever (cf. PIRES DE LIMA/ANTUNES VARELA, vol. I, p. 201, LARENZ, Allgemeiner Teil, 285-6, sobre o § 91 BGB, e OLIVEIRA ASCENSÃO, Teoria, vol. I, p. 212). Mais difícil será a compreensão substancial das suas múltiplas repercussões, que umas vezes tenderão a suscitar pronta concordância (cf. arts. 1142.º, in fine, 1187.º, c), 1205.º e 1206.º) ou mesmo uma ligação à «natureza das coisas» (cf. LARENZ, Metodologia, p. 595), mas noutros momentos se afiguram contra-intuitivas. P. ex., se for emprestado dinheiro, o seu furto imediatamente após o contrato não contende com a obrigação de restituir (cf. arts. 1142.º, 540.º, 1144.º e 1149.º), ao contrário do que sucederia tratando-se de um bem determinado (cf. art. 1136.º e o lugar paralelo do art. 1044.º), sempre pressupondo o pleno cumprimento de todos os deveres de cuidado pelo beneficiário da entrega. Curiosamente, a distinção reverte, neste exemplo, em prejuízo das personagens opostas às do caso apresentado no texto, tendo em conta a solução rosenberguiana: nesse problema de ónus da prova, o carácter fungível desfavorece o alegado mutuante; na situação do furto, é o mutuário que sofre com fungibilidade. 280 Tentaria contrapor-se que, assente a entrega, o art. 1252.º/2 implicaria desde o início «presumir-se» o seu carácter de tradição (cedência), perdendo-se a posse anterior (cf. art. 1267.º/1, c) e tb. art. 1263.º, b)). Contudo, a regra de ónus da prova do art. 1252.º/2 não se estende ao alegado modo de aquisição da posse «presumida», circunscrevendo-se a sustentar a posse em si mesma considerada, abstraindo da sua origem; é uma pura «presunção de direitos» (cf. ROSENBERG, 225-35, esp.te 227-8, embora o A. deixe algumas dúvidas quanto ao alcance, neste casos, da necessidade de prova do contrário). Não sendo assim, o esbulhado que se pretendesse ver restituído teria de provar não ter abandonado ou não ter cedido a coisa, conforme a alegação do pretenso esbulhador, o que é absurdo. Veremos já de seguida que o art. 1252.º/2, como o art. 1268.º/1, é plena consagração do princípio do agressor. Ora a tutela do status quo não pode ter lugar quando se trata de um estado ainda recente que se opõe a um outro anterior e, em si considerado, igualmente merecedor de protecção: daí a relevância da «posse de ano e dia» (cf. arts. 1278.º/2 e 1282.º). 281 Além desta analogia discutível, e tendo em conta o que ficou dito supra, na n. 275, talvez se descobrisse uma solução mais «dentro do sistema» numa redução da medida da prova, sendo discutível a atribuição do ónus. Teríamos, enfim, a satisfação da prova com leviores probationes. 279 71 aos modelos rosenberguianos significaria uma verdadeira ausência de decisão do fundo. Nas restantes, esse esquema integra um momento de acrescida falta de fundamentação, pois confia a decisão de mérito a uma «manutenção do estado actual» que pode ser ou não aceitável, segundo critérios que não se compreendem na referência formal a «normas». Este último ponto carece, no entanto, de maiores esclarecimentos. 10. «Teoria das normas» e princípio do agressor A impugnação profunda da «teoria modificada», que se apresenta como continuadora do pensamento de ROSENBERG, tem de explicar a sua articulação com o «princípio do queixoso» ou «princípio do agressor» (Angreiferprinzip)282. A proximidade das duas linhas de pensamento é originária, mas o mesmo deve ser dito da respectiva distinção. Um entendimento saudável do princípio do agressor dá-lhe, inclusive, uma natureza muito diferente da da «teoria das normas». O princípio do queixoso exprime uma tendência do direito — aqui, da distribuição do ónus — para favorecer a conservação de certo estado, em detrimento da sua alteração. É, afinal, um princípio de «inércia jurídica». Um favor status quo ante pode, todavia, em sede de ónus da prova, ter três diferentes sentidos: o privilégio da versão segundo a qual os elementos fácticos se mantiveram (p. ex., o valor de uma mercadoria não se alterou; dado indivíduo, em dado momento, ainda não tinha completado 18 anos; determinado bem não se deteriorou), o benefício das alegações no sentido da conservação de situações jurídicas (p. ex., ainda subsiste a obrigação; a obrigação não se constituiu) ou, por fim, a preferência pela decisão que não leve a uma mudança do real (p. ex., não há obrigação, seja porque nunca existiu, seja porque se deu a sua extinção). Os três conceitos não se distinguem por amor ao conceitualismo, mas porque não fazem idêntico apelo imediato a um sentido jurídico e porque nalguns casos entrarão claramente em conflito. Antes de maiores desenvolvimentos, veja-se o tratamento que dava à figura BECKH, o A. mais comummente associado ao princípio do agressor, sem negar que o argumento de inércia o antecedeu. Escrevendo em 1899283, BECKH, logo no parágrafo dedicado aos «conceito e natureza do ónus da prova», afirma que «o ónus da prova primário é do agressor», ligando-o ao «estado possessório» (Besitzstand). Invoca o Digesto, onde se encontra: «prima fronte æquius videtur, ut petitor probet quod intendit»284. Deixando para depois as «excepções», que existem, o A. nota que o «actori est probatio» «radica «Princípio do agressor» ou «do atacante» corresponde melhor ao alemão e torna evidente que há um «agredido»; «queixoso» tem maior tradição na nossa língua e salienta que alguém «está mal», tem razões de queixa. Usamos ambas. 283 A sua obra surge datada de 1899; o prefácio, de Dezembro de 1898; e a primeira n. avisa, com uma exclamação, que o texto foi «escrito antes de 1 de Janeiro de 1900 !», mas, o que interessa, que já se atendeu ao «direito futuro», i.e., ao BGB. 284 D. 22. 3 (De probationibus et paesumptionibus), 12. O texto de CELSUS continua: «sed nimirum probationes quaedam a reo exiguntur», ou seja, «à primeira vista, parece mais justo que o queixoso prove o que pretende, mas, com certeza, algumas provas são exigidas ao réu». Em D. 22, 3, 2, PAULUS opinava: «Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat», i.e., «Incumbe a prova a quem diz, não a quem nega», o que teve enormes repercussões. MARCIANUS, D. 22. 3. 21, concluía: «semper necessitas probandi incumbit illi qui agit», quer dizer, «a necessidade de provar incumbe sempre a quem age [i.e., ao autor]». Vemos, pois, que diversas doutrinas encontram uma genealogia ilustre. Sobre o direito romano do ónus da prova, cf., naturalmente, MUSIELAK, Grundlagen, 196-208. PRÜTTING, Gegenwartsprobleme, p. 269, apoia-se em DIETER SIMON, Untersuchungen zum justinianischen Zivilprozeß, Munique, 1969, para afirmar que a regra de MARCIANUS seria o princípio fundamental do direito justinianeu. 282 72 tão profundamente no nosso sentimento jurídico que hoje se nos afigura evidente»285. Para o esclarecer, pois o princípio não surge com necessidade apriorística, BECKH parte da acção que tenha por objecto uma pretensão (Anspruch), uma pretensão que é actuada enquanto tal, em que uma situação de poder, a do agredido, deverá passar ao agressor. Essa situação é «um estado possessório, no sentido mais amplo da expressão», incluindo qualquer permissão cujo beneficiário esteja, de facto, em condições de exercer. A posse é o estado possessório modelar. Se a tutela possessória fosse negada quando o possuidor não pudesse provar, em certo momento, o bem fundado da sua posse, teríamos uma disputa sem fim, contrária à própria existência de um ordenamento jurídico. Um estado jurídico ordenado é aquele em que, na grande maioria dos casos, o estado possessório e o direito estão do mesmo lado. A tutela possessória tem, por isso, de preceder a do direito. A tutela da posse é a base (Basis) da tutela jurídica. Quem tem o estado possessório deve ser mais protegido do que o opositor, que o quer obter; «em primeira linha (prima fronte)» — o latim é de BECKH — «tem de ser o agressor o onerado com a prova»286. Nas acções constitutivas, prossegue o A., a razão de ser da distribuição do ónus da prova é a mesma que nas condenatórias. Nas de mera apreciação, apesar das dificuldades, consegue estabelecer-se idêntica relação entre ónus da prova e estado possessório. Nas negativas de uma pretensão, em especial, a atribuição do ónus da prova ao R. corresponde exactamente ao facto de ser ele o agressor, e só por isso se «inverteu» (as aspas são nossas) o ónus da prova. Está sempre em causa saber qual das partes está na acção como possuidor ou como agressor em atenção ao direito que se discute ou cuja discussão se antevê287. Em alguns casos excepcionais, como o da presunção registal (Vermutung für die Richtigkeit des Grundbuchinhaltes), preexistiu um negócio jurídico, que serviu de base à presunção. Essas excepções, tão dignas de nota, ao princípio geral da distribuição do ónus são, porém, aparentes, pois houve já prova do negócio jurídico288. Pode a situação ter-se entretanto alterado, mas ficou assente que o direito se constituiu. Na verdade, constituiu-se um outro tipo de estado possessório, cujas raízes são já jurídicas. É um estado possessório que há-de ter o mesmo regime da posse natural289. Quando em processo se trata de excepções aos direitos, em sentido próprio, o agressor é o R., como logo se vê por uma pretensão poder operar como excepção290/291. O princípio do agressor não tem, porém, uma valia absoluta. O queixoso não tem de provar todos os pressupostos do seu direito. Seria contrário à equidade (unbillig) e aos fins do direito (unzweckmäßig). Agora, o A. já cita na íntegra o texto de CELSUS: «nimirum probationes a reo exiguntur»292. Algumas págs. à frente, BECKH observa que a distribuição do ónus da prova vai, em grande medida, embora não forçosamente, fazê-lo incidir sobre «factos efectivos», «concretos», «observáveis», que representam «alterações no mundo exterior», e não sobre meras «negações»293. Noutros pontos do estudo, BECKH distribui o ónus da prova atendendo apenas a ter ocorrido ou não uma alteração de um estado, privilegiando a versão da não alteração: p. ex., caberia à contraparte demonstrar a capacidade por maioridade, mas ao alegado incapaz a que tivesse outros motivos294. A doutrina de BECKH sobre o princípio do queixoso tem, em relação à «teoria das normas», uma vantagem clara, que, contudo, compreensivelmente, decerto contribuiu para a sua passagem a segundo plano nos lugares comuns da discussão do ónus da prova. A vantagem, BECKH, Beweislast, 15-6. BECKH, Beweislast, 16-19. 287 BECKH, Beweislast, 24-7. 288 Recorda-se que o registo predial alemão (e os restantes exemplos do A.) funciona num sistema de jurisdição voluntária. Note-se ainda que os exemplos de BECKH, segundo o A., respeitam apenas a negócios titulados por documentos «autênticos» (öffentliche Urkunde). 289 BECKH, Beweislast, 28-31. 290 BECKH cita ULPIANUS, D. 22. 3. 19. pr., «In exceptionibus dicendum est reum partibus actoris fungi oportere», i.e., «Nas excepções, deve dizer-se que o réu tem de desempenhar o papel do autor». 291 BECKH, Beweislast, 32-35. 292 BECKH, Beweislast, 35-42. 293 BECKH, Beweislast, 56-65. 294 BECKH, Beweislast, 135-144. 285 286 73 metodológica, está em não se oferecer como solução de todos os problemas, antes querendo dar alicerces sólidos à maioria das decisões. Surge como princípio, fundamenta, não faz uma redução final da complexidade. É compreensível o seu êxito diminuído porque um tópico querido omnipresente, como a «teoria das normas», reforça a cada momento o seu peso argumentativo, em prejuízo dos adversários. ROSENBERG não contraria a validade da ideia de tutela do «estado possessório em sentido amplíssimo», mas não a acolhe, por deixar a maioria dos casos difíceis por resolver e por não explicar o regime das «normas impeditivas»295. Um A. da importância de BAUMGÄRTEL, que apresenta a sua teoria geral do ónus da prova quando estavam adquiridas há muito as «modificações», num assomo de positivismo que quadra mal com o conjunto da obra que nos deixa, julga que não se trata de «um princípio independente», mas «apenas» ( ! ) do «motivo da regulação legal do ónus da prova»296. A maior aproximação da «teoria modificada» ao princípio do agressor deve-se a LEIPOLD, que via o segundo como «o fundamento material» da distinção entre «factos constitutivos» e «extintivos», reflectida na diferente distribuição do ónus. Lembre-se o afastamento das teses rosenberguianas na recusa de autonomia aos «impeditivos». Por nossa parte, a afirmação de indiferença substantiva deve ir muito além disso, mas podemos ignorar por momentos a crítica feita. LEIPOLD pretende que a oneração de quem invoca um direito com a prova dos «constitutivos» é um instrumento da «paz jurídica», por dificultar uma «alteração no mundo do direito». Tutela-se o «estado possessório», no sentido amplíssimo de BECKH. Seria o «mal menor», porque uma decisão assente no ónus da prova pode sempre desviar-se «da sentença materialmente correcta». Reitera-se que não é «queixoso» o autor, em termos processuais, mas sim quem visa a referida alteração. Dar aplicação generalizada a esta regra tornaria «excessivamente difícil» a posição do pretenso titular do direito, ainda que tivesse apenas de refutar os concretos factos alegados pela pessoa contra quem age. O motivo de se deslocarem justamente os «extintivos» para o círculo dos elementos a provar pelo agredido residiria numa «ampliação» e «refinamento» da ideia de «preferência da situação prévia», que agora cobre também a existência de «direitos e deveres». A prova da sua constituição daria a «última situação jurídica determinável com segurança». Quanto aos desvios a este princípio geral, v.g., através da criação de «impeditivos», teriam de explicar-se caso a caso297. PRÜTTING adianta que o princípio do agressor representa uma unidade produzida «historicamente», abrangendo por isso «constitutivos» e «extintivos». A transposição para os «extintivos» do argumento da «paz jurídica», feita por LEIPOLD, seria, «quanto ao resultado, de aceitar», mas as situações não teriam semelhança material. A equiparação do «nível psicológico» — i.e., se bem compreendemos o A., o plano conceptual das situações jurídicas — «não tem já nada que ver» com a tutela da paz jurídica298. 295 ROSENBERG, p. 97. Cf. ainda pp. 338-9, em oposição à distribuição de acordo com a existência de «alterações». Veja-se a exclamação com que LEIPOLD recebe o pouco entusiasmo de ROSENBERG (Beweislastregeln, p. 49, n. 2). LEONHARD, p. 101, pelo contrário, recusa relevância ao «estado possessório», que discute em sede de «probabilidade». 296 Beweislastpraxis, 116-7, com algum apoio em PRÜTTING, Gegenwartsprobleme, 250-2. Ao longo daquele estudo, BAUMGÄRTEL afirma-se constantemente adepto da «teoria das normas modificada», acolhendo os desenvolvimentos anteriores. 297 LEIPOLD, Beweislastregeln, 46-51. O A. não se preocupou com os «factos excludentes». 298 Cf. PRÜTTING, Gegenwartsprobleme, 226, 236-7, 240-2, 250-2, 258-9, 263-4, que, ao desdizer a operacionalidade dos «princípios» para abarcar a multidão dos problemas de ónus da prova, acentua, porém, a relevância generalizada do princí- 74 Em termos breves, pode terminar-se a crítica à «teoria das normas» com a verificação de que a sua obediência ao princípio do queixoso, no âmbito em que este incida legitimamente, é acidental. Afaste-se, em primeiro lugar, um entendimento «histórico» do princípio. Procuramos fundamentos e não explicações; temos de encontrar uma base valorativamente atendível299. Assinale-se, depois, que o favor do status quo, em termos de ónus da prova, não respeita a uma distribuição contrária às alterações que pudessem servir de suporte fáctico de uma sentença. Estão antes em jogo as mudanças jurídicas que devessem pressupor-se e a mudança, jurídica ou «fáctica», que a decisão possa ordenar. O ponto de partida é a intenção, também subjacente aos arts. 1252.º/2 e 1268.º/1, de defesa em termos de regime do non liquet contra a decisão que venha perturbar um estado económico-social vantajoso que o direito tem por relevante, i.e., o «estado possessório em sentido amplo» de BECKH. Ora, se a prossecução desta finalidade pelo princípio do queixoso já resulta da sua definição, não é correcto considerar que o mesmo papel seja específico de uma distribuição do ónus da prova contrária aos «constitutivos» e à negação dos «impeditivos», «extintivos», etc.. Por outras palavras: também a distribuição adversa aos «extintivos», etc., e favorável aos «constitutivos» pode proteger o «estado possessório». Não é correcta a avaliação de LEIPOLD, para quem o princípio do agressor, ao beneficiar uma situação de facto, faria incumbir à pessoa que invoca um direito «toda a prova», i.e., a dos «constitutivos» e a da negação dos «extintivos». Não é correcta porque a constituição controvertida pode aproveitar a quem, no momento, desfruta o «estado possessório», e a extinção à parte contrária. Os exemplos são simples. Discute-se (1) se Caio alugou ou não a Tício um bem que se encontra em poder deste300. Caio alega que Tício se apoderou ilicitamente do bem. De acordo com o princípio do agressor, Caio terá de provar que não se celebrou o aluguer; pela «teoria das normas», ao invés, incumbe a Tício a prova de que o contrato se fechou. Se, diferentemente, (2) estiver provado o aluguer, mas o locador, pedindo a devolução da coisa, alegar a sua extinção, o princípio do queixoso atribui ainda o risco do non liquet ao suposto locador, o que está de acordo com a «teoria das normas», mas não com a opinião de LEIPOLD, que pensava que a tutela do «estado possessório fáctico» se faria impondo sempre a quem quer fazer valer certo direito (no caso, o aluguer) a prova dos «constitutivos» e da negação dos «extintivos». É claro que a correspondência parcial entre princípio do queixoso e «teoria das normas» se inverte na hipótese de a controvérsia sobre os mesmos factos ocorrer quando é o locador quem está em poder do bem. Nestas situações, as únicas que LEIPOLD terá tido em conta, o princípio do agressor, (1) em consonância com a «teoria das normas», manda que Tício prove a constituição do aluguer, mas, (2) contra ela, ordena também que Tício prove a não extinção. O que significa que, pelo menos, estando em causa a constituição ou a extinção de um «direito pessoal de gozo» ou de um direito pio do queixoso, associando-o, em questões de responsabilidade civil, ao casum sentit dominus. Junta que, por se tratar, apenas, de uma explicação da distribuição legal, não corresponde a um «princípio no sentido de WAHRENDORF e REINECKE». PRÜTTING apela tb. à proibição da autotutela, mas, aqui, não conseguimos acompanhar o pensamento do A.. 299 O direito é história, mas — invoque-se, mais uma vez, FIKENTSCHER — impõe-se repensá-la a cada passo, em atenção à justiça. 300 V.g., numa acção de mera apreciação da existência do aluguer ou numa acção de responsabilidade civil proposta contra Caio por intervenções prejudiciais ao gozo de Tício. Neste segundo caso, porém, há uma clara oposição entre o «estado possessório» relativo à coisa locada e o «estado possessório ampliado» respeitante à prestação indemnizatória pedida. 75 real menor, a «teoria das normas» tanto pode coincidir quanto não coincidir, e em pontos variáveis, com os resultados do princípio do queixoso enquanto meio de defesa do «estado possessório fáctico». Concedemos, no entanto, que, no que respeita a direitos obrigacionais — excluindo, portanto, os chamados «direitos pessoais de gozo» — a coincidência ocorra na esmagadora maioria das vezes quanto aos «factos constitutivos» e quase nunca quanto aos «extintivos», etc., o que se coaduna com as análises de LEIPOLD301. De toda a maneira, já fica demonstrada a autonomia das duas perspectivas, mesmo que num âmbito delimitado. O passo seguinte consiste em averiguar se, como pretendia LEIPOLD, poderá dizer-se que a imposição da prova dos «factos extintivos» à pessoa contra quem se exerce o direito — que é o agredido em sentido fáctico nos casos normalmente considerados — valha como «ampliação» ou «refinamento» do princípio do agressor. Assinale-se que a mesma ideia estaria parcialmente implicada no estudo de BECKH — se este fosse partidário da «teoria das normas» — nos casos em que o A. sustenta que a prova do negócio é já prova de um «estado possessório jurídico». PRÜTTING, ao reconduzir este alargamento do princípio do queixoso a um mero dado histórico, recusa, na verdade, que haja alguma razão para que a distinção substantiva entre «constitutivos» e «extintivos» se reflicta na distribuição do ónus da prova, o que, aliás, não está de acordo com a intensidade posta pelo A. na defesa desse carácter substantivo. A construção de BECKH é mais atraente. O A. pensa apenas nos casos em que se celebraram negócios jurídicos e, especialmente, apenas naqueles em que um documento titula o acto. A existência de um documento dá às situações jurídicas nele expressas uma «realidade sociológica», um significado social que as aproxima, em termos de senso comum, de um estado de domínio, de «posse». Para ultrapassar este nível de discurso, é necessário ponderar um pouco melhor o sentido e razão de ser do princípio do agressor na distribuição do ónus da prova302. Uma referência indefinida a «inércia jurídica»303 não resolve as dúvidas, que se acham precisamente na medida, nos limites e na precisão dos contornos dessa «inércia». Por outro lado, o medo de uma «disputa sem fim» não deve orientar-nos primordialmente, pois o caso julgado sossega, em parte304, os temores quanto à «paz jurídica». A divergência surgiria em casos de consignação da prestação em favor de credor incerto (cf. supra, no ponto 9, esp.te n. 270, os exemplos de PETERS), de alguma forma tornada disponível para um dos pretendentes (de modo a surgir um «estado possessório», nos termos que melhor veremos de seguida), discutindo-se uma «oneração» dessa prestação, p. ex., através de um usufruto de créditos. 302 Não cabe indagar do fundamento «da posse». A vizinhança de ambos os problemas, já expressa na obra de BECKH, resultaria tb. da tese de OLIVEIRA ASCENSÃO, Reais, 73-5, que vê a posse como manifestação no direito «do fenómeno social da inércia», devido ao «desgaste de uma mudança». O A., para mais, alude ao problema da intervenção judicial como concretização da mudança. O nosso estudo, porém, tem de precisar o sentido de «mudança» e de ter em conta que o desgaste provocado pela mudança pode não ser negativo. Quanto à posse — desviando-nos um pouco do tema que nos deve ocupar — parece acertada a opinião de MENEZES CORDEIRO, A posse, 49-50, para quem não deve subjazer ao instituto «um único e preciso objectivo». Pensamos que a inércia, em especial, é contrária à figura do constituto possessório, invocável contra o anterior possuidor, se o negócio jurídico que o convoca não mudar a «direcção da inércia». 303 Para o ónus da prova, já a fazia CASTRO MENDES, Conceito, 442-3. O A. cita R. EHRHARDT SOARES, Interesse público, 30-4, mas, nesta obra, quer apenas distinguir-se «ónus» e «obrigação»; a «inércia» expressa um «interesse» do titular do ónus. 304 Dizemos «em parte» devido aos «limites» do caso julgado, maxime aos «limites objectivos». 301 76 Apesar de já estarmos longe do «espírito» do séc. XIX305, parece de aceitar o «mínimo de individualismo» que obsta a privar um sujeito de um bem com o único sentido de o atribuir a outrem. A referência de PRÜTTING ao casum sentit dominus soa correcta — embora o A. não lhe desse valor geral — pois a desvantagem do non liquet atinge primeiro o «queixoso». A decisão perante a incerteza parte da consideração de que um dos litigantes está numa posição desfavorecida, e o outro na posição contrária. O res perit domino é a afirmação de que as desvantagens anteriores à decisão se conservam na esfera de quem as sofreu. Não há ganho em deslocar o dano só pela deslocação. O direito dos privados respeita a distribuição dos bens que lhe seja anterior. As ideias de «bem» e «desvantagem», ambas prévias à decisão actual, têm ainda algum valor acrescido em atenção à específica questão probatória. Quem não dispõe de um bem antes do processo judicial irá decerto tentar reunir meios de prova. A vítima de um acidente de viação preocupa-se em apontar a matrícula do automóvel causador, procura testemunhas ou, se puder, obtém uma declaração escrita do condutor. Pelo contrário, quem não causou um acidente de viação, apenas passou por ele, não toma quaisquer cuidados no sentido de demonstrar que é alheio aos acontecimentos. A diferença está no facto de um deles, previsivelmente, não poder dispensar o processo. O outro, pelo contrário, não quer obter mais do que aquilo que tem. O «possuidor em sentido amplíssimo» descura a sua posição juridicamente protegida. O «não possuidor» procura armas para fazer valer o direito. Por outro lado, parece exigível ao «queixoso» essa busca de meios de prova. Se estas considerações, embora plausíveis, não pretendem ter base empírica mais rigorosa do que o senso comum, já não pode negar-se que uma distribuição do ónus da prova favorável ao agressor fomentaria o desencadear de intervenções judiciais na esfera jurídica alheia, i.e., nos bens alheios, desprovidas de suporte substantivo306. A esfera que se pretende agora defender, naturalmente, tem, mais uma vez, de ser entendida no sentido de conjunto de bens anteriores ao processo. E o mesmo vale se ponderarmos que a tutela do status quo é uma forma de tutela do tráfego jurídico, i.e., dos terceiros que negoceiam com o «possuidor», e não com quem apenas se arroga um direito. As grandes alterações que o direito do ónus da prova, muito acompanhado, vem sentindo — basta olhar à responsabilidade do produtor de direito comum — não são, com certeza, alheias a uma certa «socialização» do direito civil, em abandono dos dogmas oitocentistas. Sobre a «instrumentalização» da responsabilidade civil pela «política económica», cf. CHR. ENGEL, 213-8, além de uma obra central da «análise económica do direito»: SCHÄFER/OTT, 95-319 (quanto à responsabilidade do produtor, com algum desenvolvimento sobre o ónus da prova, pp. 271-296). As posições dos AA. são opostas: ENGEL pretende um direito civil como continuação do direito da economia, defende o efeito regulador (Steuerungswirkung), relativamente às empresas, da evolução do direito da responsabilidade. SCHÄFER/OTT, ao invés, contestam em regra as intervenções no sentido da protecção do consumidor, que seriam contraproducentes e anti-económicas. Devemos dar por certo, de qualquer modo, que é pouco admissível, hoje, pensar a justiça civil sem atender também aos reflexos económicos das soluções. Sobre o ónus da prova e a prova prima facie na responsabilidade civil comum do produtor, cf., em especial, CALVÃO DA SILVA, 387-421, e BAUMGÄRTEL, Handbuch, 1385-1407. Quanto ao recurso de CALVÃO DA SILVA ao art. 493.º/2 — sendo óbvio que o objectivo do presente trabalho nos impede de tratar a matéria de modo sequer aproximado — parece que uma questão capital será a de saber se a invocação do preceito é necessária. Não existe regra semelhante no BGB. A criatividade do BGH resolveu o assunto à face do § 823 BGB, talvez mais restritivo do que o art. 483.º. Vide ainda o estudo comparativo do suíço F. SCHLÜCHTER, 113-335, que, partindo do art. 2050 do Codice, seguido quase ipsis verbis pelo nosso 493.º/2, verifica a sua função, em Itália, de sucedâneo de uma cláusula geral de responsabilidade civil objectiva por actividade perigosa, acabando SCHLÜCHTER por propor, para o direito suíço, uma assumida cláusula do género. 306 Era este, aliás, um dos principais apoios de LEPA para uma «fundamentação racional da distribuição» (Die Verteilung der Beweislast im Privatrecht und ihre rationelle Begründung, Diss. Colónia, 1963, apud, p. ex., WAHRENDORF, p. 61-2). 305 77 Estes variados modos de justificar o princípio do agressor — o casum sentit dominus, a naturalidade e exigibilidade dos cuidados probatórios do queixoso, a necessidade de não incentivar a propositura de acções sem fundamento e a tutela do tráfego jurídico — não permitem um alargamento do «estado possessório em sentido amplo» ao ponto de abranger qualquer «constituição de direitos», mas só aquela que já antes do processo307 surge como bem merecedor de tutela, como valor económico-social que caiba ao direito proteger. O caso modelar será o do crédito constante de documento assinado que não ofereça dúvidas de autenticidade. Aqui, para mais, a protecção do seu titular não deve limitar-se a impor ao «queixoso» — e é o sujeito contra quem o documento pode ser utilizado que tem razões de queixa — a prova da extinção do crédito, mas, retomando o pensamento de ROSENBERG quanto aos «impeditivos», também a prova de qualquer facto contemporâneo da constituição discutida. Ainda além disso, quando o documento não seja, ele próprio, «constitutivo» de obrigação, impõe a quem o assinou a prova da negação de qualquer «constitutivo». Pensamos ser exactamente esta a ratio do art. 458.º, que consagra o regime, limitado ao ónus da prova, da «promessa de cumprimento» ou «reconhecimento de dívida»: dar plena consagração a um entendimento alargado do princípio do queixoso308. O art. 458.º, com a regra de forma do seu n.º 2, produz um lugar paralelo das «presunções» dos arts. 1252.º/2 e 1268.º/1309. A limitação de LEIPOLD aos «extintivos» não se justifica. Pelo contrário, não resulta do princípio do agressor qualquer protecção de uma situação jurídica que se tenha porventura constituído sem assumir relevância económico-social anterior ao processo. O paradigma é, aqui, o crédito indemnizatório cujo reconhecimento dependa de meios de prova dispersos e não inequívocos. A ideia de «inércia jurídica» não prejudica uma sua eventual extinção: o «estado possessório em sentido amplíssimo» era ainda do suposto devedor310. Em síntese, temos que a ampliação do «estado possessório», já de si em «sentido amplíssimo», sugerida por BECKH e acolhida por LEIPOLD, é, em termos gerais, de aceitar. Contudo, não pode levar a abranger qualquer diáfana constituição de direitos e, com isso, não corresponde à «materialidade» da distinção entre «constitutivos» e «extintivos» que a «teoria modificada» afirmava. Talvez na maioria dos casos, a controvérsia judicial sobre a extinção de um direito ocorrerá quando a sua constituição era inequívoca, mas não quererá pôr-se em dúvida que a correspondência não é forçosa. Por outro lado, quando se verifique um «estado possessório em sentido ampliado», é aconselhável que toda a incerteza seja decidida a seu favor, não só a que res- Ou, mais amplamente, do surgimento do problema ao decisor. O art. 458.º não tem paralelo nos §§ 780 e 781 BGB, que mantêm o princípio do contrato e produzem efeitos substantivos, mas sim no art. 1988 do Codice. Este preceito seguiu a tradição francesa ao atribuir aos «negócios abstractos» uma eficácia limitada à repartição do ónus da prova (cf. arts. 1132 do Code e, mais claramente, 1277 CEsp) e inovou ao expressar a desnecessidade de um contrato. 309 Encontraríamos soluções análogas ainda nas «presunções» de maternidade e paternidade dos arts. 1816.º/2 e 1871.º/1, a) e b), que prevêem a «posse de estado» — a expressão tradicional é feliz — e o escrito de autoria do pretenso progenitor em que se declare a filiação. Contudo, porque as «presunções» são ilididas pela simples existência de «dúvidas sérias» (cf. arts. 1816.º/3 e 1871.º/3), não se trata aqui de regras de distribuição do onus probandi, o que limita a analogia. 310 Ainda poderíamos questionar a referida ampliação tendo em conta possíveis «estados possessórios» evanescentes. O decurso do tempo é susceptível de fazer fraquejar o valor pré-decisório da constituição documentada de uma obrigação. Talvez se encontrasse nas prescrições presuntivas uma analogia útil (cf. arts. 312.º e ss.). 307 308 78 peite a uma eventual extinção do direito que lhe subjazeria. O princípio do agressor, em suma, pode estar de acordo com as distinções rosenberguianas, mas pode também avançar contra elas. Falta unicamente repetir o ponto, de longe, decisivo. O princípio do queixoso apresenta-se, desde BECKH, como princípio, como argumento de grande peso, mas que de modo nenhum exclui o papel de outros, com os quais tem de articular-se311. E tem decerto de articular-se consigo mesmo, pois podem concorrer diversos «estados possessórios» sobre o mesmo objecto, com peso também diverso na decisão312, já para não falar dos casos em que falta um status quo substantivamente aceitável ou compatível com as pretensões deduzidas313. A «teoria das normas», pelo contrário, avalia-se como expediente de resolução de todos os problemas de ónus da prova ou, bem entendido, como esquema capaz de inferir logicamente uma distribuição de todo o trecho legal substantivo. Aqui, a diferença é tão profunda que frustra qualquer tentativa de conciliação. O princípio do agressor não é o campeão que honraria a «teoria das normas» com um fundamento que ela, em si mesma, não tem. 11. O surgimento da «teoria das normas» no direito português O C. Seabra, estatuindo, no art. 2405.º, que «a obrigação de provar incumbe àquele que alega o facto», manifesta algum alheamento dos problemas do ónus da prova. Não seria de admitir que a parte que se adiantasse dizendo «não aconteceu» ficasse só por isso onerada com a prova. Portanto, o conceito fundamental para a distribuição teria de ser o de «facto». Isso mesmo mostra a anotação de DIAS FERREIRA. O A., aprovando a solução do código contra a do projecto — que rezava: «o que afirmar, ou seja autor ou seja réu, deve provar o seu asserto, ou sejam positivos, ou sejam negativos os factos em que se funda» — explica que «quem afirma factos negativos sem carácter algum de positividade» «não carece de prová-los» «porque tem por si a presunção de direito»314. Isto deixaria muito por resolver. Não conhecemos outras tentativas de preencher esse conceito de «facto»315. Tem interesse notar que não se seguiam os exemplos do Code ou do Codice de 1865, que prescreviam: «quem exige a execução de uma obrigação deve prová-la» e «quem pretende estar liberado [de uma obrigação] deve provar o pagamento ou o facto que produziu a extinção da obrigação»316. NEVES E CASTRO, em 1880317, consagrava aos Cf., entre outros, ESSER, Grundsatz, p. ex., 50-2 e 69, CANARIS, Pensamento sistemático, 88-99, BYDLINSKI, Rechtsgrundsätze, 121-8, e F. BRONZE, 499-515, sobre as características dos princípios jurídicos, as suas necessárias limitações e a sua distinção das normas. Na mesma linha, BAPTISTA MACHADO, Introdução, 308-11, tem por necessária a «concretização» ou «mediatização» dos princípios (aspas do A.) para os tornar «aplicáveis às situações da vida» (cf. também, loc. cit., 314-9, sobre a acção agregadora do sistema, dos princípios, e sobre a sua função no «círculo hermenêutico»). 312 Cf. o que se disse na n. 310 e no ponto anterior, esp.te na n. 280, sobre o papel do tempo como factor de consolidação ou de enfraquecimento do «estado possessório». O art. 1278.º/3 dá mais algumas sugestões, bem como os distintos regimes dos arts. 1294.º a 1299.º. 313 Cf., no ponto anterior, o que se disse sobre o art. 1354.º/2 e situações análogas. 314 DIAS FERREIRA, vol. IV, 310-1. O it. é nosso. O A. não se pronuncia quanto ao ónus da prova por ocasião dos arts. 677.º e 705.º, relativos ao «caso fortuito» e à «força maior» (cf. vol. II, 24-5 e 44). A leitura corrente era a de que deles resultava o ónus do devedor. Cf., v.g., GOMES DA SILVA, Dever de prestar, p. 205. 315 Faz-se uma sugestão na parte final deste estudo (infra, no ponto 13). 316 Arts. 1315 CFr e 1312 CIt 1865 (cf. tb. art. 1214 CEsp). O Code introduz a segunda regra com um interessante «reciprocamente». Parece que nunca se restringiu o ponto às obrigações. 311 79 problemas da «obrigação de fazer a prova» e das «regras a observar no caso de falta de prova bastante» algumas páginas da sua Theoria, sintetizando que «todo o homem se julga livre de obrigações até que se demonstre o contrário, porque a liberdade é o mais santo atributo dado pelo Criador à criatura, que para assim dizer é um raio da sua omnipotência». Discute amplamente os negativos, dando favor a que não se imponha ao autor a sua prova, mas só quanto às «negativas indefinidas», que não possam «traduzir-se em factos afirmativos» nem ser provadas directamente ou por meio dos factos opostos. A este propósito, conclui que a diversidade das «mil combinações racionais ou doutrinais» não permite determinar «todos os meios de fazer a [...] prova». Associa o ónus às presunções de direito, que distingue das simples, e desenvolve o tema em mais de uma ocasião, apoiando-as no id quod plerumque accidit 318. No processo penal, o Tratado theorico e pratico de NAVARRO DE PAIVA dava uma atenção mínima ao problema da decisão perante um non liquet e, apoiando-se numa tradução francesa de BENTHAM, fundava o in dubio no facto de ser o delito tão mais improvável quanto mais grave319. Uma apresentação diferente do problema de «quem deve provar» — embora ainda oscilante nas concepções nucleares — surge em GUILHERME MOREIRA320. O A. nota que a prova «em sentido próprio designa a certeza legal que […] se obtém» através dos meios probatórios321, mas não faz uso dessa ideia. Citando o art. 2405.º CS, elucida que «é assim que o autor deve provar os factos de que, nas condições normais, deriva o direito a que respeita a acção […], e o réu […] aqueles que, como contestação ou excepção ao pedido […] alegue em sua defesa, não se limitando a uma negação absoluta, mas pretendendo provar factos por que se destrói o fundamento da acção, como a extinção da obrigação». Se «auctori incubit onus probandi», «excipiendo reus fit auctor». «O princípio de que deve provar o facto quem o alega baseia-se» — para G. MOREIRA — «em que, perante a afirmação do autor e a contestação do réu, ambos interessados, não deve ligar-se mais crédito a um do que a outro». Aqui, parece-nos emergir com clareza alguma indistinção entre os temas do ónus da prova e da apreciação da prova. Nas Instituições, impugna-se a teoria das negativas, precisando ainda que só pode considerar-se facto negativo o que «represente a não existência de um facto positivo», independentemente do modo da sua enunciação. Assim, «um facto negativo só tem de se provar quando seja constitutivo do direito em que se funda a acção ou a 317 O seu estudo é contemporâneo da 1.ª ed. de DIAS FERREIRA. No Codigo, cf. os prefs. à 1.ª e 2.ª ed., vol. I, pp. V-XX; Na Theoria de NEVES E CASTRO, cf. a n. «Ao leitor», pp. 5-7. Os AA., de toda a maneira, não se citam mutuamente. 318 NEVES E CASTRO, Theoria das provas, 26-45, 61-3, 381-8. 319 NAVARRO DE PAIVA, Tratado, 1895, p. 175, escuda a presunção de inocência, «uma das mais belas máximas da humanidade», nas «quatro sanções tutelares descritas por BENTHAM», a «sanção natural, que inspira instintiva repugnância e horror ao crime», a «sanção política», a «sanção da opinião pública» e a «sanção religiosa». Merece nota, ainda, o tratamento por NAVARRO DE PAIVA da apreciação da prova. «Os jurados», diz-se a pp. 217, «têm de obtemperar aos impulsos da sua íntima convicção.» Assinale-se que BENTHAM foi traduzido para francês pelo suíço ÉTIENNE DUMONT, autor de algumas interpolações e desvios ao texto original. A maior difusão do pensamento de BENTHAM deveu-se a DUMONT, chegando as suas versões a ser retraduzidas para inglês. Os textos originais ficaram disponíveis mais recentemente. Cf. JEREMY BENTHAM, An introduction to the principles of morals and legislation, publ. e intr. J. H. BURNS / H. L. A. HART, University of London/Athlone Press, Londres, 1970 (1780-9), pp. xxxvii-xliii (da introdução). 320 G. ALVES MOREIRA, Instituições, 652-5. Usámos a ed. de 1907. Como se sabe, há uma ed. de 1925. MOREIRA cita NEVES E CASTRO e DIAS FERREIRA, bem como AA. italianos e franceses. 321 Loc. cit., p. 647. Nesta transcrição, como nas seguintes, os itálicos são sempre de nossa responsabilidade. 80 excepção.»322 CABRAL DE MONCADA, nas Lições de 1932/1933323, apresenta a prova como «o meio material de conseguir a declaração e tutela» dos direitos. Todo aquele que pretende a protecção do Estado para um seu direito deverá demonstrar a respectiva existência, e nesse sentido prescreveria o art. 2405.º CS. Interessantes são os termos — a nosso ver, nitidamente heterogéneos — em que se concretiza tal ideia fundamental: «o autor tem a provar apenas o facto puro e simples que serve de origem ao direito», as «condições positivas», pois «negativa non sunt probanda» e, uma vez provada a «forte realidade do mínimo de elementos constitutivos, a lei presume-lhe logo a eficácia jurídica normal». P. ex., um «vício da vontade» num negócio jurídico constituirá «um novo facto que […] terá de ser provado, sob a forma de excepção, pela outra parte». O A. de Filosofia do direito e do Estado sublinha, contudo, que as «condições negativas» do direito, cuja prova não incumbe ao seu alegado titular, se distinguem dos «elementos negativos que forem elemento constitutivo do próprio facto jurídico origem do direito invocado», o que traduz sem margem para dúvidas que C. DE MONCADA só verbalmente recorre à «teoria das negativas», centrando afinal a sua exposição naquela diferença, talvez subtil, entre «facto jurídico origem do direito» e «condições negativas» do mesmo324. CUNHA GONÇALVES325 acentua que a produção da prova em juízo é um verdadeiro direito; não lhe agradam as expressões «obrigação, ónus ou encargo probatório» nem, sobretudo, o termo francês, que traduz por «fardo de provar». Opina que a simples negação, pelo réu, não é um facto, mas sim a «inadmissão do facto alegado pelo autor». Trata os «factos negativos», dizendo que os juízes não devem para eles exigir uma prova tão rigorosa, mas logo considera a questão «definitivamente arrumada» com a publicação do CPC 1939. A este respeito, invoca uma importante passagem de BÁRTOLO: «Ubicumque negatio est causa intentionis alicujus, sive agentis, sive excipientis, ei qui negat incumbit onus probandi»326; com CUJÁCIO, diz que «se a negativa indefinida não pode ser provada, não é por ser negativa, mas sim por ser indefinida». Nota que as presunções não são provas, mas inversões do ónus. Para CUNHA GONÇALVES, o alegado titular só ficaria incumbido da prova respeitante «aos elementos positivos do direito discutido, e não aos possíveis elementos negativos» (it. do A.). Faz equivaler «factos constitutivos» a «factos normais», e «impeditivos» a «anormais», num sincretismo próprio da época327. 322 PINHEIRO BETTENCOURT, Das provas, 1920, p. 2, afasta do seu estudo o ónus da prova e as presunções, visto interessarem-lhe apenas as provas do CPC. Sempre refere o art. 2405.º CS, que funda no «princípio» de GUILHERME MOREIRA. 323 Reportamo-nos à 1.ª ed., pp. 509-513. A segunda ed., de 1954, acrescentou apenas breves referências ao CPC 1939, de índole descritiva, mantendo-se o texto inalterado quanto ao onus probandi na 3.ª e 4.ª eds. (nesta, cf. pp. 795-8 e os prefs. pp. 11-7). São nossos os itálicos nos trechos transcritos. 324 Assim, a não adesão de CABRAL DE MONCADA (p. 511, n. 2) ao pensamento crítico de GUILHERME MOREIRA relativamente à teoria das negativas corresponde, afinal, a uma grande identidade de posições dos dois AA. 325 O vol. XII do Tratado está datado já de 1940. Referimo-lo antes do CPC 1939 por ser ainda um comentário ao CS e porque surge como uma obra anterior à de ALBERTO DOS REIS, que é pouco citado (no Código de Processo Civil explicado), e não a propósito do ónus da prova. As referências de CUNHA GONÇALVES ao CPC 1939 são, aliás, bastante críticas. 326 A cit. surge no Tratado a pp. 548. CUNHA GONÇALVES não localiza o excerto, que terá recolhido na bibliografia francesa que utiliza. MICHELI, p. 33, n. 4, termina o trecho com «incumbit probatio», remetendo aos Commentaria in Digesta, Lião, 1555, D. 45. 1. 8. n. 5. Neste fragmento do Digesto, refere-se a «prova» de um negativo, a saber, digito caelum non tetigerit.... Podemos traduzir BÁRTOLO: «E onde a negação é causa do pedido [intentio] de alguém, quer autor, quer quem excepciona, incumbe a prova àquele que nega.» 327 Cf. CUNHA GONÇALVES, Tratado, XIII, 546-552. 81 Esta breve amostra tentou ilustrar que o ambiente estaria propício para mudanças. Nas obras do nosso século a que aludimos, aflora cristalinamente uma predisposição — não passou disso — para centrar a repartição do ónus na diferença entre «factos constitutivos» e outros factos juridicamente relevantes, ou então na dicotomia acção/excepção. Mas não se enxergava, no nosso país, qualquer elaboração aprofundada ou consensual sobre o ónus da prova. A intervenção de ALBERTO DOS REIS — essa sim — veio marcar os desenvolvimentos posteriores, não só pela feitura do CPC de 1939, mas também pelo tratamento doutrinal do tema. A inclusão da matéria no CPC correspondia à atribuição de natureza processual ao ónus da prova por A. REIS328. No segundo momento — o doutrinal — o A. acolhe bastante as teses de MICHELI, já com inúmeras referências a ROSENBERG329. Transcrevem-se os arts. 519.º e 520.º CPC 1939. «Artigo 519.º (Repartição do ónus da prova) Incumbe ao autor fazer a prova dos factos, positivos ou negativos, que servem de fundamento à acção; incumbe ao réu fazer a prova dos factos, positivos ou negativos, que servem de fundamento à excepção. § único. O tribunal deve tomar em consideração todas as provas produzidas, emanem ou não da parte que devia produzi-las nos termos deste artigo, sem prejuízo porém das disposições que declarem irrelevante a alegação de um facto quando não seja feita por certo interessado.» «Artigo 520.º (Princípio a observar em casos de dúvida) A dúvida sobre a verdade de um facto e sobre a repartição do ónus da prova resolver-se-á contra a parte a quem o facto aproveita.» É curiosa a má vontade legal contra o uso da distinção entre factos positivos e negativos como critério de distribuição, que já se encontraria no projecto de SEABRA e de que não conhecemos outra possível origem. De alguma forma, esconde-se o problema. O art. 520.º (cf. o actual art. 516.º CPC330) parece querer expressar que o ónus é um critério de decisão, e não um ónus de produção de prova. Isso já resultaria do art. 519.º, sobretudo tendo em conta o § único (hoje, art. 515.º CPC). Como o corpo do art. 519.º, no entanto, usa uma terminologia própria de um entendimento subjectivo do ónus, a lei entendeu precisar o papel do instituto para o tribunal, talvez considerando que quod abundat non nocet. O art. 520.º estaria no lugar que PRÜTTING veio depois a dar à sua «regra operativa»331. Sendo essa a intenção, o art. 520.º deveria dizer: «A 328 Código, vol. III, 240-1. ALBERTO DOS REIS, porém, reconhece a categoria «direito probatório material», que diz estar «muito próximo do direito substantivo». Invoca MANUEL DE ANDRADE. Nas pp. 250-1, ALBERTO DOS REIS sugere que «a validade das convenções probatórias é contrária ao nosso sistema legal», apontando a opinião diversa de MANUEL RODRIGUES. Ao contrário do que faz depois, em nenhum destes pontos cita A. DOS REIS MICHELI, que o teria apoiado. 329 O acesso de ALBERTO DOS REIS ao pensamento de ROSENBERG ter-se-á dado através das obras de MICHELI e de MANUEL DE ANDRADE. No Código, aliás, ROSENBERG é cit. apud MICHELI. A tradução argentina da 3.ª ed. de Die Beweislast, que seria usada entre nós, data de 1956. A última ed. do Código de Processo Civil anotado é de 1949. Sobre o pensamento de M. DE ANDRADE e sua evolução, cf. já a seguir, no texto. 330 A segunda parte da previsão do preceito («sobre a repartição do ónus da prova») teria sido revogada pelo art. 342.º/3 e, hoje (talvez logo em 1967, com o D.L. 47 690, que adaptou o CPC ao CC...), tê-lo-ia, por sua vez, revogado, não fosse o que se diz de seguida. 331 Se bem compreendemos, é esse o entendimento que M. TEIXEIRA DE SOUSA dá ao actual art. 516.º. Assim, afirma, em concordância, que o art. 566.º/3 CC restringe o art. 516.º CPC (Responsabilidade médica, 138-9; cf. tb. ibidem, p. 130 e As partes, p. 207), no que naturalmente seguimos o A., sem prejuízo do que se diz de seguida, no texto. O art. 520.º CPC 1939 é extremamente semelhante à primeira parte do § 269 do CPC húngaro de 1911, que ROSENBERG, Beweislast, p. 119, n. 1, transcreve, considerando-a «muito inadequada». ALBERTO DOS REIS, vol. III, p. 280, diz que o preceito húngaro «é exactamente a doutrina do art. 520.º». Aliás, parece que é a única vez, com excepção da indicação de que MANUEL RODRIGUES concordara com o preceito (p. 267), que o art. 520.º é referido na anot. do A. aos arts. 519.º e 520.º (pp. 266-304), apesar da mudança de cabeçalho da p. 295 para a 297. A 2.ª parte do § 269 húngaro aproxima-se do nosso 342.º/1 e 2, mas isso não foi suficiente para cativar ROSENBERG. Pareceria excessiva a boa vontade de PRÜTTING, Gegenwartsprobleme, 276-7, 82 dúvida sobre a verdade de um facto resolve-se de acordo com a repartição do ónus da prova, nos termos do artigo anterior.». Já isso seria algo excessivo, pois é mais do que suficientemente traduzido pelo sentido que «ónus da prova» adquiriu e, como se disse, pelo artigo anterior, especialmente pelo seu § único. O art. 520.º, todavia, constrói-se como uma regra de distribuição: «a dúvida sobre a verdade de um facto [...] resolver-se-á contra a parte a quem o facto aproveita.» Summo rigore, não se contém aqui sequer o comando para que se ficcione «a verdade de um facto», pois não se esclarece o que quer dizer «resolver contra»; sabemo-lo apenas pela prévia compreensão do que é o ónus da prova. Ao surgir como regra de distribuição — a epígrafe, inclusive, sugere que o preceito vem resolver «casos de dúvida» — o art. 520.º (hoje, o art. 516.º) obriga-nos, aparentemente, a uma «interpretação ab-rogante», visto ser manifesto que a «dúvida sobre a verdade de um facto» é «dúvida sobre a verdade» da sua negação, que é igualmente «facto», e, se um aproveita a uma das partes, a outra aproveita à parte contrária. A não ser, claro, que «facto», no art. 520.º, pudesse significar algo diverso, tal como o «facto» do art. 2405.º CS332. Ainda mais incompreensível será a segunda fracção do artigo. Quando se diz que a «dúvida [...] sobre a repartição do ónus da prova resolver-se-á contra a parte a quem o facto aproveita»333, bem poderia ter-se escrito: «a dúvida sobre o critério de decisão do tribunal se tiver dúvidas sobre se se verificou um facto ou o facto contrário resolver-se-á contra a parte a quem um dos factos aproveita». São curiosidades dos nossos textos legais, com poucos reflexos334. De qualquer modo, se a conservação do actual art. 516.º pode decorrer de alguma «inércia legislativa», a introdução do art. 520.º, em 1939, mostrava dificuldade em lidar com as categorias que servem o ónus da prova335. O que tem de ser muito acentuado é o uso exclusivo, no art. 519.º CPC 1939, das figuras processuais «autor», «réu», «fundamento da acção» e «fundamento da excepção». Não são idênticas a «aquele que invoca um direito», «aquele contra quem a invocação é feita», «factos constitutivos», «factos impeditivos», etc. (cf. art. 342.º CC). Numa acção de apreciação negativa, o direito é do R.; o «fundamento da acção» pode ser a inexistência de factos constitutivos. Numa acção de execução específica de obrigação contratual, o «facto constitutivo» é apenas o contrato, o cumprimento é «extintivo». Se o A. dissesse, na petição inicial — como é comum —, «o R. nunca cumpriu», dificilmente se poderia considerar como excepção a contestação «cumpri», inclusive tendo em conta que o art. 519.º equiparava plenamente «factos positivos» e «factos negativos». Dizer «cumpri» seria «contradizer o facto (negativo) articulado na petição», não seria «alegar factos novos» (cf. art. 491.º, pr., CPC 1939). O art. 498.º, 2.ª parte, CPC 1939 não obstaria ao que afirmamos, pois apenas classificava as peremptórias em «factos que impedem», que «extinguem», etc., o efeito pretendido pelo autor, não excluindo que essas modalidades de para quem o § 269 do CPC húngaro de 1911 e o § 164 I do CPC, do mesmo país, de 1952 (alterado em 1972), o segundo idêntico à primeira parte ( ! ) do § 269, ainda exprimiriam a «teoria das normas». Contudo, veremos no ponto 13 que a análise de PRÜTTING é provavelmente correcta. 332 Cf. infra, no ponto 13. 333 No que já se inova relativamente ao § 269 do CPC húngaro de 1911. 334 O art. 88.º/1 CPA, mandando que os interessados provem «os factos que tenham alegado», tb. dificilmente poderá conter algum sentido normativo. Basta pensar que interessados conflituantes alegarão factos contrários. 335 Cf., ainda, a descrição das discussões na Comissão Revisora feita por A. REIS, loc. cit., esp.te p. 267. 83 «factos», nalgumas ocasiões, fizessem parte da impugnação336. A oposição «substantiva» norma/ contranorma não tem de coincidir com o par alega/excepciona. A aproximação entre «factos constitutivos» e «fundamento da acção», ou entre «factos impeditivos», etc., e «fundamento da excepção» não é uma particularidade portuguesa337, mas, com alguma «ajuda», terá tido particulares reflexos entre nós. Um brevíssimo apontamento sobre a obra de MICHELI: L’onere della prova foi publicado em 1942; não teve, pois, influência no nosso CPC 1939. Na sua invejável bibliografia, encontram-se VON BETHMANN-HOLLWEG, BECKH, BETZINGER, LEONHARD e ROSENBERG, entre muita literatura alemã, italiana, francesa e latina338. Trata-se com alguma detenção a história do ónus da prova, analisando nessa perspectiva o problema da «teoria das negativas», com as múltiplas distinções do direito comum339. MICHELI estuda o conceito de ónus em «teoria geral do direito», «reconstruindo-o» em atenção ao processo, sempre apoiando-se no esquema subsuntivo. O ónus processual constitui, para MICHELI, um «poder»; o ónus da prova, tb. uma facultas agendi e, simultaneamente, uma «necessidade prática»340. Por força do princípio da aquisição processual e dos poderes instrutórios do juiz, o ónus da prova é um ónus «incompleto» e «imperfeito»341. O A. reconhece-o como «regra de decisão» (di giudizio), em face do dever de decidir, que mostra não ter atenuações no direito it. então vigente, nomeadamente, não sendo lícito ao juiz adiar a decisão. MICHELI sustenta que os poderes instrutórios são menos vastos do que aparentam, o que, de toda a maneira, não ultrapassaria o problema da insuficiência de prova342. Após distinguir a «regra de decisão» das «regras de interpretação da prova», considera que o ónus da prova é direito processual. A «norma para aplicação do direito», i.e., a «regra de decisão», não pode ser considerada parte da norma a aplicar343. Ao discutir o critério de «repartição da incerteza», MICHELI preocupa-se com a posição dos factos nas facti species normativas. Tem por impossível — note-se — a formulação de um critério geral de distribuição do ónus, apesar do art. 1312 CIt 1865 — que referimos há pouco. O preceito do CIt não teria atentado no valor essencialmente processual do ónus. Por isso, questiona a distinção entre «constitutivos», «impeditivos», «modificativos» e «extintivos» do direito. Se a distinção entre «constitutivos» e «impeditivos» corresponde à distinção entre «núcleo principal» e «elementos acidentais» da facti species, há que testar esta última. Contesta-a e sustenta que, para o processo, basta a alegação e a prova dos elementos constitutivos aptos a individualizar a demanda, i.e., os que fundem a aparência do direito, «a posse do direito». Quando está em causa o modo de o juiz decidir perante a incerteza, tem de se desconsiderar o «perfil unilateral» da norma concebida antes do juízo. Reputa, aliás, artificiosa a decomposição prévia dos elementos da facti species. «A grande sorte da categoria dos factos impeditivos» foi poder contribuir para afastar a iniquidade de atribuir, a quem pretende fazer valer um direito, a prova Hoje a situação é mais curiosa, pois o art. 487.º/2 CPC, ao contrapor «contradiz os factos alegados na petição» e «alega factos que [...], servindo de causa impeditiva [etc.] do direito invocado pelo autor, determinam a improcedência [...] do pedido», usa dois conjuntos que têm uma área de intersecção, como mostra o exemplo que demos. O actual 493.º/3 CPC não adianta mais do que o antigo 498.º, 2.ª parte. Será de atentar que, se o A. disse «não cumpriu» e o R. responde «cumpri», nada justifica, hoje, que o A. possa replicar, como implicaria a qualificação do «cumpri» como excepção (cf. o art. 502.º/1, 1.ª parte, CPC actual, diferente do art. 507.º, pr., CPC 1939). 337 Cf. o próprio ROSENBERG, Beweislast, pp. 64 e, esp.te, 74-7. As antigas «teoria da impugnação» (Leugnungstheorie) e «teoria da excepção» (Einwendungstheorie) ainda hoje dão nome ao problema da distribuição do ónus da prova quanto à inclusão de uma condição suspensiva no conteúdo negocial (cf. HEINRICH, 158-161). 338 MICHELI tb. cita BENTHAM na tradução de ÉTIENNE DUMONT. Cf. supra, n. 319. 339 L’onere della prova, 3-49; as «negativas», nas pp. 30-7. 340 L’onere della prova, 51-89. 341 L’onere della prova, 125-7 e 146-9. 342 L’onere della prova, 151-162. 343 Cf. L’onere della prova, 181-8, onde contesta tb. que o ónus integre o «materielles Justizrecht» de GOLDSCHMIDT, 196-201, retirando da natureza processual consequências para o DIP e a aplicabilidade no tempo, 201-4, págs. em que, pelo contrário, sujeita a violação do ónus da prova, em termos de recurso, às regras destinadas ao direito substantivo, e 207-212, pp. dedicadas ao problema da regulação convencional da «regra de decisão», que o A. recusa, embora reconheça que as partes poderão alterar as facti species relevantes de modo a que a «regra de decisão» possa levar a um resultado oposto ao que se obteria na falta de convenção. Sobre o «direito judiciário» de GOLDSCHMIDT, cf. TEIXEIRA DE SOUSA, Aspectos, 358-362. 336 84 de todos os elementos da facti species. O maior defeito das teorias comuns, diz-se em L’onere della prova, terá sido a constante confusão entre aspectos processuais e substantivos344. Quanto às acções de apreciação negativa, contrapondo-se à doutrina alemã, MICHELI defende que quem pretende uma forma específica e autónoma de tutela jurídica, como neste tipo de acções, tem de provar o fundamento da sua demanda. Ao autor incumbe provar a inaplicabilidade de norma jurídica que garantisse o direito do réu345. Neste sentido, reconhece os conceitos de ónus concreto, por oposição ao ónus abstracto, recusando o entendimento dado pela doutrina alemã às figuras do Angreifer (agressor) e do Angegriffene (agredido)346. A condução do ónus da prova ao direito processual, por MICHELI, com inúmeras consequências, teve um bom receptor em ALBERTO DOS REIS. Veja-se, ainda, que o A. do CPC 1939 considera «perfeitamente razoável» que os «factos negativos» sejam provados pelo autor, se fundamentam a acção, e pelo réu, se fundamentam a excepção. Quanto a esta, recondu-la, quando peremptória, a um «facto impeditivo» ou «extintivo». O «fundamento da acção» são os «factos constitutivos». Parte da proibição de o juiz se abster de julgar. Numa ou outra alusão muito breve, não aceita a «teoria das normas» de ROSENBERG. Estriba algumas considerações iniciais, embora sem insistir, numa ideia de probabilidade (facto «provável», «verosímil», «natural»). A certo passo, nota que «a lei substancial pode achar-se redigida por maneira a revelar claramente sobre qual das partes pesa o ónus da prova». A propósito do problema das situações em que o autor sustenta ter havido um mútuo, e o réu uma doação, impõe a prova do mútuo ao autor, apelando às regras da indivisibilidade da confissão347 e, com algum desvio das posições anteriores, a que «a excepção consiste na alegação de factos novos, isto é, de factos cronologicamente diversos dos factos articulados pelo autor» (it. de ALBERTO DOS REIS). Com MICHELI, entende que a inexistência da cláusula que condiciona suspensivamente o negócio deve ser provada «pelo autor»348. Nas acções de apreciação negativa, ALBERTO DOS REIS também atribui o ónus da prova ao autor349. Tudo muda, na doutrina portuguesa sobre o ónus da prova, com a publicação de Algumas questões em matéria de «injúrias graves» como fundamento de divórcio, por MANUEL DE ANDRADE, em 1956. A primeira mudança, diga-se, é no A.. Em 1946350, o civilista coimbrão, embora citando já, a seu favor, a 2.ª ed. do estudo de ROSENBERG, recorre a MICHELI até para identificar o ónus da prova como «um problema de repartição da incerteza», acrescentando: «ou talvez melhor: um problema de repartição das consequências jurídicas da incerteza». ANDRADE faz algum uso de L’onere della prova, 265-281. L’onere della prova, 386-391. 346 L’onere della prova, 391-4. 347 A este respeito, seguimos a posição de LEBRE DE FREITAS, Confissão, 218-9, para quem o art. 360.º CC é inaplicável ao conteúdo dos articulados. 348 Contra, ROSENBERG, Beweislast, 270-280, VAZ SERRA, Provas, BMJ 110, 147-159, e HEINRICH, 1996, 161-3, que, no entanto, acusa ROSENBERG de incoerência. No sentido de ALBERTO DOS REIS e MICHELI, cf. BAUMGÄRTEL/LAUMEN, 133-5. Inclinamo-nos pela posição de ROSENBERG, VAZ SERRA e HEINRICH, mas sem aderir ao formalismo dos AA. alemães ou ao seu apelo ao esquema subsuntivo. Aceita-se, de qualquer modo, que o manuseio do ónus da prova em matéria de conteúdo dos negócios jurídicos (verbais) é da maior dificuldade. 349 Código, vol. III, 268-304. As bastantes referências a MICHELI iniciam-se na p. 271. LEBRE DE FREITAS, Confissão, 209-10, n. 33, bem nota que uma concepção meramente processual do ónus faz incumbir a prova ao autor nas acções de apreciação negativa. 350 Anot. a STJ 22-3-1946 (assento), 409-416. 344 345 85 figuras que, ao tempo, já seriam pouco aceitáveis — designadamente, as de «causa eficiente» e «condição» — para distinguir «constitutivos» e «impeditivos», cuja natureza «é evidente que está predeterminada fora do processo.» As suas Noções elementares, ainda hoje disponíveis e populares, são também, na matéria do ónus da prova, uma obra bastante anterior a Algumas questões 351. Cita-se ainda a 2.ª ed. de Die Beweislast, além de que o maior apoio doutrinal é encontrado em MICHELI. Diz-se, nas Noções, que «o onus probandi competirá a um ou outro [dos] sujeitos» «da relação material correspondente» «conforme a posição em que esteja na relação processual»352. Algumas questões representa uma grande viragem no sentido das teses rosenberguianas. A 3.ª ed. de Die Beweislast, saída três anos antes, é invocada constantemente353. A adesão é generalizada — pelo menos, segundo diz MANUEL DE ANDRADE354. Refiramos os pontos em que o Professor de Coimbra se afasta de ROSENBERG. Importantíssima é a recusa da figura da «contraprova indirecta». ANDRADE nota — com plena coerência355 — que a parte beneficiada pelo ónus da prova (proprio sensu) só pode ter o ónus de uma contraprova directa, i.e., o «ónus» de apresentar meios de prova que abalem a convicção do tribunal que resultaria da prova principal trazida pelo onerado356. MANUEL DE ANDRADE admite, por outro lado, derrogações ao «princípio» da «teoria das normas»357, o que está, em absoluto, fora dos horizontes de ROSENBERG. Depois, observa-se que «as nossas leis de direito privado material [até 1956] cuidam pouco do problema do ónus da prova, se é que, verdadeiramente, chegam a encará-lo, a tomar consciência dele»358. Isto, obviamente, não é uma impugnação dos quadros da «teoria das normas», mas tem associada a sua não utilização. Não é um acaso — embora o tema o propiciasse — que MANUEL DE ANDRADE omita qualquer menção às palavras sacramentais da «teoria das frases», i.e., as Cf., nas Noções, a «Advertência» de ANTUNES VARELA e o «Prefácio da primeira edição», de 1956; MANUEL DE ANDRADE qualifica essa ed. como «simples actualização» da versão de 1944. Cf. tb. Algumas questões, p. 24, n. 4 da p. 23. 352 «É esta a ideia capital de MICHELI». Cf. Noções, p. 202. Para a distinção entre «constitutivos», etc., remete-se aos números em que fora tratada a matéria das excepções (cf. p. 201, n. 3). 353 Referimo-nos, é claro, à parte do estudo dedicada ao ónus da prova (pp. 21-50). MICHELI é ignorado. O seu nome surge apenas para mostrar que a distinção «constitutivos»/«impeditivos», etc., é «directriz fundamental» (p. 27, n. 1, onde antes se cita Die Beweislast e o Lehrbuch de ROSENBERG, tal como LEONHARD, apud ROSENBERG) e que, em Itália, se usa mais a expressão «prova in re ipsa» do que «prova prima facie» (p. 32, n. 1). Além daquelas obras, ANDRADE usa ainda, tb. de ROSENBERG, a recensão a WASSERMEYER, Der prima facie Beweis und die benachbarten Erscheinungen. Eine Studie über die rechtliche Bedeutung der Erfahrungssätze, Aschendorff, Münster, 1954 (ZZP 67, 1954, 478 e ss.). Mais se recorre à recensão que BÖTTICHER (ZZP 68, 1955, pp. 230 e ss.) dedicou à 3.ª ed. da monografia criadora da «teoria das normas», entre outras obras alemãs. 354 O A. do Ensaio sobre a teoria da interpretação das leis não encontra qualquer dificuldade em reconduzir os termos do art. 519.º CPC 1939 aos «factos» das «normas» de ROSENBERG — cf. Algumas questões, p. 22, n. 1. 355 A «contraprova indirecta» constitui «um» momento de incoerência de ROSENBERG, usado, ainda por cima, para resolver problemas profundamente heterogéneos. ROSENBERG, ao defini-la, destina-a aos contra-indícios dos elementos da facti species. Tratar-se-ia, então, de factos probatórios, porque exteriores à previsão substantiva, e o ónus da sua prova incumbiria à parte não onerada com a prova principal. Logo aqui, contrariam-se os postulados rosenberguianos, pois a incerteza quanto a um contra-indício (e sua negação) que afastaria a certeza sobre o tema de prova, é já incerteza sobre o elemento contra-indiciado, ainda que represente um grau menor de incerteza. Depois, ROSENBERG usa a figura, sobretudo na parte especial da sua obra (cf. pp. 162, 184-6, 194-5, aqui, em contradição com a p. 160, 198, 248-9, 253-4, 329, etc.; incoerente é ainda o A. no tratamento que dá às «presunções de direito»; cf. logo a p. 216), incluindo elementos substantivamente relevantes, embora não explicitados na lei; relevantes em facti species complexas. 356 Algumas questões, pp. 33-5. 357 Algumas questões, p. 35. 358 Algumas questões, p. 36, n. 2. «Como se sabe, o Código Civil alemão é que constitui o exemplo clássico de uma lei de direito substantivo que se preocupou altamente com a repartição do ónus da prova e cujos textos foram, muito de propósito, redigidos de maneira a deixarem concluir qual tenha sido, para cada caso, a solução preferida pelo legislador.» 351 86 condicionais negativas «excepto se», «salvo se» etc.. Daí, num notável contributo autónomo, o A. justifica no favor matrimonii ou, ao menos, na inexistência de qualquer favor divortii a imposição de um ónus da prova extenso ao pedido de divórcio359, enquanto ROSENBERG, a propósito da «grave violação matrimonial», argumenta apenas com a inclusão desse conceito na previsão legal, acrescentando não haver aí nada de específico do processo de divórcio360. Com isso, todavia, M. DE ANDRADE já não se fica pelo terreno de uma «teoria das normas» ao gosto do seu fundador. O passo seguinte na evolução do discurso sobre o ónus da prova no nosso país foi a feitura e publicação do Código Civil. Em 1947, a Comissão encarregada da elaboração do projecto361 sugere «que se façam os possíveis esforços» no sentido de «mediante fórmulas adequadas a que se atribua uma certa significação para tal efeito» «deixar resolvidos» os problemas de distribuição do ónus da prova, mas «reconhecem-se as dificuldades da empresa, talvez não compensadas pelos benefícios que daí poderão advir». VAZ SERRA, por seu turno, lembra que «pode ser muito difícil a solução a dar a estes problemas e, ainda, que eles ocorram a quem redige um texto de direito civil». Catorze anos depois, VAZ SERRA viria a ocupar-se do «direito probatório material». A 4.ª ed. de Die Beweislast, apesar de referida, não é utilizada362. Na enumeração dos diferentes «factos», VAZ SERRA distingue «constitutivos», «impeditivos», «extintivos» e «modificativos»363, apoiando-se — é de assinalar — nas Noções elementares de MANUEL DE ANDRADE. Com a mesma base, opina que, na dúvida sobre se certo facto é «constitutivo ou impeditivo», deve qualificar-se como constitutivo. Transcreve, na ocasião, uma passagem relativamente extensa do Zivilprozeßrecht de NIKISCH, que resume a posição da «teoria das normas» sobre o problema, mas só umas páginas à frente dá relevância, a respeito do problema dos negativos, à situação de «a lei exigir, para que um efeito se produza» certos factos. Em mais uma forte aproximação a MICHELI, através «do primeiro» M. DE ANDRADE, diz VAZ SERRA que a distribuição «deve fazer-se consoante a posição em que cada um dos sujeitos da relação material se encontre no processo», mas restringe de imediato o afirmado, não o deixando valer para as acções de apreciação negativa, citando, de novo, NIKISCH. Com o mesmo A. e alguma jurisprudência do BGH, mas contra um dos dogmas da «teoria das normas»364, defende a inversão do ónus da prova em casos de impossibilitação culposa, da prova. Com «o segundo» M. DE ANDRADE, recusa a contraprova indirecta de ROSENBERG. A respeito das presunções, VAZ SERRA pretende que são «excepcioAlgumas questões, 39-41. Die Beweislast, 157-8. Não esquecemos as referidas incoerências do pensamento de ROSENBERG. Nesses pontos, aliás, bem se revela a apurada intuição jurídica que fez do A. um ponto de referência obrigatório do direito processual alemão. 361 VAZ SERRA, MANUEL DE ANDRADE, PIRES DE LIMA e PAULO CUNHA. Mais tarde, também I. GALVÃO TELLES. MANUEL DE ANDRADE teria a colaboração de FERRER CORREIA. «Durante algum tempo», participou ainda o magistrado do ministério público SÁ CARNEIRO DE FIGUEIREDO. Secretariou o juiz ABÍLIO CELSO LOUSADA. Os elementos constam de VAZ SERRA, Revisão geral, 31-3. De seguida, no texto, reportamo-nos às págs. 40-1 e 56-7 do mesmo estudo. 362 Embora surjam algumas referências ao Lehrbuch de ROSENBERG, por vezes citadas apud. Referimo-nos ao estudo Provas, BMJ 110, esp.te, pp. 61-7, 78-85, 111-171 e 180-198. 363 O CIt 1942, no art. 2697, estatui: «Quem pretende fazer valer um direito em juízo deve provar os factos que constituem o seu fundamento. Quem excepciona a ineficácia de tais factos ou excepciona que o direito se modificou ou extinguiu deve provar os factos em que a excepção se funda». VAZ SERRA refere o art. 2697, bem como o lacónico art. 8 ZGB. Vimos que tb. MICHELI usava os «modificativos». 364 Cf. BAUMGÄRTEL, Beweislastpraxis, 92-8. Cf. ainda KRAPOTH, Die Rechtsfolgen der Beweisvereitelung im Zivilprozeß, 1996, que, sem poder esquecer a autoridade do BGH, só em casos restritos admite a «inversão do ónus» (cf. esp.te pp. 73-9 e 85-8); o A. diz defender uma «solução flexível»; cf. tb. BEGLINGER, 480-494. 359 360 87 nais as disposições legais que as estabelecem» e, por isso, não poderão aplicar-se «por analogia, na medida em que o não possam ser as leis excepcionais»365/366/367. Não vamos, é claro, descrever o texto do Código Civil, que acolheu as propostas de VAZ SERRA. Mas tem ainda um grande interesse histórico — além do interesse científico — atentar na leitura que dele fazem PIRES DE LIMA e ANTUNES VARELA, no Código Civil anotado, dada a sua influência decisiva no texto final do CC368. Recorda-se que ANTUNES VARELA era colaborador de MANUEL DE ANDRADE na ed. das Noções de 1956. O Código anotado começa por assinalar, sem ênfase, que a referência do CPC 1939/1961 se dirigia a autores e réus, mas entende que os princípios correspondiam aos do novo art. 342.º/1 e 2. Como «factos impeditivos, na generalidade dos casos» (it. dos AA.), enumeram-se alguns dos chamados vícios da vontade; na maioria, causas de anulabilidade — a anulação, para a «teoria das normas» alemã, é facto «excludente». Diz-se que o art. 342.º/2, com o regime dos «impeditivos», «aproxima-se bastante do critério da normalidade» (it. dos AA.). Menciona-se brevemente aquilo a que chamámos «impeditivos de segundo grau» (aludindo à suspensão ou interrupção da prescrição), terminando com um «e assim por diante», mas identifica-se a categoria neste período: «O mesmo critério (de normalidade) deve nortear o intérprete, em seguida, quanto às próprias circunstâncias que servem de causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito invocado.» (it. dos AA.)369. Sobre as acções de simples apreciação negativa, fala-se em «inversão do ónus da prova», atendendo à «dificuldade de provar factos negativos». Para obviar aos transtornos que o réu poderia sofrer com uma acção proposta 365 Entre os estudos mais interessantes de VAZ SERRA sobre o ónus da prova estão, porém, Encargo da prova em matéria de impossibilidade ou de cumprimento imperfeito e da sua imputabilidade a uma das partes, BMJ 47, 1955, 98-126, Culpa do devedor ou do agente, BMJ 68, 1957, 13-152 (nas pp. 80-9), e Responsabilidade pelos danos causados por edifícios ou outras obras, BMJ 88, 1959, 13-62, que não cabe aqui analisar. 366 Terá interesse olhar as observações de RODRIGUES BASTOS, Das relações jurídicas, vol. V, 51-65, ao texto final do Código e à evolução desde o trabalho de VAZ SERRA. O A. sustenta não haver alterações significativas ao sistema do CPC 1939 (na versão de 1961), salvo quanto ao actual art. 343.º/1, que contesta. Para si, ainda, a maior ou menor dificuldade da prova não tem qualquer relevância na distribuição do ónus da prova, «a não ser no caso especial prevenido no» art. 344.º/2. 367 Notamos ainda, se bem entendemos, uma incompreensão de VAZ SERRA (Provas, p. 123, n. 87) relativamente à feliz afirmação, de MANUEL DE ANDRADE (Noções, p. 202), de que os «factos modificativos são tratados como constitutivos ou como extintivos, consoante o sentido da modificação». VAZ SERRA entende que terá havido «lapso de composição, querendo fazer-se referência, não a factos constitutivos ou extintivos, mas a factos impeditivos ou extintivos» (it. do A.). Salvo o imenso respeito pela obra de VAZ SERRA, e sendo verdade que MANUEL DE ANDRADE não mantém (talvez rectius, ainda não corrigira) a afirmação quando trata as excepções peremptórias (cf. 130-2), a sua sugestão de um «lapso de composição», que teria substituído «impeditivos» por «constitutivos», é ilógica, pois, em primeiro lugar, um «facto modificativo» não pode ser equiparado a um «impeditivo», pela razão simples de que um é originário e o outro superveniente. Depois, e isto decide a questão, MANUEL DE ANDRADE explica que a equiparação depende do sentido da modificação. Ora VAZ SERRA vê os «modificativos» como tendo sempre um sentido favorável ao «réu», pelo que a afirmação de ANDRADE seria descabida. Manifestamente, como ensinam CASTRO MENDES, Direito, vol. II, p. 671, ou CAVALEIRO DE FERREIRA, p. 215, a razão está apenas do lado do futuro A. de Algumas questões, que não ficou preso aos quadros da doutrina italiana — como não ficaria à «teoria» de ROSENBERG — e observou que a modificação, quando favorável ao titular do direito (v.g., a redução convencional do prazo a favor do devedor), tem, de acordo com o entendimento tradicional, de ser provada por esse mesmo titular. Só não consideramos um equívoco o que hoje consta do art. 342.º/2 (e já constava do art. 2697 do Codice: «modificativos») porque a letra do art. 342.º é muito limitada, i.e., só se preocupa com os casos mais simples. Os «impeditivos de segundo grau» não estão nela acolhidos, nem os «de quarto grau», etc.. Tal como a articulação «norma»/ «contranorma» pode ser prolongada indefinidamente, o mesmo pode acontecer com o jogo, por exemplo, «constitutivo»/ «impeditivo«/«extintivo do impeditivo»/«impeditivo do extintivo do impeditivo», etc., etc.. Isto é o que o art. 342.º pretende, embora não seja propriamente o que lá se diz. 368 Cita-se pela ed. de 1987, mas consultou-se a 1.ª ed., de 1967, vol. I, 222-6. Não há alterações significativas. 369 Código Civil anotado, 305-6. 88 quando apraz ao autor, continuam PIRES CPC 1961/1967370. DE LIMA e ANTUNES VARELA, surgiu o art. 486.º/4 A exposição foi longa, mas parece-nos bastante útil. O que dela se retira é simples. O art. 342.º/1 e 2, em termos históricos, não é a «teoria das normas» de ROSENBERG. Nem poderia ser, pois os redactores do nosso CC, pelo menos, generalizadamente, não procuraram, com a sintaxe dos preceitos, estatuir sobre a distribuição do ónus da prova. Aliás, não se considerou que houvesse uma ligação entre a distinção «constitutivos»/«impeditivos» (no mínimo) e essa maneira de redigir. O art. 344.º/2 não pode igualmente reclamar filiação na «teoria das normas». O art. 342.º/3, na sua letra, vem dar um peso acrescido ao princípio do agressor, na versão da «teoria». Esta opção legal terá sido, porventura, excessivamente cautelosa ou excessivamente conservadora. O preceito, de todo o modo, diz-se restrito aos casos «de dúvida». Não é admissível, no nosso direito — e pensa-se que essa é uma vantagem — um entendimento processual da distribuição do ónus da prova em moldes semelhantes aos que pretendia MICHELI. É certo que o art. 342.º/1 e 2 utiliza os «factos» da tradição italiana — MICHELI e ALBERTO DOS REIS, aliás, marcaram linguisticamente, pelo menos, muito do que depois se diria — mas não só deixou a dicotomia acção/excepção, também foi abandonada a referência a «fazer valer em juízo», ambas do CIt vigente. Isso, claro, são apenas indícios verbais. O art. 343.º/1, relativo às acções de apreciação negativa — e que não pode qualificar-se como «inversão» do ónus da prova — afasta qualquer possibilidade de uma concepção ao estilo de MICHELI. O art. 345.º/1, na parte permissiva, confirma esse distanciamento. Visto isto, porém, o sistema português de distribuição do ónus da prova tem de ser considerado um modelo híbrido371. Talvez melhor, um modelo autónomo — decerto, não único. O art. 342.º/1 e 2 consagra uma «teoria das normas». Falta averiguar se isto terá algum sentido jurídico. Para terminar este ponto, registe-se apenas que o prestígio de MANUEL DE ANDRADE, a tradução argentina da 3.ª ed. de Die Beweislast e o continuar de aproximações sucessivas ao direito alemão trouxeram o edifício rosenberguiano para o centro da discussão nacional do ónus da prova. Uma adesão à forma mais pura das teses de ROSENBERG encontra-se em ANSELMO DE CASTRO, que aceita a «contraprova indirecta», considera o ónus da prova «um problema de aplicação da lei» ou um «problema de interpretação da lei», a resolver, «como sempre, face não só ao elemento literal, que frequentemente assinala com clareza a significação do facto respectivo, como aos demais elementos interpretativos», apresenta o ónus como «sempre pré-fixado em cada caso», «inerente à norma jurídica a aplicar», recorre à «norma ou normas aplicáveis» para 370 Código Civil anotado, 307-8. O art. 486.º/4 foi eliminado pelo D.L. 242/85, de 9 de Julho. Após a última reforma, o art. 486.º/5 CPC estende a possibilidade de prorrogação do prazo a quaisquer tipos de acções. Em nossa opinião, o regime vigente entre 1967 e 1985 não tinha razão de ser. Por um lado, pelo motivo circunstancial, mas importante, de a normal demora dos nossos processos judiciais permitir reunir a tempo os meios de prova necessários, não havendo prejuízo significativo se os documentos que devessem ser entregues com a contestação surgissem depois (cf. art. 523.º). Por outro lado, o decisivo, a incumbência ao réu de alguma prova ocorre em quase todos os tipos de acções. É absolutamente aleatório que, em cada processo, os factos carecidos de prova sejam «constitutivos» ou «impeditivos», etc.. 371 Em sentido paralelo, quanto ao uso de «culpa» nos arts. 483.º, 487.º e 799.º, cf. MENEZES CORDEIRO, Responsabilidade, 446-470. A demonstração de hibridez, feita pelo A., não pode ser seriamente posta em causa. Com isto, não queremos dizer que acolhamos todas as consequências que MENEZES CORDEIRO dali extrai. 89 discernir se, no caso, aquele facto é «impeditivo», «constitutivo», etc., entende o art. 343.º/1 como uma mera concretização da «mesma razão» de ser e impõe ao «réu [...] o encargo da prova da condicionalidade». O A. ainda impugna as teses de MICHELI, acrescentando que a doutrina de ROSENBERG «é agora a consignada na lei»372. Aprovação bastante marcada da «teoria das normas», embora com uma mais-valia bibliográfica e argumentativa muito significativa, é a de ANTUNES VARELA, M. BEZERRA e SAMPAIO E NORA. Há uma actualização importantíssima, de modo que se dá conta de alguns movimentos contrários ao paradigma rosenberguiano, nomeadamente, da posição de WAHRENDORF, a que se presta, no entanto — dados os fins explicativos e/ou pedagógicos do Manual —, uma atenção diminuta, remetendo para as críticas de SCHWAB, na ed. trabalhada por este A. do Zivilprozeßrecht de ROSENBERG. Os AA., contudo, não referem ainda os desenvolvimentos de PRÖLSS, LEIPOLD, REINECKE e PRÜTTING, sendo certo que Gegenwartsprobleme, deste último, acabara de ser publicado ao tempo da elaboração do Manual. Notam-se, de toda a maneira, alguns desvios significativos à ortodoxia de Die Beweislast, a saber, a afirmação de que o art. 343.º/1 não corresponderia à aplicação do art. 342.º/1 e 2, mas sim à dificuldade da prova dos factos negativos, e a consideração do art. 342.º como um «critério substancial», ao mesmo tempo que se diz que esse artigo «não basta, mesmo em tese geral, para solucionar o problema do ónus da prova»; qualquer destas duas últimas asserções seria aceite por ROSENBERG373, mas não ambas. Desviam-se ainda do A. alemão ao excluir do art. 342.º a regra do art. 343.º/2374. A boa solução a que A. VARELA / M. BEZERRA / S. E NORA chegam quanto ao problema do ónus da prova do cumprimento em pedidos de resolução do contrato ou de responsabilidade pelo incumprimento, embora coincidente com a de ROSENBERG e de opções expressas do BGB375, resulta de um pensamento analógico material e de uma atenção à dificuldade de prova dos «factos negativos» que superam em muito as possibilidades das fórmulas rosenberguianas376. M. TEIXEIRA DE SOUSA tem por consagrada no art. 342.º a «teoria das normas». Esta afirmação surge, porém, não se propondo mais do que uma introdução ao problema. O A. faz uso de toda a «teoria modificada» e, p. ex., dos estudos de PRÖLSS e REINECKE. Ao apreciar aprovadoramente a orientação jurisprudencial que tem em conta a dificuldade de prova de «factos negativos», p. ex., TEIXEIRA DE SOUSA ultrapassa também, largamente, aquilo que a «teoria das normas» seria capaz de abonar377/378. Direito processual civil declaratório, vol. III, 345-365. A primeira das duas não cabe na «teoria modificada». 374 Quanto a este último ponto, cf. ROSENBERG, Beweislast, 163-4. 375 Cf. §§ 345 e 358. 376 Manual, 445-467. 377 Cf. Responsabilidade médica, 131-144, com o especial interesse de se tratar fundamentadamente um problema para que a «teoria das normas» dá solução contrária (FERREIRA DE ALMEIDA, Contratos civis, 110-2 e 118, propugna, no mesmo volume em que escreve TEIXEIRA DE SOUSA, um resultado oposto, mas usa essencialmente argumentos históricos, destinados a combater a distinção entre «obrigações de meios» e «obrigações de resultado», e o teor literal do art. 799.º/1; no sentido de TEIXEIRA DE SOUSA, cf., ainda, HEINEMANN, 73-140, num estudo, apesar do título, menos comparativo do que dogmático e com atenção específica aos termos em que FERREIRA DE ALMEIDA coloca o problema; já STOLL, 149-181, punha no «momento de resultado» a explicação para a generalidade das «inversões» do ónus na responsabilidade, embora o A., na sua «fundamentação» do «momento de resultado», use repetidamente uma fórmula que temos por vazia, por não ser senão a colocação doutrinal da «exoneração» como «facto impeditivo»!); de TEIXEIRA DE SOUSA, cf., ainda, As partes, 215-228, e Concurso, p. ex., 317-323. 372 373 90 Pelo que antes dissemos, parece excessiva a associação feita por ANSELMO DE CASTRO entre o direito posto em vigor pelo CC e a «teoria das normas». Quanto à evolução obtida pelo Manual de processo civil e por M. TEIXEIRA DE SOUSA, que se antevia em M. DE ANDRADE e de que não pode haver recuo, cumpre enquadrá-la num imprescindível repensar do sentido do art. 342.º, n.ºs 1 e 2. 12. «Teoria das normas» sem BGB? A «teoria das normas», quer dizer, a «teoria das frases» nasce com o BGB e alimenta-se dos cuidados na sua redacção. O BGB foi redigido de modo a que surgisse uma «teoria», i.e., uma fórmula como a de ROSENBERG. A distinção entre «factos impeditivos», «constitutivos», etc. é, todavia, anterior ao código civil alemão379, coexiste, neste país, com leis que não obedecem à «estrutura linguística» daquele diploma e tem talvez consagração em ordenamentos, como o nosso, em que os esforços para compor os enunciados legais em termos de exprimirem uma distribuição do ónus da prova são muito duvidosos, se não forem altamente improváveis. Mais: a aceitação dos postulados da «teoria», numa representação pouco aprofundada, não se faz acompanhar, em regra, pelo assumir da essencialidade da redacção da lei para o efeito, ou, quando tal acontece, não se levantam a isso quaisquer objecções, numa «aceitação acrítica» das teses rosenberguianas380. Porque não nos é lícita uma postura análoga, temos de discutir o valor da «teoria» longe das cautelas sintácticas do código alemão. BAUMGÄRTEL, na maior «modificação» que introduz na «teoria das normas» — em rigor, se exportada, uma sua derrogação quase total — propõe, para as «novas leis que não apresentem qualquer estrutura linguística», que se atenda ao «fim da norma», ao seu «conteúdo jurídico-material decisivo». Quando este critério falhar, a única possibilidade restante seria olhar aos Não tem já interesse para esta exposição mencionar os estudos sobre ónus da prova em trabalhos de direito das obrigações, como os de SINDE MONTEIRO, CALVÃO DA SILVA, L. MENEZES LEITÃO, CARNEIRO DA FRADA ou BRANDÃO PROENÇA, qualquer deles estranho às peias da «teoria das normas». 379 Cf. supra, n. 13, parte final. Provavelmente, as posições de G. MOREIRA ou até, talvez, de C. MONCADA e CUNHA GONÇALVES, descritas supra, no ponto 11, tb. não tinham ainda influência do BGB ou dos estudos de ROSENBERG. O Code, o CIt 1865 e o CEsp distinguiam «a obrigação» e «a extinção», ignorando os «impeditivos» (cf. supra, n. 316). 380 A expressão não envolve afronta aos seus representantes. Antes pelo contrário: a «aceitação acrítica» é um problema fundamental da «teoria das normas» e talvez a chave da sua compreensão, como veremos no ponto seguinte. A título meramente exemplificativo da utilização mecânica dos «factos constitutivos», «impeditivos», etc., refiram-se, GÜLDNER, 1965, 1-9; HANSEN, 1990, 61-74 e 98-116; TERBILLE, 1995, 129-134; BEGLINGER, 1996, 469-80, que ainda faz alguma discussão, conquanto superficial, dos critérios alternativos; o A. afirma tb., com felicidade, que a simples transmissão do ónus para um campo de «liberdade» do juiz não resolveria nenhum problema, pois o juiz tem igualmente de procurar critérios para a sua decisão; PLAGEMANN, 1997, 9-11, embora este último se distinga por algum abuso dos conceitos próprios da teoria do ónus da prova. O autor desta n. também escreveu acriticamente que «as causas de exclusão da culpa, materialmente, são excepções à existência do direito [...], parecendo dever ter um regime igual ao dos [...] factos impeditivos» (F. MÚRIAS, in RFDUL XXXVII/1, 1996, p. 181, n. 54). Para dizer que este rol não é forçosamente um rol de «maus juristas», cf. ainda o próprio ZIPPELIUS, p. 89, ao apontar que, através da «construção verbal da norma» substantiva, ela participa na decisão sobre a distribuição do ónus da prova. A «teoria das normas», na sua primeira versão, vivia desta mistura entre norma e enunciado legal. Não se tratou de um momento de «aceitação acrítica», por fim, o mencionado trecho de VAZ SERRA, Revisão geral, p. 57, em que se diz que preceitos como o art. 519.º CPC 1939 (ou, hoje, o art. 342.º/1 e 2) dispensariam o cuidado da indicação da distribuição do ónus da prova através da redacção legal? Talvez KEANE explique a aceitação apressada. Afinal, a distribuição do ónus, em geral, seria uma «questão de senso comum» (cf. 69-70). 378 91 «fundamentos materiais» da distribuição, em que, segundo POHLE381, só o princípio do agressor desempenharia um papel central, ou que, pelo contrário, agora na opinião do suíço ISAAK MEIER382, teriam no «objectivo político-jurídico» da lei e na maior «possibilidade de prova» por uma das partes as principais linhas orientadoras. BAUMGÄRTEL prefere a segunda opção383. Embora muito nos agrade o reconhecimento, por um dos expoentes da «teoria modificada», de leis ineptas para o funcionamento do binómio «norma»/«contranorma», talvez possa contrariar-se o A. num ou noutro ponto. Desde logo, não há «leis que não apresentem qualquer estrutura linguística». Como se viu com PRÜTTING, todo o texto legal, desde que tenha significado jurídico, ou estabelece «normas», ou «normas» e «contranormas», ou, apenas, «contranormas»384. Falta, portanto, a BAUMGÄRTEL um ponto de apoio para dizer que certa sintaxe legal não distribui o ónus. A sua afirmação já pressupõe ou conhecida a distribuição, o que exclui o problema, ou identificadas, de alguma forma, as leis que se furtem à «teoria das normas». Se, porém, o modo de identificar leis rebeldes ao esquema rosenberguiano for a determinação da ausência de um cuidado de redacção equivalente ao dos AA. materiais do BGB, a «teoria das normas» passa, praticamente, a «teoria das normas do BGB», o que, sem dúvida, é pouco satisfatório, sobretudo à face de preceitos como o nosso art. 342.º385. Em segundo lugar, qualquer tentativa de encontrar um ou dois (ou três...) critérios alternativos fundamentais sempre pecará por reduzir a complexidade do problema a um nível imprestável como modelo de decisão jurídica386. Não se duvidará, p. ex., que o princípio do agressor não passa de um princípio; depois, dar relevância a um «objectivo político-jurídico» da lei, salvo o devido respeito, não foge muito de um discurso vazio; o desequilíbrio na dificuldade de prova, por fim, só será critério onde esse desequilíbrio existir, o que logo exclui todos os casos (sobretudo, de causalidade) em que a prova é impossível, ou quase, para qualquer das partes, aqueles em que a prova é fácil para ambas (v.g., quanto ao conteúdo de um documento autêntico) e, last but not least, aqueles em que é sensivelmente igual a relativa dificuldade da prova de certo facto, v.g., porventura, a grande maioria dos casos de colisão de veículos. Caberia também perguntar, olhando a dispositivos legais como os do direito português, se a distinção de «factos» do art. 342.º/1 e 2 não deveria ser preenchida, toda ela, com recurso a critérios alheios ao pensamento rosenberguiano. Nesses termos, o mais evidente «caso bicudo» Num estudo que não obtivemos, a recensão à 3.ª ed. de Die Beweislast, de ROSENBERG (AcP 155, 1956, pp. 165 e ss.). ZSR 1987, 4, pp. 1 e ss.. A cit. de um A. suíço por BAUMGÄRTEL — I. MEIER é, aliás, o primeiro e o último A. citado em Beweislastpraxis (pp. 2 e 318) — tem, para nós, toda a importância. O interesse está em que alguma doutrina suíça terá já interiorizado as fraquezas, no seu espaço, da «teoria das normas», dado o diferente estilo do ZGB, por comparação com o BGB. O legislador do ZGB, nomeadamente, foi abundante no estabelecimento de «factos negativos» como «constitutivos». Não é por acaso que um tratamento desenvolvido do problema dos «negativos» se vá encontrar em V. GREYERZ, Der Beweis negativer Tatsachen, Diss., Berna, 1963 (apud, por exemplo, BAUMGÄRTEL; cf. loc. cit., 211-3 e 214) e noutros AA. helvéticos. A curtíssima descrição que BAUMGÄRTEL faz do estudo de V. GREYERZ, porém, não nos adianta muito mais do que podia ler-se em NEVES E CASTRO, MICHELI ou mesmo MUSIELAK, ecos de uma tradição já plurissecular. 383 Beweislastpraxis, 317-8. 384 Cf. supra, no ponto 7, a categoria das «normas sem facti species». 385 Com o problema das leis cuja sintaxe oferece arrimo duvidoso para a distribuição deparou-se JUTTA KEMPER, 45-72, que conseguiu, entretanto, encontrar uma distribuição, com maiores ou menores dificuldades, nos vários preceitos de previsão mais simples da Lei da Concorrência Desleal alemã. Alguma indiferença de KEMPER quanto a que distribuição, naturalmente, não nos satisfaz. 386 Cf. a crítica de PRÜTTING, Gegenwartsprobleme, 227-9, a todo o critério alternativo que queira propor-se como único. 381 382 92 — o da destrinça entre «constitutivos» e «impeditivos» — seria resolvido, p. ex., reinterpretando os segundos como «factos anormais» ou «improváveis», factos exclusivamente pertencentes à «esfera de risco» da pessoa contra quem se invoca um direito ou factos contrários a «factos negativos», etc., etc.. Vimos no ponto anterior que qualquer coisa do género — sobretudo, na invocação da «normalidade» — ia precisamente implícita nas breves tentativas de expor uma dogmática geral do ónus da prova publicadas entre nós na primeira metade do século387. Melhor se explicará agora por que razão considerámos esses discursos «heterogéneos», «oscilantes» ou «sincréticos». Quanto às virtudes daqueles possíveis modos específicos de proceder à repartição do ónus — através da «normalidade», das «esferas», etc. —, é claro que escapam já ao objecto do nosso estudo, dedicado à dominadora «teoria das normas». Podem ser esses — alguns deles — os modos «correctos» de distribuir o ónus, mas não cabe aqui averiguá-lo. Posto isto, temos de notar que tal releitura do art. 342.º388 torná-lo-ia de imediato um preceito vazio, contendo uma não-norma, além de carrear para o tema algumas assimetrias. O art. 342.º seria um preceito vazio porque «impeditivos» deixaria de ser critério, passando a conclusão. O termo passaria a significar «factos a provar pelo réu389», o art. 342.º conteria um círculo vicioso — «o réu deve provar os factos que deve provar» — e as soluções iriam encontrar-se através de linhas de pensamento sem base legal própria. Já não se trataria de interpretar o art. 342.º, mas sim de ultrapassá-lo. Pode até mostrar-se inevitável essa solução, e imperioso o recurso a «critérios alternativos» de distribuição, mas devemos primeiro compreender adequadamente o artigo. A nomenclatura «constitutivos», «impeditivos», etc., só guarda algum sentido em moldes rosenberguianos ou aparentados. Fora desses quadros, estaríamos perante construções exteriores à lei encapotadas por uma alusão oca ao art. 342.º. Por outro lado, a interpretação questionada faria emergir algumas assimetrias, dado que a oposição «constitutivos»/«extintivos» e a consensual relevância para o ónus de expressões legais como «excepto se» ou «salvo quando», que ROSENBERG acolheu, pressupõem um apelo a categorias normativo-legais — scilicet, figuras descobertas no modo como as normas expressas na lei se revelam — completamente estranho às ideias de «probabilidade», de «esferas de risco» ou dos «factos negativos». Tresler os «factos impeditivos» como «factos improváveis» ou «pertencentes à esfera do réu» levaria a um verdadeiro abandono do art. 342.º e/ou a um amálgama turvo de referências dificilmente compatíveis390. Neste ponto, somando o acabado de expor com a anterior impugnação da «teoria das normas», poderíamos ceder à tentação de propor uma «transmutação de todos os valores», i.e., a renúncia à «teoria» e a consideração do art. 342.º/1 e 2 como inaplicável, por serem indiscerníveis os «factos», que conduzem a efeitos opostos, do primeiro e do segundo daqueles números. 387 Designadamente, nas obras de GUILHERME MOREIRA, CABRAL DE MONCADA, CUNHA GONÇALVES ou mesmo ALBERTO DOS REIS, todos anteriores aos estudos de MANUEL DE ANDRADE. 388 Ou, mais amplamente, das distinções «constitutivos»/«impeditivos», «extintivos»/«impeditivos de segundo grau», etc.. 389 Rectius, e de acordo com o Código, pela pessoa contra quem se faz valer um direito. 390 O mesmo se dirá de quaisquer outras sugestões, como as das antigas teorias «das normas especiais», «da causa eficiente» ou da «facti species mínima». Cf. supra, n. 108 e as críticas de LEONHARD então mencionadas. Essas construções ultrapassadas iam pouco além de soluções verbais, aparentes, plenamente por preencher. 93 O lema de NIETZSCHE, porém, em nada nos ajuda. O repúdio total do art. 342.º só poderia resultar em completa perda de referências que permitam orientar e controlar as decisões. Por isso, temos de encontrar uma «teoria de normas», i.e., de frases. Há que ensaiar, primeiro, dar um passo atrás, em salvação de um sentido de juridicidade da teoria de ROSENBERG. É importante notar que a «modificação» de LEIPOLD operou num plano formal, tal como as lucubrações do n.º 7 do presente estudo. Por nossa parte, não se fez mais do que multiplicar a indistinção entre «impeditivos» e «constitutivos» por três ou quatro perspectivas. Tudo destinado a mostrar que a norma, esse ser etéreo — como se aprovava em Die Beweislast —, surgiria de tantas formas quantas as direcções possíveis da decisão e os modos, que são arbitrários, de a referir. O momento passou-se num campo estritamente conceptual, numa parte, e, noutra, numa investigação do significado da lei. Contudo, essa leitura da «teoria das normas» não é a única possível. A começar, assinale-se — reconhecendo algum mérito à «teoria das frases» — que a autonomia das «normas» introduzidas por «excepto quando», «salvo se», etc., por oposição à não autonomia das começadas por «se», «desde que», etc., ainda quando sucedidas por «não», corresponde, com impressionante rigor — para mais, não expresso —, à identificação de elementos sintácticos que decalcam as tradicionais previsão e estatuição da norma jurídica. Na oração subordinada condicional, os seus sintagmas constituem uma asserção, i.e., uma descrição do real, tal como, supostamente, a «previsão» da norma jurídica. A conjunção (ou locução conjuntiva) exprime a relação entre subordinada e subordinante, i.e., porque se trata de uma condição, expressa o efeito da subordinada na subordinante, exactamente como a clássica estatuição. Basta então discernir o significado da própria conjunção. Uma subordinativa condicional positiva (p. ex., «desde que») permite a subordinante, mesmo quando introduz uma descrição negativa do real. Porque permite a subordinante, apenas lhe acrescenta pressupostos, já que «a norma» vai no mesmo sentido. Uma subordinativa condicional negativa (p. ex., «excepto quando») impede a subordinante, qualquer que seja o conteúdo que apresente. Porque a impede, cria uma «norma» de sentido contrário, uma «contranorma». Sintacticamente, temos realidades completamente distintas, pois — não haja dúvidas — só da conjunção se extrai o nexo entre duas estruturas oracionais autónomas. Em termos semânticos — i.e., olhando ao significado das expressões linguísticas, mas tomadas «em si mesmas», no que têm de constante ou sensivelmente «acontextual» —, a questão merece, porém, uma apreciação oposta, dado que uma condicional positiva de conteúdo negativo e uma condicional negativa de conteúdo positivo surgem como esquemas puramente alternativos. A possibilidade de opção, aliás, restringe-se às línguas que a comportem. Conjectura-se que, nalgumas línguas, se disponha apenas de um modo (p. ex., positivo) de traduzir uma relação condicional, deixando outros problemas de significação para os restantes elementos oracionais. Logo do alemão para o português se nota uma mudança, pois — usando um exemplo tradicional da doutrina rosenberguiana — «wenn nicht» é condicional negativa e «wenn ... nicht», com intercalação de elementos da subordinada, condicional positiva (com oração de conteúdo negativo), ao passo que o nosso «se» é sempre condicional positiva, localizando-se o «não» mais perto ou mais longe consoante as exigências do verbo e dos complementos da segunda oração. 94 Há, porém, um terceiro e, depois do que já estudámos, mais interessante prisma de análise linguística, o pragmático, que atende ao concreto uso da linguagem, a qual é também instrumento de acção. Aqui, temos por possível uma diferença entre condicional negativa e positiva, que noutras línguas requererá um meio próprio de expressão391. Além da questão do «significado semântico» (da lei) — questão a que os linguistas, segundo parece, chamam formal, porque se trata de um significado constante, olhando às expressões «em si mesmas», um significado que abstrai de uma série de «significados acessórios» que podem ou não ocorrer, conforme o uso dado à expressão — temos de ponderar o que certos significados, por vezes, implicarão, ao papel que a lei (e o seu significado) desempenha, temos de tentar, enfim, aquela perspectiva pragmática dos textos legais. Porque esta zona é — e não só para um leigo — movediça, coibimo-nos de arriscar um grande aprofundamento, mas também não seria lícito renunciar a um prisma que se apresenta com alguns atractivos. ROSENBERG esclareceu, como vimos, que os «seus» «salvo se», «excepto quando», etc., não são hieróglifos, antes correspondendo ao modo normal de (em alemão) se exprimirem excepções. É claro que isto diz pouco, mas o A. pretenderia dizer mais. Não é deslocado apelar à noção, quase de senso comum, de que praticamente não há sinónimos. É manifesto, p. ex., que «morrer» e «deixar-nos» não são puros sinónimos, tal como o não são — aproximando-nos do comando legal — «dê-me um café!» e «não se importava de me arranjar um café?». É admissível, então, que «terá direito ao preço desde que não...» e «terá direito ao preço, excepto se...» não «signifiquem» o mesmo. Os redactores do BGB, junte-se, não convencionaram que estas expressões indicariam uma distribuição do ónus da prova, usaram-nas conscientes de que elas poderiam ter esse sentido. LEIPOLD392 viu isso mesmo, embora, numa apreciação, como dizemos, «formal», «estática» da questão, apenas a tenha associado à relação de normalidade ou «probabilidade» em que o «mais amplo» contém o «menos amplo». Porque tinha a «probabilidade» por um bom critério de distribuição do ónus da prova em direito civil, ficou-se por aí. A «probabilidade», contudo, além de muito ambígua no seu significado, surge como um fundamento mais do que duvidoso de distribuição, mesmo quando tomada «abstractamente» e só relevando para o legislador, não para o juiz393. Mas não é esse o ponto decisivo. Decisivo é que a diferença entre um «excepto se» e um «desde que não» é muito mais rica, «pragmaticamente» — e, com o passar do tempo, «semanticamente» —, do que essa diferente manifestação de «probabilidade»394. Se o empregador pedir: (1) «leve o carro à revisão, excepto se lhe telefonar a dizer que o levei eu» (a vírgula é importante), faz algo completamente diferente de ordenar: (2) «não leve o carro à revisão, a não ser que eu não telefone»395, e também de instruir (3) «leve o carro à revisão se eu não lhe telefonar a dizer que já o levei». Na primeira expressão, autonomiza-se o «leve o 391 Na dificílima distinção entre semântica e pragmática, seguimos F. OLIVEIRA e C. GOUVEIA, nas obras introdutórias indicadas na bibliografia, bem como, mais desenvolvidamente, FERREIRA DE ALMEIDA, Texto, vol. I, 141-172. 392 Beweislastregeln, 53-7. 393 Cf. as referências supra, no ponto 8, esp.te n. 245. 394 Chamou-nos a atenção para o problema JOSÉ PINTO DE LIMA, O papel da semântica e da pragmática no estudo dos conectores, 421-7, que explora, sobretudo, o amplo espectro de sentidos da adversativa «mas». 395 Esta segunda fórmula será menos comum, dada a sucessão de negações. 95 carro» com a entoação ou, na escrita, com a vírgula. Esse é o conteúdo mais importante da instrução dada, é aquilo que não pode esquecer-se. O termo «excepto» diminui o valor da condição da ordem. Sem dúvida, talvez por o telefonema ser algo de improvável, mas, admissivelmente, também por o empregador não se importar nada que o trabalhador perca tempo a ir à oficina e voltar. Em (2), tudo se passa às avessas; é manifesto que o patrão não quer arriscar ter de pagar duas revisões do automóvel ou ter um conflito com o empregado para o forçar a pagar ele a segunda; o trabalhador não pode esquecer-se de que só se o outro não telefonar é que deve levar o carro à oficina. O exemplo (3) distingue-se muito bem na língua oral, pois há monotonia do princípio ao fim. Talvez se devesse, na escrita, ter separado a subordinada condicional por uma vírgula, mas não descreveria bem o que se passou oralmente. Neste caso, ambos os elementos foram colocados em igual plano. Os três exemplos são — crê-se — elucidativos. Poderá isto ajudar a «teoria das normas»? Não muito, segundo parece. Admita-se que, num número apreciável de casos, o «salvo se», o «excepto quando», etc., mostrem por exclusão de partes aquilo que, para o legislador, é mais importante, mais valioso, aquilo que tem de ser provado e, se o for, (quase) resolve o problema — mesmo quando, por acaso, nem se tenha tomado perfeita consciência disso. Contudo, nem todas as situações semelhantes implicarão idêntico sentido, nem a «teoria das normas» se resume às condicionais negativas. Desde logo, a língua oral tem muito mais meios expressivos do que a escrita, ou melhor, do que a escrita acessível aos redactores das leis, que se confinam à forma mais ou menos rígida do artigo. Uma paragem na fala, a meio da oração, pode exigir uma vírgula na escrita, mas, quando, pela duração, adquire um máximo valor expressivo, será representada por reticências. A lei, porém, não usa reticências. Os gestos e o olhar têm uma função significativa incontestável, mas, na escrita, têm de ser substituídos por perífrases e explicações suplementares. Isto não é determinante. Já o é o facto de a lei — e, em especial, a «segunda codificação» e seus derivados — assumir um nível muito elevado de «formalização», querendo assim traduzir-se que há, nos textos legais, uma preocupação intensa com a clareza, muito mais do que com a expressividade, com a repetição de termos que tenham o mesmo significado (semântico), quando outros poderiam implicar variações enriquecedoras nos «significados acessórios», e que a visão da legislação como uma técnica acaba por reduzir o seu léxico, em favor dos instrumentos já usados e menos propiciadores de dúvidas interpretativas. Esta formalização reduz muito o lugar em que caberiam os meios «pragmáticos» de expressividade. Ainda sobram os consagrados, como, justamente, o «excepto se». Mas será que sobram efectivamente quando a lei em causa é um código civil, que, ao longo de anos, nas mãos de variadas pessoas, se viu envolvido em propostas e retoques motivados por problemas jurídicos intrincados? No nosso código, além do mais, a intervenção final de PAULO MERÊA — embora um conhecedor da maioria das questões jurídicas envolvidas —, com uma intenção específica de «rigor» linguístico, de obediência ao vernáculo, não terá atingido as «implicações» dificilmente exprimíveis dos redactores iniciais396? Sobre a «segunda codificação» (alemã), cf. MENEZES CORDEIRO, Tratado, 51-5 (esp.te p. 54), no seguimento de Da boa fé, 325-370. Quanto à formalização linguística do BGB, em confronto com as opções napoleónica e austríaca, cf. tb. ZWEIGERT/KÖTZ, p. 143. Documenta-se em VAZ SERRA, Revisão geral, 28, 34-5, 39-40, 50 e 54-6, PIRES DE LIMA, Reforma, 396 96 Tenhamos em conta, ainda, que «dar mais importância» ou «dar menos importância» pode também expressar-se de outras maneiras. P. ex., a diminuição do valor de um elemento da «facti species» far-se-á comummente usando «qualquer», que não dá origem a um «impeditivo», segundo a «teoria das normas». Guardou-se para o fim o aspecto chave que, por si, já afasta o acolher da «teoria» sob as considerações anteriores. A descoberta da «contranorma» não se faz apenas através daquele género de recursos sintácticos, mas também pela simples separação, com redacção invertida, dos enunciados legais. Exemplifique-se com a relação entre os arts. 503.º/1 e 505.º. O primeiro só confere direito à indemnização quando o dano provenha «dos riscos próprios do veículo». Provir dos riscos do veículo é, portanto, «facto constitutivo». O art. 505.º, porém, que, pela sua autonomia de redacção, é «contranorma», ao referir a «força maior estranha ao funcionamento do veículo», repete o que já constava do art. 503.º/1397. Ora não é crível que uma discussão sobre se o art. 505.º deveria ou não incluir a «força maior», tendo em conta o 503.º/1, pudesse relacionar-se de alguma forma com o facto de uma das opções levar à despromoção da «não força maior» de «facto constitutivo» a uma «força maior» como «facto impeditivo». A maioria das «contranormas» tem esta natureza. Por vezes, a separação estará até unicamente preocupada com a simplicidade dos enunciados legais.398. Em quase todos os casos, porém, a autonomização legal há-de seguir uma prévia autonomização de «tópicos» substantivos, correspondente ao desenvolvimento jus-científico de subinstitutos, processo que espelha particularidades de direito material, sem qualquer relação com o ónus da prova. Dêmos o pior dos exemplos: a legítima defesa. A afirmação comum e acentuada de que a repartição do ónus da prova no art. 483.º/1 (i.e., o art. 487.º/1) se funda na função de garantia do princípio da «culpa» — ou seja, não no sentido de que quem tem «culpa» deve indemnizar, mas no de que quem não tem «culpa» não deve399 — convive sem o menor distúrbio com a opinião generalizada de que incumbe ao lesante a prova dos pressupostos da legítima defesa400. Admitindo a bondade do art. 487.º/1 — originalidade portuguesa que mostra alguma desconfiança quanto ao articular dos arts. 342.º/1 e 51-6, e ANTUNES VARELA, Do projecto, 15-6, a mesma intenção (concretizada) de «rigor» na redacção do CC, que se reforçou com a comissão a PAULO MERÊA de uma apreciação e revisão especificamente linguística do diploma. Pode observar-se uma amostra da minúcia das revisões nas «emendas autógrafas» de PIRES DE LIMA, ANTUNES VARELA, então ministro da justiça, e PAULO MERÊA reproduzidas em Código civil português. Exposição documental, pp. 58-9, 72-3, 80-1. Cabe lembrar que, como vimos, esses cuidados na redacção não chegaram, tanto quanto se sabe, ao ponto de pretenderem exprimir a distribuição do ónus da prova. 397 Vejam-se os insuspeitos PIRES DE LIMA/ANTUNES VARELA, vol. I, p. 519, que explicam um problema de «força maior estranha ao funcionamento do veículo» através dos «riscos normais», i.e., «próprios», embora não utilizassem o discurso inverso nas pp. 514-5. Note-se que a repetição invertida do art. 505.º, em rigor, impediria até o regular funcionamento da «teoria». Se a força maior/não força maior tanto vem prevista na «norma constitutiva» quanto na impeditiva, qual das duas será relevante? Poderá resolver-se a questão atendendo a que «os riscos próprios do veículo», pela sua amplitude, carecerão geralmente do preenchimento através do art. 505.º. Por outras palavras, o critério de decisão será sempre a «contranorma». Numa linha muito próxima da «teoria das normas», poderíamos ainda dizer que o «só» do art. 505.º torna «excepcional» todo o seu preenchimento. Ultrapassando agora a «teoria», podemos dizer que, neste caso, haverá talvez argumentos de fundo favoráveis à repartição por ela indiciada, designadamente devidos à «teoria das esferas», a que temos aludido (v.g., supra, na n. 238) e que afastaria o princípio do queixoso. 398 Cf. várias observações deste género em WAHRENDORF, 52-5. 399 Esta função de garantia terá sido a única atendida nos trabalhos preparatórios do BGB (Cf. V. SCHENCK, 82-4). 400 Cf., por todos, BAUMGÄRTEL/LAUMEN, 192-3, que só apontam como desvios ao consenso HELLWIG, em 1912, e, naturalmente, LEONHARD. 97 483.º/1 — o que explica o ónus do lesante que alegue ter agido em legítima defesa? Não deve argumentar-se com os «factos negativos». Por um lado, porque nada impede que a agressão legitimadora da defesa seja um comportamento omissivo. Por outro — e isto é, de longe, o fulcral —, porque a quase totalidade dos casos de legítima defesa ocorre num espaço-tempo reduzido em que a referência a «factos positivos» ou «negativos», para efeitos de ónus da prova, não tem nenhum sentido. No nosso ambiente, uma discussão do tema dos «factos negativos» estaria muito favorecida pelo estudo — inédito! — de SOUSA E BRITO sobre a omissão, que pouparia, p. ex., que se dissesse, como BAUMGÄRTEL, que «é negativo, não o facto, mas o juízo de facto». SOUSA E BRITO dedicou a parte de leão do seu trabalho401 à crítica das várias aparições da «teoria subjectiva da negação» — que, acrescentemos, ia dando ares da sua graça em sede de ónus da prova noutras tiradas, como «a simples impugnação do alegado pelo autor não é um facto, mas a negação do facto que aquele afirma». O A. fá-lo num regresso a distinções e conceitos aristotélicos que a lógica contemporânea, em seu entender, pode corroborar. Por nós, bastaria o asserto, que se lê na investigação cit., de que a negação é o complementar do negado no género que ambos perfazem, o que — tanto quanto julgamos saber — fora do discurso jurídico, na teoria matemática dos conjuntos, soaria até como a maior trivialidade. Porque a negação da negação é o negado, desde logo teríamos que, no ónus da prova, como se diz há muito, não há um problema com os factos negativos, mas sim com a prova de partes muito extensas do género. É pouco mais difícil provar que PRÜTTING, em Gegenwartsprobleme, nunca usa a expressão «bewegliches System», do que provar que ROSENBERG escreve «Beweislast» em todas as páginas da obra com esse nome; é tão difícil provar que o suposto devedor de obrigação pecuniária, durante o ano após o vencimento, nunca se apresentou a cumprir, quanto provar que a companhia da electricidade manteve sempre (nunca interrompeu402) o fornecimento nesse mesmo período. Daí que a expressão «facto negativo», por oposição a «positivo», só faça sentido para a teoria do ónus se corresponder a uma multiplicidade de elementos limitados de uma parte extensa do mundo. I.e., o não cumprimento de uma obrigação pecuniária nos dois meses posteriores ao vencimento é um «facto negativo» porque — simplificando — quer dizer que o comportamento do devedor nesses dois meses (parte extensa) foi sempre diferente de pagar (multiplicidade de elementos limitados). A relação «ser diferente de» é absolutamente irrelevante, pois bem lá poderia estar «ser igual a» (p. ex., fornecer electricidade). E, para o ónus, «facto positivo» (oposto a «negativo») só tem sentido se designar uma pequena quantidade de elementos limitados de uma parte extensa do mundo. I.e., ter pago é um «facto positivo» apenas porque esse acto é uma pequeníssima parte da totalidade dos comportamentos que o devedor tomou ao longo de certo período. A diferença, para a prova, é que uma parte pequena do mundo é observada de uma vez só (v.g., por uma testemunha) e regista-se com facilidade (v.g., num documento), ao passo que uma parte extensa (i.e., muitos elementos de uma parte extensa) só será bem conhecida através de muitas observações (v.g., por muitas testemunhas), que se registam com grande dificuldade (v.g., em muitos documentos ou com o preenchimento constante de um documento). Daqui resulta, naturalmente, que a diferença entre «factos negativos» e «positivos» é de grau e que, a partir de «certo» ponto, os «factos» não são nem negativos nem positivos, mas sim «alternativos». Que o depositário tenha deixado fechada à chave a porta do cofre na noite do assalto não é um facto positivo nem um facto negativo, mas sim um «facto alternativo», pois é tão observável, registável e limitado que a porta estivesse, naquela noite, fechada à chave, como que, naquela noite, estivesse destrancada. Já fora do ónus, isto deixaria adivinhar que também a diferença entre «dever de agir» (comando, cumprido por acção) e «dever de omitir» (proibição, cumprida por omissão) é apenas de grau e que muitos deveres serão «deveres de optar» (faltará um termo melhor). O «dever de agir» implica uma grande limitação na liberdade do sujeito, pois — simplificando —, em certo momento, a generalidade dos comportamentos será ilícita, e só um será lícito, enquanto que o «dever de omitir» (a proibição) restringe muito Estudos, pp. 70-147. A referida afirmação de BAUMGÄRTEL surge em Beweislastpraxis, p. 113, apoiada no estudo de V. GREYERZ referido supra, n. 382. 402 «Interromper» contém aqui um sentido negativo, pelo que «não interromper» é positivo. 401 98 pouco a liberdade, visto que, naquele momento, a generalidade dos comportamentos é lícita e só um será ilícito. Contudo, a «obrigação» de seguir pela faixa da direita não é um dever de agir nem de omitir, tal como a «proibição» de pisar a faixa da esquerda não é uma proibição — o que já a equivalência das expressões demonstra —, visto que são sensivelmente iguais a quantidade dos comportamentos possíveis lícitos e a quantidade dos comportamentos possíveis ilícitos (para quem conduza na estrada). O que, aliás, é confirmado pelo facto de o cumprimento deste dever tanto poder concretizar-se num dirigir-se para a faixa da direita (após uma ultrapassagem) como num não dirigir-se para a da esquerda (se não houver um obstáculo a ultrapassar). Tomemos o seguinte caso: David feriu mortalmente Golias com uma pedrada. Os exames médico-legais determinam que Golias avançava em direcção a David quando sofreu o embate da pedra na fronte. Uma testemunha, que pareceria da maior credibilidade, assevera que Golias, confiante na sua superioridade física, se dirigia para o frágil David ameaçando que o matava. Outra testemunha, não menos digna de crédito, garante que David chamou Golias e, logo que teve a certeza de que não falharia o golpe, aproveitou o descuido do bom gigante para o derrubar. O tribunal sabe apenas, além disto, que os dois indivíduos, de índole belicosa, nutriam uma profunda antipatia mútua desde há séculos. Aqui, nem tem cabimento entender os «negativos» como, em si, de prova difícil, nem muito menos o tem a ideia antiga de que os «negativos» não seriam «directamente observáveis». Pretender que uma distribuição em benefício do lesante incentivaria os delinquentes civis a alegar legítima defesa em todas as ocasiões também não colhe. Primeiro, visto que já se sentem incentivados, nos casos simples do 483.º/1, a alegar que o seu acto não foi «culposo». Depois, porque o réu — é o caso normal — há-de defender-se com tudo o que for minimamente verosímil, independentemente de quem tenha o ónus da prova. Por fim, porque, na maioria (só) das situações relativamente esclarecidas, a legítima defesa é uma hipótese inverosímil. David terá de provar403, contra os herdeiros de Golias, que este o ameaçava, apenas porque a legítima defesa é uma «contranorma», mas não se sabe por que razão a legítima defesa é uma «contranorma». Ou melhor, sabe-se perfeitamente. A legítima defesa é um tópico comum do pensamento jurídico, moral e religioso desde há milénios. Tem uma complexa fundamentação substantiva (stricto sensu), que apela às ideias de agressão ilícita, talvez culposa ou mesmo dolosa e de conflito de direitos. A legítima defesa, por outro lado, é entendida como figura genérica, e não como restrição à responsabilidade civil, pelo que surgiria forçosamente na Parte Geral, com autonomia. Tudo isso se aceita, mas não tem qualquer reflexo para o ónus da prova. Apesar de uma franca oposição do princípio do agressor, a «teoria das normas» — com toda a doutrina — faz incumbir ao lesante a prova dos pressupostos da licitude da defesa, parecendo isto significar, afinal, que a «teoria» quer atribuir o risco de non liquet ao sabor do acaso de uma identificação de figuras substantivas perfeitamente insensível a quaisquer valorações próprias do nosso instituto. Naturalmente, só nos preocupa o problema da indemnização, e não a questão jurídico-penal. Aqui rege o in dubio. Convém acentuar que um eventual enxerto da acção civil na penal não pode alterar a distribuição do ónus da prova. Assim, p. ex., ISABEL ALEXANDRE, Ónus da prova, 69-92 e passim. Por muito que à primeira vista custe aceitar, nada impede que, para efeitos civis, se considere certo facto como se tivesse sido provado e, no problema penal, se decida com base no facto contrário. As «questões de facto» são diferentes porque o são as «questões de direito» — cf. supra, n. 73. 403 99 13. Tópicos-normas. A afirmada coincidência entre ónus da prova e ónus da alegação. Explicação da «teoria». Sentido do art. 342.º Prosseguindo na tentativa de compreender o funcionamento e significado das propostas rosenberguianas — e do art. 342.º/1 e 2 — fora do âmbito de relevância dos cuidados de redacção do BGB, devemos indagar o que sejam essas «figuras substantivas», esses «tópicos» em que se resolvem, via de regra, as «normas» que deixariam descobrir a distribuição do ónus. Pensamos vir a obter aqui a explicação do lapso em que redundou a «teoria das normas», ainda quando a entendamos afastada do estrito legalismo de ROSENBERG, explicação essa que poderá estender-se à sua aludida aceitação acrítica, com que passo a passo deparamos404. Recorde-se, em primeiro lugar, o «princípio geral» invocado por aquele A.: nenhuma norma poderia ser aplicada sem que o juiz se convencesse da concretização de todos os elementos da respectiva facti species. Vimos no ponto 5 que este suposto «princípio», em si considerado, não é sustentável. Nessa medida, chamemos-lhe agora preconceito, e não princípio. Nos pontos 5 a 7, inicialmente com apoio da «teoria modificada», detectámos a total esterilidade da ideia de «não aplicar normas» para efeitos da distribuição do ónus, do que resultou que a «teoria», no positivismo que pressupõe, faça uso exclusivo de frases, de modos de formular, de enunciados legais, e não de normas. Assim, acaba por não dar quaisquer soluções nos casos de falta de um texto regulador e por conduzir a uma atribuição do risco de non liquet ao sabor das contingências da redacção da lei405. ROSENBERG não podia ter deixado de reportar o seu «princípio» à aplicação de normas. Isto porque, numa perspectiva que o A. decerto perfilharia, são as normas que constituem o sistema jurídico, que determinam a solução de cada problema. A norma é o conteúdo final que, por interpretação, lato sensu, se obtém perante a matéria em bruto das fontes. O direito, neste entendimento, não passa de um complexo de normas406, que pareceriam assim um ponto substancial de apoio. ROSENBERG nunca admitiria que a distribuição do ónus decorrente das suas teses assentasse apenas na sintaxe legal; diferentemente, pensou decorrer de uma redacção distinta um conteúdo normativo também distinto407. Porém, será precisamente ao substituirmos as normas por unidades aparentemente «menos substanciais» — os tópicos da argumentação jurídica — que a «teoria» e o preconceito da necessidade de prova total poderão ver-se decisivamente esclarecidos, embora não justificados. Cf. o início do ponto 12 e a n. 380. Cf. supra, nos pontos 8, 9 e 12. 406 Nos nossos dias, é claro, semelhante compreensão do direito não pode ser defendida, pelo menos, sem esclarecimentos aprofundados. Basta pensar na superação do subsuntivismo e da distinção tradicional entre questão de facto e questão de direito, ou na acentuação da prioridade do problema concreto. Cf. supra as indicações da n. 73. 407 Por isso mesmo, ROSENBERG defendia que não só o «elemento literal», mas também «os restantes elementos da interpretação» deveriam ser utilizados para identificar «cada uma das normas» (cf. supra, no ponto 4, designadamente na n. 86). Dada a identidade entre «uma» norma que preveja a ocorrência x e um conjunto «norma»/«contranorma» em que não-x seja elemento da previsão da segunda (cf. supra os pontos 5 a 7, esp.te o comentário iniciado na n. 197), será forçosamente ilusória a possibilidade de separar «normas» através de algum argumento que ultrapasse o plano da respectiva formulação. 404 405 100 As conhecidas investigações paralelas de VIEHWEG408 e PERELMAN409 sustentaram com grande ressonância a natureza tópica e/ou retórica do pensamento jurídico e, em especial, da aplicação concreta do direito. Incluindo a defesa da prioridade, no mundo jurídico, do problema410, o posicionamento metodológico destes AA. caracteriza-se em simultâneo e muito significativamente pela recusa da recondução do direito a um sistema; e não só a um sistema lógico-dedutivo411. Antes disso, a tópica-retórica contrapõe à matriz cartesiana de uma racionalidade da evidência um discurso que conduza a uma razoabilidade convincente, já aceite por ARISTÓTELES e CÍCERO. Em vez do apoio em verdades necessárias, dá-se lugar à opinião apenas verosímil, acolhida generalizadamente, pelos mais sábios ou pela generalidade dos sábios, a «endoxa» (’ένδοξα). Em vez do apodíctico, o dialéctico. A tópica-retórica recusa para o direito a dedução a partir de axiomas, defendendo antes o papel da ars inveniendi, em que se buscam premissas «endoxais», os tópicos, cuja actuação assistemática e por vezes contraditória leva, em aproximações sucessivas, à resolução do problema412. E acentua-se que a aparente rigidez produzida pelos textos legais é também retoricamente superável413. Seria possível a pré-elaboração de catálogos de tópicos, destinados a facilitar a «técnica» (τέχνη, ars) do pensamento problemático414. Da maior relevância é ainda o afastamento aqui propugnado de um saber intemporal e universalmente válido, antes pretendendo deixar o direito no campo do discursivamente situado, ou seja, na área das afirmações aceitáveis apenas pelo auditório a quem o discurso retórico se dirige. O «auditório universal» pouco passará de uma utopia415. A tópica-retórica foi alvo de crítica cerrada que temos de aceitar416. Na formulação de VIEHWEG, há que recusar-se o domínio do problema e respectiva discussão como únicos pontos de apoio inarredáveis. Não é só a ideia de legalidade que se impõe, mas também a necessidade de um pensamento sistemático, que, como acentua CANARIS, de modo nenhum se pode reconduzir ao sistema axiomático-dedutivo. Poderá o direito partir forçosamente do problema, mas não se limita a ele. VIEHWEG pecou ainda, claramente, por ter deixado incluir nos catálogos de «tópicos» figuras extremamente heterogéneas, cujos papéis não podem ser equivalentes e que, por conseguinte, deixam a construção do A. cair em grande ambiguidade. Em termos gerais — abrangendo, portanto, a elaboração de PERELMAN — deve ainda rejeitar-se a tópica-retórica por deixar parecer que não consegue abandonar totalmente o plano empírico de observação da argumentação e das soluções jurídicas, em vez de discutir a bondade (jurídica) de umas e outras. Por isso mesmo, afirmar que os argumentos e as soluções hão-de variar conforme o auditório ou os adversários é esconder o problema — do dia-a-dia e incontornável — de decidir quais os aceitáveis. Não nos interessam, todavia, a tópica de VIEHWEG ou a retórica de PERELMAN propriamente ditas, mas sim algumas ideias mais simples e possivelmente menos contestáveis que a Em Topik und Jurisprudenz, 5.ª ed., 1974 (1.ª ed. de 1953). Inúmeros artigos de PERELMAN vão surgindo ao longo de 40 anos, desde 1945, e podem encontrar-se, em grande parte, na colectânea Éthique et droit, Éditions de l’Université de Bruxelles, Bruxelas, 1990. Ultrapassando o jurídico, deve reter-se a obra, em co-autoria com LUCIE OLBRECHTS-TYTECA, Traité de l’argumentation. La nouvelle rhétorique, 5.ª ed., Éditions de l’Université de Bruxelles, Bruxelas, 1992 (1976). Citamos o trabalho de síntese Logique juridique. Nouvelle rhétorique, 2.ª ed., 1979. 410 Cf. VIEHWEG, v.g., 31-45. Cf. supra, n. 73. 411 Cf. VIEHWEG, 46-57, 64-6, 82-91 e 105-110, aqui negando o carácter de sistema ao «sistema móvel» de WILBURG. PERELMAN, contudo, admite uma «exigência sistemática» no discurso jurídico (Logique juridique, p. 173). 412 Cf. VIEHWEG, 19-30, na análise das tópicas aristotélica e ciceroniana, e passim. Grande parte do estudo de VIEHWEG destina-se, aliás, a demonstrar os avanços e recuos da tópica na história do pensamento europeu. PERELMAN, Logique juridique, 99-103 e 159-177, tem ainda o interesse de aludir ao tratamento retórico tanto da «questão de direito», quanto da «questão de facto». Na contraposição entre os pensamentos axiomático-dedutivo e tópico-problemático, cf. tb. ESSER, Grundsatz, 44-54, 218-23 e 239-41, etc.. 413 Cf. PERELMAN, Logique juridique, 135-152. 414 Cf. VIEHWEG, 24-9, 35-8, 55-7, etc., e PERELMAN, Logique juridique, v.g., 87-96. 415 Cf. PERELMAN, Logique juridique, 105-133, com um grande desenvolvimento do conceito de auditório, que seria fundamental («a retórica […] não respeita tanto à verdade, quanto à adesão […] dum auditório»), e VIEHWEG, 42-3 e 111-9, sendo de notar que estas últimas págs. datam de 1973, quando a 5.ª ed. foi publicada. 416 Remeta-se a LARENZ, Metodologia, 201-4, 242-7 e 697, CANARIS, Pensamento sistemático, 243-277 (esp.te 255-269), e MENEZES CORDEIRO, Da boa fé, 1138-48. Note-se que não têm igualmente interesse para o nosso estudo as «possibilidades remanescentes» que CANARIS deixa à tópica. 408 409 101 alusão a «tópicos» pode propiciar417. Também não pretendemos encetar uma discussão jus-metodológica, que se encontraria, naturalmente, deslocada, mas apenas aproveitar algumas qualidades que se observam na argumentação jurídica418. Usamos «tópicos» no sentido de fragmentos pré-elaborados do discurso jurídico. A primeira ideia que nos parece útil é, então, a de que o tratamento doutrinal ou jurisprudencial de qualquer problema é fragmentário, plural, no sentido de que contém, com toda a frequência, um aglomerado de referências que, à partida, poderíamos considerar individualmente. Não há uma enunciação concentrada disponível para enquadrar na totalidade cada grupo de casos análogos; não temos, p. ex., para cada problema, um artigo na lei que o resolva em exclusivo. «Aglomerado» não significa que o produto não tenha unidade e coerência, mas apenas que se junta para a decisão uma multiplicidade de elementos. Um legalista concordaria que a decisão resulta do articular de inúmeros trechos legais e de «princípios» deles «inferidos». ROSENBERG disse que convergem numerosas «normas» para resolver cada caso419. Outros apelam aos «princípios materiais», aos «interesses», aos «valores», aos «fins», às «consequências» e, de novo, às normas. Alguma metodologia moderna aponta a interferência de vários «modelos de decisão»420. Todos usam o plural para identificar os componentes de uma fundamentação jurídica — e não será imaginável algo diferente. A segunda ideia que se quer veicular é a de pré-elaboração desses elementos do discurso. Salvo nos casos de «descobertas jurídicas» — e talvez mesmo aí — tanto o juiz quanto o jurisconsulto, perante um caso a resolver, recorrem generalizadamente a pontos de referência que surgem como dados anteriores. Todos usamos os artigos das leis em vigor, as decisões antecedentes dos tribunais e figuras consensual ou tradicionalmente consagradas. Nestas últimas, incluem-se o venire contra factum proprium, que não será lícito, o negócio indirecto, que pode convocar o regime correspondente ao fim visado, a garantia bancária on first demand, que, além do mais, dispensará a aceitação do beneficiário, a traditio brevi manu, que transmite a posse, o res perit domino suo, etc., etc.421. Em todos os casos, temos fórmulas que apresentam uma solução jurídica. Por conterem uma solução para grupos de problemas, será mais completo falarmos em «tópicos-normas» do que, simplesmente, em «tópicos». Já pela sua pré-elaboração se evidencia que os tópicos-normas são um produto histórico. Entenda-se tal historicidade com o significado de que os tópicos não são criados nem descobertos pelo jurista no momento em que tem de fundamentar racionalmente certa solução. Pelo contrário, são-lhe oferecidos pela tradição jurídica e pelo acervo legislativo, com todos os acidentes e contingências próprios. O decisor não participa ordinariamente na elaboração dos tópicos. Em sentido inverso, estes, sejam lei ou tradição, determinam os nossos quadros mentais, formados através da aprendizagem jurídica, em que se deverá incluir a leitura do jornal oficial. Ora a fragmentação que caracteriza os tópicos é, assim, também um produto histórico. Na fundamenMENEZES CORDEIRO, Da boa fé, 1132, aponta a ocorrência de um uso despropositado de «tópicos» quando seria preferível falar de «princípios», «vectores» ou mesmo «normas». Mostraremos a especificidade dos «tópicos». 418 Ao observarmos certas características, situamo-nos numa perspectiva empírica do direito, semelhante à da história ou da comparação jurídicas, e não na perspectiva normativa, hoc sensu, que é a dos juristas, sejam juízes ou doutrina. 419 Beweislast, designadamente, 99-105. Cf. tb. supra, no ponto 4. 420 Cf. MENEZES CORDEIRO, Introdução, CVII-CXII. 421 Termina aqui a identidade entre o nosso ponto de vista e os da tópica de VIEHWEG. Há coincidência, portanto, apenas à superfície; não assumimos os aspectos fundamentais das concepções do A.. 417 102 tação de uma decisão jurídica, sentimos tantos passos quantas as unidades do repertório argumentativo a que temos de recorrer para a construir. P. ex., para remunerar um gestor de negócios precisamos de atravessar, no sistema português, quatro momentos: a indicação negativa do art. 470.º/1, 1.ª parte, a consideração de um exercício profissional, a remissão do art. 470.º/2 e as opções do art. 1158.º. Mas temos aqui apenas um produto histórico. Com exactamente as mesmas soluções, se o modelo fosse a gestão de negócios, em vez do mandato, e a redacção do art. 470.º se invertesse, encarando primeiro a gestão profissional422, a decisão teria sido dada num raciocínio simplificado, com um único elemento. Os tópicos-normas não são normas — e este aspecto tem de ser sublinhado. Poderão talvez ser obtidas normas através da interpretação, lato sensu, dos tópicos do pensamento jurídico423. Estes (1) são fórmulas, são textos ou, com mais rigor, projectos de textos, têm existência linguística, surgem efectivamente na argumentação, enquanto que as normas têm uma natureza conceptual; apercebemo-nos delas directamente apenas pelo pensamento. A norma (2) é um resultado final que soluciona o caso ou grupo de casos; os tópicos-normas, pelo contrário, são dados de que dispomos ab initio e de que partimos em direcção às normas. P. ex., começando num enunciado legal424, como sugere o art. 9.º/1, tentamos chegar à norma que nele se acolhe. As normas (3) podem ser expressas de tantas formas quantas excogitarmos, ao passo que os tópicos têm a expressão que têm, porque são eles mesmos expressão: o art. 342.º/2 usa «factos extintivos», e não «factos que importem a extinção»; o art. 268.º/4 permite rejeitar o negócio «salvo se [a outra parte] conhecia a falta de poderes», e não «desde que a contraparte ignorasse», etc.. Os tópicos legais, é claro, não consentem qualquer oscilação de conteúdo, salvo nos casos de duplicação dos textos utilizáveis. Os tópicos tradicionais permitem variações: poderemos dizer em alternativa, p. ex., casum sentit dominus ou res perit domino suo, e nemo auditur ou tu quoque. Contudo, mantêm a firmeza de autonomizarem momentos da argumentação jurídica. Toda a solução fundamentada de um qualquer caso concreto que surja pressupõe (4) uma norma; os tópicos, ao invés, existem em número limitado425. Figuradamente: as normas são o direito «verdadeiro», mas intangível; os tópicos-normas são aparência palpável426. Não devemos, por fim, identificar os nossos tópicos com as «fontes do direito», sendo manifesto, ao mesmo tempo, que é nelas que se encontra a generalidade dos tópicos. A fonte é institutiva de juridiciO art. 470.º bem poderia dizer assim: «1 – O gestor é remunerado de acordo com as tarifas profissionais; na falta destas, pelos usos; e, na falta de umas e outros, por juízos de equidade. 2 — Quando, porém, a gestão não corresponder ao exercício da actividade profissional do gestor, o dono do negócio tem apenas as obrigações estabelecidas no art. 468.º.» O art. 1158.º/2 remeteria ao art. 470.º/1. 423 A metodologia moderna poderia acusar esta afirmação de falta de rigor. Cf., p. ex., CASTANHEIRA NEVES, Metodologia, 85-97 e 143-4. Para os fins da distinção que empreendemos, no entanto, o rigor seria escusado. 424 Antes, claro, estará o problema jurídico. Cf. supra, n. 73. Pretendemos agora simplificar. 425 Não só para o campo jurídico, a recondução de qualquer juízo prático, no sentido kantiano, a uma norma é mostrada com desenvolvimento na influente obra de ALEXY, Theorie der juristischen Argumentation. Die Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der juristischen Begründung, 3.ª ed., Suhrkamp, Francoforte no Meno, 1996 (1990, 1.ª ed. de 1978), 221-3, 245-250 e, p. ex., 90-6, 112-7 ou 146-152, em diálogo com outros AA.. OLIVEIRA ASCENSÃO, O Direito, 231-242, ao apresentar as «soluções do caso por vias não normativas», acolhe um conceito de norma mais restrito do que o nosso, mas que em nada contende com a distinção entre normas e tópicos-normas. 426 A metáfora é platónica. Mas não passa de metáfora. Não se cai num platonismo. Salvo quanto à natureza «final» das normas, as mesmas razões — entre outras fáceis de figurar — distinguem os tópicos-normas dos princípios. 422 103 dade, enquanto que o tópico se reconhece apenas por aparecer na argumentação dos juristas. A fonte deve ser atendida; o tópico é ou pode ser 427 utilizado. Afirmámos que ROSENBERG não podia ter deixado de se referir às normas, porque tentou edificar uma doutrina que resolvesse em termos de fundo a distribuição do ónus da prova. Na verdade, o A. utilizou sempre tópicos-normas, não conseguindo produzir mais do que uma técnica de repartição, que considerámos infundada. As ideias nucleares da «teoria» só podem ser accionadas através dos tópicos. P. ex., o preconceito da necessidade de prova total — absolutamente desmentido no que toca à previsão das normas substantivas, na medida em que o ónus da prova ainda dá «aplicação» a uma delas nos casos de incerteza — poderia operar com os tópicos-normas, que são em número limitado e, normalmente, não coexistem com outros de sentido e pressupostos inversos. De igual modo, a ideia totalmente infrutífera de «não aplicação» das normas, que o A. tentava usar para distribuir o ónus, funciona sem dificuldade — embora também sem fundamento — se, em vez de «normas», considerarmos os tópicos. As «normas impeditivas» não se autonomizam enquanto normas, pois apenas prevêem a negação de elementos das facti species das «constitutivas», mas são claramente distintas como momentos posteriores da argumentação produzida. São raríssimos, por fim, os tópicos conservativos. ROSENBERG, portanto, só falhou essencialmente ao pensar que trabalhava com conteúdos jurídicos, quando a sua tese jogava com os modos consagrados de expressão desses conteúdos. Porque era um positivista legalista, os únicos tópicos-normas a que recorreu foram os enunciados legais, mas já se vê que o seu expediente pode ser estendido a quaisquer fórmulas pré-elaboradas — só assim será possível «separá-las» — do discurso jurídico. Tal extensão tem inclusive a nítida vantagem de se furtar a alguns dos limites da «teoria» rosenberguiana, a que aludimos no n.º 9. No entanto, a arbitrariedade de uma distribuição do ónus da prova assente em tópicos-normas não é em nada inferior à da construção de Die Beweislast. Mais uma vez, não há fundamento para que o tópico se «aplique» apenas em casos de convicção relativamente a todos os seus pressupostos; não deixamos de estar perante meras construções linguísticas; o legislador, que não tem de seguir forçosamente as fórmulas tradicionais, continua sem apoio para as suas opções; os «tópicos autónomos incompatíveis» não são mais virtuosos, para a nossa matéria, do que as «normas incompatíveis»428; nem estas figuras teriam maior relação do que as «normas» com o princípio do agressor. Acima de tudo, a expressão dos tópicos substantivos só por algum acaso surpreendente terá em conta uma distribuição do ónus nela baseada: foram as unidades e as comodidades da argumentação substantiva que os produziram, e não as exigências do ónus da prova. Os tópicos-normas não são melhores do que as normas, mas serão talvez mais transparentes. É bom de ver que, na maioria das situações, tanto faz falar de normas quanto de tópicos-normas. Pouco importa dizer «a norma que decorre do art. 268.º/4…» ou «o art. 268.º/4…». Por isso mesmo, é fácil confundir estas realidades claramente distintas, e não custa pensar que o uso corrente do termo «norma» se restringe às normas que correspondam a um tópico, o que «Pode» no sentido de ser efectivamente possível, equivalente ao posse latino (can em inglês ou können em alemão), e não no de ser lícito (licere, may, dürfen). 428 Cf. supra, no ponto 9. 427 104 bem se viu, no pensamento rosenberguiano, pela indiferença com que o A. aludia a «Rechtssätze» (à letra, enunciados jurídicos) ou a «Rechtsnormen» (normas jurídicas)429. Do mesmo modo, «facto», quando usado abstractamente nas teorias tradicionais do ónus da prova e do ónus da alegação, provavelmente só abrange os «factos» referidos nos modelos da argumentação jurídica, os «factos dos tópicos», e não, designadamente, as suas negações, a que tantas vezes foi incorrectamente recusada a pertença ao real430. Na verdade, não é surpreendente que por «factos» se entendam apenas os factos a que a lei e, em geral, o discurso jurídico fazem menção. Se esta conjectura estiver correcta, o art. 2405.º CS e, ainda hoje, a primeira parte do art. 516.º CPC — que não costuma causar estranheza aos AA. — ganham um novo sentido431. Ao mandar provar o «facto» do tópico, e não o facto contrário, aqueles preceitos anteriores ao art. 342.º constituíram «consagrações» da «teoria das normas», ainda que em redacção primitiva. A «teoria das normas», rectius, a técnica dos tópicos-normas conduz a resultados justos em sede de ónus da alegação. A nossa investigação não deveria abranger este tema, mas será de grande utilidade contrapor os dois institutos. O problema básico da «teoria» reside na sua remissão para fórmulas estabelecidas de modo fortuito, casual, sem atender aos específicos valores ou princípios que podem coordenar o ónus da prova; em suma, para fórmulas arbitrárias. Isto, porém, não afecta o ónus da alegação, e por duas ordens de razões: primeiro, porque a invocação de quaisquer «factos» depende exclusivamente da parte, acompanhada pelo mandatário judicial, e não lhe exige um esforço significativo; depois, porque os tópicos a utilizar estão previamente definidos. Não nasce qualquer embaraço de uma repartição acidental do encargo de alegar, porque se trata de uma tarefa acessível e determinada de antemão. Concluímos, aliás, que um argumento recorrente em sede de distribuição do ónus da prova, a dificuldade desta, não pode ser transposto para o ónus da alegação. Àquela imunidade ao arbítrio, acresce que as alegações das partes são já uma fase da argumentação jurídica em juízo, ainda que respeitando apenas aos «factos» relevantes, e, por isso, acompanham com naturalidade os moldes em que ela se apresenta. Ao mesmo tempo, a própria inteligibilidade da argumentação subjacente às alegações ou em que estas se integram depende de serem empregues os quadros linguístico-argumentativos em que o decisor se formou e de que dispõe. A chave da justiça do mecanismo dos tópicos-normas em sede de ónus da alegação está, todavia, em oferecer uma correcta delimitação do problema judicando. O decisor e, sobretudo, o processo não exploram a propósito de cada problema todas as vias argumentativas ou de investigação e produção de prova que com ele se poderiam relacionar. Porque o discurso vai partir de dados prévios, sejam os artigos da lei ou os brocardos da tradição, as partes têm de apresentar «factos» que permitam exactamente «encaixar» esses tópicos de que se dispõe. Em simultâneo, e uma vez que incumbe às partes determinar o objecto do processo, o tribunal só usará dos Cf. supra, no ponto 4. Cf. supra, na parte final do ponto anterior. 431 Cf. supra, no ponto 11, e designadamente na n. 331, as dificuldades que estes preceitos suscitam e que poderiam conduzir a uma «interpretação ab-rogante» do art. 516.º (art. 520.º CPC 1939). Quanto à segunda parte deste, porém, nem o que se dirá de seguida a pode salvar, já que, na dúvida quanto à distribuição do ónus da prova, é já manifesto que se olha a ambos os factos contrários. 429 430 105 tópicos que possam caber no por elas alegado. E não lhe seria obviamente exigível que elaborasse uma lista de possíveis pontos de vista associáveis ao projecto de problema que lhe trouxeram e solicitasse então aos litigantes que se pronunciassem sobre os factos aí pressupostos. Como se mostra pelo momento em que o ónus da alegação intervém, é o próprio processo jurisdicional que carece de uma demarcação tempestiva que lhe permita um operar razoável. A pedra de toque desta visão — a visão tradicional do ónus da alegação432, embora não exposta assim — revela-se na figura da «contranorma», i.e., do «contratópico». O pensamento do decisor e o processo desenvolvem-se dentro dos tópicos que possam corresponder aos factos que lhes tragam. Uma saudável ideia de inércia ou de economia argumentativa433 impõe que o tribunal só apele a novos instrumentos discursivos, entre os de que dispõe, quando as partes, senhoras do objecto processual, lhe tragam as bases da sua aplicabilidade. Dizemos «novos instrumentos» porque são outros, arrumados numa sede diferente. Sob pena de, em cada caso, se perder numa infinidade de perspectivas que poderiam ser aduzidas, o juiz só passará à «contranorma», a um contratópico, a um «salvo se», a um novo capítulo do seu repertório, enfim, quando os destinatários primordiais do discurso que empreende lhe forneçam os pressupostos da sua aplicação. Porque o tribunal usa os tópicos, dêem-lhe os elementos que facultam a sua aplicação. Sintetizando estes últimos parágrafos, temos que a arbitrariedade da delimitação dos tópicos-normas não afecta uma distribuição do ónus da alegação de acordo com eles, uma vez que a alegação é minimamente onerosa e os tópicos se encontram pré-definidos. Convém ainda às partes poderem repousar nos modelos oferecidos pela argumentação jurídica substantiva de que se irão servir. Para o decisor e para o processo — eis os aspectos essenciais — este é o modo de conseguir uma delimitação razoável dos pontos de vista a considerar. Dos instrumentos que à partida individualiza e lhe são acessíveis — os tópicos —, o juiz levará ao problema apresentado aqueles que caibam nos «factos alegados». Então, as teses de ROSENBERG chegam a soluções correctas, embora conceptualmente mal enquadradas, em matéria de ónus da alegação. A comummente afirmada coincidência entre o ónus da prova e o ónus da alegação434 é, pois, sinónimo de uma predisposição para repartir o risco da falta de prova também segundo a técnica dos tópicos-normas. No ónus da prova, contudo, a arbitrariedade da configuração dos tópicos conduz à arbitrariedade da distribuição. O motivo é simples. A prova, enquanto actividade, é difícil, exige um investimento significativo, que se impõe à parte onerada. A prudente convicção do tribunal, apesar de todos os esforços, pode não ser obtida. É possível inclusive que a incerteza seja um O discurso sobre o ónus da prova encontra-se muito mais desenvolvido. Vimos no ponto 3, porém, que é generalizada a afirmação de que o ónus da alegação e o ónus da prova coincidem. A «teoria» dos tópicos-normas, dominante em sede de ónus da prova, domina também no ónus da alegação. É ainda muito interessante notar que, se são já inúmeras e desenvolvidas as críticas à teoria das normas, elas só incidem sobre o ónus da prova, não sobre o ónus da alegação. E lembremos que os cuidados de redacção do BGB, segundo os Motive, atendiam primeiro ao problema do ónus da alegação, e só secundariamente ao onus probandi — cf. supra, n. 85. 433 A ideia de inércia na argumentação, associada à de «presunções metodológicas», que inclusive ultrapassam o plano jurídico, foi referida supra, na n. 46. 434 Cf. supra, no ponto 3, em que iniciámos a tentativa de demonstrar que a coincidência teria de ser fortuita. 432 106 dado assente antes do processo435. A repartição do risco de non liquet — situação tão comum e repetidamente insusceptível de ser imputada a uma das partes — é, portanto, de acordo com a «teoria das normas» ou o esquema dos tópicos-normas, uma repartição ao acaso de pesadas desvantagens. Se se seguisse ROSENBERG, a normal impossibilidade de produzir prova suficiente para a convicção reverteria contra uma ou outra das partes conforme as contingências históricas da compartimentação dos temas substantivos envolvidos. No ónus da alegação, não há que falar-se de risco nos mesmos termos, porque é exigível às partes que aleguem os elementos pré-determinados de que depende a procedência das suas pretensões. É em matéria de prova que as possibilidades de sucesso não dependem peremptoriamente da vontade ou das capacidades das partes. Não podemos sequer pensar que esta distribuição fortuita do onus probandi conduza a algum equilíbrio. Pelo contrário, toda a atribuição do ónus cria quanto a cada «facto» — que pode até ser o único controvertido — uma disparidade, pois o nosso instituto, por definição, favorece uma das hipóteses em prejuízo da outra. Deixar valer o mecanismo dos tópicos-normas no ónus da prova é um abuso da ideia de inércia que se mencionou. Agora, o tribunal só usaria os argumentos susceptíveis de incidir sobre os «factos provados», i.e., aqueles que a incerteza não atinge, ou sobre os que alguma «presunção» — outro tópico pré-definido436 — quisesse acolher. Apesar da alegação de certos factos, a incerteza a seu respeito levaria o tribunal a fazer uso apenas de tópicos que não os incluíssem. Em rigor, estaríamos aqui perante uma supressão, desde o primeiro instante, do problema do non liquet, através do esquecimento de tudo o que nele fosse abrangido. A incerteza seria deixada num momento muito anterior à consideração do direito substantivo aplicável. Trata-se, porém, de um abuso. Primeiro, porque a alegação ou o dever de inquirir ex officio437 já introduziram no problema global e, em regra, no processo os «factos» — i.e., a sua hipótese — que apelam aos tópicos-normas em causa e delimitam simultaneamente o seu conjunto. Não há o perigo de dispersão do decisor. Depois, porque a incerteza traz um acréscimo problemático a que não pode deixar de dar-se uma resposta fundamentada. Por fim, porque, como dissemos, a incerteza transcende largamente as opções ou a falta de cuidado de, pelo menos, uma das partes, e só por inesperada coincidência será essa a beneficiar com a não utilização do tópico afastado. No entanto, é explicável a aceitação acrítica de que têm gozado as propostas rosenberguianas ou, antes e independentemente delas, os modos aparentados de repartição do ónus da prova. Há, em primeiro lugar, uma falsa analogia com o ónus da alegação, resultante de algum paralelismo dos problemas: opção entre os «factos» contrários a que devem ser «aplicadas» «normas» jurídicas. O citado dito iudex debet iudicare secundum allegata et probata demonstra a colagem que em tempos se fez. Some-se que a inércia argumentativa favorece a técnica dos tópicosCf. supra, no ponto 2. Recorde-se que alguma doutrina mais conservadora considera as «presunções» excepcionais, insusceptíveis de «aplicação analógica». Cf. VAZ SERRA, Provas, BMJ 110, p. 188, e ROSENBERG, 223 e 241. Para este A., a «extensão analógica» não é impossível, mas não será frequente. Não se vê, porém, razão nenhuma para isso. Quanto ao problema da analogia com disposições «excepcionais», vejam-se os ensinamentos de OLIVEIRA ASCENSÃO, O Direito, 448-453, e CASTANHEIRA NEVES, Metodologia, 272-6, o primeiro explicando as limitações do art. 11.º, o segundo quase recusando sentido ao pensamento que aí se acolhe. 437 Este, nos casos contados em que faça atender a novos «factos». Cf. supra, no ponto 3. 435 436 107 -normas, que dispensa uma consideração explícita do tema incerteza. Ora, se neste campo a inércia é abusiva, não deixa de dar aplicação a uma quase inevitável «lei do menor esforço». O decisor apenas utiliza um tópico, um novo tópico, quando são certos os factos que este pressupõe. A argumentação é restringida por uma regra de economia, só se apelando a uma nova sede havendo prova dos elementos nela referidos. A regra seria talvez razoável se a demarcação desses capítulos não fosse totalmente alheia às valorações que o instituto do ónus da prova há-de invocar ou se o insucesso probatório não se mostrasse tão inevitavelmente frequente. Junte-se à explicação que a incerteza é um conceito complexo e de valoração não imediata. Os historiadores parecem confirmá-lo, pois a ligação, que hoje temos por indispensável, entre ónus da prova e incerteza terá surgido em tempos relativamente recentes438. A «teoria das normas» permitia contornar a questão, pois o non liquet não era problematizado autonomamente, mas antes consumido na ideia falsa da necessidade de prova total para a «aplicação de normas». A prioridade histórica do ónus da produção de prova leva também a concluir por uma intenção de fuga ao problema da incerteza, já que se fazia aí uma distribuição de actividades entre o tribunal e cada uma das partes que o deixava decidir apenas sobre matéria assente. Mantendo o ónus no campo da actividade, e não do resultado, evitava-se encarar que este pode assumir três formas: provado x, provado que x não sucedeu ou incerto que x tenha sucedido ou não. A actividade, ao invés, será apenas bem ou mal sucedida. Nos nossos dias, abandonámos o ónus subjectivo439, mas a «teoria» defende uma distribuição do risco probatório que só com ele, de alguma forma, se compatibilizaria. Além dela, os juristas mais afastados da doutrina que estuda especificamente estas matérias não associam — ou não associam profundamente — os temas do ónus e da incerteza, olhando ainda o primeiro como modo de distribuir a actividade probatória. Em suma, a técnica de distribuição do ónus da prova segundo os tópicos-normas explica-se como um expediente simplista que faculta ao decisor a utilização de um número limitado, em função da matéria provada, dos seus instrumentos de trabalho argumentativo — e não das normas que com o conjunto desses instrumentos se pudessem obter. Retomemos agora o exemplo de David e Golias, tentando enfim dar o devido lugar à «teoria das normas». A legítima defesa deve ser provada pelo causador do dano, ou seja, o tópico da legítima defesa não é utilizado sem prova bastante. Não o afirmamos porque tenhamos razões suficientes para sustentá-lo, mas sim porque não fizemos um estudo mínimo dos fundamentos da distribuição do ónus da prova que nos autorize advogar o contrário. Citámos KEMPER440, que se preocupava com o estabelecimento de alguma distribuição. À falta de melhor, eis um argumento em favor da «teoria das normas». 438 Cf. MUSIELAK, loc. cit. supra, n. 13. Cf. tb. as referências feitas supra, n. 284, ao direito justinianeu. Na bibliografia portuguesa considerada no ponto 11, pudemos ver que o acentuar da ligação entre ónus da prova e incerteza só se vai tornando claro desde ALBERTO DOS REIS. 439 Quem queira dar-lhe ainda alguma relevância, não deixará de concordar que ela é mínima. Cf. supra, no ponto 2. 440 Supra, na n. 385. 108 Pois é este o sentido que damos hoje à distinção dos «factos» — dos tópicos — do ónus da prova. Um começo de decisão que afaste o arbítrio do puro recurso a princípios pouco nítidos, que dê alguma previsibilidade à aplicação do direito. Apenas uma præsumptio facti do sentido da distribuição. A «teoria das normas» não dá qualquer apoio material para a repartição do risco de non liquet. Não passa de um esquema estritamente verbal que tanto pode conduzir a boas soluções quanto a resultados inaceitáveis. Todavia, trata-se de um modo de distribuir o ónus que as partes podem talvez antecipar, e não dispomos — com algumas excepções, como o princípio do agressor, que é apenas princípio — de critérios sucedâneos para a generalidade dos problemas. Assim, a «teoria das normas» ou dos tópicos-normas intervirá — se puder441 — nos casos em que, dada a incipiência da discussão valorativa do tema, a distribuição não consiga apoiar-se solidamente em argumentos materiais. O art. 342.º/1 e 2 é objecto de uma «interpretação restritiva»: irá regular apenas nas situações — aliás, comuns — em que se imponha duvidar da procedência (do fundamento) de uma ou outra solução propriamente dita. Devemos utilizar o método dos tópicos-normas na medida em que não tenhamos seguros os critérios que verdadeiramente justifiquem certa repartição do ónus. É claro, contudo, que incumbe ao decisor um esforço com vista a evitar esse formalismo residual. Antes de recorrer a um instrumento cego, embora de efeitos vagamente previsíveis, há que procurar bases substancialmente válidas para a resposta a dar. Só na sua falta se invocará «a teoria». No que toca ao art. 342.º/3 — que não deve interpretar-se literalmente, em duplicação do papel das distinções da «teoria», mas sim como expressão do princípio do queixoso, correctamente entendido —, ele apenas traduz que este critério há-de valer como ponto de partida da discussão. Cabe ainda um alargamento dos n.ºs 1 e 2 do artigo. As condicionais negativas, porque notórias, representam muito provavelmente verdadeiras opções do legislador; ao menos, do português. As teses de ROSENBERG devem ter aí franqueado o caminho de uma aplicação quase plena. Mesmo nesses casos, não se dispensa uma verificação especial sobre se a regra pode de alguma forma justificar-se. Na esmagadora maioria das «normas» e «contranormas», se não queremos decisões resultantes do acaso de uma autonomia de tópicos substantivos completamente alheia aos valores do ónus da prova, é dever inafastável dos tribunais e da doutrina repensar a justiça da distribuição que a escrita do legislador ou a categorização tradicional, para cada problema, apenas indiciam. Porque normas, essas não existem. 14. A necessidade de fundamentos da distribuição do ónus da prova Em jeito de conclusão, pretendendo também sublinhar e ilustrar a profunda insuficiência do esquema rosenberguiano e suas variações, anota-se a inaplicabilidade daquele sentido que deixámos ao art. 342.º, n.ºs 1 e 2, e à «teoria» — apesar de, já de si, pouco vinculativo — a um importantíssimo grupo de casos. Recordem-se o ponto 9, supra, relativo aos limites da «teoria», e as «vantagens» dos tópicos-normas por comparação com as «normas» do legalismo. Cf. tb. o ponto 14, já a seguir. 441 109 BERNARDO LOBO XAVIER, num estudo autónomo e rigoroso digno da maior atenção442, assumindo que opina especificamente contra MANUEL DE ANDRADE, vem explicar, a propósito da «justa causa de despedimento», que os quadros subsuntivos pressupostos pela «teoria» de ROSENBERG não podem funcionar no âmbito de cláusulas gerais como «justa causa», «desobediência ilegítima», «injúrias graves», etc.. Não faltarão outros exemplos. Em respeito das ideias do A., acrescentaríamos, p. ex., todos os casos de uso legal da boa fé objectiva, quando não se delimitem no seu interior tópicos mais precisos, como o venire contra factum proprium ou o tu quoque, doutrinalmente estabilizados como subcategorias do abuso do direito. Ensina B. LOBO XAVIER que a vastidão e diversidade dos factos cuja juridicidade é acolhida nestes trechos legais não pode ter um regime de non liquet que onere unilateralmente a parte que invoca em seu favor a cláusula geral. É manifesto443. Se não incluímos estas situações no n.º 9, dedicado aos limites da «teoria», foi apenas porque, tomada num sentido de absoluto formalismo, a doutrina de Die Beweislast ainda encontra aqui algum apoio literal. Deve, contudo, assinalar-se que o próprio ROSENBERG — através da figura pouco coerente da «contraprova» indirecta, que LOBO XAVIER, de certo modo, pretende retomar — conseguia alguns bons resultados nestas áreas de fronteira entre a lei e o direito que tem de ser dito apesar de não haver lei. Ora as cláusulas gerais visam prever o que não pode ser previsto, no bom sentido de que reclamam do aplicador do direito uma tarefa redobrada de identificação dos «factos» e dos pontos de vista jurídicos pertinentes, com pouco maior ajuda do que a resultante de decisões anteriores em casos semelhantes. No campo amplíssimo que é confiado ao julgador e em que, portanto, não pode sequer esperar-se uma previsibilidade das decisões comparável à que se obterá, talvez, no terreno do «direito estrito», uma intervenção da «teoria das normas» seria chocante. Não só a distribuição a que leva é, à partida, sem fundamento — o que afirmámos em tese geral — mas também a pluralidade dos elementos que hão-de constituir o tema de prova não se compadece com uma repartição antecipada do ónus. Os tópicos são aqui amplos demais. A «teoria das normas» tem de servir apenas, salvo quanto às condicionais negativas, como expediente que guarde um resto de segurança jurídica legal. Numa área em que os «factos» relevantes não se encontram previstos na lei, a «teoria» redunda em pura arbitrariedade e fonte de desequilíbrio entre as partes, pela unilateralidade da «distribuição». Aqui, como na vasta área dos limites mais evidentes ou inultrapassáveis da «teoria», temos de procurar outros alicerces para repartir o risco de non liquet. Sempre se tentaria alguma analogia com os casos em que há tópicos-normas disponíveis, mas o caminho não pode ser trilhado, pois mesmo essas situações não têm uma regulação justificada. Impõe-se — não há outra escolha — trabalhar «os fundamentos» do ónus da prova, ainda que sem a unicidade da «teoria das esferas Justa causa de despedimento: conceito e ónus da prova. Cf. esp.te pp. 5, n. 8, 5-10 e 26-68. No mesmo sentido, J. KEMPER, 72-105, mas só quanto às cláusulas gerais de conteúdo mais amplo, e não, p. ex., à que comina a nulidade do negócio jurídico por ofensa aos bons costumes. O A., no entanto, situa-se ainda, como vimos, no plano formal de procurar alguma distribuição do ónus da prova, não uma distribuição adequada. Cf., identicamente, R. HEPTING, pp. 399-411, que analisa a figura da «prestação característica» na Convenção de Roma sobre a Lei Aplicável às Obrigações Contratuais. Recorda-se que a Convenção estabelece «presunções», em grande medida, de direito, como assinala HEPTING, defendendo que não são apenas de direito, antes se repercutindo naquilo a que chama, tal como ROSENBERG, «ónus da prova concreto». 442 443 110 de risco» de PRÖLSS — que, antes do tempo, procurava para a distribuição do ónus um «princípio suprapositivo de justiça»444 —, sem o conceptualismo da «esfera jurídica» de V. SCHENCK — para quem as «inversões» do ónus no campo extracontratual seriam apenas homenagem formal de uma responsabilidade objectiva ao «princípio da culpa»445 —, aceitando as dificuldades da invocação de um qualquer conceito de «probabilidade», tentada, p. ex., por LEIPOLD e REI446 NECKE , e recebendo, sem dúvida, as críticas à meia dúzia de «princípios» que WAHRENDORF estabeleceu, com alguma falta de suporte, para a distribuição em sede de responsabilidade civil447, no que teve o grande mérito de querer fundamentar o ónus da prova por institutos, e não, de uma vez só, para a totalidade do sistema. O que vale dizer que o nosso estudo teve uma intenção exclusivamente negativa, quis apenas combater o despotismo pouco esclarecido da teoria das normas, não pode, por si, solucionar qualquer problema de repartição do ónus. Reliqua desiderantur: são necessários fundamentos de distribuição do ónus da prova. Cf. Beweiserleichterungen, 73-9. Cf. Der Begriff, esp.te pp. 25-39 e 109-123. 446 Cf. supra, no final do ponto 8. 447 Cf. Prinzipien, 65-131, com a enumeração dos princípios nas pp. 131-2 e partindo dos casos das pp. 8-11. 444 445 111 CONCLUSÕES O instituto do ónus da prova objectivo, que investigamos, resolve os casos de incerteza quanto à ocorrência de algum facto jurídico, impondo uma decisão fundada ou na verificação ou na não verificação duvidosas. O ónus subjectivo ou ónus da produção de prova é essencialmente uma categoria histórica, anterior ao princípio da aquisição processual, e distribuía a actividade probatória pelas partes em litígio. À sua sombra, o problema da incerteza ficava encoberto. O ónus objectivo tanto pode ser considerado incidente sobre as versões controvertidas quanto sobre as partes, se as houver (n.º 2, 1.ª parte). O ónus objectivo não é uma figura de direito processual, mas sim de direito comum ou, tratando-se de regras específicas de repartição, do ramo do direito a que pertence a norma cuja previsão é por aquelas estendida. Assim, o ónus da prova pode ser, p. ex., direito civil, processual civil, administrativo ou, inclusivamente, penal. Além dos argumentos correntes nesse sentido, deve atentar-se que a incerteza relevante para o ónus não é exclusiva do processo; a incerteza pode até surgir em tribunal como algo previamente assente (n.º 2, 2.ª parte). Um estudo sobre o ónus da prova não tem de incluir um estudo sobre o ónus da alegação; nada força, à partida, a associação dos dois temas. São em número relevante as situações consensualmente admitidas pela doutrina em que estes institutos divergem. Alguma coincidência deve supor-se acidental (n.º 3). A «teoria das normas» que ROSENBERG arquitectara entre 1900 e 1923 (cf. n.º 4) foi refutada por LEIPOLD em 1966, tanto na sua fundamentação quanto na medida em que defendia existir diferença substantiva entre «normas constitutivas» e «normas impeditivas», e deu então lugar à «teoria das normas modificada». A crítica daquela fundamentação deve recusar ainda o carácter apodíctico da «inaplicabilidade de uma norma» sem certeza quanto à verificação dos «elementos da sua facti species» (n.º 5). A decisão de ónus da prova analisa-se em três momentos: necessidade de decidir de mérito; recusa de um tratamento substantivo específico da incerteza; remissão para uma das normas desenhadas para situações de certeza. Ao contrário do que PRÜTTING defende, o segundo momento é de índole normativa, e a triplicidade da decisão, com o final remissivo, não implica qualquer «indissociabilidade» entre a distribuição do ónus da prova e o restante direito substantivo (n.º 6). A negação da autonomia das «normas impeditivas» pela «teoria das normas modificada» é insuficiente. A natureza meramente verbal das «normas constitutivas» resulta de idêntico carácter das «impeditivas», ainda que se aceite a dificuldade de configurar um «facto impeditivo» sem algum «facto constitutivo» que o anteceda logicamente. A identificação de «normas impeditivas de segundo grau» exclui a materialidade das «normas extintivas» ou «excludentes». A plena admissibilidade das «normas conservativas» corrobora essa afirmação de falta de autonomia. Em termos extremamente analíticos, seria mesmo possível reunir constituição e extinção num conceito unitário de eficácia que, no que toca ao ónus da prova, não se distinguiria do seu inverso, a conservação. A «teoria das normas», rectius, a «teoria das frases» é apenas um instrumento de exegese legal em matéria de distribuição do ónus da prova (n.º 7). A «teoria das normas» revela-se estéril no plano legislativo (n.º 8) e é também inutilizável sempre que o aplicador do direito não possa reconduzir o seu juízo a um texto legal ou equipa112 rável. Os limites do instituto do ónus da prova limitam igualmente a «teoria das normas» e, por vezes, contrariam-na. O funcionamento da «teoria» em casos de «normas autónomas incompatíveis» implica uma atenção incompleta à avaliação substantiva dos problemas (n.º 9). O princípio do agressor — que ampara os arts. 1268.º, n.º 1, 1252.º, n.º 2, e 458.º — não fundamenta a «teoria das normas»; em parte das situações, opõe-se-lhe. Acresce que o princípio do agressor, ao contrário da «teoria», não pretende dar resposta a todos os problemas de non liquet, antes contribuindo para obter e fundamentar algumas das soluções (n.º 10). O código civil português vigente adopta uma «teoria das normas» que não corresponde com exactidão às teses de ROSENBERG e seus seguidores. Tem em comum com a «teoria» alemã, porém, afastar um entendimento processual das «normas» em que assenta a distribuição, no que se distancia da lei anterior. A doutrina portuguesa sobre o ónus da prova não acolhe o formalismo inerente aos cânones daquele modelo alemão (n.º 11). A distinção de «factos» a que a «teoria das normas» e o art. 342.º procedem não pode ser preenchida através dos critérios da «probabilidade», das «esferas de risco», dos «factos negativos», ou outros semelhantes, sob pena de os conceitos de «facto constitutivo», «impeditivo», etc., se esvaziarem plenamente e de se quebrar a unidade do pensamento que lhes subjaz. Tais critérios terão porventura aplicabilidade uma vez superado o esquema rosenberguiano. Não basta submeter os textos legais a uma perspectiva «pragmática» — no sentido das ciências da linguagem — para justificar o recurso à «teoria». A autonomização de «normas» decorre, em regra, de pontos de vista substantivos que de modo nenhum têm em conta os valores relevantes para a repartição do ónus (n.º 12). As «normas» de ROSENBERG são, em rigor, tópicos-normas, os instrumentos pré-elaborados e fragmentários que compõem a argumentação jurídica, a saber, os enunciados legais e quaisquer outras fórmulas a que se possa reconduzir uma solução. Os tópicos são produto da história e a sua delimitação é contingente. Com eles, torna-se possível fazer funcionar as ideias centrais da «teoria», embora ainda sem fundamento. A linguagem jurídica corrente confunde normas e tópicos, normalmente sem grande prejuízo. A técnica dos tópicos-normas conduz a bons resultados em sede de ónus da alegação, dada a pré-elaboração daqueles, a não onerosidade das alegações e a razoabilidade de uma inércia processual e argumentativa que impeça o recurso a novos instrumentos do discurso sem invocação dos elementos neles pressupostos. A prova, ao invés, é uma actividade difícil e de sucesso incerto, não podendo o sério risco da sua inconcludência ser atribuído aleatoriamente. O modelo dos tópicos-normas, no campo do ónus da prova, é explicável como abuso da ideia de inércia, que suprime precocemente o problema do non liquet, e como falsa analogia com o ónus da alegação, mostrando-se ainda uma decorrência serôdia da inabilidade para equacionar a incerteza que o ónus da produção de prova manifestava. Tal como o esquema rosenberguiano, o art. 342.º, n.ºs 1 e 2, tem um papel determinante para o nosso tema apenas quando deva entender-se que houve, na redacção da lei, o cuidado de a utilizar como meio de exprimir a repartição do ónus da prova. Nos restantes casos, esse critério tem a única função de tornar minimamente previsíveis as decisões dos tribunais, intervindo, com oportunidade, de maneira a reagir à ausência de um discurso capaz de justificar suficientemente a distribuição (n.º 13). Na vasta área dos limites da «teoria das normas» e quando a aplicação do direito apele a puras cláusulas gerais, mesmo aquela intervenção está vedada (n.º 14). É imprescindível procurar fundamentos da distribuição do ónus da prova. 113 BIBLIOGRAFIA ABEL, OLIVIER – Paul Ricœur — A promessa e a regra, trad. JOANA CHAVES, Instituto Piaget, Lisboa, s. d. (1998-1996). ALEXANDRE, ISABEL – O ónus da prova na acção civil enxertada em processo penal, Cosmos, Lisboa, 1991. ALMEIDA, CARLOS FERREIRA DE – Texto e enunciado na teoria do negócio jurídico, 2 vols., Almedina, Coimbra, 1992. – Introdução ao direito comparado, Almedina, Coimbra, 1994. – Os contratos civis de prestação de serviço médico, in Direito da saúde e bioética, AAFDL, Lisboa, 1996, 75-120. ALMEIDA, GERALDO DA CRUZ – O ónus da prova em direito internacional privado, ROA 53, 1993, 251-309. ALVES, RAUL GUICHARD – Da relevância jurídica do conhecimento no direito civil, UCP, Porto, 1996. ANDRADE, MANUEL A. D. DE – Anot. a STJ (Assento) 22-3-1946, RLJ 78, 1945/46, 409-416. – Algumas questões em matéria de «injúrias graves» como fundamento de divórcio, Coimbra Ed., Coimbra, 1956. = RLJ 88, 1955/56, 293-304, 316-320, 323-332, 342-347, 356-362. Cit. pela separata. – Noções elementares de processo civil, colab. ANTUNES VARELA, 2.ª ed., colab. HERCULANO ESTEVES, reimp., Coimbra Ed., Coimbra, 1993 (1979-1956). ASCENSÃO, JOSÉ DE OLIVEIRA – A patente de processo de fabrico de um produto novo e a inversão do ónus da prova, RFDUL XXV, 1984, pp. 11-28. – Direito civil. Teoria geral, vol. I, Introdução. As pessoas. Os bens, Coimbra Ed., Coimbra, 1997. – Teoria geral do direito civil, vol. IV, Relações e situações jurídicas, polic., Lisboa, 1993. – Direito civil. Reais, 5.ª ed., Coimbra Ed., Coimbra, 1993. – O Direito. Introdução e teoria geral. Uma perspectiva luso-brasileira, 10.ª ed., Almedina, Coimbra, 1997. BASTOS, JACINTO RODRIGUES – Das relações jurídicas. Segundo o Código Civil de 1966, 5 vols., s. l., s. e., 1967/1969. – Das obrigações em geral. Segundo o Código Civil de 1966, s. l., s. e., vol. III, 1972. AUMGÄRTEL B , GOTTFRIED – (org.) Handbuch der Beweislast im Privatrecht, vol. I, 2.ª ed., Carl Heymanns, Colónia / etc. , 1991 Cit. BAUMGÄRTEL / (co-autor) ou BAUMGÄRTEL, Handbuch. – Beweislastpraxis im Privatrecht. Die Schwierigkeiten der Beweislastverteilung und die Möglichkeiten ihrer Überwindung, Carl Heymanns, Colónia / etc., 1995. BECKH, HERMANN – Die Beweislast nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch, Beck, Munique, 1899. BEGLINGER, MICHAEL – Beweislast und Beweisvereitelung im Zivilprozeß, ZSR 1996/I, 469-494. BETTENCOURT, ANTÓNIO PINHEIRO – Das provas em processo civil ordinário, comercial e sumário, s. e., Coimbra, 1920. BETZINGER, B. – Die Beweislast im Zivilprozeß. Mit besonderer Rücksicht auf das Bürgerliche Gesetzbuch. Ein Handbuch für die Praxis, 3.ª ed., Carl Heymanns, Berlim, 1910, 1.ª ed. de 1893. BLOMEYER, ARWED – Beweislast und Beweiswürdigung im Zivil- und Verwaltungsprozeß. Empfiehlt es sich, das Recht der Beweislast und der Beweiswürdigung durch gesetzliche Vorschriften fortzubilden und in welchem Sinne? Gutachten, Verh. 46. DJT, vol. I, Beck, Munique / Berlim, 1966, 1-54. Cit. Gutachten. BOBBIO, NORBERTO – Teoria generale del diritto, Giappichelli, Turim, 1993 (1960) BRITO, JOSÉ INÁCIO CLÍMACO DE SOUSA E – Estudos para a dogmática do crime omissivo, vol. I, polic., Lisboa, 1965. BRONZE, FERNANDO JOSÉ – A metodonomologia entre a semelhança e a diferença (reflexão problematizante dos pólos da radical matriz analógica do discurso jurídico), Coimbra Ed., Coimbra, 1994 (1989). BYDLINSKI, FRANZ – Fundamentale Rechtsgrundsätze. Zur rechtsethischen Verfassung der Sozietät, Springer, Viena / Nova Iorque, 1988. Cit. Rechtsgrundsätze. – System und Prinzipien des Privatrechts, Springer, Viena / Nova Iorque, 1996. Cit. System. CANARIS, CLAUS-WILHELM – Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do direito, intr. e trad. 2ª ed. A. MENEZES CORDEIRO, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1989 (1983). 114 CANOTILHO, JOSÉ JOAQUIM GOMES – Constituição dirigente e vinculação do legislador. Contributo para a compreensão das normas constitucionais programáticas, reimp., Coimbra Ed., Coimbra, 1994 (1982). CASTRO, ARTUR ANSELMO DE – Direito processual civil declaratório, vol. III, Almedina, Coimbra, 1982. CASTRO, FRANCISCO A. DAS NEVES E – Theoria das provas e sua applicação aos actos civis, Livraria Internacional, Porto / Braga, 1880. Código civil português. Exposição documental, Ministério da Justiça, Lisboa, 1966. Com Palavras iniciais de GUILHERME BRAGA DA CRUZ. COLLAÇO, ISABEL MARIA DE MAGALHÃES – Da qualificação em direito internacional privado, s. e., Lisboa, 1964. CORDEIRO, ANTÓNIO MENEZES – Da boa fé no direito civil, reimp., Almedina, Coimbra, 1997 (1984). Cit. Da boa fé. – Introdução a CANARIS, CLAUS-WILHELM – Pensamento sistemático e conceito de sistema na Ciência do Direito [cit.], 1989. Cit. Introdução. – Evolução juscientífica e direitos reais, in Estudos de direito civil, vol. I, Almedina, Coimbra, 1987, 201-237. – A decisão segundo a equidade, Dir. 122, 1990, 261-280. Cit. Equidade. – Da responsabilidade civil dos administradores das sociedades comerciais, Lex, Lisboa, 1997. Cit. Responsabilidade. – A posse: perspectivas dogmáticas actuais, Almedina, Coimbra, 1997. – Manual de direito bancário, Almedina, Coimbra, 1998. – Tratado de direito civil português, vol. I, Parte Geral, tomo I, Almedina, Coimbra, 1999. DIAS, JORGE DE FIGUEIREDO – Ónus de alegar e provar em processo penal? / Anot. a STJ 14-7-1971, RLJ 105, 1972-73, 125-128, 139-143. ENGEL, CHRISTOPH – Zivilrecht als Fortsetzung des Wirtschaftsrechts mit anderen Mitteln. Rechtspolitische und verfassungsrechtliche Überlegungen am Beispiel des Haftungsrechts, JZ 1995, 213-218. ENGISCH, KARL – Introdução ao pensamento jurídico, 6.ª ed., trad. JOÃO BAPTISTA MACHADO da 8.ª ed., FCG, Lisboa, 1988 (1983). Há uma 9.ª ed. alemã (1997). ESSER, JOSEF – Grundsatz und Norm in der richterlichen Fortbildung des Privatrechts. Rechtsvergleichende Beiträge zur Rechtsquellen- und Interpretationslehre, 4.ª ed. inalterada, Mohr (Siebeck), Tubinga, 1990 (1956). Cit. Grundsatz. FERREIRA, JOSÉ DIAS – Codigo civil portuguez annotado, 4 vols., 2.ª ed., Universidade de Coimbra, Coimbra, 1894-1905. FERREIRA, MANUEL CAVALEIRO DE – Curso de processo penal, vol. I, Danúbio, Lisboa, 1986. FIKENTSCHER, WOLFGANG – Methoden des Rechts in vergleichender Darstellung, vol. IV, 5. Buch. Dogmatischer Teil, Mohr (Siebeck), Tubinga, 1977. FREITAS, JOSÉ LEBRE DE – A confissão no direito probatório (um estudo de direito positivo), Coimbra Ed., Coimbra, 1991. – Introdução ao processo civil. Conceito e princípios gerais. À luz do código revisto, Coimbra Ed., Coimbra, 1996. GASKINS, RICHARD H. – Burdens of proof in modern discourse, Yale University Press, New Haven / Londres, 1992. GEHRLEIN, MARKUS – Warum kaum Parteibeweis im Zivilprozeß?, ZZP 110/4, 1997, 451-475. GMEHLING, BERNHARD – Die Beweislastverteilung bei Schäden aus Industrieimmissionen, Carl Heymanns, Colónia / etc., 1989. = Diss. Regensburg. GONÇALVES, LUÍS DA CUNHA – Tratado de direito civil em comentário ao Código Civil português, vol. XIII, Coimbra Ed., Coimbra, 1940. GOUVEIA, CARLOS A. M. – Pragmática, in FARIA, ISABEL HUB / PEDRO, EMÍLIA RIBEIRO / DUARTE, INÊS / GOUVEIA, CARLOS A. M. (coord.), Introdução à linguística geral e portuguesa, Caminho, Lisboa, 1996, 383-419. GREGER, REINHARD – Beweis und Wahrscheinlichkeit. Das Beweiskriterium im Allgemeinen und bei den sogenannten Beweiserleichterungen, Carl Heymanns, Colónia / etc., 1978. 115 GÜLDNER, WERNER – Die Beweislast für Verschulden bei der Haftung für positive Vertragsverletzung, Verschulden bei Vertragsschluß und nachvertragliches Verschulden, Diss., Bona, 1965. HANSEN, UDO – Beweislast und Beweiswürdigung im Versicherungsrecht, Peter Lang, Francoforte no Meno / Berna / Nova Iorque / Paris, 1990. HEGEL, GEORG WILHELM FRIEDRICH – Princípios da filosofia do direito, trad. ORLANDO VITORINO, 4.ª ed., Guimarães Ed., 1990 (1820). HEINE, GÜNTER – Beweislastumkehr im Strafverfahren?, JZ 1995, 651-657. HEINEMANN, KLAUS – Die Beweislastverteilung bei positiven Forderungsverletzungen. Eine rechtsvergleichende Untersuchung unter Berücksichtigung des französischen Rechts, Carl Heymanns, Colónia / etc., 1988. = Diss. Colónia 1986/7. Cit. Beweislastverteilung. HEINRICH, CHRISTIAN – Die Beweislast bei Rechtsgeschäften, Carl Heymanns, Colónia / etc., 1996. HEPTING, REINHARD – Schwerpunktanknüpfung und Schwerpunktvermutungen im internationalen Vertragsrecht. Zugleich ein Beitrag zur Beweislast bei der Konkretisierung von Generalklauseln, FS WERNER LORENZ, Mohr (Siebeck), Tubinga, 1991, 393-411. HUSTER, STEFAN – Beweislastverteilung und Verfassungsrecht, NJW 1995, 2, 112-113. KEANE, ADRIAN – The modern law of evidence, 4ª. ed., Butterworths, Londres / Dublim / Edimburgo, 1996. KEMPER, JUTTA – Beweisprobleme im Wettbewerbsrecht, Carl Heymanns, Colónia / etc., 1992. KRAPOTH, FABIAN – Die Rechtsfolgen der Beweisvereitelung im Zivilprozeß, V. Florentz, Munique, 1996. KREBS, PETER – Die Begründungslast, AcP 195, 1995, 171-211. LARENZ, KARL – Richtiges Recht. Grundzüge einer Rechtsethik, Beck, Munique, 1979. – Metodologia da ciência do direito, 3.ª ed., trad. JOSÉ LAMEGO da 6.ª ed., FCG, Lisboa, 1997 (1991). Há uma 7.ª ed. alemã, trabalhada por CANARIS. – Allgemeiner Teil des deutschen Bürgerlichen Rechts, 7.ª ed., C. H. Beck, Munique, 1989. Há uma 8.ª ed. (1997), trabalhada por WOLFF. LEIPOLD, DIETER – Beweislastregeln und gesetzliche Vermutungen. Insbesondere bei Verweisungen zwischen verschiedenen Rechtsgebieten, Duncker & Humblot, Berlim, 1966. LEITÃO, LUÍS MENEZES – O enriquecimento sem causa no direito civil (estudo dogmático sobre a viabilidade de configuração unitária do instituto, face à contraposição entre as diferentes categorias de enriquecimento sem causa), CCTF 176, CEF, Lisboa, 1996. LEONHARD, FRANZ – Die Beweislast, 2.ª ed., Franz Vahlen, Berlim, 1926. LIMA, FERNANDO PIRES DE – A reforma do direito privado português. Oração de sapiência proferida na Universidade de Coimbra, BMJ 110, 33-57. LIMA, FERNANDO PIRES DE / VARELA, J. ANTUNES – Código civil anotado, Coimbra Ed., Coimbra, vol. I, 4.ª ed., colab. HENRIQUE MESQUITA, 1987. LIMA, JOSÉ PINTO DE – O papel da semântica e da pragmática no estudo dos conectores, in FARIA, ISABEL HUB / PEDRO, EMÍLIA RIBEIRO / DUARTE, INÊS / GOUVEIA, CARLOS A. M. (coord.), Introdução à linguística geral e portuguesa, Caminho, Lisboa, 1996, 421-427. LINHARES, J. M. AROSO – Regras da experiência e liberdade objectiva do juízo de prova, BFDUC supl., XXXI, 1988, 1-364. MACHADO, JOÃO BAPTISTA – Introdução ao direito e ao discurso legitimador, reimp., Almedina, Coimbra, 1995 (1982). MACKIE, J. L. – Truth, probability and paradox. Studies in philosophical logic, Oxford, Clarendon, 1973. MARQUES, JOSÉ DIAS – Índice dos vocábulos do código civil português, RFDUL XXVI, 1986, 327-390, e XXVII, 1987, 203-321. – Noções elementares de direito civil, 7.ª ed., colab. PAULO DE ALMEIDA, ed. do A., Lisboa, 1992. MENDES, JOÃO DE CASTRO – Do conceito de prova em processo civil, FDUL, Lisboa, 1961. – Direito processual civil, 3 vols., AAFDL, Lisboa, 1987. MICHELI, GIAN ANTONIO – L’onere della prova, CEDAM, Pádua, 1942. Há reimp. de 1966. 116 MONCADA, LUÍS CABRAL DE – Lições de direito civil (parte geral), 1.ª ed., vol. II, Atlântida, Coimbra, 1932. – Lições de direito civil. Parte geral, 4.ª ed., Almedina, Coimbra, 1995 (1961). MONTEIRO, CRISTINA LÍBANO – Perigosidade de inimputáveis e «in dubio pro reo», Coimbra Ed., Coimbra, 1997. MOREIRA, GUILHERME ALVES – Instituições do direito civil português, vol. I, Parte geral, ed. do A., Coimbra, 1907. Há ed. posterior, de 1925. Motive zu dem Entwurfe eines Bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich. Amtliche Ausgabe, vol. I, Allgemeiner Theil, J. Guttentag, Berlim / Leipzig, 1888 (reimp. 1983). Cit. Motive. MUSIELAK, HANS-JOACHIM – Die Grundlagen der Beweislast im Zivilprozeß, Walter de Gruyter, Berlim / Nova Iorque, 1975. – Gegenwartsprobleme der Beweislast, ZZP 100/4, 1987, 385-411. Cit. GegenwartsP. NEVES, ANTÓNIO CASTANHEIRA – Questão-de-facto – questão-de-direito ou o problema metodológico da juridicidade (ensaio de uma reposição crítica), vol. I, A crise, Almedina, Coimbra, 1967. – A revolução e o direito, in Digesta, vol. I, cit., (1975-1976), 51-239. = ROA 1975 e 1976. – Metodologia jurídica. Problemas fundamentais, Coimbra Ed., Coimbra, 1993. – Digesta. Escritos acerca do direito, do pensamento jurídico, da sua metodologia e outros, 2 vols., Coimbra Ed., Coimbra, 1995. – Fontes do direito, in Digesta, vol. II, cit., 8-94. NICOLINI, KÄTE – Koppelung von Behauptungs- und Beweislast, NJW 1959, 40, 1767-1768. OLIVEIRA, FÁTIMA – Semântica, in FARIA, ISABEL HUB / PEDRO, EMÍLIA RIBEIRO / DUARTE, INÊS / GOUVEIA, CARLOS A. M. (coord.), Introdução à linguística geral e portuguesa, Caminho, Lisboa, 1996, 333-379. OLIVEIRA, J. TIAGO – Alguns comentos sobre o «Tractatus», in WITTGENSTEIN, Tratado, cit., XI-XXXVIII. OST, FRANÇOIS – A natureza à margem da lei. A ecologia à prova do direito, trad. JOANA CHAVES, Instituto Piaget, Lisboa, 1997 (1995). OTERO, PAULO – Lições de introdução ao estudo do direito, vol. I, 2 tomos, ed. do A., Lisboa, 1998/99. PAIVA, JOSÉ DA CUNHA NAVARRO DE – Tratado theorico e pratico das provas no processo penal, Manoel de Almeida Cabral, Coimbra, 1895. AWLOWSKI P , HANS-MARTIN – Methodenlehre für Juristen. Theorie der Norm und des Gesetzes. Ein Lehrbuch, 2.ª ed., C. F. Müller, Heidelberga, 1991. PERELMAN, CHAÏM – Logique juridique. Nouvelle rhétorique, 2.ª ed., Dalloz, s. l., 1979. PETERS, FRANK – Beweislast und Anspruchsgrundlagen im Streit der Forderungsprätendenten, NJW 1996, 12461249. PINHEIRO, LUÍS DE LIMA – Contrato de empreendimento comum (joint-venture) em direito internacional privado, Cosmos, Lisboa, 1998. PINTO, CARLOS DA MOTA – Cessão da posição contratual, reimp., Almedina, Coimbra, 1982 (1970). PINTO, CARLOS DA MOTA / SILVA, JOÃO CALVÃO DA – Responsabilidade civil do produtor, Dir. 121, 1989, 273-312. PINTO, FREDERICO DE LACERDA DA COSTA – A relevância da desistência em situações de comparticipação, Almedina, Coimbra, 1992. PLAGEMANN, HERMANN – Beweislastverteilung in der gesetzlichen Unfallversicherung, VersR 1997/1, 9-17. POHLE, RUDOLF – Zur Beweislast im internationalen Recht, FS HANS DÖLLE, vol. II, Mohr (Siebeck), Tubinga, 1963, 317-339. PRÖLSS, JÜRGEN – Die Beweislastverteilung nach Gefahrenbereichen, VersR 1964, 33(A), 901-906. Cit. Beweislastverteilung. – Beweiserleichterungen im Schadensersatzprozess, Versicherungswirtschaft, Karlsruhe, 1966. Cit. Beweiserleichterungen. PRÜTTING, HANNS – Gegenwartsprobleme der Beweislast. Eine Untersuchung moderner Beweislasttheorien und ihrer Anwendung insbesondere im Arbeitsrecht, Beck, Munique, 1983. REINHARDT, MICHAEL – Die Umkehr der Beweislast aus verfassungsrechtlicher Sicht, NJW 1994, 2, 93-99. 117 REINECKE, GERHARD – Die Beweislastverteilung im Bürgerlichen Recht und im Arbeitsrecht als rechtspolitische Regelungsaufgabe, Duncker & Humblot, Berlim, 1976. REIS, JOSÉ ALBERTO DOS – Código de Processo Civil anotado, Coimbra Ed., Coimbra, vol. III, 4.ª ed., reimp., 1985 (1949), vol IV, reimp., 1987 (1949). RICŒUR, PAUL – O justo ou a essência da justiça, , trad. VASCO CASIMIRO, Instituto Piaget, Lisboa, s. d. (1997-1995). ROSENBERG, LEO – Die Beweislast auf der Grundlage des Bürgerlichen Gesetzbuchs und der Zivilprozeßordnung, 5ª ed., Beck, Munique, 1965. Cit. Beweislast. Ed. póstuma, pref. por K. H. SCHWAB. Há trad. argentina da 3.ª ed. por E. KROTOSCHIN (Buenos Aires, 1956). ROSENBERG, LEO / SCHWAB, KARL HEINZ / GOTTWALD, PETER – Zivilprozeßrecht, 15.ª ed., Beck, Munique, 1993. Cit. ROSENBERG/SCHWAB/GOTTWALD. SANCHES, J. L. SALDANHA – O ónus da prova em processo fiscal, CCTF 151, CEF, Lisboa, 1987. – Quantificação da obrigação tributária. Deveres de cooperação, autoavaliação e avaliação administrativa, CCTF 173, CEF, Lisboa, 1995. SCHÄFER, HANS-BERND / OTT, CLAUS – Lehrbuch der ökonomischen Analyse des Zivilrechts, 2.ª ed., Springer, Berlim / Heidelberga / etc., 1995. SCHENCK, DEDO VON – Der Begriff der „Sphäre“ in der Rechtswissenschaft insbesondere als Grundlage der Schadenszurechnung, Duncker & Humblot, Berlim, 1977 (1950). SCHLEMMER-SCHULTE, SABINE – Beweislast und Grundgesetz. Eine verfassungsrechtliche Untersuchung zur zivilprozessualen Beweislast im Haftungsrecht, Carl Heymanns, Colónia / etc., 1997. CHLÜCHTER , FABIO – Haftung für gefährliche Tätigkeit und Haftung ohne Verschulden. Das italienische Recht als S Vorbild für das schweizerische?, Paul Haupt, Berna / Estugarda, 1990. SCHWAB, KARL HEINZ – Zur Abkehr moderner Beweislastlehren von der Normentheorie, FS HANS-JÜRGEN BRUNS, Carl Heymanns, Colónia / etc., 1978, 505-519. SERRA, ADRIANO PAES DA SILVA VAZ – A revisão geral do Código Civil. Alguns factos e comentários, BMJ 2, 1947, 24-76. – Obrigação de indemnização (colocação, fontes, conceito e espécies de dano, nexo causal, extensão do dever de indemnizar, espécies de indemnização). Direito de abstenção e de remoção, BMJ 84, 1959, 5-303. Cit. Obrigação de indemnização. – Obrigação de alimentos, BMJ 108, 19-194. – Provas (direito probatório material), BMJ 110, 111 e 112, 1961, pp. 61-256, 5-194, 33-299, respectivamente. SILVA, GERMANO MARQUES DA – Curso de processo penal, Verbo, Lisboa, vol. I, 3.ª ed., 1996, vol. II, reimp., 1996 (1993). SILVA, JOÃO CALVÃO DA – Responsabilidade civil do produtor, Almedina, Coimbra, 1990. SILVA, MANUEL GOMES DA – O dever de prestar e o dever de indemnizar, vol. I, FDUL, Lisboa, 1944. SOARES, ROGÉRIO EHRHARDT – Interesse público, legalidade e mérito, s. e., Coimbra, 1955. SOUSA, MIGUEL TEIXEIRA DE – Acções de simples apreciação (objecto; conceito; ónus da prova; legitimidade), sep. RDES XXV, 1980, 123-148. Cit. Acções de apreciação. – A livre apreciação da prova, ScI XXXIII, 1984, 115-146. – O concurso de títulos de aquisição da prestação: Estudo sobre a dogmática da pretensão e do concurso de pretensões, Almedina, Coimbra, 1988. Cit. Concurso. – Apontamento sobre a decisão de um non liquet na interpretação dos negócios jurídicos, Dir. 122, 1990, 281-290. – Aspectos metodológicos e didácticos do direito processual civil, RFDUL XXXV, 1994, 337-438. – Sobre o ónus da prova nas acções de responsabilidade civil médica, in Direito da Saúde e Bioética, AAFDL, Lisboa, 1996, 121-144. Cit. Responsabilidade médica. – Estudos sobre o novo processo civil, 2.ª ed., Lex, Lisboa, 1997. STECHER, HEINER – Die Ursachenvermutungen des Umwelthaftungs- und des Gentechnikgesetzes im Gefüge der individualhaftungsrechtlichen Schadenszurechnung, Peter Lang, Francoforte no Meno, 1995. STOLL, HANS – Haftungsverlagerung durch beweisrechtliche Mittel, AcP 176, 1976, 145-196. TERBILLE, MICHAEL – Die Beweislastverteilung bei der Tierhalterhaftung nach § 833 BGB, VersR 1995, 129-134. 118 VARELA, J. M. ANTUNES – Do projecto ao código civil, BMJ 161, 5-85. VARELA, J. M. ANTUNES / BEZERRA, J. MIGUEL / NORA, SAMPAIO E – Manual de processo civil, Coimbra Editora, Coimbra, 1980. Cit. VARELA / BEZERRA / NORA. VASCONCELOS, PEDRO PAIS – Contratos atípicos, Almedina, Coimbra, 1995. VIEHWEG, THEODOR – Topik und Jurisprudenz. Ein Beitrag zur rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung, 5.ª ed., Beck, Munique, 1974. WACKE, ANDREAS – Donatio non praesumitur. Ein sprichwörtliches Naturrechtsprinzip gegen ein versteinertes Beweislast-Dogma, AcP 191, 1991, 1-32. WAHRENDORF, VOLKER – Die Prinzipien der Beweislast im Haftungsrecht, Carl Heymanns, Colónia / etc., 1976. WITTGENSTEIN, LUDWIG – Tratado lógico-filosófico, intr. BERTRAND RUSSELL, trad. e pref. M. S. LOURENÇO, reimp., FCG, Lisboa, 1995 (1981-1918). Cita-se pela numeração das proposições. – Über Gewissheit / On certainty, ed. bilingue, publ. G. E. M. ASCOMBE / G. H. VON WRIGHT, trad. DENIS PAUL / G. E. M. ASCOMBE, Blackwell, Oxford, 1998 (1969-1951). XAVIER, BERNARDO DA GAMA LOBO – Justa causa de despedimento: conceito e ónus da prova, RDES XXX, 1, 1988, 1-68. = La carga de la prueba de la justa causa, in Cuestiones laborales em homenaje a VICTOR RUSSOMANO, México, 1988. ZIPPELIUS, REINHOLD – Juristische Methodenlehre. Eine Einführung, 6.ª ed., Beck, Munique, 1994. ZWEIGERT, KONRAD / KÖTZ, HEIN – Einführung in die Rechtsvergleichung, 3.ª ed., Mohr (Siebeck), Tubinga, 1996. Há trad. inglesa de ed. anterior: Introduction to comparative law, 2.ª ed., trad. TONY WEIR, reimp., Clarendon, Oxford, 1993 (1987). 119 ÍNDICE DE ASSUNTOS* acção, vide excepção acções de apreciação «da existência ou inexistência de um facto», 96 acções de apreciação negativa, 48 s., 123, 124349, 127, 128370, 129 analogia, 93 s., 157 argumentação jurídica, 89, 146 ss. – vide inércia argumentativa casum sentit dominus, 109298, 112 s. cláusulas gerais, 156 s. coisas fungíveis e infungíveis, 103, 104279 compropriedade (atribuição da), 101 s. conjunções subordinativas condicionais, 45, 125 s., 135 ss., 155 contranormas, 45 s., 100268, 151 s. contraprova indirecta, 50, 125355, 156 contrário, vide factos contratópico, 151 s. decisão legislativa, 3973, 87 ss. dever de decidir, 59129, 70 ss. direito e caso concreto, 3873, 145 divisão da prestação, vide solução substantiva donatio non præsumitur, 103 economia argumentativa, vide inércia enunciado – e norma, 44, 55120, 77, 132380 – e proposição, 4478 enxerto da acção civil na penal, 142403 erro, 104 * esferas (teoria das), vide teoria estado possessório, 100 s., 103 ss. – ampliado, 107, 109, 111 ss. – e decurso do tempo, 102272, 104280, 114310, 115312 – vide princípio do agressor excepção – processual, 117 s., 119, 121 ss., 129 – vide normas excepcionais facto do tópico, 150 factos – alternativos, 141 – contrários, 20, 53 s., 57 s. – negativos, 2213, 36, 85218, 90237, 115 s., 117 s., 119, 123, 130 s., 132382, 140 ss. – vide normas ficção, 63, 74 – vide normas remissivas fundamentos da distribuição do ónus da prova – necessidade, 157 – vide factos negativos – vide in dubio pro reo – vide «obrigações de meios» – vide princípio do agressor – vide probabilidade – vide teoria das esferas gratuitidade dos negócios, 103275 Os algarismos maiores remetem às páginas; os menores às notas. 120 – e proposições, 57122 – remissivas, 63143, 68, 74, 75 s. – sem facti species, 81204 – e tópicos-normas, 147 ss. – vide contranormas – vide excepção – vide platonismo – vide regra operativa «obrigações de meios»/«de resultado», 131377 omissão, vide factos negativos ónus da alegação – conceito, 35 s. – e ónus da prova, 36 ss., 152 ss. – e teoria das normas, 150 ss. «ónus da determinação», 27 s. ónus da produção de prova, 19 ss., 154 – ausência no direito português actual, 22 ss. ónus da prova – concreto e abstracto, 48 ss., 156 s. – conflitos de leis no tempo e no espaço, 29 – em direito penal, 25 ss., 142403 – distribuição, 20, 64 ss., 72 s. – «indissociabilidade» do direito substantivo, 67, 75 ss. – «inversão» do, 76188 – limites, vide solução substantiva específica – localização no sistema jurídico, 29 ss. – na «questão de direito», 3146, 156443 – objectivo, 19 ss. – perspectiva objectiva e subjectiva, 19, 24 s. – em problemas não jurídicos, 30 s. impugnação, vide excepção in dubio pro reo, v. ónus da prova em direito penal incerteza – como matéria assente, 33 s. – em direito privado stricto sensu, 35 – «objectiva», pré-processual, 30 ss., 99265 – supressão do problema da, 153 s. – vide ónus da prova – vide solução substantiva específica inércia – argumentativa, 3146, 151 ss. – vide estado possessório «interpretação literal», vide teoria das normas e redacção legal justiça e verdade, 34 legislação, vide decisão legislativa lei, 93 medida da prova, 2627, 59127, 98263, 105281 – vide prova prima facie necessidade de decidir, 70 ss. negação, vide factos negativos norma fundamental negativa, 63 s. normalidade, vide probabilidade normas – autónomas incompatíveis, 46, 100 ss. – conservativas, 82 ss. – constitutivas, 46, 77, 114, 117 s. – constitutivas ulteriores, 84214 – e enunciados, 44, 55120, 77, 132380 – excepcionais, 53, 55121, 153436 – excludentes, 46, 78 ss., 81203 – extintivas, 46, 78 ss., 82 ss., 109, 111 ss. – impeditivas, 46 s., 51, 52 ss., 64, 66159, 113 s., 131379, 149 – impeditivas de segundo grau, 79 s., 128367 – modificativas, 123, 126, 127367 – permissivas, 56122 121 – e redacção legal, vide teoria das normas – subjectivo, vide ónus da produção de prova – triplicidade da decisão de, 66, 69, 73 oposição (intervenção de opoente), 102 permissões, vide normas permissivas platonismo de normas e situações jurídicas, 83 posse, 111302 – vide estado possessório posse do estado de filho/de casado, 114309 – vide estado possessório pragmática (e semântica), 136 ss. prescrições presuntivas, 114310 presunção, 2213, 3146, 48, 59128, 76 s., 153436, 155 – vide ónus da prova – vide ficção primeira aparência, vide prova prima facie princípio do agressor, 82, 90236, 100 s., 101270, 102272, 105 ss., 155 – e teoria das normas, 108 ss. – vide estado possessório «princípio da não aplicação da norma» ou da necessidade de prova total – formulação, 43 ss., 143 s. – refutação, 54 ss., 58 ss. – explicação, 148 ss., 153 s. – vide norma fundamental negativa princípio do queixoso, vide princípio do agressor probabilidade e normalidade, 90237, 91 s., 116, 118, 123, 134 s., 137 promessa de cumprimento, vide estado possessório ampliado proposição – e enunciado, 4478 – e norma, 57122 prova prima facie, 91, 98263 quantificação, 96 ss. questão de facto/questão de direito, 4173 reconhecimento de dívida, vide estado possessório ampliado regra operativa, 62135, 64, 65 ss., 72 s., 120331 réplica (admissibilidade), 121336 res perit domino, vide casum sentit dominus retroactividade, 78, 84214 salomónico (juízo), 98, 99 ss. silogismo judiciário, 4073 solução substantiva específica, 69 s., 73, 92, 96 ss. status quo, vide estado possessório subsunção, 4073 teoria da «causalidade adequada», 98263 teoria das esferas, 90237, 90238, 139397 teoria dos factos provados, 52108, 60133 teoria da impugnação/teoria da excepção, 122337 teoria das normas – formulação, 17 ss., 43 ss. – aceitação acrítica, 132380, 153 s. – aceitação crítica, 50 ss. – acolhimento no art. 342.º CC, 129, 134 s. – «acolhimento» no art. 2405.º CS e no art. 516.º CPC, 120331, 150 – esvaziamento, 80 s., 134 s. 122 – explicação, 148 ss., 153 s. – limites, 92 ss., 99 ss., 156 s. – em Portugal, 124 ss. – e princípio do agressor, 108 ss. – refutação, 50 ss., 77 ss. – e redacção legal, 44 s., 4585, 80 s., 132 s., 135 s., 144407, 151432; vide conjunções – vide princípio da não aplicação teoria das normas modificada, 50 ss., 105 teoria da plenitude da facti species, 52108, 60133 tópica e retórica, 144 ss. tópicos, tópicos-normas, 140, 142, 143 ss. 123 ÍNDICE SISTEMÁTICO NOTA PRELIMINAR CONVENÇÕES ABREVIATURAS II III IV INTRODUÇÃO 1. 2. O tema Ónus objectivo e ónus da produção de prova. Versão onerada e parte onerada. Localização e âmbito do ónus objectivo 3. Distinção e discrepâncias entre ónus da alegação e ónus da prova 1 3 14 A TEORIA DAS NORMAS E O ART. 342.º, N.ºS 1 E 2 4. 5. 6. 7. A «teoria das normas» de ROSENBERG A aceitação crítica da «teoria das normas» Pressuposto e estrutura formais da decisão de ónus da prova Natureza meramente verbal das «normas constitutivas». «Normas impeditivas de segundo grau». «Normas conservativas». 8. O problema legislativo 9. Limites da «teoria das normas» e limites do ónus da prova 10. «Teoria das normas» e princípio do agressor 11. O surgimento da «teoria das normas» no direito português 12. «Teoria das normas» sem BGB? 13. Tópicos-normas. A afirmada coincidência entre ónus da prova e ónus da alegação. Explicação da «teoria». Sentido do art. 342.º 14. A necessidade de fundamentos da distribuição do ónus da prova CONCLUSÕES BIBLIOGRAFIA ÍNDICE DE ASSUNTOS 20 24 32 44 52 55 65 73 84 93 103 105 107 113 124
Baixar