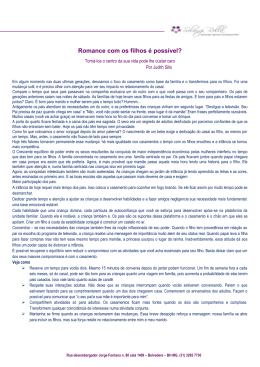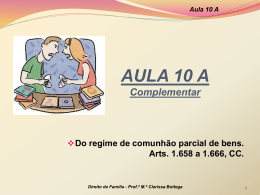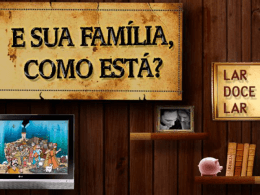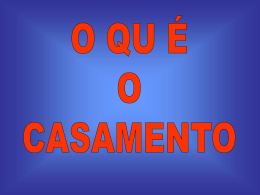UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ PAULO ROBERTO DIAS OS DIREITOS DA MULHER DECORRENTES DA NOVA ESTRUTURA DA FAMÍLIA NO DIREITO BRASILEIRO BIGUAÇU 2009 PAULO ROBERTO DIAS OS DIREITOS DA MULHER DECORRENTES DA NOVA ESTRUTURA DA FAMÍLIA NO DIREITO BRAILEIRO Monografia apresentada à Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, como requisito parcial a obtenção do grau em Bacharel em Direito. Orientador: Prof. MSc. Renato Heusi de Almeida BIGUAÇU 2009 PAULO ROBERTO DIAS OS DIREITOS DA MULHER DECORRENTES DA NOVA ESTRUTURA DA FAMÍLIA NO DIREITO BRASILEIRO Esta Monografia foi julgada adequada para a obtenção do título de bacharel e aprovada pelo Curso de Direito, da Universidade do Vale do Itajaí, Centro de Ciências Sociais e Jurídicas. Área de Concentração: Direito Civil – Direito de Família BIGUAÇU, 16 de junho de 2009. Prof. MSc. Renato Heusi de Almeida UNIVALI – Campus de Biguaçu Orientador Prof. MSc. Geyson José Gonçalves da Silva UNIVALI – Campus de Biguaçu Membro Banca Prof. MSc. Helena Natasssya Paschoal Pitsica UNIVALI – Campus de Biguaçu Membro Banca Dedico este trabalho ao meu orientador Professor Renato Heusi de Almeida Agradeço a Deus pela saúde e a todos aqueles que tornaram possível esta caminhada. Ao meu orientador Professor Renato pela paciência e por tudo que aprendi. A monogamia nasceu da concentração de grandes riquezas nas mesmas mãos – as de um homem – excluídos os filhos de qualquer outro. Friedrich Engels -1820-1895 TERMO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE Declaro, para todos os fins de direito, que assumo total responsabilidade pelo aporte ideológico conferido ao presente trabalho, isentando a Universidade do Vale do Itajaí, a coordenação do Curso de Direito, a Banca Examinadora e o Orientador de toda e qualquer responsabilidade acerca do mesmo. BIGUAÇU, 16 de junho de 2009. Paulo Roberto Dias RESUMO O presente trabalho tem por objetivo o estudo da posição assumida pela mulher casada/companheira no novo ordenamento jurídico brasileiro. O objetivo geral é analisar as conquistas obtidas na posição da mulher dentro da relação familiar. Buscou-se demonstrar a transformação do ordenamento jurídico brasileiro, através do tempo, relativamente a esta posição. Para tanto, o primeiro capítulo apresenta uma síntese da família e seus diversos modos de formação e constituição através dos tempos. No segundo capítulo é apresentada a legislação brasileira relativa ao comportamento dos cônjuges/companheiros, direitos e deveres e a posição da mulher na relação conjugal em busca de igualdade legislativa. Por fim o terceiro capítulo aborda a posição atual da mulher dentro da relação conjugal no Brasil e são apontados pontos a serem buscados para se corrigirem as desigualdades que por ventura ainda possam existir, bem como a obrigação do Estado em proteger as novas formas de constituição da família moderna, tomando-se por princípio que a família é a base do Estado e todos os seus partícipes tem igualdade de direitos e obrigações dentro dela. Palavras-chave: Família; Mulher; Igualdade. ABSTRACT The objective of this research is to study women´s stake on new brazilian legal system by analyzing the changes of women´s status on the family relationship. Therefore the first chapter presents a summary of the family evolution on the history timeline. The second chapter presents the legal aspects of marital relationship, duties and rights and discusses the women acquisition of equal rights on this relationship. The third chapter presents the situation in Brazil and pinpoint ways to correct the existing inequalities , as well as, the new ways law can protect the new family format, considering that the basis of the State is the family cell. Key-words: Family; Women; Equal rights; ROL DE CATEGORIAS Casamento Azevedo (2001, p.35), entende que: “Casamento é o vinculo jurídico, de natureza institucional, entre duas pessoas de sexo oposto que têm como finalidade o auxílio mútuo, tanto material quanto espiritual, fazendo com que elas se integrem fisiopsiquicamente de maneira a constituir uma Família” 1. Direitos Fundamentais Conforme Bastos: Dá-se o nome de liberdades públicas, de direitos humanos ou individuais, àquelas prerrogativas que tem o indivíduo em face do Estado constitucional ou do Estado de Direito Segundo ele ainda podem denominar-se de direitos individuais ou liberdades públicas como denominam os franceses,ou até mesmo de direitos do homem e do cidadão 2. Isonomia No entender de Melo: “Princípio segundo o qual se estabelece uma situação jurídica de igualdade, prescrevendo-se que, em condições indistintas, devem todos ser submetidos às mesmas disposições legais” 3. Sociedade Conjugal Para Wald: “é composta pelo marido e pela mulher, constitui o núcleo básico da família, caracterizando-se pela convivência social e física e pela solidariedade econômica” 4. 1 AZEVEDO, Álvaro Vilaça de. Estatuto da Família de Fato: antigo casamento de fato, concubinato e união estável. São Paulo. Jurídica Brasileira. 2001. p. 35. 2 BASTOS,Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. São Paulo.Celso Bastos Editora. 2002. p. 258. 3 MELO, Osvaldo Ferreira de. Dicionário de Política Jurídica. Florianópolis. OAB-SC. 2000. p. 51. 4 WALD, Arnoldo. O Novo Direito de Família. 14. ed. Ref. Atual. E ampli. Pelo autor. São Paulo. Saraiva. 2002. p. 80. SUMÁRIO INTRODUÇÃO .......................................................................................1 CAPÍTULO I ...........................................................................................4 1 A FAMÍLIA ..........................................................................................4 1.1 A FAMÍLIA NA ANTIGUIDADE - ASPÉCTOS HISTÓRICOS..............................4 1.1.1 A FAMÍLIA ROMANA.............................................................................................5 1.1.1.1 Os tipos de Casamento em Roma..................................................................8 1.1.2 A Família na Idade Média................................................................................9 1.1.2.1 A Influência da religião católica.....................................................................10 1.1.2.2 A Concepção do Casamento........................................................................12 1.1.2.3 O Concilio de Trento.....................................................................................12 1.1.3 As Ordenações do Reino de Portugal..........................................................13 1.2 A FAMÍLIA NO DIREITO BRASILEIRO.............................................................14 1.2.1 Fato Social......................................................................................................16 1.2.1.1 Finalidade......................................................................................................17 1.3 . CONCEITOS.....................................................................................................18 1.3.1 O Casamento dos Não Católicos..................................................................20 1.3.2 O Código Civil de 1916..................................................................................21 1.4 FUNDAMENTO LEGAL DA FAMÍLIA NO DIRETO BRASILEIRO....................23 CAPÍTULO II ........................................................................................26 2 A UNIÃO ESTÁVEL..........................................................................26 2.1 DA UNIÃO ESTÁVEL.........................................................................................27 2.1.2 Resumo Legislativo da União Estável ........................................................31 2.2 O CONCUBINATO – CONCEITO ..................................................................35 2.2.1 O Concubinato Perante o Direito Brasileiro...............................................36 2.2.2 Da Terminologia............................................................................................37 2.2.3 Das Restrições havidas na Idade Média - Igreja Católica.........................39 2.3 O CONCUBINATO NO DIREITO BRASILEIRO...............................................41 2.4 DAS SÚMULAS 380 E 382 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF......42 2.5 DOS CONTRATOS PATRIMONIAIS NA UNIÃO ESTÁVEL............................43 2.5.1 Contrato de Namoro.....................................................................................44 2.5.2 Indenização por Serviços Prestados..........................................................45 2.6 DAS LEIS 8.971/94 E 9.278/96.........................................................................45 CAPÍTULO III........................................................................................48 3 DOS DIREITOS DA MULHER NA SOCIEDADE FAMILIAR BRASILEIRA........................................................................................48 3.1 AS MUDANÇAS NA LEGISLAÇÃO DECORRENTES DA REVOLUÇÃO FRANCESA EM RELAÇÃO AOS DIREITOS INDIVIDUAIS ..................................49 3.3.1. Mudanças Ocorridas na Legislação Brasileira.........................................50 3.2 IGUALDADE NA DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DO HOMEM51 3.3 LEI 4.121/62O - ESTATUTO DA MULHER CASADA......................................54 3.4 A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E ASAPÉCTOS RELATIVOS À IGUALDADE DO HOMEM E DA MULHER...................................................................................................56 3.5 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – IGUALDADE...........................................58 3.5.1 Igualdade Formal .......................................................................................61 3.5.2 Igualdade Material.........................................................................................62 3.6 CONQUISTAS FEMMININAS APÓS A EDIÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.................................................................................................64 3.6.1 Principais Alterações do Direito de Família do Novo Código Civil..........65 3.7 OS NOVOS DESAFIOS FRENTE ÀS NOVAS DEMANDAS SOCIAIS............68 3.7.1 Origens da Lei 11.340/06 – Lei Maria da Penha..........................................69 CONCLUSÃO..........................................................................................................72 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS..................................................................................................75 INTRODUÇÃO A presente Monografia tem como objeto o estudo sobre a posição jurídica da mulher casada/companheira dentro da relação de casamento. O seu objetivo é buscar na doutrina e jurisprudência a mudança de posição da mulher no casamento e na União Estável. A escolha do tema se justifica em função das profundas transformações sofridas pela família moderna onde a mulher ocupa um papel preponderante em relação a estas mudanças, dada a sua condição física em relação ao homem. A mulher considerada como geradora de prole e ainda sendo aquela que amamenta, têm dentro da espécie humana um papel fundamental até mesmo para a continuidade da espécie, todavia, apesar desta importância ela nem sempre teve seu lugar assegurado em relação à hierarquia familiar, sendo desde o início da formação das sociedades, submissa ao homem e relegada a um segundo plano quando se trata de direitos sociais. A proteção à sua condição física nem sempre foi observada e suas peculiaridades femininas nem sempre reconhecidas. Todas as conquistas femininas em busca de igualdade perante o homem, foram através de lutas, seja por direitos humanos, seja por direitos diretamente ligados a figura feminina como, por exemplo, a gestação ou a amamentação. Assim, modernamente os direitos humanos estão em evidência e os direitos femininos por excelência dentro da gama dos direitos humanos. Se considerado que é a mulher a responsável pela conservação da espécie através da gestação e amamentação, deve receber especial atenção do Estado com relação à proteção legal. O objetivo da pesquisa acadêmica quanto a posição atual da mulher dentro da relação familiar, através das garantias constitucionais busca revelar e questionar o grau de igualdade que se encontra a mulher em relação ao homem dentro do casamento ou União Estável e apontar caminhos para a melhoria da igualdade de direitos frente às novas formas de instituição de família 2 que modernamente existem ou ainda podem aparecer e as necessidades específicas da mulher em relação à prole e a si própria. Para tanto, principia–se, no Capítulo 1, tratando de definir e conhecer a instituição familiar através do tempo foi na família que a posição da mulher se modificou em função das mudanças ocorridas na sociedade. Trata também o capítulo de conhecer as diversas formas de família reconhecidas pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, resultado das transformações sofridas ao longo do tempo, bem como a análise destas transformações legais. O Capítulo 2 trata da união estável desde as suas origens até sua posição atual no direito brasileiro, do concubinato, sua definição e formas de interpretação jurídicas, e suas formas. As restrições que havia na Idade Média em função da posição da Igreja Católica e o modo como é tratado no ordenamento jurídico pátrio no decorrer do tempo também é considerado neste capítulo. No Capítulo 3, a pesquisa está direcionada para a busca de se conhecer a posição da mulher inserida dentro do modelo familiar moderno, seus deveres e direitos em igualdade com o homem. Para tanto o conceito de igualdade, os tipos de igualdade, a Declaração Universal dos Direitos do Homem auxiliam a se entender a posição atual. Lutas como a Revolução Francesa, que altera profundamente os direitos individuais foram pesquisadas. Dentro do direito brasileiro deve-se destacar a posição feminina frente à Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, relativamente à igualdade em relação ao homem e as novas conquistas obtidas através da legislação infraconstitucional após a Carta de 88. A Lei Maria da Penha que deu amparo à segurança da mulher entra do seio da família, protegendo-a contra agressões, que físicas ou morais e os novos desafios do Judiciário diante das novas demandas sociais fazem parte do capítulo. 3 O presente Relatório de Pesquisa se encerra com as conclusões, nas quais são apresentados pontos concernentes às mesmas, destacados, seguidos da estimulação à continuidade dos estudos e das reflexões sobre a posição da mulher na família contemporânea. Para a presente monografia foram levantadas as seguintes hipóteses: - A mulher através dos tempos sempre teve posição subalterna em relação ao homem na sociedade familiar; - A posição da mulher em relação ao homem sofreu evolução dentro da sociedade familiar; - A mulher ainda permanece em posição inferior ao homem na sociedade conjugal; - A legislação brasileira não acompanha de forma satisfatória as solicitações sociais relativa à igualdade de direitos, sobretudo em relação à mulher casada ou que vive em União Estável. Quanto à Metodologia empregada, registra-se que, na Fase de Investigação foi utilizado o Método Indutivo, e, o Relatório dos Resultados expresso na presente Monografia é composto na base lógica Indutiva. Nas diversas fases da Pesquisa, foram acionadas as Técnicas, do Referente, da Categoria, do Conceito Operacional e da Pesquisa Bibliográfica. CAPÍTULO I Através do estudo da família, conhecendo sua origem e suas modificações ocorridas no tempo podem-se entender as lutas da mulher dentro da sociedade na busca da igualdade de direitos e deveres em relação ao homem. 1 A FAMÍLIA Como todo dia surgem novos olhares e novos tipos de relacionamento, estes determinam à dinâmica do direito de família e sua constante evolução. Madaleno lembra que nem sempre as inovações são frutos de novos pensamentos ou coisas modernas. Comparando o direito de família com a moda afirmam que este segue as tendências, os estilos, texturas, todavia, “nem sempre o direito de família se atualiza e projeta suas soluções para uma dimensão de futuro. Cauteloso, busca sua inspiração nas experiências do passado” 5, quando pretende buscar o equilíbrio das relações, usando modelos bem sucedidos, a mescla do passado com o presente pode ser também boa fonte de inspiração já que pode aproximar gerações. 1.1 A FAMÍLIA NA ANTIGUIDADE – ASPÉCTOS HISTÓRICOS Com relação ao aspecto histórico da instituição familiar, sob o ponto de vista sociológico, já que sob o aspecto jurídico sua ocorrência somente é verificada mais tarde, Venosa ensina que “no estado primitivo das civilizações o grupo familiar não se assentava em relações individuais”, quando fez referência à descrição feita por Engels, ao tratar sobre a origem da família, já que os indivíduos praticavam a endogamia, que se constituía em relações sexuais entre todos os 5 MADALENO. Paternidade Alimentar. 1999. p. 134. 5 integrantes da tribo sem individualizar casais. Tal procedimento acabava por gerar o desconhecimento do pai, o que se caracterizava como uma sociedade matriarcal 6. Venosa salienta que na existência das primeiras civilizações de importância, no passado, tais como a assíria, hindu, egípcia, grega e romana “o conceito de família foi de uma entidade ampla e hierarquizada, retraindo-se hoje, fundamentalmente, para o âmbito quase exclusivo de pais e filhos menores, que vivem no mesmo lar” 7. A monogamia reforçou o exercício do poder paterno, onde em cada lar existe uma pequena oficina, o que torna a família em “fator econômico de produção”. Tal quadro somente foi revertido com a Revolução Industrial, sendo que deste momento em diante a família perde a sua característica de unidade de produção restrita quase que exclusivamente ao interior dos lares 8. Essa combinação de dignidade da pessoa humana e proteção integral da estrutura familiar sob qualquer forma é fruto de um longo caminho que passou pela sociedade romana e sua concepção de família. 1.1.1 A Família Romana Leciona Venosa que em Roma as famílias eram organizadas segundo o princípio da autoridade. O pater (chefe) ocupava simultaneamente as funções de chefe político, sacerdote e juiz. Possuía sobre os filhos direito de vida e morte. Era o pater também o único possuidor dos bens da família. domenica potestas – poder sobre o patrimônio familiar; patria potestas – poder sobre a pessoa dos filhos e; manus – poder sobre a mulher. Na família romana nem o afeto nem o nascimento eram o fundamento da família. Venosa observa ainda que “em Roma, o poder do pater exercido sobre a mulher, os filhos e os escravos era quase absoluto. A família como 6 ENGELS, Friedrich. A Origem da Família da Propriedade Privada e do Estado. 15. ed. Rio de Janeiro. Bertrand Brasil. 2000. p. 31. 7 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Direito de Família. 6. ed. São Paulo. Atlas. 2006. p. 3. 8 VENOSA. Direito Civil: Direito de Família. 2006. p. 3. 6 grupo é essencial para a perpetuação do culto religioso”. Neste caso a religião exercia mais poder que o vínculo pelo nascimento. O culto aos antepassados era dirigido pelo pater e a mulher ao se casar, abandonava o culto dos antepassados do pai e passava a cultuar os antepassados do marido. Neste período também o celibato era considerado desgraça já que ameaçava a continuidade do culto 9. A máxima mencionada por Azevedo dá uma idéia da fusão destes elementos: “nuptiae sunt coniunctio maris et feminae, et consortium omnis vitae, divini et humani iuris communicatio” (as núpcias são a união do marido e da mulher e o consórcio para toda a vida, a comunicação do direito divino e do humano). Para o direito romano não era o bastante o primeiro elemento, não bastava somente o acordo de viver o matrimônio, era necessário também que essa união fosse duradoura 10. Assevera ainda Venosa que o caráter de culto religioso no casamento permanece até hoje, já que a família é considerada como a célula básica da igreja. A família, nascida sem a regulamentação do casamento constitui-se na família de fato, quando sob a luz da legislação pátria, contemplando as formalidades do casamento, diz-se família de direito. Tal instituição, portanto, vai do concubinato ao casamento de fato, necessitando de proteção e de garantias jurídicas. A família romana como fundamento de sua sociedade tem no casamento sua base (iustae nuptiae) como conceito de matrimônio a presença de dois elementos distintos, sendo que o objetivo é resultante da convivência do marido e da mulher, o subjetivo se representa pela afeição marital. Não bastava, porém gerar um filho: este deveria ser fruto de um casamento religioso. O filho bastardo ou natural não poderia ser o continuador da religião doméstica. As uniões livres não possuíam o status de casamento, embora se lhes atribuísse certo reconhecimento jurídico. O cristianismo condenou as uniões livres e instituiu o casamento como sacramento, pondo em relevo a comunhão espiritual entre os nubentes, cercando-a de solenidades perante a autoridade religiosa. 9 VENOSA. Direito Civil: Direito de Família. 2006. p. 4. AZEVEDO, Álvaro Vilaça. Estatuto da Família de Fato: antigo casamento de fato, concubinato e união estável. São Paulo. Jurídica Brasileira. 2001. p. 40. 10 7 Por muito tempo na história, inclusive durante a Idade Média, nas classes nobres, o casamento esteve longe de qualquer conotação afetiva. A instituição do casamento sagrado era um dogma da religião doméstica. Várias civilizações do passado incentivavam o casamento da viúva, sem filhos, com o parente mais próximo de seu marido, e o filho dessa união era considerado filho do falecido. O nascimento da filha não preenchia a necessidade, pois ela não poderia ser continuadora do culto de seu pai, quando contraísse núpcias. Reside neste aspecto a origem histórica dos direitos mais amplos, inclusive em legislações mais modernas, atribuídos ao filho e em especial ao primogênito, a quem incumbiria manter unido o patrimônio em prol da unidade familiar 11. Azevedo ressalta o fato de que o casamento romano se diferenciava das uniões temporâneas e do concubinato, já que nestes tipos de união faltava a união total e perpétua devida, essência do matrimônio Sem uma forma própria para a celebração do matrimônio em função de que para os romanos era apenas mais um fato da vida social, por isso, não possuía nenhum valor jurídico 12. O casamento civil romano (iustae nuptiae) podia implicar ou não a submissão da mulher à autoridade do pater famílias da casa do marido conforme fosse o acordo. Azevedo leciona que para que fosse considerado justo ou legítimo o casamento romano devia atender a três requisitos: O consentimento recíproco dos esposos; a puberdade e a nubilidade dos nubentes e; o ius conubii, que consistia na liberdade conjugal e liberdade civil de auto gerir-se. Lembra ainda o autor que não possuindo autonomia civil a permissão para o casamento poderia partir dos responsáveis No caso de haver submissão da mulher ao seu marido ela saía de sua família, entrando para a família de seu marido e passando para esta nova família todo o seu patrimônio (casamento cum manu). Através deste instituto a esposa tornava-se juridicamente, filha do marido e irmã de seus filhos, agnada de todos os agnados do marido e herdeira deste 13. Existia também a coemptio que era o casamento entre plebeus em que a manus era realizada através da venda simbólica da mulher ao marido. Havia ainda o usus que se caracterizava pelo casamento realizado através da coabitação ininterrupta do homem e da mulher por um ano. 11 VENOSA. Direito Civil: Direito de Família. 2006. p. 5. VENOSA. Direito Civil: Direito de Família. 2006. p. 5. 13 AZEVEDO. Estatuto da Família de Fato: antigo casamento de fato, concubinato e união estável. 2001. p. 40. 12 8 Procurando diferenciar esses modos de aquisição da manus, explica Paul Fréderic Girard14 que a confarreatio foi, verdadeiramente, um casamento religioso, que guardou, sempre, numerosos caracteres arcaicos, ao passo que a coemptio por sua vez, foi o casamento civil ao lado do primeiro, o casamento plebeu ao lado do casamento do patriarcado, sendo certo que o usus era para a coemptio o que o usucapião significava para a mancipatio, representando a aquisição pela posse prolongada. Tenha-se presente, ainda, segundo a lição de Adhémar Esmein 15 que devemos acreditar ter sido a confarreatio o modo mais antigo de conventio in manum mariti, sendo certo que autores há que entendem ter surgido a coemptio, em seguida; outros, o usus. É provável, continua o mesmo autor, que uma dessas inovações tenha tido por finalidade comunicar aos plebeus a instituição da paternidade legítima e da agnação 16. Cabe salientar que apesar de parecer, a mulher romana nunca foi considerada como objeto, já que para a celebração do casamento uma das principais exigências era a concordância, tanto do marido quanto da mulher, por sua própria vontade ou seus representantes. Venosa resume que foi na sociedade romana que teve origem jurídica o casamento e a estrutura da família. Em Roma a família não era unida necessariamente por laços de sangue, mas pelo culto. O grupo familiar possuía um ramo principal e um secundário que se constituía nos serviçais e clientes com religião comum. A morte não separava os membros da família, os mortos eram sepultados próximo aos lares e cultuados como parte integrante da família. Venosa lembra ainda que “o pater exercia a chefia da família como orientador maior do culto dos deuses lares, acumulando as funções de sacerdote, legislador, juiz e proprietário” 17 1.1.1.1 Os Tipos de Casamento em Roma No Direito Romano sem levar-se em conta o casamento praticado pelos peregrinos, denominado de iuri gentium e também o contubernium, 14 GIRARD, Paul Fréderic. Manuel Élementaire de Droit Romain. 8. ed. Paris. Rousseau. 1929. p. 165. Apud. AZEVEDO. Estatuto da Família de Fato: antigo casamento de fato, concubinato e união estável. 2001. p. 49. 15 ESMEIN, Adhémar. Mélanges d’Histoire du Droit et de Critique, Droit Romain, lê Manus, la Paternité et lê Divorce dans l’Ancien Droit Romain, L. Larose et Forcel, Paris, 1886, pp. 8 e 9. Apud. AZEVEDO. Estatuto da Família de Fato: antigo casamento de fato, concubinato e união estável. 2001. p. 49. 16 AZEVEDO. Estatuto da Família de Fato: antigo casamento de fato, concubinato e união estável. 2001. p. 49. 17 VENOSA. Direito Civil: Direito de Família. 2006. p. 25. 9 praticado pelos escravos, havia três tipos de casamento: o confeeratio, coemptio e usus. O casamento dos patrícios era a conferratio que se revestia de grande pompa e era realizado perante o Pontifex Maximus e o Flamen Dialis, com a presença de pelo menos dez testemunhas, para representar as antigas dez tribos. Já a coemptio era o casamento celebrado pelos não patrícios e que ao contrário da conferratio, não possuía caráter religioso, sendo, portanto civil, com menos sacramentos, mas bastante solene, representava esta forma de união uma venda como faziam as antigas tribos bárbaras. Por fim havia o casamento entre plebeus que se denominava usus e que se caracterizava sob a forma semelhante ao concubinato já que se caracterizava pela coabitação por um ano, quando se consolidava a situação jurídica 18. 1.1.2 A Família na Idade Média Na Idade Média a consolidação do sistema patriarcal embora gradual, foi consolidada, colocando os direitos humanos das mulheres em plano de submissão: Nesta fase o Deus-Rei-Esposo reinava em igualdade com a Deusa no antigo politeísmo greco-romano. Todavia, a cena está preparada para ela ser destronada, com a introdução da crença do monoteísmo religioso de fundo judaico, mas operacionalizado, na Europa Ocidental, pela Igreja Católica Apostólica Romana; na Europa oriental e no Império Bizantino pelas Igrejas Cristãs Ortodoxas e pela religião Islâmica. Segundo a visão patriarcal quem levou Adão ao pecado original foi Eva, comendo o fruto da árvore proibida, que era a árvore do bem e do mal, oferecido pela serpente. O livro de Llull, de 1283, faz referência ao casamento medieval, salientando que primeiramente cabe observar que a mulher na Idade Média possuía uma posição de submissão em relação à família. O modelo da época era o modelo cristão de união que se perpetuava, todavia, os casamentos eram escolhidos pelos 18 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Rio de Janeiro. Forense. 2006. p. 65. 10 pais dos noivos, que muitas vezes se realizavam dentro da própria família para a manutenção da fortuna. Somente nas camadas mais baixas a autonomia de escolha era mais flexível. Salienta Amaral que “em determinadas regiões, mulheres nobres puderam comprar o direito de se casar com quem desejassem. Pagavam certas quantias a funcionários do rei para se ver livre da sujeição a que estavam submetidas” 19. Havia ainda a possibilidade do envio das filhas ao mosteiro caso o dote fosse muito caro. Salienta Amaral ainda o fato de que a mulher deveria ser fértil, requisito este que, se não preenchido levaria à devolução ou ao repúdio. Naquele momento o casamento servia à procriação e como uma forma de controle da igreja sobre a sociedade. No século XII, o casamento tornou-se público, uma solenidade. Amaral assevera que entre os séculos XIII e XIV a cerimônia dividiu-se em duas partes. Numa o pai entregava a filha ao padre, que entregava ao noivo. Na segunda parte o padre colocava a mão de um sobre a mão do outro e os entregava simultaneamente. Lembra ainda Amaral, que apesar da mulher pertencer ao homem sua alma pertencia a Deus, o que a levava a relacionar-se sexualmente apenas com fins de procriação. A igreja proibia também o concubinato e o incesto, determinando parentesco até sétimo grau, modificado em 1215 para até quarto grau entre casais. Também eram proibidas pela igreja as meninas casarem antes dos sete anos 20. 1.1.2.1 A Influência da Religião Católica Azevedo leciona que com relação ao casamento religioso católico, o ponto de partida é o ensinamento de Jesus, que coloca o homem como 19 LLULL, Ramon. Livro da Intenção (c. 1289). Apud. AMARAL, Jéssica Fortunata do. O Casamento na Idade Média: a concepção de matrimônio no Livro da Intenção (c. 1283). Trad. Do Catalão Medieval: Prof. Dr. Ricardo da Costa. Grupo de Pesquisas Medievais III. Ufes. Disponibilizado em http://www.miniweb.com.br/historia/Artigos/i_media/PDF/casamento_i_media.pdf. em 13/01/09. 19:33. 20 LLULL, Ramon. Livro da Intenção. 1289. 11 uma criação de Deus, feitos à sua imagem e semelhança, para que, fecundos, se tornassem uma só carne. São Paulo revive as palavras de Jesus, que observa que “o que Deus ajuntou, não o separe o homem” 21. O Código de Direito Canônico refere-se a ato de vontade ou “consentimento legitimamente manifestado entre pessoas juridicamente hábeis [...]” (cân 1057, § 1º0)22 por aliança irrevogável, se entregam e se recebem mutuamente. E ainda: “o matrimônio é um consórcio permanente entre homem e mulher, ordenado à procriação da prole por meio de alguma cooperação sexual” (cân 1061, § 1º)23. O concubinato (casamento clandestino) perdurou até o Concílio de Trento, culminância de vários plenários que se destinavam a reprimir a expansão do protestantismo perdurando de 1545 até 1563 com os Papas Paulo III e seguintes, que objetivou regulamentar várias matérias de Direito Canônico, e, dentre elas o casamento, que até então era considerado clandestino visto que se realizava, sem formalidades. Azevedo pondera que: O casamento canônico como visto, em um acordo de vontade, uma vez constituído, permanecerá para toda a vida, explicando José Maldonado 24 que, por essa razão, o casamento cristão se apresenta sob um “conceito jurídico novo em relação ao matrimônio romano anterior”. Isto porque este “era simplesmente o reconhecimento pelo Direito de um estado de fato integrado pela vida em comum de um homem e de uma mulher com certa maritalis affectio”, resultando daí ser “tão facilmente constituível e dissolúvel”. Em contrapartida, aduz, “os cônjuges cristãos continuam como tais, mesmo que estejam separados” 25. Della Rocca esclarece que como fruto do Concílio de Trento se estabeleceu a chamada “forma Tridentina”, que implicava na obrigação futura dos 21 AZEVEDO. Estatuto da Família de Fato: antigo casamento de fato, concubinato e união estável. 2001. p. 58. Promulgado pelo Papa João Paulo II, em 25 de janeiro de 1983, com início de vigência a partir de 27 de novembro desse mesmo ano. Apud. AZEVEDO. Estatuto da Família de Fato: antigo casamento de fato, concubinato e união estável. 2001. p. 59. 23 AZEVEDO. Estatuto da Família de Fato: antigo casamento de fato, concubinato e união estável. 2001. p. 59. 24 MALDONADO. José. Curso de DerechoCanónico para Juristas Civiles, parte General. Reimpressão da 2. ed. de 1975. Madrid. p. 274. Apud. AZEVEDO. Estatuto da Família de Fato: antigo casamento de fato, concubinato e união estável. 2001. p. 61. 25 AZEVEDO. Estatuto da Família de Fato: antigo casamento de fato, concubinato e união estável. 2001. p. 61. 22 12 nubentes em diante do pároco prestar o consentimento matrimonial, o que deveria ser feito na presença de no mínimo duas testemunhas para que a união não fosse considerada clandestina e levava à nulidade das núpcias caso não atendidas tais formalidades 26 . Com tais providências desapareceram os matrimônios clandestinos realizados até então. 1.1.2.2 A Concepção do Casamento A idéia de casamento segundo Azevedo provem dos textos bíblicos, onde feitos à imagem e semelhança de Deus os homens, fecundos, deveriam crescer e se multiplicar, através da união em uma só carne. O que Deus ajuntou não o separe o homem. Azevedo coloca que existem duas situações, uma do ato (negocio jurídico contratual) e outra pelo matrimônio de fato que se constitui na vida a dois. Salienta o autor que nos art. 1081 1082, § 1º, do revogado Código de Direito Canônico, de 1917, que validava a celebração 27 a concepção religiosa do casamento fica bem clara e também sua indissolubilidade. 1.1.2.3 O Concílio de Trento Os cristãos, combatentes do concubinato, materializaram tal posição nos concílios de Toledo em 400 d.C. da Basiléia, em 431 d.C. e no Concílio de Latrão em 1516, sendo terminantemente proibido no Concílio de Trento em 1563, com a proibição do casamento presumido, determinando a obrigatoriedade da celebração formal do matrimônio, realizado pelo pároco com presença de pelo menos duas testemunhas. Tal evento deveria ser público e deveria ter seu assento feito nos registros paroquiais e se ameaçava a relação concubinária com a excomunhão. O Concílio de Trento também proibiu aos clérigos a convivência com qualquer mulher 28. 26 ROCCA, Fernando Della. Derecho Matrimonial Canônico. 1. ed. Madrid. Españolas. 1967. pp. 86/90. Apud. AZEVEDO. Estatuto da Família de Fato: antigo casamento de fato, concubinato e união estável. 2001. p. 64. 27 AZEVEDO Estatuto da Família de Fato: antigo casamento de fato, concubinato e união estável. 2001. p. 59. 28 AZEVEDO Estatuto da Família de Fato: antigo casamento de fato, concubinato e união estável. 2001. p. 174. 13 1.1.2 As Ordenações do Reino de Portugal Em Portugal a legislação se encontrava sob a forma de compilação de várias leis promulgadas, inicialmente com as Ordenações Afonsinas que foram substituídas pelas Manoelinas em 1521. Wald leciona que “em 1595, foi determinada a Compilação das Ordenações Filipinas, que a Lei de 11-1-1603 mandou observar tanto em Portugal quanto no Brasil 29 O casamento na época do direito luso-brasileiro quando do descobrimento e, mesmo quando da vigência das Ordenações Afonsinas (1446), ainda seguiam as regras ratificadas no Concílio de Trento (1545/1563). Também nas Ordenações Manuelinas (1521) e Filipinas (1630) que determinavam: “E quando o marido e mulher forem casados por palavras de presente à porta da Igreja, ou por licença do Prelado, fora dela, havendo cópula carnal, serão meeiros em seus bens e fazenda” 30. À época do descobrimento do Brasil, o casamento era regido pela normatização oriunda do Concílio de Trento, que tentou manter a unidade do catolicismo, em face ao protestantismo, dando ao casamento a forma sacramental. Juntamente com a independência do Brasil em função da Lei Imperial de 20 de outubro de 1823, passaram a vigir no país as Ordenações Filipinas. A influência da igreja católica determinou que na Constituição Imperial de 1824 fosse decretada a religião católica como a oficial do Império. A influência do direito romano no Direito luso-brasileiro, relativamente ao pátrio poder, tem nas Ordenações sua materialização, Salles observa que: Transplantou-se para o nosso país o preconizado no Direito português. Na proclamação da independência política, permaneceram vigorando as Ordenações Filipinas, leis e decretos promulgados pelos reis portugueses até aquela data. Assim os princípios do Direito 29 30 WALD, Arnoldo. O Novo Direito de Família. 15. ed. rev. atual. e ampli. São Paulo. Saraiva. 2004. p. 17 AZEVEDO Estatuto da Família de Fato: antigo casamento de fato, concubinato e união estável. 2001. p. 135. 14 português continuaram a existir entre nós, mesmo após a revogação das Ordenações 31. A família calcada no pátrio poder tal como em Roma se reflete no direito pátrio à época da independência. 1.2 A FAMÍLIA NO DIREITO BRASILEIRO No período do Império no Brasil o casamento era celebrado segundo os moldes do catolicismo. O protestantismo que havia sido fundado nesta época foi combatido no Concílio de Trento, que considerou que o casamento era exclusivamente um sacramento, possível de excomunhão se fosse negado. Mesmo com a independência política brasileira o governo, através da Lei Imperial de 20 de outubro de 1823, determinou a vigência das Ordenações Filipinas no Brasil e com elas, aí já em 1824, a oficialização da religião católica como religião do Império, sendo permitidos outros cultos, contanto que não ostentassem formas aparentes, devendo manter-se em forma de culto doméstico ou particular 32. Assim, através do Decreto de 03 de novembro de 1827, foi oficializado o casamento em conformidade com o estabelecido no Concílio de Trento, o que só dava validade ao casamento canônico. Ainda durante o Império Brasileiro, dentre outras, a Lei de 11 de setembro de 1861, que foi regulamentada pelo Decreto de 17 de abril de 1863, validava os casamentos que se realizavam entre “pessoas professantes de religiões cristãs” 33 diferentes do catolicismo, podendo ainda estes casar-se segundo os ritos de sua religião. A partir daquele momento o casamento saiu do jugo católico. Pereira leciona que naquela época eram aceitas então, três formas de casamento: 31 SALLES, Karen Ribeiro Pacheco Nioac de. Guarda Compartilhada. Rio de janeiro. Lúmen Júris. 2001. p. 6. AZEVEDO. Estatuto da Família de Fato: antigo casamento de fato, concubinato e união estável. 2001. p. 136. 33 AZEVEDO. Estatuto da Família de Fato: antigo casamento de fato, concubinato e união estável. 2001. p. 136. 32 15 1ª) Os casamentos católicos, celebrados conforme o Concílio Tridentino e a constituição do arcebispado da Bahia; 2ª) O casamento misto, isto é, entre católicos e pessoa que professa religião dissidente, contraído segundo as formalidades do Direito Canônico; 3ª) Finalmente, o casamento entre pessoas pertencentes às seitas dissidentes, celebrado em harmonia com as prescrições das religiões respectivas. E continua: “Prevalece, pois, entre nós, doutrina que atribui à religião exclusiva competência para regular as condições e a forma do casamento e para julgar da validade do ato”. Todavia, a recente lei, acerca do casamento entre os membros das seitas dissidentes, consagrou uma inovação que cumpre assinalar: passou para a autoridade civil a faculdade de dispensar os impedimentos e a julgar da nulidade desta forma de casamento 34 Finalmente em 1890, após a proclamação da República, através do Decreto nº 181, o casamento civil foi regulamentado. “Tornou-se obrigatório o casamento civil por força do art. 108, do Decreto”. O art. 49 determinava que a prova devesse ser a Certidão extraída de Registro ou prova no caso de extravio. Merece destaque o ato do Governo Republicano Provisório de 1890 que vetou a prática do casamento religioso antes do civil, sob pena de punição com seis meses de prisão e multa 35 . Assim definitivamente se secularizou o casamento civil no Brasil. As Ordenações Filipinas, que vigoraram até o advento do Código Civil de 1916, reconheciam o casamento realizado perante testemunhas ainda que fora da Igreja 36. Várias são as entidades familiares reconhecidas atualmente pela legislação brasileira, Viana e Nery assim as enumeram e comentam: Está, pois, consagrada, na atualidade, a família com pluralidade de tipos: a família nuclear, que abrange o casal e seus filhos (CC, art. 70, par. ún.); a família monoparental, de origem celibatária, e a família patriarcal voltada à sucessão hereditária (art. 1.603 do CC) e a interesses comuns (CC, art. 263, IX). Leis sociais, previdenciárias e até de feição penal apresentam abrangência variada, a tornar tarefa inglória a tentativa de albergar, numa definição, todo o variegado 34 AZEVEDO. Estatuto da Família de Fato: antigo casamento de fato, concubinato e união estável. 2001. p. 136. AZEVEDO. Estatuto da Família de Fato: antigo casamento de fato, concubinato e união estável. 2001. p. 139. 36 RIZZARDO, Arnaldo. Direito de Família: Lei nº 10.406, de 10.01.2006. Rio de Janeiro. Forense. 2006. p. 19. 35 16 enfoque do instituto, nos aspectos morais, sociológicos, econômicos, sociais e previdenciários, pelo que disseminado está em todo o ordenamento 37. A definição clássica de família que é mais abrangente pois coloca todas as pessoas ligadas pelo parentesco e ainda àquelas ligadas pela afinidade, ou fruto de alianças, agregados etc. São interesses sentimentais (morais) e econômicos que se desenvolvem dentro desta instituição denominada familiar. 1.2.1 Fato Social Sob o aspecto social, Groeninga e Pereira consideram que família pode ser definida como um sistema, assim possui um conjunto de elementos em constante evolução no tempo, em função de “suas finalidades e do ambiente” 38. Observada como fato social, pode ser considerada como uma relação privada, já que se estabelecem ligações particulares (afetivas e econômicas). Nela se dividem o poder e as tarefas. Cada família é única e diferente, pois as relações estabelecidas são “assimétricas”, mas, ainda assim, está submetida a normas jurídicas que lhe impõe direitos e deveres, mesmo e apesar de sua configuração eclética. Com relação a ser um sistema, Groeninga e Pereira assim se expressam: Ao definirmos família como um sistema, estamos trazendo a noção de que um sistema é maior que a soma das partes. E mais, são elementos em interação que mantêm uma relação de interdependência. Emprestamos o modelo da ecologia, em que um elemento está em íntima integração com os demais, e o que ocorre com ele afeta o restante, em maior ou menor grau. Assim, o destino de um dos elementos, afeta os demais, o que é fundamental ter em conta nas sistematizações de transformação de estado pelas quais passa uma 37 VIANA, Rui Geraldo Camargo – NERY, Rosa Maria de Andrade. Temas Atuais de Direito Civil na Constituição Federal. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2000. P. 38 38 GROENINGA, Giselle Câmara – PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Direito de Família e Psicanálise – rumo a uma nova epistemologia. Rio de Janeiro. Imago. 2003. p. 136. 17 família, sobretudo quando um terceiro é buscado, como nas situações de separação e divórcio 39. Assim, a família permanentemente em transformação no tempo se organiza em função de suas finalidades e do ambiente. Madaleno considera que: Longe desta veneração com o passado, todas as proibições relacionais e afetivas sofreram mudanças culturais, suscitaram reflexões e permitiram derrubar barreiras profundas e preconceitos, revolveram rígidas posturas, conceitos estereotipados do que deveria ser certo e errado. Em nova versão das relações familiares, a dignidade da prole não depende de sua origem; a culpa não mais se discute em uniões infelizes, e as entidades familiares, agora ampliadas apenas na realização pessoal 40. A visão da família como uma célula social indissociável e que contém o afeto das pessoas. 1.2.1.1 Finalidade O ser humano possui uma qualidade de desamparo que lhe é inerente, logo, a família supre esta carência dando-lhe a proteção tão necessária ao ser humano e, a família também “cumpre leis da aliança e/ou leis da filiação” 41. O relacionamento estável é à base da família, “as relações pessoais e patrimoniais entre os cônjuges, as relações entre pais e filhos, definindose as diversas espécies de filiação e o conceito de poder familiar, união estável e, enfim a tutela e a curatela, instituição protetora dos incapazes” 42 são parte deste tipo de instituição. Dentro de um conceito moderno de família, Alves coloca que : É ela que proporciona as recompensas e as punições, por cujo intermédio são adquiridas as principais respostas para os primeiros obstáculos da vida. É instituto no qual a pessoa humana encontra 39 GROENINGA – PEREIRA. Direito de Família e Psicanálise – rumo a uma nova epistemologia. 2003. P. 136. MADALENO. Paternidade Alimentar. 1999. p. 133. 41 GROENINGA - PEREIRA. Direito de Família e Psicanálise – rumo a uma nova epistemologia. 2003. p. 136. 42 WALD. O Novo Direito de Família. 2004. p, 3. 40 18 amparo irrestrito, fonte da sua própria felicidade. Os membros integrantes da família (pais, irmãos, avós, etc.) moldam os seres 43 humanos, contribuindo para a formação do futuro adulto . Em resumo, o auxílio mútuo para garantir a própria sobrevivência, já que o ser humano agrega “à dependência biológica e afetiva, fator essencial em sua constituição” 44 . Tal fato se constitui no impulso de satisfazer o amor e o ódio, que se limitam pelas normas jurídicas. Groeninga e Pereira, em termos de constituição, elencam três tipos de família dos quais dois a se destacar: esfera do sujeito do desejo: a) O nível econômico, e; b) O nível sócio-jurídico, da repartição dos direitos e deveres, o nível do sujeito do direito 45. Esses autores lecionam que as ligações familiares ocorrem em diversos planos que vão do consciente ao inconsciente em função do aspecto material da relação e do plano afetivo que envolve a relação familiar e o nível sóciojurídico que a contextualiza na sociedade como um todo. 1.3 CONCEITOS Rodrigues observa que para a compreensão do sentido do direito de família é fundamental o entendimento do sentido da expressão “família”. Somente com a Constituição de 1988 é que o conceito tradicional de família, vinculada restritamente ao casamento, sofreu maior amplitude, uma vez que contemplou a família havida fora dele, com o reconhecimento da união estável entre homem e mulher ou ainda a forma monoparental, composta por um dos cônjuges e a sua prole. O § 4º do art. 226, da Constituição Federal: “Entende-se 43 ALVES, Leonardo Barreto Moreira. A Função Social da Família. Revista Brasileira de Direito de Família. v.1 n.1. Porto Alegre. IBDFAM. Síntese. 1999. p. 133. 44 GROENINGA - PEREIRA. Direito de Família e Psicanálise – rumo a uma nova epistemologia. 2003. p. 137. 45 GROENINGA - PEREIRA. Direito de Família e Psicanálise – rumo a uma nova epistemologia. 2003. p. 137. 19 também, como entidade familiar à comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes”. Rodrigues observa que o vocábulo família tem uso com vários sentidos, sendo que num conceito mais amplo: “família – formada por todas aquelas pessoas ligadas por vínculo de sangue, ou seja, todas aquelas pessoas providas de um tronco ancestral comum, o que corresponde a incluir dentro da órbita da família todos os parentes consangüíneos” 46. De forma mais limitada, Rodrigues observa que: “poder-se-ia compreender a família como abrangendo os consangüíneos em linha reta e os colaterais sucessíveis, isto é, os colaterais até o quarto grau” 47. Para Wald o direito de família “regula as relações existentes entre os seus diversos membros e as influências que exercem sobre as pessoas e bens” 48. Se o sentido a ser usado for o mais restrito, observa que se refere somente aos pais e sua prole. Rodrigues acredita que para a perfeita compreensão de família somente se obtém uma visão clara através do aspecto sociológico: a) Examinando a questão por seu aspecto individual, verifica-se que o indivíduo nasce dentro de uma família, que é a de seus pais, aí floresce e se desenvolve até constituir sua própria família; numa e noutra está sujeito a várias relações de seu interesse imediato, tais como o poder familiar, o direito de obter e obrigação de prestar alimentos a seus parentes e, se a família se tiver originado do casamento ou da união estável, o dever de fidelidade naquele, e lealdade nesta, e de assistência decorrente de sua condição de cônjuge ou companheiro etc. Essas são as relações que afetam a pessoa na ordem individual. b) Paralelamente, deve-se ter em vista o aspecto social desse ramo do direito, representado pelo interesse do Estado na sólida 46 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: Direito de Família. v. 6. 28. ed. rev. e atual. São Paulo. Saraiva. 2004. p. 4. RODRIGUES. Direito Civil: Direito de Família. 2004. p. 5. 48 WALD. O Novo Direito de Família. 2004. p, 3. 47 20 organização da família e na segurança das relações humanas, que se propõe na esfera do direito de família 49. Observa Rodrigues que a família é à base de toda estrutura social na história da civilização. Assevera ainda que “o Estado para garantir a própria sobrevivência tem que proteger a família, para que esta possa ter assegurado o desenvolvimento estável e a intangibilidade de seus elementos institucionais” para a formação de um Estado bem estrutuado50. 1.3.1 O Casamento dos não Católicos No Brasil somente a partir da Constituição de 1891 é que se referendou o casamento civil para todos os brasileiros não católicos e sem a influência da Igreja Católica. “A República só reconhece o casamento civil, que precederá sempre as cerimônias de qualquer culto” (art. 72, § 4º) 51. Rodrigues leciona que: Em Portugal e no Brasil - Império, o casamento entre católicos foi sempre celebrado por sacerdotes dessa religião. Somente lei de 1861 é que regulou o casamento dos não católicos. Com a proclamação da República, em 1889, deu-se a separação entre a igreja e o Estado, vindo o Decreto n. 181, de 24 de janeiro de 1890, estabeleceu o casamento civil neste país 52. Com essa separação os casamentos de não católicos saíram da clandestinidade. 49 RODRIGUES. Direito Civil: Direito de Família. 2004. p. 5. RODRIGUES. Direito Civil: Direito de Família. 2004. p. 5. 51 RIZZARO. Direito de Família: Lei nº 10.406, de 10.01.2006. 2006. p. 18. 52 RODRIGUES. Direito Civil: Direito de Família. 2004. p. 23. 50 21 1.3.2 O CÓDIGO CIVIL DE 1916 Giorgis informa que as constituições brasileiras sempre refletiram as mudanças sociais ocorridas na sociedade civil, fruto das diferenças de ideologias e de calorosos debates em prol de novas teorias. Salienta que até a proclamação da independência, a religião oficial era a Católica, fruto do estreito vínculo da igreja e o Império. Neste caso somente havia o casamento religioso e a Carta de 1824 não referendava de forma expressiva o direito de família, que seguia a orientação religiosa. Giorgis comenta: Já na Constituição de 1891, sob a influência do ideário republicano, proclamou o casamento civil, dizendo-o gratuito e isso nas disposições sobre os direitos individuais, representando uma diáspora que desvinculou a instituição matrimonial do caráter religioso existente 53. O reflexo das idéias republicanas se verificou de forma mais contundente em relação a diversidade de formas de casamento com a materialização do Código Civil de 1916, que iniciado em fascículos em 1860, definiu mais de uma forma de casamento. O Código Civil de 1916 que teve seus primeiros esboços com a publicação em fascículos em 1860, no capítulo sobre casamento espelhava três espécies: a) O casamento perante a Igreja Católica (arts. 1261 a 1272); b) O casamento com autorização da Igreja Católica (arts. 1275 a 1284) e; c) O casamento sem autorização da Igreja Católica (arts. 1275 a 1298) 54 . O casamento com autorização da Igreja Católica deveria se processar segundo o estabelecido no Concílio de Trento e nas Constituições em vigor no Império. No segundo caso, quando o casamento se realizaria com 53 GIORGIS, José Carlos Teixeira. A Paternidade Fragmentada. Família, Sucessões e Bioética. Porto Alegre. Livraria do Advogado. 2007. P.15 54 AZEVEDO. Estatuto da Família de Fato: antigo casamento de fato, concubinato e união estável. 2001. p. 140. 22 autorização da Igreja Católica seria o casamento misto envolvendo católicos e cristãos não católicos. E, por fim, o casamento sem autorização da Igreja Católica que poderia se realizar entre católicos ou entre pessoas não cristãs 55. Rodrigues leciona que se comparados os direitos do homem e da mulher no Código Civil de 1916, percebe-se claramente que ao homem (marido), eram deferidas várias condutas que não contemplavam as mulheres. A igualdade dos cônjuges estava longe de ser alcançada apesar das grandes inovações para a época. Pode-se salientar o rol das diferenças pelo fato do marido constar como chefe da sociedade conjugal, que segundo o legislador da época se destinava a permitir que este tomasse certas iniciativas ou cuidasse de certos assuntos dos quais a mulher se mantinha afastada. Apesar dessa distinção, já se igualava marido e mulher em direitos, desfazendo a prática de até então de que o marido desfrutava de posição superior à mulher na família. O Código Civil de 1916 foi aprovado com normas “altamente avançadas, em face do direito anterior, mostrando sua vocação igualitária” 56 . Rodrigues destaca que entre as modificações pode-se citar o art. 240, que declara que a mulher pelo casamento adquire o apelido do marido e a condição de consorte e companheira. Salienta também o fato de que o art. 246 permitia a esposa de dispor livremente do fruto de seu trabalho. Alguma injustiça, como o fato de reconhecer a esposa como relativamente incapaz, denota resquícios das legislações anteriores. Sobre essas injustiças do Código Civil de 1916, Rodrigues considera a mais humilhante de todas, a do art. 6º, que considerava a mulher casada no mesmo rol dos incapazes e considera a mais injusta a que emanava do art. 393 que retirava da bínuba o pátrio poder sobre os filhos do primeiro leito. Salienta Rodrigues: Aquele preceito derivava de um engano resultante da confusão em que incidira o legislador, misturando os conceitos de incapacidade e falta de legitimação. 55 56 AZEVEDO. Estatuto da Família de Fato: antigo casamento de fato, concubinato e união estável. 2001. p. 140. AZEVEDO. Estatuto da Família de Fato: antigo casamento de fato, concubinato e união estável. 2001. p. 140. 23 Aliás, o próprio art. 6º, ao declarar incapazes as pessoas nele enumeradas, ressalva que tal incapacidade se circunscrevia a certos atos, ou à maneira de praticá-los. Ora, quanto a determinados atos, tanto a mulher casada quanto o homem casado não tinham legitimação para praticá-los, sem a anuência ou autorização de seu consorte. Contudo, obtido tal consentimento, podia o cônjuge praticar o ato jurídico sem qualquer outra restrição, visto que o assentimento de um consorte conferia legitimação para agir. De maneira que a expressão “incapaz”, com seu possível sentido pejorativo, mostrava-se inadequada e, se fosse valedoura, deveria abranger, por igual, o marido 57. Mesmo e apesar dos enganos e confusões a cerca da interpretação de certos termos é inegável a evolução sofrida no instituto do casamento através do Código de 1916. 1.4 Fundamento Legal da Família no Direito Brasileiro A Constituição da República de 1934, apresentava várias conotações sociais, sua essência foi dar ao Estado inicialmente a obrigação do socorro as famílias de prole muito numerosa, devendo também fomentar a idéia da indissolubilidade do casamento, mantendo, contudo, o desquite ou a anulação de forma gratuita. O exame de sanidade física e mental dos nubentes e a gratuidade no reconhecimento dos filhos naturais, que foram repetidas na Carta de 1937 e ainda acrescidas à igualdade entre os filhos naturais e legítimos, acrescida da proteção por parte do estado da Infância e da juventude. Em 1946, os direitos foram renovados, sendo adicionado a vocação concernente a hereditariedade de brasileiros em relação a bens de estrangeiros no país. 57 RODRIGUES. Direito Civil: Direito de Família. 2004. p. 121. 24 A Emenda nº 1, de 1969, garantiu a indissolubilidade do casamento, posteriormente alterada com a Lei do Divórcio em 1977 que admitiu a dissolução da sociedade conjugal nos casos elencados na Lei. Posteriormente, pela Emenda nº 2 de 1977 se permitiu o divórcio direto. Estes novos paradigmas aliados à ocupação pela mulher de nichos sociais antes reservados apenas aos homens, inclusive alguns aspectos relativos à sexualidade, desembocaram na Carta de 1988 com bases bastante distintas das Cartas anteriores. Para Giorgis “A Constituição de 1988 representou radical mudança com a nova conceituação de entidade familiar, para efeitos de proteção do Estado...” 58 , o que leva as formas de família reconhecidas hoje em nosso ordenamento. São três as formas de família elencadas na Constituição da República Federal do Brasil de 1988: casamento, união estável e a monoparental constituida por qualquer dos pais que viva com seus descendentes (art. 226, CF). Dias - Pereira afirmam que existem outras formas e citam o caso de irmãos que morem juntos, avós com netos e ainda as relações homoafetivas, estáveis. Dias e Pereira salientam que neste último caso, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, já reconheceu tal tipo de família. Afirmam também que o conceito ou ainda no entendimento do que seja família, já que é interesse do Estado a sua proteção, deve ser observado o seguinte: Os ingredientes são aqueles, já demarcados principalmente pela jurisprudência e pela doutrina pós-constituição de 1988: durabilidade, estabilidade, convivência sob o mesmo teto, prole, relação de dependência econômica. Entretanto, se faltar um desses elementos, não significa que esteja descaracterizada a união estável. É o conjunto de determinados elementos que ajuda a objetivar e a formatar o conceito de família. O essencial é que se tenha formado com aquela relação afetiva e amorosa uma família, repita-se 59. 58 GIORGIS. A Paternidade Fragmentada. Família, Sucessões e Bioética. 2007. P.16. DIAS, Maria Berenice – PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Direito de Família e o Novo Código Civil. 4. ed. 2. tir. rev. Atual. Belo Horizonte. 2006. p. 221. 59 25 Os dois autores comentam que são os elementos intrínsecos e extrínsecos e ainda os objetivos e subjetivos que vão caracterizar se trata de uma entidade familiar ou não. Já Gonçalves aponta como subjetivos: “o convívio more uxório”, apesar da Súmula 382 do STF não julgar indispensável à caracterização do concubinato; “o affectio maritalis” (ânimo ou objetivo de constituir família). E como objetivos: salienta a diversidade de sexos (relacionamento entre pessoas de sexos diferentes); a notoriedade ou publicidade da relação e; sua duração no sentido de atestar a continuidade e a fidelidade, dentre outras, como os principais 60. Ficam implícitos, a publicidade da relação, o fato de ocorrer entre pessoas de sexos distintos (homem/mulher) e sua continuação no tempo para a sua carac 60 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Vol. VI. Direito de Família. 3. ed. rev. e atual. São Paulo. Saraiva. 2007. pp. 547/548. CAPÍTULO II Este capítulo trata da União Estável desde suas origens até sua posição atual no direito brasileiro. O concubinato, as restrições da Igreja Católica relativamente a ele a seu tratamento no ordenamento jurídico Pátrio. 2 A UNIÃO ESTÁVEL A adaptação do direito aos novos fatos então se faz necessária para adaptarem-se as novas formas de constituição de família da sociedade moderna, diferentes das antigas formas em função de finalidades e interesses. O princípio de autoridade do chefe, por exemplo, foi substituído pelo princípio da consangüinidade 61. Chanan comenta: A família patriarcal, até então revestida de caráter econômico, político, procriacional e religioso, evolui como ente familiar, formando a partir de então um grupo vinculado por laços afetivos 62. Ocorreu, assim, uma renovação dos valores sociais que conduziram à transformação do conceito da família tradicional, valorizando a partir de então o aspecto da afetividade das relações familiares 63. O dever de cooperação entre seus membros é a característica básica da entidade sócio afetiva. A solidariedade e as condições necessárias ao bom desenvolvimento do ser humano passam a ser os valores mais importantes pára a entidade familiar. As entidades familiares não oriundas do casamento sempre mereceram por parte da doutrina as mais variadas denominações, quase sempre fruto apenas da semântica. O termo união estável parece ser o resultado do 61 PEREIRA, Áurea Pimentel. A Constitucionalização do Direito de Família na Carta Política Brasileira de 1988. Revista da EMERJ. v. 4. n. 15. p. 48. 2001. Apud. CHANAN. As Entidades Familiares na Constituição Federal. 2007. p. 46. 62 DONADEL, Adriane. Efeitos da Constitucionalização do Direito de Família. In: PORTO, Sérgio Gilberto; USTÁRROZ, Daniel. (Org.) Tendências Constitucionais no Direito de Família. Porto Alegre. Livraria do Advogado. 2003. p. 16-19. Apud. CHANAN. As Entidades Familiares na Constituição Federal. 2007. p. 47. 63 “A família moderna é um grupo social igualitário, em que não existe a supremacia do marido e do pai, em que há direitos e deveres iguais, em que a mulher está igualada ao marido, e em que a autoridade paterna constitui função social, destinada a satisfazer os interesses do filho menor”. (GUSMAO, Paulo Dourado de. Dicionário de Direito de Família. Rio de Janeiro. Forense. 1985. p. 561). Apud. CHANAN. As Entidades Familiares na Constituição Federal. 2007. p. 47. 27 encontro da maioria das denominações, embora ainda haja, segundo Vasconcelos doutrinadores que “prefiram denominá-las uniões livres, outros uniões extramatrimoniais, famílias de fato, ou simplesmente mantém a clássica denominação concubinato 64. Vasconcelos, com relação à expressão união livre considera: Se não acompanhada do termo estável, pode ser utilizada para designar qualquer espécie de relação entre duas pessoas, ainda que não enquadrada no conceito de entidade familiar, e, por isso mesmo, não merecedora, como tal, da proteção do Estado. Nem todos os relacionamentos entre homem e mulher reúnem as características de continuidade, publicidade, estabilidade, tampouco intenção de constituir família, presentes nas uniões reconhecidas constitucionalmente como entidades familiares 65. A disposição das pessoas de simplesmente passarem a viver juntos com a intenção de formar uma família foi duramente combatido através do tempo. A modernidade, contudo exigiu da parte do legislador brasileiro uma radical mudança de paradigmas sob pena de uma quase falência do sistema jurídico que já não mais atendia os anseios e as necessidades da família moderna. 2.1 DA UNIÃO ESTÁVEL Quando se fala de família, da união de homem/mulher, com o fim de reprodução ou simplesmente de vida em comum, em razão da existência do afecto maritalis (vontade mútua), há que pensar em determinados princípios inerentes ao homem. A dignidade da pessoa humana é o primeiro fator a ser levado em conta como determina a nossa Carta Maior. Cunha Pereira dentro da expressão “macro princípio da dignidade humana” coloca seis sub-princípios, sem os quais se cometeria uma injustiça para com o Direito de Família. São eles: 1) Princípio da Monogamia; 2) Princípio jurídico organizador, do melhor interesse da criança /adolescente; 64 65 VASCONCELOS, Rita de Cássia C. de. Tutela de Urgência nas Uniões Estáveis. Curitiba. Juruá. 2000. p. 33. VASCONCELOS. Tutela de Urgência nas Uniões Estáveis. 2000. p. 33. 28 3) Princípio da igualdade e respeito às diferenças; 4) Princípio da autonomia e da menor intervenção estatal; 5) Princípio da pluralidade de formas de família e; 6) Princípio da afetividade 66. Tais princípios são resultado e conseqüência das lutas e conquistas políticas desenvolvidas através dos tempos. No Direito de Família, onde a afetividade, a intimidade e a felicidade são valores importantes, mais ainda carece este de nortear-se pelo princípio da dignidade humana onde tais valores são considerados. Dentre os sub-princípios o da Monogamia, que serve de conexão moral nas relações amorosas e conjugais, é um princípio jurídico ordenador, organizador das relações jurídicas da família do mundo ocidental 67. A parte das discussões filosóficas a cerca do Princípio da Monogamia, que tem gerado grande polêmica, levando em conta o estado de castidade da mulher e, em conseqüência à idéia de posse e propriedade. O que se pretende com a monogamia é fidelidade de parte a parte, evitando a promiscuidade que geraria o caos e inviabilizaria qualquer organização social e jurídica 68 . Nesse sentido Cunha Pereira coloca: A proibição poderia ser, por exemplo, um homem não ter mais de três mulheres ou uma mulher não ter mais de três homens. Qualquer que seja a proibição ela será apenas uma variação em torno do mesmo tema, ou seja, da necessidade de se barrar um excesso, fazer uma renúncia pulsional para que possa haver civilização. Portanto, não é apenas uma questão moral, mas de necessidade de alguma interdição, pois se não houver proibições não será possível à constituição do sujeito e, conseqüentemente, de relações sociais 69. 66 CUNHA PEREIRA. Princípios Fundamentais Norteadores para Direito de Família. 2005. p. 110. CUNHA PEREIRA. Princípios Fundamentais Norteadores para Direito de Família. 2005. p. 106. 68 CUNHA PEREIRA. Princípios Fundamentais Norteadores para Direito de Família. 2005. p. 110. 69 CUNHA PEREIRA. Princípios Fundamentais Norteadores para Direito de Família. 2005. p. 93. 67 29 Logo, segundo Cunha Pereira é através da renúncia dos impulsos, viabiliza-se a existência do regime monogâmico. No Brasil, Dias lembra que apesar do “nítido repúdio do legislador”, vínculos extraconjugais sempre existiram. Salienta que o Código Civil de 1916 não deu guarida às relações extramatrimôniais. Puniu-as com vedações de doações, seguros ou testamento. Até 1977, ainda, a única possibilidade de separação era o desquite, e nem este dissolvia a sociedade conjugal e ainda impedia novo casamento 70. Os primeiros impulsos à criação de uma doutrina concubinária datam da década de sessenta, ainda que somente para sanar grandes injustiças ou para gerir os efeitos patrimoniais do relacionamento. Dias leciona que em função das queixas e da notória existência da “sociedade de fato”, o amparo legal passou a limitar-se a orientar a divisão de bens com necessidade da prova do convívio e do esforço na aquisição do patrimônio. Quase como uma sociedade, aí não se cogitavam alimentos ou direitos sucessórios. Com o tempo e o aumento das exigências, foi necessário que o texto da Constituição alterasse a forma até então vigente de instituição familiar, o que resultou na adoção do termo genérico “entidade familiar”, onde, mais abrangente, passou a recepcionar e proteger relacionamentos outros além dos constituídos pelo casamento. Naquele momento o chamado concubinato puro tornou-se perfeitamente legal. Sob a denominação de “entidade familiar” ocorrida através da “união estável”, bem como os vínculos monoparentais, todos foram recepcionados, mesmo e apesar disso Dias lembra que os Tribunais sequer tomaram conhecimento da nova legislação, invocando ainda a Súmula 380 e tratando o concubinato ou a união estável no âmbito do Direito das Obrigações 71. 70 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 4. ed. rev. atual. e ampli. 3. tir. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2007. p. 155. 71 DIAS. Manual de Direito das Famílias. 2006. p. 156. 30 O caráter de inclusão do caput do art. 226 é clausula geral de inclusão. Sua regulamentação através de leis infraconstitucionais reguladoras da união estável passou a dar maior força ao novo instituto. A Lei 8.971/94, que fixou aos companheiros o direito a alimentos e a sucessão do companheiro, embora ainda um pouco atrelada ao passado, por exigir que as pessoas fossem solteiras, separadas judicialmente, divorciadas ou viúvas, excluindo os separados de fato. O prazo também significou outro tipo de ranço, quando somente após cinco anos de convívio para a estabilidade ou prole comum, os direitos acima seriam assegurados. Muitas destas injustiças foram sanadas com a Lei 9.278/96 que aboliu o prazo de convivência e acolheu os separados de fato. A fixação da competência das varas de família para julgar litígios, acabou por reconhecer o direito real de habitação. O esforço comum na aquisição de bens na constância da relação, com a presunção Júris et de jure, que já não exigia questionamentos a cerca da participação de cada parceiro na partilha de bens. Dias afirma que os contornos e a semelhança ao casamento são claros, na medida em que se avança no reconhecimento e proteção da união estável. No sentido de que o casamento e a união estável merecem por parte do Estado o mesmo tratamento, Dias coloca: Todavia, em que pese à equiparação constitucional, a lei de forma retrógrada e equivocada outorgou à união estável tratamento notoriamente diferenciado em relação ao matrimônio. Em quatro escassos artigos (CC 1.723 a 1.726), disciplina seus aspectos pessoais e patrimoniais. Fora do capítulo específico, outros dispositivos fazem referência à união estável. É reconhecido o vínculo de afinidade entre os conviventes (CC 1.595), autoriza a adoção (CC 1.618) parágrafo único e 1.622) e assegurando o poder familiar a ambos os pais (CC 1.631), sendo que sua dissolução não altera as relações entre pais e filhos (CC 1.632) É deferido o direito a alimentos (CC 1.694) e de instituir bem de família (CC 1.711), assim como é admitido um companheiro ser curador do ouro (CC 31 1.775).. O direito sucessório dos companheiros foi tratado – e muito mal tratado – em um único dispositivo (CC 1.790) 72. Houve ai, clara reprodução da legislação existente, reconhecendo como estável a união duradoura entre homem e mulher (CC 1.723). Segundo Dias, a tentativa de levar a quem não escolheu o casamento como forma de união trás o seguinte comentário: Há quase uma simetria entre as duas estruturas de convívio que tem origem em elo afetivo. A divergência diz só com o modo de constituição. Enquanto o casamento tem seu início marcado pela celebração do matrimônio, a união estável não tem termo inicial estabelecido – nasce da consolidação do vínculo de convivência, do comprometimento mútuo, do entrelaçamento de vidas e do embaralhar de patrimônios. [...]. Quando a lei trata de forma diferente a união estável em relação ao casamento, é de se ter simplesmente tais referências como não escritas. Sempre que o legislador deixa de nominar a união estável frente a prerrogativas concedidas ao casamento, outorgando-lhe tratamento diferenciado, devem tais omissões ser tidas por inexistentes, ineficazes e inconstitucionais. Igualmente, em todo texto em que é citado o cônjuge, é necessário ler-se cônjuge ou companheiro. Assim, como os cônjuges, os companheiros têm acesso ao planejamento familiar (CC 1.565, § 2º) 73. Como se tratam de garantias constitucionais os institutos não podem sofrer limitações ou restrições da legislação ordinária, em face do princípio da proibição do retrocesso social. 2.1.2 Resumo Legislativo da União Estável Coelho considera que com relação à positivação das leis, o direito ocidental se distanciou ou se individualizou a partir do século XIX, tomando por base a relação homem/mundo, que ante então se afigurava com uma visão jusnaturalista, de fundamento racional, portanto, derivada da natureza do homem, Coelho considera que “Assim como a ciência descobria as leis da física, a partir do estudo dos corpos em movimento, também deveria descobrir as leis jurídicas, debruçando-se sobre a natureza humana. O direito, de qualquer modo estava dado, 72 73 DIAS. Manual de Direito das Famílias. 2006. p. 158. DIAS. Manual de Direito das Famílias. 2006. p. 159. 32 restando revela-lo” 74 , e mais, se todos têm direito à vida, tal atributo e os demais são naturais a homens e mulheres. Relativamente à positivação dos institutos das relações Coelho considera: Na verdade, a crescente complexidade das relações sociais impede a construção de qualquer sistema de solução de conflitos de interesses que possa dispensar tanto a positivação como sua negação. É paradoxal, como tantos outros conceitos jurídicos, mas nunca será possível a superação da dicotomia entre positivistas e antipositivistas. Para dar conta da complexidade que os conflitos de interesses enceram, o direito deve ser necessariamente maleável, flexível, paradoxal. Para tanto, a convivência de doutrinas e jurisprudências mais apegadas ao texto normativo ditado pelo legislador com as que dele se afastam, com maior ou menor intensidade, é ínsita ao direito da complexa sociedade dos nossos tempos. Por mais ilógico que possa soar, o direito é e não é a lei posta; não há como escapar dessa contradição dialética 75. O reconhecimento constitucional das uniões estáveis como entidades familiares não trouxe alivio àqueles que temiam um enfraquecimento do instituto do matrimônio, acreditando que tal medida certamente levaria a derrocada da família como instituição. Tal temor não se materializou, o que ocorre não é o desaparecimento da família e sim a transformação do seu perfil, assim, o Direito deve corresponder às mudanças sociais para poder agir como instrumento da ordem social. Vasconcelos acredita que as Leis 8.971/94 e 9.278/96 76 , apesar de tratarem da União estável não se mostraram capazes de eliminar as divergências e as polêmicas em torno desse assunto, todavia, foram importantes para vários esclarecimentos pertinentes a esse tipo de união. A fusão de dos dispositivos: estabilidade ou convivência duradoura e contínua; publicidade; 74 COELHO, Fábio Ulhoa. In MOTTA, Carlos Dias. Direito Matrimonial e seus Princípios Jurídicos. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2007. Prefácio. p. 11 75 COELHO. In MOTTA. Direito Matrimonial e seus Princípios Jurídicos. 2007. Prefácio. p. 11. 76 Lei 8.971/94 e 9.278/96 - Trataram de incluir as uniões estáveis no âmbito do Direito de Família, versando sobre direitos alimentícios e sucessórios, sendo a Lei 9.278/96 de mesmo cunho, porém acrescida previsão do direito real de habitação ao companheiro sobrevivente, dentre outras. 33 diversidade de sexos e objetivo de constituição de família são as características definidas pelo legislador no texto constitucional 77. A legislação pertinente ao instituto da união estável relativamente a Constituição Federal se encontra principalmente no art. 226, §3º (“A família, base da sociedade, tem proteção especial do Estado. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento”) 78. Três elementos merecem destaque na caracterização da união estável: 1) A moral, ligada à monogamia, como já era no concubinato; a reciprocidade é tônica, uma vez que o artigo não faz distinção entre homens e mulheres; e a publicidade. Neste caso o Princípio da Moral Conjugal norteia o elemento para que se possa avaliar o aspecto de fidelidade. Relacionados no art. 1.566, os aspectos pessoais e materiais. No tocante ao casal e aos filhos, o inciso III cuida da assistência mútua. O inciso I cuida da fidelidade recíproca que violada pode ensejar ações de separação onde o elemento culpa se evidencia. O conceito de fidelidade pode ser considerado em sentido amplo como fidelidade material e moral.Motta salienta que o conceito de fidelidade vem sendo ampliado pela doutrina,, neste caso até mesmo a infidelidade virtual já tão comum em nossos dias é considerada, podendo se enquadrar também no art. 1.573, VI como conduta desonrosa já que não materialização do ato. Pode haver também o adultério casto ou cientifico, no caso de inseminação artificial, se heteróloga e não consentida pelo marido. Motta explica ainda que neste caso também “não se trata propriamente de adultério, mas, a 77 78 VASCONCELOS. Tutela de Urgência. 2000. p. 38. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. In, Vademecum Saraiva. 2007. p. 68. 34 exemplo da infidelidade virtual, de conduta desonrosa ou de injúria grave” 79 . A lei além de estabelecer o dever de fidelidade, foi pontual na observância das condutas. 2) A notoriedade, ou seja, relacionamentos públicos, abertos, com o conhecimento de todos, contanto que não indiscreto; Para Vasconcelos, a notoriedade ou publicidade, complementa a estabilidade, já que se há interesse na constituição de família, a publicidade é parte fundamental para tal. Neste caso se excluem as uniões adulterinas, que procuram preservar a relação matrimonial com outra pessoa. A Lei 9.278/96, já citada anteriormente, revogando o art. 1º da anterior, “substituiu o lapso temporal e a exigência de prole comum pela exigência de comprovação de convivência duradoura, pública e contínua” 80 . Em verdade para Vasconcelos o importante é a idéia de notoriedade se contrapondo a idéia de clandestinidade. 3) A continuidade das relações sexuais, pelo menos por um lapso de tempo razoável. A dependência econômica e a “compenetração” das famílias entram como caracteres secundários 81. Vasconcelos leciona que a estabilidade das uniões é característica básica, positivada pela expressão ”duradoura e contínua”. Tal característica exclui da tutela do Estado, uniões livres sem compromisso ou maior apelo emocional, sem o intuito de constituição de família. A lei 8.971/94, ao tratar dos direitos alimentares e sucessórios entre os companheiros, estabeleceu como prazo mínimo de duração da união, cinco anos, a exemplo de leis anteriores à própria Constituição de 1988, como a antiga legislação previdenciária e a Lei de Registros Públicos, que reputavam como companheira, respectivamente, para fins de recebimento de benefício do companheiro, a mulher que comprovasse a convivência mínima de cinco anos 82. 79 MOTTA, Carlos Dias. Direito Matrimonial e seus Princípios Jurídicos. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2007. p. 313. 80 VASCONCELOS. Tutela de Urgência. 2000. p. 40. 81 PAULO FILHO, Pedro. Concubinato, União Estável, Alimento, Investigação de Paternidade. 2. ed. São Paulo. JH Mizuno. 2006. p. 61. 82 VASCONCELOS. Tutela de Urgência. 2000. p. 39. 35 Mesmo sem a exigência temporal, que denota a intenção de formação de família, é fator essencial o intuito da composição de família para que se materialize o instituto. 2.2 O CONCUBINATO – CONCEITO Historicamente há que se reportar a Roma onde se originou o vocábulo, já que etimologicamente concubinato descende do vocábulo latino concubinatus, us, significando mancebia, amasiamento, aborregamento. Derivado do Grego cujo sentido é o de dormir com outra pessoa, copular, deitar-se com, repousar, descansar, ter relação carnal, estar na cama. Pode, contudo, representar a lealdade, uma união duradoura a formar uma sociedade doméstica de fato (ânimo societário) 83. Para Diniz, “consiste o concubinato numa união livre e estável de pessoas de sexo diferente, que não estão ligadas entre si por casamento civil” 84. Duas espécies de concubinato têm destaque, o concubinato puro e o concubinato impuro. É considerado concubinato puro quando tem conotações estáveis, duradouras, constituindo-se a família de fato, sem qualquer detrimento da família legítima 85 . Se duas pessoas desimpedidas se unem por mais de um ano, caracteriza-se o concubinato puro. É considerado impuro o concubinato que caracteriza uma relação adulterina, incestuosa ou desleal. Como alguém casado que mantenha uma relação paralela clandestina. Doutrinariamente na parte relativa à união estável pode denominar-se também concubinato puro, não adulterino e não incestuoso. No pensar de Rodrigues “a união do homem e da mulher, fora do matrimônio, de caráter estável mais ou menos prolongado, para o fim da satisfação sexual, 83 AZEVEDO. Estatuto da Família de Fato: antigo casamento de fato, concubinato e união estável. 2001. p. 207. FROSSI, Luigi. Concubinato, in Dizionario Pratico del Diritto Privato, de Scialoja, v. 2, p. 279; DOWER, Bassil. Curso Renovado de Direito Civil. São Paulo. Nelpa. 1973. v. 4. p. 20; BITTENCOURT, Edgard Moura. Concubinato. In Enciclopédia Saraiva do Direito. v. 17. p. 259. Apud. DINIZ. Curso de Direito Civil Brasileiro. 1994. p. 223. 85 DINIZ. Curso de Direito Civil Brasileiro. 1994. p. 211. 84 36 assistência mútua e dos filhos comuns e que implica numa presumida fidelidade da mulher ao homem” 86. 2.2.1 O CONCUBINATO PERANTE O DIREITO BRASILEIRO Azevedo por seu turno leciona que com a edição do Decreto n. 181 de 1890, que secularizou o casamento, formalizou a união homem/mulher, deixando de ser apenas de fato. Salienta que primeiro, a falta do registro civil do casamento religioso importa em concubinato e, segundo, com a rápida modificação das famílias, desquites se tornam numa avalanche que pedia o divórcio, contemplado pela Reforma Constitucional de 1977. Tal instituto salienta Azevedo, não obteve o sucesso esperado, já que raros casais, já restabelecidos procuraram se divorciar para casar-se logo após. O que passou a ocorrer na realidade foi uma tendência das famílias se formarem por via da união estável, dando segmento a esse novo tipo de família, ainda que no Brasil a tradição repudiasse o concubinato. Azevedo vai mais longe ao relatar que: Ao examinarmos o art. 147 da Consolidação das Leis Civis de Teixeira de Freitas, percebemos que ele possibilita à mulher casada, independentemente de autorização do marido, reivindicar bens móveis ou imóveis que tenham sido doados ou transferidos por este à sua concubina. Esses bens passarão a pertencer, exclusivamente, à reivindicante 87. Tal procedimento se estendia aos filhos e outros herdeiros necessários da mulher. Salienta também que nas Ordenações Filipinas, davam-se reconhecimento, no caso de que a mulher não tivesse impedimentos como segue no relato de Azevedo: Se algum homem houver ajuntamento com alguma mulher solteira, ou tiver uma só manceba, não havendo entre eles parentesco ou impedimento por que não possam casar, havendo de cada uma delas filhos, os tais filhos são havidos por naturais. E se o pai for peão, suceder-lhe-ão e virão à sua herança igualmente com os legítimos, se os o pai tiver. E, não havendo filhos legítimos, herdarão 86 87 RODRIGUES. Direito Civil: Direito de Família. 2004. p. 259. AZEVEDO. Estatuto da Família de Fato: antigo casamento de fato, concubinato e união estável. 2001. p. 215. 37 os naturais todos os bens e herança do pai, salvo a terça, se ao pai tomar, da qual poderá dispor como lhe aprouver 88. Já aos filhos espúrios nada cabia além do direito alimentar. Tal dispositivo de anulação, de eventuais doações feitas pelo cônjuge adulterino ao cúmplice, permanece hoje em nosso ordenamento jurídico por força do art. 226, § 5º, da Constituição Federal de 1988 e o art. 1177, do Código Civil que estatui: “A doação do cônjuge adúltero ao seu cúmplice pode ser anulada pelo outro cônjuge ou por seus herdeiros necessários, até dois anos depois de dissolvida a sociedade conjugal”. Azevedo critica o fato de o artigo mencionar: “após a separação”, uma vez que o cônjuge prejudicado pode pretender a devolução mesmo ainda na vigência do casamento 89. 2.2.2 Da Terminologia A legislação de modo geral, bem como os textos legais utilizase da expressão “companheiro” (L. 8.971/94) e “convivente” (L. 9.278/96). O Código Civil faz uso do vocábulo “companheiro” prioritariamente, mas faz referência também aos outros dois, convivente ou concubino. Segundo Dias, a tentativa dos elaboradores do Código Civil de separar o concubinato da união estável não foi feliz, isto porque na certa intenção de distinguir a união estável do que se entenderia por concubinato adulterino, quando diz de forma tímida que as uniões paralelas não constituem uniões estáveis, e nem sequer as coloca no âmbito do Direito das Obrigações. Dias comenta: Pelo jeito a pretensão é deixar as uniões “espúrias” fora de qualquer reconhecimento, e a descoberto de direitos. Não é feita sequer remissão ao direito das obrigações, para que seja feita analogia com as sociedades de fato. Nitidamente punitiva a postura da lei, pois condena à indivisibilidade e nega proteção jurídica às relações que desaprova, sem atentar que tal exclusão pode gerar severas injustiças, dando margem ao enriquecimento ilícito de um dos 88 89 AZEVEDO. Estatuto da Família de Fato: antigo casamento de fato, concubinato e união estável. 2001. p. 216. AZEVEDO. Estatuto da Família de Fato: antigo casamento de fato, concubinato e união estável. 2001. p. 216. 38 parceiros. A essas relações é que faz referência a lei ao autorizar a anulação de doações (CC 550 e 1.642 V), suspender o encargo alimentar (CC1.708) e impedir a possibilidade de “o concubino do testador casado” ser nomeado herdeiro ou legatário (CC 1.801 III) 90. A expressão “sociedade de fato” retira do campo do direito de família e coloca o concubinato no direito das obrigações sem que isso tenha uma justificativa plausível. O equivoco com que trata o art. 981 do Código Civil é incompreensível, uma vez que o que leva as pessoas ao convívio familiar não é o propósito de amealhar bens. Feita a definição e a distinção dos tipos de concubinato, cabe observá-lo no direito brasileiro. Dias e Pereira consideram que tal expressão, “concubinato” tem uma enorme carga de preconceito, com sentido pejorativo, aplicado apenas às mulheres. Não se fala no concubino e sim, sempre, na concubina, o que no passado era uma relação de “menos-valia”, menor, quase uma depreciação moral, principalmente para as mulheres” 91 . Esse panorama mudou radicalmente com a revolução feminista. Num segundo momento, os autores indicam que começou a se fazer distinção entre concubinato puro e impuro. Essa distinção garante o princípio da monogamia em nosso ordenamento jurídico para o puro. Daí, a dedução que o concubinato puro é a união estável, e o concubinato impuro, por sua vez, continua tendo um sentido pejorativo de concubinato mesmo. Esse conceito de relação adulterina está contemplado no art. 1.727 do Código Civil, in verbis: “As relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, constituem concubinato” 92 . É feita uma ressalva com relação à expressão “impedidos de casar”, que deveria ser substituída pela palavra “adulterina”, já que os separados judicialmente e os de fato, embora impedidos de casar, são livres para estabelecer uma união estável (art. 1.723, § 1º, do CC) 93. 90 DIAS. Manual de Direito das Famílias. 2007. p. 160. DIAS – PEREIRA. Direito de Família e o Novo Código Civil. 2006. p. 224. 92 DIAS – PEREIRA. Direito de Família e o Novo Código Civil. 2006. p. 225. 93 Código Civil, art. 1.723, § 1º - A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; Não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente. In VADEMECUM SARAIVA. 3. ed. atual. e ampli. São Paulo. Saraiva. 2007. p. 303. 91 39 2.2.3 Das Restrições havidas na Idade Média – Igreja Católica No período do direito clássico, o concubinato não se apresentava como um instituto jurídico, na família romana somente o pater era o possuidor dos bens da família, não produzia efeitos no âmbito do Direito. Sob o ponto de vista social sua origem remonta à legislação matrimonial do Imperador Augusto, primeiro Imperador romano. Essa regulamentação ainda que indireta, pois proibia tão somente as uniões com mulheres de situação inferior, perdurou até que o Imperador Constantino promulgou em 326 d.C. um édito piorando a posição das concubinas e seus filhos contidos no período anterior, deixando ainda mais em desamparo este tipo de instituição. Considerado imoral pelos Imperadores cristãos foi definitivamente abolido pelo Imperador Leão, o sábio. A idéia era de estimular os concubinos a contraírem matrimônio para poderem legitimar os filhos. Apesar das sanções, pouco resultado obteve tais normas em virtude das tradições que até então não exigiam tal formalismo, pois se dava mais importância à posse do estado de casado do que ao formalismo de uma certidão de casamento. Somente no período do Direito pós-clássico é que se elevou o concubinato à categoria de instituto jurídico, o que permitiu a legalização dos filhos que até então eram “considerados como se não tivessem pai”, sendo cognatos da mãe e dos parentes maternos. Eram tidos como filhos naturais 94 . A oficialização deu-se de forma muito semelhante à moda romana como o fato do concubino ser púbere e a concubina núbil ou pelo fato de não se poder ter duas concubinas ou ainda uma esposa e uma concubina. Não havia também qualquer formalidade, bastava o consentimento. Havia a proibição do filho tomar como concubina a antiga concubina do pai, sob pena de ser deserdado. As diferenças elencadas pelo direito romano, são em número de oito: a) faltava no concubinato a affectio maritalis , sendo que “o concubino não tinha a intenção de comunicar sua condição à concubina”, que ficava na mesma situação em que se encontrava antes do casamento; 94 AZEVEDO. Estatuto da Família de Fato: antigo casamento de fato, concubinato e união estável. 2001. p. 169. 40 b) “um cidadão podia tomar por concubina uma mulher com a qual não tivesse o connubium “, como, por exemplo, uma liberta ou uma prostituta; c) “um governador de província podia tomar concubina uma habitante de sua província (L. 5, D., 25, 7)”; d) uma mulher condenada por adultério podia viver em concubinato com seu cúmplice (L. 1 § 2, D., 25, 7)”; e) “a concubina não usava o nome de mater famílias , que era reservado, exclusivamente, à esposa legítima”; f) “as doações proibidas inter virum et uxorem eram permitidas entre concubinos”; g) “os filhos ex concubinatu chamavam-se naturais (liberi naturales), que não se submetiam ao poder paterno, seguindo a condição de sua mãe”, “de que tomavam emprestado a nacionalidade e quiçá, mesmo, o domicílio (L. 1 § 2, D., 50, 1)”; h) “o concubinato dissolvia-se como ele se formara”, pela simples vontade das partes interessadas, não havendo necessidade de qualquer ato de repúdio 95. À época do Imperador Justiniano, tal como anteriormente, deu ao instituto do concubinato o status de instituto jurídico. Com a regulamentação do Imperador Justiniano formou-se um ambiente favorável ao instituto. Com base nesta regulamentação, Azevedo entende o concubinato ao tempo de Justiniano como: Uma relação estável de um homem com uma mulher de qualquer condição e de qualquer posição social, ingênua ou liberta, sem a affectio maritalis ou a honor matrimonii. Este motivo espiritual é, na 95 AZEVEDO. Estatuto da Família de Fato: antigo casamento de fato, concubinato e união estável. 2001. p. 170. 41 verdade, a única distinção que, a essa época, existia entre o concubinato e o casamento 96. Ele conclui, considerando que Justiniano respeitou e normatizou os costumes considerando o concubinato como um casamento de categoria inferior, porém, dando-lhe amparo legal. 2.3 O CONCUBINATO NO DIREITO BRASILERIO O legislador de 1916 ignorou a família ilegítima e as referências ao concubinato (arts. 248, IV; 1.177 e 1.719, III...), esses artigos visavam exclusivamente proteger a família oriunda do casamento. Somente o art. 363, I permitia a investigação de paternidade no caso de ao tempo da concepção a mãe ter estado concubinada com o pretenso pai. Várias leis esparsas foram aprovadas, com destaque para Lei n. 4.121, de 27.8.1962, intitulada Estatuto da Mulher Casada. A crescente mudança social no método de constituição familiar passou a exigir uma providência legal para o grande número de casais em situação de concubinato, pelas mais diversas razões. Finalmente em 26 de dezembro de 1977, editou-se a Lei n. 6.515, intitulada Lei do Divórcio. Lei esta em defesa do concubinato já que igualava os filhos consangüíneos de qualquer natureza – (art. 51, art. 1º, § único, art. 2º). Após a Lei do Divórcio, conheceu-se um verdadeiro “aglomerado” de leis que regulamentaram o concubinato, neste sentido também caminhou a passos largos a jurisprudência visando acompanhar a realidade social. Azevedo coloca que a jurisprudência “não se fazendo ausente dos acontecimentos sociais e dos justos reclamos da família de fato brasileira” 97 . Finalmente em 1984 o Projeto n. 118/1994 da Câmara dos Deputados inclui ou pretende incluir o Título III, “Da União Estável” com cinco artigos, tendo sido aprovado somente em 1997. 96 97 AZEVEDO. Estatuto da Família de Fato: antigo casamento de fato, concubinato e união estável. 2001. p. 171. AZEVEDO. Estatuto da Família de Fato: antigo casamento de fato, concubinato e união estável. 2001. p. 231. 42 2.4 DAS SÚMULAS 380 E 382 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF Para tentar reparar o a injustiça da negação do efeito jurídico ao concubinato, duas soluções se fizeram presentes: Azevedo coloca: Uma, atribuindo à companheira, que prestou, por muito tempo, serviços domésticos ao concubino, direito a salários, outra conferindo participação no patrimônio adquirido pelo esforço comum, dada à sociedade de fato entre os concubinos, que redundou na Súmula n. 380 do Supremo Tribunal Federal, baseada em quase uma dezena de julgados, de 1946 a 1963, do teor seguinte: “comprovada a existência de sociedade de fato entre os concubinos, é cabível a sua dissolução judicial com a partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum” 98 . Salienta Azevedo o fato da necessidade da prova da formação da sociedade de fato, em comum convivência e esforços para o aumento de patrimônio. A necessidade de comprovação do “esforço comum”, além da convivência. Há que se salientar ainda que pode ser recursos ou esforços ou até mesmo a combinação de ambos. Azevedo leciona que o concubinato adulterino não era para a jurisprudência gerador de efeitos jurídicos, chegando a ser considerado como crime em julgado do Tribunal de Justiça do Estado da Guanabara, na pessoa do relator desembargador Manoel Antônio de Castro Cerqueira, que assim se pronunciou: Resultando o concubinato de adultério, que a lei repele como crime, não pode ter efeitos de natureza patrimonial e, não provada a participação direta e efetivada mulher na formação do patrimônio do concubino, casado e com filhos, não tem a concubina direito à meação dos bens do companheiro falecido, pertencente a casal 99. A Súmula 380 do STF acabou por ratificar este entendimento de que a lei só dava guarida àquela união que configurava uma sociedade de fato (na longa existência – more uxório). Para corrigir essa injustiça a Súmula 382 do Supremo Tribunal Federal – STF, cujo teor é “A vida em comum sob o mesmo teto, more uxório , não é 98 99 AZEVEDO. Estatuto da Família de Fato: antigo casamento de fato, concubinato e união estável. 2001. p. 231. AZEVEDO. Estatuto da Família de Fato: antigo casamento de fato, concubinato e união estável. 2001. p. 236. 43 indispensável à caracterização do concubinato” 100 . Assim, a necessidade de comprovação de existência de sociedade de fato para que se viabilizasse a partilha do patrimônio foi sanada pela Súmula 382 do STF, já que o que realmente importa é o esforço comum ou a divisão de recursos. Decisão do STF, que sustentou a tese da Súmula 380, embora o varão, casado, estivesse separado de fato da esposa há anos e a concubina houvesse concorrido para o aumento do patrimônio de seu companheiro. Diz a ementa do acórdão: “CONCUBINA – Partilha patrimonial – Réu casado – Compreensão da Súmula 380 – Recurso extraordinário conhecido e provido. A ação da partilha patrimonial promovida pela concubina não pode prosperar se o réu é casado, visto que tanto conduziria ao despropósito da dupla meação. A Súmula 380, interpretada à luz da jurisprudência que lhe serviu de base, e daquela que sobreveio, refere-se à concubinos desimpedidos” 101. A Súmula 382 por seu turno, veio a sanar esse tipo de injustiça, já que tendo havido aumento patrimonial, inexistente ao tempo do início do relacionamento concubino, torna-se justa sua divisão. 2.5 DOS CONTRATOS PATRIMONIAIS NA UNIÃO ESTÁVEL O regime condominial dos bens na união estável é decorrente do período de convivência em função do esforço comum na aquisição ou no aumento do patrimônio, mesmo que estes bens estejam em nome de apenas um dos companheiros, devendo ser a partilha efetivada de forma igualitária. Tal composição jurídica não é impedimento para que os companheiros, obedecidos os limites previstos para o casamento (art. 1.641), 100 101 AZEVEDO. Estatuto da Família de Fato: antigo casamento de fato, concubinato e união estável. 2001. p. 231. RODRIGUES. Direito Civil: Direito de Família. 2004. p. 265. 44 efetuem a regulamentação das questões patrimoniais da forma que entenderem. A elaboração de contrato escrito é totalmente liberalizada pela legislação, o que dá ampla liberdade dos contratantes resolverem a questão patrimonial da forma que entenderem. Apesar de o Código Civil dedicar 50 dos seus artigos para regulamentar o casamento, no que se refere à união estável somente faz referência em um único artigo onde utiliza a expressão “contrato escrito (CC 1.725)”. O contrato de convivência, apesar de não criar a união estável é indício de sua existência (CC 1.723), pode receber a denominação de pacto antenupcial e sua eficácia está sujeita à concretização da união, pode indicar o seu início. O contrato pode ser modificado a qualquer tempo bem como é o caso do regime de bens, sua revogação pode darse também a qualquer tempo sem a exigência de procedimentos especiais, a única necessidade é a anuência dos dois contratantes, manifestações unilaterais não tem nenhum efeito. O contrato é soberano e somente em casos extremos como o caso de depois de muitos anos de relacionamento apenas um dos companheiros restarem com todo o patrimônio e o outro restar sem nada nem ao menos que lhe possibilite a sobrevivência, então neste caso o contrato pode ser questionado. Neste caso como nos e mais, é nula a cláusula que disponha de forma absoluta todo o patrimônio a somente um dos companheiros (CC 1.655). A previsão de indenização ao fim do relacionamento é permitida, no caso de ruptura unilateral do acordo. Este contrato não carece de averbação, registro ou qualquer outro tipo de oficialização, contudo não se impede sua materialização desta forma. Para o caso da separação extrajudicial ou união estável não permite divórcio, é condição a averbação do distrato que põe fim ao relacionamento. 2.5.1 Contrato de Namoro Ao contrário do que se imaginava quando da regulamentação da união estável, o simples namoro, ainda que prolongado por vários anos não leva 45 a presunção de união estável. Como havia certa insegurança, casais de namorados passaram a firmar contratos de namoro. Tais contratos garantiam a incomunicabilidade do patrimônio atual e futuro. Sustentados pelos pais, não materializam as condições necessárias à caracterização da união estável. Dias lembra que o convívio prolongado como o que caracteriza a união estável pode levar a presunção de enriquecimento ilícito 102. 2.5.2 Indenização por Serviços Prestados Dias considera “um subterfúgio nitidamente depreciativo”, que era utilizado pela jurisprudência no caso de uniões extramatrimôniais sem amparo legal, e sem reconhecimento no direito de família. Analogamente ao direito do trabalho ao invés de alimentos, se exigia uma contrapartida da prestação laboral, indenizando-se o amor como trabalho 103 . A solicitação ao invés de alimentos era a de indenização por serviços prestados. Ao final do relacionamento a partilha era feita através da indenização por serviços prestados. Com a regulamentação da união estável tal recurso não mais pode ser utilizado, uma vez que a indenização por trabalhos domésticos não está prevista na união estável. Dias salienta que “em face do repúdio do legislador” (CC 1.727), e também da jurisprudência ante ao reconhecimento das famílias paralelas, que foram excluídas do direito de família, podem recorrer ainda, a este tipo de indenização. 2.6 DAS LEIS 8.971/94 E 9.278/96 O § 3º, do art. 226 104 , da Constituição Federal também não especifica no sentido de referir-se à união estável pura. 102 DIAS. Manual de Direito das Famílias. 2007. p. 172. DIAS. Manual de Direito das Famílias. 2007. p. 172.. 104 BRASIL. Constituição Federal. Art. 226, caput A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. § 3º Para efeitos da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. In Vademecum Saraiva. 2007. p. 68. 103 46 Claramente percebe-se no texto constitucional, que não se admite dois tipos de união familiar simultânea. Dá-se primazia a família construída com o casamento. Importante observação faz Gonçalves, citando voto vencido do Des. Alexandre Loureiro em acórdão no Tribunal de Justiça de São Paulo, colocando as coisas nos seus devidos lugares: Inescondíveis o concubinato e a formação do patrimônio comum. A partilha dos bens decorre, na verdade, não da existência do concubinato, mas da sociedade de fato, existente desde 1956 e admitida pela co-ré apelante a partir de 1962. Pouco importa o adultério. A partilha de bens nada ter a ver com o Direito de Família e é indene às suas violações. A divisão dos bens diz respeito mais à dissolução da sociedade do que do próprio concubinato. Não fosse assim, haveria enriquecimento ilícito de um dos sócios em detrimento do outro. (RT, 626/68) V. ainda: ”Sociedade de fato. Homem casado. A sociedade de fato mantida com a concubina elege-se pelo Direito das Obrigações e não pelo de Família. Inexiste impedimento a que o homem casado, além da sociedade conjugal, mantenha outra, de fato ou de direito com terceiro. Não há cogitar da pretensa dupla meação. A censurabilidade do adultério não haverá de conduzir a que se locuplete, com esforço alheio, exatamente aquele que o pratica” (STJ, RRsp 47.103-6-SP, 3ª T., Rel. Min. Waldemar Zveiter, j. 29-11-194). No mesmo sentido: RSTJ, 1138/262.105. Com relação à Lei 8.971/94 Cunha Pereira acredita que pôs fim “aos ridículos pedidos de indenização por serviços prestados” 106 . O concubinato adulterino ou simplesmente concubinato, que está estabelecido no art. 1.727 do Código Civil de 2002, como sendo aquela relação que origina uma família paralela, são duas famílias ao mesmo tempo, uma delas paralela ao casamento ou a união estável, ferindo o princípio da monogamia. O fato deste tipo de relação ferir o princípio da monogamia, para que não se cometa injustiça à prevalência da ética sobre a moral se faz necessária. Neste caso o direito deve proteger a essência e não a forma. Cunha Pereira não aponta apenas este como único paradoxo jurídico do principio da monogamia, aponta o fato do multiculturalismo, nele o casamento poligâmico se insere, pergunta como registrar um marroquino e suas três 105 106 GONÇALVES. Direito Civil Brasileiro. Vol. VI. Direito de Família. 2007. p. 536. CUNHA PEREIRA. Princípios Fundamentais Norteadores para Direito de Família. 2005. p. 122. 47 mulheres legalmente no Brasil? 107 Embora a Lei 8.971/94 tenha esclarecido a questão do concubinato, ainda se encontra uma dicotomia entre o casamento monogâmico e o poligâmico como formas de organização familiar. O concubinato dito adulterino ou a relação paralela ao casamento não deixa de se parecer com a poligamia apontada por Cunha Pereira anteriormente. Neste caso um desafio para o legislador resolver quando da apreciação de demanda judicial envolvendo este tipo de caso. 107 CUNHA PEREIRA. Princípios Fundamentais Norteadores para Direito de Família. 2005. p. 124. CAPÍTULO III O presente capítulo trata da igualdade de direitos entre homem e mulher na sociedade familiar brasileira. Estuda a posição da mulher dentro do modelo familiar atual, seus direitos e deveres em relação ao homem. O conceito de igualdade tem destaque em função do princípio da igualdade. 3 DOS DIREITOS DA MULHER NA SOCIEDADE FAMILIAR BRASILEIRA Santos coloca que “no século XX os direitos humanos emergiram, como uma necessidade humana fundamental” 108 . Para o autor, após a segunda grande guerra em função do relacionamento internacional, os países, em função da guerra fria passaram a dar um caráter universal aos direitos humanos, que tiveram o seu coroamento com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, pelas Nações Unidas, em 1948. Desde então, como modelo ético se reflete diretamente no ordenamento Pátrio com as garantias fundamentais cimentadas na Magna Carta brasileira, em 1988. Santos lembra que antes das ações acima, já havia luta pela igualdade e respeito ao direito das pessoas, desde a queda da monarquia na França em 1791: A luta pela construção dos direitos humanos das mulheres tem um dos seus pontos marcantes com a pioneira francesa Olympe de Gouges, contemporânea da Revolução Francesa. Uma revolucionaria contestadora da política patriarcal feudal, que buscou liderar as mulheres para ter uma voz ativa no direito de voto às mulheres, no direito de exercer um ofício e no reconhecimento das uniões concubinárias 109. Tais direitos, contudo somente veriam seu reconhecimento na Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, muitos anos depois da Declaração da Mulher Cidadã de 1791. Em 1977, a Lei 6.515/77 procurou nas 108 SANTOS. MULHER: Sujeito ou Objeto de Sua Própria História? Um olhar interdisciplinar na história dos direitos humanos das mulheres. 2006. p. 17. 109 SANTOS. MULHER: Sujeito ou Objeto de Sua Própria História? Um olhar interdisciplinar na história dos direitos humanos das mulheres. 2006. p. 18. 48 palavras de Diniz, “com sinceridade solucionar problemas que a vida conjugal dá nascimento, e que o excessivo amor à tradição impedia de resolver” 110 . Diniz comenta: A instituição do divórcio, ao mesmo passo que provoca adversários sinceramente convictos, e aderentes que afloram na corrente das águas novas, provocou no começo, uma certa onda de procedimentos judiciais, contra as expectativas generalizadas 111. A busca de pessoas por separação do casamento através do divórcio, com a lei denominada de Estatuto da Mulher Casada, ao contrário do pensamento geral então dominante, ocorreu apenas de forma discreta, o que comprova que a instituição do casamento, apesar da possibilidade de separação pelo divórcio continuou sólida em sua essência. Em 1979, a Convenção para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a mulher, que passou a vigorar em 1981, só foi homologada no Brasil em 1984, pelo Decreto nº. 89.460/84112, vindo a ser realmente respeitado somente a partir da promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Santos elenca os avanços que oriundos da convenção internacional influenciaram a Carta de 1988: a) direito de votar e ser votada para cargos políticos e órgãos públicos e de exercer funções públicas em todos os níveis; b) direito de participar da formulação de políticas governamentais e de ONGs, voltadas para vida pública e política; c) igualdade perante a Lei; d) direitos iguais quanto à nacionalidade; e) direito ao trabalho, com igualdade de oportunidade e de salários em relação aos homens; f) direitos e responsabilidades iguais no casamento e na relação com os filhos; 110 DINIZ. Maria Helena. Instituições de Direito Civil, Direito de Família. v. 5. 17. ed. São paulo. Saraiva. 2005. p. 9. 111 DINIZ. Instituições de Direito Civil, Direito de Família. 2005. p. 9. Adotada pela Resolução n. 34/180 da Assembléia Geral das Nações Unidas, em18 de dezembro de 1979 e ratificada pelo Brasil em 1º de fevereiro de 1984. 112 49 g) proteção contra o casamento infantil e a exploração sexual; h) medidas para modificar os padrões culturais de conduta que mantêm as mulheres em situação de inferioridade; e i) medidas para reprimir a prostituição e o tráfico de mulheres 113. Este autor aponta a ineficácia jurídica brasileira em face aos novos tipos de conflitos que são típicos deste final de século XX, por culpa de uma cultura de tradição monista. 3.1 AS MUDANÇAS NA LEGISLAÇÃO DECORRENTES DA REVOLUÇÃO FRANCESA EM RELAÇÃO AOS DIREITOS INDIVIDUAIS Santos leciona que o resultado das lutas entre as forças sóciopolíticas da realeza, da nobreza e do clero católico francês, e a emergente classe burguesa, culminou com a Revolução Francesa ocorrida em 1789 114. Na França, o direito diferenciado para a nobreza e o clero em comparação ao aplicado em relação ao povo provocou a insatisfação dos burgueses. Santos comenta: Dessa forma, em reunião dos Estados Gerais, no dia 05 de maio de 1789, os representantes do povo (burguesia e artesãos) protestaram contra a determinação de se fazer votar por ordem e exigiu que se procedesse à votação por cabeça, em comum, pelos três estamentos unidos, momento em que se estabeleceu a Assembléia Nacional Constituinte. Começava aí a Revolução Francesa, seguindo a tomada da prisão da Bastilha, em 14 de julho, a supressão dos privilégios feudais, em 4 de agosto, e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (DDHC), em 26 de agosto de 1789. Em 1791, foi elaborada a primeira 113 Extraído do art. 1º a 30 da Convenção para Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher de 1979. In SANTOS. MULHER: Sujeito ou Objeto de Sua Própria História? Um olhar interdisciplinar na história dos direitos humanos das mulheres. 2006. p. 18. 114 SANTOS. MULHER: Sujeito ou Objeto de Sua Própria História? Um olhar interdisciplinar na história dos direitos humanos das mulheres. 2006. p. 30. 50 Constituição Francesa Republicana, baseada na Declaração de 1789 115. A igualdade aí apregoada foi mais uma arma na luta da mulher em busca da igualdade perante o homem. Pinsk lembra que a Revolução Francesa pouco conseguiu em relação aos direitos trabalhistas assim como o movimento britânico em prol do sufrágio universal masculino, o cartismo. As leis trabalhistas, contudo, evoluíram muito e, outras leis, como a proibição do trabalho subterrâneo da mulher ou a redução da jornada de trabalho feminino 116, Juntamente com as conquistas relativas à igualdade os direitos femininos ganharam espaço. 3.3.1 Mudanças ocorridas na legislação brasileira No Brasil, desde o tempo da Colônia que a luta das mulheres faz parte da construção do Estado brasileiro. Após 1850 as primeiras organizações feministas começaram a surgir, elas lutavam pelo direito à educação e ao voto. Direito de mulher cursar o ensino de terceiro grau só foi contemplado pela legislação em 1879. Na primeira metade do século XX, o avanço das mulheres foi bastante expressivo e em 1929, Alzira Soriano de Souza foi eleita prefeita no estado do Rio Grande do Norte com 60% dos votos e em 1933 Carlota Pereira de Queiróz foi eleita à primeira deputada federal do país para a Assembléia Nacional Constituinte. Na Constituição Federal de 1934 foi aprovada a isonomia entre os sexos nos direitos trabalhistas como igualdade salarial e proteção à maternidade 117. 115 SANTOS. MULHER: Sujeito ou Objeto de Sua Própria História? Um olhar interdisciplinar na história dos direitos humanos das mulheres. 2006. p. 31. 116 PINSK. História da Cidadania. 2003. p. 231. 117 SANTOS. MULHER: Sujeito ou Objeto de Sua Própria História? Um olhar interdisciplinar na história dos direitos humanos das mulheres. 2006. p. 119/120. 51 Os direitos civis da mulher tiveram lugar de destaque nos anos 50 quando, segundo Santos: Uma das lutas dos anos 50 foi a luta dos movimentos feministas em prol da modificação dos dispositivos que versavam sobre os direitos civis da mulher inscritos no Código Civil Brasileiro de 1/1/1917. Este Código Civil tinha um entendimento altamente patriarcal, onde apontava em seus inúmeros dispositivos legais a condição de inferioridade natural da mulher, a saber: A mulher era considerada uma perpétua relativamente incapaz, sendo colocada na mesma condição legal dos pródigos, silvícolas e menores púberes 118. Essas lutas acabaram por desembocar em 1962, no chamado Estatuto da Mulher Casada, que será analisado a seguir. 3.2 IGUALDADE NA DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DO HOMEM Pinsk leciona que as sociedades capitalistas contemporâneas são divididas em duas partes, sendo uma delas composta por aquelas pessoas que não tem necessidade de trabalhar em virtude do volume de suas posses econômicas. A outra, sem tais posses que possam assegurar o seu bem estar e de suas famílias, dependem para sobreviver do exercício de atividade remunerada. São os trabalhadores. Estes são os sujeitos dos direitos sociais. Dentro dessa classe, no entanto, esses direitos só se aplicam àqueles cuja situação torna necessário o seu uso. São, nesse sentido, direitos condicionais: vigem apenas para quem depende deles para ter acesso a parcela da renda social, condição muitas vezes fundamental para sua sobrevivência física e social – e, portanto, para o exercício dos demais direitos humanos 119. O fato de não se considerar os capitalistas como sujeitos de direitos sociais, em virtude de suas posses não indica que as pessoas enquadradas nessa classe não trabalham. A gestão do seu patrimônio e empreendimentos, provavelmente lhes ocupa o tempo, todavia, não são trabalhadores formais, 118 SANTOS. MULHER: Sujeito ou Objeto de Sua Própria História? Um olhar interdisciplinar na história dos direitos humanos das mulheres. 2006. p. 119/120. 119 PINSK, Carla B. História da Cidadania. São Paulo. Contexto. 2003. p. 191. 52 autônomos ou assalariados, assim não estão albergados pelos direitos sociais que se destina a classe trabalhadora. Pinsk explica que “portanto os direitos sociais têm como sujeitos os trabalhadores; uma parte dos direitos tem como sujeitos os trabalhadores remunerados (assalariados e autônomos) e outra parte os trabalhadores que dele carecem” 120 . Neste último caso, em função da política do pleno emprego, é necessário amparar os trabalhadores quando estes se encontram desempregados, para que não se tornem carentes. As conquistas por direitos sociais foi fruto de várias lutas dos trabalhadores por melhores condições. Junto dessas lutas por direitos sociais, o direito à igualdade entre homens e mulheres também teve seu lugar. Respeitadas as diferenças, algumas conquistas foram registradas como, por exemplo, a jornada de trabalho dos jovens e das mulheres em 12 horas, depois 11 horas e ainda 10 horas. a aposentadoria da mulher aos 25 anos de trabalho também pode ser considerado como conquistas femininas em busca de igualdade 121. No direito das famílias a igualdade também é fruto de longas lutas em busca da igualdade de direitos. A dignidade humana, portanto, está positivada e contemplada na Constituição da República Federativa do Brasil, apesar de não haver uma definição formal da expressão dignidade humana. No entender de Cunha Pereira, trata-se de expressão Kantiana, e no entender do pensador é através dele que se pode então encontrar seu sentido: Kant afirma de forma inovadora que o homem não deve jamais ser transformado num instrumento para a ação de outrem. [...] Em outras palavras, embora os homens tendam a fazer dos outros homens instrumento ou meios para suas próprias vontades ou afins, isso é uma afronta ao próprio homem. É que o homem, sendo dotado de consciência moral, tem um valor que o torna sem preço, 120 121 PINSK. História da Cidadania. 2003. p. 192. PINSK. História da Cidadania. 2003. p. 231. 53 que o põe acima de qualquer especulação material, isto é, coloca-o acima da condição de coisa 122. Para Kant o homem é um ser superior às coisas, portanto, incapaz de receber um preço, logo não pode ser tratado como se coisa fosse. Sendo dotado de consciência racional e moral é capaz de ter responsabilidade e liberdade. O caminho percorrido até se chegar a Declaração Universal dos Direitos do Homem foi bastante longo e, várias conquistas, que podem ser consideradas etapas, se verificaram até sua efetivação. Groeninga e Pereira lecionam que a realização do ser humano em na sua essência é o seu fim maior, tal anseio, sempre cerceado pelos regimes absolutistas. Com vistas ao combate ao absolutismo, assim se expressam: Dessa maneira, foi com as vistas dirigidas imediatamente para o combate ao arbítrio dos reis absolutos que, na origem da era contemporânea, no fim do século XVIII, os revolucionários liberais proclamaram direitos mais abstratos, tendo por objeto alguns dos valores mais gerais da humanidade que, por isso mesmo, foram havidos como os de maior instância naquele momento histórico. Assim, o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à fraternidade, à felicidade, à segurança e outros similarmente genéricos. A eles convém chamar direitos humanos fundamentais ou principais (melhor seria dizê-los principais), porque são basilares de outros direitos mais particulares, que neles se fundamentam e principiam, visando a darlhes maior, ou melhor, concretude e, para isso, operando em ocasiões ou situações bem determinadas, nas quais os instrumentam para realizá-los 123. Seriam estes os direitos humanos operacionais ou instrumentais. A materialização destes direitos, de modo prático, pode verificar-se em 1722, quando nos Estados Unidos, se procedia a operacionalização dos direitos humanos, contra o absolutismo, até que se estratificou em 1793, pela França, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em seu art. 33 124. 122 CUNHA PEREIRA. Princípios Fundamentais Norteadores para Direito de Família. 2005. p. 96. 123 GROENINGA/PEREIRA. Direito de Família e Psicanálise – rumo a uma nova epistemologia. 2003. p. 145. GROENINGA/PEREIRA. Direito de Família e Psicanálise – rumo a uma nova epistemologia. 2003. p. 146. 124 54 Cunha Pereira assevera tal instrumentalização, quando observa que a obra de Kant - Metafísica dos Costumes, que colocava o homem como fim e não meio de todas as coisas, teve papel preponderante no processo de lutas por esses ideais 125. 3.3 LEI 4.121/62 - ESTATUTO DA MULHER CASADA O “lugar ao sol” 126 da mulher, lenta, vagarosamente, acabou por abalar a organização tradicional da família. Com o crepúsculo do patriarcado, as mulheres deixaram à condição de “sujeito de desejo” o que provocou a ruína da indissolubilidade conjugal, já que a submissão, esteio do casamento passava a deixar de existir. As virtudes femininas, voltadas para a emancipação pessoal e profissional, sob a batuta dos movimentos feministas, as levaram a liberdade e a igualdade. Desde a época do descobrimento, muitos anos de lutas se passaram e, apesar de ainda longe de uma posição ideal, finalmente a mulher no Brasil, saiu de sua condição de relativamente incapaz com o advento da Lei 4.121 de 1962 que se intitulou de Estatuto da Mulher Casada. Dentre outras conquistas, destacam-se, a possibilidade exercer todos os atos da vida civil após completar 21 anos, sem necessitar mais do consentimento do marido. A conquista seguinte foi o divórcio, aprovado em 1977 pela Lei 6.515/77, ferrenhamente combatido pela igreja católica Neste momento passou a ser colaboradora do marido com relação aos encargos familiares. Várias arestas, contudo ainda necessitavam ser polidas, como o fato de que ao marido pertencia a representação legal da família, administração dos bens e a escolha do domicílio. O pátrio poder era de ambos, mas o exercício era do marido 127. 125 CUNHA PEREIRA. Princípios Fundamentais Norteadores para Direito de Família. 2005. p. 99. DIAS. Manual de Direito das Famílias. 2007. p. 94. 127 SANTOS. MULHER: Sujeito ou Objeto de Sua Própria História? Um olhar interdisciplinar na história dos direitos humanos das mulheres. 2006. p. 122. 126 55 Após novas lutas, em 1988 com a promulgação da Constituição, as mulheres obtiveram a igualdade de direitos e deveres no âmbito familiar. Num retrospecto histórico a posição da mulher na família sempre esteve atrelada à subordinação ao marido. A obediência era a tônica do relacionamento. A capacidade de reprodução e o trabalho doméstico não eram valorizados. Todavia, a igualdade, respeitadas as peculiaridades do homem e da mulher, apresenta-se viável sem que se tenha que conceder privilégios a nenhum dos dois. Dias faz um retrospecto e acentua que o Código de 1916, que teve sua elaboração iniciada em 1899, apontava uma sociedade “conservadora e patriarcal” 128 . Neste caso era notória a superioridade do homem, a quem cabia com exclusividade o comando da família. A adoção por parte da mulher do nome do marido e a indissolubilidade do casamento, aliados ao não reconhecimento de vínculos extramatrimoniais, denominados de concubinato, materializavam a condição de inferioridade da mulher. Os filhos oriundos do concubinato, classificados pela lei, como bastardos, teriam que ser sustentados apenas pela concubina, já que não tinham direito ao reconhecimento. O Estatuto da Mulher Casada, nome dado a Lei 4.121/62, proporcionou à mulher maior capacidade no âmbito da família. Apontada agora como colaboradora do marido na administração da sociedade conjugal. A guarda dos filhos quando do desquite e, posteriormente, da separação judicial, também se incluem entre as conquistas. Para trabalhar não era mais necessária a autorização do marido, e os chamados “bens reservados” (patrimônio amealhado pelo trabalho da esposa), não respondiam por dívidas do marido, cabendo a mulher com exclusividade, independentemente do regime de bens do casal. A Lei 4.121/62 trouxe grande avanço na posição da mulher dentro da relação familiar. A Lei do Divórcio, rompendo com os ditames impostos por pressão social de iniciativa da Igreja Católica, exigiram até mesmo reforma em 128 SANTOS. MULHER: Sujeito ou Objeto de Sua Própria História? Um olhar interdisciplinar na história dos direitos humanos das mulheres. 2006. p. 122. 56 dispositivos da própria Constituição Federal, derrubando definitivamente a indissolubilidade do casamento. 3.4 A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E ASPÉCTOS RELATIVOS À IGUALDADE DO HOMEM E DA MULHER A sensibilidade do legislador quando da elaboração e aprovação do Código Civil, especialmente do Direito de Família se faz em função “no plano social por toda uma fenomenologia complexa, determinando transformações conceituais extras” 129. Diniz acredita que se equivocam aqueles que falam crise, esta, muito mais aparente do que real, já que o que muda são os “conceitos básicos”, como por exemplo, o fato de no passado as leis e os códigos “falando nas relações familiares, aludiam ao casamento, à filiação, ao regime de bens, mas não mencionavam a palavra “família”. à observação, posto que em geral, teve seu aparecimento no Código de Napoleão” 130 . As famílias então, eram consideradas como “viveiros do Estado”. No Brasil, em 1969, foi considerada como “base da sociedade” 131 . Referindo-se às transformações na posição da mulher, que levou a atualmente a substituir a posição subalterna pela de “colaboradora afetuosa”. Diniz observa: Sem nos determos na percussão destas transformações, por todos os sistemas jurídicos, ou ao menos pelos que compõe o que se convencionou denominar como a “civilização ocidental”, uma visão de conjunto sobre o direito brasileiro reflete essa tendência e consagra essas transformações. Se nos detivéssemos no plano doutrinário, bem veríamos que os escritores em obra sistemática e em trabalhos monográficos descrevem a concepção autonomista da mulher, como expressão da atualidade de nosso direito 132. 129 DINIZ. Instituições de Direito Civil, Direito de Família. v. 5. 2005. p. 2. DINIZ. Instituições de Direito Civil, Direito de Família. v. 5. 2005. p. 3. 131 BRASIL. Emenda Constitucional nº 1, de 1969, art. 175. In DINIZ. Instituições de Direito Civil, Direito de Família. v. 5. 2005. p. 3. 132 DINIZ. Instituições de Direito Civil, Direito de Família. v. 5. 2005. p. 6. 130 57 Diniz acredita que mesmo limitando-se ao direito escrito ou legislado, já se consolida em tal posição a mulher brasileira com seus reflexos inequívocos no direito de família. O interesse dos constituintes anteriores à 1988 foi de proteger a família, que se originava no casamento, e se manter em silêncio sobre a família de fato, levaram a exigência que o texto constitucional de 1988 apenas se referisse simplesmente que a família terá direito à proteção dos Poderes Públicos 133 . Neste sentido Azevedo leciona que: Destaque-se, neste passo, que após ser instalada a Assembléia Constituinte, em 1º de fevereiro de 1987, e eleito seu Presidente, Deputado Ulisses Guimarães, havia necessidade da elaboração de um projeto de Constituição, constituindo-se, para tanto, a Comissão Afonso Arinos (de Melo Franco), que era seu Presidente 134. A tarefa da Comissão era a de priorizar a “democratização da família”, base da sociedade; acolher a “união estável” e a igualdade de direitos entre os filhos, bem como direitos e deveres entre os cônjuges. Ainda e apesar das várias propostas, como a do seu Presidente, o Deputado – Constituinte Nelson Aguiar que sugeriu no art. 1º, § 1º, que “o casamento civil é a forma própria de constituição de família” 135 . Para Azevedo, a ingerência do Estado na gestão da família contraria os princípios libertários aos quais se norteia a Constituição da República Federativa do Brasil. Substitutivo do Senador-Constituinte Bernardo Cabral, no art. 297, corrigiu a injustiça, melhorando o texto “a família, constituída pelo casamento ou por união estável, tem proteção do Estado, que se estenderá à entidade familiar fundada por qualquer dos pais ou responsável legal e seus dependentes, consangüíneos ou não” 136. Neste caso foi abolido ou omitido o casamento religioso. Com relação aos direitos humanos, sem dúvida a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 foi para as mulheres uma grande conquista. Previsto no seu art. 5º, I, que homens e mulheres são iguais perante a lei, 133 AZEVEDO. Estatuto da Família de Fato: antigo casamento de fato, concubinato e união estável. 2001. p. 295. AZEVEDO. Estatuto da Família de Fato: antigo casamento de fato, concubinato e união estável. 2001. p. 295. 135 AZEVEDO. Estatuto da Família de Fato: antigo casamento de fato, concubinato e união estável. 2001. p. 296. 136 AZEVEDO. Estatuto da Família de Fato: antigo casamento de fato, concubinato e união estável. 2001. p. 295. 134 58 representa uma isonomia jurídica respeita as diferenças psico-sócio-culturais ao mesmo tempo em que, reconhece direitos, como à licença maternidade de 120 dias, a assistência aos filhos da mulher trabalhadora, gratuidade do nascimento e, também, em creches ou pré-escolas até os seis anos de idade. O compartilhamento do pátrio poder com o marido na sociedade conjugal, o divórcio, o reconhecimento da União Estável entre homem e mulher como entidade familiar ou ainda o reconhecimento da família monoparental, formada por qualquer dos pais e seus descendentes 137. Por fim, várias inovações foram trazidas à Constituição de 88 e dentre elas, merece destaque que o § 3º do art. 226 com o reconhecimento do concubinato puro, não adulterino nem incestuoso, como forma de constituição familiar. Azevedo vai mais longe ao afirmar: Tenha-se presente, ainda, que, mencionando em seu caput que a família é a “base da sociedade”, tendo “especial proteção do Estado”, nada mais necessitava o art. 226 de dizer no tocante à formação familiar, podendo o legislador constituinte ter deixado de discriminar as formas de constituição da família. Sim, porque ao legislador, ainda que constituinte, não cabe dizer ao povo como deve ele constituir sua família 138. A proteção da família por parte do Estado é o mais importante DISPOSITIVO Constitucional com relação à sociedade familiar, isto está claro no texto aprovado. 3.5 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS - IGUALDADE Os direitos humanos possuem dimensão interdisciplinar, já que extrapolam o âmbito das ciências sociais e penetra em todas as demais ciências. 137 SANTOS. MULHER: Sujeito ou Objeto de Sua Própria História? Um olhar interdisciplinar na história dos direitos humanos das mulheres. 2006. p. 122. 138 SANTOS. MULHER: Sujeito ou Objeto de Sua Própria História? Um olhar interdisciplinar na história dos direitos humanos das mulheres. 2006. p. 297. 59 Com origem patriarcal, durante muito tempo os direitos humanos se vincularam a figura masculina, deixando portanto, mulheres e crianças excluídas. Dentro do âmbito do princípio da dignidade humana, os direitos humanos e a inclusão social são fórmulas recentes no “mundo Jurídico” 139 . Tiveram sua origem na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, onde a igualdade perante a lei, sem distinção de sexo, raça, credo ou ideologia política, se fez presente. Para Cunha Pereira, a intangibilidade da dignidade humana tem por parte do Estado, proteção garantida. Deste momento em diante as constituições não mais puderam se furtar de ter a pessoa humana como centro e, suas bases espelham a Declaração Universal dos Direitos Humanos. No âmbito da sociedade familiar, esta igualdade veio acabar com as diferenças existentes na legislação brasileira. O autor assim expressa seu ponto de vista: O Direito de Família só estará de acordo e em consonância com a dignidade e com os Direitos Humanos a partir do momento em que essas relações interprivadas não estiverem mais à margem, fora do laço social. Os exemplos históricos de indignidade no Direito de Família são muitos: a exclusão da mulher do princípio de igualdade, colocando-a em posição inferior ao homem; a proibição de registrar o nome do pai nos filhos havidos fora do casamento se o pai fosse casado; e o não-reconhecimento de outras formas de família que não fosse o casamento 140. O discurso da igualdade é paradoxal, ao passo que se declara sua igualdade e universalidade de direitos, mais abstrata se tornam suas categorias. A igualdade genérica é distinta da realidade em função das diferenças. E, nessas diferenças não se podem calcar a superioridade de um sobre o outro. A diversidade também tem que ser respeitada e é justamente neste respeito às diferenças é que se faz a igualdade. O princípio da igualdade no campo do direito de família possibilitou compatibilizar o direito positivo à ordem constitucional instaurada em 1988. 139 140 CUNHA PEREIRA. Princípios Fundamentais Norteadores para Direito de Família. 2005. p. 99. CUNHA PEREIRA. Princípios Fundamentais Norteadores para Direito de Família. 2005. p. 100. 60 Quando se estabelece a igualdade entre cônjuges ou companheiros, está estabelecida a igualdade entre homem e mulher, respeitadas as suas diferenças o que pode redundar em um tratamento diferenciado à mulher sem que, todavia este tratamento diferenciado ofenda o princípio da igualdade. Motta observa que “é correta a afirmação de que os desiguais devem ser tratados de forma desigual, na medida de sua desigualdade” 141. Considerada pela Constituição da República Federativa do Brasil, como a “base da sociedade”, é na família que se forma a estrutura social, dentro da célula familiar, e é através desta mesma família que a sociedade cresce em termos de população. Logo se o Estado oferece especial proteção a esta família, a sociedade como um todo ganha. Para o bom desempenho da família no contexto social tornouse necessário que os direitos e deveres da mulher dentro da sociedade familiar, bem clara, obedeçam ao princípio da igualdade constitucional, previsto nos art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil e no art. 226, § 5º. Viana ensina que o princípio da autoridade era a tônica do direito de família, onde o pater era ao mesmo tempo, chefe político, sacerdote e juiz. A mulher e os filhos ocupavam posição subalterna. Sob a inspiração do Cristianismo houve evolução no sentimento humano e deram início à caminhada da proposta de fins econômicos, políticos culturais e religiosos para uma união de companheirismo e de afeto. “A organização autocrática da família cede lugar a uma orientação democrático-afetiva. A família no presente é muito mais do que antes, o espaço de realização pessoal-afetiva, despatrimonializada” 142 . Para Viana, o novo rumo dado ao poder familiar e a isonomia conjugal, aliados ao fim da distinção entre os filhos em função da origem, revela a igualdade, a liberdade e o respeito na família atual. Viana assevera que o importante agora é buscar o equilíbrio entre o interesse social e o privado. “É na família que o ser humano nasce e se desenvolve, plasma sua personalidade para, depois, integrar-se na sociedade” e mais: 141 142 MOTTA. Direito matrimonial e seus Princípios Jurídicos. 2007. p. 211. VIANA. Marco Aurélio S. Direito Civil, Direito de Família. 2. ed. São Paulo. Del Rey. 1998. p. 24. 61 O direito busca dar à família uma nova organização, procura captar o caudal de novas situações criadas, reconhecendo-lhe como núcleo de preparação do ser humano para a vida. A igualdade assume seu lugar, o respeito, também. Marido, mulher e filhos, todos são titulares de direitos e obrigações, sem contar os deveres que decorrem da constituição do universo familiar. Há igualdade. A realização pessoal da afetividade inclui-se entre as funções básicas da família. A dignidade humana desponta, a unidade na affectio consolida-se, a afetividade prepondera. Efetiva-se com maior rigor o direito de fundar uma família, presente na Declaração Universal dos Direitos do Homem. E o legislador pátrio acolhe essa concepção e admite a família fora do casamento, estatuindo que, para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, determinando que a lei deve facilitar sua conversão em casamento 143. A Constituição da República Federativa do Brasil refletiu a evolução ocorrida no plano internacional que passou a considerar a família como instituição social imprescindível. 3.5.1 Igualdade Formal A igualdade formal, contemplada pela Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 em seu art. 5º, I e 226, § 5º 144 , coloca em pé de igualdade homens e mulheres, fruto de uma evolução histórica em função de uma sociedade patriarcal e das pressões dos movimentos feministas. Para Ceneviva a igualdade a nível formal tem um objetivo idealístico não realizável no plano dos homens e das mulheres, pois dá garantia à parte dominante da sociedade e mais: Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos constitucionais, num reforço de não distinção em função do sexo, sendo, pois, inviável no mundo jurídico nacional toda regra que, observadas as naturais diferenças psicossociológicas, afirme desigualdades. A Carta, porém, atribui tratamento diferenciado, em vários dispositivos, para a mulher. Serve de exemplo a especial proteção ao mercado de trabalho feminino (art. 7º, XX), a aposentadoria aos vinte e cinco anos de serviço (art. 40, II, c), a dispensa do serviço militar obrigatório, juntamente com os eclesiásticos (art. 143, § 2º), 143 VIANA. Direito Civil, Direito de Família. 1998. p. 24. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Art. 5º, I – homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição; Art. 226, § 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal serão exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. In VADEMECUM SARAIVA. 2007. pp. 67/68. 144 62 e, ainda no art. 7º, a licença à gestante (inc. XVIII) de cento e vinte dias 145. Cunha Pereira, sobre esse assunto, afirma que “particularmente o Código Civil de 2002, no que se refere a equalização de direitos dos gêneros ainda não se efetivou” 146. O tratamento isonômico às pessoas, homens ou mulheres, inclusive dentro do casamento e da união estável não tem uma equidade completa. Motta comenta que não é a norma que conduz a dominação, “dominação e submissão antecedem a disposição jurídica que as regulamenta” 147 . Assim, os dispositivos constitucionais cuidam de uma forma ou de outra, e com um maior ou menor grau de generalidade do princípio da igualdade. Dias considera que o sistema jurídico “assegura tratamento isonômico e proteção igualitária a todos os cidadãos no âmbito social” 148. A idéia de igualdade está ligada à idéia de justiça, os conceitos evoluíram, assim, a justiça formal identifica-se com a igualdade formal, o que garante àquelas pessoas de uma mesma categoria, tratamento igual. 3.5.2 Igualdade Material Na prática, a realidade material nem sempre corresponde ao que se propõe na Magna Carta ou mesmo na lei infraconstitucional. As lacunas são o principal problema para a efetivação dos ditames constitucionais. Motta, corroborando com o pensamento de Canotilho 149 coloca: Tradicionalmente o princípio da igualdade serve para a aplicação do direito, mas o princípio também é voltado para o legislador. Afirma: Ser igual perante a lei não significa apenas aplicação igual da lei. A lei, ela própria, deve tratar por igual todos os cidadãos. O princípio da 145 CENEVIVA, Walter. Direito Constitucional Brasileiro. 2. ed. ampl. São Paulo. Saraiva. 1991. p. 48. CUNHA PEREIRA. Princípios Fundamentais Norteadores para Direito de Família. 2005. p. 142. 147 MOTTA. Direito Matrimonial e seus Princípios Jurídicos. 2007. p. 205. 148 DIAS. Manual de Direito das Famílias. 2007. p 62. 149 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6. ed. rev. Coimbra. Almedina. 1993. p. 563. 146 63 igualdade dirige-se ao próprio legislador, vinculando-o à criação de um direito igual para todos os cidadãos 150. Pelas palavras do doutrinador, pode constatar que este princípio serve como limitador e como regra ao legislador. Dias cita a frase de Rui Barbosa que diz: “tratar a iguais com desigualdade ou a desiguais com igualdade não é igualdade real, mas flagrante desigualdade” 151 . Para que a lei considere a todos igualmente é necessário respeitar as desigualdades. Dias considera que “É imprescindível que a lei em si considere todos igualmente, ressalvadas as desigualdades que devem ser sopesadas para prevalecer à igualdade material em detrimento da obtusa igualdade formal” 152 . Dias leciona que o Código Civil, em obediência aos princípios constitucionais estendeu o princípio da igualdade ao âmbito do direito das famílias. Com relação à proteção especial para a mulher, a Constituição da República Federativa do Brasil, visando a igualdade, oferece tratamento diferenciado à mulher em vários de seus dispositivos, tais como a aposentadoria com menor tempo de serviço ou a dispensa do serviço militar obrigatório, licença à gestante, dentre outros. Wald explica que “a família é fundada pelo casamento, compondo-se dos nubentes e de seus filhos” 153. Este princípio se baseia no direito familiar pela solidariedade entre seus membros, caracterizado pelo afeto e pelo amor 154. O Código Civil estabelece, segundo esses princípios, direitos e deveres dos cônjuges (CC 1.511) 150 155 a mútua colaboração (CC 1.565, § 1º) 156 MOTTA. Direito Matrimonial e seus Princípios Jurídicos. 2007. p. 208. DIAS. Manual de Direito das Famílias. 2007. p. 62. 152 DIAS. Manual de Direito das Famílias. 2007. p. 62. 153 WALD. O Novo Direito de Família. 2004. p. 83. 154 DIAS. Manual de Direito das Famílias. 2007. p. 63. 155 CÓDIGO CIVIL. Art. 1.511. O casamento estabelece comunhão plena de vida, com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges. In, Vademecum Saraiva. 2007. p. 285. 156 CÓDIGO CIVIL. art. 1.565, § 1º Qualquer dos nubentes, querendo, poderá acrescer ao seu o sobrenome do outro. p. 290. 151 . 64 Assim, também tratamento igualitário a ambos os cônjuges no tocante a pessoa e bens dos filhos (CC 1.690) 157. 3.6 CONQUISTAS FEMININAS APÓS A EDIÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 O atual Código Civil brasileiro, instituído pela Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, no livro do direito de família retrata as conquistas no que tange aos direitos humanos das mulheres. Santos leciona que o atual Código Civil manteve a estrutura básica do Código de 1916, com a divisão em partes, uma Parte Geral e outra Parte Especial. Na Parte Especial se encontram os Livros de matérias específicas, tais como Direito de Família, dentre outros. O Direito de Família é tratado no Livro IV do Código e ocupa os artigos 1.511 até o artigo 1.783, sendo dividido em quatro Títulos que são: Do Direito Pessoal; Do Direito Patrimonial; Da União Estável; Da Tutela e Da Curatela. Aqui já não se encontra o patriarcado do casamento como única forma de constituição de família. Santos assim se pronuncia: A visão atual é bem outra, com a ampliação das formas de constituição do ente familiar e a consagração do princípio da igualdade de tratamento entre marido e mulher, assim como iguais são todos os filhos, hoje respeitados em sua dignidade de pessoa humana, independentemente de sua origem. O novo Código Civil brasileiro segue o entendimento da legislação infraconstitucional no campo da família aprovada após a CF/88, tais como: o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), a normatização do reconhecimento de filhos havidos fora do casamento (Lei 8.560/92) e as leis da União Estável (ns. 8.971/94 e 9.278/96), dando aos companheiros direitos a alimentos, meação e herança 158. 157 CÓDIGO CIVIL. art. 1.690. Compete aos pais, e na falta de um deles ao outro, com exclusividade, representar os filhos menores de dezesseis anos, como assisti-los até completarem a maioridade ou serem emancipados. In Vademecum Saraiva. 2007. p. 300. 158 SANTOS. MULHER: Sujeito ou Objeto de Sua Própria História? Um olhar interdisciplinar na história dos direitos humanos das mulheres. 2006. p. 124. 65 Comparativamente ao Código de 1916 o autor comenta que o de 16 tornou-se arcaico, letra morta, simples referência histórica. A sua não atualização o tornou um simples conjunto de normas que não mais regulamentava o Direito de Família. 3.6.1 Principais Alterações do Direito de Família do Novo Código Civil Merece destaque a redução da maioridade civil, que dá a plena capacidade à pessoa, de 21 para os 18 anos de idade. Neste caso as autorizações para o casamento ou a sujeição ao pátrio poder, hora denominado poder familiar ou ainda a cessação da tutela, dentre outros como a possibilidade da emancipação a partir dos 16 anos de idade. Os direitos e deveres conjugais também são de suma importância uma vez que os consortes são responsáveis solidariamente pelos encargos da família (art. 1.565). Neste caso já não se estabelece tratamento jurídico diferente entre cônjuges, onde o marido não é mais o “chefe” como o estabelecido no Código de 16. O art. 1.567 determina que a direção da sociedade conjugal compita em colaboração ao marido e a mulher, sempre no interesse do casal e dos filhos. Tudo é tratado em comum, direitos e deveres. Quanto à dissolução da sociedade conjugal, que contava com legislação própria, também passou a se incorporar ao novo Código com a revogação parcial da Lei 6.515/77 que tratava da separação judicial e do divórcio. A novidade que pode ser lembrada é a de que o novo Código entende que dá-se o término da sociedade conjugal por ausência de um dos cônjuges (art. 1.571, § 1º do Novo Código Civil). A separação judicial permanece com sua clássica divisão em consensual e litigiosa. Nos casos de separação consensual, Inovação no tempo de dois anos que se considera “prazo de experiência” para um ano (art. 1.574). 66 Santos considera que “não se compreende a menção abandono do lar por mais de um ano contínuo, quando sabidamente ocorrem situações de abandono da convivência em tempo muito inferior” 159 . Também este autor considera desnecessária a menção da condenação por crime infamante, que se enquadra na conduta desonrosa. O divórcio que mantém suas características anteriores (Lei 6.515/77), indireto ou direto disposto no art. 1. 580, §§ 1º e 2º, do atual Código Civil. Pode ser concedido sem que haja prévia partilha de bens (art. 1.582). O uso do nome do cônjuge que era perdido pela mulher, passa a ser direito adquirido por ambos os nubentes, (art. 1.565, § 1º). Quanto à proteção da pessoa dos filhos, não importa o tipo de separação dos pais, cabe a eles disporem comum acordo sobre a guarda dos filhos, sem consenso decide o juiz, dando a guarda àquele com melhores condições de exercê-la (art. 1.584). Neste caso prevalece o interesse dos filhos. A chamada “guarda compartilhada” passou a fazer parte do atual Código que considera a possibilidade de que principalmente com moradias próximas a atuação conjunta dos pais posa fazer a separação menos traumática para os filhos. Neste caso é necessários o diálogo e compreensão entre os pais. O atual Código Civil disciplinou quanto à eliminação das distinções entre os filhos legítimos, legitimados e ilegítimos, estabelecido na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Santos coloca: “Reproduzindo a regra de ouro inscrita no art. 227,”… § 6º, da Constituição Federal de 1988, dispõe o art. 1.596 do novo ordenamento civil que “os filhos, havidos ou não do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação” 160. 159 SANTOS. MULHER: Sujeito ou Objeto de Sua Própria História? Um olhar interdisciplinar na história dos direitos humanos das mulheres. 2006. p. 132. 160 SANTOS. MULHER: Sujeito ou Objeto de Sua Própria História? Um olhar interdisciplinar na história dos direitos humanos das mulheres. 2006. p. 136. 67 O reconhecimento dos filhos previsto no art. 1.607, reproduz a disposição da Lei 8.560/92, que havia regulamentado o mandamento constitucional de igualdade, permitindo o reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento, nas formas indicadas no art. 1.609 161 , exigindo a participação do pai na criação e educação do filho. O poder familiar, antes denominado de pátrio poder, eliminou a conotação patriarcal, e outorgou em igualdade de condições aos cônjuges, a gestão da família, já contemplado no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), que assim como o Código Civil vigente prevê a família monoparental que, conforme já citado anteriormente, constitui-se por um dos pais e sua prole. Quanto ao regime de bens do casamento as mudanças foram substanciais no novo Código, o art. 1. 639 e seguintes sugerem o pacto antenupcial, por escritura pública, todavia, escolhido o regime de comunhão parcial bastará a redução a termo no processo de habilitação (art. 1.640 e seu § único). A alteração de regime durante a vigência do casamento também se constitui em novidade. Os alimentos no novo Código (art. 1.694) podem ser pedidos aos parentes, cônjuges ou companheiros se necessário for. A União Estável entre homem e mulher que foi contemplada pela Carta de 88 (art. 226, § 3º) recebeu regulamentação pela Lei 8.971/94 e 9.278/96. O bem de família foi acertadamente, na opinião de Santos, retirado da Parte Geral e incluído no Livro de Direito de Família, em subtítulo dos direitos patrimoniais, arts. 1.711 a 1.722 162. A Tutela sofreu poucas mudanças pouco significativas no novo Código, já a Curatela, relativa às pessoas sujeita à interdição sofreu ampliação no novo Código (art. 1.767) 163. 161 O art. 1.609 enumera formas que são o reconhecimento no registro de nascimento, por escritura pública, por escrito particular a ser arquivado em Cartório, por testamento ou por declaração perante o juiz em qualquer processo. 162 SANTOS. MULHER: Sujeito ou Objeto de Sua Própria História? Um olhar interdisciplinar na história dos direitos humanos das mulheres. 2006. p. 146. 68 3.7 OS NOVOS DESAFIOS FRENTE ÀS NOVAS DEMANDAS SOCIAIS Novas demandas sociais têm se apresentado diante do judiciário brasileiro, representativas de vítimas de quase todas as formas de discriminação, principalmente contra as mulheres e, considerando que o judiciário não possui uma pronta eficácia instrumental, tais demandas vão ficando sem resposta. Tal ineficácia se justifica segundo Wolkmer pelo fato de que: [...] A cultura jurídica brasileira é marcada por uma tradição monista de forte influxo kelseniano, ordenada num sistema lógico-formal de raiz liberal-burguesa, cuja produção transforma o direito e a justiça em manifestações estatais exclusivas. Esta mesma legalidade quer enquanto fundamento e valor normativo hegemônico, quer enquanto aparato técnico-oficial e controle e regulamentação, vive uma profunda crise paradigmática, pois se vê diante de novos e contraditórios problemas, não conseguindo absorver determinados conflitos específicos deste final do século XX 164. Essa conduta reflete uma postura de medo frente ao que seria uma ameaça para a certeza jurídica. No que se referem aos direitos das mulheres, os índices alarmantes de violência doméstica falam por si. Santos considera que a violência doméstica contra a mulher ”não é apenas um crime doméstico, é uma violação aos direitos humanos, uma agressão à cidadania, que solapa a própria idéia de Estado Democrático de Direito” 165 . O autor considera que a impunidade nesses casos, são indicadores sócio-políticos da ineficácia instrumental do Estado no exercício do Poder Judiciário, como aplicador de normas e fiscalizador do Estado de Direito. A denominada Lei Maria da Penha já é resultado da pressão externa com relação à política brasileira com relação aos direitos humanos e, principalmente contra as mulheres. Souza leciona que em termos de definição, o termo “violência doméstica tem significado similar ao ”violência familiar“ ou ainda 163 O art. 1.767, do Código Civil, aumentou sua abrangência para outras pessoas que não possam exprimir sua vontade ou sofram de restrições por serem ébrios habituais, viciados em tóxicos ou excepcionais sem completo desenvolvimento mental. 164 WOLKMER, Antônio Carlos. Pluralismo Jurídico Fundamentos de uma Nova Cultura no Direito. 3. ed. São Paulo. Alfa Omega. 2001. pp. 96-97. Apud SANTOS. MULHER: Sujeito ou Objeto de Sua Própria História? Um olhar interdisciplinar na história dos direitos humanos das mulheres. 2006. p. 154. 165 SANTOS. MULHER: Sujeito ou Objeto de Sua Própria História? Um olhar interdisciplinar na história dos direitos humanos das mulheres. 2006. p. 156. 69 “violência intra-familiar”, com referência a violência ocorrida no âmbito domiciliar ou em local onde habite um grupo familiar. Neste caso não se especifica o sujeito submetido a agressão, podendo ser qualquer uma das pessoas componentes do grupo, podendo ser, também, a agressão de maneira física ou psíquica e, praticada por qualquer membro do grupo. Com relação as mulheres Souza considera que esta, é mais suscetível de sofrer violência na família e em outros grupos sociais, sendo no seio da família segundo dados das pesquisas realizadas pelas Nações Unidas, onde ocorre o maior número de violências, sendo de forma geral praticadas pelos maridos, companheiros ou conviventes. Pais e irmãos também se incluem neste rol 166. 3.7.1 Origens da Lei 11.340/06 – Lei Maria da Penha Souza faz um retrospecto temporal da trajetória de Maria da Penha colocando os fatos mais relevantes: Maio de 1983: Maria da Penha, costumeiramente agredida pelo marido é alvejada por tiro disparado por ele, enquanto dormia. Em decorrência das seqüelas da agressão, a vítima fica paraplégica; Junho de 1983: Retorna do hospital sendo mantida em cárcere privado. Sofre nova agressão e, com a ajuda da família consegue autorização judicial para abandonar a residência em companhia das filhas menores; Janeiro de 1984: Maria da Penha dá o seu primeiro depoimento à polícia; Setembro de 1984: Ministério Público propõe ação penal contra o agressor; Outubro de 1986: O Poder Judiciário de 1ª instância acata a acusação e submete o réu a julgamento perante o Tribunal do Júri (pronúncia); Maio de 1991: O acusado é condenado a 10 anos de prisão. A defesa apela no mesmo dia; 1994: Maria da Penha publica o livro “Sobrevivi... Posso Contar”; 166 SOUZA, Sérgio Ricardo. Comentários à Lei de Combate à Violência Contra a Mulher. 2. ed. Curitiba. Juruá. 2008. p. 35. 70 Maio de 1994: O Tribunal de Justiça do Ceará acolhe o recurso da defesa e submete o réu a novo julgamento; Março de 1996: Submetido ao segundo julgamento o réu é condenado a dez anos e seis meses de prisão. A defesa interpõe novo recurso; Setembro de 1997 a 20/08/1998: A vítima, juntamente com o Centro pela Justiça e o Direito Internacional (CEJIL) e o Comitê LatinoAmericano de Defesa dos Direitos da Mulher (CLADEM), formalizou uma denúncia contra o Brasil à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA. A denúncia foi recebida pela CIDH.; Outubro de 1998: A Comissão solicitou informações ao Brasil; Agosto de 1999: A Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA adverte o governo brasileiro sobre a aplicação da “revelia”, ante a inércia em se manifestar; Abril de 2001: A CIDH da OEA acolhe as denúncias, torna público o relatório e recomenda providências por parte do governo brasileiro visando tornar efetivas as Convenções destinadas a combater a violência contra a mulher, elaborando o Relatório 54/01; Março de 2002: Nova audiência sobre o caso na OEA, oportunidade em que o Brasil apresenta suas considerações e se compromete a cumprir as recomendações da Comissão; Setembro de 2002: Segunda reunia na OEA. Quinze dias depois, M. A. H. V. é preso, no Rio Grande do Norte, onde morava 167. Quando se refere que o judiciário brasileiro demora a dar resposta as novas demandas, o fato de se passarem dezoito anos do fato ocorrido e a resposta jurisdicional e ainda com a necessidade de interferência estrangeira, demonstram tal morosidade. A Lei 11.340/06 tem por finalidade satisfazer as determinações da Constituição da República Federativa do Brasil que em seu art. 226, § 8º oferece proteção contra a violência no âmbito familiar e da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil. Determina ou regulamenta a criação dos juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a 167 SOUZA. Comentários à Lei de Combate à Violência Contra a Mulher. 2008. p. 33-34. 71 Mulher, estabelece, também, medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar168. Coibir e prevenir a violência contra a mulher já se estampam no art. 1º da lei Maria da Penha, apesar de que para se chegar a este ponto foram necessárias muitas lutas e grande colaboração prestou a Sra. Maria da Penha Fernandes que dá nome a Lei. Para Santos, “dentro desse ordenamento jurídico estatal, os sujeitos de direito da sociedade civil (desiguais em condições sócio-econômicas) são formalmente concebidos em condições de “igualdade formal” perante a lei...” 169. Neste caso considera-se que terão as mesmas oportunidades para fazer valer seu direito frente ao judiciário. 168 169 SOUZA. Comentários à Lei de Combate à Violência Contra a Mulher. 2008. p. 29. SOUZA. Comentários à Lei de Combate à Violência Contra a Mulher. 2008. p. 157. CONCLUSÃO A posição da mulher no ambiente familiar em relação ao homem através dos tempos sempre foi de inferioridade e sua busca por igualdade sempre ocorreu através de muitas lutas. A mulher já foi considerada até mesmo propriedade do homem e podia ser até mesmo disponibilizada como mercadoria. A família tida no caso brasileiro e na maioria dos países como “a base do Estado” sempre mereceu atenção especial, pois de alguma forma é ai que se inicia a sociedade como um todo. É ai também que se travam as maiores lutas por igualdade de direitos e deveres. Na busca de proteger a família, a proteção da mulher recebe especial atenção da sociedade, em função da desigualdade de tratamento em relação aos direitos humanos. O Brasil, signatário de vários tratados internacionais e, seguindo tendência mundial com relação ao respeito e a evolução dos direitos humanos, marcados por vários acontecimentos no plano mundial, como, por exemplo, a Revolução Francesa onde os direitos humanos foram a tônica do movimento revolucionário, que dotou a Constituição decorrente do novo governo, de mecanismos tais que os direitos humanos pudessem ser sempre observados. Ao Considerar a exemplo de vários países ocidentais, a família como a base da sociedade, tratou o legislador brasileiro, após a proclamação da república, de separar a união familiar da forte influência religiosa, da Igreja Católica e, instituiu o casamento civil, através de Decreto nº 181 de 03 de novembro de 1.827. Vagarosamente a posição subalterna da mulher em relação ao direito do homem dentro da sociedade conjugal foi se modificando e atualmente à igualdade na gestão familiar é a tônica da legislação pertinente. A Lei 4.121 que se denominou “Estatuto da Mulher Casada”, possibilitou à mulher o exercício dos atos da vida civil, sem o consentimento do marido. O divórcio, outra conquista alcançado através da Lei 6.515 de 1977, apesar da oposição sistemática da Igreja Católica, deu-lhe a condição de colaboradora do marido com relação aos encargos familiares e acabou em definitivo com a indissolubilidade do casamento. 73 Finalmente com o advento da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a igualdade de direitos entre homem e mulher foi alcançada, sendo a família considerada como base do Estado não mais se preocupa em defender apenas a família originada no casamento, mas todas as espécies de família modernas, como as originadas através da União Estável ou do concubinato puro. A Carta de 88 foi sem dúvida para a mulher em relação aos direitos humanos uma grande conquista. O atual Código Civil dispôs de título específico para a União estável e que cuida da família em 272 artigos das questões pessoais, patrimoniais e da tutela e curatela, demonstra a preocupação por parte do Estado como a proteção da família, abolindo definitivamente o patriarcado. A redução da maioridade civil para 18 anos também merece destaque, como possibilidade da emancipação a partir dos 16 anos de idade. As separações judiciais, previstas no atual Código Civil também quando consensual alterou o prazo para apenas um ano após a celebração do casamento, ao invés de dois como anteriormente. A proteção da pessoa dos filhos não importando a forma de separação dos pais e a concessão da guarda ao encargo daquele que tiver melhor condição também é uma conquista do Código Civil atual. A chamada “guarda compartilhada”, onde existe cooperação de ambos os cônjuges para o bem estar dos filhos torna para estes a separação menos traumática, foi introduzida no texto do Código. Com relação à violência doméstica, apesar do preconceito ainda vigente na sociedade, o legislador tratou de estabelecer condutas que caracterizam tal violência, seja psíquica ou física, podendo ainda ser moral, sexual ou patrimonial, e, neste caso, a resposta do Estado para tais condutas tornou-se efetiva, através da chamada “Lei Maria da Penha”, a Lei 11.340/06, que trata da proteção contra a violência no âmbito familiar, contemplando o disposto no art. 226, § 8º da Constituição da República Federativa do Brasil que determina providências por parte do Estado no sentido de oferecer proteção integral à família e das convenções relativas à prevenção, punição e erradicação de todas as formas de violência contra a mulher, prevendo até mesmo assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. 74 A família como base do Estado no Brasil, encontra-se bem amparada legalmente, embora à desigualdade social não possibilite a todas as parcelas da população a mesma facilidade de acesso à proteção do Estado quando necessário. Neste caso apesar da existência das leis a violência contra a mulher parece ainda longe de acabar e o presente estudo abre mais um caminho na discussão de soluções para consolidar a aplicabilidade destas leis. Na prática, todo o sistema judiciário brasileiro carece de recursos e de estrutura para o cumprimento dos ditames constitucionais e das normatizações infraconstitucionais o que leva há crer que muito há ainda a ser feito e que não bastam boas leis como as que temos, é necessária vontade política e cidadania responsável para que se promova a efetivação das mesmas. Incentivo para novos estudos sobre a intenção de não ter esgotado o problema objeto da monografia. 75 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ALVES, Leonardo Barreto Moreira. A Função Social da Família. Revista Brasileira de Direito de Família.v.1 n.1. Porto Alegre. IBDFAM. Síntese. 1999. AZEVEDO, Álvaro Vilaça. Estatuto da Família de Fato: antigo casamento de fato, concubinato e união estável. São Paulo. Jurídica Brasileira. 2001. BRASIL. Constituição Federal. Art. 226, caput A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. § 3º Para efeitos da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. In Vademecum Saraiva. 2007. CENEVIVA, Walter. Direito Constitucional Brasileiro. 2. ed. ampl. São Paulo. Saraiva. 1991. CHANAN, Guilherme Giacomelli. As Entidades Familiares na Constituição Federal. Revista Brasileira de Direito de Família. N. 42. jun. julh. 2007. Porto Alegre. Síntese, IBDFAM. P.44 CUNHA PEREIRA, Rodrigo da. Princípios Fundamentais Norteadores para Direito de Família. Belo Horizonte. Del Rey. 2005. DIAS, Maria Berenice – PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Direito de Família e o Novo Código Civil. 4. ed. 2. tir. rev. Atual. Belo Horizonte. 2006. DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 4. ed. rev. Atual. e ampli. 3. tir. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2007. DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. São Paulo. Saraiva. 1994. _____ Instiuições de Direito Civil, Direito de Família. v. 5. 17. ed. São paulo. Saraiva. 2005. DOWER, Bassil. Curso Renovado de Direito Civil. São Paulo. Nelpa. 1973. v. 4. ESMEIN, Adhémar. Mélanges d’Histoire du Droit et de Critique, Droit Romain, lê Manus, la Paternité et lê Divorce dans l’Ancien Droit Romain, L. Larose et Forcel, Paris, 1886. FROSSI, Luigi. Concubinato, in Dizionario Pratico del Diritto Privato, de Scialoja, v. 2. 76 GIORGIS, José Carlos Teixeira. A Paternidade Fragmentada. Família, Sucessões e Bioética. Porto Alegre. Livraria do Advogado. 2007. GIRARD, Paul Fréderic. Manuel Élementaire de Droit Romain. 8. ed. Paris. Rousseau. 1929. GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Vol. VI. Direito de Família. 3. ed. Ver. E atual. São Paulo. Saraiva. 2007. GROENINGA, Giselle Câmara – PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Direito de Família e Psicanálise – rumo a uma nova epistemologia. Rio de Janeiro. Imago. 2003. LLULL, Ramon. Livro da Intenção (c. 1289). In, AMARAL, Jéssica Fortunata do. O Casamento na Idade Média: a concepção de matrimônio no Livro da Intenção (c. 1283). Trad. Do Catalão Medieval: Prof. Dr. Ricardo da Costa. Grupo de Pesquisas Medievais III. Ufes. Disponibilizado em: http://www.miniweb.com.br/historia/Artigos/i_media/PDF/casamento_i_media.pdf. MADALENO, Rolf. Paternidade Alimentar. Revista Brasileira de Direito de Família. N. 37. IBDFAM. Porto Alegre. Síntese. 1999. MALDONADO. José. Curso de Derecho Canónico para Juristas Civiles, parte General. Reimpressão da 2. ed. de 1975. Madrid. MOTTA, Carlos Dias. Direito Matrimonial e seus Princípios Jurídicos. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2007. PAULO FILHO, Pedro. Concubinato, União Estável, Alimento, Investigação de Paternidade. 2.ed. São Paulo. JH Mizuno. 2006. PEREIRA, Áurea Pimentel. A Constitucionalização do Direito de Família na Carta Política Brasileira de 1988. Revista da EMERJ. v. 4. n. 15. 2001. PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Rio de Janeiro. Forense. 2006. PINSK, Carla B. História da Cidadania. São Paulo. Contexto. 2003. PORTO, Sérgio Gilberto; USTÁRROZ, Daniel. (Org.) Tendências Constitucionais no Direito de Família. Porto Alegre. Livraria do Advogado. 2003. RIZZARDO, Arnaldo. Direito de Família: Lei nº 10.406, de 10.01.2006. Rio de Janeiro. Forense. 2006. 77 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: Direito de Família. v. 6. 28. ed. rev. e atual. Por Francisco José Cahali; de acordo com o novo Código Civil (Lei n. 10.406, de 10-12002). São Paulo. Saraiva. 2004. SALLES, Karen Ribeiro Pacheco Nioac de. Guarda Compartilhada. Rio de janeiro. Lúmen Júris. 2001. SANTOS, Sidney Francisco Reis dos. MULHER: Sujeito ou Objeto de Sua Própria História? Um olhar interdisciplinar na história dos direitos humanos das mulheres. Florianópolis. OAB. 2006. SOUZA, Sérgio Ricardo. Comentários à Lei e Combate à Violência Contra a Mulher. 2. ed. Curitiba. Juruá. 2008 WALD, Arnoldo. O Novo Direito de Família. 15 ed. rev. atual. e ampli. São Paulo. Saraiva. 2004. WOLKMER, Antônio Carlos. Pluralismo Jurídico Fundamentos de uma Nova Cultura no Direito. 3. ed. São Paulo. Alfa Omega. 2001. VADEMECUM SARAIVA. Obra coletiva. 3. ed. atual. e ampli. São Paulo. Saraiva. 2007. p. 303. VASCONCELOS, Rita de Cássia C. de. Tutela de Urgência nas Uniões Estáveis. Curitiba. Juruá. 2000. VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Direito de Família. 6. ed. São Paulo. Atlas. 2006. VIANA. Marco Aurélio S. Direito Civil, Direito de Família. 2. ed. São Paulo. Del Rey. 1998. VIANA, Rui Geraldo Camargo – NERY, Rosa Maria de Andrade. Temas Atuais de Direito Civil na Constituição Federal. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2000.
Download
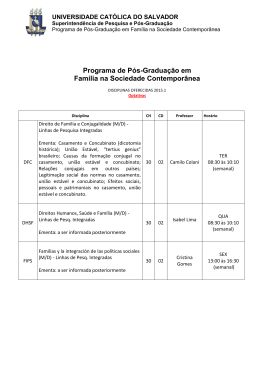
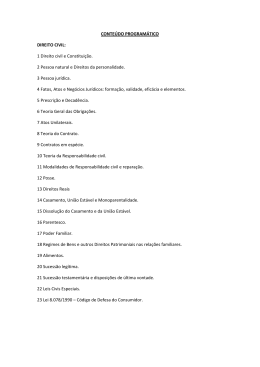
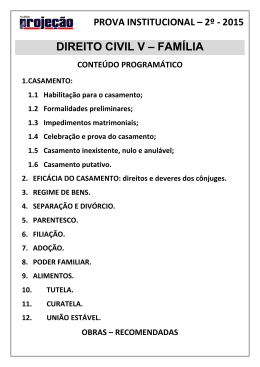
![que deve ser “[…] admitido o casamento civil entre duas pessoas](http://s1.livrozilla.com/store/data/000774140_1-5f03ecca2a047864c08c8bb612d56dfb-260x520.png)