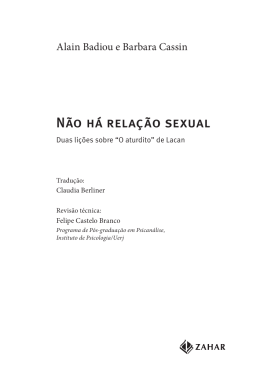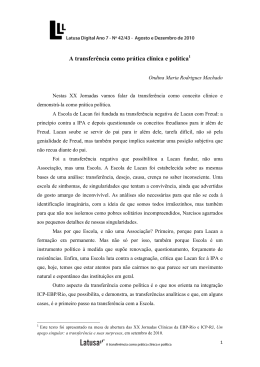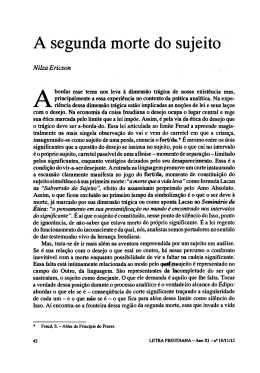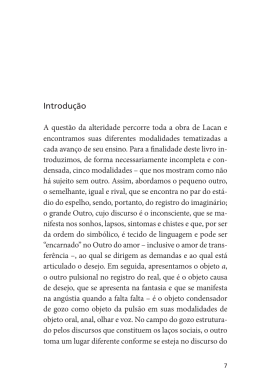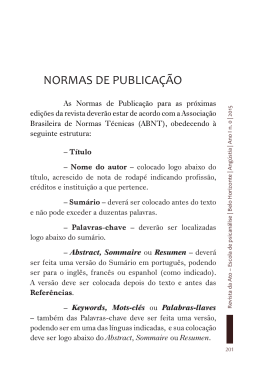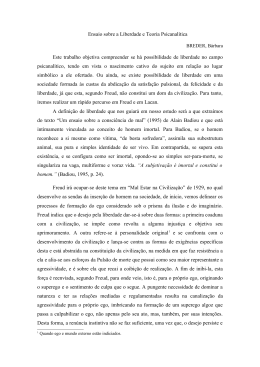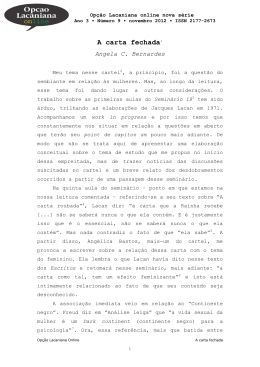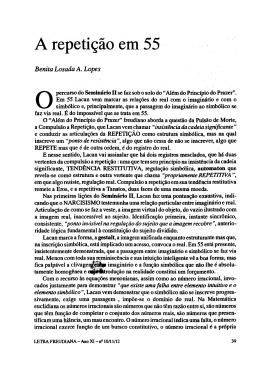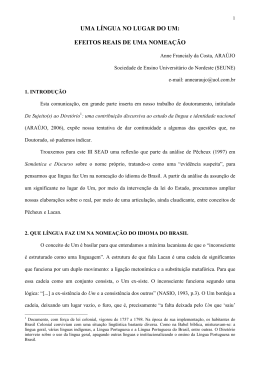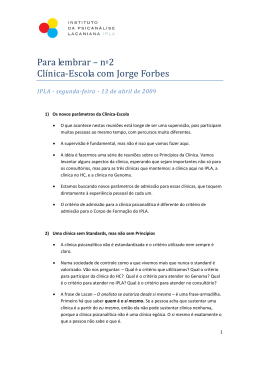Por que Lacan não é heideggeriano Slavoj Žižek* Tradução: Lucas Mello Carvalho Ribeiro** Resumo: Trata-se de analisar as nuances da apropriação crítica de Lacan da filosofia de Heidegger, considerando, sobretudo, a crítica da subjetividade ali presente. Será enfatizado, no debate entre os dois autores, as relações entre ser e linguagem. Palavras-chave: Lacan; Heidegger; ser; linguagem. Why Lacan is not a Heideggerian Abstract: The Lacanian apropriation of Heidegger’s philosophy will be analyzed, specially regarding the critique of subjectivity present in the latter. In this context, the relation between being and language will be emphasized. Keywords: Lacan; Heidegger; being; language. O principal proponente filosófico da crítica da subjetividade é Martin Heidegger, uma das principais referências de Lacan, pelo menos na década de 1950. Por esta razão, é crucial clarificar a referência de Lacan a Heidegger, i. e., como ele gradualmente passa de uma aceitação da crítica de Heidegger ao cogito cartesiano – como uma outra versão do descentramento freudiano do sujeito –, à paradoxal e contraintuitiva adesão ao cogito como sujeito do inconsciente. O ponto de partida de Lacan é a noção freudiana de uma Bejahung (afirmação) primordial, enquanto oposta à Verwerfung (usualmente (mal)traduzida como forclusão): * Filósofo esloveno. Professor da European Graduate School (Suíça); diretor internacional da Birkbeck Institute for Humanities em Londres; pesquisador senior do Instituto de Sociologia da Universidade da Ljubljana (Eslovênia). Autor, dentre outros, de Bem-vindo ao deserto do real! (2003, Boitempo) e A visão em paralaxe (2008, Boitempo); e-mail: [email protected] ** Graduado em Psicologia pela UFMG; mestrando em Filosofia pela mesma universidade; bolsista do CNPq. 1 ele lê Bejahung como a simbolização primordial, contra o pano de fundo da noção heideggeriana da essência da linguagem como desvelamento do ser. Quando confrontamos um fato que claramente vai de encontro a uma convicção profunda, podemos reagir a ele de duas maneiras básicas: ou simplesmente rejeitamos brutalmente aceitá-lo, ou endossamo-lo em uma forma sublimada1, como algo a ser tomado não literalmente, mas como expressão de uma verdade mais profunda ou elevada. Quer dizer, podemos tanto rejeitar completamente a ideia de que há um inferno (um lugar real onde os pecadores sofrem uma dor sem fim como punição por suas ações) quanto reivindicar que o inferno é uma metáfora para a “perturbação interna” que sofremos quando fazemos algo errado. Que se lembre da conhecida expressão italiana se non è vero, è bene trovato – “(mesmo) se não é verdade, é bem achado (acerta no alvo)”. Nesse sentido, anedotas sobre pessoas famosas, mesmo quando inventadas, muitas vezes caracterizam o núcleo de sua personalidade mais apropriadamente do que a enumeração de suas qualidades reais – aqui também, “a verdade tem estrutura de ficção”, como Lacan o coloca. Há uma versão servo-croata, maravilhosamente obscena, daquela expressão, que restitui perfeitamente a rejeição protopsicótica da ficção simbólica: se non è vero, jebem ti mater! “Jebem ti mater” (pronuncia-se “yebem ti mater”, e significa “vou foder sua mãe”) é um dos mais populares insultos vulgares; a piada, é claro, se apoia na rima perfeita, com os mesmos acentos e número de sílabas, entre bene trovato e jebem ti mater. O sentido, assim, transforma-se em uma explosão de raiva na direção incestuosa, atacando o objeto primordial mais íntimo do outro: “É melhor que seja verdade – se não for verdade, vou foder sua mãe!”. Essas duas versões, assim, claramente estabelecem as duas reações àquilo que, literalmente, torna-se uma mentira: sua rejeição furiosa, ou sua sublimação2 em uma verdade “mais elevada”. Em termos psicanalíticos, a diferença é aquela entre forclusão (Verwerfung) e transubstanciação simbólica [symbolic transubstantiation]. Contudo, as coisas rapidamente se complicam aqui. A propósito da relação ambígua entre Ausstossung (a expulsão do real que é constitutiva da emergência da ordem simbólica) e Verwerfung (a “forclusão” de um significante do simbólico para o 1 (N. do T.) No original se lê: subl(im)ated. Tem-se, assim, tanto sublimated (sublimada) quanto sublated, palavra inglesa que traduz o alemão aufheben (no contexto da dialética hegeliana, suprassumir). Construção que infelizmente é impossível de ser mantida na língua portuguesa. 2 (N. do T.) No original se lê: “subl(im)ation”. Tem-se, ao mesmo tempo, sublimation (sublimação) e sublation, equivalente inglês de Aufhebung (suprassunção). 2 real) em Freud e Lacan – algumas vezes elas são identificadas e outras distinguidas –, François Balmes faz a observação apropriada: Se a Ausstossung é aquilo que dizemos ser, ela é radicalmente diferente da Verwerfung: longe de ser o mecanismo próprio da psicose, ela seria a abertura do campo do Outro enquanto tal. Em certo sentido, ela não seria a rejeição do simbólico, mas, ela própria, simbolização. Não deveríamos pensar aqui em psicose e alucinação, mas no sujeito enquanto tal. Clinicamente, isso corresponde ao fato de que a forclusão não impede os psicóticos de habitarem na linguagem (BALMES, 1999, p. 72). Essa conclusão é o resultado de uma série de perguntas precisas. O fato é que psicóticos falam, ou seja, em algum sentido, eles habitam a linguagem: a “forclusão” não significa a exclusão deles da linguagem, mas a exclusão/suspensão da eficácia simbólica de um significante mestre no interior de seu universo simbólico – se um significante é excluído, já se deve estar na ordem significante. Na medida em que, para Freud e Lacan, a Verwerfung é correlativa à Bejahung (a “afirmação”, o gesto primordial de se assumir subjetivamente um lugar no universo simbólico), a solução de Balmes é distinguir entre essa Bejahung e uma simbolização do Real ainda mais originária (ou “primária”): o quase mítico grau zero do contato direto entre o simbólico e o real, que coincide com o momento de diferenciação dos mesmos, o processo de ascensão do simbólico, da emergência da bateria primária de significantes, cuja expressão (negativa) é a expulsão do Real pré-simbólico. Quando o pequeno homem dos lobos, com um ano de idade, observou o coitus a tergo de seus pais, esse evento deixou em sua mente um traço mnêmico que foi simbolizado, mas ele foi lá mantido como um traço libidinalmente neutro; foi apenas mais de três anos depois, quando as fantasias sexuais do homem dos lobos despertaram e ele se intrigou pela origem das crianças que esse traço foi bejaht3, propriamente historicizado, ativado em sua narrativa pessoal como um modo de se localizar no universo do sentido. Psicóticos realizam esse primeiro passo, adentram a ordem simbólica; o que eles são incapazes de fazer é se engajar subjetivamente/performaticamente na linguagem para “historicizar” seu processo subjetivo – em suma, são incapazes de realizar a Bejahung. Como Balmes nota perspicuamente, é por essa razão que a falta ocorre em um nível diferente na psicose: psicóticos continuam a habitar no denso espaço simbólico da “completude” do grande Outro primordial (materno), eles não assumem a castração simbólica no sentido próprio de uma perda que é em si mesma libertadora, doadora, 3 (N. do T.) Particípio passado do verbo alemão bejahen (afirmar), correspondente ao substantivo Bejahung. 3 “produtiva”, abrindo o espaço para as coisas aparecerem em seu ser (significativo); para eles, a perda só pode ser puramente privativa, apenas tirando deles algo. Num movimento interpretativo arriscado, Lacan vincula essa simbolização “primária” que é acessível aos psicóticos e precede o engajamento subjetivo ausente nos mesmos, à distinção de Heidegger entre a dimensão originária da linguagem enquanto desvelamento do Ser e a dimensão do discurso como portador de significações (subjetivas) ou como meio de reconhecimento intersubjetivo: nesse nível originário do dizer como mostrar (Sagen como Zeigen), a diferença entre significação e referência se anula, uma palavra que nomeia uma coisa não a “significa”, ela a constitui/desvela em seu Ser, abre o espaço de sua existência. Esse nível é aquele da aparição enquanto tal, não da aparência enquanto oposta à realidade que lhe subjaz, mas da aparição “pura” que “é” inteiramente em sua aparição, por detrás da qual não há nada. Em seu seminário sobre as psicoses, Lacan fornece uma boa descrição de tal aparição pura, e da concomitante tentação propriamente meta-física de reduzir essa aparição a seu fundamento, às suas causas ocultas: O arco-íris é isso (c’est cela). E este é só isso implica que vamos nos comprometer nisso até nosso último fôlego, para saber o que há de escondido atrás, que é sua causa, à qual podemos reduzi-lo. Observem o que desde a origem caracteriza o arco-íris e o meteoro – e todo o mundo o sabe, pois que é por isso que o nomearam meteoro –, é que precisamente não há nada escondido atrás. Ele está inteiramente nessa aparência. O que, contudo, o faz subsistir para nós, a ponto de que não cessemos de nos colocar questões sobre ele, deve-se unicamente ao é isso originário, ou seja, à nomeação como tal do arco-íris. Não há nada além desse nome” (LACAN, 19551956/1981, p. 358)4. Para colocá-lo em termos heideggerianos, o psicótico não é welt-los, privado do mundo: ele já habita na abertura do Ser. Essa leitura é, contudo, como frequentemente é o caso com Lacan, acompanhada por seu (assimétrico, verdadeiro) oposto: por uma leitura que atribui aos psicóticos o acesso a um “mais elevado” nível de simbolização e os priva do nível básico “mais baixo”. Na medida em que Lacan lê a distinção freudiana entre “representações-de-coisas” (Sachvorstellungen) e “representações-de-palavras” (Wortvorstellungen) como interna à ordem simbólica, assim como a distinção entre simbolização primordial – o estabelecimento da bateria de significantes inconsciente originária (“traços mnêmicos”, na linguagem do jovem, pré-psicanalítico, Freud) –, e a simbolização secundária – o sistema de linguagem consciente/pré-consciente –, isso o 4 (N. do T.) Cf. tradução de Aluísio Menezes (modificada). LACAN, J. (1955-1956/1985) O seminário, livro III: As psicoses. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. 4 permite uma definição paradoxal do predicado psicótico: um psicótico não é aquele que regride a um nível mais “primitivo” de representações-de-coisas, que “trata palavras como coisas”, como é comum dizer; ele é, pelo contrário, precisamente alguém que dispõe de representações-de-palavras sem representações-de-coisas (BALMES, 1999, p. 91). Em outras palavras, um psicótico bem pode usar a linguagem de um modo público comum, o que lhe falta é o pano de fundo inconsciente que dá às palavras que usamos sua ressonância libidinal, seu peso e cor especificamente subjetivos. Sem esse pano de fundo, a interpretação psicanalítica é sem poder, inoperante: “Na psicose, a verdade é sem efeito, o que não impede o psicótico de dizê-la melhor do que qualquer outro” (BALMES, DLV, p. 53). Essa é também uma das maneiras de entender a enganosamente “excêntrica” reivindicação de Lacan de que a normalidade é uma espécie de psicose: nossa definição do senso-comum “normal” da linguagem é que ela é um sistema artificial secundário de signos que usamos para transferir informação préexistente, etc. – o que essa definição ignora é o nível subjacente do engajamento subjetivo, da posição de enunciação; o paradoxo do psicótico é que ele é o único que se adéqua completamente a essa definição, i. e., quem efetivamente pratica a linguagem como um instrumento secundário neutro que não concerne o próprio ser do falante: “certos significantes não passam para a escritura inconsciente, e esse é o caso com o significante paterno na psicose. Isso não impede a presença deles no nível préconsciente – como podemos ver no caso de significantes que chamamos forcluídos na psicose e que estão a disposição do sujeito em sua linguagem” (BALMES, 1999, p. 81). Essa oscilação parece indicar que há algo errado com a solução de distinguir os dois níveis, o nível da simbolização primária e o nível da Bejahung/Verwerfung. (Soluções que se apoiam na simples distinção entre níveis diferentes são a priori suspeitas). O que se perde nela é o paradoxo básico do simbólico que é dois ao mesmo tempo: em última instância, a expulsão do real pelo simbólico e a rejeição de uma alternância significante; i. e., no caso do Outro simbólico, limitação interna e externa coincidem, a ordem simbólica só pode emergir como delimitada do Real se ela é delimitada de si mesma, perdendo/excluindo uma parte central de si mesma, não idêntica a si mesma. Não há, assim, Ausstossung sem uma Verwerfung – o preço que o simbólico precisa pagar no intuito de delimitar a si mesmo do real é seu próprio sermutilado. É a isso que Lacan visa com sua fórmula de que não há grande Outro, não há Outro do Outro – e, como o Lacan tardio sabia muito bem, isso implica que no mais básico dos níveis somos todos psicóticos. Contudo, deve-se ser mais preciso aqui: o 5 significante que é forcluído não é simplesmente um significante perdido, faltante, mas um significante que representa, ele mesmo, o A barrado, a falta de significante, a incompletude-inconsistência do campo simbólico. O que isso significa é que o problema de um psicótico não é que ele habita uma ordem simbólica (Outro) mutilada, mas, pelo contrário, que ele habita um Outro “completo”, um Outro em que falta a inscrição de sua falta. Não há, assim, necessidade de postular duas fases, primeiro a simbolização, a ascensão da bateria de significantes primária pela expulsão do Real, e depois a exclusão de um significante: os dois processos são um mesmo, e a psicose vem depois, num segundo estágio, quando – se – o significante que representa a própria incompletude/inconsistência do Outro, que registra essa incompletude, é forcluído. Em que sentido preciso, então, aquilo que é forcluído no simbólico retorna no real? Tomemos as alucinações verbais: seu conteúdo é massivamente simbólico, e elas são, no nível de seu sentido ordinário, completamente entendidas pelo sujeito (psicótico); então, de novo, em que sentido elas pertencem ao real? Dois aspectos interconectados as fazem reais: isolamento e certeza. Elas são forcluídas no sentido preciso de que elas não “existem” para o sujeito: elas ex-sistem, perseveram e impõemse elas próprias de fora da textura simbólica. Elas são isoladas de seu contexto simbólico, que é por definição o contexto da confiança e suposição, o contexto em que toda presença surge contra o pano de fundo de sua possível ausência, e toda certeza é acompanhada de uma possível dúvida, i. e., o contexto em que toda certeza, em última instância, tem que se apoiar em uma aposta básica em confiar na ordem simbólica. Na religião propriamente, não se conhece Deus, arrisca-se a confiar Nele, acreditar Nele. Um psicótico, pelo contrário, é aquele que procede como o grupo punk esloveno Laibach, que, em uma entrevista nos Estados Unidos sobre sua relação com Deus, respondeu fazendo referência ao “In God we trust”5 de cada nota de dólar: “Como vocês, americanos, acreditamos que Deus existe, mas diferentemente de vocês, não confiamos Nele”. Ou, como Balmes o coloca sucintamente (1999, p. 66), não é que os psicóticos acreditem nas vozes que ouvem, eles simplesmente as acreditam. Eis porque os psicóticos têm a absoluta certeza das vozes que ouvem: eles não confiam nelas, é claro, as tomam por vozes malignas, vozes que querem machucá-los; mas simplesmente sabem que essas vozes são reais – essa certeza absoluta faz essas vozes reais. 5 (N. do T.) Em Deus confiamos. 6 O problema subjacente é, aqui, aquele da relação entre o real, o simbólico e a falta. Quando Balmes descreve a ambiguidade radical com que o Lacan dos anos 1950 define/aproxima os termos desse triângulo (ele se alterna entre a tese de que o simbólico introduz a falta-a-ser no real – anteriormente à ascensão do simbólico não há falta, apenas uma positividade opaca do real –, e a tese de que o ser advém apenas com o simbólico – previamente ao simbólico não há ser), ele sabiamente se abstém de oferecer a demasiadamente fácil solução heideggeriana de que temos simplesmente dois sentidos diferentes de ser: ser no sentido ontológico da abertura com a qual as coisas aparecem, e ser no sentido ôntico de realidade, de entidades existentes no mundo (o que advém com o simbólico é o horizonte ontológico do Ser, enquanto sua expressão é a falta-a-ser, i. e., o fato de que um ser humano como Ser-aí (Dasein) não tem lugar na ordem positiva da realidade, que ele não pode ser reduzido a uma entidade dentro do mundo, porque é o lugar da própria abertura de um mundo). Balmes busca a solução por um caminho totalmente diferente: ele perspicuamente nota que Lacan resolve o problema, a questão, “construindo uma resposta pela própria questão” (1999, p. 138), percebendo que a questão tem sua própria resposta. Quer dizer, ser e falta-a-ser coincidem, são dois lados da mesma moeda – a liberação do horizonte no qual as coisas “são” por completo só emerge com a condição de que algo seja excluído (“sacrificado”) dele, de que algo nele “esteja faltando em seu próprio lugar”. Mais precisamente, o que caracteriza o universo simbólico é uma lacuna mínima entre os elementos e os lugares que eles ocupam: as duas dimensões não coincidem diretamente, como é o caso na positividade opaca do real, donde, na ordem diferencial dos significantes, a ausência enquanto tal poder contar como um aspecto positivo – como Sherlock Holmes o coloca na sua imortal fala em “The Silver Blaze”: ‘o curioso acidente com o cachorro pode ser que ele nada tenha feito’, que ele não latiu quando se esperava que o fizesse. E a hipótese “ontológica” básica de Lacan é a de que, para que essa lacuna entre elementos e seu lugar estrutural ocorra, i. e., para que todo elemento preencha, em seu próprio lugar/falta, algo – algum elemento – tem que ser radicalmente (constitutivamente) excluído; o nome de Lacan para esse objeto que é sempre (por definição, estruturalmente) faltante em seu próprio lugar, que coincide com sua própria falta, é, obviamente, “objeto pequeno a”, como objeto-causa de desejo ou mais-de-gozar, um objeto paradoxal que dá corpo à própria falta-a-ser. “Objeto pequeno a” é aquilo que deveria ser excluído da armação da realidade, cuja exclusão constitui e sustenta a armação da realidade. O que acontece na psicose é precisamente a inclusão desse objeto na armação da realidade: ele aparece na 7 realidade como o objeto alucinado (voz ou olhar que persegue o paranoico, etc.) – com a consequência lógica de que essa inclusão leva à perda da realidade, de que o “senso de realidade” do sujeito se desintegra. Ao longo de sua obra, Lacan varia o motif heideggeriano da linguagem como morada do ser: a linguagem não é criação nem instrumento do homem, é o homem que “habita” na linguagem: “A psicanálise devia ser a ciência da linguagem habitada pelo sujeito” (LACAN, 1955-1956/1981, p. 276). A torção “paranoica” de Lacan, seu suplício6 freudiano adicional, vem de sua caracterização dessa morada como casa-detortura: “À luz da experiência freudiana, o homem é um sujeito preso e torturado pela linguagem” (Ibid.). Não somente o homem habita a “prison-house of language”7 (título do livro de Fredric Jameson sobre o estruturalismo), ele habita numa casa-de-tortura da linguagem: toda a psicopatologia desdobrada por Freud, dos sintomas conversivos inscritos no corpo até os maiores colapsos psicóticos, são cicatrizes dessa tortura permanente, marcas dessa hiância original e irremediável entre sujeito e linguagem, marcas de que o homem nunca está em casa em sua própria casa. É o que Heidegger ignora: esse outro lado obscuro e torturante de nossa habitação na linguagem – e eis porque não há lugar para o Real do gozo no edifício heideggeriano, uma vez que o aspecto torturante da linguagem concerne primariamente às vicissitudes da libido. É também porque, no intuito de fazer a verdade falar, não basta suspender a intervenção ativa do sujeito e deixar a linguagem, ela mesma, falar – como Elfriede Jelinek coloca com extraordinária clareza: “A linguagem deve ser torturada para dizer a verdade”. Deve ser torcida, desnaturalizada, estirada, condensada, cortada e reunida, ser posta para trabalhar contra si própria. A linguagem enquanto “grande Outro” não é um agente de sabedoria com cuja mensagem deveríamos nos afinar, mas um lugar de cruel indiferença e estupidez. A forma mais elementar de se torturar a linguagem é chamada poesia – imagine o que uma forma complexa como um soneto faz com a linguagem: ela força o livre fluxo do discurso em uma cama de Procusto8 de ritmos e rimas fixos… 6 (N. do T.) Tradução da expressão inglesa turn of the screw, literalmente “volta no parafuso”. (N. do T.) “prisão da linguagem”. 8 (N. do T.) Na mitologia grega, Procusto (“esticador de membros”) era o apelido de Damastes ou Polípemon, salteador que habitava as imediações da estrada de Eleusis. Costumava atrair viajantes solitários para a sua pousada, oferecendo-lhes abrigo para passar a noite. Acreditava-se que ele tinha dois leitos de ferro de tamanhos diferentes, que ele escolhia dependendo da altura do visitante. Depois que a vítima adormecia, Procusto a dominava e tratava de adequar o corpo às medidas exatas de um dos leitos: se ele era alto e os pés sobressaíam da borda, ele os amputava com um machado; se era baixo e tinha espaço de folga, ele esticava os membros com cordas e roldanas. Teseu terminou com a obsessão homicida de Procusto: obrigou-o a deitar-se no seu próprio leito, atravessado, e, então, cortou todas as 7 8 Mas e quanto ao procedimento de Heidegger de ouvir a palavra sem som da linguagem ela mesma, de trazer à tona a verdade que já habita nela? Não é de se surpreender que o pensamento do Heidegger tardio seja poético – relembremos os meios que ele usa para fazê-lo: pode alguém imaginar uma tortura mais violenta do que aquela levada a cabo por ele em sua famosa leitura da proposição de Parmênides “pois o mesmo é pensardizer e, portanto, ser”9? Para extrair dela a verdade pretendida, ele tem que se referir ao sentido literal das palavras (legein10 como recolhimento), deslocar contraintuitivamente o acento e a escansão da sentença, traduzir termos isolados de modo fortemente interpretativo-descritivo, etc. Dessa perspectiva, a “filosofia da linguagem ordinária” do último Wittgenstein, que se percebe como uma cura médica da linguagem, corrigindo o uso errôneo da linguagem ordinária que dá origem a “problemas filosóficos”, quer eliminar precisamente a “tortura” da linguagem que a força a liberar a verdade (que se lembre da famosa crítica de Rudolph Carnap a Heidegger no final dos anos 1920, que afirma que os raciocínios de Heidegger se baseiam num uso indevido de “nada” como substantivo). Essa é também a principal razão porque, contra a historicização heideggeriana do sujeito como o agente moderno da mestria tecnológica, contra sua substituição do “sujeito” pelo Dasein como nome para a essência do ser humano, Lacan se ateve ao problemático termo “sujeito”: quando Lacan dá a entender que Heidegger deixa escapar uma dimensão crucial da subjetividade, seu ponto não é um argumento tolo-humanista de que Heidegger “passiviza” por demais o homem como instrumento da revelação do Ser, e, assim, ignora a criatividade humana, etc. O ponto de Lacan é, pelo contrário, o de que Heidegger deixa escapar o impacto propriamente traumático da “passividade” mesma do ser capturado na linguagem, a tensão entre o animal humano e a linguagem: há “sujeito” porque o animal humano não se “adéqua” à linguagem, o “sujeito” lacaniano é torturado, mutilado, sujeito. Na medida em que o status do sujeito lacaniano é real, i. e., na medida em que a Coisa real é, em última instância (seu núcleo impossível), o próprio sujeito, deve-se aplicar ao sujeito a definição de Lacan da Coisa como “aquilo [aquela parte, aspecto] que do real padece do significante” – a dimensão mais elementar da subjetividade não é atividade, mas passividade, resistência partes do corpo de Procusto que sobraram fora da cama. Cf. SCHWAB, G. (1994) As mais belas histórias da antiguidade clássica – os mitos da Grécia e de Roma. São Paulo: Paz e Terra, pp. 251-252. 9 (N. do T.) Cf. PARMÊNIDES DE ELEIA. “Sobre a natureza” (DK 28 B 1-9), in Pré-Socráticos. São Paulo: Nova Cultural, 2000, p. 122. 10 (N. do T.) Verbo grego do qual se deriva lógos, tendo por sentido tanto dizer/contar quanto reunir/escolher/recolher. 9 [enduring]. Eis como Lacan localiza o ritual de iniciação que realiza um corte violento no corpo, mutilando-o: (…) os ritos de iniciação tomam a forma de mudar o sentido destes desejos, de dar-lhes, a partir dali precisamente, uma função em que se identifica, em que se designa como tal o ser do sujeito, em que ele se torna se assim se pode dizer, homem de pleno exercício, mas também mulher. A mutilação serve aqui para orientar o desejo, para lhe fazer tomar precisamente esta função de índice, de alguma coisa que é realizada e que não pode se articular, exprimir-se senão em um mais além simbólico, um mais além que é aquele que nós chamamos hoje o ser, uma realização do ser no sujeito (LACAN, 1959, lição de 20 de maio). A lacuna que separa Lacan de Heidegger é, aqui, claramente discernível devido precisamente à proximidade entre eles, i. e., pelo fato de que, no intuito de designar a função simbólica no que ela tem de mais elementar, Lacan ainda usa o termo de Heidegger – “ser”: no ser humano os desejos perdem sua amarração na biologia, eles são operativos somente na medida em que são inscritos no horizonte do Ser sustentado pela linguagem; contudo, para que essa transposição da realidade biológica imediata do corpo para o espaço simbólico tenha lugar, ela tem que deixar uma marca de tortura no corpo à maneira de sua mutilação. Não basta, assim, dizer “o Verbo fez-se carne”: devese acrescentar que, para que o Verbo se inscreva na carne, parte da carne – a proverbial libra de carne shylockiana11 – tem de ser sacrificada. Como não há harmonia préestabelecida entre Verbo e carne, é somente através de tal sacrifício que a carne torna-se receptiva ao Verbo. Isso nos traz, finalmente, ao tópico do gozo. Philippe Lacoue-Labarthe localizou muito precisamente a lacuna que separa a interpretação lacaniana de Antígona daquela de Heidegger (à qual Lacan, quanto ao mais, se refere abundantemente): o que está totalmente ausente em Heidegger não é apenas a dimensão do real do gozo, mas, acima de tudo, a dimensão do “entre-duas-mortes” (a simbólica e a real), que designa a posição subjetiva de Antígona após ser excomungada da pólis por Creonte. Em exata simetria com seu irmão Polinices – que está morto na realidade, mas tem negada a morte simbólica, os rituais do enterro –, Antígona se encontra morta simbolicamente, excluída da comunidade simbólica, enquanto biológica e subjetivamente ainda viva. Nos termos de Agamben, Antígona se encontra reduzida à “vida nua”, a uma posição de homo sacer, cujo caso exemplar no século XX é o dos internos dos campos de 11 (N. do T.) Referência ao personagem do Mercador de Veneza de Shakespeare – Shylock, usurário que concorda em emprestar uma quantia a Antonio, desde que este empenhe uma libra de sua própria carne como garantia. 10 concentração. O preço dessa omissão de Heidegger é, assim, muito alto; ele concerne ao ponto ético-político crucial do século XX, a catástrofe “totalitária” em seu desdobramento extremo – de modo que essa omissão é bem consistente com a inabilidade de Heidegger de resistir à tentação nazista: Mas o ‘entre-duas-mortes’ é o inferno que nosso século realizou, ou ainda promete realizar, e é a isso que Lacan responde e diante do que ele quer tornar a psicanálise responsável. Não disse ele um dia que a política é o ‘furo’ da metafísica? A cena com Heidegger – e há uma – se situa toda ela aqui (LACOUE-LABARTHE, 1991, p. 28). Isso também contribui para explicar a perturbadora ambiguidade da descrição de Heidegger da morte nos campos de extermínio: essa morte não é mais morte autêntica, a assunção, por parte dos indivíduos, da morte como possibilidade de sua maior impossibilidade, mas apenas mais um processo industrial-tecnológico anônimo – as pessoas não “morrem” de fato nos campos, são apenas industrialmente exterminadas… Heidegger não só obscenamente sugere que as vítimas queimadas nos campos de alguma maneira não morreram “autenticamente”, traduzindo desse modo seu sofrimento extremo em “não-autenticidade” subjetiva; a questão que ele deixa de levantar é precisamente: como ELES subjetivaram (vincularam-se à) sua condição? A morte deles foi um processo industrial de extermínio para seus carrascos, não para eles mesmos. Balmes faz aqui uma observação perspícua de que é como se a censura clínica implícita de Lacan à analítica existencial do Dasein como “ser-para-morte” de Heidegger é que ela seria apropriada somente para neuróticos e não levaria em conta os psicóticos (1999, p. 73): um sujeito psicótico ocupa uma posição existencial para a qual não há lugar no mapeamento heideggeriano, a posição de alguém que de alguma maneira “sobrevive à sua própria morte”. Psicóticos não mais se adéquam à descrição heideggeriana da existência engajada do Dasein, suas vidas não mais se movem nas coordenadas do engajamento livre em um projeto futuro contra o pano de fundo de se assumir o passado: suas vidas estão fora de “cuidado (Sorge)12”, o ser não mais se dirige “para a morte”. Esse excesso de gozo que resiste à simbolização (logos) é a razão pela qual, nas últimas duas décadas de seu ensino, Lacan (por vezes quase pateticamente) insiste em dizer que se considera um antifilósofo, alguém que se rebela contra a filosofia: filosofia é onto-logia, sua premissa básica é, como já Parmênides – o primeiro filósofo – o 12 (N. do T.) Palavra alemã para cuidado. 11 colocou, “pensar e ser são o mesmo”, o acordo mútuo entre pensamento (logos como razão/discurso) e ser – até Heidegger, o Ser que a filosofia tem em mente é sempre o ser cuja casa é a linguagem, o ser sustentado pela linguagem, o ser cujo horizonte é aberto pela linguagem, ou, como Wittgenstein o põe, os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Contra essa premissa onto-lógica da filosofia, Lacan foca o real do gozo como algo que, embora esteja longe de ser simplesmente externo à linguagem (é antes “êx-timo” em relação a ela), resiste à simbolização, permanece um caroço estrangeiro em seu interior, aparece nela como uma ruptura, corte, hiância, inconsistência ou impossibilidade: (…) desafio qualquer filosofia a dar conta, no presente, da relação que há entre o surgimento do significante e o modo pelo qual o gozo se vincula ao ser. (…) Nenhuma filosofia, digo, nos acompanha atualmente. E esses miseráveis abortos de filosofia que arrastamos conosco, como vestes que se despedaçam, não são nada mais, desde o início do século passado [século XIX], do que uma maneira de galhofar ao invés de confrontar essa questão que é a única sobre a verdade e que se chama, e que Freud nomeou, pulsão de morte, o masoquismo primordial do gozo. (…) Todo o discurso filosófico se amedronta e se oculta aqui (LACAN, 1966, lição de 8 de junho). É nesse sentido que Lacan designa sua posição como aquela do “realismo do gozo” – realismo do gozo cujo inimigo “natural” não pode aparecer senão no “panlogismo” de Hegel como ponto culminante da ontologia, da lógica (autodesdobramento do lógos) como explicação total para o ser, pela qual o ser perde sua opacidade e se torna totalmente transparente… Mas Lacan não vai rápido demais aqui? As coisas são realmente tão simples com Hegel? Não é corolário da tese básica de Hegel de que “não há nada que não seja lógos”, seguindo as “fórmulas da sexuação” de Lacan, a asserção de um não-Todo – “nem tudo é lógos”, i. e., lógos é não-todo, ele é corroído e mutilado interiormente por antagonismos e rupturas, nunca completamente ele mesmo? Talvez, de algum modo, Lacan estava obscuramente ciente de tudo isso, como é indicado na passagem supracitada pela curiosa e inesperada limitação de sua brutal demissão da filosofia aos “miseráveis abortos de filosofia que arrastamos conosco desde o início do século passado [século XIX]”, i. e., o pensamento pós-hegeliano. Quer dizer, o óbvio seria dizer que é precisamente o pensamento pós-hegeliano que rompe com a onto-logia, asseverando a primazia de uma Vontade, ou Vida, trans-lógica – o anti-lógos (anti-filosofia) que vai do Shelling tardio, passando por Schopenhauer, até Nietzsche. É como se Lacan tivesse, aqui, aprendido a lição de Heidegger: a fórmula de Marx “o ser determina a consciência” não é radical o bastante – toda a discussão sobre a vida real da 12 subjetividade engajada, enquanto oposta ao “pensamento meramente especulativo”, permanece dentro dos confins da ontologia, porque (como Heidegger demonstrou) o ser só pode surgir pelo lógos. A diferença em relação a Heidegger é que Lacan, ao invés de aceitar esse acordo (mesmidade) entre Ser e lógos, tenta sair dela, para uma dimensão do real indicada pela junção impossível entre sujeito e gozo. Não é de se admirar, então, que, relativamente à angústia, Lacan prefere Kierkegaard a Heidegger: ele percebe Kierkegaard como o anti-Hegel para quem o paradoxo da fé cristã assinala uma quebra radical com a ontologia grega antiga (em contraste com a redução de Heidegger da cristandade a um momento no processo de declínio da ontologia grega em metafísica medieval). A fé é um salto existencial naquilo que (do ponto de vista ontológico) não pode senão aparecer como loucura, é uma decisão louca não garantida por qualquer razão – o Deus de Kierkegaard é, efetivamente, “além do Ser”, um Deus do Real, não o Deus dos filósofos. Eis porque, de novo, Lacan aceitaria a famosa declaração de Heidegger, dos anos 1920, quando ele abandonou a Igreja católica, de que a religião é uma inimiga mortal da filosofia – mas ele veria isso como a razão para ater-se ao núcleo do Real na experiência religiosa. O “sujeito” lacaniano nomeia uma hiância no simbólico, seu status é real – eis porque, como Balmes apontou, em seu seminário crucial sobre a lógica da fantasia (1966-67), depois de mais de uma década de contenda com Heidegger, Lacan realiza o paradoxal e (para alguém que adere à noção heideggeriana de filosofia moderna) totalmente inesperado movimento que o leva, de Heidegger, de volta para Descartes, ao cogito cartesiano. Há, de fato, um paradoxo aqui: Lacan primeiramente aceita o ponto de Heidegger de que o cogito cartesiano, que fundamenta a ciência moderna e seu universo matematizado, anuncia o mais agudo esquecimento do Ser; mas para Lacan, o Real do gozo é precisamente externo ao Ser, de modo que o que é para Heidegger o argumento CONTRA o cogito é, para Lacan, o argumento A FAVOR do cogito – o real do gozo só pode ser abordado quando saímos do domínio do ser. Eis porque, para Lacan, não apenas o cogito não pode ser reduzido à autotransparência do pensamento puro, mas, paradoxalmente, o cogito É o sujeito do inconsciente – a lacuna/corte na ordem do Ser na qual o real do gozo se infiltra. Obviamente, esse cogito é o cogito “em potência” [“in becoming”], não ainda a res cogitans, a substância pensante que participa inteiramente no Ser e no lógos. No seminário sobre a lógica da fantasia, Lacan lê a verdade do cogito ergo sum de Descartes mais radicalmente do que em seus seminários anteriores, nos quais ele jogava, 13 interminavelmente, com as variações da “subversão” do sujeito. Ele começou descentrando o ser em relação ao pensamento – “não sou onde penso”, o núcleo de nosso ser (“Kern unseres Wesens”) não está em minha (auto)consciência; contudo, ele rapidamente tornou-se ciente de que tal leitura deixa o caminho por demais aberto para o tópico irracionalista da Lebensphilosophie, da Vida como mais profunda do que o mero pensamento ou linguagem, que vai de encontro à tese básica de Lacan de que o inconsciente freudiano é “estruturado como uma linguagem”, minuciosamente “racional”/discursivo. Então ele passou a um bem mais refinado “penso onde não sou”, que descentra o pensamento em relação a meu Ser, a ciência de minha presença completa: o Inconsciente é um Outro Lugar (in-existente, insistente) puramente virtual de um pensamento que escapa a meu ser. Há, então, uma pontuação diferente: “Penso: ‘logo sou’” – meu Ser reduzido a uma ilusão gerada por meu pensamento; etc. O que todas essas versões partilham é o acento na lacuna que separa o cogito do sum, o pensamento do ser – a visada de Lacan era minar a ilusão do recobrimento entre eles, apontando para a fissura na aparente homogeneidade entre pensar-ser. Foi apenas perto do final de seu ensino que ele asseverou o recobrimento entre eles – um recobrimento negativo, com certeza. Quer dizer, Lacan finalmente apreende o grau-zero mais radical do cogito cartesiano como o ponto da interseção negativa entre ser e pensar: o ponto evanescente no qual não penso E não sou. NÃO SOU: não sou uma substância, uma coisa, uma entidade, sou reduzido a um vazio na ordem do ser, a uma hiância, a uma béance. (Que se lembre como, para Lacan, o discurso da ciência pressupõe a forclusão do sujeito – para colocá-lo em termos ingênuos, nele, o sujeito é reduzido a zero, uma proposição científica deve ser válida para qualquer um que repetir o mesmo experimento. No momento em que tivermos que incluir a posição de enunciação do sujeito, não estamos mais na ciência, mas num discurso de sabedoria ou iniciação). NÃO PENSO: aqui, novamente, Lacan paradoxalmente aceita a tese de Heidegger de que a ciência (moderna, matematizada) “não pensa” – mas, para ele, isso significa precisamente que ela escapa do enquadramento da onto-logia, do pensamento como lógos correlativo ao Ser. Como puro cogito, não penso, sou reduzido à “pura forma do pensamento”, que coincide com seu oposto, i. e., que não tem nenhum conteúdo e é como tal não-pensamento. A tautologia do pensamento é autocanceladora do mesmo modo que a tautologia do ser, donde, para Lacan, o “Sou o que sou”, enunciado pela 14 sarça ardente a Moisés no Monte Sinai, indicar um Deus para além do Ser, Deus como Real13. Referências bibliográficas BALMES, F. (1999) Ce que Lacan dit de l’étre. Paris: PUF. LACAN, J. (1955-1956/1981) Le seminaire , livre III: Les psychoses. Paris: Seuil. _________. Le desir et son interpretation (seminário não publicado). _________. L’objet de la psychanalyse (seminário não publicado). LACOUE-LABARTHE, Ph. (1991). “De l’éthique: a propos d’Antigone”, in Lacan avec les philosophes. Paris: Albin Michel. MEILLASSOUX, Q. (2008) After finitude. London: Continuum Books. Recebido em 22/01/09 Aprovado em 13/02/09 13 Aqui, podemos também estabelecer o vínculo com o design do materialismo especulativo de Meillassoux: o Real científico matematizado está fora da correlação transcendental entre lógos e ser. Ver MEILLASSOUX, Q. (2008) After finitude. London: Continuum Books. 15
Download