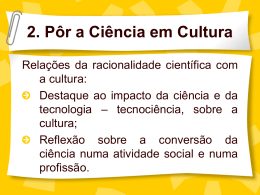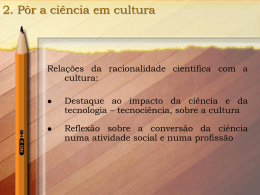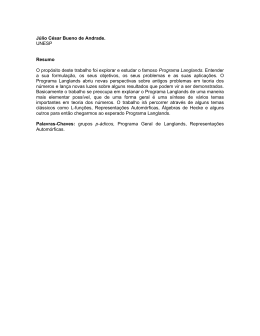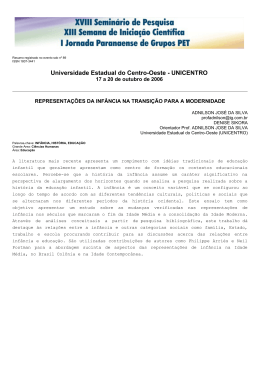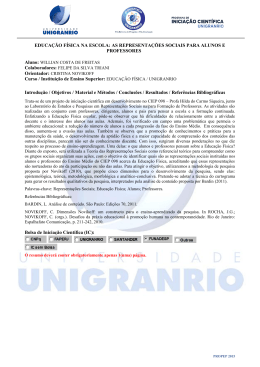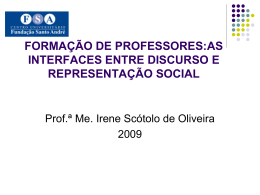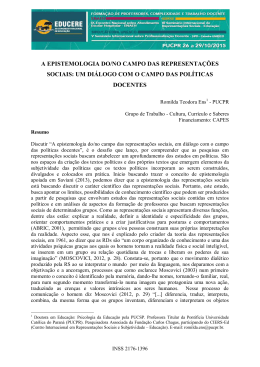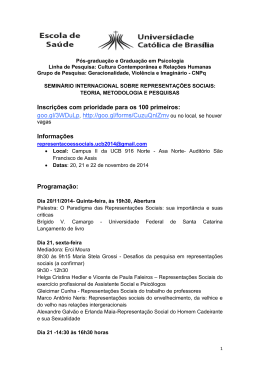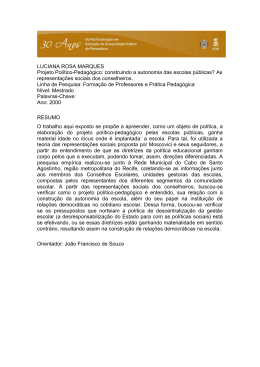REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E MOTIVAÇÃO PARA AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA Guilherme Rocha Savarezzi1 - UNICID Grupo de Trabalho – Educação, Arte e Movimento Agência Financiadora: não contou com financiamento Resumo O presente trabalho é parte da pesquisa de Mestrado do primeiro autor deste e tem por objetivo verificar quais as representações sociais que os alunos têm sobre o componente curricular Educação Física e as possíveis influências destas nos processos motivacionais dos alunos dentro das aulas desta disciplina. Para tornar isso possível, pretende-se lançar mão da teoria das Representações Sociais introduzida por Serge Moscovici, bem como aprofundar-se em uma das vertentes desta, no caso, a teoria do Núcleo Central das Representações Sociais proposta por Jean-Claude Abric. Além da teoria das Representações Sociais, busca-se um aprofundamento em outro campo teórico, a saber, o estudo da Motivação. Neste sentido, optou-se por estudar este fenômeno tomando por base a Teoria da Autodeterminação apresentada por Edward L. Deci e Richard M. Ryan. Tomarão parte deste estudo cerca de 400 crianças e adolescentes com idade entre 6 e 17 anos, tendo-se a intenção de abranger todos as séries do Ensino Fundamental e Médio. Para o estudo das Representações Sociais propõe-se fazer uso da técnica de evocação ou associação livre para descobrir os elementos formadores da Representação Social dos alunos e, no caso da Motivação, fez-se a escolha pelo uso de uma adaptação da Escala de Motivação Acadêmica (EMA) para classificar o nível de Motivação dos discentes. Para analisar a incidência de um evento sobre o outro, ou seja, das representações apresentadas sobre o nível de motivação demonstrado, verificar-se-á a Relação de Contingência existente entre os dois. Sendo este um trabalho em andamento, serão discutidos neste, alguns aspectos que mostram sua relevância para área educacional e para as aulas de educação Física. Palavras-chave: Representações Sociais. Motivação. Educação Física Introdução Gardner (1993) chama a atenção para três grandes preconceitos que contaminam a concepção de inteligência dentro do ambiente escolar, seriam estes o “Testismo”, o 1 Mestrando em Educação: Universidade Cidade de São Paulo (UNICID). Professor de Educação Física na Rede Municipal de Campo Limpo Paulista - SP. Pesquisador Membro do Grupo de Estudos Sobre o Comportamento Motor e Intervenção Motora (GECOM). E-mail: [email protected]. 2339 “Bestismo” e o “Westismo”. O “Testismo” envolve a premissa de que tudo que tem valor pode ser avaliado através de testes objetivos, como se a concepção de inteligência fosse uma grandeza passível de medição. Já o “Bestismo” diz respeito à valorização dada pela escola a quem se destaca individualmente nos processos educacionais, ignorando as diferenças individuais. Por último há o “Westismo”, ou seja, a ideia da sociedade ocidental em valorizar as competências na área linguístico-lógico-matemática, em detrimento de outras, como, por exemplo, a corporal-cinestésica. Estes três preconceitos destacados por Gardner acertam em cheio nas maiores causas do afastamento dos alunos das aulas de Educação Física nos anos finais do Ensino Fundamental e no Ensino Médio, pois tratam exatamente dos motivos pelo qual o movimento é tido como menos importante nestas instituições. Em suma, isso significaria classificar como “bons alunos”, apenas aqueles que vão relativamente bem em disciplinas como Língua Portuguesa ou Matemática, não importando seu desempenho em componentes curriculares como Artes ou Educação Física. Estes preconceitos são reflexos de uma visão cartesiana que dicotomiza corpo e mente e que foi reforçada após a Revolução Industrial onde ficava clara a diferença de valoração entre os trabalhos ditos mentais e corporais, com clara desvantagem para o segundo (MEDINA, 1998). O fato é que este modo de pensar impregna a sociedade ocidental e adentra os muros da escola, influenciando as representações que professores e alunos têm sobre o corpo e o movimento. A realidade acima descrita pode ser claramente constatada com a análise de estudos realizados na área da Educação Física Escolar e que procuravam saber a forma como esta disciplina era vista pelos discentes. Por exemplo, Betti (2003) por meio de um estudo com alunos de quinta à oitava série do Ensino Fundamental, constatou que o componente curricular Educação Física era a disciplina que eles mais gostavam, uma vez que lhes proporcionava prazer e satisfação. Entretanto, este componente não estava entre os mais importantes para eles, lugar ocupado pelas disciplinas Língua Portuguesa e Matemática. Corroborando estes dados, uma investigação de Darido (2004) com alunos de diferentes séries do Ensino Fundamental e Médio, também constatou a Educação Física como disciplina favorita, mas novamente considerada menos importante para eles. Além disso, percebeu-se que, no decorrer dos anos de escola formal, os alunos vão perdendo o interesse por essas aulas chegando ao Ensino Médio com alto número de dispensa do referido componente curricular. Tal fato, também é constatado por Chicati (2000) quando destaca que, no Ensino Médio, a 2340 falta de diversificação nos conteúdos diminuiria gradualmente o interesse dos discentes pelas aulas. Há outras investigações que analisam os fatores acima citados, porém, tomando como base a teoria das Representações Sociais. Por exemplo, um estudo realizado com alunos e professores do Ensino Médio de uma escola do Rio de Janeiro, constatou que, quando perguntados sobre o papel desempenhado pela Educação Física no Ensino Médio, emergiam das narrativas destes, representações sociais que associavam o conteúdo transmitido pela Educação Física ao lazer desinteressado (recreação) e à iniciação ou treinamento esportivo (BARBOSA, 2001). Corroborando estes dados, Pereira (2008), também analisando narrativas de alunos e professores entrevistados, percebeu que os alunos, ligaram a Educação Física à prática esportiva e a momentos de diversão e relaxamento, diferente do estudo de outras disciplinas, tidas como importantes para formação destes. Quanto aos professores, concordavam com os alunos na representação associada ao relaxamento, somando a este a representação da Educação Física como acessória a outras disciplinas realmente importantes na visão deles. Por último, um estudo de Carvalho (2006), que procurava saber a representação dos professores de outras disciplinas sobre a Educação Física, constatou, assim como nos estudos citados anteriormente, a Educação Física ligada principalmente ao aspecto meramente recreativo, um aspecto socializador e, também, como acessória de outras disciplinas. Apesar dos vieses apresentados até então, a Educação Física é sim muito importante do ponto de vista educacional, pois tem o movimento como sua especificidade. Neste sentido é importante destacar autores como Piaget, Vygotsky e Wallon, que compartilham uma visão interacionista do desenvolvimento humano, ou seja, eles acreditam que é por meio da interação entre o indivíduo e o ambiente que o ser humano se desenvolve e aprende (LEPRE, 2008). Partindo deste princípio, podemos imaginar a importância do movimento neste processo, pois é por meio dele, que o ser humano interage com o mundo, modificando-o e sendo por ele modificado. Seguindo esta tendência, as diretrizes que permeiam a área educacional em nosso país, também entendem a importância do movimento como parte do desenvolvimento integral do ser humano, haja vista, ter este tema uma posição de destaque no Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil (RCNEI) e nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o Ensino Fundamental e Médio (BRASIL, 1997; 1998; 2000). Além disso, há um componente curricular cuja especificidade é o movimento, esta é a Educação Física. Parte-se 2341 então, do pressuposto de que as aulas de Educação Física na escola devem ser encaradas como essenciais dentro do sistema educacional. Dentro do processo de ensino/aprendizagem que ocorre nas aulas de Educação Física na escola, podem-se destacar dois fatores importantes que podem contribuir para um melhor aproveitamento das aulas por parte dos discentes, sendo estes, as Representações Sociais que os alunos têm destas aulas e a Motivação que os leva a uma participação mais ou menos ativa nelas. Sendo este trabalho parte da pesquisa de Mestrado do primeiro autor deste e tendo por base os referenciais citados no parágrafo acima, pretende-se: 1) Verificar a existência de relação entre as Representações Sociais dos alunos sobre a disciplina Educação Física e a Motivação demonstrada por estes nas aulas deste componente; 2) Existindo estas relações, verificar quais as seriam estas e como elas se modificam ao longo dos anos de escola formal. Referencial Teórico Justificativa e os objetivos da presente pesquisa explicitados, parece agora adequado apresentarmos algumas particularidades das teorias envolvidas no trabalho, a saber, a teoria das Representações Sociais e a teoria motivacional da Autodeterminação. Representações Sociais Quanto às Representações Sociais, pode-se dizer que é uma teoria introduzida pelo psicólogo social Serge Moscovici em sua obra “La psycanallise son image et son public”, publicada no início da década de 1960, no qual ele aborda as representações sociais que se formaram a respeito da psicanálise (VILLAS BÔAS, 2004). Segundo Alves-Mazzotti (2008), Moscovici recusou-se a apresentar uma formatação estrita da teoria explicando que não poderia determinar a forma como tal ideia iria evoluir. Desta forma, coube a outros pesquisadores expandir o campo de investigação e aprofundar o estudo. Dentre estes, podemse destacar alguns como, por exemplo, Denise Jodelet, Claude Flament e Jean-Claude Abric, que acabaram por estruturar a concepção de representação social. Para definir o conceito de representações sociais, é possível recorrer-se a diferentes autores. Moscovici (1978, p. 51), que embora tenha se recusado a formular uma teoria estrita, afirma em seu trabalho que estas representações não seriam “opiniões de” ou “imagens de”, mas teorias coletivamente construídas sobre o real e que “determinam o campo das 2342 comunicações possíveis, dos valores ou das ideias compartilhadas pelo grupo e regem, subsequentemente as condutas desejáveis ou admitidas”. Desta forma, é interessante destacar que, ao formar a representação, o sujeito não aceitaria passivamente o que se mostra como real, mas, ao internalizar o objeto representado, o reconstruiria tendo por base seus próprios conhecimentos e seu universo social (ALVES-MAZZOTTI, 2008). Denise Jodelet (1994, p. 36), define as representações sociais como “uma forma de conhecimento, socialmente elaborado e compartilhado, que tem um objetivo prático e concorre para a construção de uma realidade comum a um conjunto social”. Para AlvesMazzotti (2008, p. 21) as representações sociais são “teorias do senso comum, construções esquemáticas que visam dar conta da complexidade do objeto, facilitar a comunicação e orientar condutas”. Por último, Abric (1994, p. 188) define tais representações como “produto e processo de uma atividade mental pela qual um indivíduo ou um grupo reconstitui o real ao qual ele é confrontado e lhe atribui uma significação específica”. Em síntese pode se dizer que, quando um sujeito é confrontado com um objeto, ele precisa criar uma imagem ou construir um esquema para internalizá-lo, para tornar familiar a aquilo que não é. Porém, ao fazer isso, o objeto será contraposto com o conhecimento do próprio sujeito, com todas as outras imagens de mundo que este já tem. Neste processo, há também, a influência das representações compartilhadas pelo grupo social com quem o indivíduo, no exercício da representação, tem convivência. Desta forma, cria-se um novo entendimento do objeto ou uma reconstituição do que primeiramente se apresentou como real. Por fim, esta representação formada, vai orientar as condutas do sujeito e a forma como vai se comunicar, tornando-se uma maneira de reconstruir a própria realidade. Um dos aprofundamentos relacionados às representações Sociais é a teoria do Núcleo Central, proposta por Abric (2000). Esta teoria apresenta a hipótese de que toda representação social possui um núcleo central e elementos periféricos. O núcleo de uma representação surge do confronto entre a natureza do objeto representado com o sistema de valores e normas sociais do grupo, definindo a homogeneidade deste. Ele gera o significado básico da representação e determina sua organização. Além disso, é bastante estável, resistente às mudanças e pouco sensível ao contexto imediato. O núcleo reflete as condições sóciohistóricas e os valores do grupo. Já o sistema periférico é constituído pelos demais elementos da representação que giram em torno do núcleo central, tendo a função de adaptar a realidade concreta ao núcleo, servindo então, como defesa para este. Este sistema é mais flexível, tolerando as contradições apresentadas entre o objeto representado e os valores nucleares, 2343 sendo desta forma, sensível ao contexto imediato (SÁ, 1996; ABRIC, 2000; ANDRADE et al., 2011). Motivação No que diz respeito à Motivação, Deci e Ryan (1985), destacam este fator como ingrediente chave para um aprendizado produtivo, já Shimidt e Wrisberg (2006) acrescentam que quando as pessoas tem um comportamento motivado, elas acabam por dedicar um esforço maior à tarefa, demonstram mais consciência durante os momentos de aprendizagem e mostram-se dispostas a praticar por mais tempo. Guimarães e Boruchovitch, explicam que: A motivação no contexto escolar tem sido avaliada como um determinante crítico do nível e da qualidade da aprendizagem e do desempenho. Um estudante motivado mostra-se ativamente envolvido no processo de aprendizagem, engajando-se e persistindo em tarefas desafiadoras, despendendo esforços, usando estratégias adequadas, buscando desenvolver novas habilidades de compreensão e de domínio. Apresenta entusiasmo na execução das tarefas e orgulho acerca dos resultados de seus desempenhos, podendo superar previsões baseadas em suas habilidades ou conhecimentos prévios (GUIMARÃES & BORUCHOVICTH, 2004, p. 143). Dada sua importância para o processo de aprendizagem, muitas teorias sobre a Motivação foram formuladas, entre elas está a Teoria da Autodeterminação, proposta por Deci e colaboradores, e que aborda a personalidade e motivação humanas. Desta forma pensam em como as tendências evolutivas, as necessidades psicológicas inatas e o contexto interferem favoravelmente para motivação, o funcionamento social e o bem-estar pessoal. Os experimentos dos referidos autores levaram à identificação de diferentes formas de motivação que vão evoluindo desde um estado em que não há motivação alguma - Amotivação, passando por quatro formas de motivação onde o indivíduo é movido por recompensas externas - Motivação Extrínseca - até um estado de autodeterminação, onde o indivíduo se envolve na atividade por esta lhe parecer interessante e lhe trazer satisfação - Motivação Intrínseca - (GUIMARÃES & BORUCHOVITCH, 2004; LEAL et al., 2013; CSIKSZENTMIHALYI, 1997). Deci e Ryan (1985) citam três necessidades psicológicas básicas e inatas que devem ser satisfeitas para que o indivíduo tenha uma relação saudável com o ambiente. Sendo que, a satisfação destas promoveria sensação de bem-estar e bom funcionamento do organismo. Estas necessidades são a de autonomia, a de competência e a de vínculo. A necessidade de autonomia diz respeito ao desejo do organismo de organizar suas próprias experiências e comportamentos, ou seja, acreditar que faz certa atividade por si mesmo e não por meio de 2344 uma obrigação imposta por outra pessoa. Neste caso, mesmo os incentivos externos são encarados como apoio às próprias iniciativas e não de forma passiva, como se o indivíduo fosse uma marionete. Já a necessidade de competência seria a capacidade de uma interação satisfatória entre o organismo e seu meio, neste caso, a experiência do indivíduo em dominar uma tarefa traria emoções positivas, um sentimento de eficácia na relação com o ambiente. Por último, a necessidade de vínculo seria o “pano de fundo” por proporcionar sensação de segurança. A base segura proporcionada por se sentir amado e pelo contato interpessoal sustenta no indivíduo o ímpeto pela exploração sendo isso associado à conquista da autonomia, ao controle interno e um bom relacionamento com figuras de autoridade a adequados níveis de ansiedade (GUIMARÃES & BORUCHOVITCH, 2004). A satisfação de cada uma das necessidades básicas de autonomia, competência e vínculo, fortalecem as demais, pois as três são integradas e interdependentes (DECI & RYAN, 2000). Por fim, quanto mais supridas estiverem estas necessidades, mais o indivíduo caminhará para sentir-se intrinsecamente motivado em certo contexto, ou seja, mais autodeterminado ele se sentirá (GUIMARÃES & BORUCHOVITCH, 2004). Metodologia A presente pesquisa propõe-se a conhecer as representações sociais dos alunos, seu nível de motivação e relacionar os dois fatores para descobrir se há a interferência de um sobre o outro e, em caso positivo, saber como esta ocorre. Para descobrir as representações sociais, com seu núcleo e elementos periféricos, farse-á uso da técnica das evocações ou associações livres. A respeito desta técnica, Vérges (1992, 1996) apud Sá (2000) explica que, diante de um termo ou pergunta indutora, as palavras que são evocadas com maior frequência e mais prontamente pelos pesquisados, devem provavelmente constituir o núcleo central de uma representação social. No caso do presente estudo, pretende-se usar como termo indutor, a palavra “Educação Física”. Para analisar as evocações colhidas, lançar-se-á mão do software EVOC (Ensemble de Programmes Permettant L´Analyse dês Évocations), programa que por meio de cálculos estatísticos, descobre o núcleo e os elementos periféricos de uma Representação Social (ANDRADE et al., 2011). Para pesquisar o nível de motivação dos alunos para as aulas de Educação Física, pretende-se adaptar para o contexto do presente projeto, a Escala de Motivação Acadêmica (EMA), proposta por Guimarães e Bzuneck (2008). Este instrumento abrange vinte e nove 2345 itens, avaliando cada aspecto do continuum de autodeterminação (ver tabela p. 8), a saber, três referentes à motivação intrínseca (Saber, Realizar e Experimentar Estímulos), três da motivação Extrínseca (Externa, Introjeção e Identificação) e a Amotivação. Posteriormente, as vinte e nove afirmações eram classificadas pelos pesquisados na escala likert. Por fim, verificar-se-á as possíveis relações entre os fatores acima descritos, através da relação de contingência, que segundo Catania (1993, p. 368) é definida ”como a probabilidade de um evento pode ser afetada ou causada por outros eventos”. Tomarão parte deste estudo cerca de 420 crianças e adolescentes, com idade entre 6 e 17 anos de cada uma das séries do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, tomando como sujeitos de pesquisa, 35 crianças de cada série. Desta forma também é possível verificar a mudança que ocorrem nas representações sociais e na suposta interferência destas nos processos motivacionais ao longo dos anos de escola formal. Resultados e Discussão Trabalho em andamento. Considerações Finais Vários são os fatores relevantes em uma pesquisa a nível educacional que envolva fatores como a teoria das Representações Sociais ou a Motivação. Pode-se, por exemplo, pensar na possibilidade de uma eventual mudança na representação social dos alunos caso a tenha-se constatado esta necessidade. Neste caso, Gracia (1988) explica que uma intervenção que pretenda mudar uma representação social deve ser dirigida prioritariamente ao núcleo desta. Corroborando isso, Abric (2000) explica que é necessário um “ataque” ao núcleo central para transformar uma representação. Visto que o núcleo central é formado pelos valores de um grupo, a ação deve acontecer visando questionar estes valores. Esquematizando como a mudança na representação social ocorre, Flament (1994, p. 49) teoriza a seguinte sequência: “modificação das circunstâncias externas; modificação das práticas sociais; modificação dos prescritores condicionais (elementos periféricos); modificação dos prescritores absolutos (núcleo central)”. Neste caso, mudanças ambientais e nas práticas sociais, darão boas razões para uma mudança de comportamento do indivíduo sob novas circunstâncias. Se estas novas condições e práticas persistirem, podem ser percebidas 2346 como irreversíveis e gerar uma mudança no núcleo, o que levaria à mudança na representação social. Aplicando estes conceitos às aulas de Educação Física na escola, tendo como alvo transformar a representação atual que os alunos têm deste componente, deve-se começar, segundo Flament (1994), por uma mudança no ambiente e nas práticas sociais envolvidas nesta representação. Uma mudança nas práticas docentes, de modo “justificar” este componente curricular aos alunos demonstrando sua importância seria uma alternativa. Modificando-se as circunstâncias, supõe-se ser possível uma mudança de comportamento por parte dos alunos, sendo que, a permanência desta situação, possibilitaria a modificação do núcleo central, surgindo uma nova representação social dos discentes em relação à disciplina. Outro aspecto que demonstra a relevância do presente estudo diz respeito aos aspectos motivacionais. Há de se destacar neste caso a complexidade do fenômeno da motivação. Visto este ser fruto de experiências acumuladas e do contexto sociocultural no qual o sujeito está inserido, o que trará motivação a este sujeito é diferente do que motivará outro (BERGAMINI, 1993; PALMIERI E BRANCO, 2004). Sendo assim, a percepção do professor sobre o nível de motivação de seu aluno, pode fazê-lo repensar e diversificar seus conteúdos, no caso da Educação Física, lançando mão do grande leque de práticas proporcionadas pela cultura corporal de movimento (COLETIVO DE AUTORES, 1992). Por fim, pode-se pensar na relação das ferramentas de pesquisa apresentadas por esta pesquisa com o processo avaliação da prática pedagógica. Este é um fator de elevada importância visto que as Diretrizes Curriculares Nacionais apontam para o caráter da avaliação como redimensionador da ação pedagógica, sendo que também cita seu aspecto diagnóstico (BRASIL, 2010). Neste caso, uma análise de como as aulas de Educação Física está sendo representada socialmente na escola pelos alunos e de como estas aulas estão motivando-os ou não para uma aprendizagem significativa, parece ser bastante pertinente para fins de avaliação. Ao final do presente trabalho, pretende-se que as ferramentas metodológicas e as discussões apontadas, possam servir como base para que os professores de Educação Física ou mesmo de outras disciplinas possam avaliar e redimensionar sua prática pedagógica. REFERÊNCIAS ABRIC, J. –C. L’étude expérimentale des representations sociales. In: JODELET, D. (Ed.). Les représentations sociales. 4 ed., Paris, Presses Universitaires de France (Sociologie d’Aujourd’hui), 1994. 2347 ABRIC, J. –C.A abordagem estrutural das representações sociais. In: MOREIRA, A. S. P.; OLIVEIRA, D.C. (Org.). Estudos Interdisciplinares de Representação Social. 2 ed., Goiânia, AB Editora, 2000, p. 27-38. ALVES-MAZZOTTI, A. J. Representações Sociais: Aspectos teóricos e aplicação à Educação. Revista Múltiplas Leituras, São Paulo, v.1, n. 1, p. 18-43, janeiro / junho, 2008. ANDRADE, M. A.C.; ARTMANN, E.; TRINDADE, Z. A. Humanização da saúde em um serviço de emergência de um hospital público: Comparação sobre representações sociais dos profissionais antes e após a capacitação. Ciência & Saúde Coletiva, n. 16(Supl.1), p.11151124, 2011. BARBOSA, C. L. A. Educação Física Escolar: as Representações Sociais. Rio de Janeiro: Shape, 2001. BERGAMINI, C. W. Motivação. 3. ed. São Paulo, Atlas, 2003. BETTI, M.; LIZ, M. T. F. Educação Física escolar: A perspectiva de alunas do Ensino Fundamental. Revista Motriz, Rio Claro, v.9, n.3, p.135-142, set./dez. 2003. BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9394/96). Brasília, 1996. BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais para o ensino fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1997. BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Referencial curricular nacional para a educação infantil. Brasília: MEC/SEF, 1998. BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais para o ensino médio. Brasília: MEC/SEF, 2000. CATANIA, A. C. Learning. Englewood Cliffs, 3ª edição, NJ: Prentice-Hall, 1993. CARVALHO, F. L. S. F. O Papel da Educação Física Escolar representado por professores e professoras de outras disciplinas. 2006. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora. CHICATI, K. C. Motivação nas aulas de Educação Física no Ensino Médio. Revista da Educação Física/UEM, v. 11, n. 1, p. 97-105, 2000. CSIKSZENTMIHALYI, M. A psicologia da felicidade. São Paulo: Saraiva, 1992. COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do ensino da Educação Física. São Paulo, Cortez, 1992. DARIDO, S. C.A Educação Física na escola e o processo de formação dos não praticantes de atividade física. Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, v.18, n. 1, p.61-80, janeiro / março, 2004. 2348 DECI, E. L.; RYAN, R. M. Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York: Plenum, 1985. DECI, E. L. & RYAN, R. M. The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and selfdetermination of behavior. Psychological Inquiry, v. 11 n. 4, 227-268, 2000. FLAMENT, C.Structure, dynamique et transformation dés representations socials. In: ABRIC, J. –C. (Org.). Pratiques socials et representations. Paris, Presses Universitaires de France, 1994. GARDNER, H. Multiple Intelligences. New York: Basic Books, 1993. GUIMARÃES, S. E. R.; BORUCHOVICTH, E. O Estilo Motivacional do professor e a motivação intrínseca dos estudantes: Uma perspectiva da teoria da autodeterminação. Psicologia: Reflexão e Crítica, Porto Alegre, 17(2), p.143-150, 2004. GUIMARÃES, S. E. R.; BZUNECK, J. A. Propriedades psicométricas de um instrumento para avaliação da motivação de universitários. Ciências & Cognição, Ilha do Fundão, 13 (1), 101-113, Março / 2008. GRACIA, T. I. Representaciones sociales: teoria y método. In: GRACIA, T. I. (Coord.). Ideologías de la vida cotidiana. Barcelona, Sendai, 1988. JODELET, D. Représentations sociales:un domaine en expansion. In: JODELET, D. (Ed.). Les représentations sociales. 4 ed., Paris, Presses Universitaires de France (Sociologie d’Aujourd’hui), 1994. LEAL, E. A.; MIRANDA, G. J.; CARMO, C. R. S. Teoria da Autodeterminação: uma Análise da Motivação dos Estudantes do Curso de Ciências Contábeis. Revista Contabilidade e Finanças – USP, São Paulo, v. 24, n. 62, p. 162-173, maio/jun./jul./ago. 2013. LEPRE, R. M. Contribuições das teorias psicogenéticas à construção do conceito de infância: implicações pedagógicas. Revista Teoria e Prática da Educação, Maringá, v. 11, n. 3, p. 309-318, setembro / dezembro, 2008. MEDINA, J. P. S. O brasileiro e seu corpo: educação e política do corpo. 6ª edição, São Paulo: Papirus, 1998. MOSCOVICI, S. A representação social da psicanálise. Trad.: Álvaro Cabral. Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1978. PALMIERI, M. W. A.; BRANCO, A. U.; Cooperação, Competição e Individualismo em uma Perspectiva Sócio-cultural Construtivista. Psicologia: Reflexão e Crítica, Porto Alegre, 17(2), p.189-198, 2004. 2349 PEREIRA, G. M. S. Representações sociais de educação física: O resgate e o remédio do corpo e da mente. 2008. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro. SÁ, C. P. Representações Sociais: Teoria e Pesquisa do Núcleo Central. Temas em Psicologia, nº 3, p. 19-33, 1996. SÁ, C. P. A Representação Social da economia brasileira antes e depois do “Plano Real”. In: MOREIRA, A.S.P.; OLIVEIRA, D.C. (Org.). Estudos Interdisciplinares de Representação Social. 2 ed., Goiânia, AB Editora, 2000, p. 49-69. SCHIMIDT, R. A.; WRISBERG, C. A.; Aprendizagem e performance motora: uma abordagem da aprendizagem baseada no problema. Porto Alegre, Artmed, 2006. VILLAS BÔAS, L. P. S. Teoria das representações sociais e o conceito de emoção: diálogos possíveis entre Serge Moscovici e Humberto Maturana. Psicologia da Educação, São Paulo, v. 19, p. 143-166, 2004.
Download