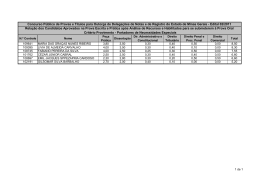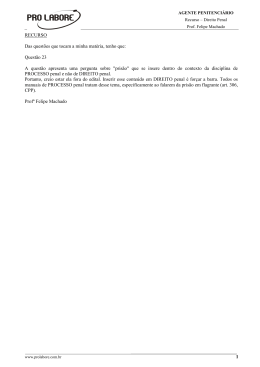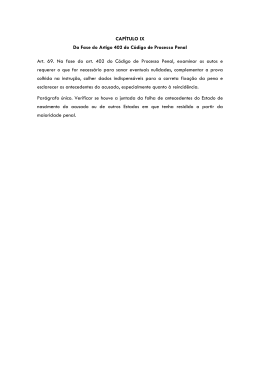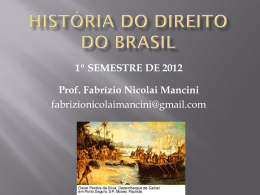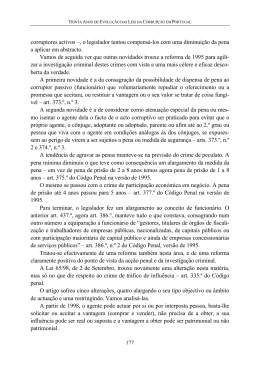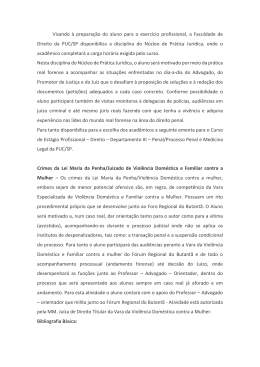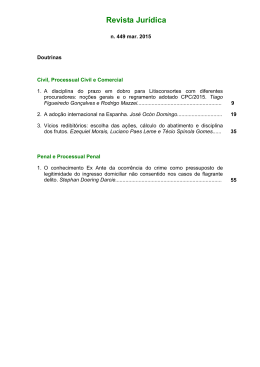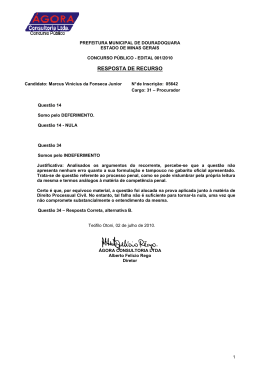UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO Direito A LEI MARIA DA PENHA E O BEM JURÍDICO TUTELADO Aluna: Josemary Felix Monteiro Orientadora: Profª. MSc Eneida Orbage de Brito Taquary BRASÍLIA 2009 JOSEMARY FELIX MONTEIRO A LEI MARIA DA PENHA E O BEM JURÍDICO TUTELADO Trabalho apresentado ao curso de graduação em Direito da Universidade Católica de Brasília, como requisito parcial para o Título de Bacharel em Direito. Orientadora: Profª. Msc. Eneida Orbage de Britto Taguary Brasília 2009 Trabalho de autoria de Josemary Felix Monteiro, intitulado “A LEI MARIA DA PENHA E O BEM JURÍDICO TUTELADO”, requisito parcial para a obtenção do grau de Bacharel em Direito, Defendida e aprovada em __________________________, pela banca examinadora constituída por: _________________________________________ Profª. Eneida Orbage de Britto Taguary Orientadora _________________________________________ Professor Curso de Direito – UCB _________________________________________ Professor Curso de Direito – UCB Brasília 2009 Dedico esta monografia aos meus filhos Polyanna, Andressa e Guilherme, de quem veio o estímulo e todo o apoio. Aos meus pais pelo amor incondicional em todos os momentos da minha vida. A minha mãe, que acreditou no meu sonho e me ajudou a tornálo realidade. Aos meus netos que trouxeram muitas felicidades em minha vida. AGRADECIMENTOS Agradeço primeiramente a Deus, autor da vida, que por meio de Seu Filho Jesus Cristo, concedeu-me força, paciência e perseverança, ao exemplo de Santa Maria, ante muitas dificuldades ao longo da graduação. A minha família, que sempre esteve do meu lado nesta caminhada e aos meus netos que estão chegando me dando muita alegria. sinceramente, aos Também meus agradeço, amigos e à professora Eneida Orbage de Britto Taguary – pela orientação e apoio. MARIA MARIA Maria, Maria e um dom, uma certa magia Uma força que nos alerta Uma mulher que merece viver e amar Como outra qualquer no planeta Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor É a dose mais forte e lenta De uma gente que ri quando deve chorar E não vive apenas agüenta Mas é preciso ter força, é preciso ter raça É preciso ter gana sempre Quem traz no corpo essa marca Maria, Maria mistura a dor e a alegria Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça É preciso ter sonho sempre Quem traz na pele essa marca Possui a estranha mania de ter fé na vida (Milton Nascimento e Fernando Brant) RESUMO MONTEIRO, Josemary Felix. A Lei Maria da Penha e o Bem Jurídico Tutelado. Brasília. 2009. 70 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito)Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2009. A monografia que ora se apresenta versa sobre o tema a Lei Maria da Penha e o Bem Jurídico Tutelado. O presente trabalho tem o intuito de analisar a proteção as mulheres vítimas de violência doméstica, assim como, dar ênfase ao bem jurídico tutelado pela Lei Maria da Penha, visando à integridade da mulher que passa por diversos sofrimentos: físico, sexual, psicológico e dano patrimonial e moral, desde que ocorram no âmbito da unidade doméstica, ou seja, âmbito familiar ou em qualquer relação intima de afeto. A relevância do bem jurídico protegido legitima a atuação estatal. Outro aspecto abordado é a violência de gênero que tem origem na ideologia patriarcal culturalmente elaborada pelo masculino, a mulher não tem o mesmo status que o homem. Historicamente, as relações entre mulheres e homens são desiguais, pois marcados pela subordinação da população feminina aos ditames masculinos que impõem norma de conduta às mulheres e as devidas correções ao descumprimento dessas regra.Verifica-se também uma ofensa aos direitos humanos inerentes à`mulher exigindo por parte do Estado uma ação afirmativa, para neutralizar a violência de gênero. Ao final uma discussão acerca do tipo de ação penal cabível aos casos de lesões corporais leves praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher. Para a confecção desse estudo foram realizadas pesquisas na legislação, doutrina, jurisprudência e artigos científicos. Palavras-chave: Bem Jurídico Tutelado. Lei Maria da Penha. Violência de gênero. Ação penal. SUMÁRIO INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 9 CAPÍTULO 1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A LEI MARIA DA PENHA ... 12 1.1 ORIGEM DA “LEI MARIA DA PENHA” SUA DENOMINAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL .......................................................................................................... 13 1.2 ANTECEDENTES LEGISLATIVOS .............................................................. 16 1.3 A LEI MARIA DA PENHA E O BEM JURÍDICO TUTELADO ....................... 17 CAPÍTULO 2 - VIOLÊNCIA DE GÊNERO ................................................................ 19 2.2 FORMAS DE MANIFESTAÇÃO DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO ................... 25 2.2.1 Violência física ............................................................................................ 26 2.2.2 Violência psicológica ................................................................................. 27 2.2.3 Violência sexual .......................................................................................... 28 2.2.4 Violência patrimonial.................................................................................. 29 2.2.5 Violência moral ........................................................................................... 32 CAPÍTULO 3 - AÇÃO PENAL .................................................................................. 34 3.1 BREVES CONSIDERAÇÕES ....................................................................... 34 3.2 AÇÃO PENAL PÚBLICA .............................................................................. 35 3.2.1 Ação penal pública incondicionada .......................................................... 36 3.2.2 Ação penal pública condicionada à representação................................. 38 3.2.3 Ação penal pública condicionada à requisição do Ministro da Justiça 43 3.3 AÇÃO PENAL PRIVADA .............................................................................. 44 3.3.1 Ação penal privada exclusiva .................................................................... 45 3.3.2 Ação penal privada personalíssima .......................................................... 47 3.3.3 Ação penal privada subsidiária da pública .............................................. 47 3.3.4 Tipo de ação penal cabível aos crimes de lesão corporal leve na Lei 11.340/06 ...................................................................................................... 50 3.3.5 Conceito de violência doméstica .............................................................. 51 3.3.6 Sujeito ativo e sujeito passivo da violência doméstica e familiar contra a mulher ....................................................................................................... 54 3.3.5 A representação nos crimes de lesão corporal leve do parágrafo 9º do artigo 129 do Código Penal ....................................................................... 61 CONCLUSÃO ........................................................................................................... 68 REFERÊNCIAS......................................................................................................... 70 9 INTRODUÇÃO A temática abordada na presente monografia é acerca da Lei nº 11.340/06, de 07 de agosto de 2006, conhecida como “Lei Maria da Penha” em homenagem à biofarmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes, vítima de violência doméstica. Ela veio com a missão de proporcionar instrumentos adequados para enfrentar um problema que aflige grande parte das mulheres no Brasil e no mundo, que é a violência de gênero. O Brasil atendeu à recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da Organização dos Estados Americanos. A partir da Emenda Constitucional nº 45, que acrescentou o parágrafo 3º ao artigo 5º da Constituição Federal, foi conferido “status” constitucional aos tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem devidamente aprovados pelo Congresso Nacional. Justifica-se assim a expressa referência, na ementa da Lei, à Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher e à Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Sendo a lei inserida no ordenamento jurídico pátrio, sua análise é necessária à luz dos princípios constitucionais, penais e processuais penais, busca se verificar até que ponto o Estado tem legitimidade para intervir na liberdade dos cidadãos e se o bem jurídico tutelado pela Lei nº 11.340/2006, já não possuía proteção legal ou se, ainda assim, mereceria destaque especial com novos instrumentos em legislação própria. O questionamento acerca de sua constitucionalidade tem dois posicionamentos. Os que defendem a inconstitucionalidade asseveram, em apertada síntese, que a lei fere o princípio da isonomia, estabelecendo discriminação entre homens e mulheres somente em função do sexo, suprimindo um direito fundamental assegurado pelo legislador constituinte originário. Por outro lado, defensores da constitucionalidade da lei buscam fundamentála na necessidade do Estado agir positivamente através da adoção de ações afirmativas, para garantir não só a igualdade formal entre homens e mulheres, mas também a igualdade no plano material, por meio de implementação de políticas 10 públicas para a superação das desigualdades que existem factualmente entre homens e mulheres. Ao tutelar exclusivamente, com base no gênero, mulher, evidenciam-se discussões não menos relevantes também quanto à efetividade da nova lei, como instrumento hábil, ou não, a diminuir os índices de violência doméstica e familiar contra a mulher, isso porque, por força do artigo 41, afastou-se os institutos despenalizadores previstos na Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995 (Lei dos Juizados Especiais Criminais). Portanto, questiona-se a constitucionalidade desse dispositivo da Lei nº 11.340/06, uma vez que a Constituição Federal estabeleceu a criação dos Juizados Especiais Criminais para o processo e julgamento dos crimes de menor potencial ofensivo (artigo 98, inciso I, da Constituição Federal), definidos, dentre eles, delitos cuja reprimenda penal máxima não ultrapasse 2 (dois) anos (artigo 61 da Lei 9.099/05 e artigo 2º, parágrafo único, da Lei 10.259/01), possibilitando a aplicação de diversos benefícios ao acusado. Esta monografia foi escolhida em face das grandes discussões em torno de seus dispositivos, que se limitam à proteção específica da mulher, levando-se em consideração a igualdade entre homens e mulheres em direito e obrigações, cogitando-se sobre a constitucionalidade dessa medida. A pouco tempo não se cogitava na necessidade de uma tutela legal específica em torno de conflitos gerados no seio familiar, onde não havia a intervenção estatal, sendo tratados como meros problemas intrafamiliares, mas que aos poucos se revelaram como um problema social, uma vez que a família é a base da sociedade, sendo assim reconhecida pelo próprio legislador constituinte, o qual destacou no artigo 226, caput, da Constituição Federa, que “a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”. É de grande importância este tema, pois uma vez sendo reconhecida a necessidade do Estado intervir nas relações intrafamiliares com o objetivo de tutelar a mulher contra a violência em seu ambiente doméstico, familiar ou de intimidade (artigo 5º, da Lei nº 11.340/06), a lei traz avanços e também questionamentos acerca da legalidade dessa medida. Contudo devem ser objeto de estudo e análise, pois inserem novos conceitos e importantes instrumentos legais de repressão e prevenção à violência doméstica e familiar. 11 Será analisado o instituto da discriminação positiva, tema relacionado diretamente com o princípio da igualdade, que tem por objetivo combater a discriminação e implementar medidas para erradicar a violência, não só de gênero, superando a igualdade formal para estabelecer a igualdade material entre homens e mulheres. Para o desenvolvimento desta monografia, foi utilizado o método dedutivo de abordagem, o qual parte do geral, com o emprego da técnica de pesquisa bibliográfica, com consultas a livros jurídicos, artigos de revistas especializadas e publicados na internet, pautando-se ainda pelo método teleológico ou interpretativo. A pesquisa é composta de três capítulos, sendo o primeiro acerca das considerações gerais da Lei nº 11340/2006; o segundo referente violência de gênero; e o terceiro sobre ação penal e o tipo de ação penal cabível aos crimes de lesão corporal leve na lei 11.340/06. Com efeito, o primeiro capítulo preconiza o estudo da Lei nº 11.340/2006. O capítulo discorre sobre a origem da Lei Maria da Penha sua denominação e situação atual. Nesse contexto, também trata do bem jurídico tutelado. O segundo capítulo trata da violência de gênero e das formas que esta pode se manifestar, quais sejam, violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. O capítulo também dispõe a respeito das razões históricas da ascendência masculina sobre a mulher e da violência de gênero como forma de violação dos direitos humanos inerentes à mulher. Ainda no capítulo dois é feito o estudo do espaço de ocorrência da violência doméstica, bem como os possíveis fatores que podem causá-la. O terceiro capítulo é de extrema importância, porquanto, versará sobre a ação penal e tipo de ação penal cabível aos crimes de lesão corporal leve na Lei 11.340/06. Para tanto, mister fez-se necessário a análise da competência do sujeito ativo; do sujeito passivo e a representação nos crimes de lesão corporal leve do parágrafo 9º do artigo 129 do Código Penal. 12 CAPÍTULO 1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE A LEI MARIA DA PENHA Em vigor desde o dia 22 de setembro último, a Lei nº 11.340/2006, conhecida como “Lei Maria da Penha” em homenagem a uma mulher vítima de violência doméstica, responsável pela criação de mecanismos que visam coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher veio com a missão de proporcionar instrumentos adequados para enfrentar um problema em que aflige uma grande parte das mulheres no Brasil e no mundo, que é a violência de gênero, revela-se no presente trabalho, como a principal base de estudo 1 . A República Federativa do Brasil assinou a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (Convenção CEDAW), em 31 de março de 1981, sendo ratificada pelo Congresso Nacional, em 1º de fevereiro de 1984, com reservas a alguns dispositivos, porquanto, à época, a fim de compatibilizar suas normas com o ordenamento jurídico pátrio, afastou a disposição concernente à igualdade de direitos e obrigações entre homens e mulheres no âmbito da família, o que o ordenamento jurídico pátrio, afastou a disposição concernente à igualdade de direitos e obrigações entre homens e mulheres no âmbito da família, o que de fato não existia. 2 Todavia, em face do nascimento da nova ordem jurídica, como corolário da Carta Política de 1988, responsável em determinar a igualdade entre homens e mulheres, particularmente no que se refere à relação conjugal, o governo brasileiro, em 1994, retirou as reservas ratificando integralmente a Convenção. 3 Posteriormente, em 27 de novembro de 1995, o Brasil ratificou a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará) 4 , após ser adotada, em 06 de junho de 1994, pela Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA). Após o comprometimento da República Federativa do Brasil, perante a comunidade internacional, em combater a violência e a discriminação contra a 1 GOMES, Luiz Flávio; BIANCHINI, Alice. Aspectos criminais da lei de Violência contra a Mulher. Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 1169, 13 set. 2006. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8916>. Acesso em: 18 abr. 2008. 22 Decreto Legislativo 26/94. BRASIL. Código penal. Coordenação de Antonio Luiz de Toledo Pinto, Márcia Cristina Vaz dos Santos Windt e Lívia Céspedes. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 3 Decreto Presidencial 4.377/02. BRASIL. Código penal. Coordenação de Antonio Luiz de Toledo Pinto, Márcia Cristina Vaz dos Santos Windt e Lívia Céspedes. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 4 Decreto Legislativo 107.95. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2006. 13 mulher, fazia-se necessário, no plano interno, a adoção de medidas que consubstanciassem o convencionado. 5 1.1 ORIGEM DA “LEI MARIA DA PENHA” SUA DENOMINAÇÃO E SITUAÇÃO ATUAL A autora Leda Maria Hermann, ilustrou com brilhantismo a música de Milton Nascimento para falar da origem da Lei em seu livro. Ao longo da travessia, muitas foram as Marias que fizeram diferença. Não importa se atendiam literalmente pelo nome. Foram e são, todas elas, retratos – na maior parte das vezes anônimos – da Maria de Milton Nascimento e Fernando Brant – Maria que é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Essas tantas Marias levantaram bandeiras, conquistaram espaços, saíram às praças e ruas, lutaram pelo voto e pelo direito de greve, pela igualdade de oportunidades e salários, por respeito e inclusão num mundo racional e masculino. Em alguns momentos da trajetória declararam guerra aos homens; em outros, aderiram à racionalidade competitiva do paradigma masculino, para conquistar seu lugar no mercado de trabalho e nos espaço públicos. Ainda sofrem discriminação nos salários; ainda são minoria nos lugares de Poder; ainda precisam provar em dobro capacidade e competência para manterem suas 6 vitórias. A origem da Lei 11.340/2006, além das recomendações feitas pela Comissão interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, está na ineficácia da Lei 9.099/1995, que regulava o tema e em que incidia seus institutos despenalizadores, bem como nas legislações especiais sobre a violência contra a mulher e nos modelos de medidas cautelares civis e criminais então vigentes. 7 A denominação do caso Maria da Penha ocorreu em maio de 1983, em Fortaleza, Ceará, envolvendo a biofarmacêutica Cearense Maria da Penha Maia Fernandes que, na ocasião, sofreu tentativa de homicídio provocada pelo então marido Marco Antônio Heredia Viveiros, professor na Faculdade de Economia. A vítima recebera, na ocasião, um tiro nas costas que a tornou paraplégica. O caso se 5 Dec. Pres. 1973/96. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2006. 6 HERMANN, Leda Maria. Maria da Penha Lei com nome de mulher: considerações à Lei nº 11.340/2006: contra a violência doméstica e familiar, incluindo comentários artigo por artigo. Campinas, SP: Servanda Editora, 2008. p. 15-16. 7 BASTOS, Marcelo Lessa. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Lei “Maria da Penha” Alguns comentários. Jus Navigandi, ano 10, n. 1189, 3 out. 2006. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=9006>. Acesso em: 18 abr. 2008. 14 tornou emblemático na medida em que o réu foi condenado em duas ocasiões (1991 e 1996), mas não chegou a ser preso, recorrendo sempre em liberdade. 8 Maria da Penha se mobilizou e procurou os organismos internacionais, a saber, o Comitê Latino Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher (Cladem), bem como o Centro para a Justiça e o Direito Internacional (Cejil). Em 2001, a Organização dos Estados Americanos (OEA) responsabilizou o Estado Brasileiro por negligência e omissão em relação à violência doméstica e recomendou a tomada de medidas com base no Caso Maria da Penha. Marco Antônio acabou sendo preso apenas em 2003, ou seja, 20 anos depois do fato, acompanhado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Tudo isso redundou na criação da Lei 9 11.340/2006. A lei fundou-se em normas e diretrizes consagradas na Constituição Federal, artigo 226, parágrafo 8º, na Convenção da Organização das Nações Unidas sobre a eliminação de todas as formas de violência contra a mulher e na Convenção interamericana para Punir e Erradicar a Violência contra a mulher. Registre-se o admirável fundamento político-jurídico da lei. Em cerimônia realizada no Palácio do Planalto, o Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, em 07 de agosto de 2006, com a presença de várias autoridades e de Maria da Penha Maia Fernandes, promulgou a Lei 11.340/2006. Em justíssima homenagem à luta pela justiça de Maria da Penha Fernandes, que ficou marcada para sempre física e psicologicamente pela violência sofrida, mas teve força e coragem para lutar contra a violência doméstica, a lei foi denominada “Maria da Penha”, e entrou em vigor em 22 de setembro de 2006. 10 Segundo dados obtidos em reportagem, publicada na internet, que trata do progresso das mulheres no Brasil. Esta reportagem relata o caso “Maria da Penha” expondo sobre a condenação de seu marido, Marcos Antônio Heredias Viveiros, autor de homicídio contra Maria da Penha Maia Fernandes. Dispõe sobre a condenação de Marco Antônio a pena de 10 anos, da qual não cumpriu 1/3 em regime fechado. Preso em setembro de 2002, foi posto em regime aberto, retornando para o Estado do Rio Grande do Norte. 11 8 SOUZA, Luiz Antônio de; KÜMPEL, Vitor Frederico. Violência doméstica e familiar contra a mulher: Lei 11.340/2006. São Paulo: Método, 2007. p. 15. 9 CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Violência doméstica (Lei Maria da Penha): Lei 11.340/2006. Comentada artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. P.11-12. 10 CUNHA; PINTO, 2007, p. 10 11 SOUZA; KÜMPEL, 2007, p. 15-16. 15 É de se lembrar que à época em que foi perpetrado o crime, no ano de 1983, ainda não entrara em vigor a Lei 8.930/94 (etiquetando o homicídio qualificado como hediondo), o que permitiu a progressão de regime ao condenado. 12 Dentre as deliberações tomadas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, encontra-se o pagamento de uma indenização de 20 mil dólares em favor de Maria da Penha, a título de reparação pelo dano sofrido. Esse pagamento, segundo a reportagem acima mencionada, é objeto de discussão entre a Secretaria Especial de Políticas para Mulheres (SPM) e governo do Estado do Ceará. Contando 61 anos de idade, completados em fevereiro de 2006, Maria da Penha se tornou uma das coordenadoras da Associação dos Parentes e Amigos de Vítimas de Violência (APAVV), na cidade de Fortaleza. Conforme relatou Angela Santos, em reportagem publicada na Internet, Maria da Penha afirmou: . 13 Por indicação da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM), Maria da Penha recebeu, em fevereiro de 2005, do Senado Federal, o prêmio Mulher Cidadã Bertha Lutz, atribuído àquelas que se destacam na defesa dos direitos das mulheres. 14 Para mim foi muitíssimo importante denunciar a agressão, porque ficou registrado internacionalmente, através do meu caso, que eram inúmeras as vítimas do machismo e da falta de compromisso do Estado para acabar com a impunidade. Me senti recompensada por todos os momentos nos quais, mesmo morrendo de vergonha, expunha minha indignação e pedia justiça para meu caso não ser esquecido. 15 Atualmente, com sete anos de atraso, Maria da Penha Maia Fernandes, 63 anos, que deu o nome à lei que pune com mais rigidez os agressores de mulheres, receberá uma indenização de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), do governo do Ceará. Em 2001, a cearense conseguiu uma vitória na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA (Organização dos Estados Americanos), que determinou que o Estado do Ceará pagasse uma indenização de US$ 20 mil por não ter punido judicialmente o homem que a agredia e que até tentou mata-la: seu ex marido. Após 12 CUNHA; PINTO, 2007, p. 15. CUNHA; PINTO, 2007, p. 15-16. 14 CUNHA; PINTO, 2007, p. 15-16. 15 SANTOS, Angela. Violência doméstica: um caso exemplar. Disponível em: <www.mulheresnobrasil.org.br>. Acesso em: 10 out. 2007. 13 16 postergar o pagamento, o Estado decidiu finalmente pagá-la, em valores corrigidos. 16 1.2 ANTECEDENTES LEGISLATIVOS Pode-se mencionar como antecedentes legislativo, no que se refere a disposições normativas voltadas à proteção de vítimas de violência doméstica, a Lei 10.455/02, que acrescentou ao parágrafo único do art. 69, da Lei 9.099/95, a possibilidade de o juiz determinar, como medida cautelar, o afastamento do autor do fato do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima. 17 Outro antecedente ocorreu em 2004, com a lei 10.886/04, de 17 de junho de 2004, que a violência doméstica passou a ser disciplinada especificamente como crime, porquanto, ao promover alterações no art. 129 do Código Penal, acrescentando os parágrafos 9º e 10, criou o tipo de lesão corporal leve, decorrente de violência doméstica, aumentando a pena mínima de 3 (três) para 6 (seis) meses. 18 Mesmo com as alterações propostas pelas Leis 10.445/02 e 10.886/04, a violência doméstica continua acumulando altos índices, isso porque, segundo alguns estudiosos, “a questão continua sob o crivo dos Juizados Especiais Criminais e sob a incidência dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/1995”. 19 Segue a marcha legislativa, em busca de instrumentos jurídicos voltados a prevenir e a coibir a violência doméstica, surgindo, em 08 de agosto de 2006, a Lei 11.340/06, após aprovação do Projeto de Lei nº 4559, de 2004, fruto do Grupo de Trabalho Interministerial criado pelo Decreto nº 5.030, de 31 de março de 2004, à qual passou a ser conhecida como Lei Maria da Penha. 20 16 Informação recebida por e-mail, no dia 13 de março de 2008. BASTOS, Marcelo Lessa. A violência doméstica contra a mulher e a Lei nº 11.340/06. Revista da EMERJ, v. 9, n. 37, p. 134-135, 2007. 18 “Art. 129... 19 BASTOS, Marcelo Lessa. Violência doméstica e familiar contra a mulher: Lei “Maria da Penha”. Alguns comentários. ADV Advocacia Dinâmica: Seleções Jurídicas, n. 37, p. 1, dez. 2006. 20 BASTOS, n. 37, p. 1, dez 2006. 17 17 1.3 A LEI MARIA DA PENHA E O BEM JURÍDICO TUTELADO A Lei “Maria da Penha” criou um binômio para a incidência do objeto tutelado, composto de um elemento formal e de um elemento espacial. No que diz respeito à forma, para que incida a norma jurídica, é imprescindível a ocorrência do efeito morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano patrimonial ou moral em relação à mulher. Observe-se que o artigo 5º, caput, não se preocupa com a causa, tanto que a lei é expressa ao dizer “qualquer ação ou omissão”. Basta o efeito acima para que incida formalmente a Lei de Violência contra a Mulher para a defesa da mulher. 21 O bem jurídico tutelado pela Lei Maria da Penha, como se vê, é a integridade da mulher, física, moral e econômica, abarcando desde a tutela mais gravosa, correspondente à morte, passando pela lesão corporal e culminando com qualquer espécie de sofrimento. 22 Porém, somado ao primeiro elemento, é imprescindível o segundo, de natureza espacial. A Lei de Violência contra a Mulher, no artigo 5º, caput, considera violência doméstica e familiar contra a mulher, para os efeitos da legislação, “qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial”, ocorrida: I – no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou em vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. II – no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. III – em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Parágrafo único. As relações pessoais independem de orientação sexual. 23 enunciadas neste artigo O legislador fixou o referido âmbito espacial para a incidência da tutela acima descrita e que compreende as relações de casamento, união estável, família monoparental, família homoafetiva, família adotiva, vínculos de parentesco em sentido amplo e ainda introduz a ideia de família de fato, compreendendo, esta 21 SOUZA; KÜMPEL, 2007, p. 69. SOUZA; KÜMPEL, 2007, p. 69. 23 SOUZA; KÜMPEL, 2007, p. 70. 22 18 última, pessoas que não tem vínculo jurídico familiar, mas que se consideram aparentadas, como amigos muito próximos e até pessoas que se agregam para fins outros como o caso de repúblicas, casas abrigo e albergues. 24 É bom deixar assentado que muito embora tenha sido enunciadas de maneira bastante clara a enorme incidência de relações familiares e a nova noção de família de fato, que liga pessoas que meramente se consideram próximas pelos mais variados motivos (desde a finalidade econômica e assistencial, até a contratual), o legislador fez incluir expressamente os homossexuais quando estabeleceu no parágrafo único ser irrelevante a orientação sexual para fins de proteção legal. 25 Diante do amplo espectro da lei até relações protegidas pelo biodireito passam a estar tuteladas, de maneira que, se o transexual fizer cirurgia modificativa de sexo e passar a ser considerada mulher no registro civil, terá efetiva proteção. 26 Enunciando de maneira didática, concluíram que estão espacialmente albergadas as seguintes categorias: os cônjuges, os companheiros, os concubinos, os namorados, os amigos, a família mono parenteral, os parentes consanguíneos, afins e legais, os que se consideram meramente aparentados, todos que tenham qualquer espécie de relação pessoal ou familiar, os que já coabitaram e que não o fizeram. O legislador preocupou-se, especialmente, com outras pessoas não mencionadas acima e que tenham participado de alguma maneira do espaço físico considerado unidade doméstica. Aqui estão incluídos todos os empregados domésticos, porteiros, recepcionistas, motoristas e diaristas (as esporadicamente agregadas, consoante o artigo 5º, inciso I). ou seja, qualquer pessoa que comungue, ainda que por uma única vez, no cuidado de um idoso. Se ambas forem agredidas, terão integral proteção da Lei de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Corroborando esse entendimento, estabelece o item 16 da Exposição de motivos que “As relações e o espaço intra familiares foram historicamente interpretados como restritos e privados, proporcionando a complacência e a impunidade”. Aí está o motivo da importância do critério espacial a demonstrar que a tutela da lei é ampla e irrestrita e que, mesmo tendo índole privada, passa a ter natureza pública. 27 24 SOUZA; KÜMPEL, 2007, p. 70. SOUZA; KÜMPEL, 2007, p. 70. 26 SOUZA; KÜMPEL, 2007, p. 70-71. 27 SOUZA KÜMPEL, 2007, p. 71. 25 19 CAPÍTULO 2 - VIOLÊNCIA DE GÊNERO A Lei nº 11340/2006 é voltada para a prevenção e repressão da chamada “violência de gênero”, o gênero, no entanto, aborda diferenças sócio-culturais existentes entre os sexos masculino e feminino, que se traduzem em desigualdades econômicas e políticas, colocando as mulheres em posição inferior à dos homens, nas diferentes áreas da vida humana. O estudo das ciências humanas, com o uso da categoria gênero, não só tem revelado a situação desigual entre mulheres e homens, bem como tem mostrado que a desigualdade não é natural e pode, portanto, ser transformada em igualdade, promovendo relações democráticas entre os sexos. Segundo Amini Haddad Campos e Lindinalva Rodrigues Corrêa, Compreender a difícil tarefa pretendida pela Lei nº 11.340/06, denominada Lei Maria da Penha, significa observar que o mundo manteve, secularmente, a legitimidade da violência de gênero, tornando esta, portanto, institucionalizada, como enfoques estigmatizados da cultura e da religião, impondo à mulher, consequentemente, uma vida de subjugação. 28 Dando seguimento ao pensamento das Autoras sobre a violência Institucional de gênero, elas citam que a trajetória da mulher, no mundo, não tem sido tarefa fácil. Aliás, para alcance de alguns direitos, destacando-se o exercício da cidadania e a potencialidade de participar dos caminhos governamentais, a mulher muito arrostou, até conseguir estabelecer direito pelas mulheres, no mundo: Nova Zelândia – 1893; Alemanha – 1918: Suécia- 1919; Estados Unidos – 1920; Brasil – 1934; Canadá – 1940; China – 1949; Índia – 1950; México – 1953; Suíça – 1971; Iraque – 1980; África do Sul – 1994; (ainda hoje com restrições do apartheid); Kwait – as mulheres ainda não tinham o direito de votar, na data da referida pesquisa. Inter-Parliamentary Union (Fev. 13, 2004). 29 A história de subjugação da mulher teve seu início há aproximadamente 4.000 a.C, já que, na antiguidade, havia tribos lideradas por mulheres, sendo que na Gália, antes da invasão pelos romanos, era cultuada a religião denominada druidismo, a 28 CAMPOS, Amini Haddad; CORRÊA, Lindinalva Rodrigues. Direitos humanos das mulheres. [s. l.]: Juruá Editora, 2007. p. 99. 29 CAMPOS; CORRÊA, 2007, p. 99. 20 mesma crença dos celtas da Bretanha, atualmente território da Irlanda e Escócia. Para celtas e gauleses, a mulher era considerada a única fonte da vida. Deus era feminino, uma que a mulher dava à luz. Era a sociedade matrifocal. Tal sociedade teria existido na Europa e na Ásia, aproximadamente no ano 35.000 a. C., quando invasores foram introduzindo a cultura da guerra e da sociedade patriarcal. A ideologia da superioridade do homem e, consequente subordinação da mulher, tem pelo menos 2.500 anos. 30 Alguns dados interessantes são necessários para o esclarecimento das vivências sexistas na contemporaneidade. Na Alexandria, no século I d.C. Filon, filósofo helenista, lançou raízes argumentativas e ideológicas para a subordinação das mulheres no mundo ocidental. De igual forma, para Platão, a mulher tinha alma inferior e pouca racionalidade, vertendo-lhe os adjetivos de insensata, sensual e carnal, cheia de vaidade e cobiça, “apesar de ter sido criada a partir do homem”. Para Aristóteles, a fêmea era um macho mutilado. O conhecimento racional era a mais alta conquista humana, e assim, os homens, seriam superiores e mais divinos que as mulheres, descritas como monstros desviados do tipo genérico humano, 31 emocionais e subjetivas. Leda Maria Hermann, cita que há aproximadamente vinte mil anos, quando os homens descobriram sua função reprodutora, intensificou-se a afirmação do patriarcado. A convergência do masculino e do feminino, que harmonizava as relações de poder e a convivência social e comunitária nas sociedades matriarcais transformou-se em cisão, separando homens e mulheres: a mulher passou a ocupar o espaço recluso da casa; o homem assumiu o domínio público. O poder, antes serviço à comunidade tornou-se predominante: o homem passou a dominar; a mulher, a ser dominada. Estava plantada a semente da violência no seio das relações de gênero. 32 Desde a Antiguidade e ao longe da Idade Média e da idade Moderna, filhas mulheres eram indesejáveis, pois não serviam à perpetuação da linhagem paterna e ao serviço pesado da lavoura e do pastoreio; só para os trabalhos domésticos, pouco lucrativos e, portanto, inferiores. Os casamentos eram decididos pelo pai, que tinha o dever de ofertar ao pretendente um dote, como compensação pelo encargo de manter e sustentar, a partir dali, a mulher que tomava por esposa. Da 30 CAMPOS; CORRÊA, 2007, p. 99-100. CAMPOS; CORRÊA, 2007, p. 99-100. 32 HERMANN, 2008, p. 51-52. 31 21 subserviência à figura paterna a mulher passava diretamente à submissão e obediência ao marido. 33 Restava-lhe a tarefa de parir e criar filhos e de, na sombra, providenciar fiel e diligentemente o bem estar do seu homem provedor. Essa dominação do mais forte sobre o mais fraco, fundamento do patriarcado, não afetou apenas as relações homem e mulher; influiu decisivamente para a edificação de uma estrutura política hierarquizada, de discriminação com base no gênero, raça, etnia, classe, cor, crença e outros preconceitos, mecanismos vivos e dinâmicos de exclusão e tirania, que surtem efeitos desagregadores e vitimizadores até os dias de hoje, marginalizando mulheres, negros, homossexuais e pobres. 34 Como se vê, o desequilíbrio das relações de poder pautado no gênero atravessa todos os espaços estruturais onde essas relações acontecem. A resistência declarada a esse quadro de dominação, representada pelos movimentos feministas, diz que a Lei Maria da Penha é o protótipo dessa dicotomia e a confirmação de que na contramão do momento histórico presente a sociedade, o Estado e as próprias mulheres persistem na sobrevalorização da intervenção penal como instância de enfrentamento da violência doméstica. 35 Vale ressaltar que já existe farta jurisprudência no sentido de reconhecer a constitucionalidade da Lei Maria da penha, a exemplo do seguinte julgado. CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÕES CORPORAIS – INCONSTITUCIONALIDE – INOCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – PENA EXACERADA – REDUÇÃO –SUBSTITUIÇÃO OU SUSPENSÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE. 1) Ainda que a Lei 11.340/06 contenha pontos polêmicos e questionáveis, não há que se falar em inconstitucionalidade da chamada Lei Maria da penha, pois a interpretação do princípio constitucional da igualdade ou da isonomia não pode limitar-se à forma semântica do termo, valendo lembrar que, igualdade, desde Aristóteles, significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida em que se desigualam. 2) Tendo a pena aflitiva sido fixada com certa exacerbação, impõe-se adequá-la em quantidade necessária e suficiente para reprovação e prevenção do delito. 3) Sendo o agente reincidente e tendo o delito sido praticado com violência contra pessoa, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (artigo 44), bem como a suspensão da execução da pena (artigo 77), em face da ausência de requisitos subjetivos para a sua 36 concessão. 4) Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. 33 HERMANN, 2008, p. 54. HERMANN, 2008, p. 54. 35 HERMANN, 2008, p. 68-77. 36 BRASIL. Lei nº 11.340/06, 07 de agosto de 2006. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 8 ago. 2006. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03_Ato2004-2006/Leo/L11340.htm>. Acesso em: 20 out. 2008. 34 22 Como bem salientou o Tribunal de Justiça Mineiro, mesmo que haja alguns pontos polêmicos e questionáveis na Lei Maria da Penha, devem ser estendidos seus efeitos a todos os discriminados que buscarem o Poder Judiciário, não sendo necessária a eliminação da norma no ordenamento jurídico. Seguindo esse raciocínio: LEI MARI DA PENHA (LEI 11.340/2006) – INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADA PELO JUÍZO DE 1º GRAU COMO ÓBICE À ANÁLISE DE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS REQUERIDAS – DISCRIMINAÇÃO INCONSTITUCIONAL QUE SE RESOLVE A FAVOR DA MANUTENÇÃO DA NORMA AFASTANDO-SE A DISCRIMINAÇÃO – AFASTAMENTO DO ÓBICE PARA A ANÁLISE DO PEDIDO. A inconstitucionalidade por discriminação propiciada pela Lei Federal 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) suscitada a outorga de benefício legítimo de medidas assecuratórias apenas às mulheres em situação de violência doméstica, quando o art. 5º, II, c/c art. 226, parágrafo 8º, da Constituição Federal, não possibilitaria discriminação aos homens em igual situação, de modo a incidir em inconstitucionalidade relativa, em face do princípio da isonomia. Tal inconstitucionalidade, no entanto, não autoriza a conclusão de afastamento a lei do ordenamento jurídico, mas tão somente a extensão dos seus efeitos aos discriminados que a solicitarem perante o Poder Judiciário, caso por caso, não sendo, portanto, possível a simples eliminação da norma produzida como elemento para afastar a análise do pedido de quaisquer das medidas nela prevista, porque o art. 5º, II, c/c art.21, I e art. 226, parágrafo 8º, todos da Constituição Federal se compatibilizam, propiciando a aplicação indistinta da lei em comento tanto para as mulheres como para os homens em situação de risco ou de violência decorrentes da relação familiar, inviável, por isto mesmo, a solução jurisdicional que afastou a análise de pedido de imposição de medidas assecuratórias em face da só inconstitucionalidade da legislação em comento, mormente porque o artigo 33 da referida norma de contenção, acomete a análise ao Juízo Criminal com prioridade sendo-lhe lícito determinar as provas que entenderem pertinentes e necessárias para a completa solução dos pedidos. Recurso 37 provid0 para afastar o óbice. Observando essa orientação, em decisão inédita o juiz titular do Juizado Especial criminal Unificado de Cuiabá, Mário Roberto Kono de Oliveira, determinou por analogia a aplicação de medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha a um homem que vinha sofrendo constantes ameaças da ex-companheira, após o fim do relacionamento, cuja decisão se segue: Trata-se de pedido de medita protetiva de urgência formulada por CELSO BORDEGATTO, contra MARCIA CRISTINA FERREIRA DIAS, em autos de crime de ameaça, onde o requerente figura como vítima e a requerida como autora do fato. O pedido tem por fundamento fático, as várias agressões físicas, psicológicas e financeira perpetradas pela autora dos fatos e sofridas pela vítima e, para tanto 37 MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça. Apelação Criminal nº 1.0236.07.013084-4/001. Relator: Dês. Antônio Armando dos Anjos. Publicado em: 09 nov. 2008. 23 institui o pedido com vários documentos como: registro de ocorrência, pedido de exame de corpo de delito, nota fiscal de conserto de veículo avariado pela vítima, e inúmeros e-mails difamatórios e intimidatórios enviados pela autora dos fatos à vítima. Por fundamento de direito requer a aplicação da Lei de nº 11.340/2006, denominada “Lei Maria da Penha”, por analogia, já que inexiste lei similar a ser aplicada quando o homem é vítima de violência doméstica. Resumidamente, é o relatório. DECIDO:A inovadora Lei 11.340 veio por uma necessidade premente e incontestável que consiste em trazer uma segurança à mulher vítima de violência doméstica e familiar, já que por séculos era subjugada pelo homem que, devido a sua maior compleição física e cultura machista, compelia a “fêmea” e seus caprichos, à sua vilania e tirania. Houve por bem a lei, atendendo a súplica mundial, consignados em tratados internacionais e firmados pelo Brasil, trazer um pouco de igualdade e proteção à mulher, sob o manto da justiça. Esta lei que já mostrou o seu valor e sua eficácia trouxe inovações que visam assegurar a proteção da mulher, criando normas impeditivas aos agressores de manterem a vítima sob seu julgo enquanto a morosa justiça não prolatasse a decisão final, confirmada pelo seu trânsito em julgado. Entre elas a proteção à vida, a incolumidade física, ao patrimônio, etc. embora em número consideravelmente menor, existem casos em que o homem é quem vem a ser vítima da mulher tomada por sentimentos de pose e de fúria que levam a todos os tipos de violência, diga-se: física, psicológica, moral e financeira. No entanto, como bem destacado pelo douto causídico, para estes casos não existe previsão legal de prevenção à violência, pelo que requer a aplicação da lei em comento por analogia. Tal aplicação é possível? A resposta me parece positiva. Vejamos: é certo que não podemos aplicar a lei penal por analogia quando se trata de norma incriminadora, porquanto fere o princípio da reserva legal, firmemente encabeçando os artigos de nosso Código Penal: art. 1º. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Se não podemos aplicar a analogia in malan pertem, não quer dizer que não podemos aplica-la in bonam partem, ou seja, em favor do réu quando não se tratar de norma incriminadora, como prega a boa doutrina. “Entre nós, são favoráveis ao emprego da analogia in bonam parem: José Frederico Marque, Magalhães Noronha, Aníbal Bruno, Basileu Garcia, Costa e Silva, Oscar Stevenson e Narcélio de Queiroz” (DAMÁSIO DE JESUS – Direito Penal – parte Geral – 10 ed. P. 48). Ora, se podemos aplicar a analogia para favorecer o réu, é óbvio que tal aplicação é perfeitamente válida quando o favorecido é a própria vítma de um crime. Por algumas vezes me deparei com casos em que o homem era vítima do descontrole emocional de uma mulher que não media esforços em praticar todo o tipo de agressão possível contr o homem. Já fui obrigado a decretar a custódia preventiva de mulheres “à beira de um ataque de nervos”, que chegaram a tentar contra a vida de seus ex-consorte, por pura e simplesmente não concordar com o fim de um relacionamento amoroso. Não é vergonha nenhuma o home se socorrer ao Poder Judiciário para fazer cessar as agressões da qual vem sendo vítima. Também não é ato de covardia. É sim, ato de sensatez, já que não procura homem/vítima se utilizar de atos também violentos como demonstração de força ou de vingança. E compete à justiça fazer o seu papel de envidar todos os esforços em buscar de uma solução de conflitos, em busca de uma paz social. No presente caso, há elementos probantes mais do que suficientes para demonstrar a necessidade de se deferir a medidas protetivas de 24 urgência requerida, pelo que defiro o pedido e determino à autora do fato o seguinte: 1) que se abstenha de se aproximar da vítima, a uma distância inferior a 500 metros, incluindo sua moradia e local de trabalho; 2) que se abstenha de manter qualquer contato com a vítima, seja por telefone, email, ou qualquer outro meio direto ou indireto. Expeça-se o competente mandado e consigne-se no mesmo a advertência de que o descumprimento desta decisão poderá importar em crime de desobediência e até em prisão. 38 Não há que se falar em afastamento da lei do ordenamento jurídico sob ofensa à isonomia, mas aplica-la por analogia àqueles que buscarem o Poder Judiciário. 2.1 Definição de violência de gênero O conceito de violência de gênero deve ser entendido como uma relação de poder de dominação do homem e de submissão da mulher. Ele demonstra que os papéis impostos às mulheres e aos homens, consolidados ao longo da história e reforçados pelo patriarcado e sua ideologia, induzem relações violentas entre os sexos e indica que a prática desse tipo de violência não é fruto da natureza, mas sim do processo de socialização das pessoas. 39 Assim não é a natureza a responsável pelos padrões e limites sociais que determinam comportamentos agressivos aos homens e dóceis e submissos das mulheres. Os costumes, a educação e os meios de comunicação tratam de criar e preservar estereótipos que reforçam a ideia de que o sexo masculino tem o poder de controlar os desejos, as opiniões e a liberdade de ir e vir das mulheres. 40 Em pesquisa realizada pelo Conselho Nacional dos Direitos humanos da Mulher, a violência de gênero é concebida como resultado “das motivações que hegemonicamente levam sujeitos a interagirem em contexto marcados por e pela violência”. O trabalho ressalta que “a prática da violência doméstica e sexual emerge 38 ALMEIDA, Patrícia Donati de. Justiça de Cuiabá aplica medidas protetivas da Lei Maria da Penha a homem vítima de ameaça. Disponível em: <http://www.jusbrasil.com.br/noticias/156687/justica-de-cuiaba-aplica-medidas-protetivas-da-lei-mariada-penha-a-homem-vitima-de-ameaca>. Acesso em: 7 maio 2009. 39 CAVALCANTI, Stela Valéria Soares de Farias. A violência doméstica como violação dos direitos humanos. Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 901, 21 dez. 2005. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp? id=7753> .Acesso em: 4 mar. 2009. 40 CAVALCANTI, 2005. 25 nas situações em que uma ou ambas as partes envolvidas em um relacionamento não cumprem os papéis e funções de gênero imaginadas como naturais pelo parceiro. Não se comportam, portanto, de acordo com as expectativas e investimentos do parceiro, ou qualquer outro ator envolvido na relação”. 41 A própria expressão violência contra a mulher foi assim concebida por ser praticada contra pessoa do sexo feminino, apenas e simplesmente pela sua condição de mulher. Essa expressão significa a intimidação da mulher pelo homem, que desempenha o papel de seu agressor, seu dominador e seu disciplinador. 42 Nesse contexto, violência contra a mulher é qualquer ação ou conduta que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no privado, motivada apenas pela sua condição de mulher. 43 2.2 FORMAS DE MANIFESTAÇÃO DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO A Lei Maria da penha estabeleceu cinco formas de violência que são: violência física, violência psicológica, violência sexual, violência patriarcal e violência moral. Há um lugar, entretanto, em que Marias e Marias debatem-se entre amor e ódio, entre a carícia e o bofetão, entre a doçura da intimidade e o gravame da ofensa: dentro de casa. Este é, sem dúvida, o lugar físico e simbólico onde a angústia de centenas de Marias é retrato da mais insana das dores: a dor do amor que vira ódio para depois tornar a ser amor; a dor da confiança que se transforma em decepção e em seguida cede espaço à esperança. 44 A legislação em questão, no artigo 7º, enumera as formas de manifestação de violência de forma genérica, levando o operador a interpretá-lo de maneira aberta, enunciativa, isso porque estão apontadas em numerus apertus, em razão da expressão “entre outras” no dispositivo, sempre presumindo em favor da mulher, 41 CAVALCANTI, 2005. CAVALCANTI, 2005. 43 CAVALCANTI, 2005. 44 HERMANN, 2008, p. 16. 42 26 criando, pois, regra enunciativa e orientadora das principais condutas, que são as seguintes: 45 2.2.1 Violência física A preocupação básica do dispositivo é deixar estabelecida a espécie de violência que, uma vez referendada na norma penal, terá imediata aplicação. Podese vislumbrar essa espécie de violência na contravenção de vis de fato, nos crimes de lesão corporal e contra a vida (homicídio, aborto, induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio), inclusive na forma tentada e em qualquer conduta que ofenda a integridade anatômica e fisiológica da mulher, ou a sua saúde mental (como, por exemplo, os crimes contra a liberdade sexual mediante violência física, tais como os relacionados nos artigos. 213 e 214 do CP), estando abarcados os crimes especiais do Estatuto da Criança e do Adolescente (lei 8.069/1990). 46 inciso I - violência física - é entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal. Quanto à integridade física, o conceito transcrito no Inciso I do dispositivo é expresso em considerar violentas condutas que ofendam, também, a saúde corporal da mulher, incluindo, por consequência, ações ou omissões que resultem em prejuízo à condição saudável do corpo. Conduta omissiva possível é a negligência, no sentido de privação de alimentos, cuidados indispensáveis e tratamento médico/medicamentoso a mulher doente ou de qualquer forma fragilizada em sua saúde, por parte de marido, companheiro, filho, familiares e afins. 47 É a mais comum e conhecida da população em geral, para muitos desconhecedores do alcance da lei, à única tutelada. É a facada, a surra, o pontapé, a queimadura, o beliscão, o chute, etc. Já a ofensa à integridade corpórea da mulher é aquela relacionada à saúde, à condição saudável da mulher. Não é uma agressão propriamente dita. Assim como a 45 SOUZA; KÜMPEL, 2007, p. 71-72. SOUZA; KÜMPEL, 2007, p. 71-72. 47 HERMANN, 2008, p. 108. 46 27 ofensa à integridade física, se dá por ações e omissões, contudo, difere desta porque atinge a saúde da mulher como um todo, deixando-a suscetível a doenças. Alguns autores que é uma inovação da lei, podendo-se citar como exemplo desse tipo de violência a inanição proporcionada pelo marido à esposa, é aquela mulher que está doente e o marido não a leva ao médico, agravando seu estado de saúde, muitas vezes xingando-a, ofendendo-a. 2.2.2 Violência psicológica Trata-se de previsão que não estava contida na legislação pátria, mas a violência psicológica foi incorporada ao conceito de violência contra a mulher na Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Doméstica, conhecida momo Convenção de Belém do Pará. É a proteção da auto-estima e da saúde psicológica. Consiste na agressão emocional (tão ou mais grave que a física). O comportamento típico se dá quando o agente ameaça, rejeita, humilha ou discrimina a vítima, demonstrando prazer quando vê o outro se sentir amedrontado, inferiorizado e diminuído, configurando a vis compulsiva. 48 O inciso II – violência psicológica – entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da auto-estima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou, ainda, que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. O alcance dessa forma de manifestação da violência é amplo, tanto que o seu exercício pode configurar vários crimes, como, por exemplo: constrangimento ilegal (CP, artigo 146); ameaça (CP, artigo 147); sequestro e cárcere privado (CP, artigo 148); redução à condição análoga à de escravo (CP, artigo 149; violação de domicílio (CP, artigo 150); violação de correspondência (CP, artigo 151); roubo (CP artigo 157); extorsão (CP, artigo 158); extorsão mediante sequestro (CP, artigo 159); 48 DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça: a efetividade da Lei 11.340/2006 de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 47. 28 crimes contra a liberdade sexual mediante violência moral (CP, artigo. 213; CP, artigo. 214); e por força de constrangimento (CP, artigo 216-A). 49 É aquela que lhe imobiliza, que lhe retira a identidade bem como a capacidade de reação e autodeterminação, de pensar por si próprio, de traçar e concretizar planos de vida . É uma patologia que causa danos emocionais gravíssimos na mulher vitimada, deixando-a completamente sem forças de lutar contra a violência psicológica empregada por seu agressor. Assim, ocorre com a diminuição contínua ou aniquilação das qualidades da mulher, por exemplo quando se diz que determinada mulher não presta para nada, que é um estorvo que ninguém quer, ocorrendo também em casos de vigilância constante, limitando o direito de ir e vir da mulher, privação do convívio com familiares e outras pessoas, a isolando dentro dos limites delineados pelo agressor. 2.2.3 Violência sexual Segundo Maria Berenice Dias, houve uma certa resistência da doutrina e da jurisprudência em admitir a possibilidade da ocorrência de violência sexual nos vínculos familiares. A tendência sempre foi identificar o exercício da sexualidade como um dos deveres do casamento, a legitimar a insistência do homem, como se estivesse ele a exercer um direito. 50 O inciso III – violência sexual – entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais ou reprodutivos. 49 50 SOUZA; KÜMPEL, 2007, p. 72. DIAS, 2007, p. 47. 29 Essa forma de manifestação de violência normalmente ocorre nos delitos sexuais (que envolvem constrangimento), tráfico de mulheres e exploração sexual de crianças e adolescentes. 51 Pela lei, assegura-se o direito da mulher, dentro do matrimônio, de dizer sim ou não a qualquer relação sexual, afastando, por completo, o antiquado e nefasto declarado “direito do homem” a consumar o ato sexual quando bem entendesse, sem que estivesse praticando violência contra a mulher. 2.2.4 Violência patrimonial A Lei Maria da Penha reconhece como violência patrimonial o ato de “subtrair” objetos da mulher, o que nada mais é do que furtar. Assim, se subtrair para si coisa alheia móvel configura o delito de furto, quando a vítima é mulher com quem o agente mantém relação de ordem afetiva, não se pode mais reconhecer a possibilidade de isenção da pena. O mesmo se diga com relação à apropriação indébita e ao delito de dano. É violência patrimonial “apropriar” e “destruir”, os mesmos verbos utilizados pela lei penal para configurar tais crimes. Perpetrados contra a mulher, dentro de um contexto de ordem familiar, o crime não desaparece e nem fica sujeito à representação. 52 O Inciso IV – violência patrimonial – entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. O Autor cita que neste inciso IV estão os crimes contra o patrimônio de maneira geral e contra a assistência familiar. 53 Interessa também avaliar o impacto da Lei 11.340/2006 sobre os crimes contra o patrimônio, uma vez que o artigo 7º da mencionada Lei, no seu inciso IV, inclui a “violência patrimonial” dentre as categorias de violência contra a mulher, conceituando-a como qualquer conduta que configure retenção, subtração, 51 SOUZA; KÜMPEL, 2007, p.72. DIAS, 2007, p. 52. 53 SOUZA; KÜMPEL, 2007, p. 71. 52 30 destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. 54 De qualquer modo a leitura do inciso IV insere, entre os crimes praticados com violência doméstica ou familiar contra a mulher, todos os tipos penais contra o patrimônio que signifiquem retenção, subtração, destruição de bens, documentos, valores e direitos, incluindo os destinados a sanção de bens, documentos, valores e direitos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades, mesmo que não praticados com violência real. Ao que parece, o legislador quis utilizar-se, de forma pouco aprimorada, do recurso hermenêutico da interpretação analógica, descrevendo uma enumeração casuística e finalizando com uma fórmula geral, mas, nesse caso, ao final do texto, em vez do “incluindo...” melhor seria haver dito “bem como todos aqueles destinados a satisfazer suas necessidades”. Ademais, convém interpretar a parte final do inciso como incluindo aqueles bens destinados a satisfazer suas necessidades “pessoais”, ou seja, as necessidades próprias da condição feminina que, portanto, em muitos casos, poderiam parecer 55 desnecessários para um homem. Sendo, pois, propósito da lei alcançar, sob o conceito da violência doméstica, os crime patrimoniais não-violentos como o furto, especialmente o furto de coisas comum, a usurpação, o dano, apropriação indébita e o estelionato calha questionar se a Lei 11.340/2006 revogou as causas de imunidade penal previstas nos incisos I e II do artigo 181 do Código Penal, das quais deriva isenção de pena ao agente que comete qualquer delito patrimonial, sem violência real ou grave ameaça, contra o cônjuge na vigência da sociedade conjugal, ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, civil ou natural em hipóteses subsumíeis nos artigos 5º e 7º, IV, da Lei 11.340/2006. Ab initio, em análise puramente literal da nova lei, parece fora de dúvida que a resposta afirmativa se impõe, e as imunidades ou impunibilidades absoluta do artigo 181, I e II do Código Penal estão revogadas parcial e tacitamente pela Lei 11.340/2006, que alenta a punição penal dos crimes praticados em situação de violência patrimonial contra o cônjuge mulher. Frise-se que se trata mesmo de derrogação, ou seja, revogação parcial, porque se o delito for praticado pela mulher contra o homem persiste a escusa absolutória em questão. Porém, o tratamento desigual dado pela lei aos dois gêneros, ao menos nesse ponto, arranha o princípio constitucional da igualdade, especialmente, porque se afigura destituído de razões lógicas ou racionais. Se, com efeito, no tangente à 54 PORTO, Pedro Rui da Fontoura. Violência doméstica e familiar contra a mulher: Lei 11.340/2006: Análise crítica e sistêmica. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. p. 60. 55 PORTO, 2007, p. 60. 31 violência real, a compleição física do homem, normalmente mais avantajada, bem como suas características hormonais o capacitam mais ao uso da força bruta, no que toca à possível prática de delitos patrimoniais contra o consorte condomínio, não se vislumbra, com clareza, quais as vantagens que concorrem em favor do cônjuge-varão que justifiquem tratamento tão desigual. 56 Assim, é que não causa surpresa se, no futuro, for reconhecida a inconstitucionalidade parcial do dispositivo em questão por afronta ao princípio da igualdade, pois embora, efetivamente, a proteção da igualdade não significa necessariamente a equalização linear e absoluta dos interesses e das prerrogativas legais, uma vez que, ao contrário, na persecução de uma maior igualdade material, admitem-se tratamentos legais diferenciados, é imprescindível que esta diferenciação formal legal tenha supedâneo em motivação racional. Destarte, se é verdadeiro que, em boa parte dos casos, em razão apenas de uma tradição cultural que já começa a minguar, o homem é negociante mais astuto e mantém o domínio dos bens e investimentos do casal, sendolhe mais fácil desviar patrimônio e valores em seu proveito, a verdade é que nada na natureza física, intelectual ou emocional da mulher, impede-a de alcançar e desenvolver esta mesma astúcia, o que, aliás, já vem ocorrendo na medida em que a mulher ganhar crescentemente espaços no mercado de trabalho e no mundo cultural. Portanto, ou se exclui integralmente as causas de imunidade do artigo 181, I e II do Código Penal, tanto em prejuízo do homem como da mulher, o que somente pode ser feito pela via legal, ou elas devem permanecer íntegras e até aplicáveis analogicamente aos conviventes em união estável, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da igualdade. Poder-se-ia redargüir a tais considerações, argumentado que, sendo o homem normalmente de porte físico mais avantajado e mais intimidativo por natureza que a mulher, sempre lhe será mais possível a prática de crimes patrimoniais qualificados pela violência ou grave ameaça, como dano qualificado (artigo 163, parágrafo único, I, do Código Penal), roubo e extorsão, por exemplo. Entretanto, é certo que, quando o delito patrimonial for cometido com uso de violência real ou grave ameaça já não se poderá, de qualquer modo, invocar a imunidade penal do artigo 181, I do Código Penal, porque vedada no artigo 183, I, da mesma lei. Outrossim, quando os delitos patrimoniais em questão, mesmo não praticados com violência real ou grave ameaça, o forem em prejuízo de pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, não persiste a escusa absolutória, por força da exceção expressa no inciso III do artigo 183 do Código Penal, 57 acrescentada pela Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). Assim, que as causas de impunibilidade do artigo 181, I e II, do Código Penal persistem aplicáveis em crimes praticados com violência doméstica contra a mulher, pois só cabíveis em delitos patrimoniais clandestinos ou fraudulentos, praticados com recurso de astúcia, para cuja prática, nenhuma qualidade específica do homem, melhor o habilita às referidas práticas criminosas, em significativo prejuízo da mulher. 56 57 PORTO, 2007, p. 61. PORTO, 2007, p. 62. 32 Frise-se que, no tangente àqueles delitos patrimoniais cujos autores não se beneficiem das causas de imunidade previstas no artigo 181 do Código Penal, mas, subsidiariamente, cujas ações penais forem condicionadas à representação (artigo 182 do Código Penal) ou privadas (artigo 161, parágrafo 3º e artigo 167 do Código Penal), persiste exigível, sem sombra de dúvidas, a condição de procedibilidade da representação, bem como o caráter privado da ação penal, porque estabelecidos no âmbito do Código Penal, não se podendo, modo algum, invocar o artigo 41 da Lei 11.340/2006, para afastar a condição de procedibilidade da representação ou a exigência de ação penal privada, visto que aquele dispositivo colima apenas afastar a aplicação d Lei 9.099/1995 dos casos de violência 58 doméstica. Observe-se o seguinte exemplo: se a mulher já separada apropriar-se indevidamente de um bem do ex marido, sendo ela processada pelo crime do artigo 168, caput, do Código Penal, assiste-lhe direito à suspensão condicional do processo, desde que presentes os demais requisitos do artigo 89 da Lei 9.099/1995. em contrapartida, invertendo-se os pólos ativos e passivos desta demanda, o sursis processual seria vedado pelo artigo 41 da Lei 11.340/2006. porém, conforme aludido alhures, este tratamento diferenciado não tem supedâneo racional, estando em desacordo com o princípio constitucional da igualdade e com o princípio supra constitucional da razoabilidade que deve informar todo o ordenamento jurídico. Assim, justifica-se em tais casos deferir também ao homem a suspensão condicional do processo, pois o tratamento diferenciado em crimes patrimoniais não tem razão lógica sequer em diferenças culturais entre o homem e a mulher. Aliás, a Lei Maria da Penha foi aprovada sob a bandeira da violência física contra a mulher, demonstrada por levantamentos e estatísticas, mas trouxe de carona outras formas próprias e impróprias de violência patrimonial, moral, sexual, psicológica, algumas delas que a experiência nem revelou assim tão freqüente ou tão exclusiva do homem contra a mulher. 59 2.2.5 Violência moral A violência moral, encontra proteção penal nos delitos contra a honra: calúnia, difamação e injúria. São denominados delitos que protegem a honra mas, cometido em decorrência de vínculo de natureza familiar ou afetiva, configuram violência moral. Na calúnia, o fato atribuído pelo ofensor à vítima é definido como crime; na 58 59 PORTO, 2007, p. 63. PORTO, 2007, p. 63. 33 injúria não há atribuição de fato determinado. A calúnia e a difamação atingem a honra objetiva; a injúria atinge a honra subjetiva. A calúnia e a difamação consumam-se quando terceiros tomam conhecimento da imputação; a injúria consuma-se quando o próprio ofendido toma conhecimento da imputação. 60 O Inciso V – violência moral – entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria (crimes contra a honra previstos na legislação comum e especial), inclusive denunciação caluniosa (CP, art. 339). A legislação, de maneira sábia, criou o princípio da proteção integral, pelo qual a mulher está plenamente protegida sob a ótica patrimonial ou em relação aos seus direitos da personalidade (à integridade física, moral, espiritual e intelectual). Deve-se deixar registrado, todavia, que se a tutela for a nível penal é imprescindível que a forma de violência esteja expressamente tipificada, ou pelo Código Penal ou por lei especial, sob pena de não aplicação. Mas se o operador não conseguir tipificar a conduta sob a ótica penal, ainda assim poderá se valer da tutela civil, sendo-lhe nomeado defensor que proporá, no mesmo Juizado Especial, ação de natureza civil indenizatória ou de obrigação de fazer ou não fazer par efetivar o princípio em tela. Para tanto, basta que a conduta do agressor esteja configurada nos artigos 186 e 187 do Código Civil ou no artigo 461 do Código de Processo Civil. 61 60 61 DIAS, 2007, p. 54. SOUZA; KÜMPEL, 2007, p. 73. 34 CAPÍTULO 3 - AÇÃO PENAL Sendo o crime um fato que ofende o direito do indivíduo e da sociedade, cabe ao Estado reprimi-lo com o exercício do jus puniendi. O direito subjetivo de punir, que é mais o dever de punir, não é ilimitado, vinculando-se o Estado ao direito objetivo, tanto na imputação, circunscrita aos fatos típicos, como nas penas a serem aplicadas. Além disso, par exercitar o direito de punir é necessário que haja processo e julgamento, já que não pode o Estado impor, arbitrariamente, a sanção. 62 O enunciado dos autores Guilherme de Souza Nucci e Naila Cristina Ferreira Nucci, diz que é o direito do Estado acusação (Ministério Público) o do ofendido de ingressar em Juízo, solicitando a prestação jurisdicional, representada pela aplicação da lei penal ao caso concreto. 63 Dá-se o início da ação penal com o oferecimento da denúncia ou queixa. Quando o juiz recebe a peça acusatória, ocorre o ajuizamento da ação penal, isto é, consolida-se a relação processual, devendo haver o chamamento do réu a juízo, através da citação, para defender-se, pois há justa causa para o processo criminal desenvolver-se. Finaliza-se o processo de conhecimento com a prolação da sentença. Se for condenatória, espera-se o trânsito em julgado para dar início ao processo de execução, normalmente em Vara especializada (Vara da Execução Criminal). 64 3.1 BREVES CONSIDERAÇÕES É correto afirmar que o direito de punir (jus puniendi) pertence ao Estado, como uma das principais características de sua soberania. É dizer: quando alguém comete crime, cabe ao Estado, com o fim de resguardar os interesses sociais e 62 MIRABETE, Julio Fabbrini. Ação penal: pública incondicionada, pública condicionada e privada. Disponível em: <http://www.leonildocorrea.adv.br/curso/mira10.htm>. Acesso em: 13 abr. 2009. 63 NUCCI, Guilherme de Souza; NUCCI, Náila Cristina Ferreira. Prática forense penal. 3. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 55. 64 NUCCI, 2008, p. 57 35 manter a ordem jurídica, processar e julgar o infrator, aplicando o Direito Penal objetivo. 65 Tourinho Filho define ação penal como “o direito de pedir ao Estado (representado pelos seus Juízes) a aplicação do Direito Penal objetivo. Ou o direito de pedir ao Estado-Juiz uma decisão sobre um fato penalmente relevante”. 66 Dada a relevância do tema, cumprir-se-ia explanar sobre institutos como teorias da ação, teorias do processo, condições da ação, etc. Contudo, devido ao caráter sucinto desse estudo, discorri apenas acerca da classificação da ação penal, quanto à titularidade do direito de exercê-la. 67 Assim, a doutrina majoritária divide a ação penal em pública e privada. A primeira subdivide-se em incondicionada e condicionada. Já a segunda subdivide-se em exclusiva, personalíssima e subsidiária. É forçoso asseverar que se deve compreender como “ação penal de iniciativa pública” e “ação penal de iniciativa privada”, porquanto, consoante visto acima, toda ação penal é sempre um direito público. O que varia é tão somente o sujeito legitimado para a propositura da ação. Veremos a seguir especificadamente cada tipo de ação penal. 68 3.2 AÇÃO PENAL PÚBLICA Ação penal pública é a ação penal exercida pelo Estado, por intermédio do Ministério Público, privativamente, representado o próprio interesse social, nos termos do artigo 129, inciso I, da Constituição Federal 69 . O Ministério Público deve, além de oferecer denúncia, manifestar-se, como parte, durante todo o curso da instrução até decisão final, fiscalizando o procedimento e interpondo os recursos adequados. 65 MIRABETE, 2009. TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de direito penal. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 114. 67 TOURINHO FILHO, 2006, p. 114. 68 TOURINHO FILHO, 2006, p. 114. 69 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br;ccivil_03/Constituiçao/constituiçao.htm>. Acesso em: 5 nov. 2008. 66 36 A ação pública é a regra no direito processual penal. Dessa feita, sempre que a lei penal, ao tipificar uma infração, não determinar a iniciativa do ofendido, a ação penal será de iniciativa pública, segundo reza o artigo 100, do Código Penal 70 . A ação penal pública é regida pelos seguintes princípios: a) oficialidade: somente um órgão do Estado, o Ministério Público, pode promover ação penal pública: b) obrigatoriedade: o Órgão Ministerial, caso obtenha prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de infração penal, é obrigado a oferecer denúncia 71 ; c) indisponibilidade: não pode o Ministério Público desistir a ação penal, uma vez que não age em nome próprio, mas sim em nome do Estado; d) intranscendência: apenas contra quem se atribui a prática de infração penal a ação penal será promovida; e) divisibilidade: em havendo vários investigados, o Ministério Público poderá denunciar somente a quem se imputar indícios bastantes de autoria, podendo, posteriormente, com a continuidade das investigações, aditar a denúncia par possível inclusão de co-réu (s). 3.2.1 Ação penal pública incondicionada É aquela promovida pelo parquet sem necessidade de manifestação de vontade de terceira pessoa para sua propositura. É a regra geral, sempre quando a lei nada dispor a respeito da legitimidade ativa para a ação penal. no silêncio da lei, a ação penal pública será incondicionada. Vale dizer, a regra em nosso direito é que ação penal pública não dependa da manifestação de terceiros. A exigência de prévia manifestação, portanto, somente existirá se for expressamente prevista em lei, por meio de expressões como “somente se procede mediante representação”, ou “somente se procede mediante requisição do Ministro da Justiça”. Se a lei nada prevê, o Ministério Público, convencendo-se da prática de crime, ajuizará ex officio, oferecendo a denúncia. 72 Na incondicionada, o órgão do Ministério Público a propõe sem que haja manifestação de vontade de quem quer que seja. Desde que provado o crime, quer a parte objecti, quer a parte subjecti,o órgão do Ministério Público deve promover a 70 BRASIL. Código Penal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/DecretoLei/Del2848.htm>. Acesso em: 5 nov. 2008. 71 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008. p. 106. 72 BOMFIM, Edílson Mougenot. Curso de processo penal. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 168. 37 ação penal, sendo até irrelevante contrária manifestação de vontade do ofendido ou de quem quer que seja. O autor fala que: em provado o crime a parte subjecti, evidentemente não aludimos àquelas provas capazes de gerar um juízo de certeza da veracidade da imputação, mas, tão somente, àquelas que tornem verossímil a acusação. 73 A ação penal pública incondicionada é a regra no direito penal brasileiro, visto estar baseada nos mesmos quatro princípios informadores que são: Oficialidade; Indisponibilidade; Obrigatoriedade; Indivisibilidade; entretanto a diferença salutar é que esta não necessita autorização pra ser perpetrada nos portões da justiça. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 1.0024.07.493023-1/001 COMARCA DE BELO HORIZONTE - RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO MINAS GERAIS - RECORRIDO(A)(S): RICARDO LANES ALVES FERREIRA - RELATOR: EXMO. SR. DES. PAULO CÉZAR DIAS ACÓRDÃO Vistos etc., acorda, em Turma, a 3ª CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls., na conformidade da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM REJEITAR PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO. O Ministério Público ofereceu denúncia contra RICARDO LANES ALVES FERREIRA, dando-o como incurso nas sanções dos arts. 129, §9º, 147 e 163, na forma do art. 69, todos do Código Penal. Narra a denúncia que no dia 05 de abril de 2007, na rua Selênio, nº 210, apt. 02, bairro Barroca, da cidade e comarca de Belo Horizonte, o denunciado ofendeu a integridade física da vítima Elza Ângela Alves Ferreira, e ameaçou-a gravemente. O MM. Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte rejeitou a denúncia, sob o fundamento de que houve retratação da vítima sobre a vontade de representar contra o recorrido (fls. 102/104). Irresignado, o ilustre representante do Ministério Público interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito pugnando pelo recebimento da denúncia (fls. 107/114). Contra-arrazoado o recurso (fls. 122/123), subiram os autos e, nesta instância, manifestou-se a douta Procuradoria de Justiça pelo seu provimento (fls.128/130). É o sucinto relatório. Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade. Alega o Ministério Público que há uma nulidade quanto à audiência de termo lavrado à fl. 101, a qual possibilitou a retratação da vítima, ao argumento de que o delito de lesão corporal seria de ação penal pública e incondicionada a representação, incabível a renúncia. O artigo 88 da lei 9.099/95 prevê que as ações penais referentes às lesões corporais leves e culposas dependem de representação, inovação que não foi repassada para o Código Penal. Todavia, reza a lei 11.340/06 em seu artigo 41 que, "aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a lei 9.099/95". Essa situação tem gerado inúmeros debates ainda controversos, pois, trata-se de uma lei relativamente recente. No entanto, é sabido que, a lei deve ser interpretada. A exegese visa a apuração da mens legis, tendo em vista o contexto histórico e exercendo raciocínios teleológicos e axiomáticos, com o fim de nortear o objetivo para o qual a norma foi criada, a ratio legis. Assim, aplicando-a com fulcro nos princípios constitucionais, os quais norteiam o 73 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo penal. 26. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2004. v. 1, p. 321. 38 ordenamento jurídico, atingirá o texto legal o seu maior objetivo, harmonizar a sociedade vivente neste Estado Democrático de Direito. Sendo assim, é preciso buscar o objetivo da norma para que o Direito opere de forma coesa, consagrando a liberdade, a isonomia e os demais princípios que regem as normas jurídicas. Não foi intenção do legislador impedir a vítima de retratar-se quanto aos crimes de lesão corporal leve e culposa, ao redigir o artigo 41 da Lei 11.340/06. Fazendo o uso da importante fonte interpretativa doutrinária, passo à análise do tema auxiliado por textos produzidos a partir de estudos de diversos renomados juristas que compartilham de minha posição. Damásio Evangelista de Jesus: A Lei n. 11.340/2006, no que se refere à ofensa à incolumidade física e à saúde da mulher quando provocada no ambiente doméstico ou familiar, a qual configura um tipo qualificado (§ 9.º do art. 129), não teve a intenção de alterar o princípio do art. 88 da Lei n. 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais Criminais), de que a ação penal por crime de lesão corporal leve é pública condicionada à representação. (Da exigência de representação da ação penal pública por crime de lesão corporal resultante de violência doméstica e familiar contra mulher - Revista Magister de Direito Penal e Processual Penal nº 13 - Ano 03 - Pág. 87/89 - Porto Alegre). ....Vê-se que a retratação ocorreu antes do recebimento da denúncia na presença do Ministério Público, oportunidade na qual não se manifestou, conforme o termo 74 presente à fl. 101. Tudo ocorreu, portanto, dentro dos trâmites legais. O princípio da legalidade ou obrigatoriedade é o que mais atende aos interesses do Estado. Dispondo o Ministério Público dos elementos mínimos para a propositura da ação penal, deve promovê-la (sem inspirar-se em critérios políticos ou de utilidade social). O contrário implicaria atribuir-lhe um desconchavado poder de indulto. Por isso, , embora inexata a afirmativa de que do crime surge a ação penal, deve esta ser aceita, no sentido de que do delito surge, necessariamente, para os órgãos da persecução, o dever de atuar em procura da repressão. Cabendo ao Ministério Público o exercício da ação penal pública (princípio da oficialidade), o princípio da legalidade impõe-lhe outro dever, qual o de promover a ação penal sem inspirar-se em motivos políticos ou de utilidade social. 75 3.2.2 Ação penal pública condicionada à representação O artigo 16 é expresso: a renúncia somente pode ocorrer nos crime de ação penal pública condicionada à representação. Estes são facilmente identificáveis na legislação penal, mediante a expressão: “(...) somente se procede mediante 74 MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça. Recurso em Sentido Estrito nº 1.0024.07.493023-1/001. Relator: Paulo Cézar Dias. Data do Julgamento: 29/01/2008. 75 TOURINHO FILHO, 2004, v. 1, p. 324-325. 39 representação” (artigo 100, § 1º, do Código penal). Os demais são de ação penal pública incondicionada (ressalvando-se os casos de ação penal privada). 76 ""RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - AMEAÇA CONTRA A MULHER LEI 11.340/06 - AUDIÊNCIA DE RATIFICAÇÃO - RETRATAÇÃO ESPONTÂNEA ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - REJEIÇÃO DAEXORDIAL. 1. Se a retratação da mulher, vítima de crime perpetrado pelo marido, é espontânea, mesmo após o oferecimento da denúncia, não há porque prosseguir a ação penal com o recebimento. Interpretação dada à Lei Maria da Penha conforme o caso concreto.2. O Magistrado poderá designar audiência, ocasião em que é facultada a manifestação da vítima. A solenidade é exigência da novel Lei, quando estarão presentes o Juiz e o Ministério Público para perceber e coibir eventual coação de vontade.3. O artigo 16 da Lei 11.340/2006 estabeleceu um novo momento para que a vítima apresente a retratação, a despeito do que consta do diploma processual. Princípio da especialidade 4. Recurso improvido." (RSE 20070910037344, Primeira Turma Criminal, Rela. Desa. Sandra de Santis, DJ 03-03-2008, pág. 108) No último caso, a eminente Relatora, em seu voto, destacou:"Data vênia do entendimento do Ministério Público, a retratação da vítima, na hipótese, é válida. É certo que não restou consignado, na ata da audiência, acerca da situação familiar atual, envolvendo as partes. De qualquer sorte, a vítima foi ouvida informalmente após a abertura dos trabalhos e nada demonstra ter sido coagida a emitir o desinteresse no prosseguimento do feito. Do contrário, o Ministério Público, em pedido de recebimento da denúncia, teria feito constar um possível temor pela presença do autor do fato ou instabilidade emocional da vítima ao retratar-se. Ao que parece, trata-se mais de uma defesa de tese, o que é respeitável. Mas o réu sequer foi ouvido na fase policial. No inquérito só consta a versão da vítima e logo houve o oferecimento da denúncia. Parece no mínimo temerário dar início à ação penal sem ao menos ouvir a versão da parte contrária Nesta 1ª Turma Criminal, já tive oportunidade de acompanhar o voto do Exmo. Des. Mario Machado, no sentido de que "há de se recusar a pretendida retratação, possível em tese, mas seguramente não espontânea no caso concreto e não servindo ao restabelecimento de uma saudável convivência familiar." (RSE 2006.09.1.017253-6; Rel. Des. Mário Machado; DJ 1/8/2007) - grifo nosso. Mas não é regra o não acolhimento da retratação. Em cada caso concreto, deverá ser avaliada a situação e dada a interpretação mais razoável segundo a novel Lei Maria da Penha. Se a retratação foi espontânea, mesmo após a oferta da denúncia, mas antes do recebimento, não há porque prosseguir-se com a ação penal. Afigura-me, em princípio, inovadora e não prevista em lei a designação de "audiência de ratificação" para a oitiva da vítima, em que poderá retratar-se. A análise literal do artigo 16 da Lei 11.340/06 leva a crer que a audiência somente será designada caso a vítima manifeste, voluntariamente, a intenção de retratação, procedimento que obrigatoriamente será fiscalizado pelo Ministério Público e ratificado pelo Juiz. Confira-se a redação; Art. 16. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta Lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público.Mas é certo que a vítima não tem uma bola de cristal e nem conhecimento das firulas jurídicas e das lides 76 LIMA, Fausto Rodrigues de. A renúncia das vítimas e os fatores de risco à violência doméstica: da construção à aplicação do Art. 16 da Lei Maria da Penha. In: LIMA, Fausto Rodrigues de; SANTOS, Claudiene (Coord.). Violência doméstica: vulnerabilidades e desafios na intervenção criminal e multidisciplinar. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2009. p. 82. 40 forenses para que antecipe a renúncia, que deveria chegar ao conhecimento do Juízo, antes de oferecida a denúncia. A meu sentir, o rigor exigido fere o que dispõe o artigo 226 da Constituição Federal, porque oportuniza a desagregação familiar. Também, vai de encontro aos princípios da economia e celeridade processuais, já que a representação feita no calor da discussão pode, pouco tempo depois, ser dissipada pela reconciliação das partes. Como já salientou o Exmo. Des. Mário Machado: "Desconhecer a face boa da retratação, impedindo-a, a pretexto de proteger a mulher, pode implicar violência ainda maior contra ela, que é negar-lhe um meio de restaurar a paz no lar e restabelecer a união comum" (Artigo: Violência doméstica: a face boa da retratação. 77 O crime dependente de representação mais comumente denunciado é o de ameaça (artigo 147). no entanto, poderão ocorrer alguns outros mais raros (menos registrados), como perigo de contrário venéreo (artigo 130, CP), violação da correspondência (artigo 151, CP, divulgação de segredo (artigo 153), CP), furto de coisa comum (artigo 156, CP) ou qualquer crime contra o patrimônio previsto no Título II do Código Penal, cometido sem violência ou grave ameaça (artigo 182, incisos I, II e III, c/c artigo 183, inciso I CP) e, ainda, contra os costumes se praticado contra vítima pobre (artigo 225, § 2º, CP). 78 a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, dispõe que a renúncia ao direito de representação no caso de ação penal pública condicionada, pois, quando se tratar dos crimes mencionados na citada legislação, que cuida da proteção da mulher contra a Violência Doméstica e Familiar, haverá de ser feita perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público (artigo 16). a curiosidade é que o CPP não cuida, ao menos expressamente, da renúncia da representação, só o fazendo o artigo 74 da Lei nº 9.099/1995, no âmbito dos Juizados Especiais. 79 Há Casos, também em que, presente ainda a preocupação com a divulgação do fato, isto é, tutelando-se o interesse da vítima da ofensa, surge outro interesse a ser preservado, sobretudo diante da qualificação do ofendido. É o que ocorre por 77 Cf. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas corpus n. 96.992-DF (2007/0301158-9). Impetrante: José Alfredo Gaze de França. Impetrado: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Relatora: Ministra Jane Silva (desembargadora convocada do Tribunal de Justiça de Minas Gerais). Brasília, DF, 12 de agosto de 2008. Disponível em: <http://www.stj.jus.br/webstj/Processo/Justica/detalhe.asp?numreg=200703011589&PV= 010000000000&tp=51>. Acesso em: 11 set. 2008. 78 LIMA, 2009, p. 82-83. 79 OLIVIERA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 7. ed. rev., atual. e ampl. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. p. 112. 41 exemplo, com os crimes contra a honra do Presidente da República e de Chefe de Governo estrangeiro. 80 Nessas situações, o juízo de oportunidade e conveniência da instauração da ação penal, diante das repercussões políticas que podem ocorrer a partir da divulgação do fato, fica à discricionariedade do ministro da Justiça, consoante o disposto no artigo 145, parágrafo único, do CP. Fala-se, então, em requisição, e não mais em representação. 81 Em alguns casos, a lei expressamente condicionará o ajuizamento da ação penal pelo Ministério à representação do ofendido (ou de quem o represente). Entenda-se representação como mero consentimento. É o caso, por exemplo, do artigo 88 da Lei nº 9.099/1995, o qual exige representação da vítima para as ações relativas aos crimes de lesões corporais leves e/ou culposas 82 . O prazo para a representação é, em regra, de 06 (seis) meses, contados do dia em que vier a se conhecer a autoria do fato. A representação pode ser feita pelo ofendido, se for capaz, ou por quem tiver qualidade para representá-lo. No caso de menor de 18 (dezoito) anos, a titularidade da representação será de seu representante legal. Caso o ofendido seja falecido, ou declarado ausente, o direito de representação passará, na ordem, ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Por fim, havendo conflito de interesses entre o menor e seu representante legal, ou na ausência deste ou de qualquer das pessoas mencionadas, o magistrado designará curador especial ao ofendido. 83 O Código de Processo Penal prevê, ainda, a possibilidade de retratação do ofendido (ou de seu representante legal) até o oferecimento da denúncia. Isso porque “a partir daí, com a formação da opinio delicti do órgão do Ministério Público e a apresentação da peça acusatória em juízo, o fato delituoso, ao menos em tese, já teria sido dado a conhecimento” 84 . A doutrina admite, ainda, a revogação da retratação (ou retratação da retratação). Nesse caso, é suficiente o ofendido fazer nova representação, desde que não expirado o prazo de seis meses. 80 OLIVIERA, 2007, p. 112-113. OLIVIERA, 2007, p. 112-113. 82 Ressalte-se que esse dispositivo a partir de 27/04/09, se aplica aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, consoante se demonstrará mais adiante. 83 TOURINHO FILHO, 2004, v. 1, p. 357. 84 OLIVIERA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008. p. 112. 81 42 Artigo publicado no site de MPDFT no dia 27 de abril de 2009. A Câmara criminal do TJDFT concede recurso a réu acusado de agredir a esposa. Entendam o caso: Em 2 de novembro de 2006, J.A.O.S empurrou e golpeou violentamente a mulher J.V.C., grávida de seis meses, com um relógio de parede. Em seguida, a vítima pegou o telefone para chamar a polícia. Para impedi-la, J.A.O.S. a ameaçou com uma faca, dizendo que iria mata-la. Em seguida, o agressor despejou uma garrafa de álcool na vítima e disse que iria lhe colocar fogo, caso não devolvesse sua carteira, J.V.C. tinha escondido a carteira para que o marido não saísse. O acusado voltou à cozinha, pegou um fósforo e ateou fogo na mulher. Ardendo em chamas, a vítima entrou correndo no banheiro e conseguiu apagar o fogo no chuveiro. Teve queimaduras de 1º e 2º graus. Depois da agressão, ela fugiu para outro estado. A promotoria de justiça requereu a prisão preventiva do acusado e o início do processo. O primeiro Juizado Especial de Samambaia, porém, determinou que a vítima tinha que autorizar o processo. A cunhada da vítima a expulsou de casa e o acusado determinou que ela retornasse para o lar e “retirasse a queixa”. Três semanas após a violência, a vítima compareceu ao Juizado e pediu o encerramento do processo. Ela alegou que a prisão do réu traria prejuízos financeiros à família, porque ela não teria como sustentar os dois filhos do casal.O Ministério Público Intervém no caso, com o argumento de que se tratava de ação civil pública incondicionada, ou seja, que o prosseguimento do processo não dependeria da vontade da vítima. O argumento do MP era que, na maioria dos casos, as vítimas são pressionadas e cedem aos apelos do agressor 85 para retirar a queixa. Os promotores se baseiam na Lei Maria da Penha. Em 31 de maio de 2007, essa decisão foi anulada por acórdão da 1ª Turma Criminal do TJDFT. O acórdão ratificou o que determina a Lei Maria da Penha (lei 11.340/2006): nos casos de violência doméstica, a ação penal não depende da vontade da vítima e que o processo deveria continuar. Como a decisão não foi unânime, foi preciso realizar um novo julgamento. A análise do caso começou no último dia 30 de março na Câmara Criminal, com a presença da biofarmacêutica Maria da Penha, símbolo da legislação sancionada pelo governo federal em 2006, na platéia. Mas o julgamento foi interrompido com pedido de vista do Desembargador Roberval Belinati. A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Distrito Federal e Territórios (TJDFT) julga na próxima segunda-feira, 30 de março, o réu J.A.O.S que ateou fogo na mulher, grávida de seis meses (processo nº 2006.0910173057). A vítima teve queimaduras de 1º e 2º graus e foi obrigada a fugir para outro estado O caso foi julgado pela 1ª Turma Criminal do TJDFT, no dia 31 de maio de 2007. O julgamento foi considerado histórico porque reconheceu por maioria (dois votos a um) que a instauração de processos nos casos de lesão corporal qualificada pela violência doméstica e familiar contra a mulher, mesmo tratando-se de lesão leve, não depende de autorização da vítima. O entendimento do 85 Câmara Criminal do TJDFT Concede recurso a réu acusado de agredir a esposa. Disponivel em: <Www.Mpdft.Gov.Br/Joomla/Index2.Php?Option=Com_Content&Task=View&Id=1443&Itemid=1>. Acesso em: 28 abr. 2009. 43 TJDFT ratificou o que determina a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06). A Defesa conseguiu um novo julgamento porque o réu teve um voto favorável. O Promotor de Justiça da 2ª Promotoria Especial Criminal de Samambaia, Fausto Rodrigues, recorreu da sentença de 1º Grau, que extinguiu o processo por falta de interesse da vítima. Ele também requereu a manutenção do pedido de prisão preventiva contra o acusado. No julgamento de 2007, a 1ª Turma Criminal do TJDFT cassou a sentença do Juizado Especial, mas indeferiu o recurso em que o Ministério Público solicitava a manutenção do pedido de prisão do acusado. Na ocasião, a Promotoria destacou, em seu recurso, que os crimes de lesão contra qualquer animal têm sido punidos obrigatoriamente pela Justiça, ao contrário dos espancamentos de seres humanos nos lares, contradição insustentável num país democrático que determina a igualdade absoluta 86 entre homens e mulheres. Na tarde do dia 27 de abril de 2009, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) decidiu favoravelmente ao recurso de um réu acusado de agredir e atear fogo na esposa grávida. Decidiu pelo arquivamento definitivo do caso, acatando a vontade da vítima de finalizar a ação.. 87 3.2.3 Ação penal pública condicionada à requisição do Ministro da Justiça Ação penal pública condicionada à requisição do Ministro da Justiça igualmente constitui exceção, pois como vimos, a regra é que seja incondicionada. Ou seja, nesse caso, é imperioso que o Ministro da Justiça autorize o Ministério Público a denunciar o ofensor. Essa condição imposta ao Ministério Público justifica-se pelo cunho eminentemente político dos crimes os quais a lei exige a citada requisição. Frise-se que, conquanto o termo “requisição” signifique “ordem”, trata-se de mera autorização. Nesse diapasão, “a requisição nada mais é senão mera autorização para proceder, permissão para ser instaurado o processo, manifestação de vontade que tende a provocar a atividade processual. Ela é por assim dizer, a representação política”. 88 86 Câmara Criminal do TJDFT Concede recurso a réu acusado de agredir a esposa. Disponivel em: <Www.Mpdft.Gov.Br/Joomla/Index2.Php?Option=Com_Content&Task=View&Id=1443&Itemid=1>. Acesso em: 28 abr. 2009. 87 Câmara Criminal do TJDFT Concede recurso a réu acusado de agredir a esposa. Disponivel em: <Www.Mpdft.Gov.Br/Joomla/Index2.Php?Option=Com_Content&Task=View&Id=1443&Itemid=1>. Acesso em: 28 abr. 2009. 88 TOURINHO FILHO, 2006, p. 149. 44 A requisição do Ministro da Justiça não está sujeita a prazo decadencial. Diferentemente do que ocorre com a representação pode ser efetuada a qualquer momento, enquanto não emergir causa extintiva de punibilidade. A doutrina é divergente quanto à possibilidade de haver retratação da requisição. Há quem entenda que, por analogia, aplicam-se os mesmos dispositivos atinentes à retratação da representação. Contrariamente, há quem perfilhe pela impossibilidade de valer-se da analogia, porquanto a lei não dispôs expressamente, bem como incide o caráter político do ato do Ministro da Justiça. 3.3 AÇÃO PENAL PRIVADA Preliminarmente, vale relembrar que se convencionou chamar “ação Penal privada”, pois, conforme já dito, o direito de punir (jus puniendi) sempre é do Poder Público. O caráter privado aqui analisado reserva-se somente ao sujeito que detém a titularidade da ação. Em certas ocasiões, a lei explicitamente reserva para o particular o exercício da ação penal (jus accusationis). São os casos em que a ação penal será de iniciativa privada (ou, abreviadamente, de ação penal privada), que também é exceção no nosso ordenamento jurídico. Nesta, o Ministério Publico não atua como parte, mas sim como fiscal da lei (custos legis), sempre a velar pela legalidade do processo. Note-se que a ação penal privada possui relevantes distinções da ação penal pública, sendo regida pelos seguintes princípios: a) Oportunidade (ou conveniência): contrapondo-se ao princípio da obrigatoriedade, a vítima ou seu representante legal tem a faculdade de promover a ação penal, ou seja, somente iniciará o processo se achar conveniente; b) Disponibilidade: igualmente indo de encontro ao princípio da obrigatoriedade, aqui o querelante dispõe de diversos meios (como renúncia 89 , perdão do ofendido 90 , perempção 91 , etc.) para deixar de exercer a titularidade da 89 Entende-se renúncia como manifestação de vontade do ofendido por meio da qual ele desiste de exercer seu direito de ação. Pode ser expressa ou tácita. É ato unilateral. 90 Perdão do ofendido consiste na desistência da ação, após a propositura da demanda e antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Necessária a aceitação do querelado. Cabível somente nas hipóteses de ação penal privada exclusiva. 45 ação penal privada; c) Intranscendência: a ação penal privada não pode atingir pessoas estranhas à autoria do fato; d) Indivisibilidade: caso o ofendido decida principiar ação penal privada, deve incluir todos os autores do evento delituoso no pólo passivo do feito. Em decorrência desse principio, a renuncia ao direito de queixa pelo querelante aproveita aos demais agentes. Impede destacar que os princípios informadores da ação penal privada, presumivelmente, divergem dos demais tipos de ação penal, pois tem, em seu bojo, a exclusividade da vontade subjetiva da vítima, claramente demonstrado no princípio da oportunidade. Entretanto, é salutar trazer à baila o comentário de Maria Berenice Dias: A violência moral encontra proteção penal nos delitos contra a honra: calúnia[...], difamação[...] e injúria[...]. São denominados delitos que protegem a honra mas, cometidos em decorrência de vínculo de natureza familiar ou afetiva, configuram violência moral. Na calúnia, o fato atribuído pelo ofensor à vítima é definido como crime; na injúria, não há atribuição de fato determinado. A calúnia e a difamação atingem a honra objetiva; a injúria atinge a honra subjetiva. A calúnia e a difamação consumam-se quando terceiros toma conhecimento da imputação; a injúria consuma-se quando o próprio ofendido toma conhecimento da imputação. (CP, artigo 61, 92 II, f). Conclui a autora que “estes delitos, quando são perpetrados contra a mulher no âmbito da relação familiar ou afetiva, devem ser reconhecidos como violência doméstica, impondo-se o agravamento da pena”. 93 Destarte, não é difícil perceber que, em determinadas situações relativas à aplicação da lei aqui tratada, alguns crimes de cunho privado, que necessitariam de apresentação de queixa, justamente à autoridade competente, para conseqüente instauração de ação penal privada, podem vir a enquadrar-se como crime de violência doméstica, eminentemente pública, através de simples representação que, diga-se, não é realizada necessariamente diante de um delegado ou escrivão policial, mas também perante o promotor de justiça ou o próprio juiz competente. 3.3.1 Ação penal privada exclusiva 91 BRASIL. Código penal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/artigo236.htm>. Acesso em: 5 nov. 2008. 92 DIAS, 2007, p. 54. 93 DIAS, 2007, p. 54. 46 Também denominada ação privada propriamente dita ou ação privada principal. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTEÚDO POLÍTICO E SOCIAL DA LEI 11.340/2006. DELITOS DE LESÕES CORPORAIS LEVES E LESÕES CULPOSAS. NATUREZA DA AÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E PROTEÇÃO À FAMILIA. EFETIVADADE DA LEI. ORDEM DENEGADA. 1.O artigo 1º da lei nº 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha enuncia o conteúdo político social da recém norma editada, em atenção aos reclamos de ontem da sociedade brasileira ante o elevado índice de casos de violência contra a mulher no seio familiar e doméstico, exigindo uma resposta penal eficaz do Estado. 2. A sociedade há muito tempo sente-se incomodada com as práticas violentas no seio familiar contra a mulher, cujas medidas despenalizadoras previstas na lei 9.099/95 não foram suficientes para coibir e prevenir a violência contra a mulher. 3. A exegese que confere efetividade à repressão aos crimes de violência doméstica contra a mulher nos casos de lesões corporais leves e lesões culposas é o da não vinculação da atuação do Ministério Público ao interesse exclusivo da ofendida tal como previsto no art. 88 da Lei 9.099/95. 4. Na busca da concretização dos fins propostos pela lei 11.340/2006 prevalece o interesse público traduzido na coibição de violência doméstica, lastreada na garantia constitucional de ampla proteção à família e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 5. Essa orientação permite a compreensão do alcance, sentido e significado dos artigos 16 e 41 da lei nº 11.340/2006 para reconhecer que os delitos de lesão corporal simples e lesão culposa cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher são de ação pública incondicionada, reservando-se à aplicação do art. 16 àqueles crimes em que a atuação do Ministério Público fica vinculada ao interesse privado da vítima em punir o seu ofensor. 6. Ordem denegada.(20070020040022HBC, Relator NILSONI DE FREITAS, 2ª Turma Criminal, julgado em 28/06/2007, DJ 26/09/2007 p. 94 122). É aquela que a lei expressamente impõe a necessidade de requerimento do ofendido ou de seu representante legal para conhecimento e julgamento da demanda; estipula que a ação deva ser ajuizada por meio de queixa, ficando silente quanto ao seu caráter personalíssimo, tampouco condicionando sua propositura à inércia do parquet em propor ação penal pública. 94 SILVA, Augusto Reis Bittencourt. Lei Maria da Penha: repúdio às práticas restaurativas . Jus Navigandi, Teresina, ano 11, n. 1562, 11 out. 2007. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=10534>. Acesso em: 10 maio 2009. 47 3.3.2 Ação penal privada personalíssima Nesses casos, ação penal privada apenas poderá ser ajuizada pelo próprio ofendido. Caso ocorra sua morte ou seja decretada sua ausência, o direito de representar não se transmite a seus sucessores. Atualmente, o ordenamento jurídico-penal pátrio somente prevê esse tipo de ação penal para o crime de induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento (artigo 236, CP) 95 . 3.3.3 Ação penal privada subsidiária da pública Com previsão constitucional (artigo 5º, LIX) 96 , a ação penal privada subsidiária da pública pode ser intentada pelo ofendido ou seu representante legal quando, em casos de ação penal de iniciativa pública, o Ministério Público não propor ação penal dentro do prazo determinado em lei. O artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, assegura que: "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". Assim, todo cidadão brasileiro tem o direito de obter uma manifestação conclusiva da justiça quando se sentir lesado ou ameaçado em seus direitos. Aplica-se a mesma regra no âmbito do direito criminal, muito embora na maioria das vezes os cidadãos sejam representados pelo Ministério Público, titular da ação penal pública incondicionada ou condicionada à representação.Esta representação ministerial se condiciona a uma série de princípios processuais, notadamente o da obrigatoriedade e o da indisponibilidade da ação. Na verdade, o Ministério Público recebe delegação do Estado para agir em nome do cidadão que não possui capacidade postulatória perante o judiciário. No entanto, isso não significa que o ofendido transfere ao membro do parquet a prerrogativa constitucional de reclamar a apreciação judicial sobre a ofensa de seu direito. Logo, tratando-se de fato a merecer análise judicial, o Ministério Público estará obrigado a representar o lesado.Apesar disso, em manifesto descompasso com a nova ordem constitucional vigente desde de 1.988, a parte final do art. 28 do Código de Processo Penal, que trata das hipóteses de indeferimento do pedido de arquivamento de inquérito policial formulado por promotor de justiça, submete o Poder Judiciário a simples decisão administrativa do Procurador Geral de Justiça quando ratifica a pretensão ministerial inicial, impedindo que a lesão ou a ameaça de direito do cidadão possa ser submetida ao crivo judicial, constituindo flagrante inconstitucionalidade.Para melhor compreensão, transcrevemos o enunciado do referido dispositivo processual: "Se o órgão do Ministério 95 BRASIL. Código penal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/artigo236.htm>. Acesso em: 5 nov. 2008. 96 BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_3/Constituiçao/Constituição.htm>. Acesso em: 5 nov. 2008. 48 Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedente as razões invocadas, fará remessa ao procuradorgeral, e este oferecerá denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual então estará o juiz obrigado a atender", grifamos de propósito. 97 Trata-se de garantia constitucional do ofendido contra eventual indolência do Poder Público, traduzindo-se em importante instrumento de combate à impunidade dos possíveis infratores da norma penal. A prevalecer o citado comando normativo processual, mesmo que o magistrado considerar improcedentes as razões invocadas pelo promotor de justiça, deixando entrever que ao menos em tese haveria lesão ou ameaça de direito a ser apreciada pelo judiciário, fica obrigado a quedar-se inerte diante da medida ratificadora do Procurador Geral de Justiça. E o que é pior, deve-lhe total subordinação, uma vez que não lhe resta outra alternativa senão arquivar o inquérito policial, invertendo-se os papéis institucionais. Em outras palavras, atribui-se jurisdição a um órgão que não possui atribuição judicante, o que não se coaduna com o espírito constitucional da repartição dos poderes.Por outro lado, não se pode professar que devido o fato ocorrer no âmbito administrativo não se deve falar em jurisdição. Ao contrário, sendo o Poder Judiciário o guardião da Constituição, cabe a ele apreciar todo ato lesivo de direito quando for formalmente provocado, como é o caso de inquérito. Afinal de contas, se o inquérito policial, acompanhando a denúncia ou o pedido de arquivamento, é sempre dirigido a um juiz de direito, é de mediana compreensão que deva caber a um magistrado a decisão sobre a rejeição da peça acusatória ou da que requerer o seu arquivamento.É bem verdade que o Ministério Público é o titular da ação penal, no entanto, não tem a disponibilidade do direito lesado do ofendido. É o seu representante por excelência. Logo, deve defendê-lo intransigentemente. Se não o faz, a Lei Maior (art. 5º, LIX) prevê a ação penal privada subsidiária da pública, não ficando o ofendido à mercê do desinteresse ministerial.Neste panorama poderia afirmar existir similitude entre a inércia ministerial e o arquivamento compulsório do inquérito determinado pelo Procurador Geral de Justiça a recomendar em ambos os casos a prerrogativa do ofendido promover a ação penal privada subsidiária da pública? A nosso pensar sim. Tanto numa como na outra situação a conseqüência para a vítima é a mesma, ou seja, a lesão ou ameaça de seu direito deixa de ser apreciada pelo Poder Judiciário como manda a norma constitucional.Nesse sentido traz-se à colação a abalizada lição do mestre Hélio Tornaghi, citado por Tourinho Filho, Processo Penal, vol. 1, Saraiva, ed. 1999, p. 456: "...o art. 29, permitindo a ação privada subsidiária da pública, não distinguiu a relapsia do pedido de arquivamento. Deixar de oferecer a denúncia no prazo legal ou pedir o arquivamento, durante o prazo ou depois dele, são situações semelhantes para o art. 29". É evidente que para o titular do direito lesado são coisas idênticas O ofendido ou seu representante legal possui o prazo decadencial de 6 (seis) meses para ajuizar queixa-crime, a contar do dia em que tiver esgotado o prazo legal para o exercício da ação penal pública. 97 CORTIZO SOBRINHO, Raymundo. Cabimento da ação penal privada subsidiária da pública no arquivamento de inquérito policial . Jus Navigandi, Teresina, ano 9, n. 527, 16 dez. 2004. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=6051>. Acesso em: 10 maio 2009. 49 .A tese defensável é a de que somente nos casos de indeferimento do juiz obstado pela manifestação contrária do Procurador Geral de Justiça é que daria ensejo à propositura da ação penal privada substitutiva da pública, uma vez que em havendo deferimento voluntário do magistrado, em última análise o Poder Judiciário teria apreciado a suposta lesão ou ameaça de direito da vítima, desde que essa medida se faça de forma fundamentada (art. 93, IX da CF), o que infelizmente não ocorre nos dias atuais, solucionando a questão logo no seu nascedouro, em que pese a inviabilidade recursal dessa decisão. A mesma incoerência se registra no caso da ementatio libelliprevista no parágrafo único do art. 384 do Código de Processo Penal, quando diante da recusa do promotor de justiça em emendar a peça acusatória o juiz remete os autos à apreciação do Procurador Geral de Justiça. Se o chefe do Ministério Público não determinar a retificação da denúncia, impor-se-á ao magistrado absolver o acusado, uma vez que não poderá condená-lo por crime não cometido, não violentando a sua consciência jurídica e nem praticando injustiça, restando impune o réu relativamente ao ilícito perpetrado.Embora se saiba que eventual dano causado pelo delito possa ser reparado no âmbito do direito privado através de ação indenizatória, é sabido que na esfera penal os elementos probatórios são bem mais abrangentes, excluindo-se apenas as provas obtidas por meios ilícitos. Tanto é verdade que o parágrafo único do art. 64 do CPP, sugere ao juiz do cível a suspensão do feito até o julgamento final do processo-crime, o que tem sido uma constante na prática forense. Esta é outra forte razão para que toda ofensa de natureza penal seja dirimida no juízo criminal, visto que um dos principais efeitos da 98 sentença penal condenatória é o dever de indenizar a vítima. Portanto, se o promotor de justiça requerer o arquivamento do inquérito policial e o juiz discordando do pedido remeter o feito ao Procurador Geral de Justiça, que acatando a tese ministerial impõe ao magistrado inconformado o arquivamento do inquérito, nada impede diante do desinteresse da acusação pública que o ofendido possa promover por conta e risco a ação penal privada subsidiária da pública, uma vez que a lesão de seu direito não foi analisada pelo órgão constitucionalmente competente, o Poder Judiciário. 98 CORTIZO SOBRINHO, Raymundo. Cabimento da ação penal privada subsidiária da pública no arquivamento de inquérito policial . Jus Navigandi, Teresina, ano 9, n. 527, 16 dez. 2004. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=6051>. Acesso em: 10 maio 2009. 50 3.3.4 Tipo de ação penal cabível aos crimes de lesão corporal leve na Lei 11.340/06 O artigo sobre a Lei Maria da Penha versa que a natureza jurídica da ação penal pública incondicionada e a da ação penal pública condicionada são iguais, isto é, trata-se de um direito. Nesse contexto, observamos que as diversas espécies de infrações penais são apuradas judicialmente mediante o manejo da ação penal. A norma esculpida no art. 100 do Código Penal diz que, em regra, o julgamento dos crime é feito no bojo da ação penal pública incondicionada e apenas, excepcionalmente, numa ação penal pública condicionada ou ação penal pública de iniciativa privada. Ao observar o histórico do delito de lesão corporal leve, verificamos que antes da edição da Lei nº 9.099/1995 mencionada infração penal era processada mediante a utilização da ação penal pública incondicionada. 99 Entretanto, por questões de política criminal, com o advento da Lei nº 9.099/1995, o Ministério Público passou a propor a ação penal pública condicionada à representação para apurar o crime de lesão corporal leve, com base no artigo 88 da aludida norma. Ocorre que recentemente mais uma norma surgiu para o arcabouço normativo pátrio, no caso, a Lei nº 11.340/2006, conhecida por Lei Maria da Penha. O artigo 16, da citada norma diz que nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida, haverá uma audiência prévia ao recebimento da denúncia pra que o ofendido possa exercer o seu direito de renunciar à representação feita à autoridade policial ou ao Ministério Público. Isto porque o legislador considerou que, nos delitos em que ocorrer violência doméstica e familiar, a renúncia à representação só surtirá efeito se realizada perante a autoridade judiciária. 100 Assim sendo, utilizando-se citado método interpretativo, conclui-se que o artigo 41 da Lei nº 11340/2006 deve ser interpretado restritivamente, porque o que o legislador realmente quis dizer quando criou o aludido dispositivo legal é que aos 99 CARVALHO, João Paulo Oliveira Dias de. Lei Maria da Penha: harmonização entre os arts. 16 e 41 em relação ao crime de lesão corporal. Consulex, 23 maio 2008. Disponível em: <http://www.defensoria.pa.gov.br/index.php?q+node/123>. Acesso em: 17 abr. 2009. 100 CARVALHO, 2008. 51 crimes praticados com violência doméstica e familiar não são aplicados os benefícios que a Lei nº 9.099/1995 poderia conceder ao agressor, com a composição civil dos danos, a transação penal e a suspensão condicional do processo. 101 Dessa feita, o crime de lesão corporal leve cometido com violência doméstica e familiar contra a mulher deve continuar sendo apurado mediante ação penal pública condicionada, porque a ação condicionada não é um benefício ao réu. Ao agir desse modo, ajuízo revisor estará proporcionando a harmonização entre os arts. 16 e 41 da Lei Maria da Penha e divulgando o verdadeiro alcance da norma contida no art. 41 da Lei 11.340/06. 102 3.3.5 Conceito de violência doméstica A violência doméstica ou intrafamiliar é aquela praticada no lar ou na unidade doméstica, geralmente por um membro da família que viva com a vítima, podendo ser esta homem ou mulher, criança, adolescente ou adulto. 103 A violência doméstica pode ser praticada contra o gênero feminino e masculino. É um tipo de violência que ocorre dentro de casa, nas relações entre as pessoas da família, entre os homens e mulheres, pais, mães e filhos, entre jovens e idosos. Pode se afirmar que, independentemente da faixa etária das pessoas que sofrem espancamentos, humilhações e ofensas nas relações descritas, as mulheres, crianças e adultas são os principais alvos. 104 Há os que preferem denomina-la violência intrafamiliar e, neste caso, pode ocorrer fora do espaço doméstico, como resultado de relações violentas entre membros da própria família. Existe uma crítica com relação a essa terminologia porque, mais uma vez se estaria escondendo a violência praticada contra a mulher. 105 101 CARVALHO, 2008. CARVALHO, 2008. 103 CAVALCANTI, 2005. 104 CAVALCANTI, 2005. 105 CAVALCANTI, 2005. 102 52 A violência doméstica é um problema que acomete ambos os sexos e não costuma obedecer nenhum nível social, econômico, religioso ou cultural específico, como poderiam pensar alguns. Segundo o ministério da Saúde, as agressões constituem a principal causa de morte de jovens entre 5 e 19 anos. A maior parte dessas agressões provém do ambiente doméstico. A Unicef estima que, diariamente, 18 mil crianças e adolescentes sejam espancados no Brasil. Os acidentes e as violências domésticas provocam 64,4% das mortes de crianças e adolescentes no País. 106 A vítima de violência doméstica, geralmente, tem pouca auto estima e se encontra atada na relação com quem agride, seja por dependência emocional ou material. O agressor geralmente acusa a vítima de ser responsável pela agressão, a qual acaba sofrendo os efeitos da discriminação, culpa e vergonha. A vítima também se sente violada e traída, já que o agressor promete que nunca mais vai repetir este tipo de comportamento e termina não cumprindo a promessa. 107 A autora diz que estudos da socióloga Heleieth Saffiori concluíram que quando as mulheres se atrevem a prestar queixa às autoridades já estão sofrendo em silêncio há pelo menos dez anos. 108 Conquanto a lei não seja a maneira mais adequada para se fazer definições, o legislador conceituou com minudência a violência doméstica (artigo 5º), explanando, inclusive, o que se entende por violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral contra a mulher (artigo 7º). Necessário, portanto, que se conjuguem os artigos 5º e 7º da Lei nº 11.340/2006 conjuntamente, com o fito de extrair o melhor conceito. Art. 5º. Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no genro que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: I – no âmbito da unidade domestica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas; II – no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa; III – em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem 109 de orientação sexual. 106 CAVALCANTI, 2005. CAVALCANTI, 2005. 108 CAVALCANTI, 2005. 107 53 Art. 7º. São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras: I – a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal; II – a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da auto estima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação; III – a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos; IV – a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades; V – a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure 110 calúnia, difamação ou injúria. Por oportuno, a ilustre doutrinadora Maria Berenice Dias leciona: Primeiro a Lei define o que seja violência doméstica (art. 5º): “qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial”. Depois estabelece seu campo de abrangência. A violência passa a ser doméstica quando praticada: a) no âmbito da unidade doméstica; b) no âmbito da família; c) em qualquer relação íntima de afeto, independente da orientação sexual. 111 A par disso, conclui-se que não é preciso o ofensor e a vítima conviverem debaixo do mesmo teto para se caracterizar a violência como sendo doméstica; o que se exige é o vínculo de afeto que permitiu as agressões, sendo possível abranger também as pessoas esporadicamente agregadas. Podem ser não apenas cônjuge ou companheiro, como também avós, pais, tios, irmãos, sobrinhos, enteados, padrastos, namorados, etc. 109 BRASIL. Lei nº 11.340/06, 07 de agosto de 2006. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 8 ago. 2006. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03_Ato2004-2006/Leo/L11340.htm>. Acesso em: 20 out. 2008. 110 BRASIL. Lei nº 11.340/06, 07 de agosto de 2006. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 8 ago. 2006. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03_Ato2004-2006/Leo/L11340.htm>. Acesso em: 20 out. 2008. 111 DIAS, 2007. 54 3.3.6 Sujeito ativo e sujeito passivo da violência doméstica e familiar contra a mulher A Lei 11.340/2006 refere-se exclusivamente à violência contra a mulher, estabelecendo um sujeito passivo próprio dessas formas de violências específica, mas não predetermina nenhum sujeito ativo próprio, de modo que, aparentemente, não apenas o homem, mas também outra mulher poderia ser sujeito ativo de violência doméstica ou familiar contra a mulher. 112 Entretanto, esta última conclusão, referente ao sujeito ativo do delito, não se afigura pacífica e demanda uma maior reflexão. Com efeito inicialmente, em análise preliminar, afirmou-se que, tanto o homem quanto a mulher poderiam ser sujeito ativo de delitos caracterizados por violência doméstica e familiar contra a mulher e assim se concluiu a partir de análise literal da lei que, embora frise apenas a mulher como sujeito passivo da violência doméstica e familiar, nada refere quanto ao gênero sujeito ativo. Destarte, se a lei não faz distinção não acabe ao intérprete distinguir o sexo do sujeito ativo destes crimes. 113 No entanto, é preciso interpretar a lei sempre levando em conta princípios como o da razoabilidade e proporcionalidade, não descurando que a Lei Maria da Penha trata desigualmente o homem e a mulher, incrementando a severidade penal sempre que uma mulher for vítima de violência doméstica ou familiar. Ao relativizar um valor constitucional tão caro como o da igualdade, a Lei 11.340/2006 demanda uma interpretação restritiva, colimando não generalizar o que é excepcional. Esta “desigualdade” de tratamento seria inconstitucional não estivesse justificada racionalmente em uma diferença entre os gêneros masculino e feminino, verificável empiricamente. Deste modo, a razão que informa a Lei 11.340/2006 situase em uma nefanda realidade, construída cultural e historicamente, em que o homem hierarquizou relações, auto colocando-se nos lugares predominantes da estrutura social, com o que se determinaram a submissão e a discriminação contra a mulher, como já se salientou, esta superioridade geral masculina é muito clara quando se trata da força física, do potencial de intimidação e da superioridade hierárquica, no seio familiar e social, que o homem, como regra, possui sobre a mulher, eis a razão que inspira, em sua totalidade, a Lei 11.340/2006. onde inexiste esta razão, 114 também inexiste fundamento para aplicação desta norma excepcional. É robusta à violência ocorrida contra a mulher no seio da sociedade onde há séculos o homem tem pensamentos e atitudes machistas geralmente sendo 112 PORTO, 2007, p. 31. PORTO, 2007, p. 31. 114 PORTO, 2007, p. 31-32. 113 55 refletidas em agressões físicas e psicológicas contra o sexo feminino, sendo frágil e ao mesmo tempo tão desprotegidas por tamanha violência. A violência contra a mulher vinha sendo desencadeada de forma banalizada como um caos de ação penal privada personalíssima que desrespeita somente a vítima, onde o Estado, que obtém o poder da máquina estatal ficava inerte. Levando as opiniões como um mero caso particular sem adentrar no mérito de tamanha fragilidade do sexo feminino. Na luz da melhor justiça o legislador quis resguardar o princípio da igualdade, tratando os iguais de maneira igual, e os desiguais de forma díspar, na medida de suas desigualdades buscando um equilíbrio jurídico. A Lei 11.340/2006, traz a igualdade material de ambos os sexos, não sendo feita para beneficiar o sexo feminino. 115 A lei em seu artigo 5º, caput, diz que embora levando em consideração a não restrição do homem como sujeito ativo dos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, considera que: Artigo 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: 116 Assim, conclui-se que a violência de que trata a Lei Maria da Penha é aquela baseada no gênero na fragilidade do sexo feminino, dentro de relações de intimidade, seja na unidade doméstica, no âmbito da família, ou em qualquer relação íntima de afeto, independentemente da orientação sexual ou da coabitação. A idéia de gênero é muito cara ao movimento feminista; trata-se efetivamente de um conceito que revela a relação de discriminação e violência praticada pelo homem contra a mulher, por isso que a violência praticada entre mulheres não é baseada no gênero e não caracterizada a violência doméstica e familiar de que trata a Lei 11.340/2006. com efeito, uma mulher não pode discriminar a outra por pertencer ao gênero feminino, já que ambas pertencem ao mesmo gênero. 117 Com efeito, quando, no ambiente doméstico, afetivo ou familiar, uma mulher agride, ameaça, ofende ou lesa patrimonialmente outra mulher, o sucedido criminoso opera-se entre partes supostamente iguais, duas mulheres, e não justifica 115 PORTO, 2007, p. 32. Tal dispositivo repete quase integralmente o art. 1º da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher – Convenção de Belém do Pará, que foi um dos instrumentos de Direito Internacional Público que inspiraram a lei 11.340/2006. 117 PORTO, 2007, p. 33. 116 56 um tratamento mais severo à mulher que agride outra mulher do que àquela que lesiona, ofende ou ameaça um homem. A lei 11.340/2006 não finaliza dar uma proteção indiscriminada à mulher, mas sim proteger a mulher em face do homem, supostamente mais forte, ameaçador e dominante no quadro cultural, daí por que não se aplica a referida legislação quando sujeito ativo for do gênero feminino, podendo-se, destarte, afirmar que o sujeito ativo de crimes praticados em situação de violência doméstica ou familiar contra a mulher, para os efeitos da Lei 11.340/2006, é apenas o homem. 118 Além disso, é importante considerar que a ação ou omissão que existencializar as diversas formas de violência doméstica e familiar, segundo o caput do art. 5º da Lei 11.340/2006, devem ser baseadas no gênero, ou seja, fundadas na relação de discriminação contra a mulher. Objetivamente, parece que toda violência do homem contra a mulher é baseada no gênero, mas ela inaugura apenas um presunção júris tantum, visto ser possível que, em alguns casos, o agressor logre provar que sua ação não esteve subjetivamente inspirada em qualquer discriminação contra a mulher. É que a configuração do crime não prescinde da verificação do elemento subjetivo da conduta. Nos casos dos crimes informados pela violência de gênero de que trata a Lei Maria da Penha, o elemento subjetivo genérico é a prática das diversas formas de violência enunciadas no artigo 7º da referida lei, especificamente, porém esta finalidade delitiva deve estar informada por um preconceito discriminatório contra a mulher. Ocorre que esta discriminação, por ser fato notório no meio social, é presumida sempre que ocorrerem as hipóteses objetivas dos artigos 5º e 7º da Lei Maria da Penha, sendo, entretanto, possível apenas ao agressor apresentar prova em contrário, com o que seriam afastadas a restrições impostas pela Lei da Violência Doméstica, especialmente, 119 àquelas contrárias aos benefícios da Lei 9.099/1995. O artigo 129 parágrafo 9º, do Código Penal, trata da questão da co-autoria e da comunicabilidade das circunstâncias relativas às vinculações de parentesco (ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiros) ou das relações domésticas, de coabitação, hospitalidade ou convivência. A solução do problema reside na regra do artigo 30 do Código Penal, onde consta que não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. A regra é, pois, a da incomunicabilidade das circunstâncias e condições de caráter pessoal, salvo em duas hipóteses cumulativas: a) que estas condições ou circunstâncias sejam elementares do crime; b) que elas sejam de conhecimento do co-autor ou partícipe. 118 119 PORTO, 2007, p. 33. PORTO, 2007, p. 34. 57 No tocante ao artigo 129 parágrafo 9º do Código Penal, as relações de parentesco, convivência, coabitação, doméstica e de hospitalidade, mencionadas expressamente no texto incriminador, constituem elementares do tipo penal e, portanto, sendo de conhecimento do co-autor ou partícipe a ele se comunicam. Assim, no caso da mulher que ajuda homem a agredir sua companheira, esposa ou namorada, obrando em situação de violência doméstica, e tendo conhecimento das relações domésticas, familiares ou de convivência entre estes, também ela responde pelo delito do artigo 129 parágrafo 9º, do Código Penal com as restrições do artigo 41 da Lei 11.340/2006 que proíbe os benefícios da Lei 9.099/1995 em situações de violência doméstica contra a mulher. Caso contrário, se, por exemplo ignorasse as relações específicas entre eles, responderia apenas pelo delito do artigo 129, caput, do Código Penal e ainda poderia beneficiar-se da Lei 9.099/1995 em sua plenitude. O mesmo não ocorrerá, entretanto, em relação a outros delitos enquadráveis como de menor potencial ofensivo, como a ameaça, constrangimento ilegal, invasão de domicílio, crimes contra a honra. Tais delitos não têm as relações domésticas ou familiares do artigo 5º da Lei 11.340/2006 como elementares, mas apenas como complementos especializantes, situados na Lei Maria da Penha e, portanto, estas circunstâncias não se comunicam aos co-autores e partícipes, de modo 120 que estes poderão beneficiar-se da Lei 9.099/1995. Para Maria Berenice Dias, quem sofre violência doméstica e familiar é sempre a mulher, assim entendidas todas as pessoas que tenham identidade com o sexo feminino, ou seja, lésbicas, travestis, transgêneros, transexuais. Tamanha abrangência se dá porque as estruturas familiares não são formadas somente pelo casamento, mas também pela união estável, pela união homoafetiva. 121 Por outro lado, comete violência doméstica e familiar: Qualquer ascendente; descendente; irmão ou irmã; padrasto ou madrasta; cônjuge; enteado; ou enteada; companheiro ou companheira; convivente; independe de ainda se perdurar o laço de afinidade, ou seja, o casamento, a união estável ou o namoro, podendo por exemplo, o ex – companheiro ser autor do crime assim como uma ex-madrasta. 122 Ao estudarem os ditames da Lei Maria da Penha, alguns doutrinadores defendem que determinadas empregadas domésticas podem ser vítimas de violência doméstica e familiar, valendo-se do artigo 5º, inciso I, da referida lei, que 120 PORTO, 2007, p. 34. DIAS, 2007, p. 41. 122 CAMPOS; CORRÊA, 2007. p. 225. 121 58 reza “[...] convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas”. 123 Nesse diapasão, Damásio de Jesus e Hermelino Santos classificam em categorias as empregadas domésticas de acordo com o seu grau de inserção na unidade familiar, como sendo de primeira categoria as diaristas; de segunda categoria as que laboram durante a semana sem morar no emprego; e, por derradeiro, as de terceira categoria aquela que trabalham durante a semana e moram no emprego. 124 O que é determinante para a incidência dessa lei é se a trabalhadora goza de confiança e intimidade no convívio doméstico. Assim, as empregadas de primeira categoria (diaristas) não estão abrangidas pela Lei Maria da Penha, eis que se restringem ao cumprimento de suas atividades funcionais específicas. No que atine às demais categorias, basta verificar se as empregadas cumprem atividades próprias de membros da família para se aplicar a Lei nº 11.340/2006. Quanto àquela que trabalha diariamente, mas não dorme no emprego (segunda categoria), vemos um nível de inserção nas questões familiares efetivamente mais relevante, justamente pelo maior tempo que permanece na casa. Nesse caso, a aplicação da lei nova está condicionada à presença de determinadas circunstâncias. Se a sua participação no ambiente familiar no qual trabalha não é tão ampla na medida em que, ao fim do dia, retira-se e não presencia a vida familiar mais intensa, o que ocorre geralmente à noite, quando todos se reúnem após as atividades diárias de cada um, nem dela toma conhecimento, não incide a lei nova. Se, entretanto, não obstante dormir for da residência, sua participação nos fatos diários é intensa, chegando a ser considerada por todos e por ela própria membro da família, tem a proteção da Lei nº 11.340/2006. Na terceira categoria, estamos falando daquelas hipóteses em que a mulher, trabalhando durante anos a fio na residência da patroa, cria os filhos desta e também os netos. Casos especiais, nos quais a empregada doméstica dorme na residência, residindo no imóvel da família. Ela se torna mais suscetível de violência de membros empregadores, naturalmente pelas informações que detém e pelo grau de intimidade que desfruta, não dispondo de uma “fuga” eficaz e imediata do ambiente e do local de 125 trabalho no momento da ocorrência. 123 BRASIL. Lei nº 11.340/06, 07 de agosto de 2006. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 8 ago. 2006. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03_Ato2004-2006/Leo/L11340.htm>. Acesso em: 20 out. 2008. 124 JESUS, Damásio Evangelista de; SANTOS, Hermelino de Oliveira. A empregada doméstica e a Lei “Maria da Penha”. São Paulo: Complexo Jurídico Damásio de Jesus, nov. 2006. Disponível em: <http://www.damasio.com.br>. Acesso em: 21 out. 2008. 125 JESUS; SANTOS, 2006. 59 O artigo 41 da Lei nº 11340/2006 reza: “Os crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei nº 9.099 , de 26 de setembro de 1995” 126 . A Lei dos Juizados Especiais, Lei nº 9.099/1995, foi elaborada com o fim de decrescer a excessiva quantidade de processos que abarrotavam as varas comuns criminais e cíveis de todo o país, dando maior celeridade à instrução processual em casos de delitos de menor potencial ofensivo 127 , no âmbito penal, e no cível, em causas de menor monta. Na seara criminal, a Lei nº 9.099/1995 criou instrumentos para possibilitar a realização de processos de despenalização, a privilegiar o consenso na solução das controvérsias, trazendo os seguintes institutos: a) da composição civil (artigo 74, parágrafo único); b) da transação penal (artigo 76); c) da representação nos delitos de lesões culposas ou dolosas de natureza leve (artigo 88 e 91) e, finalmente, d) da suspensão condicional do processo (artigo. 89). No entanto, a mencionada lei sempre foi alvo de muitas insatisfações em relação à efetividade dessas punições, que na maioria das vezes limitavam-se ao pagamento de cestas básicas ou à prestação de serviços à comunidade e, por isso. Acabavam por não favorecer o interesse das vítimas. Vislumbra-se que a Lei nº 9.099/95 foi criada para decidir conflitos de natureza casual, mas com pouca repercussão, devido à baixa complexidade dos delitos. Constata-se, assim, que os juizados especiais não são o meio mais apropriado para resolver crimes de gênero, é dizer, “são aqueles tipificados no art. 5º e incisos da Lei nº 11.340/06 praticados por homem contra mulher que revele uma manifestação do patriarcado, ou seja, qualquer ação ou omissão “baseada no gênero” que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto”. 128 Nesse caminho, em se tratando de violência doméstica, há habitualidade e constância nas agressões perpetradas pelo agressor. A violência manifesta-se reiteradamente. Normalmente, as ofensas apenas são conhecidas depois de 126 BRASIL. Lei nº 11.340/06, 07 de agosto de 2006. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 8 ago. 2006. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03_Ato2004-2006/Leo/L11340.htm>. Acesso em: 20 out. 2008. 127 De acordo com o artigo 61 da Lei nº 9.099/95, considera-se de menor potencial ofensivo as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa. 128 SILVA JÙNIOR, Edson Miguel da. Direito penal de gênero. Lei nº 11.340/06: violência doméstica e familiar contra a mulher. Jus Navigandi, Teresina, ano 11, n. 1231, Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=9144>. Acesso em: 22 out. 2008. 60 decorrido um longo período de tempo, com as vítimas a sobrevier temendo por suas integridades físicas e até por suas vidas. O fato é que o sistema estabelecido pela Lei dos Juizados preocupa-se, mormente, em acelerar os processos de menor gravidade, com o fito de desafogar o Judiciário de feitos intermináveis. No entanto, não é esse o intuito precípuo quando se trata de violência doméstica e familiar contra a mulher. Aplicar a Lei nº 9.099/95 à violência doméstica seria banaliza-la, seria descumprir a participação da vítima no processo e dos seus direitos. O autor dos fatos apenas cumpriria medidas alternativas, o que seria positivo pra ele, mas não na perspectiva da vítima. As mulheres agredidas aceitariam os acordos por medo, e cresceria entre os homens a certeza da impunidade. Nessa Linha, o autor Lênio Luiz Streck critica: Com o Juizado Especial Criminal, o Estado sai cada vez mais das relações sociais. No fundo, institucionalizou a surra doméstica com a transformação do delito de lesões corporais de ação pública incondicionada para ação pública condicionada. Além disso, uma “surra doméstica” é considerada crime de menor potencial ofensivo (soft crime), cuja pena é o pagamento de uma cesta básica [...] O Estado assiste de camarote e diz: batam-se que eu não tenho nada com isto! É o neoliberalismo no direito, agravando a própria crise da denominada “teoria do bem jurídico”, própria do modelo liberal individualista de Direito. 129 Na mesma esteira, ainda, confira-se o artigo publicado por Luis Flávio Gomes e Alice Bianchini: O dia-a-dia do funcionamento dos juizados nunca agradou alguns setores da sociedade. Algumas associações de mulheres, especialmente, sempre protestaram contra a forma de solução dos conflitos “domésticos” (ou seja: da violência doméstica) pelos juizados. Em casos de ação penal pública, a mulher (ou outra vítima qualquer) nem sequer participa da transação penal (o Estado “roubou-lhe o conflito”, como diz Louk Hulsman). O profundo malestar que causou o modelo praticado de Justiça consensuada a esses segmentos constitui o fundamento mais evidente do surgimento do novo diploma legal, que está refutando de modo peremptório qualquer incidência da Lei 9.099/1995 (art. 41). 130 As mulheres agredidas, fragilizadas em razão da violência e dependentes, econômica e emocionalmente, dos agressores, não saíam satisfeitas com o deslinde da causa, não encontrando o apoio que foi buscado na Justiça. 129 STRECK, Lênio. Os crimes sexuais e o papel da mulher no contexto da crise do Direito: uma abordagem hermenêutica. Cadernos Themis Gênero e Direito, Porto Alegre, v. 3, n. 3, p. 135-164, 2002. 130 GOMES, Luis Flávio; BIANCHINI, Alice. Aspectos criminais da lei de violência contra a mulher. Disponível em : <http://www.lfg.com.br/public_html/article.php?story=20060828150003538>. Acesso em: 5 mar. 2009. 61 Resta patente, portanto, que a Lei dos Juizados não é satisfatória para ser aplicada aos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. 3.3.5 A representação nos crimes de lesão corporal leve do parágrafo 9º do artigo 129 do Código Penal Com o advento da Lei Maria da Penha, surgiu relevante celeuma a respeito de qual a ação penal cabível aos casos de lesão corporal de natureza leve perpetrada com violência doméstica e familiar contra mulher, se pública incondicionada, ou se pública condicionada à representação da vítima. Existem respeitáveis posicionamento em ambos os sentidos. Com o advento da Lei nº. 9.099/1995, em seu artigo 88, passou-se a exigir a representação da vítima nos casos de lesão corporal leve, a saber: “Além das hipóteses do Código Penal e da legislação especial, dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas”. 131 Posteriormente, no ano de 2006, surgiu a Lei nº 11.340/2006, a qual, em seu artigo 41, arredou expressamente a aplicabilidade da Lei nº 9.099/1995 aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, em todos os seus termos. Assim, ao menos nessas situações (da Lei nº 11.340/2006), houve no Código Penal, regressando a desnecessidade de a vítima representar contra seu agressor, sendo, portanto, ação penal pública incondicionada. Como consequência lógica de tal dispositivo, deixa de existir a exigência de representação dos casos lesões corporais leves, porventura praticadas com violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que a exigência da representação para tais crimes se encontra no art. 88 da Lei 9.099/95 e o art. 41 veda a aplicação de toda a Lei 9.099/95 para o caso de crimes, sem estatuir qualquer exceção para tal exigência voltada tal ação a ser pública incondicionada, nos termos do art. 100 do Código Penal, que determina a regra geral à ação penal ser de natureza pública incondicionada, salvo quando a lei expressamente a declarar condicionada à representação do ofendido (§ 1º). 132 Com efeito, o artigo 41 da Lei nº 11.340/2006, ao vedar a aplicação da Lei nº 9.099/1995, não apenas objetivou suprimir a possibilidade de aplicação das medidas 131 BRASIL. [Leis etc.]. Vade mecum acadêmico de direito. Organização Anne Joyce Angher. 2. ed. São Paulo: Rideel, 2005. p.1041. 132 CAMPOS; CORRÊA, 2007, p. 510. 62 despenalizadoras, mas também, e principalmente, buscou não condicionar a lesão leve à representação da vítima, prevista no artigo 88 da Lei 9.099/1995. O art. 41 da Lei n.º 11.340/2006, ao excluir a aplicação da Lei n.º 9.099/1995, pretendeu somente vedar a aplicação dos institutos despenalizadores nela previstos, tais como a composição civil, a transação penal, que são instrumentos impeditivos da persecução criminal contra o agressor. Não foi intenção do legislador afastar a aplicação do art. 88 da Lei n.º 9.099/95, que condiciona a ação penal concernente à lesão corporal leve à representação da vítima, tanto que esta mesma representação é prevista no art. 12, inciso I, da Lei n.º 11.340/2006, que é a da violência doméstica. Exigência diversa vai conduzir a um absurdo dentro do sistema, o que não se pode admitir. Há outros crimes muito mais graves, para os quais, não a Lei n.º 9.099/1995, mas o próprio Código Penal exige representação da vítima. Exemplo: crimes contra a liberdade sexual, estupro, atentado violento ao pudor, posse sexual mediante fraude, atentado ao pudor mediante fraude, corrupção de menores. Em todos esses crimes, desde que ofendida a mulher em situação de pobreza e em contexto de violência doméstica, haverá necessidade da sua representação, não com base na Lei n.º 9.099, mas exigida expressamente pela letra do Código Penal, no art. 225, § 1.º, inciso I, e § 2.º. Ora, então, num crime mais grave, atentando contra a liberdade sexual da mulher, vaise admitir a retratação da representação e, num crime infinitamente mais leve, como o de lesão corporal leve, não se vai admitir? Isso é um absurdo, 133 dentro do sistema, que não se pode admitir. Entretanto, alguns autores, diga-se, a minoria, entendem que a ação penal continua dependendo de representação da vítima, aduzindo que esta deve agir em interesse próprio e que a inexigência de representação poderia vir a arruinar a família, em razão de a conciliação civil mostrar-se como a melhor forma para solucionar problemas vivenciados ao ambiente doméstico e familiar. Transcreve-se trecho de artigo atinente ao tema de autoria do consagrado doutrinador Damásio de Jesus: Segundo entendemos, a Lei nº 11.340/2006 não pretendeu transformar em pública incondicionada a ação penal por crime de lesão corporal cometido contra mulher no âmbito doméstico e familiar, o que contraria tendência brasileira da admissão de um Direito Penal de intervenção Mínima e dela retiraria meios de restaurar a paz no lar. Público e incondicionado o procedimento policial e o processo criminal, seu prosseguimento, no caso de a ofendida desejar extinguir os males de certas situações familiares, só viria piorar o ambiente doméstico, impedindo reconciliações. 134 133 Cf. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas corpus n. 96.992-DF (2007/0301158-9). Impetrante: José Alfredo Gaze de França. Impetrado: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Relatora: Ministra Jane Silva (desembargadora convocada do Tribunal de Justiça de Minas Gerais). Brasília, DF, 12 de agosto de 2008.Disponível em: <http://www.stj.jus.br/webstj/Processo/Justica/detalhe.asp?numreg=200703011589&PV= 010000000000&tp=51>. Acesso em: 11 set. 2008. 134 JESUS, Damásio Evangelista de. Da exigência de representação da ação penal pública por crime de lesão corporal resultante de violência doméstica e familiar contra mulher (Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006). São Paulo: Complexo Jurídico Damásio de Jesus, nov. 2006. Disponível em: <http://www.damásio.com.br>. Acesso em: 20 nov. 2008. 63 “PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI 11.343/06 (MARIA DA PENHA). LESÕES CORPORAIS LEVES. RETRATAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. ENTIDADE FAMILIAR. CÉLULA MATER DA SOCIEDADE. ESPECIAL PROTEÇÃO DO ESTADO. 1 Ao editar a Lei nº 11.343/06, o legislador pretendeu afastar os institutos despenalizadores das normas dos juizados especiais, vedando a composição civil extintiva da ação penal, a transação penal e a aplicação de medidas alternativas à pena de prisão. Não pretendeu, contudo, excluir a aplicação integral da Lei nº 9.099/95, em especial da condição de procedibilidade da ação penal nos crimes de lesões corporais leves e culposos, subordinados à representação da vítima. 2 O artigo 16 da Lei Maria da Penha possibilita a "renúncia à representação" perante o Juiz, que nada mais é que a retratação da representação em audiência especialmente designada para este fim. Se as partes entendem possível a continuidade da família, não é razoável que o Estado intervenha em prejuízo da manutenção da paz familiar. A realização da citada audiência objetiva fornecer ao Juiz os elementos necessários para aferir eventual estado de coação vítima, devendo ser acatada ou rejeitada a vontade manifestada se presentes razões plausíveis para presumir vícios na sua expressão. Na aplicação da lei o Juiz atenderá os fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Neste caso, deve primar pela continuação da família, célula mater da sociedade, conferindo-lhe especial proteção, nos termos do artigo 226 da Constituição Federal.3- Recurso 135 conhecido e desprovido. Diversamente, a doutrina majoritária entende que a ação penal relativa aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher tornou a ser pública incondicionada, pelo próprio caráter protetivo da Lei Maria da Penha, prevalecendo o interesse público sobre o privado na repressão à violência doméstica, com o intuito de dar maior efetividade à garantia constitucional de ampla proteção à família e ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Segundo Maria Berenice Dias: A Lei Maria da Penha repudiou os Juizados Especiais Criminais para apreciarem a violência doméstica, tanto que criou os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher – JVDFMs, deslocou a competência para as Varas Criminais, enquanto não estruturados os JVDFMs (artigo 33). Mas foi além, vedou a aplicação de penas restritivas de direitos de conteúdo econômico, como a entrega de cestas básicas e o pagamento de multa (artigo 17).A intenção de livrar o delito de lesões corporais qualificado pela violência doméstica da égide da Lei dos Juizados Especiais também decorre do fato de ter havido a majoração da pena máxima, que passou de um para três anos. Com esse argumento da pena de menor potencial ofensivo, pois assim são considerados os crimes cuja pena máxima não é superior a dois anos (Lei nº 9.099/1995, artigo 6º).Outro fundamento que justificaria a inexigibilidade da representação é o fato de a Lei nº 9.099;1995 não ter dado nova redação ao Código Penal. Seu texto permaneceu 135 DISTRITO FEDERAL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 20060910166249RSE. 1ª Turma Criminal. Relator: George Lopes Leite. Julgado em 29/11/2007. DJ, 13 fev. 2008. p. 2399. disponível em: <http://tjdf19.tjdft.jus.br/cgi-bin/tjcgi1?DOCNUM=1&PGATU1&1=20&ID=61293,42911,7580&MGWLPN=SERVIDOR1&NXTPGM=jrhtm03&OPT=&ORIGEM=INT ER>. Acesso em: 23 out. 2008. 64 inalterado. Ou seja, a exigência de representação não foi incorporada à legislação codificada. Houve simples previsão, no bojo da Lei dos Juizados Especiais, condicionando à representação as lesões corporais leves e lesões culposas.Como a Lei que procedeu a esta alteração teve sua incidência afastada por lei posterior, em sede de violência doméstica, voltaria a vigorar o Código Penal.Esta é a linha de raciocínio de quem sustenta que o delito de lesão corporal leve, qualificado por ter sido praticado no âmbito das relações familiares,é crime de ação penal pública incondicionada. 136 Nesse sentido, impede colacionar ementa de Apelação Criminal, julgada pela 1ª Turma Criminal, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: PENAL E PROCESSUAL PENAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – APELAÇÃO, RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E MANDADO DE SEGURANÇA – INTERESSE RECURSAL – LESÕES CORPORAIS LEVES – REPRESENTAÇÃO – DESNECESSIDADE – AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. 1- A via adequada para manifestar o inconformismo contra decisão que deixa de receber a denúncia ou a queixa é o Recurso em Sentido Estrito (Art. 581, inciso I, do Código de Processo Penal). Não se conhece, portanto, de Apelação interposta com essa finalidade, ainda mais se a questão sequer restou decidida em primeiro grau de jurisdição. 2- A Lei Maria da Penha, assim conhecida em homenagem a uma das muitas vítimas de violência doméstica, teve como objetivo maior estimular os formadores de opinião pública e os operadores do direito a refletirem mais detidamente sobre o problema e a assumirem, corajosamente, uma nova postura frente a atitudes covardes de homens que resolvem abandonar o seu papel natural de guardiões do lar para se transformarem em algozes e carrascos cruéis de sua própria companheira. 3- Assim, o recuo da mulher, que em um primeiro momento decidira dar um basta em seu sofrimento, não é suficiente para justificar o arquivamento dos autos. Essa situação, aliás, é muito comum, pois a dependência econômica e emocional da mulher, na maioria dos casos, acaba por arrefecer-lhe o desejo e retirarlhe a vontade de prosseguir na luta. 4- Nos termos da legislação em destaque (artigo 41), aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9,099, de 26 de setembro de 1995. Sendo assim, a ação penal reativa aos crimes de lesões corporais leves praticados no ambiente doméstico e familiar contra a mulher são de ação pública incondicionada, posto que patente o interesse geral da sociedade, não só pelos objetivos da lei em questão, como pelo que preconiza o seu artigo 6º, considerando a violência doméstica e familiar contra a mulher uma das formas de violação dos direitos humanos. 5- Mantém-se a revogação da prisão cautelar do ofensor se o fato ocorreu há mais de seis meses e, até hoje, não se tem notícias de novo desentendimento capaz de 137 justificar a prisão pelo mesmo motivo – garantia da ordem pública.. [sem destaques no original]. Recentemente, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu, por maioria, acerca da matéria, no sentido de que a ação penal nos crimes de lesão 136 DIAS, 2007, p. 119. DISTRITO FEDERAL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 20060910173057APR. 1ª Turma Criminal.Relator: Sérgio Bittencourt. Julgado em: 31/05/2007. DJ, 25 jul. 2007. p. 126. Disponível em: <http://tjdf19.tjdft.jus.br/cgibin/tjcgi1?DOCNUM=1&PGATU=1&1=20&ID=612293,42812,5095&MGWLPN=SERVIDOR1&NXTPG M=jrhtm03&OPT=&ORIGEM=INTER>. Acesso em: 24 out. 2008. 137 65 corporal qualificada pela violência doméstica é pública incondicionada, ou seja, não depende de autorização da vítima. 138 LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão que deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo MP, determinando que a denúncia, anteriormente rejeitada pelo juiz de 1º grau, fosse recebida contra o paciente pela conduta de lesões corporais leves contra sua companheira, mesmo tendo ela se negado a representá-lo em audiência especialmente designada para tal finalidade, na presença do juiz, do representante do Parquet e de seu advogado. Com isso, a discussão foi no sentido de definir qual é a espécie de ação penal (pública incondicionada ou pública condicionada à representação) deverá ser manejada no caso de crime de lesão corporal leve qualificada, relacionada à violência doméstica, após o advento da Lei n. 11.340/2006. A Turma, ao prosseguir o julgamento, por maioria, denegou a ordem, por entender que se trata de ação penal pública incondicionada, com apoio nos seguintes argumentos, dentre outros: 1) o art. 88 da Lei n. 9.099/1995 foi derrogado em relação à Lei Maria da Penha, em razão de o art. 41 deste diploma legal ter expressamente afastado a aplicação, por inteiro, daquela lei ao tipo descrito no art. 129, § 9º, CP; 2) isso se deve ao fato de que as referidas leis possuem escopos diametralmente opostos. Enquanto a Lei dos Juizados Especiais busca evitar o início do processo penal, que poderá culminar em imposição de sanção ao agente, a Lei Maria da Penha procura punir com maior rigor o agressor que age às escondidas nos lares, pondo em risco a saúde de sua família; 3) a Lei n. 11.340/2006 procurou criar mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra as mulheres nos termos do § 8º do art. 226 e art. 227, ambos da CF/1988, daí não se poder falar em representação quando a lesão corporal culposa ou dolosa simples atingir a mulher, em casos de violência doméstica, familiar ou íntima; 4) ademais, até a nova redação do § 9º do art. 129 do CP, dada pelo art. 44 da Lei n. 11.340/2006, impondo pena máxima de três anos à lesão corporal leve qualificada praticada no âmbito familiar, corrobora a proibição da utilização do procedimento dos Juizados Especiais, afastando assim a exigência de representação da vítima. Ressalte-se que a divergência entendeu que a mesma Lei n. 11.340/2006, nos termos do art. 16, admite representação, bem como sua renúncia perante o juiz, em audiência especialmente designada para esse fim, antes do recebimento da denúncia, ouvido o Ministério Público. HC 96.992-DF. (Rel. Min. Jane Silva Desembargadora convocada do TJ-MG-, julgado em 12/8/2008 – SEXTA TURMA). Outrossim, segundo nosso ordenamento jurídico, os delitos praticados com violência física ou grave ameaça, à exceção do crime de ameaça na modalidade simples, são puníveis independentemente de representação da vítima, caso não haja previsão expressa em sentido contrário; e a lesão corporal de natureza leve não é diferente, porquanto, com a não aplicação da Lei nº 9.099/1995 por expressa 138 O Informativo Online é uma publicação da ESMP - ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE. Praça Fausto Cardoso, 327-3º andar-Centro Tel:79- 216-2400-FAX:792117476 - www.esmp.mp.se.gov.br/Folhetim/Edicao07.html - 34k Acesso em 23 de março 2009. 66 imposição do artigo 41 da Lei Maria da Penha, nenhum dispositivo na legislação pátria estabelece que a ação penal do crime de lesão corporal leve qualificado pela violência doméstica seja precedida de representação da ofendida. Assim ensina Fausto Rodrigues de Lima: “[...] Se não houver qualquer menção legal determinando o contrário, o crime será de ação penal pública incondicionada, e não depende de representação.O crime depende de representação mais comumente denunciado é o de ameaça (artigo 147). No entanto, poderão ocorrer alguns outros mais raros (menos registrados), como perigo de contágio venéreo (artigo 130, CP), violação da correspondência (artigo 151, CP), divulgação de segredo (artigo 153, CP), furto de coisa comum (artigo 156, CP), ou qualquer crime contra o patrimônio previsto no Titulo II do Código Penal, cometido sem violência ou grave ameaça (artigo 182, incisos I, II e III, c/c art. 183, inciso I, CP), e, ainda, contra os costumes se praticado contra vítima pobre (artigo 225, parágrafo 2º, CP). Os crimes de ação penal privada podem perfeitamente justificar a audiência do artigo 16, já que seu processamento depende também da vontade das vítimas. Entram nesta categoria os crimes contra a honra (artigos 138, 139 e 140, CP), contra os costumes (artigos 213,214, 215, 216, 216A e 218, com exceção daqueles cometidos com abuso do pátrio poder ou pelo padrastro, arftigo 225 parágrafo 1º inciso II, CP) de dano simples (artigo 163, caput CP), de fraude à execução (artigo 179, CP), de induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento (artigo 236, CP) e de exercício arbitrário das próprias razões, se cometido sem violência (artigo 345 parágrafo único, CP).Verifica-se, assim, que os crimes passíveis de renúncia mais comuns são caracterizados pela violência psicológica, representada, por exemplo, pelo crime de ameaça, de injúria (humilhações e desqualificações, por exemplo), ou pela contravenção penal de perturbação da tranquilidade (perseguição, ciúmes ou controle excessivo). [...] Chama a atenção, por fim, o fato de que nenhum crime praticado com violência física ou grave ameaça, com exceção da ameaça em sua forma simples (artigo 147, CP), depende de representação Assim, são de ação penal incondicionada os crimes de lesão qualificados pela violência doméstica (artigo 129 parágrafo 9º, CP), de dano qualificado pela violência, grave ameaça ou com emprego de substância inflamável ou explosiva (artigo 163, parágrafo único, inciso I e II, CP), contra o patrimônio, praticado com violência ou grave ameaça (artigo 183 inciso I, CP) ou, ainda, de exercício arbitrário das próprias razões, com emprego de violência (artigo 345, parágrafo único, CP).Em nenhum destes casos as vítimas podem renunciar ao processo. Essa coerência legislativa e jurídica é mais um argumento que suplanta os que ainda insistem em exigir representação das mulheres vítimas de espancamentos. Por isso, o artigo 16 jamais pode ser interpretado como se tivesse mantido a representação para a lesão 139 corporal”. [sem destaques no original] Diante dos argumentos acima aduzidos, divisa-se que o tipo de ação penal cabível ao crime de lesão corporal leve praticado com violência doméstica e familiar contra 139 a mulher é a pública incondicionada, eis que nesses casos o interesse LIMA, Fausto Rodrigues de. A renúncia das vítimas e os fatores de risco à violência doméstica. Da construção à aplicação do art. 16 da Lei Maria da Penha. Jus Navigandi, Teresina, ano 12, n. 1615, 3 dez. 2007. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=10718>. Acesso em: 28 out. 2008. 67 público deve prevalecer, como forma de proteção à família e à dignidade da pessoa humana, mas também não há previsão expressa em nosso ordenamento jurídico acerca da necessidade de representação da vítima. 68 CONCLUSÃO O objetivo desta monografia consistiu na análise da proteção da integridade da mulher, física, moral e econômica, abarcando deste a tutela mais gravosa, correspondente à morte, passando pela lesão corporal e culminando com qualquer espécie de sofrimento. Analisando em primeira mão o tema da origem da Lei nº 11.340/2006, sua denominação e situação atual, antecedentes legislativos e o bem jurídico tutelado. A violência de gênero como conceito sociológico, é utilizada como uma categoria analítica reconhece que as diferenças entre homens e mulheres são construídas socialmente e se fundam em relações de poder, ligando ao contexto histórico e cultural da humanidade. Tendo também influencia na sociedade patriarcal e na discriminação história contra as mulheres, submetendo as mulheres a uma condição de submissão, fato que perdurou por todo o desenvolvimento da sociedade humana. As mais diversas formas de violência em que a mulher foi historicamente, perseguida, maltratada e humilhada, e as condutas masculinas aviltaram sua dignidade e os valores protegidos pelos direitos humanos. Os direitos humanos inerentes à mulher foram violados ao longo do tempo, por essa chamada violência de gênero, em que a mulher, é submetida a diversas formas de violência. Um aspecto importante que foi abordado nesta monografia, é o bem jurídico vida e integridade física, psíquica, moral e econômica, da mulher, pois o bem, no seu sentido amplo, é tudo o que tem valor para o ser humano. Neste aspecto deve ser protegido. Anteriormente à Lei Maria da Penha, a violência doméstica e familiar contra a mulher era regulada pela Lei dos Juizados Especiais, a Lei nº 9.099/1995. contudo, em razão do tratamento de criem de menor potencial ofensivo, o Judiciário, valendose dos institutos despenalizadores da Lei nº 9.099/1995, quase sempre realizava acordos com o ofensor, agindo assim, não coibia a violência doméstica perpetrada contra a mulher no interior dos lares. Pelo contrário, o fato de o Estado não assumir uma postura mais austera acerca dos problemas domésticos indicava que a mulher 69 tinha que apanhar em silêncio, em conseqüência da impunidade dos seus agressores e da continuidade das ofensas. A não aplicação da Lei dos Juizados Especiais e um importante salto no entendimento de que é desnecessária a representação da ofendida nos casos de lesões corporais. Nestes casos, a Lei Maria a Penha tirou a árdua tarefa de a vítima ter que representar contra seu ofensor para que seja ajuizada a ação penal. Com a inovação da Lei nº 11.340/2006, o ordenamento jurídico pátrio, porque reprime a violência contra a mulher, explanando com minudência todas as formas de agressões a que a vítima esta sujeita.] Nesse meio tempo, a Lei nº 11.340/2006, ao opor-se à exigência de representação, tornou-se mais eficaz no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, pois esta, na maioria das vezes, depende econômica e emocionalmente de seu algoz e, com isso, tende a ser pressionada a não representar, ou a retratar-se da representação, pela instauração de ação penal. Assim, condicionar o início da instrução criminal à representação da vítima não coibiria a violência, mas sim tornaria a ocorrer as mesmas situações ocasionadas pela lei nº 9099;1995. some-se a isso o fato de não mais haver previsão expressa a respeito da necessidade de representação, porquanto a Lei Maria da Penha, em seu artigo 41, afastou qualquer aplicação da Lei nº 9.099/1995 aos casos de incidência daquela. Ante ao exposto, o presente trabalho foi elaborado com o intuito de ajudar no entendimento da Lei Maria da Penha, especificamente ao bem jurídico tutelado a vida e a integridade física, moral e econômica, sua representação nos casos de lesões corporais leves praticadas contra a mulher no ambiente familiar, que, foi fortemente demonstrado, aponta no sentido do qual a posição mais correta é a da prescindibilidade de representação da vítima, sendo, pois, ação penal pública incondicionada, porquanto o interesse público deve prevalecer, como forma de proteção à família e à dignidade da pessoa humana, além de que não há previsão expressa no ordenamento jurídico penal pátrio acerca da necessidade de representação da vítima. 70 REFERÊNCIAS ALMEIDA, Patrícia Donati de. Justiça de Cuiabá aplica medidas protetivas da Lei Maria da Penha a homem vítima de ameaça. Disponível em:http://www.jusbrasil.com.br/noticias/156687/justica-de-cuiaba-aplica-medidasprotetivas-da-lei-maria-da-penha-a-homem-vitima-de-ameaca. Acesso em: 7 maio 2009. BASTOS, Marcelo Lessa. A violência doméstica contra a mulher e a Lei nº 11.340/06. Revista da EMERJ, v. 9, n. 37, p. 134-135, 2007. ______. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Lei “Maria da Penha” Alguns comentários. Jus Navigandi, ano 10, n. 1189, 3 out. 2006. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=9006>. Acesso em: 18 abr. 2008. ______. Violência doméstica e familiar contra a mulher: Lei “Maria da Penha”. Alguns comentários. ADV Advocacia Dinâmica: Seleções Jurídicas, n. 37, p. 1, dez. 2006. BOMFIM, Edílson Mougenot. Curso de processo penal. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 168. BRASIL. [Leis etc.]. Vade mecum acadêmico de direito. Organização Anne Joyce Angher. 2. ed. São Paulo: Rideel, 2005. p.1041. BRASIL. Código penal. Coordenação de Antonio Luiz de Toledo Pinto, Márcia Cristina Vaz dos Santos Windt e Lívia Céspedes. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. ______. Código Penal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm>. Acesso em: 5 nov. 2008. ______. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2006. ______. Constituição Federal de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br;ccivil_03/Constituiçao/constituiçao.htm>. Acesso em: 5 nov. 2008. ______. Lei nº 11.340/06, 07 de agosto de 2006. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 8 ago. 2006. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03_Ato20042006/Leo/L11340.htm>. Acesso em: 20 out. 2008. ______. Superior Tribunal de Justiça. Habeas corpus n. 96.992-DF (2007/03011589). Impetrante: José Alfredo Gaze de França. Impetrado: Tribunal de Justiça do 71 Distrito Federal e dos Territórios. Relatora: Ministra Jane Silva (desembargadora convocada do Tribunal de Justiça de Minas Gerais). Brasília, DF, 12 de agosto de 2008. Disponível em: <http://www.stj.jus.br/webstj/Processo/Justica/detalhe.asp?numreg=200703011589& PV= 010000000000&tp=51>. Acesso em: 11 set. 2008. CÂMARA Criminal do TJDFT concede recurso a réu acusado de agredir a esposa. Disponível em: <http://www.mpdft.gov.br/joomla/index2.php?option=com_content&task=view&id=14 43&Itemid=1>. Acesso em: 28 abr. 2009. CAMPOS, Amini Haddad; CORRÊA, Lindinalva Rodrigues. Direitos humanos das mulheres. [s. l.]: Juruá Editora, 2007. p. 99. CARVALHO, João Paulo Oliveira Dias de. Lei Maria da Penha: harmonização entre os arts. 16 e 41 em relação ao crime de lesão corporal. Consulex, 23 maio 2008. Disponível em: <http://www.defensoria.pa.gov.br/index.php?q+node/123>. Acesso em: 17 abr. 2009. CAVALCANTI, Stela Valéria Soares de Farias. A violência doméstica como violação dos direitos humanos. Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 901, 21 dez. 2005. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp? id=7753> .Acesso em: 4 mar. 2009. CORTIZO SOBRINHO, Raymundo. Cabimento da ação penal privada subsidiária da pública no arquivamento de inquérito policial. Jus Navigandi, Teresina, ano 9, n. 527, 16 dez. 2004. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=6051>. Acesso em: 10 maio 2009. CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Violência doméstica (Lei Maria da Penha): Lei 11.340/2006. Comentada artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. P.11-12. DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça: a efetividade da Lei 11.340/2006 de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 47. DISTRITO FEDERAL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 20060910166249RSE. 1ª Turma Criminal. Relator: George Lopes Leite. Julgado em 29/11/2007. DJ, 13 fev. 2008. p. 2399. disponível em: <http://tjdf19.tjdft.jus.br/cgibin/tjcgi1?DOCNUM=1&PGATU1&1=20&ID=61293,42911,7580&MGWLPN=SERVIDOR1&NXTPGM=jrhtm03&OPT= &ORIGEM=INTER>. Acesso em: 23 out. 2008. ______. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 20060910173057APR. 1ª Turma Criminal.Relator: Sérgio Bittencourt. Julgado em: 31/05/2007. DJ, 25 jul. 2007. p. 126. Disponível em: <http://tjdf19.tjdft.jus.br/cgi- 72 bin/tjcgi1?DOCNUM=1&PGATU=1&1=20&ID=612293,42812,5095&MGWLPN=SER VIDOR1&NXTPGM=jrhtm03&OPT=&ORIGEM=INTER>. Acesso em: 24 out. 2008. GOMES, Luiz Flávio; BIANCHINI, Alice. Aspectos criminais da lei de Violência contra a Mulher. Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 1169, 13 set. 2006. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8916>. Acesso em: 18 abr. 2008. HERMANN, Leda Maria. Maria da Penha Lei com nome de mulher: considerações à Lei nº 11.340/2006: contra a violência doméstica e familiar, incluindo comentários artigo por artigo. Campinas, SP: Servanda Editora, 2008. p. 15-16. JESUS, Damásio Evangelista de. Da exigência de representação da ação penal pública por crime de lesão corporal resultante de violência doméstica e familiar contra mulher (Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006). São Paulo: Complexo Jurídico Damásio de Jesus, nov. 2006. Disponível em: <http://www.damásio.com.br>. Acesso em: 20 nov. 2008. ______; SANTOS, Hermelino de Oliveira. A empregada doméstica e a Lei “Maria da Penha”. São Paulo: Complexo Jurídico Damásio de Jesus, nov. 2006. Disponível em: <http://www.damasio.com.br>. Acesso em: 21 out. 2008. LIMA, Fausto Rodrigues de. A renúncia das vítimas e os fatores de risco à violência doméstica: da construção à aplicação do Art. 16 da Lei Maria da Penha. In: LIMA, Fausto Rodrigues de; SANTOS, Claudiene (Coord.). Violência doméstica: vulnerabilidades e desafios na intervenção criminal e multidisciplinar. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2009. p. 82. ______. A renúncia das vítimas e os fatores de risco à violência doméstica. Da construção à aplicação do art. 16 da Lei Maria da Penha. Jus Navigandi, Teresina, ano 12, n. 1615, 3 dez. 2007. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=10718>. Acesso em: 28 out. 2008. MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça. Recurso em Sentido Estrito nº 1.0024.07.493023-1/001. Relator: Paulo Cézar Dias. Data do Julgamento: 29/01/2008. MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça. Apelação Criminal nº 1.0236.07.0130844/001. Relator: Dês. Antônio Armando dos Anjos. Publicado em: 09 nov. 2008. MIRABETE, Julio Fabbrini. Ação penal: pública incondicionada, pública condicionada e privada. Disponível em: <http://www.leonildocorrea.adv.br/curso/mira10.htm>. Acesso em: 13 abr. 2009. NUCCI, Guilherme de Souza; NUCCI, Náila Cristina Ferreira. Prática forense penal. 3. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. 73 OLIVIERA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 7. ed. rev., atual. e ampl. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. ______. Curso de processo penal. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008. PORTO, Pedro Rui da Fontoura. Violência doméstica e familiar contra a mulher: Lei 11.340/2006: Análise crítica e sistêmica. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. SANTOS, Angela. Violência doméstica: um caso exemplar. Disponível em: <www.mulheresnobrasil.org.br>. Acesso em: 10 out. 2007. SILVA JÙNIOR, Edson Miguel da. Direito penal de gênero. Lei nº 11.340/06: violência doméstica e familiar contra a mulher. Jus Navigandi, Teresina, ano 11, n. 1231, Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=9144>. Acesso em: 22 out. 2008. SILVA, Augusto Reis Bittencourt. Lei Maria da Penha: repúdio às práticas restaurativas . Jus Navigandi, Teresina, ano 11, n. 1562, 11 out. 2007. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=10534>. Acesso em: 10 maio 2009. SOUZA, Luiz Antônio de; KÜMPEL, Vitor Frederico. Violência doméstica e familiar contra a mulher: Lei 11.340/2006. São Paulo: Método, 2007. STRECK, Lênio. Os crimes sexuais e o papel da mulher no contexto da crise do Direito: uma abordagem hermenêutica. Cadernos Themis Gênero e Direito, Porto Alegre, v. 3, n. 3, p. 135-164, 2002. TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de direito penal. São Paulo: Saraiva, 2006. ______. Processo penal. 26. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2004. v. 1.
Download