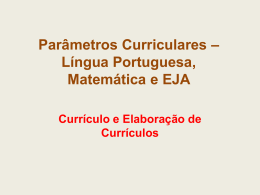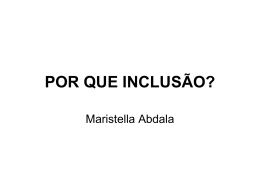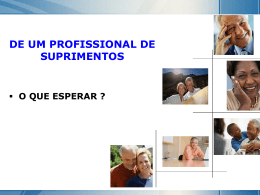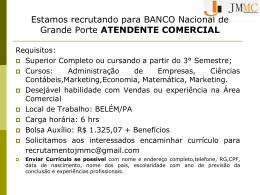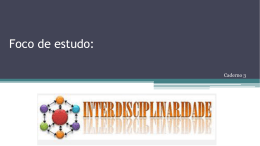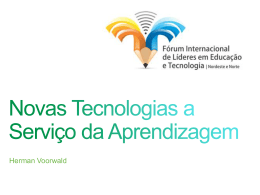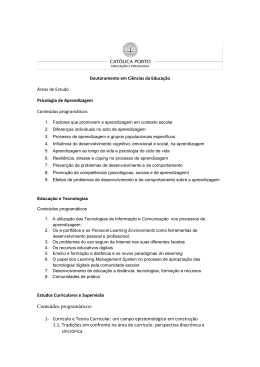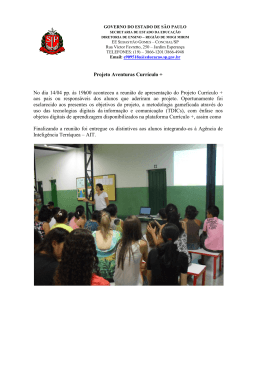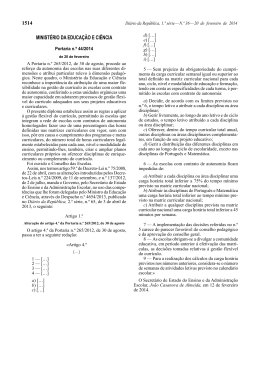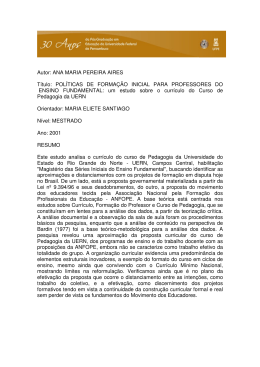IV COLÓQUIO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS E PRÁTICAS CURRICULARES “DIFERENÇA NAS POLÍTICAS DE CURRÍCULO” ORIENTAÇÕES EPISTEMOLÓGICAS PARA PESQUISA QUALITATIVA EM EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS Allene Lage JOÃO PESSOA - PB - BRASIL 10 A 13 DE NOVEMBRO DE 2009 Orientações Epistemológicas para Pesquisa Qualitativa em Educação e Movimentos Sociais ORIENTAÇÕES EPISTEMOLÓGICAS PARA PESQUISA QUALITATIVA EM EDUCAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS Allene Lage Professora Adjunta da UFPE-CAA [email protected] RESUMO: Este artigo é baseado numa experiência prolongada de campo, realizada no âmbito de uma pesquisa de doutorado e no exercício de docência com as componentes curriculares “Movimentos Sociais e Educação” e “Pesquisa e Prática Pedagógica III” que estudam as experiências educativas em movimentos sociais e organizações afins. Parte da importância da pesquisa como estratégia curricular de educação crítica e criativa. Aqui são tratadas questões referentes à pesquisa nos espaços das lutas sociais e o caminho epistemológico para a (re)elaboração do conhecimento em diálogo com os sujeitos da pesquisa. Apresenta um fluxograma que pretende esclarecer o caminho epistemológico para a (re)elaboração do conhecimento e a necessária articulação entre as etapas de uma pesquisa. Discute ainda algumas alternativas metodológicas para pesquisa nestes temas e apresenta as principais questões em torno da observação participante. Por último aponta as aprendizagens mútuas concernentes ao processo epistemológico inerente à pesquisa. PALAVRAS-CHAVE: pesquisa; (re)elaboração de conhecimento; epistemologia; movimentos sociais, educação. 1. CURRÍCULO, PESQUISA E LUTAS SOCIAIS Muitos consideram o currículo apenas a grade curricular de um curso, a divisão em disciplinas e os conteúdos trabalhados traduzidos em ementas e bibliografias. No entanto o currículo é muito mais, pois tem a ver com todo o processo vivido na escola, na universidade ou como uma componente do currículo. No âmbito do currículo acontece a reprodução social dos conteúdos e concepções ideológicas, dentro do processo educativo. Nesta direção é definidor do tipo de cidadão/cidadã a ser formado e qual a finalidade de sua formação. Historicamente a escola tem garantido por meio do currículo, sua reprodução tanto ideologicamente quanto em termos de conteúdos específicos. Somente a partir da pós- Allene Lage 7004 Orientações Epistemológicas para Pesquisa Qualitativa em Educação e Movimentos Sociais graduação, quando entra o aspecto da pesquisa, esta percepção muda e o estudante entra num processo de (re)elaboração de seu próprio conhecimento e passa a ganhar autonomia na construção de novos saberes. Esse processo é importante, pois como afirma Paro (1997), “quem só executa deixa de ser sujeito, e o ser humano é sujeito por natureza, portanto, ao ser alijado da elaboração, participando somente da execução daquilo que alguém “superior” elaborou e determinou, ele perde sua humanidade”. Portanto o currículo encerra em si todos os aspectos concernentes a formação proposta, a partir de uma combinação de temas e processos de vivências e aprendizagens de modo a construir um conjunto de condições pedagógicas que levem o sujeito, por um lado a elaborar ou organizar o seu conhecimento apreendido ou, pelo outro lado, apenas a reproduzir o conhecimento aprendido. De fato, a pesquisa é um caminho seguro para o processo de construção do conhecimento sobre mundo, e do autoconhecimento, na medida em contribui para a organização de estruturas cognitivas, por meio da compreensão de métodos que asseguram não a reprodução do conhecimento, mas sua a (re) elaboração, a partir das experiências de seus sujeitos. Neste sentido, convergimos com a idéia de Saviani (2000) quando afirma que a busca pelo conhecimento cada vez mais elevado deve ser sempre o objetivo do processo de ensino-aprendizagem (Saviani, 2000). Nesta direção Pedro Demo (2007) afirma “o que melhor distingue a educação escolar de outros tipos de espaços educativos é o fazer-se e refazer-se na e pela pesquisa”. Este autor diz ainda que “a base da educação escolar é a pesquisa e não a aula ou o ambiente de socialização ou a ambiência física, o mero contato entre professor e aluno” (Demo, 2007: 7). De fato, Pedro Demo tem razão em sua defesa pela pesquisa, pois o processo de conhecimento pela pesquisa leva o confronto da teoria com a prática e a análise criteriosa que permite a (re) elaboração crítica do conhecimento, a partir da experiência do método que permitirá o estudante a compreender os caminhos metodológicos, para refletir sobre os dilemas e curiosidade científica, descobrindo-se na construção do processo epistemológico. Educar pela pesquisa é uma decisão política, pois tal como afirma Demo “não aparece somente apenas na presença da ideologia, mas, sobretudo no processo de Allene Lage 7005 Orientações Epistemológicas para Pesquisa Qualitativa em Educação e Movimentos Sociais formação do sujeito crítico e criativo, que encontra no conhecimento, a arma potente de inovação, para fazer-se e se fazer oportunidade histórica através dele” (Demo, 2007: 7). Outro aspecto importante na formação do sujeito crítico e criativo tem a ver com as áreas e temas das pesquisas e as possibilidades de vivências das experiências de campo oportunizado pelo processo de coleta de dados, mais especificamente aqueles que levam o estudante ao encontro da realidade e de suas contradições. Nesta direção, as lutas sociais surgem como um espaço de aprendizagem acadêmico-político diferenciado quer seja pelo dinamismo deste lugar, quer seja ainda pela urgência da inovação metodológica que possa romper com a subalternização que as metodologias tradicionais impuseram a muitas experiências sociais de luta e a seus processos educativos. No entanto, apesar desta marginalidade imposta, as lutas sociais em suas trajetórias diversas entraram em campo produzindo experiências de enfrentamento às desigualdades sociais, econômicas, educacionais, ambientais e políticas, a partir de epistemologias próprias de análise e de intervenção, capaz de confrontar as principais problemáticas sociais e apresentar propostas de transformação para as condições sociais historicamente desiguais. Neste sentido Arturo Escobar (2003) diz que os novos conhecimentos baseados no senso comum passaram para um primeiro plano. Escobar fundamenta a sua afirmação, a partir da observação dos tipos de conhecimentos, que os ativistas dos movimentos sociais e as ONGs têm vindo a produzir no contexto de lutas que são simultaneamente localizadas e globalizadas (Escobar, 2003:607). Esta luta para além de política é também epistemológica, e tem levado os movimentos sociais também a se apropriarem do saber científico e a reinventarem metodologias sociais em campos historicamente afastados de qualquer possibilidade de acesso, como o da educação. Nesta direção os movimentos sociais têm priorizado para além de suas estratégias de ação mais visíveis - ocupações, marchas, greves, entre outras uma política da educação, na qual visa transformar e melhor qualificar suas organizações, considerando o fato de que, dentro de um movimento social, a educação tem efeito multiplicador. Este esforço conjunto de aliar a luta política à luta epistemológica, articulando estratégias de ação com saberes científicos e militantes tem produzido avanços significativos na forma de atuação dos movimentos, tanto no que diz respeito à sua Allene Lage 7006 Orientações Epistemológicas para Pesquisa Qualitativa em Educação e Movimentos Sociais capacidade de negociação com o Estado quanto no enfretamento do debate político com as forças conservadoras. Outro aspecto de muita relevância é o crescente interesse da Academia em estudar os movimentos sociais. Cada vez mais aumenta o número de estudantes – tanto no nível da graduação quanto da pós-graduação - desenvolvendo investigações dentro destas organizações, criando assim uma proximidade com estas lutas numa caminhada epistemológica de aprendizagens mútuas. Neste sentido, Boaventura de Sousa Santos (2004:74) aponta a pesquisa-ação como um dos caminhos epistemológicos que tem contribuído para a legitimação da universidade, pois transcendem a extensão, uma vez que tanto atuam ao nível da pesquisa quanto da formação. A pesquisa-acção consiste na definição e execução participativa de projectos de pesquisa, envolvendo as comunidades e organizações sociais populares a braços com problemas cuja solução pode beneficiar dos interesses da pesquisa. Os interesses sociais são articulados com os interesses científicos dos pesquisadores e a produção do conhecimento ocorre assim esteitamente ligada à satisfação de necessidades dos grupos sociais que não têm poder para pôr o conhecimento técnico e especializado ao seu serviço pela via mercantil (Santos, 2004: 75). Esta aproximação tem diminuído o fosso histórico que separa a ciências das lutas sociais, e recheando não apenas a ciência de realidade social, mas principalmente politizando-a. Contudo esta aproximação universidade-movimentos sociais, forja uma pressão por políticas públicas de educação e condições e acesso e manutenção voltada para um público historicamente expulsos dos processos de formação do saber científico. Os sujeitos educativos dos movimentos sociais que passaram por experiências deste tipo são sujeitos-chave de um processo de (re)elaboração do conhecimento, na medida em que pensando no contexto político, social, educacional, econômico, cultural, ambiental em que vivem, conseguem refletir sobre as possibilidades de superação. Com isto conseguem uma atuação mais qualitativa, porque tiveram acesso não só ao conhecimento, mas porque dominando e se apropriando do conhecimento técnico e da linguagem acadêmica têm a oportunidade de reorganizar esses conhecimentos à luz da luta social. Allene Lage 7007 Orientações Epistemológicas para Pesquisa Qualitativa em Educação e Movimentos Sociais 2. A PESQUISA QUALITATIVA E A (RE)ELABORAÇÃO DO CONHECIMENTO Deslandes et. al.(1994) diz que a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis (Deslandes et. al.1994: 21). Godoy (1995), por sua vez, vê o potencial da pesquisa qualitativa, tendo em conta o fato de esta não enumerar ou medir os eventos estudados, nem empregar instrumentos estatísticos na análise dos dados. Parte de questões ou focos de interesses amplos, que se vão definindo à medida que o estudo se desenvolve. Envolve a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos, pelo contacto direto do/a investigador/a com a situação estudada (Godoy, 1995: 58). De fato, a pesquisa qualitativa tem um viés que leva ao encontro de subjetividades que não conseguem se esconder, como fazem no universo da pesquisa quantitativa. Estas subjetividades afloram fora das regras e condicionamentos prévios, no contato, no diálogo e no confronto da realidade. Entender estas subjetividades e delas extrair novas compreensões requer metodologias claras, que possam admitir a diversidade de discursos, sentidos e sentimentos inéditos dos sujeitos de pesquisa em seus lugares de atuação. Ao pesquisador cabe empreender novos caminhos analíticos que construam, a partir do diálogo com estes sujeitos, conhecimentos novos advindos de um processo epistemológico criativo que possa dar conta do enorme potencial de aprendizagem que existe dentro do universo da pesquisa qualitativa. 2.1. (Re)elaboração do conhecimento: um caminho bem articulado Diferentemente do que se pensa uma pesquisa na área das ciências sociais e humanas não nasce dentro de uma experiência específica, ou pelo menos não deveria. A pesquisa nasce a partir de uma curiosidade científica, que surge ao se olhar uma realidade e suas contradições. A experiência ou o caso a ser estudado constitui-se apenas em um campo empírico onde se estuda a realidade, dentro de um tema. Allene Lage 7008 Orientações Epistemológicas para Pesquisa Qualitativa em Educação e Movimentos Sociais O caminho epistemológico para a (re)elaboração do conhecimento tem coerência e desdobramentos que articulam todos os passos de uma pesquisa. Um caminho seguro1 é marcado em primeiro lugar pela Problematização 2, seguida pela definição do Problema3 e o Objetivo Geral. A partir destes, o passo seguinte é apontar as principais dimensões do tema que contribuam objetivamente para aprofundar as reflexões proposta pelo Problema, de modo a se alcançar novas compreensões durante o exercício epistemológico da construção do saber científico. Em seguida fazem-se os desdobramentos a partir destas dimensões, que vão estruturar a pesquisa - da definição dos objetivos específicos até as categorias de análise, conforme mostra o Fluxograma a seguir. 1 Utilizo a designação de caminho seguro para vincar a idéia de que uma pesquisa tem passos bem definidos que vão se moldando a partir do problema da pesquisa. 2 A problematização é construida ao se olhar o contexto social e suas contradições, dentro do tema que se pretende estudar. 3 Pergunta ou Problema da Pesquisa. Allene Lage 7009 Orientações Epistemológicas para Pesquisa Qualitativa em Educação e Movimentos Sociais Conforme aponta o Fluxograma acima, em particular no quadro 4, 5 e 6, a Pergunta/Problema é fundamental para definir o Objetivo Geral e todo o desdobramento das etapas seguintes, na medida em que as dimensões que serão elencadas deverão ter estreita contribuição para que se alcance o Objetivo Geral. No quadro 6 percebe-se claramente o desdobramento que articulará coerentemente todos as demais etapas da pesquisa. Ou seja, este desdobramento em dimensões temáticas permite que as estude teoricamente, empiricamente e analiticamente, de modo a assegurar que foram tratados em todas as etapas da pesquisa. Completada esta costura epistemológica é possível se encaminhar para as conclusões, na medida em que um tema desdobrado foi refletido rigorosamente em todos os eixos estruturantes do processo de (re)elaboração do conhecimento, tal como pode ser visto no exemplo a seguir. Allene Lage 7010 Orientações Epistemológicas para Pesquisa Qualitativa em Educação e Movimentos Sociais 3. ALTERNATIVAS METODOLÓGICAS No âmbito da pesquisa qualitativa algumas abordagens metodológicas são mais indicadas para se trabalhar na área da Educação e da Sociologia, especialmente quando estas estão voltadas para o estudo de experiências dentro dos movimentos sociais e organizações afins. Entre estas alternativas, importa citar as seguintes. 3.1. Método do Caso Alargado O melhor método a ser utilizado não é aquele mais conhecido e de domínio amplo, mas aquele que consegue investigar todos os pontos relevantes para que os resultados da pesquisa sejam alcançados. O Método do Caso Alargado é caracterizado por um estudo de caso convencional que tem alargada as suas implicações quando da sua conclusões. A base inicial deste método, especialmente a procedimental do Estudo de Caso, proporciona aprender com a experiência e enriquecer o aprendizado a partir do encontro da teoria com a realidade, da ação e da criatividade. Nesta direção, a utilização do Estudo de Caso como etapa preliminar é importante por realizar um estudo intenso da/s experiência/s para a compreensão do tema pesquisado. Nesta direção Goldenberg (2000) afirma que: “O estudo de caso não é uma técnica específica, mas uma análise holística, a mais completa possível, que considera a unidade social estudada como um todo, seja um indivíduo, uma família, uma instituição ou uma comunidade, com o objetivo de compreendê-los em seus próprios termos. O estudo de caso reúne o maior número de informações detalhadas, por meio de diferentes técnicas, com o objetivo de aprender a totalidade de uma situação e descrever a complexidade de um caso complexo. Através de um estudo profundo e exaustivo em um objeto delimitado, o estudo de caso possibilita a penetração na realidade social, não conseguida pela análise estatística” (Goldenberg, 2000: 33-34). Após a análise holística do caso, surge a necessidade de ampliar o universo das implicações sobre o estudo. Dentro desta perspectiva, o Método do Caso Alargado consubstancia a necessidade de ampliar as conclusões do estudo de caso, pela Allene Lage 7011 Orientações Epistemológicas para Pesquisa Qualitativa em Educação e Movimentos Sociais especificidade do tema da pesquisa. Este método, utilizado primeiramente por Boaventura de Sousa Santos (1983) e posteriormente por Michael Burawoy (1991; 2000), é muito adequado para estudos isolados e para estudos comparados. Neste sentido, especialmente na sociologia há duas maneiras de fazer a representatividade em estudos comparados. A primeira é pela quantidade que privilegia a análise e tem por base a repetitividade, reduzindo a análise aos aspectos comuns e à incidência e à prevalência destes. A segunda maneira é pela exemplaridade, que estuda e compara os casos pela singularidade e não porque são estatisticamente relevantes, mas sim porque são únicos, representativos de alguma coisa. A partir daí alargam o caso nas suas implicações, não é na análise estrita do caso – o estudo de caso é uma janela através da qual se vê a sociedade e outros fenômenos sociais de forma mais ampla. Neste sentido, o Método do Caso Alargado propõe que, “Em vez de reduzir os casos às variáveis que os normalizam e tornam mecanicamente semelhantes, procura analisar, com o máximo de detalhe descritivo, a complexidade do caso, com vista a captar o que há nele de diferente ou de único. A riqueza do caso não está no que nele é generalizável, mas na amplitude das incidências estruturais que nele se denunciam pela multiplicidade e profundidade das interacções que o constituem” (Santos, 1983: 11). De fato, o método do caso alargado propicia uma conclusão de maior profundidade sobre a investigação realizada, incidindo não apenas sobre os casos estudados – isoladamente ou comparados – mas porque oferece uma estrutura metodológica capaz de ampliar o espectro das reflexões, amplia o universo da análise, de modo que esta possa discorrer acerca de questões importantes relacionadas com o tema e presentes na sociedade. 3.2. Estudo comparado A tradição dos estudos comparados em educação na América Latina foi levada adiante por organizações internacionais, com uma perspectiva funcionalista e positivista, baseada nos estudos estatísticos, nos grandes surveys, voltados apenas para uma descrição quantitativa do fenômeno, e não para uma análise qualitativa da realidade Allene Lage 7012 Orientações Epistemológicas para Pesquisa Qualitativa em Educação e Movimentos Sociais educativa. Os estudos que se cristalizaram nesta metodologia, e não tiveram outro tipo de desenvolvimento, estão superados, quando não obsoletos, e não constituem fontes fundamentais de informação, porque suas análises não vão além de uma visão dos problemas fora de seu contexto, sem explicar as causas dos mesmos. Para Peter Burke, o desenvolvimento da história comparada está muito ligado ao desenvolvimento da sociologia, onde o método comparativo teve origem. A sociologia se preocupa em estabelecer as leis gerais, enquanto a história se preocupa com os eventos particulares, aqueles que não se repetem que são únicos. Teria sido a sociologia a oferecer ao historiador não apenas os conceitos, mas também os instrumentos metodológicos, tais como a observação, a análise cruzada, a análise de conteúdos e o método comparativo (BURKE 1980, p.29). Emile Durkheim e Max Weber deram as principais contribuições ao método comparativo na sociologia, e esta contribuição extrapolou para as outras áreas, como a dos s estudos comparados em educação. Na obra “As regras do método sociológico”, Durkheim discute longamente a questão do método. O ponto de partida de seu raciocínio é a afirmação de que o método da experimentação não se aplica a fenômenos que não podem ser produzidos artificialmente pelo pesquisador, como ocorre com os fenômenos sociais. Em tais casos, segundo Durkheim deve-se empregar "o método da experimentação indireta ou método comparativo" cuja base se encontra na ciência experimental, no axioma da relação causal entre os fenômenos, a relação de causa e efeito. Ainda para este autor, o emprego do método comparativo de maneira científica supõe que "a um mesmo efeito corresponde sempre uma mesma causa" e se há mais de uma causa, é porque há mais de um tipo de um mesmo fenômeno (Durkheim, 1987:112). Lage (2005), partindo de seu estudo comparativo sobre duas lutas sociais, diz que não se deve realizar uma comparação entre as lutas sociais, pretendendo apontar prós e contras e colocando-as numa disputa política, pois “comparar é estabelecer pontes, aproximar margens, abrir caminhos para o diálogo” e neste sentido “deve-se procurar, ao comparar, ampliar o universo das possibilidades das experiências que compara, de modo que, a partir desta diversidade, seja possível olhar para as sociedades e reconhecer os caminhos e as conquistas alcançadas” (Lage, 2005:676) Allene Lage 7013 Orientações Epistemológicas para Pesquisa Qualitativa em Educação e Movimentos Sociais Neste sentido, a realização de estudos comparados exige intensas travessias entre os casos estudados. Compreender cada uma das experiências constituiu-se num exercício epistemológico para dar conta da riqueza sociológica das experiências em análise, não devendo subordinar as possibilidades emancipatórias para atender uma grelha analítica comum; expressar a diversidade dentro de uma estrutura comparativa deve ser uma escolha metodológica que tenciona experimentar epistemologias que melhor expressem as realidades sociais do estudo em questão. Por fim, Lage (2005) afirma ainda que ... a comparação entre duas ou mais experiências só faz sentido à luz destes contextos, sobretudo quando se identifica os diferentes modos de ação e o êxito relativo, com que cada experiência responde ao seu cenário social e como estas procuram superar, por meio dos seus processos de luta, resistência as experiências a que estão submetidos (LAGE, 2005: 611). 4. PESQUISA DE CAMPO E COLETA DE DADOS A realidade por mais que seja vivida intensamente tem sempre um aspecto de parcialidade e incompletude, quer devido às suas multidimensionalidades, quer seja pela incapacidade do olhar humano em captar a diversidade social. Deste modo, uma pesquisa de campo deve ser conduzida na perspectiva de construir com os sujeitos da pesquisa ou os sujeitos do campo, novas contribuições teóricas com base na realidade vivida e consentida pelos grupos. O principal “instrumento” de investigação é, sem dúvida o olhar do/a próprio/a investigador/a. Todavia, esta autonomia para construir versões sobre a realidade observada necessita, caso se pretenda contemplar o máximo de realidade possível, ser revestida de um nível de dialogicidade com os sujeitos envolvidos, de modo a transformar o olhar unilateral do/a investigador/a num olhar democrático. É, neste âmbito, que surge a idéia de construção partilhada de dados, ancorada na interação como possibilidade de trabalho democrático, indo além do simples ato de observar e de coletar dados. Allene Lage 7014 Orientações Epistemológicas para Pesquisa Qualitativa em Educação e Movimentos Sociais Importa ainda ter em conta a autonomia que o/a investigador/a tem sobre o planejamento do seu trabalho de campo. Nesta medida, existem muitas questões no âmbito das suas decisões, como os vários aspectos relacionados com a sua presença no campo, a duração do seu trabalho, a forma como se dá a sua inserção – as estratégias de observação e de diálogos, interações, comportamentos - e os instrumentos de registro a serem utilizados. Contudo, nem sempre o/a investigador/a terá total domínio sobre as pretendidas situações de observação, pois muitas situações planejadas podem não ocorrer, como também podem surgir oportunidades de observação não previstas. Ou seja, por mais que o/a investigador/a tenha o domínio sobre o planejamento o modo como se desenvolverá o seu trabalho de investigação no campo, envolvendo vários aspectos e possibilidades do que possa imaginar que seja a realidade com que se irá deparar, haverá sempre um frágil controle sobre as situações a serem observadas, pois não se controla a realidade, principalmente quando se esta é estranha e se está somente a observá-la. Podem, neste sentido, surgir possibilidades de observação inesperadas e não planejadas e significativas para a compreensão do tema em investigação. Para Lage (2005) o acesso a muitas situações do campo dependerá de algumas estratégias comportamentais que o pesquisador/a adotará, e que podem ser definidoras do nível de abertura que se pretende alcançar, dentro da experiência em estudo. Assim, Lage aponta as seguintes estratégias: i. ir para o terreno com um planeamento de “possibilidades” de situações a serem observadas, sem considerá-lo nem muito fechado e nem muito aberto - isto facilitou uma constante adequação do planeamento à realidade que estava a conhecer; ii. estar receptiva, atenta e disposta a participar em vários eventos ocorridos, planeados ou não - isto contribuiu para que eu identificasse e expressasse o desejo de participação nas situações importantes, inusitadas ou não, de serem observadas; iii. estar disposta a ter uma relação horizontal com os sujeitos da investigação, de modo a construir laços de confiança e possibilidades de diálogo e partilhas – isto abriu um canal de acesso para “experimentar a realidade” que estava a observar, tornando mais rico o contacto e a interacção com os grupos sociais envolvidos; iv. não esquecer que todo observador é também um observado e, portanto, a aceitação do outro dá-se nos dois sentidos - com isto quero dizer que não se deve ter pressa em se Allene Lage 7015 Orientações Epistemológicas para Pesquisa Qualitativa em Educação e Movimentos Sociais ser aceito/a pelo grupo no qual se está a desenvolver a investigação; pressionar uma relação de confiança, ainda não estabelecida, pode ter efeitos desastrosos. (Lage, 2005: 203) 4.1. Observação participante A observação participante é uma técnica para o trabalho de campo que proporciona grande aproximação à realidade sociológica. De fato, o estar no campo proporciona muitas oportunidades de aprendizagem, de novas compreensões e permite essencialmente o pesquisador entrar em contato com a realidade, que está à mão numa imensa variedade de possibilidades de interações, articulações e também contradições. Oferece ainda a oportunidade de espaços de inserção - e aceitação - em universos simbólicos, em formas de organização social e saberes sociais presentes no cotidiano dos grupos sociais. Segundo Jorgensen, o que se consegue observar é influenciado em grande parte pelo fato de a experiência ser baseada na visão, no som, gosto, cheiro ou em várias combinações dos sentidos. Quanto mais informação se tem sobre alguma coisa com múltiplos pontos de vista e fontes, menor é a hipótese de interpretá-la (Jorgensen, 1989:53). De fato, o contacto com a realidade traz também a possibilidade de incluir os sentidos no trabalho de observação. Traz ainda a possibilidade de uma intensa interação e nesta medida, esta técnica oferece instrumentos para que o/a investigador/a se envolva diretamente como participante no cotidiano das pessoas. O foco de observação das experiências a serem estudadas são os encontros entre saberes, poderes, grupos sociais e pessoas. Neste sentido, a cada encontro deve-se observar, além das falas e dos silêncios, os espaços, os atores, as atividades, a atmosfera do ambiente, os comportamentos e os sentimentos. Além da própria observação, outras técnicas podem ser utilizadas, como a conversa informal e as entrevistas semiestruturadas. É importante, caso haja condições, recorrer às histórias de vida/oral. Como diz Becker (1994), as especificidades de uma pesquisa fazem de cada uma delas uma pesquisa singular, na qual o pesquisador deve ter liberdade para construir seu Allene Lage 7016 Orientações Epistemológicas para Pesquisa Qualitativa em Educação e Movimentos Sociais próprio método de acordo com sua caminhada e com os obstáculos e imprevistos que surgem à sua frente (Becker, 1994). Contudo, um aspecto importante para conseguir realizar uma observação participante, integrada no cotidiano dos grupos estudados, é sem dúvida a permanência prolongada no campo do pesquisador/a, que para além de possibilitar um contato mais intenso, cria também a oportunidade para novas percepções, tanto para o investigador/a no campo, quanto para os grupos sociais em contacto com este/a. Entretanto, sempre que se aborda a questão da permanência prolongada no terreno do/a investigador/a, a possibilidade de a sua presença interferir na unidade social na qual se inseriu, é sempre um ponto polêmico. Contudo, a observação participante é um procedimento de investigação não interferente e bastante discreto, se comparado ao caráter inquisitivo, interferente e indiscreto de questionários e entrevistas formais. Neste sentido, Paul Lazarsfeld (1972) chega a classificar os dados obtidos pelo primeiro conjunto de técnicas - observações - como “naturais” e os decorrentes do segundo como “experimentais” (Lazarsfeld, 1972:16). Tomando por base a experiência de Lage (20005 e 20005a) em trabalho de campo prolongado, vivendo com os grupos sociais que estava a estudar e as reflexões de António Firmino da Costa (2001) sobre o problema da interferência do/a investigador/a quando de uma estadia no campo prolongada, podemos apontar os aspectos mais no trabalho de campo: i. a presença do/a investigador/a não passará desapercebida e pode interferir no contexto; ii. falar com pessoas, fazer perguntas, participar em actividades é algo que interfere, porém interfere muito mais ficar parado a olhar, sem dizer nada a ninguém; iii. a presença do/a investigador/a introduz uma série de novas relações entre observador/a e observado/a e reorganiza o próprio contexto social; iv. a questão não está em evitar a interferência, mas tê-la em consideração, controlá-la e objectivála tanto quanto possível. De fato, é importante refletir que a questão da interferência poderá perder um pouco a sua importância, se considerarmos que não existem sociedades completamente fechadas e estáticas. Poderão a todo o momento surgir novas presenças, como também Allene Lage 7017 Orientações Epistemológicas para Pesquisa Qualitativa em Educação e Movimentos Sociais novas ausências e estas estarão sempre em conjunto com o grupo, criando novos dinamismos, acentuando velhos ou até mesmo mantendo-os despercebidos. Pensamos, neste sentido, que a própria idéia de permanência prolongada acaba por estabilizar os cotidianos que vão absorvendo os estranhos, tornando-os familiares em muitos casos. Do lado do/a investigador/a haverá também uma acomodação dos papéis, a partir do momento em que passa da novidade à rotina. É claro que isto pode também levantar a questão da identidade e dos papéis do/a investigador/a no campo, para além da questão relação de proximidade estabelecida com os grupos. Contudo, importa ressaltar, que o fato de se estar bem inserido no campo não significa dizer que haverá confusões sobre o papel e identidade, ou pelo menos que prejudique o andamento da investigação. A nosso ver significa que se avançou principalmente na idéia de uma epistemologia mais democrática, conseguida somente na relação entre sujeito-sujeito e não entre sujeito-objeto, dando assim passos decisivos no estabelecimento de relações democráticas entre sujeitos do conhecimento. De fato, esta aproximação rompe as freqüentes barreiras impostas pela condição de investigador/a com as exigências metodológicas de distanciamento entre este e a experiência, provoca também, para além de tudo, um distanciamento epistemológico, que o/a impede de conhecer mais profundamente a experiência; em vez de viver a experiência passa ao largo dela, mesmo estando inserido no campo. Outra questão crucial é a saída do campo. Neste sentido, é muito importante discutir com os sujeitos do campo as primeiras conclusões do trabalho de pesquisa antes da saída definitiva do pesquisador/a. Criar esta possibilidade de diálogo contribui para dirimir muitas dívidas ou interpretações errôneas sobre o comportamento, que ocasionalmente poderão surgir. A nosso ver esta posição de uma saída dialógica, traduz num comportamento ético que contribui para romper com os fortes argumentos dos sujeitos do campo, em atribuir uma postura arrogante de muitos investigadores na manipulação o conhecimento que adquirem em suas experiências, sem nenhum momento de diálogo. Allene Lage 7018 Orientações Epistemológicas para Pesquisa Qualitativa em Educação e Movimentos Sociais 4.2. A realidade e suas narrativas: os diários de campo Viver a realidade, partilhando o cotidiano com os grupos sociais contribui para um aprofundamento empírico que possibilita, não apenas uma riqueza epistemológica, mas também uma vivência sobre aquilo que se pretende compreender, pois ambas oferecem maior proximidade e interação entre o pesquisador/a, a realidade e os sujeitos da investigação. Nesta medida, torna-se imprescindível o registro da experiência por meio de diários de campo, onde deverão ser anotadas em suas páginas a vivência da pesquisa e o universo que se acessou - de entrevistas à conversas informais, de sentimentos à dados quantitativos, de momentos de tensão até cânticos, marchas e encontros, para além das observações e reflexões do pesquisador/a. Com isto pretendemos admitir a importância de se criar novas possibilidades de narrativas das experiências de campo, oferecendo aos interessados uma imersão tão profunda quanto possível sobre os casos estudados, dando espaços e possibilidades para novas interpretações e descobertas para novos estudos. Sem uma forma sistemática de registro das observações, corre-se o risco de findado o período do trabalho de campo, perder a memória de momentos importantes. Nesta direção, Lage (2005a) reflete que, “O diário de campo é um instrumento não só de registro, mas fundamentalmente um instrumento de análise de todo o trabalho de campo. É ainda, um instrumento de trabalho diário, literalmente diário, e por isso mesmo um incansável e por vezes saturante trabalho, que exige disciplina mas que proporciona ao próprio pesquisador(a) uma grande satisfação à medida que vai sendo construído e redescoberto a cada consulta que se faz dos passos dados. Tal como um álbum de fotografias, que nos leva ao reencontro das descobertas quotidianas” (Lage, 2005a). À medida que se avança na escrita do diário de campo e este começa a ganhar volume, o pesquisador/a começa a se aperceber de sua importância. Quanto mais demorada a experiência do campo, mas importante o diário vai se tornando, pois passa a se constituir numa fonte preciosa de dados organizados, numa memória muito rica sobre Allene Lage 7019 Orientações Epistemológicas para Pesquisa Qualitativa em Educação e Movimentos Sociais a experiência no campo. Através dos sentidos e sentimentos do pesquisador, é possível outras pessoas conhecerem as descobertas do pesquisador em seu trabalho de campo. 5. PESQUISA: UM PERCURSO DE APRENDIZAGENS MÚTUAS Paulo Freire tinha uma forma particular de conhecer o mundo. Para ele, o conhecimento dá-se no diálogo do ser humano com o mundo e do seres humanos entre si com o mundo, por isso muitos dos seus livros foram escritos em forma de diálogos. Um destes, num diálogo com Sérgio Guimarães, disse que: "… ninguém aprende individualmente apenas. Quer dizer: nós somos sócio-históricos, ou seres sociais e culturais, e que, por isso mesmo, o nosso aprendizado se dá na prática geral de que fazemos parte, na prática social. (...) não é possível fazer afogar, fazer desaparecer a dimensão individual de cada sujeito histórico que se experimenta socialmente. (...) Esquecer essa subjectividade, não reconhecer o papel dela no aprendizado da história e mais do que no aprendizado, na feitura da história - que, inclusive, é fazendo a história que a gente aprende a história (…)" (Freire e Guimarães, 2000: 27). Por analogia, podemos afirmar que a pesquisa de campo oferece possibilidades de construção intensa de novos conhecimentos e fortes momentos de aprendizagem. O estar no mundo e com as pessoas e seus mundos é transformador, pois cria o contato próximo e intenso com as realidades estudadas, seus saberes e suas histórias de vida. Boaventura de Sousa Santos (2003) ao refletir sobre como as experiências pessoais são assumidas como parte inseparável do processo de produção de conhecimentos, diz que todo conhecimento é autoconhecimento, pois possui um caráter autobiográfico e auto-referenciável, que está nitidamente presente na ciência apesar de não ser assumido por esta. “Hoje sabemos ou suspeitamos que as nossas trajectórias de vida pessoais e colectivas (enquanto comunidades científicas) e os valores, as crenças e os prejuízos que transportam são a prova íntima do nosso conhecimento, sem o qual as nossas investigações laboratoriais ou de arquivo, os nossos cálculos ou os nossos trabalhos de Allene Lage 7020 Orientações Epistemológicas para Pesquisa Qualitativa em Educação e Movimentos Sociais campo constituiriam um emaranhado de diligências absurdas sem fio nem pavio. No entanto, este saber, suspeitado ou insuspeitado, corre hoje subterraneamente, clandestinamente, nos não-ditos dos nossos trabalhos científicos. (…) No paradigma emergente, o carácter autobiográfico e auto-referenciável da ciência é plenamente assumido. (…) Para isso é necessária uma outra forma de conhecimento, um conhecimento compreensivo e íntimo que não nos separe e antes nos una pessoalmente ao que estudamos” (Santos, 2003: 53 e 54). De fato, sem o eixo da nossa subjetividade e sem a bagagem cognitiva que trazemos das nossas experiências pessoais e coletivas, não é possível produzir conhecimentos alheios a tudo isto, principalmente porque o que aprendemos na escola ou na universidade é apenas uma parte do nosso campo de aprendizagem. Assim, sendo somos nós o próprio espelho das nossas das experiências de campo, e ao estudá-las somos, simultaneamente, estudadas por elas e ao analisá-las também somos analisadas por elas. Como bem fala Paulo Freire: «Não há pensar certo fora de uma prática testemunhal que re-diz em lugar de desdizê-lo» (Freire, 2003: 34). BIBLIOGRAFIA BECKER, Howard S. Métodos de Pesquisa em Ciências Sociais. São Paulo: HUCITEC, 1994. BURAWOY, Michael. The extended case method. In: M. Burawoy et al. (orgs), Ethonography unbounded. Power and resistance in the modern metropolis. p: 271-287. Berkeley : University of California Press, 1991 BURAWOY, Michael. Introduction: reaching for the global. In: M. Burawoy et al. (orgs), Global ethonography: forces, connections, and imaginations in a postmodern wold. p: 1-40. Berkeley : University of California Press, 2000. BURKE, Peter. Sociologia e historia. Lisboa: Afrontamento, 1980. Allene Lage 7021 Orientações Epistemológicas para Pesquisa Qualitativa em Educação e Movimentos Sociais COSTA, António Firmino da. A pesquisa de terreno em sociologia. In: SILVA, Augusto Santos e PINTO (orgs), José Madureira. Metodologia das Ciências Sociais. 11ª edição. p:129-148. Porto: Afrontamento, 2001. DEMO, Pedro. Educar pela pesquisa. Campinas, SP: Autores Associados, 2007. DESLANDES, Suely Ferreira. et. al. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 17.ed. Petrópolis: Vozes, 1994. DURKHEIM, Emile. As regras do método sociológico. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1987. ESCOBAR, Arturo. Actores, redes e novos produtores de conhecimento: os movimentos sociais e a transição paradigmática. In: SANTOS, Boaventura de Sousa (org) (2003). Conhecimento prudente para uma vida decente: “Um discurso sobre as ciências” revisitado. Porto: Edições Afrontamento, 2003. FREIRE, Paulo & GUIMARÃES, Sérgio. Aprendendo com a própria história II. São Paulo: Paz e Terra, 2000. FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 27ª edição. São Paulo: Editora Paz e Terra, 2003. GODOY, Arilda Schmidt. Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. Revista de Administração, nº 35, n.2, p. 57-63, mar-abr. São Paulo, 1995. GOLDENBERG, Mirian. A arte de pesquisar: Como fazer uma pesquisa qualitativa em ciências sociais. Rio de Janeiro: Record, 2000. JORGENSEN, D. L. Participant Observation: a methodology for human studies. California: SAGE Publications, 1989. LAGE, Allene Carvalho. Lutas por Inclusão nas Margens do Atlântico: um estudo comparado entre as experiências do Movimento dos Sem Terra/Brasil e da Associação In Allene Lage 7022 Orientações Epistemológicas para Pesquisa Qualitativa em Educação e Movimentos Sociais Loco/Portugal. Volume I – Dissertação de Doutoramento. Coimbra: Universidade de Coimbra. Faculdade de Economia, 2005. LAGE, Allene Carvalho. Lutas por Inclusão nas Margens do Atlântico: um estudo comparado entre as experiências do Movimento dos Sem Terra/Brasil e da Associação In Loco/Portugal. Volume II – Diários do Trabalho Empírico. Coimbra: Universidade de Coimbra. Faculdade de Economia, 2005a. LAZARFELD, Paul F. Foreword to the English edition: forty years later. In: JAHODA M., LAZARFELD P.F. e ZEISSEL H. Marienthal: the Sociography of an Unemployed Community. Londres: Tavistock, 1992. PARO, V. H. Gestão democrática da escola pública. São Paulo: Ática, 1997. SANTOS, Boaventura de Sousa. Um discurso sobre as ciências. 14ª edição. Porto: Edições Afrontamento, 2003. SANTOS, Boaventura de Sousa. A universidade no século XXI: Para uma reforma democrática e emancipatória da Universidade. Coleção: Questões de nossa época, Vol. 120. São Paulo: Cortez Editora, 2004. SANTOS, Boaventura de Sousa. Os Conflitos Urbanos no Recife: O Caso do "Skylab". In: Revista Crítica, nº 11, maio, p. 9-59. Coimbra: CES, 1983. SAVIANI, Dermeval. Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações. 7ª ed. Campinas: Autores Associados, 2000. Allene Lage 7023 IV COLÓQUIO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS E PRÁTICAS CURRICULARES “DIFERENÇA NAS POLÍTICAS DE CURRÍCULO” DOIS CAMPOS DE INVESTIGAÇÃO EM DIÁLOGO: A ARQUITETURA DE UMA PESQUISA Ana de Oliveira JOÃO PESSOA - PB - BRASIL 10 A 13 DE NOVEMBRO DE 2009 Dois Campos de Investigação em Diálogo: a arquitetura de uma pesquisa DOIS CAMPOS DE INVESTIGAÇÃO EM DIÁLOGO: A ARQUITETURA DE UMA PESQUISA Ana de Oliveira RESUMO: Neste artigo, apresento os aportes teórico-metodológicos com os quais venho desenvolvendo a pesquisa A rede de (re)significações da comunidades disciplinar História nas políticas curriculares para o ensino fundamental. Refiro-me ao ciclo contínuo de políticas de Stephen Ball e à teoria do discurso de Ernesto Laclau. A interconexão entre os campos do currículo (Ball) e o das ciências sociais (Laclau) tem se mostrado relevante no sentido de compreender como sujeitos e grupos sociais atuam na produção das políticas curriculares e de como essa atuação que envolve processos articulatórios acaba por homogeneizar, de forma contingente e provisória, textos e discursos das políticas curriculares. Indico questões que a leitura dos novos textos curriculares para o ensino fundamental, editados pelo MEC/SEB, aponta como necessárias para serem investigadas, defendendo a relevância do diálogo entre os dois campos – o curricular e o das ciências sociais – na compreensão das políticas curriculares. PALAVRAS-CHAVE: Currículo – ciclo contínuo de políticas – teoria do discurso. No momento em que chegam às escolas novos documentos curriculares propondo, no caso do ensino fundamental, um debate sobre a concepção de currículo e o seu processo de elaboração, parece-me oportuno trazer para este artigo a temática das políticas curriculares. Se os anos de 1990 corresponderam a uma intensificação de políticas educacionais devido, sobretudo, ao processo de redemocratização do país, à mobilização de diferentes movimentos sociais e à LDB-96, que instituiu a “década da educação” (Dias, 2009, p.10) e serviu de temática a inúmeros estudos, que em diferentes perspectivas se ocuparam de sua análise, agora, em 2009, após o estabelecimento da Professora de História do Colégio Pedro II, Doutoranda no Programa de Pós-graduação em Educação do Proped-UERJ e integrante do Grupo de Pesquisa – Articulação nas políticas de currículo: o caso das Ciências no Ensino Médio – em andamento e aprovada pelo CNPq, coordenada pela Profa. Alice Casimiro Lopes. (www.proped.pro.br) Ana de Oliveira 7027 Dois Campos de Investigação em Diálogo: a arquitetura de uma pesquisa obrigatoriedade de nove anos para o ensino fundamental – Lei nº. 11.274/06 –, uma coletânea de quatro documentos que tem como título Indagações sobre currículo, editada numa tiragem de 740.000 exemplares pela Secretaria de Educação Básica (SEB/MEC), em 2008, reacende o debate em torno dessa temática. Cronologicamente inserida nos dois governos de Fernando Henrique Cardoso e tendo o economista Paulo Renato de Souza como Ministro de Educação, as propostas curriculares dos anos de 1990 sofreram poucas alterações, mesmo quando, em 2003, iniciou-se o primeiro mandato do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Entretanto, a partir de 2006, mobilizaram-se, em uma série de discussões, diferentes sujeitos e grupos sociais no sentido de analisar os efeitos daquelas propostas e apresentar, na coletânea, “novas” proposições curriculares. Embora situando a pesquisa1 a que ora me dedico em uma vertente que não se circunscreve naquelas que, em número considerável, incorporam-se às teorias estadocêntricas2, considero que a análise de documentos oficiais, entre outras fontes de pesquisa3, decerto contribuirá para a compreensão das políticas curriculares brasileiras – temática selecionada na pesquisa em processo. Entendo esses textos, não como coleção lógica e racional de orientações, mas como construções sócio-históricas resultantes de processos de recontextualização que se dão em meio a tensões e conflitos e, dessa forma, busco compreender como sujeitos e grupos sociais atuam na produção das políticas curriculares em diferentes contextos; como textos e discursos que são produzidos por esses sujeitos e grupos sociais adquirem significado, como se hegemonizam determinados sentidos e que processos de articulação, que incorporam relações macro e micro, permitem tal hegemonização. Neste artigo, apresento os aportes teórico-metodológicos com os quais busco, respondendo às questões formuladas, ampliar a rede de trabalhos do campo curricular, dando prosseguimento a um diálogo que se vem mostrando bastante importante no 1 Refiro-me ao Projeto de tese A rede de (re)significações da comunidade disciplinar História nas políticas curriculares para o ensino Fundamental, aprovado no processo de seleção de 2009 para o curso de Doutorado do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – PROPEd-UERJ. 2 Refiro-me às pesquisas que trabalham na perspectiva da elaboração da política circunscrita ao espaço oficial (Paiva et al, 2006). 3 Analiso também a produção da comunidade disciplinar de História, além das Diretrizes Curriculares e dos Parâmetros Curriculares para o Ensino Fundamental. Ana de Oliveira 7028 Dois Campos de Investigação em Diálogo: a arquitetura de uma pesquisa campo: refiro-me às possibilidades de interconexão entre os campos do currículo e o das ciências sociais. Com essa intenção, apresento na 1ª seção as categorias de análise do ciclo contínuo de políticas de Stephen Ball, enfatizando o que o autor inglês chama de contextos de produção de políticas, indicando o entendimento com que os utilizo. Ainda nessa seção, incorporo as interpretações de Canclini, por considerar que na formulação inicial das políticas curriculares discursos e textos passam por processos de ressignificações, originando novas coleções que associam discursos de matrizes teóricas distintas (Lopes, 2003, p.267). Assim, no delineamento desta pesquisa, a categoria de recontextualização por hibridismo contribui para a compreensão das políticas curriculares nos recortes aqui propostos. Entretanto, para a análise dos embates e disputas que têm lugar no processo de formulação das políticas curriculares, a abordagem do ciclo contínuo de políticas de políticas, defendida por Ball, deixa lacunas. A compreensão de como determinados sentidos se hegemonizam e que processos de articulação permitem tal hegemonização precisa recorrer a outros aportes teórico-metodológicos. Nesse sentido, creio que a teoria do discurso de Ernesto Laclau, sobretudo seus conceitos de articulação, hegemonia, diferença, cadeia de equivalência, ponto nodal e significante vazio possam ajudar-me na superação das lacunas deixadas pelo modelo analítico de Ball com relação à análise das políticas curriculares. Trato, então, da teoria do discurso de Ernesto Laclau, na 2ª seção. A título de considerações finais, indico, na 3ª seção, questões que a leitura dos novos textos curriculares para o ensino fundamental indica como necessárias para serem investigadas, defendendo a relevância do diálogo entre os dois campos – o curricular e o das ciências sociais – na compreensão das políticas curriculares. O ciclo contínuo de políticas Os debates no campo do currículo, sobretudo a partir dos anos finais do século XX, têm girado, entre outras, em torno de questões que dão centralidade à tensão entre as propostas curriculares produzidas pelo Estado e as que são elaboradas em espaços locais. Ana de Oliveira 7029 Dois Campos de Investigação em Diálogo: a arquitetura de uma pesquisa Objeto de trabalho de diferentes teóricos do campo do currículo, as propostas vêm sendo analisadas nos grupos de pesquisa de instituições acadêmicas, e nessas análises uma multiplicidade de concepções é evidenciada. Paiva (2006) identificou um dos grupos4 em torno do qual se pode aglutinar essas pesquisas: aquele que pretende referendar a ideia de que os currículos “vivenciados”5 pouco podem em relação aos eixos norteadores dos textos oficiais. Esses trabalhos possuem o mérito de revelar o forte caráter prescritivo dos currículos e os “regimes de verdade” que carregam. Entretanto, deixam de considerar, primeiro, que as políticas enquanto discursos estão imersas numa rede de outros discursos, menos dominantes, e, segundo, desconsideram que os textos que a constituem não são independentes de história, poder e interesses (Foucault, apud Mainardes, 2006, p. 54). Os Estados - especialmente aqueles que iniciaram a trajetória do que se convencionou chamar de modelo neoliberal – são pródigos na elaboração de textos que têm como objetivo a reforma curricular em diferentes níveis de ensino. Essas políticas produzem discursos nos quais se pretende definir ações que possam garantir a qualidade da educação, desde que relacionada à inserção na economia de mercado e à empregabilidade. Com relação à centralidade que as decisões governamentais assumem nessas concepções curriculares, Mainardes (2006) defende que essas abordagens estadocêntricas tendem a acomodar a complexidade e a diferença e priorizam as macroinfluências (p.55). Ao considerarem o Estado como aparelho coercitivo que impõe à sociedade um tipo de produção e economia em torno dos quais se conectam as políticas curriculares (ibid.), deixam de considerar que a análise de políticas curriculares exige uma compreensão que se baseia não no geral ou local, macro ou microinfluências, mas nas relações de mudança entre eles e nas suas interpenetrações (ibid, p.56). Afasto-me, então, da concepção de que o poder está presente apenas no Estado, entendendo que se encontra, capilarmente, distribuído por todas as esferas produtoras 4 Paiva et al (2006) identifica três tipos: enfocam diferentes contextos e sujeitos; trabalham na perspectiva da elaboração da política circunscrita ao espaço oficial; e tratam do contexto da prática como produtor de políticas (p.252). 5 Uso a palavra entre aspas por concordar com Lopes (2004) quando defende a ideia de que a dicotomia entre currículo escrito e currículo em ação, precisa ser abandonada na medida em que cada uma dessas categorias se define em estreita relação com a outra. Ana de Oliveira 7030 Dois Campos de Investigação em Diálogo: a arquitetura de uma pesquisa de discursos (Foucault, 2003) e que os textos que cada uma dessas esferas produz são novas representações sujeitas a uma pluralidade de interpretações (Mainardes, 2006 e Lopes, 2005), e me oriento pela concepção curricular do ciclo contínuo de políticas que fundamentou os trabalhos de Stephen Ball, pesquisador da área de políticas educacionais. Os estudos de Ball (1989, 1998, 2004), embora referidos à realidade inglesa, têm servido de paradigma para análises do campo curricular de outros países e colocado no centro dos debates os processos micropolíticos e a necessidade de se articular os processos macro e micro nas pesquisas desse campo. Assim, Ball & Bowe (1998) propuseram um ciclo contínuo constituído por três contextos principais: o contexto de influência, o contexto da produção de texto e o contexto da prática. Esses contextos estão inter-relacionados, não têm uma dimensão temporal ou sequencial e não têm etapas lineares. Cada um desses contextos apresenta arenas, lugares e grupos de interesse e cada um deles envolve disputas e embates. Na análise da trajetória das políticas curriculares, é preciso considerar o contexto de influência e entendê-lo como o espaço-tempo onde ocorre a formulação inicial das políticas e onde os discursos políticos são construídos de modo que os conceitos adquiram legitimidade e forneçam limites às leituras que serão feitas. Entretanto, essa formulação inicial não é completamente original: ela se dá por processos de ressignificações de discursos e textos que circulam nos outros contextos. Assim, se por um lado a política curricular brasileira dos anos finais do século XX inseriu-se em um modelo de globalização econômica e de mundialização da cultura, trouxe, também, as marcas do Estado-Nação e de identidades locais (Macedo, 2004). Embora tenha se constituído por processos de migração de políticas, essa migração não foi uma mera transposição e transferência, pois as políticas foram recontextualizadas dentro de contextos nacionais específicos, e sujeitas a um processo interpretativo (Mainardes, 2006, p.52). A representação dessa política hibridizada se dá no contexto da produção de textos através de documentos oficiais, pronunciamentos, propagandas na mídia, entre outros. Esses textos oficiais refletem e refutam, ao mesmo tempo, as ideias centrais que Ana de Oliveira 7031 Dois Campos de Investigação em Diálogo: a arquitetura de uma pesquisa o modelo de globalização pretende naturalizar, constituindo-se, assim, em discursos também marcados pela hibridização, nos quais o global entrelaça-se ao local. Lopes (2003), incorporando interpretações de Canclini, chama atenção para o fato de que a recontextualização de textos curriculares com base no hibridismo pode ser entendida pelas novas coleções que são formadas associando discursos de matrizes teóricas distintas Os textos são deslocados das questões que levaram à sua produção e relocalizados em novas questões e novas finalidades educacionais (p. 267). Os processos de recontextualização que dão origem a coleções híbridas se fazem acompanhar de embates e disputas envolvendo diferentes sujeitos e grupos sociais e estão presentes nos três contextos sugeridos pelo modelo analítico de Ball – o de influência, o da produção de textos e o da prática. Esses contextos, ratifico, estão interrelacionados, não têm uma dimensão temporal ou sequencial e não têm etapas lineares. Cada um deles apresenta arenas, lugares e grupos de interesse em disputa. A interrelação que se apresenta nesses contextos propostos inicialmente por Ball, para ser entendida, levou o autor inglês a sugerir a existência de outros dois contextos: o contexto dos resultados/efeitos e o contexto de estratégia política. Com relação a esse último, ainda pouco utilizado nas pesquisas do campo curricular, se entendermos como estratégia as relações de força que tornam possíveis o estabelecimento de ações capazes de delimitar um lugar de poder (Certeau, 2002), sempre contingente e provisório, a utilização dessa categoria pode se constituir em ferramenta importante para os estudos do campo curricular, na medida em que possibilite a análise de como se processam os processos de articulação que têm lugar na formulação das propostas curriculares. Nesse sentido, a abordagem do ciclo contínuo de políticas, defendida por Ball, apresenta lacunas. A compreensão de como sujeitos e grupos sociais atuam na produção de políticas em diferentes contextos de produção, de como os textos e discursos que são produzidos por esses sujeitos e grupos sociais adquirem significado, de como determinados sentidos se hegemonizam e que processos de articulação permitem tal hegemonização precisa recorrer a outros aportes teórico-metodológicos. Creio que a teoria do discurso de Ernesto Laclau, sobretudo seus conceitos de articulação, hegemonia, diferença, cadeia de equivalência, ponto nodal e significante vazio, possa Ana de Oliveira 7032 Dois Campos de Investigação em Diálogo: a arquitetura de uma pesquisa ajudar na superação das lacunas deixadas pelo modelo analítico de Ball com relação à análise das políticas curriculares. Apresento na seção a seguir o entendimento com que trato esses conceitos. Superando lacunas do ciclo contínuo de política: a teoria do discurso de Ernesto Laclau Para que possamos entender o que Laclau define como relação de equivalência, é preciso aceitar a idéia de que as formações sociais atuais, longe de se constituírem como algo essencialmente dado (Laclau, 2006, p.21), precisam ser analisadas tomando como base a ideia da dispersão de posições de diferentes sujeitos. É a partir dessa dispersão de antagonismos e de diferentes demandas que se pode compreender os processos de articulação que acabam por hibridizar textos e discursos no sentido de fixar sentidos para as políticas. Laclau chama atenção para o fato de que os processos de articulação pressupõem o fechamento de uma cadeia de equivalência entre demandas diversas. Para tal, se faz necessário que alguns significantes sejam privilegiados, constituindo os pontos nodais em torno dos quais se estabelece, de forma provisória e contingente, a hegemonia de uma determinada concepção. Afirma, ainda, que esse processo de articulação delimita uma fronteira política (Laclau, 2006, p. 23) que coloca em seu exterior um elemento excluído da cadeia, mas que a ela pertence. Em pesquisa6 anteriormente realizada, pude compreender como, em torno de textos e discursos da reforma curricular do Estado nos anos de 1990, diferentes sujeitos alinharam-se em uma cadeia de equivalência, colocando em xeque um ensino que consagrava o eruditismo e o academicismo e construíram uma totalidade em torno do discurso da qualidade de ensino. Embora distintas, diferentes demandas através de processos de articulação dentro dos movimentos circulatórios das políticas (Lopes, 2007), estabeleceram entre si uma relação de equivalência que, ao se estender, precisou ser representada simbolicamente como um todo (Laclau, 2006, p. 24), rompendo, provisoriamente, o vínculo estrito que a constituía originalmente como particularidade. 6 No XIV ENDIPE (2008) tive aprovado para apresentação e publicação nos Anais do Encontro, o Painel em que tratava dessa questão sob o título: “Qualidade de Ensino: afinal de que estamos falando?”. Nesse trabalho identificava, como significante vazio, a qualidade de ensino. Acredito que a pesquisa definida nesse projeto ajude a identificar outros significantes em torno dos quais se estabeleceram cadeias de equivalência contingentes e provisórias. Ana de Oliveira 7033 Dois Campos de Investigação em Diálogo: a arquitetura de uma pesquisa Precisou também expulsar da cadeia de equivalência um determinado elemento ao qual todas as demais diferenças a ele se deveriam antagonizar, para, de certa forma, garantir a articulação da cadeia de equivalentes. Para ter essa função de representação universal, as demandas precisam se despojar de conteúdos precisos e concretos ou, em outras palavras: têm que se esvaziar de sua relação com significados específicos para se transformar em um significante esvaziado de sua referência direta a um determinado significado – que Laclau denomina significante vazio (Laclau, 2006, p.25), termo vago e impreciso o bastante para representar a totalidade de elementos heterogêneos (Laclau, 2006). Essa totalidade significativa, resultado do fechamento da cadeia de equivalência, definiu-se, ratifico, em relação a algo que foi colocado em seu exterior – mas que a ela pertencia – e contra a qual todas as outras diferenças incluídas na totalidade, representada pela qualidade de ensino, se antagonizaram. Se os aportes teórico-metodológicos do ciclo contínuo de políticas me permitem aprofundar questões levantadas anteriormente no que estas dizem respeito à identificação dos sentidos que circulam nas propostas curriculares, apresentam limites para a compreensão de como determinadas concepções se tornam hegemônicas. Nesse sentido, o conceito de hegemonia, tomado de empréstimo à teoria do discurso de Ernesto Laclau, decerto ajudará a superar essas limitações na medida em que pode contribuir para a identificação dos processos de articulação e dos significantes em torno dos quais se estabeleceram cadeias de equivalências contingentes e provisórias. Considerações finais: levantando novas questões Os aportes teórico-metodológicos apresentados na seção anterior implicam entender os documentos oficiais que expressam as políticas curriculares primeiro, não como coleção lógica e racional de orientações, mas como construções sócio-históricas resultantes de processos de recontextualização que se dão em meio a tensões e conflitos. Em segundo lugar, como sendo uma tentativa de fixar frequentemente parâmetros importantes para a sala de aula (Goodson, 1997, p.20). É essa concepção curricular que me permite entender os textos, oficiais ou não, como refletindo e refutando, ao mesmo tempo, as ideias centrais que neles se pretende naturalizar, constituindo-se assim em discursos marcados pela hibridização. Ana de Oliveira 7034 Dois Campos de Investigação em Diálogo: a arquitetura de uma pesquisa Isto porque, ao serem transportados para os espaços mais locais, os textos oficiais das políticas curriculares, também hibridizados, passam por um processo de recontextualização, produzindo novos discursos que modificam o que originalmente lhes era próprio, não sendo a simples transposição das orientações oficiais. Ao se deslocarem, os discursos se fragmentam, fazendo com que alguns fragmentos sejam mais valorizados e se associem a outros discursos passando a ter novos significados e sentidos. Essa associação se torna possível por um processo de bricolagem, e o arranjo que dela resulta modifica sua relação com os discursos originais. Em cada um dos diferentes patamares que os discursos atravessam, há uma rede própria de poderes (Lopes, 2006) que entram em embates, o que me leva a defender a ideia de que o poder está distribuído por todas as esferas produtoras de discursos e não apenas no Estado (Foucault, 2003), e que os textos que cada uma dessas esferas produz são novas representações de múltiplos processos de recontextualização (Lopes, 2006). Voltando aos documentos oficiais listados a título de introdução neste artigo – a coletânea Indagações sobre currículo –, apresento, norteada pelo diálogo que creio possível entre dois campos de investigação – o da educação e o das ciências sociais –, a título de conclusão, algumas indagações que a leitura do mais recente documento curricular oficial sugere para a continuação da pesquisa a que ora me dedico. O percurso traçado para a produção dessa coletânea constou, preliminarmente, de uma reunião com profissionais indicados por diferentes representações – União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED), Secretarias Estaduais de Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD), Comitê Nacional de Políticas da Educação Básica (CONPEB) e REDE/MEC – que foram indagados sobre as questões que um texto sobre currículo deveria conter. Em um segundo momento foram selecionados textos preliminares elaborados por autores do GT-Currículo da ANPEd que entregues ao grupo que anteriormente elencou as questões curriculares deveriam destacar as questões que foram respondidas por esses textos e quais lacunas deixaram. Surge aqui a indicação de novas pistas que precisam ser pesquisadas. Primeiro, quais questões foram apontadas pelos diferentes grupos que, preliminarmente, participaram dessa reunião, identificando demandas e concepções curriculares em disputa. Segundo, que textos foram apresentados pelos autores do GT- Currículo da Ana de Oliveira 7035 Dois Campos de Investigação em Diálogo: a arquitetura de uma pesquisa ANPEd e que concepção curricular era defendida nesses textos? Essa concepção é hegemônica no GT-Currículo da ANPEd? Que demandas foram aglutinadas formando uma cadeia de equivalência e qual demanda foi jogada para o exterior dessa cadeia de equivalência? Numa terceira etapa de produção desse documento coube à Secretaria de Educação Básica – SEB/MEC – sistematizar as informações colhidas nas etapas anteriores em um texto a ser encaminhado para Seminários. Nestes – foram realizados dois: um em novembro e, o outro, em dezembro de 2006, em Brasília – além das entidades anteriormente listadas, foram incluídos representantes do Conselho Nacional de Educação (CNE), da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), da Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE), da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd) e professores universitários, totalizando 1500 participantes. Com relação a essa etapa, novas pistas precisam ser recolhidas, como sugere Ginsburg (2001) ao comparar o trabalho do pesquisador ao de um detetive. Nesse sentido, a análise das atas dos Seminários realizados em 2006 e a identificação de seus participantes ajudam na identificação de sujeitos e grupos sociais que, atuando no contexto de influência, representam o que, tomando de empréstimo das ciências sociais, são chamadas de comunidades epistêmicas7. Dessa forma, considerando os processos de produção das políticas curriculares nos quais se pretende a constituição de propostas hegemônicas, e que, por isso mesmo, se dão em meio a tensões e conflitos, as pesquisas que visam à compreensão de como sujeitos e grupos sociais atuam na sua produção em diferentes contextos, como os textos e discursos que são produzidos por esses sujeitos e grupos sociais adquirem significado, como se hegemonizam determinados sentidos e que processos de articulação, que incorporam relações macro e micro, permitem tal hegemonização, torna-se relevante no sentido de contribuir para o entendimento das políticas curriculares. 7 Com autoridade reconhecida pelo conhecimento e pelas relações de poder com a institucionalidade, visam certa identidade na recontextualização dos discursos e procuram garanti-la por meio [dentre outros] da participação em congressos. (...). Isto no contexto de influência. No contexto da produção de textos participam de consultorias, conselhos, comissões e, no contexto da prática, em grande parte nas Universidades e grupos de pesquisas. (Dias, 2009, p.14). Ana de Oliveira 7036 Dois Campos de Investigação em Diálogo: a arquitetura de uma pesquisa Referências bibliográficas BALL, J. S. Performatividade, privatização, e o pós-estado do bem-estar. Educação e Sociedade, Campinas, vol. 25, n. 89, p. 1105-1126, set./dez., 2004. Disponível em http://www.cedes.unicamp.br BALL, S. J. La micropolítica de la escuela: hacia uma teoria de la organización escolar. Barcelona: Paidós, 1989. BALL & BOWE, R. El curriculum nacional y su “puesta em practica”: el papel de los departamentos de materias o asgnaturas. Revista de Estúdios de Curriculum, v.1, n.2, p. 105-131, abr., 1998. BRASIL, Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica. Indagações sobre currículo. Brasília: 2008 BRASIL, Ministério da Educação. Parâmetros curriculares nacionais: História /terceiro e quartos ciclos do ensino fundamental. Brasília: 1998 BRASIL, Ministério da Educação. Parâmetros curriculares nacionais: Introdução. Brasília: 1998. CERTEAU, Michel. A invenção do cotidiano: 1. artes de fazer. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002 DIAS, Rosanne Evangelista. Ciclo de políticas curriculares na formação de professores no Brasil (1966-2006). 2009. 249 f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2005. FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. São Paulo: Graal, 2003. GINSBURG, C. Mitos, emblemas, sinais: morfologia e História. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. GOODSON, I. F. A construção Social do Currículo. Lisboa: Educa e autor, 1997. LACLAU, E. Inclusão, exclusão e a construção de identidades. In: AMARAL Jr. A; BURITY, J.A. Inclusão social, identidade e diferença: perspectivas pós-estruturalistas de análise social. SP: ED. Annablume, 2006 LOPES, A. C. Discursos curriculares na disciplina escolar Química. In: XXVI REUNIÃO ANUAL DA SBQ II WORKSHOP EM ENSINO DE QUÍMICA. 2003. Poços de Caldas. LOPES, A. C. Políticas de currículo: continuidade ou mudanças de rumos? Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, Anped, n. 26, p. 109-118, maio/jun/jul/ago. 2004. Ana de Oliveira 7037 Dois Campos de Investigação em Diálogo: a arquitetura de uma pesquisa LOPES, A. C. Políticas de Currículo: lutas para definir o conhecimento escolar. In: III COLÓQUIO LUSO-BRASILEIRO SOBRE QUESTÕES CURRICULARES. Fevereiro de 2006. Universidade do Minho. Braga, Portugal. LOPES, Alice Casimiro. Currículo e epistemologia. 1. ed. Ijuí: Editora Unijuí. v. 1.2007. MACEDO, E. Ciência, tecnologia e desenvolvimento: uma visão cultural do currículo de Ciências. In: LOPES, A. C.; MACEDO, E. (org) Currículo de Ciências em debate. Campinas: Papirus, 2004. MAINARDES, J. Abordagem do Ciclo de Políticas: uma contribuição para a análise de políticas educacionais. Educação e Sociedade, volume. 27, n.94, p.47-69. jan./abr. 2006. Disponível em <http://www.cedes.unicamp.br> Acesso em 20 de agosto de 2006. PAIVA, E. et al. Políticas Curriculares no foco das investigações. In: Políticas de Currículo em múltiplos contextos. São Paulo: Cortez, 2006. Ana de Oliveira 7038 IV COLÓQUIO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS E PRÁTICAS CURRICULARES “DIFERENÇA NAS POLÍTICAS DE CURRÍCULO” ORIENTAÇÕES CURRICULARES: UM DIÁLOGO QUE SE CONSTRÓI NO CENÁRIO RIOGRANDENSE Giovana Gomes Albino Maria Betânia da Silva Dantas JOÃO PESSOA - PB - BRASIL 10 A 13 DE NOVEMBRO DE 2009 Orientações Curriculares: um diálogo que se constrói no cenário Norte Riograndense ORIENTAÇÕES CURRICULARES: UM DIÁLOGO QUE SE CONSTRÓI NO CENÁRIO NORTE RIOGRANDENSE Giovana Gomes Albino1 Maria Betânia da Silva Dantas2 RESUMO: O presente trabalho volta-se à explanação do percurso realizado pela Comissão de Currículo da Secretaria de Estado, da Educação e da Cultura do Rio Grande do Norte para a construção das Orientações Curriculares do Sistema Estadual de Ensino. Evidencia o processo constituinte dessa Comissão e as ações por ela desenvolvidas para a construção de um documento uno, capaz de articular as propostas de todas as etapas e modalidades de ensino da Educação Básica existentes no âmbito estadual. Retrata ainda os momentos de estudos, formações, reuniões e debates em torno da temática, ocorridos nas distintas instituições e unidades escolares vinculadas à rede estadual de ensino para a produção do referido documento, bem como o significativo referencial teórico a que a Comissão se ateve para compreender e definir os encaminhamentos a serem tomados. Por fim, destaca o sentido de currículo assumido pelos membros dessa Comissão e as perspectivas futuras de suas ações, dentre elas, a concretização da escrita do documento e seu ingresso no contexto escolar, a partir do qual se objetiva o redimensionamento ou a produção de propostas escolares ‘vivas’, em que a identidade e a autonomia da instituição estejam garantidas e sejam privilegiadas em todas as suas ações. PALAVRAS-CHAVE: Currículo. Comissão. Orientações Curriculares. Refletir sobre o contexto atual da sociedade considerando seus muitos aspectos constituintes não se traduz numa tarefa simples, tendo em vista que a mesma se define como um conjunto de vários âmbitos diretamente influenciáveis e passíveis de contínuas transformações. Dentre eles o econômico, o político, o cultural, o tecnológico, o social que, direta ou indiretamente, lhe definem contornos, lhe destacam avanços e 1 Técnica Pedagógica da Secretaria do Estado, da Educação e da Cultura do RN. Membro permanente do Núcleo de Referência em Currículo/RN. Professora da Rede Municipal de Ensino do Natal/RN. Mestranda em Educação – PPGed/UFRN. 2 Técnica Pedagógica da Secretaria do Estado, da Educação e da Cultura do RN. Membro permanente do Núcleo de Referência em Currículo/RN. Professora da Rede Municipal de Ensino do Natal/RN. Mestra em Educação – PPGED/UFRN. Giovana Gomes Albino & Maria Betânia da Silva Dantas 7042 Orientações Curriculares: um diálogo que se constrói no cenário Norte Riograndense recuos, por fim, lhe tecem o fio em que se evidenciará a rede de relações que a configura. É considerando essa complexidade e, em meio a ela, a especificidade da educação como espaço de vivência que o presente texto se desenvolverá, tendo por finalidade explanar a forma como se articulou o processo de construção das Orientações Curriculares da Educação Básica no âmbito do sistema educacional do estado do Rio Grande do Norte. Para tanto, partiu-se de uma concepção de currículo enquanto processo que se desenvolve nas relações intra e interescolares, o que reflete nos novos encaminhamentos político-pedagógicos propostos pela Secretaria do Estado, da Educação e da Cultura do Rio Grande do Norte – SEEC/RN para seu sistema de ensino. Apresentando uma estrutura dividida em setores, esta Secretaria possui uma Coordenadoria de Desenvolvimento Escolar – CODESE – que se estrutura em Subcoordenadorias correspondentes a cada uma das etapas e modalidades de ensino que compõem a educação básica. Por suas características específicas, cada uma dessas Subcoordenadorias realiza atividades de assessoria, capacitação e acompanhamento junto às equipes das escolas que compõem a rede estadual de ensino. Essas atividades desenvolvidas pelas Subcoordenadorias, no entanto, sempre se apresentavam como um mecanismo de atuação particular, voltado unicamente à etapa ou modalidade à qual se destinava. Como exemplo pode-se mencionar: a Subcoordenadoria do Ensino Fundamental – SUEF – articulava e desenvolvia ações que atendessem e dessem suporte ao trabalho desenvolvido com professores, técnicos e alunos do ensino fundamental; a Subcoordenadoria do Ensino Médio – SUEM – atendia única e exclusivamente o que se destinava a esta etapa de ensino; a Subcoordenadoria de Educação de Jovens e Adultos – SUEJA – centrava suas ações apenas no âmbito da educação ofertada a esse alunado; e assim agiam os demais setores imersos nessa realidade. Mediante esse contexto de desarticulação entre as diversas ações, muitas delas com caráter de complementaridade, a CODESE lançou-se na missão de desenvolver práticas que viessem a reordenar o processo de atendimento prestado às escolas por essas Subcoordenadorias, com vistas a promover um trabalho de articulação e de maior entrosamento entre elas, iniciando-se com a convocação de representantes de Giovana Gomes Albino & Maria Betânia da Silva Dantas 7043 Orientações Curriculares: um diálogo que se constrói no cenário Norte Riograndense cada um desses setores para a explanação do quadro em evidência e a tomada de decisões no sentido de amenizá-lo. Em decorrência disso, aflorou a idéia de se organizar um grupo de estudo composto por esses representantes para discutir questões inerentes ao contexto educacional e à realidade vivida através das ações implementadas pela Secretaria Estadual no âmbito escolar, cujas reflexões permitiram repensar as atividades em decorrência, bem como planejar atuações que melhor se adequassem ao alcance de resultados mais coerentes e significativos com a qualidade almejada para a educação oferecida pela rede estadual de ensino. Inicialmente centrado na disseminação dos trabalhos empreendidos por cada um dos setores representados, o grupo tratou de observar as necessidades e potencialidades existentes em cada ação, refletindo, analisando e ponderando as possibilidades de mudança e de melhor articulação entre os ideais propostos. Assim, definiram-se os momentos de estudo e de redirecionamento das atividades a serem encaminhadas pelos setores. Nessa proposta, o retorno aos setores compreendia reuniões em que se expunham os debates realizados, as colocações advindas dos demais membros do grupo e os encaminhamentos sugeridos. As reuniões promovidas dentro de cada uma das subcoordenadorias propiciavam também novas articulações e reflexões entre todos os profissionais a ela vinculados. Com isso, constituiu-se um contexto de reflexão sobre as ações, definindo-se novos contornos aos afazeres propostos e encaminhados pela Secretaria de Educação junto à sua rede de ensino. Nessa perspectiva, torna-se possível evidenciar o sentido de reflexão na ação abordado por Alarcão (2003, p.50), quando a autora coloca que a reflexão na acção acompanha a acção em curso e pressupõe uma conversa com ela. Reflectimos no decurso da própria acção, sem a interrompermos, embora com breves instantes de distanciamento e reformulamos o que estamos a fazer enquanto estamos a realizá-lo. Esse proceder do grupo e os resultados advindos das reflexões e dos debates vivenciados elevaram-se à análise de projetos, propostas, orientações e documentos específicos a cada um dos setores envolvidos, culminando com a abordagem de diretrizes e construções curriculares correspondentes àqueles que já as tinham regulamentadas. Novamente emergiu o sentido de desarticulação e distanciamento Giovana Gomes Albino & Maria Betânia da Silva Dantas 7044 Orientações Curriculares: um diálogo que se constrói no cenário Norte Riograndense empregado no campo das atividades educativas evidenciadas na rede estadual, tendo em vista que as etapas e modalidades de ensino acompanhavam direcionamentos curriculares singulares e pontuais, voltados a um segmento específico e distante das orientações previstas para os demais. Essa observação levou o grupo à percepção das inúmeras indagações e dúvidas geradas nos âmbitos escolares, quando várias se destacavam as orientações advindas do órgão central. Dessa constatação surgiu então o desejo no grupo de se debruçar sobre a construção de Orientações Curriculares que viessem a reestruturar e integrar as propostas já produzidas por algumas das Subcoordenadorias, bem como construir outras ainda não existentes, de modo que se pudesse contar com um documento único, capaz de abranger todas as etapas e modalidades da Educação Básica que compõem a rede estadual, considerando princípios filosóficos, sociais e político-pedagógicos inovadores e democráticos, correspondentes com as necessidades, aspirações e exigências que definem o mundo atual. Dentre as concepções e indagações inicialmente tomadas pelo grupo face à construção a que se dispunha a realizar, destacaram-se os questionamentos propostos por Scocuglia (2004, p. 115) quando discorre sobre reflexões e colocações realizadas pelo educador Paulo Freire em diferentes momentos de sua produção a respeito da constituição e do significado de um currículo que expresse a realidade, os anseios e os ideais de todos os indivíduos a ele direta ou indiretamente vinculados. A este respeito, assim se expressa o autor: [...] dispomos de um amplo legado pedagógico, político, cultural..., disposto a contribuir para que a educação sistemática e seu currículo sejam alicerces de um país menos injusto, mais solidário, menos abismal nos seus aspectos sociais. Alguém acredita que sem uma educação comprometida e focada nas necessidades sociais, culturais, econômicas, educacionais e nos direitos a conhecimentos da grande maioria dos brasileiros, isso seria possível? Como seria um currículo focado nessas necessidades e direitos? Como nele se processaria a relação entre o conhecimento popular ou do senso comum e o conhecimento elaborado/científico? Quais seriam as ações dialógicas propostas para a consecução de um currículo democrático e participativo? Que grau de prioridade se daria para o binômio conhecimento-consciência crítica? Como seria exercida a interdisciplinaridade/transdisciplinaridade do currículo? Como seriam constituídas as ações da gestão escolar/educacional para conseguir tal intento? Como se daria a permanente revalorização/reeducação dos docentes e como a construção coletiva (críticoreflexiva) do currículo poderia contribuir? Giovana Gomes Albino & Maria Betânia da Silva Dantas 7045 Orientações Curriculares: um diálogo que se constrói no cenário Norte Riograndense As interrogações e reflexões oriundas desses estudos demarcaram uma nova estruturação ao grupo, definindo a necessidade de outros direcionamentos mediante à ousada proposta que ora se vislumbrava. Assim, da caracterização de um grupo de estudo passou à instituição de uma comissão intitulada ‘Comissão Permanente de Currículo da SEEC/RN, publicada através da Portaria nº 1.748/2007, no Diário Oficial do Estado de 19/12/2007. Oficializada a Comissão, novas configurações foram traçadas a fim de se atingir os objetivos almejados. Assim, estruturou-se um cronograma de atividades sistematizadas a serem cumpridas pelo grupo. Dentre essas atividades destacavam-se: escolha de referenciais teóricos que pudessem embasar um conceito de currículo centrado em ideais democráticos e inovadores de educação; estudos sistêmicos do referencial selecionado; organização de roteiros regulares de ações a serem cumpridas pelos membros; e, também, apresentação de seminários internos voltados à explanação das articulações feitas junto às Subcoordenadorias. Nesse ínterim, percebeu-se a relevância dos objetivos propostos pela Comissão, bem como os desafios que a tomavam. Com isso, evidenciou-se a consciência de que a construção de Orientações Curriculares voltadas à toda a rede estadual de ensino não poderia centralizar-se unicamente a um grupo localizado órgão central. Tratando-se dos princípios de democratização e abrangência que permeavam os ideais a serem disseminados, a Comissão decidiu enveredar por todo o território estadual, adentrando em cada uma das unidades escolares, buscando apoio nos mais diversos atores que as compõem e reconhecendo as reais necessidades e os desafios que perpassam a dinâmica da sala de aula. Esse pensar sobre a construção inicial do documento condiz com a colocação de Tescarolo (2007, p. 18), para quem o currículo é por natureza uma rede de sentidos capaz de estabelecer uma relação ativa entre o aluno e o objeto do conhecimento e de relacionar, dialeticamente, o aprendido com o observado, a teoria com suas consequências e suas aplicações práticas. Com esse intuito e considerando a abrangência territorial do Estado, a Comissão apercebeu-se de suas limitações em alcançar todas as instituições componentes da rede de ensino. Assim, lançou mão da própria organização estrutural Giovana Gomes Albino & Maria Betânia da Silva Dantas 7046 Orientações Curriculares: um diálogo que se constrói no cenário Norte Riograndense dessa rede, cuja composição possui dezesseis Diretorias Regionais de Educação – DIRED. Essas Diretorias localizam-se em diferentes cidades-pólos e respondem pela articulação, divulgação e execução das ações advindas do órgão central junto às escolas a ela circunscritas. Contando com um grupo de técnicos pedagógicos e professores que constituem uma Rede de Formadores – REDEF – existente nas DIRED, a Comissão potencializou essa Rede através da promoção de encontros formativos em torno da temática curricular. A partir desses encontros foram desencadeadas ações a serem realizadas nas escolas. Essas ações compreendiam estudos, palestras, seminários e levantamento das primeiras concepções e considerações acerca da temática em foco e abrangiam os vários segmentos que compõem a comunidade escolar. A realidade ora exposta remete à ideia apresentada por Tiné (2004) de uma política de ação curricular em que as escolas juntamente com a comunidade local e os professores debatam com seus pares e discutam com seus alunos, desenvolvendo experiências próprias para as questões vinculadas à realidade comunitária, em que a articulação entre saberes escolares e saberes extra-escolares da comunidade local estejam presentes na própria produção ou sejam adquiridos por meio do acesso a outras fontes. Os contínuos encontros ocorridos entre a REDEF e as comunidades escolares foram possibilitando a construção e reconstrução de concepções e temáticas que serviram de base para a tessitura das Orientações Curriculares em andamento. A necessidade de explanação das distintas concepções abordadas na tessitura do documento emergiu dos estudos e discussões realizados entre os membros da Comissão e também dos momentos de vivências entre estes e as equipes que compõem a REDEF. Em meio às concepções destacaram-se um conjunto voltado ao homem em que se abordaram algumas de suas dimensões, como as de criança, jovem e adulto; outro, centrado em educação, escola, sociedade e cultura; e um terceiro com explanações sobre currículo e aprendizagem. Essas definições foram enviadas à Comissão por meio de relatórios detalhados elaborados pelos membros da REDEF. A partir delas, a Comissão pode perceber o pensamento coletivo de toda a comunidade envolvida e se debruçar sobre Giovana Gomes Albino & Maria Betânia da Silva Dantas 7047 Orientações Curriculares: um diálogo que se constrói no cenário Norte Riograndense ele, compilando ideias comuns e trazendo à luz de referenciais teóricos a elas relacionados. Nessa organização, foram assim definidas as ideias advindas dos relatórios: o primeiro conjunto retrata o sentido de homem enquanto ser humano e se apresenta numa referência às principais etapas de vida presentes no ambiente escolar. Ao tratar do contexto educativo, o segundo conjunto infere sobre as relações tecidas no processo educacional enquanto mecanismo de formação de seres sociais e culturais, cuja efetivação acontece no espaço escolar. Por fim, agrupam-se as concepções de aprendizagem e currículo. Este retratando os diversos saberes e definições que se concretizam mediante a ação de aprender. Um segundo passo dado em direção à construção das Orientações Curriculares do RN foi a leitura, a análise e as discussões dos documentos nacionais que tratam de cada uma das etapas e modalidades de ensino da Educação Básica, bem como dos marcos que as legitimam. Esse momento efetivou-se em um processo interno à própria Comissão cuja apropriação do conhecimento abordado permitiu a realização de um novo encontro com a REDEF, a fim de se dimensionar a natureza de cada uma dessas etapas e modalidades de ensino no contexto da educação norte rio-grandense. Nessa realização, concluiu-se com o registro do entendimento adotado para as etapas e modalidades tratadas. Encontrando-se encaminhadas algumas das bases necessárias à construção do documento em pauta, observou-se a necessidade de se abordar temáticas que circundam o fazer educativo e, nesse contexto, enveredou-se por estudos sistemáticos acerca da diversidade, do letramento, do numeramento, da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Ao tratar da diversidade as discussões centraram-se na busca de sentido e compreensão da multiplicidade de fatos e fenômenos que tomam o cenário atual da sociedade e, consequentemente, todos os indivíduos que a constituem. Esse pensamento coaduna com o exposto por Gomes (2008, p. 18), ao dizer que [...] a diversidade é um componente do desenvolvimento biológico e cultural da humanidade. Ela se faz presente na produção de práticas, saberes, valores, linguagens técnicas artísticas, científicas, representações de mundo, experiências de sociabilidade e de aprendizagem. Giovana Gomes Albino & Maria Betânia da Silva Dantas 7048 Orientações Curriculares: um diálogo que se constrói no cenário Norte Riograndense Em relação ao letramento e ao numeramento – temas tão atuais e que apresentam um significado relevante no contexto contemporâneo educacional – sua adoção no documento deu-se especialmente por essas temáticas revestirem-se de sentido amplo e completo na medida em que explicam a maneira dos indivíduos responderem às demandas de aplicação real da matemática e da linguagem para solucionar situações do seu cotidiano. No que concerne ao significado de letramento, tomou-se como base inicial o posicionamento defendido por Soares (2003, p. 92) que explicita: O exercício efetivo e competente da tecnologia da escrita denomina-se letramento, que implica habilidades várias, tais como: capacidade de ler ou escrever para atingir diferentes objetivos – para informar ou informarse, para interagir com outros, para imergir no imaginário, no estético, para ampliar conhecimentos, para seduzir ou induzir, para divertir-se, para orientar-se, para apoio à memória, para catarse...; habilidades de interpretar e produzir diferentes tipos e gêneros textuais; habilidades de orientar-se pelos protocolos de leitura que marcam o texto ou de lançar mão desses protocolos, ao escrever; atitudes de inserção efetiva no mundo da escrita, tendo interesse e prazer em ler e escrever, sabendo utilizar a escrita para encontrar ou fornecer informações e conhecimentos, escrevendo ou lendo de forma diferenciada, segundo as circunstâncias, os objetivos, o interlocutor... A partir dessa ideia, outros estudos foram desenvolvidos acerca do tema, utilizando-se diferentes referenciais como embasamentos para sua ampliação. De igual modo, a abordagem do numeramento seguiu também uma conceituação inicial que se expandiu à medida que outros referenciais foram sendo tomados como forma de fundamentação. Nessa perspectiva, ao adotar o sentido de numeramento, tomou-se como base a colocação de Toledo (2004, p. 94), quando explicita que “ser numerado envolve [...] a possessão de algumas habilidades de letramento e de algumas habilidades matemáticas e aptidão para usá-las em combinação, de acordo com o que é requerido em uma determinada situação”. Quando desencadeados os estudos referentes à interdisciplinaridade, buscou-se sentido na prática do professor, visto que é este profissional o agente que efetivamente pode vivenciar o exercício da interdisciplinaridade no fazer do cotidiano Giovana Gomes Albino & Maria Betânia da Silva Dantas 7049 Orientações Curriculares: um diálogo que se constrói no cenário Norte Riograndense escolar. Estando em consonância com todas as situações experienciadas pelos alunos e fazendo uso deste exercício, pode instigá-los a refletir e agir como sujeitos na construção de seus próprios conhecimentos. Assim, o que define a postura interdisciplinar do professor é a ousadia da busca no ato de pesquisar; é a condição de se lançar ao novo na tentativa de estabelecer um diálogo com conhecimentos diversos. A apreensão da atitude interdisciplinar garante, para aqueles que a praticam, um grau elevado de maturidade. Aprende-se com a interdisciplinaridade que um fato ou solução nunca é isolado, mas consequência da relação entre muitos outros. Para Severino (2008, p. 42), o questionamento do caráter interdisciplinar da prática do conhecimento deve considerar a articulação do todo com as partes e dos meios com os fins; ocorre sempre em função do agir; atrela-se à força interna de uma intencionalidade e à prática da pesquisa; e concebe o aprender como base para a pesquisa, para o construir, ou à ideia de que constrói-se pesquisando. Dando vazão a essa concepção, o autor eleva suas noções destacando o sentido da transdisciplinaridade. Nessa abordagem, assim se coloca: [...] dadas as nossas condições e a complexidade da prática, precisamos de múltiplos enfoques mediatizados pelas abordagens das várias ciências particulares; mas não se trata apenas de uma justaposição de múltiplos saberes: é preciso chegar à unidade na qual o todo se reconstitui como uma síntese que, nessa unidade, é maior do que a soma das partes. Por isso precisa ser também prática transdisciplinar. A transdisciplinaridade é vista não como uma forma absolutamente nova de procedimento do sujeito que conhece, que pudesse se apresentar como independente de todas as modalidades anteriores do saber. Não é disso que se trata, mas de uma síntese articuladora de tantos elementos cognitivos e valorativos de uma realidade extremamente complexa, dada numa experiência igualmente marcada pela complexidade. Essas temáticas serviram, igualmente, como subsídio a outros momentos de formação desencadeados junto à REDEF, ampliando-se, assim, o repertório de conhecimentos dos atores envolvidos. Nessa trajetória, a Comissão percebeu a necessidade de assumir então o entendimento a ser adotado no documento acerca do sentido de currículo. Como definilo? O que o comporia? De que forma seriam organizadas as Orientações Curriculares Giovana Gomes Albino & Maria Betânia da Silva Dantas 7050 Orientações Curriculares: um diálogo que se constrói no cenário Norte Riograndense considerando todo o percurso já trilhado? Esses questionamentos serviram de norte aos próximos encaminhamentos do grupo. De posse do material já produzido junto à equipe da REDEF e desta no trabalho com as escolas, os membros da Comissão debruçaram-se mais uma vez a algumas das construções teóricas existentes sobre o currículo. Desta feita, encontrou-se em Pacheco (2005) desde a dicionarização do termo ligada ao sentido de curso de estudos, passando pela relação com a organização do ensino enquanto disciplina, até demonstrar a imprecisão que define o seu real sentido em virtude da prática a que o mesmo se destina. Em Silva (2004) encontrou-se novamente um histórico acerca do termo relacionando-o aos vários significados que este assume mediante as concepções intrínsecas às teorias por ele apresentadas como tradicionais, críticas e pós-críticas. Pereira (2004) relaciona o currículo à autopoiése com a ideia de compreender como os seres vivos conhecem o mundo. Coadunando com esse pensamento, Assmann (1996, p. 146) já expunha: O que parece mais recomendável, nos dias atuais, é assumir uma postura flexível. Reconhecer que nossas certezas não são provas de verdade. Substituir a pedagogia das certezas por uma pedagogia plástica e sinuosa que incentive certezas operacionais imprescindíveis, capacite para modelizações da realidade, mas preserve também incertezas sobre os rumos para que estes sejam descobertos e não estejam pré-definidos. Em vista dessas visões e tantos outros autores que se remetem ao tema, dentre eles: Libâneo (2001), Moreira e Candau (2007), Ferraço (2006), a Comissão assumiu um entendimento de currículo enquanto um instrumento que agrega saberes, fazeres, valores, práticas, ideias, sentimentos, concepções, vivências, e que propicia a constituição dialógica de todos os atores envolvidos no processo educativo enquanto um movimento de elaboração e reelaboração das relações ali concretizadas. Esse instrumento então explanado, no entanto, não pode ser visto como pronto e acabado. Requer constante atualização e mobilidade diante da realidade a que se destina. Essa defesa a que se atém a Comissão, no que corresponde à construção do currículo, converge com a colocação de Tescarolo (2007, p. 17) ao associá-lo a um guia, um mapa orientador flexível, continuamente revisitado e adaptado às novas e diversas Giovana Gomes Albino & Maria Betânia da Silva Dantas 7051 Orientações Curriculares: um diálogo que se constrói no cenário Norte Riograndense situações a que se volta. Segundo o autor, ao se tomar o sentido direcionador que abrange o currículo, é como se desejássemos ajudar uma pessoa a visitar algum lugar maravilhoso que conhecemos há muito tempo. Para orientá-la desenhamos um mapa. Porém, nosso mapa se baseia em informações ultrapassadas e desfocadas engavetadas em algum canto poeirento da memória. É pouco provável que esse mapa seja eficaz. O terreno mudou. As referências são outras. Muitas indicações não existem mais, enquanto outras surgiram alterando o panorama. Precisamos estudar novamente a área e promover um levantamento antes de criar um mapa útil, capaz de servir de orientação segura em um terreno que não apenas pode ter mudado sua aparência externa, mas sua própria natureza. O currículo escolar é um mapa ainda mais especial, pois, à parte essa função cartográfica básica, deve fornecer orientações sobre um território desconhecido na ocasião em que está sendo desenhado. Assim, a organização de todas essas produções e ideias encontram-se estruturadas como corpo do documento previsto. No atual momento, a Comissão desenvolve novos encontros de formação com o propósito de definir o conjunto de saberes curriculares a serem contemplados também na composição das Orientações Curriculares. Para isso, os professores e os alunos têm sido os atores principais. Acredita-se que o percurso traçado tem correspondido com as expectativas iniciais do grupo e aponta para perspectivas cada vez mais favoráveis a essa construção. O trabalho evidencia ainda muitas outras etapas para sua realização. Se o documento inicial requer contínuos olhares para que sua produção se efetive significativamente, muitos serão também os caminhos a serem trilhados para que sua chegada às escolas reflita a dinâmica e a dialogicidade que permearam sua construção. Espera-se que esse reflexo possibilite o redimensionamento ou a produção de propostas escolares ‘vivas’, em que a identidade e a autonomia da instituição estejam garantidas e sejam privilegiadas em todas as suas ações. REFERÊNCIAS: ASSMAN, Hugo. Metáforas novas para reencantar a educação: epistemologia e didática. Piracicaba: UNIMEP, 1996. Giovana Gomes Albino & Maria Betânia da Silva Dantas 7052 Orientações Curriculares: um diálogo que se constrói no cenário Norte Riograndense FERRAÇO, Carlos Eduardo. Possibilidades para entender o currículo escolar. Revista Pátio. Ano X, nº 37, fev/abr, 2006. GOMES, Nilma Lino. Diversidade e currículo. In: Indagações sobre currículo. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2008. KRUG, Andréa. Ciclos de formação: uma proposta transformadora. Porto Alegre: Mediação, 2001. LIBÂNEO, José Carlos. Gestão e organização da escola: teoria e prática. Goiânia: Alternativa, 2001. MOREIRA, Antonio Flávio Barbosa. CANDAU, Vera Maria. Currículo, conhecimento e cultura. In: Indagações sobre currículo. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2008. PACHECO, José Augusto. Escritos curriculares. São Paulo: Cortez, 2005 PEREIRA, Maria Zuleide da Costa. Currículo e autopoiése: a produção do conhecimento. In: GONSALVES, Elisa Pereira; CARVALHO, Maria Eulina Pessoa de. (Orgs.). Currículo e contemporaneidade: questões emergentes. Campinas, SP: Alínea, 2004. SCOCUGLIA, Afonso Celso. Paulo Freire: conhecimento, aprendizagem e currículo. In: PEREIRA, Maria Zuleide da Costa; GONSALVES, Elisa Pereira; CARVALHO, Maria Eulina Pessoa de. (Orgs.). Currículo e contemporaneidade: questões emergentes. Campinas, SP: Alínea, 2004. SEVERINO, Antônio Joaquim. O conhecimento pedagógico e a interdisciplinaridade: o saber como intencionalização da prática. In: FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. (Org). Didática e interdisciplinaridade. Campinas, SP: Papirus, 2008. SILVA, Tomaz Tadeu da. Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo. Belo Horizonte: Autêntica, 2004. SOARES, Magda. Letramento e escolarização. In: RIBEIRO, Vera Masagão. (Org.) Letramento no Brasil: Reflexões a partir do INAF 2001. São Paulo: Global, 2003. Giovana Gomes Albino & Maria Betânia da Silva Dantas 7053 Orientações Curriculares: um diálogo que se constrói no cenário Norte Riograndense TESCAROLO, Ricardo. Currículo escolar: limites e possibilidades. Trabalho apresentado no Congresso da Associação Católica de São Paulo, 2007. TINÉ, Sandra Zita Silva; BESSA, Dante. Currículo, escola e comunidades: relações e possibilidades, 2004. Disponível em <http:www.tvebrasil.com.br/salto/boletins2004> Acessado em 20 de agosto de 2007. TOLEDO, Maria Elena Roman de oliveira. Numeramento e escolarização; o papel da escola no enfrentamento das demandas matemáticas cotidianas. In: FONSECA, Maria da Conceição Ferreira Reis. Letramento no Brasil: Habilidades matemáticas. São Paulo: Global: Instituto Paulo Montenegro, 2004. Giovana Gomes Albino & Maria Betânia da Silva Dantas 7054 IV COLÓQUIO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS E PRÁTICAS CURRICULARES “DIFERENÇA NAS POLÍTICAS DE CURRÍCULO” ORGANIZAÇÃO CURRICULAR: AUTONOMIA E CIDADANIA DO ADOLESCENTE Luzia Helena Castro Squinca JOÃO PESSOA - PB - BRASIL 10 A 13 DE NOVEMBRO DE 2009 Protagonismo de Sujeitos e Grupos nas Políticas Currriculares ORGANIZAÇÃO CURRICULAR: AUTONOMIA E CIDADANIA DO ADOLESCENTE Luzia Helena Castro Squinca RESUMO: Para atender as exigências de um ensino de qualidade, em que o aluno é o protagonista do seu conhecimento, é necessário analisar a organização curricular no Ensino Médio, a partir do olhar dos alunos e não somente nos documentos legais. A amostra é composta 15 alunos que cursaram o 2º ano em 2008 no Centro de Referência de Arcoverde escola da rede pública estadual, que aponta para o protagonismo juvenil inserida no Programa da Secretaria de Educação e Cultura de Pernambuco – SEDUC. O protagonismo implica a transgressão nos discursos pelos direitos e cidadania e não a conformação com o estabelecido. Uma organização curricular que aponta para o protagonismo juvenil se sustenta numa gestão democrática com a participação dos diversos setores da comunidade escolar, uma concepção de ensino-aprendizagem que supere a transmissão do conhecimento. Situação-problema não pode ser resumida a uma relação do cotidiano com o conteúdo que está sendo estudado. Contexto escolar enseja um espaço de convivência e aprendizado das relações interpessoais. Superar estereótipos que muitas vezes apontam que os alunos não estão preocupados com o estudo. É necessário que os diversos setores da escola conheçam sobre as fases do desenvolvimento do ser humano e mais específico sobre a adolescência, período este que caracteriza os alunos participantes da pesquisa. PALAVRAS-CHAVE: Protagonismo Juvenil, Adolescência e Educação. INTRODUÇÃO A promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei nº 9.394) de 1996 1 e os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio – PCNEN (BRASIL, 1999) trazem o desafio de transformar o modelo de Ensino Médio em nosso país. 1 As citações das Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) encontradas neste texto foram extraídas dos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1999). Luzia Helena Castro Squinca 7058 Protagonismo de Sujeitos e Grupos nas Políticas Currriculares O ensino médio passou a ter novas exigências com o objetivo de formar os cidadãos, tais como, o desenvolvimento da capacidade de pesquisar, buscar informações, capacidade de aprender, criar, formular e analisar, com ênfase no protagonismo juvenil em vez do simples exercício de memorização, como também não ser um expectador ou receptor dos conteúdos pedagógicos. Para atender as exigências de um ensino de qualidade, em que o aluno é o protagonista do seu conhecimento, é necessário analisar a organização curricular no Ensino Médio, a partir do olhar dos alunos e não somente nos documentos legais. O Centro de Referência de Arcoverde, escola da rede pública estadual, aponta para o protagonismo juvenil uma vez que está inserida no Programa da Secretaria de Educação e Cultura de Pernambuco – SEDUC. O estudo teve como objetivo verificar o que está implícito na organização curricular que contribua para a formação mais crítica e autônoma do aluno buscando identificar a relevância da situação-problema e como conceitua protagonismo juvenil. Desde 2004 encontra-se no contexto escolar do Estado de Pernambuco, anteriormente denominados Centros Experimentais e atualmente Centro de Referência uma organização curricular que aponta para o protagonismo do aluno, que difere de uma concepção com ênfase na quantidade de informação que o aluno deverá adquirir. É um programa da SEDUC e pela implantação dos diversos centros se justifica identificar possíveis contribuições advindas desta realidade educacional (Centro de Arcoverde) que possam estimular e apontar para outras instituições de ensino a formação de alunos críticos e reflexivos protagonista de seus conhecimentos, uma vez que atualmente, o Programa conta com 16 escolas localizadas no Recife e Região Metropolitana e 33 distribuídas pelo interior do Estado, sendo 33 unidades em horário integral e 16 semiintegrais. A implantação desse programa tem sua proposta pedagógica fundamentada nas bases legais que são: LDB, Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio (DCNEM)2, 2 As citações das Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio (DCNEM) encontradas neste texto foram extraídas dos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1999). Luzia Helena Castro Squinca 7059 Protagonismo de Sujeitos e Grupos nas Políticas Currriculares PCNEM e ensejam práticas pedagógicas capazes de permitir aos jovens desenvolverem e vivenciarem a cidadania que segundo Esteves (2005) apud Costa (2000) entende-se que o aluno age de forma protagônica quando é capaz de atuar efetivamente na sua esfera familiar, social e escolar, seja essa ação individual ou em grupo”. Mas no contexto do Centro de Referência o questionamento central foi: Como o aluno vivencia a organização curricular que aponta para o protagonismo juvenil na sua formação? Para tanto implica refletir a organização curricular como estratégia e meio que possa proporcionar aos alunos o seu desenvolvimento biopsicosocial diferente de uma formação contemplando somente o cognitivo (MACEDO, 2002; POZO, 1998). A organização curricular vivencia as disciplinas do núcleo comum do Ensino Médio com aulas nos diversos laboratórios, oficinas interdisciplinares, música e seminários. O espaço físico acomoda os alunos em período integral possibilitando uma integração maior entre os diversos funcionários com seus respectivos setores. Para compreender melhor como a organização curricular aponta para uma formação autônoma e cidadã, aqui denominada como protagonista, dentre as escolas do programa, foi escolhida o Centro de Referência de Arcoverde para objeto de estudo. O mesmo se fundamenta na proposta da SEDUC-PE aliada à vivência do aluno durante dois anos neste programa o que possibilitou uma melhor investigação do olhar que o aluno tem da organização curricular que se pretende ao protagonismo do aluno. O Centro de Arcoverde tem sede própria desde a sua implantação o que implica uma variável importante neste processo uma vez que este programa se viabiliza além das condições pedagógicas adequadas, isto é, também requer uma infra-estrutura que atenda as necessidades do programa possibilitando melhor condição no processo ensino-aprendizagem. METODOLOGIA A amostra é composta 15 alunos que cursaram o 2º ano em 2008 sendo 2 alunos de cada sala contemplando as 8 salas (uma sala participou somente 1 aluno). Não houve nenhum critério na seleção dos alunos ficando a escolha aleatória contando com a Luzia Helena Castro Squinca 7060 Protagonismo de Sujeitos e Grupos nas Políticas Currriculares disponibilidade e consentimento de participar na pesquisa. Os alunos do 1º ano não participaram porque estavam iniciando no programa em 2008 e assim com pouca vivência no contexto escolar, como também a amostra não contempla alunos do 3º ano porque no referido ano ainda não era oferecido. Os dados da pesquisa foram quantificados ao interpretar as respostas dos alunos o que possibilitou a categorização dos mesmos. Em seguida foi realizada a análise qualitativa. Os dados foram organizados e analisados a partir de questionários, documentos e observação do espaço escolar. As respostas dos alunos com relação ao questionário foram categorizadas e a análise e discussões contemplaram dados também da observação, assim como o que consta no programa da SEDUC. Aprovado no Comitê de Ética/ Parecer 27/20083. RESULTADOS E DISCUSSÃO O protagonismo juvenil que permeia vários segmentos da sociedade e na educação que tem integrado vários programas não ocorre ao acaso, mas em um contexto de grandes e vertiginosas mudanças na sociedade em que a transmissão de conhecimento deve ceder lugar para concepções em que impera o envolvimento do aluno em todo processo de construção do seu saber, isto é, como ator principal e os educadores como parceiros nesta relação. Embora o termo esteja sendo empregado com mais freqüência, historicamente segundo Ferretti (2004, p.1) “data da década de 20 e 30 do século passado quando o pensamento de Dewey foi adotado por diversos teóricos da educação”. Porém, a discussão presente se reporta aos documentos oficiais da década de 90, mais precisamente as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – DCNEM que difunde o protagonismo juvenil no Ensino Médio. Como o aluno vivencia a organização curricular que aponta para o protagonismo juvenil na sua formação? 3 Parecer Nº. 27/2008/CEP/AEB. Pesquisadora Responsável: Luzia Squinca Equipe executora: discentes de Iniciação Científica da FABEJA Tipo de Pesquisa: estudo descritivo, com abordagem qualitativa e estudo de caso. Registro do CEP: 18_2008 Processo Nº. 18_2008. Luzia Helena Castro Squinca 7061 Protagonismo de Sujeitos e Grupos nas Políticas Currriculares Ao falar de protagonismo na educação (COSTA, 2001, p.30) discute esta temática estabelecendo a relação protagonismo com enfrentamento de situações reais em que o adolescente é o empreendedor e construtor do seu SER no âmbito afetivo, social e cognitivo, porém isto aproxima do termo resiliência, que é a capacidade de suportar as pressões, e não estamos defendendo uma formação para criar forças para suportar, mas transgredir o que é imposto. No contexto da educação não cabe o discurso da submissão porque não coaduna com uma proposta em que o aluno é protagonista, mas é preciso discernimento e olhar crítico para não implementar uma política de resistência contra as forças opressoras o que o faz mante-lo ativo sobre o que lhe oprime em detrimento de uma educação que liberta e modifica o ambiente que engessa o protagonismo juvenil o que numa literatura freireana uma educação que aponta para destravar as línguas e descruzar os braços, neste caso dos alunos (FREIRE, 1994). Esta idéia encontra forças quando: o protagonismo não é tanto um discurso sobre a juventude (o que supõe a distinção entre sujeito e objeto), mas como um discurso da juventude, porém pode ser um discurso da juventude sem voz, dada a ausência da palavra que possibilitaria a contraposição ao poder (SOUZA, 2006, p. 225). Ainda baseada na mesma autora o protagonismo implica a transgressão nos discursos pelos direitos e cidadania e não a conformação com o estabelecido. Assim, nesta organização curricular o educador se insere como orientador e os conteúdos disciplinares como fontes de informações e não verdades prontas transmitidas e o aluno o centro do processo educativo considerando-o como fonte criativa e construtiva. Ao se investigar sobre o protagonismo na escola o Aluno A8 aponta que “neste programa o aluno tem oportunidade de interagir, de mostrar suas habilidades e de formar seu próprio conhecimento” e corroborado indica o Aluno A6, “... é como se os professores ensinassem algo, deixando espaços para que nós procurássemos as Luzia Helena Castro Squinca 7062 Protagonismo de Sujeitos e Grupos nas Políticas Currriculares respostas...”4. É preciso sempre revisitar o “ensinar algo” não induzindo para caminhos epistemológicos e ideológicos que muitas vezes gestores e docentes elegem como os melhores, mas para aprendizados (social, cognitivo e afetivo) construídos na vivência da escola que não defendam interesses individuais, mas coletivos; que não sejam imediatistas mantendo a ordem estabelecida, mas transgrida o firmado provocando rupturas, reconstruindo, construindo no cotidiano a desordem sempre uma nova ordem (AQUINO,1996). As informações trabalhadas na relação professor aluno deve ensejar Coll (2000, p.17) “... o diálogo, a confrontação de pontos de vista, a coordenação entre a informação e os modos de processá-la, a articulação entre o particular, atual e afirmativo com o geral, atemporal e relacional”. O protagonismo juvenil numa organização curricular com essas articulações entre a informação e a construção do conhecimento pelo aluno é o contexto defendido neste estudo. Os dados levantados com relação ao que propõe o protagonismo juvenil segundo os alunos (amostra de 15 alunos) conviver predomina com 46%. A fala do Aluno A15 “O protagonismo juvenil ao meu ponto de vista nos passa valores como: solidariedade, respeito, ética e responsabilidade. Isto nos ajuda a ser mais humanos, melhor para a sociedade..... eu tenho como base para minha formação – você é o protagonista da sua própria história”. É neste contexto que se precisa refletir a não imposição de valores, pois assim seria o espaço da escola como formação de alunos autômatos e não autônomos. O “melhor para a sociedade” (Aluno A15) não deve ser de conformação ou adaptação, mas a busca pelos direitos como cidadão e é sobre esta ótica que a organização curricular deve apontar e numa cultura democrática está implícita a participação de seus integrantes e para tanto é necessário que a escola tenha, na organização do seu currículo, uma educação em que o diálogo esteja presente, que as falas dos seus participantes 4 Os textos em itálico descrevem as respostas dos alunos (grifo nosso). Luzia Helena Castro Squinca 7063 Protagonismo de Sujeitos e Grupos nas Políticas Currriculares tenham vez quando discordarem, confrontarem e propuser situações no contexto escolar, distanciando da escola que tem na figura do gestor e do professor o detentor do saber e das decisões a serem tomadas. Só a partir do compromisso do alunado com o que deve ser sua própria educação, contando com suas experiências e seus interesses, pode desencadear-se um autêntico processo de reflexão que ponha em relação as tradições públicas de conhecimento, o mundo social e natural e a construção de um sentido pessoal para suas vidas (CONTRERAS, 2000, p. 94). Não é mais possível responder às questões sociais com uma prática pedagógica que reproduza o que está na sociedade, assim também como a escola não é o espaço para socializar o que está posto na sociedade, mas uma organização curricular em que a escola como aponta Stenhouse (apud Contreras, 2000, pág. 91) “[...] deve pôr à disposição do alunado o capital cultural da sociedade, mas para que sirva como recurso, não como um determinante; e como tal recurso, deve proporcionar estruturas para o juízo e para o pensamento criativo”. Para tanto é necessário haver um discernimento para não incorrer em práticas pedagógicas que busquem como fim a sociedade, mas sim que proporcionem ao educando a reflexão e a crítica da sociedade em que está inserido. As práticas pedagógicas como espaços protagônicos segundo os dados 20% dos entrevistados indicam as oficinas, debates e pesquisa como espaços protagônicos. O Aluno A8 aponta que “nas sextas feiras vivenciamos as oficinas interdisciplinares sobre temas diversos como dança, reciclagem, teatro, etc. Nessas oficinas os alunos têm oportunidades de interagir, de mostrar suas habilidades, de formar seu próprio conhecimento [...] vivenciamos seminários, onde uma turma apresenta um assunto a outra, assim há sempre uma troca de conhecimento [...]”. É possível identificar que os alunos interagem e tem ações participativas no contexto escolar. Mas ao buscar uma sociedade mais igualitária, o Ser Humano autônomo, participativo, solidário, crítico e uma escola que proponha uma formação do aluno como protagonista da sua história implica conhecer quem é o adolescente. Luzia Helena Castro Squinca 7064 Protagonismo de Sujeitos e Grupos nas Políticas Currriculares Ser adolescente nos dias de hoje não é nada fácil. Ao viver sua crise existencial maior, o ter que elaborar a perda da infância a fim de ingressar no mundo adulto, onde se ama, se trabalha, se envelhece e se morre, ele o faz em uma sociedade, ou melhor, em um mundo que também elabora perdas e teme ingressar em novos tempos, ou seja, que também atravessa uma crise (OLIVEIRA,1998, p. 7) Ele está buscando formas alternativas de aliviar as tensões. Briga , contesta, desafia. Vicia-se, afronta, apronta. Se une aos iguais para ficar mais forte. Entre eles, sente-se compreendido. É a tal história de que adolescente gosta de andar em bando (OLIVEIRA, 1998, p. 216) Estas características são importantes ser compreendidas pelos educadores e todo contexto escolar porque ao proporcionar uma formação em que os alunos são protagônicos e que estão inseridos no contexto escolar no ensino regular, isto é, está cursando a série respectiva a sua idade cronológica, conhecer sobre o público a que se quer atender é uma condição sine qua non e para tanto (OLIVEIRA, 1998) referenda características importantes que é preciso se dar a conhecer no contexto escolar denominada Síndrome da Adolescência Normal. O que caracteriza a Síndrome é: Busca de si e da identidade, a tendência grupal, necessidade de intelectualizar e fantasiar, crises religiosas, desestruturação temporal, a evolução sexual desde o auto-erotismo até a heterossexualidade, atitude social na adolescência, contradição na conduta adolescente, busca da autonomia e humor e ânimo na adolescente. Estas características apontam um adolescente que está vivenciando identidades transitórias enquanto busca superar o luto da infância quanto a aquisição do Eu adulto, assim como o fantasiar como aponta Oliveira (1998, p. 217) “está reparando a angústia das perdas que vivem. Não é ao mundo que ele quer reconstruir ou salvar, mas a si que deseja construir e estabilizar” e para tanto a vivência em grupo é importante para suas identificações com seus pares. Assim pode-se inferir a importância do relacionamento nesta fase do desenvolvimento como destacam os alunos A1, A3, A7, A8 e A9. Para esses alunos o relacionamento dos professores, administrativos e alunos é um contexto que difere da escola que estudavam anteriormente. Este dado aponta a importância do relacionamento na vida do adolescente, assim como o adulto no seu convívio. Embora a adolescência é caracterizada pela formação de grupos com a mesma idade porque vivenciam Luzia Helena Castro Squinca 7065 Protagonismo de Sujeitos e Grupos nas Políticas Currriculares características semelhantes, a participação do adulto mostra-se um dado relevante na diferença entre a escola anterior e a atual. Para o adolescente o presente está implícito o passado e o futuro, tentando preservar as conquistas passadas e apaziguar as angústias vinculadas ao futuro, o que conduz a momentos de solidão, tão características e angustiantes neste período, como também alternará momentos de recolhimento quase que autistas com fantasias mágicas de alegria e realização manifestada através do seu humor, porém importantes na superação dos lutos pela infância e a elaboração do futuro. Ao reconhecer um passado e formular um projeto para o futuro, postergado a insatisfação no presente, estará superando a fase da adolescência. Isto implica dizer que o adolescente está preocupado com o futuro o que pode ser interpretado através da preocupação do que moveu o aluno a estudar no Centro de Referência, isto é, a qualidade do ensino como indica a resposta dos alunos A3, A4, A5, A6, A8, A9 A10 e A12 como um indicativo de visão do futuro. Estes dados sobre a qualidade de ensino, apontam com 33% como fator motivador para escolher a escola. As informações de como é a escola foram obtidas informalmente na comunidade em função de outros Centros de Referência em outras cidades do estado. Isto mostra que embora o adolescente aparentemente não verbalize uma preocupação com o futuro, mas internamente é algo que faz parte do seu presente. Isto mostra que a escola é um dos espaços importantes na construção do seu mundo que ele quer viabilizar na sua vida adulta. Para viabilizar a escola no projeto de vida do aluno é importante a figura do professor e segundo os alunos a qualificação, um ensino diferenciado e o ensino em período integral aparecem cada um com 26,7%, 13,3% e 26,7% respectivamente. Estes dados nos sugerem que os alunos buscam na escola o conhecimento acadêmico como parte integrante da escola. Luzia Helena Castro Squinca 7066 Protagonismo de Sujeitos e Grupos nas Políticas Currriculares Ainda sobre esta fase do desenvolvimento, posturas revolucionárias, atitudes negativistas e de oposição estão presentes no comportamento social do adolescente como reação aos acontecimentos e cobranças no cotidiano. Estas características presentes na adolescência precisam ser conhecidas pelos adultos e neste caso os que compõem a escola, porque como também ressalta a teoria Walloniana que discute o desenvolvimento do ser humano (MAHOHEY, 2002, p.85): a principal tarefa do adolescente é escolher, definir e assumir valores morais que são colocados a ele por seu meio social. Para realizar tal tarefa, ele precisa resolver as ambivalências de sentimentos e atitudes que permeiam todo o estágio, ampliar a consciência que tem de si mesmo, superar a causalidade mecânica de seu pensamento e buscar uma autonomia cada vez maior, tanto do adulto como do seu grupo de pares. Além disso, o resultado revela também a grande responsabilidade que a teoria walloniana reserva ao papel do adulto na orientação das atividades que possibilitam ao adolescente construir sua personalidade mora. Ao reportar ao âmbito escolar é relevante que o gestor, professores e administrativo reconheçam esta fase como mais uma no desenvolvimento do Ser Humano com suas peculiaridades superando estereotipo do adolescente aborrecente, pelo adulto desconhecer as características dificultando o seu relacionamento. Neste contexto a escola ocupa um lugar importante na formação do aluno para que o mesmo possa neste ambiente ser protagonista do seu conhecimento e intervir na sociedade. Este ambiente ocupa um espaço físico que para o aluno é uma característica apontada como sugere a resposta sobre a diferença da escola com a escola atual em que aparece com 33% sobre a estrutura física. Como aponta Menezes (2007, p.85): A adolescência é, com certeza, uma das etapas da vida dos alunos em que a necessidade de educação, entendida como serviço ao desenvolvimento global da pessoa, mais se faz sentir. A escola hoje um lugar privilegiado de vivência da adolescência. É o espaço físico, social, humano e, porque não dizer, também ideológico – visto ser a escola o lugar das idéias por excelência, o lugar da sua transmissão, do seu debate, da sua assimilação ou rejeição – em que a adolescência acontece, durante muitas horas de quase todos os dias, em inúmeros casos até aos 17 e 18 anos. Mas, para esta formação global do adolescente a escola deve pautar por uma concepção de gestão democrática, que envolva todos os segmentos da escola, isto é, alunos, pais, professores, direção e administrativo e que o processo ensino-aprendizagem apontem Luzia Helena Castro Squinca 7067 Protagonismo de Sujeitos e Grupos nas Políticas Currriculares práticas pedagógicas com tendências construtivistas como sugere (COLL, 2001, p.22) “uma aprendizagem contribui para o desenvolvimento na medida em que aprender não é copiar ou reproduzir a realidade”. Uma aprendizagem que implica o professor como mediador, com um compromisso de natureza ética entre o educador e o adolescente. Isto implica o adolescente não somente como participativo, mas envolvido na construção e resolução de problemas reais na escola e sociedade. Para o sujeito que aprende, segundo Meirieu (1998, p. 168) “seu interesse é mobilizado por um enigma [...]”. Este enigma poderá instigar uma prática que proporcionará desafios aos alunos, ao buscar respostas para a resolução do problema. Os alunos não serão espectadores da situação proposta, mas participarão da elaboração na busca dos resultados (SQUINCA, 2006). Apontam os alunos A5, A6, A7, A10, A11, A12, A13 e A15 situação do cotidiano como situação problema para ser resolvidos enquanto discutem os conteúdos disciplinares, mas não é qualquer situação proposta que desencadeará um conflito cognitivo ou desequilibração cognitiva numa linguagem piagetiana, mas para o sujeito que aprende, aponta Meirieu (1998, p.168), “[...] é explicitamente colocado em situação de construção [...]” e para tanto a situação-problema deve colocar o aluno diante de uma série de decisões a serem tomadas para chegar ao objetivo proposto por ele ou pelo professor. Estas situações devem ser interessantes e estar ao nível do aluno e devem estar estruturadas de maneira que os alunos efetuem as operações mentais requisitadas, porém, respeitando o nível cognitivo de cada aluno. Diante do exposto, e agora de uma forma mais clara, podemos explicitar a complexidade que envolve a situação-problema. Uma situação-problema deverá, portanto, esforçar-se para instalar dispositivos em que se articulem explicitamente problemas e respostas, em que as respostas possam ser construídas pelos sujeitos e integradas na dinâmica de uma aprendizagem finalizada (MEIRIEU,1998, p.170). O que podemos observar é que para a organização da situação-problema está implícito que a concepção de ensino do professor de transmitir o conhecimento muito comum na Luzia Helena Castro Squinca 7068 Protagonismo de Sujeitos e Grupos nas Políticas Currriculares abordagem comportamentalista não respalda teoricamente esta prática pedagógica. Ele tem a função de mediador, colaborador e organizador do obstáculo a vencer. Para tanto, é necessário que o professor proporcione ao aluno uma situação-problema acessível e ao mesmo tempo difícil, que ele possa ir resolvendo aos poucos sem explorá-la de uma só vez, nem dispor da solução antecipadamente (MEIRIEU, 1998). Portanto, é necessário nesse processo, que o professor desenvolva e administre a progressão das aprendizagens (PERRENOUD, 2000). Uma situação-problema quando bem elaborada pelo professor, levando em consideração o nível cognitivo do aluno para resolução poderá despertar nele o desejo pela resolução da situação (MEIRIEU, 1998). Diante do exposto, julgamos importante o professor recorrer a fundamentações teóricas para entender as situações ajustadas ao nível do aluno porque a função do educador neste contexto é organizar o obstáculo que deve ser vencido pelo aluno como aponta Meirieu (1998, p. 174) “em uma situação-problema, o objetivo principal pedagógico está, portanto no obstáculo a vencer e não na tarefa a realizar”. Com isto a prática pedagógica do professor não contempla listas de exercícios para decorar, tampouco o aluno se defrontará com questionários a serem respondidos cujas respostas estão explícitas no conteúdo que está sendo trabalhado, como podemos verificar: O trabalho por situação-problema não pode utilizar os atuais meios de ensino, concebidos em uma outra perspectiva. Não há necessidade de cadernos de exercícios ou de fichas a perder de vista, mas sim de situações interessantes e pertinentes, que levam em conta a idade e o nível dos alunos, o tempo disponível, as competências a serem desenvolvidas (PERRENOUD, 1999, p.61). Os alunos não abordarão as situações com os mesmos recursos (PERRENOUD, 2000) e o professor ao propor a situação-problema não pode esperar do aluno que encontre todos os mesmos obstáculos uma vez que cada um tem um nível de desenvolvimento mental e de conhecimento sobre o que esta sendo proposto. Assim os conflitos cognitivos serão diferentes para cada aluno o que torna importante Luzia Helena Castro Squinca 7069 Protagonismo de Sujeitos e Grupos nas Políticas Currriculares este conhecimento na formação do educador o que aponta Perrenoud (2002, p.123) “Uma boa situação-problema mobiliza os recursos a que o aluno pode recorrer naquele momento ou circunstância”. Este envolvimento do aluno na situação vem possibilitar que ele seja o protagonista de sua aprendizagem e o professor um colaborador do processo da construção das competências ao propor situações-problema que instigam a participação do aluno tornando o ato de aprender prazeroso. Identificamos que um obstáculo para Meirieu (1998, p. 176) “é transposto se os materiais fornecidos e as instruções dadas suscitarem a operação mental necessária” e que se os alunos não tiverem as condições para transpor os obstáculos poderá não haver a aprendizagem, perdendo assim o objetivo da situação-problema. Mas o espaço da formação do aluno não se limita ao intelectual, mas uma construção progressiva através dos conhecimentos construídos ao longo da sua convivência no contexto escolar que pode ser construído com a dança, música, pintura, literatura no contexto da sala de aula resolvendo situações – problema, analisando estudo de caso e os dilemas da sociedade é o que aponta as respostas dos alunos A3, A4, A5 e A8. com as oficinas, debates e pesquisas e o Aluno A3 anuncia: “na sexta feira tem oficina pedagógica. São com diversos temas: música, dança, conservação do patrimônio, jornal [...]. Temos debates que nos deixam mais informados. Temos seminários [...]”. É nesta perspectiva que a escola cumpre também o seu papel de socialização e interação, que numa linguagem vygostskyana (REGO, 1997) não nascemos humanos, mas nos tornamos humano a medida que interagimos com o outro o que ratifica os alunos A6, A7, A11, A12 e A14 quando destaca a importância de “conviver” que é uma característica muito importante no contexto da escola.como indica A12 “Em todo início de ano, ao entrar novos alunos , a escola dispõe de alunos antigos que recepcionam os novatos, fazem dinâmicas e sempre em cada sala, os alunos que tem um conhecimento melhor na disciplinas ajudam aos outros colegas”. Isto sinaliza para um contexto acadêmico que o conhecimento não é objeto de premiação que é uma característica da concepção behaviorista que fundamenta o Luzia Helena Castro Squinca 7070 Protagonismo de Sujeitos e Grupos nas Políticas Currriculares processo ensino-aprendizagem no reforço destacando os melhores alunos desencadeando assim um contexto de competição em detrimento da socialização dos conhecimentos na contra mão do trabalho integrado e de equipe próprio de um espaço que discute e vivencie a democracia. Para tanto sugerimos um projeto pedagógico, que implique o desenvolvimento emocional, físico e social e a escola, como aparelho público voltado para a educação e socialização do Ser Humano sugere a elaboração de projetos pedagógicos centrados no acompanhamento e peculiaridade do adolescente, construir espaços que promovam a prática política, da explicitação das dúvidas e negociação de interesses e desejos, que o processo ensino-aprendizagem contemple situação-problema e a contextualização e que os mesmos sejam resolvidos através de um olhar interdisciplinar das ciências superando a visão linear cartesiana característica do ensino tradicional em que prevalecem as ciências de forma fragmentada. Quando se discute a educação na contemporaneidade, a interdisciplinaridade ocupa uma função importante neste contexto, por que segundo Fazenda (2002, p.52) “[...] a interdisciplinaridade é uma forma de compreender e modificar o mundo, pelo fato da realidade do mundo ser múltipla e não una, [...]”. Esta visão direciona ensino no sentido de superar a prática fragmentada dos conteúdos possibilitando que o aluno tenha um olhar mais holístico sobre os fatos e as questões que estão postas na sociedade em que está inserido. Sai da dimensão que um acontecimento pode ser explicado por um único olhar ou ciência (SQUINCA, 2006). CONCLUSÃO Após análise dos dados é necessário considerar que uma organização curricular que aponta para o protagonismo juvenil se sustenta numa gestão democrática com a participação dos diversos setores da comunidade escolar, uma concepção de ensinoaprendizagem que supere a transmissão do conhecimento para uma prática pedagógica interativa e participativa, o que implica a resolução de problemas, e que a busca da solução envolva os diversos olhares das disciplinas. Luzia Helena Castro Squinca 7071 Protagonismo de Sujeitos e Grupos nas Políticas Currriculares A situação-problema não pode ser resumida a uma relação do cotidiano com o conteúdo que está sendo estudado, mas questionamento que desperte a curiosidade epistemológica do aluno. O contexto escolar enseja um espaço de convivência e aprendizado das relações interpessoais uma vez que na adolescência atitudes como negativismo, posturas revolucionárias e de oposição são presentes. Para tanto é necessário que os diversos setores da escola conheçam sobre as fases do desenvolvimento do ser humano e mais específico sobre a adolescência, período este que caracteriza os alunos participantes da pesquisa. Superar estereótipos que muitas vezes apontam que os alunos não estão preocupados com o estudo. Quando destacam a qualidade do ensino da escola e o que fizeram trocar de escola são dados que mostram uma preocupação com o futuro, embora a literatura sobre o desenvolvimento do ser humano aponte que é uma característica do adolescente ser imediatista. Todo este contexto deve se concretizar em um espaço físico que possibilite a vivência de diversas atividades que compõe a organização curricular como, a sala de aula, oficinas, seminários, laboratórios, espaço para esporte, salas de estudo, local para alimentação e convivência, assim como local extra sala ou ambiente fora da escola para socialização e integração do conhecimento construído. Portanto, a escola com os profissionais que a compõe e a organização curricular numa concepção democrática de gestão é um espaço por excelência para a construção do aluno protagônico. REFERÊNCIAS Aquino, J. G. Indisciplina na Escola. Alternativas teóricas e Práticas. São Paulo: Summus, 1996. BRASIL. Ministério da Educação e Cultura – MEC. Parâmetros curriculares nacionais: ensino médio. Brasília, DF, Secretaria de Educação Média e Tecnológica: 1999. COLL,C. Psicologia e Currículo. Uma aproximação psicológica à elaboração do currículo escolar. São Paulo: Ed. Ática, 2000, 5ª Ed. Luzia Helena Castro Squinca 7072 Protagonismo de Sujeitos e Grupos nas Políticas Currriculares COLL, C., SOLÉ, I. Os professores e a concepção construtivista. In. O construtivismo na sala de aula. São Paulo: Ática, 2001. COSTA, A. C. Protagonismo Juvenil; adolescência, educação e participação democrática. Salvador: Fundação Odebrecht, 2000. CONTRERAS, J. Currículo Democrático e Autonomia do Magistério. In: SILVA, L. H. Século XXI. Qual conhecimento? Qual Currículo? Petrópolis: Vozes, 2000. FAZENDA, I. C. A. Integração e interdisciplinaridade no Ensino Brasileiro. Efetividade ou ideologia. São Paulo: Ed. Loyola, 2002, 5ª Ed. FAZENDA, I.C.A. Interdisciplinaridade. Um projeto em parceria. São Paulo: Ed. Loyola, 1993. FERRETTI, C.J. ZIBAS, D.M.L.; TARTUCE, G.L.B.P. Protagonismo na literatura especializada e na reforma do Ensino Médio. Fundação Carlos Chagas. Cadernos de Pesquisa, v. 34, n.122, p.411-423, maio/agosto, 2004. FREIRE. P. Educação e Política. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1994. MACEDO, L. de. Situação-problema: forma e recurso de avaliação, desenvolvimento de competências e aprendizagem escolar. In: PERRENOUD, P. et al. As competências para ensinar no século XXI: a formação dos professores e o desafio da avaliação. Porto Alegre: Artmed, 2002. MAHOHEY, A. A. Henry Wallon. Psicologia da Educação Ed. Loyola, São Paulo,2002. MEIRIEU, P. Aprender sim..., mas como? Porto Alegre: ArtMed, 1998. MENEZES, I.,SOBRAL,C. F., GUIMARÃES, M.. Adolescência na escola: o desafio do desenvolvimento integral. Um estudo sobre as opções pedagógicas e organizacionais de uma Escola Kentenichiana, 2007, p.82 a 109. Disponível em http://www.eses.pt/interaccoes. Acessado em 21 de março de 2009. OLIVEIRA, V. B.; BOSSA, N. A.. Avaliação Psicopedagógica do Adolescente. Petrópolis: Vozes, 1998. PERNAMBUCO (Estado), Secretaria de Educação e Cultura. Centro de Ensino Experimental Ginásio Pernambucano. Instituto de Co-responsabilidade com a educação. Relatório Anual. Recife, 2004. PERNAMBUCO (Estado), Secretaria de Educação e Cultura. Projeto Novo Ginásio Pernambucano. Recife, 2001/2003. Luzia Helena Castro Squinca 7073 Protagonismo de Sujeitos e Grupos nas Políticas Currriculares PERRENOUD, P. Construir as Competências desde a Escola. Porto Alegre: Artmed, 1999. PERRENOUD, P. Dez Novas Competências para Ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2000. PERRENUOD, P. A formação dos professores no século XXI. In: PERRENEUD, Philippe. et al. As competências para ensinar no século XXI: a formação dos professores e o desafio da avaliação. Porto Alegre: Editora Artmed, 2002. POZO, J. I. (Org.) A solução de problemas: aprender a resolver, resolver para aprender. Porto Alegre: Artmed,1998. REGO, T.R. Vygostky: Uma perspectiva Histórico-Cultural da Educação. Vozes: Petrópolis, 1997. SOUZA, R.M. O Discurso do Protagonismo Juvenil. [Tese] Departamento de Sociologia. Universidade de São Paulo, 2006. SQUINCA, L.H.C. Currículo Por Competências: Da Teoria à Realidade no Ensino Médio do Centro de Ensino Experimental Ginásio Pernambucano. [Dissertação]. Universidade Federal Rural de Pernambuco Departamento de Educação, 138 p., 2006. Luzia Helena Castro Squinca 7074 IV COLÓQUIO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS E PRÁTICAS CURRICULARES “DIFERENÇA NAS POLÍTICAS DE CURRÍCULO” INVESTIGAÇÃO DA PEDAGOGIA NAS POLÍTICAS E PRÁTICAS CURRICULARES: CIÊNCIA, EPISTEMOLOGIA/ECOLOGIA DE SABERES COMO FORMAÇÕES DISCURSIVAS Márcia Maria de Oliveira Melo JOÃO PESSOA - PB - BRASIL 10 A 13 DE NOVEMBRO DE 2009 Investigação da Pedagogia nas Políticas e Práticas Curriculares: ciência, epistemologia/ecologia de saberes como formações discursivas INVESTIGAÇÃO DA PEDAGOGIA NAS POLÍTICAS E PRÁTICAS CURRICULARES: CIÊNCIA, EPISTEMOLOGIA/ ECOLOGIA DE SABERES COMO FORMAÇÕES DISCURSIVAS Márcia Maria de Oliveira Melo RESUMO: Este estudo apresenta pressupostos e indicativos teórico-metodológicos de uma pesquisa que foi desenvolvida durante o estágio de Pós-Doutoramento na Universidade do Minho-PT, com financiamento da CAPES/MEC - Brasil, intitulada “A pedagogia e a sua constituição no currículo dos cursos de Formação do Profissional da Educação/ Professores: políticas e práticas curriculares em confronto, sob a interlocução do Professor José Augusto Pacheco desta Universidade – do Centro de Investigação “Teoria e Desenvolvimento Curricular”. Elege a pedagogia como objeto deste estudo, a ser compreendida nas suas dimensões epistemológica, ontológica e ético-política, a levar em consideração os contextos de mudança da sociedade, o debate teóricopedagógico, a relação entre as políticas e práticas curriculares institucionais. Requereu analisar contextos e textos, com base no Ciclo Contínuo de Política de Ball (2001; 2006), a envolver as instituições universitárias públicas investigadas (UFPE – Brasil; Universidades do Minho, Lisboa e Porto - Portugal). A parte da pesquisa aqui abordada mostra a possibilidade de tratar de modo teórico-metodológico o objeto deste estudo à luz de Ball (2001; 2006), Bernstein (1976a; 1976b), Fairclough (2001; 2005) e Santos (2007; 2004), estando em fase da análise discursiva. PALAVRAS-CHAVE: Pedagogia, Epistemologia, Ciência, discurso e ecologia de saberes. INTRODUÇÃO Estuda-se a pedagogia no contexto sociocultural em mudança, no debate teórico pedagógico, em particular, no contexto das políticas educativas e curriculares do Brasil e de Portugal, na relação com as práticas curriculares dos Cursos de Formação do profissional da educação/professores, realizadas nas instituições universitárias públicas (UFPE – Brasil; Universidades do Minho, Lisboa e Porto - Portugal), a particularizar sua relação entre as “Ciências da Educação” em formatos diferenciados de currículo e com Márcia Maria de Oliveira Melo 7319 Investigação da Pedagogia nas Políticas e Práticas Curriculares: ciência, epistemologia/ecologia de saberes como formações discursivas outros saberes e experiências, sob as influências dos discursos oficiais das políticas educativas e curriculares vigentes e não-oficiais e de setores educativos da sociedade civil organizada. Nesse sentido, entende-se a pedagogia sob as influências desses diversos contextos e textos educativos e curriculares oficiais e não-oficiais, segundo o Ciclo de Política de Ball (1992), que está a envolver os contextos de influência, os contextos de produção de textos, os contextos de estratégias políticas, os contextos da prática e de efeitos/resultados nas práticas sociais. Em meio a esses contextos analisa-se como a pedagogia se constrói nas relações de saber-poder macro/ micro, nas práticas curriculares dos cursos de formação do profissional da educação/ professores nas universidades, em um contínuo retorno de efeitos/ influências que validam conhecimentos/práticas, a considerar nesses discursos os impactos dessas práticas políticas na vida profissional do docente universitário. Assume-se uma abordagem teórica que trata do estudo da episteme, embora neste estudo ela se expresse como um discurso de crítica à construção do conhecimento científico com base em critérios de validade universal, dentro dos parâmetros da ciência moderna, que historicamente desconsiderou as experiências sociais em nome de sua hegemonia colonizadora do mundo ocidental (epistemologia do norte europeu em detrimento da episteme do sul). Ao considerar a ciência e a epistemologia no âmbito da “ecologia de saberes”, conforme propõe Santos (2004; 2009), pensa-se ser possível identificar a ciência como discurso, segundo Fairclough (2001; 1997). Isso se justifica pela perspectiva política e ideológica da prática discursiva. Ela interpreta, explica, estabelece e transforma relações de poder e as entidades coletivas em que existem tais relações, e que também produz, naturaliza e modifica significados de mundo (Fairclough, 2001). Por esse prisma, tratou-se da pedagogia e as outras ciências da educação como discursos que convergem para o ato educativo, escolar e não-escolar, dentro de contextos socioculturais, político-educativo-formativos e curriculares universitários, embora essas instâncias tenham considerado pouco a relação com outros saberes/experiências sociais, segundo Santos (2006). Em um primeiro momento deste texto serão apresentadas as bases epistemológicas/ discursivas de como se constroem conhecimentos/ discursos, em uma outra lógica de crítica à epistemologia e à ciência moderna (Santos, 2009; 2004); em um segundo momento, será apresentadas algumas pistas teórico-metodológicas indicativas Márcia Maria de Oliveira Melo 7320 Investigação da Pedagogia nas Políticas e Práticas Curriculares: ciência, epistemologia/ecologia de saberes como formações discursivas da pesquisa; e, em um terceiro momento, será apresentado um mapeamento de pontos de interconexão de contextos de abordagem do objeto, a envolver dois diagramas de explicação de como se deu a pesquisa e o seu percurso, e mais o corpus dos textos/discursos legais analisados do campo político mais amplo e de práticas locais, bem como de outros contextos, com base em Ball (1992) e Bernstein (1976). BASES EPISTEMOLÓGICAS / DISCURSIVAS Nessa perspectiva, entendem-se as epistemologias, dentro de um projeto de “reinvenção da emancipação social”, como Santos (2009); Nunes (2009), que se produzem em outra configuração radical, ou seja, no movimento da crítica à constituição de conhecimentos científicos (por fora dos cânones da ciência moderna), na relação com os diversos discursos em diálogo (ecologia de saberes/experiências sociais), em dadas relações de poder, entre práticas macro/micro, alinhadas à constituição histórica de dadas pedagogias visíveis ou invisíveis, que se produzem, mantêm e naturalizam na prática social e educativa certas ideologias, mesmo pelos silêncios e pelas ausências (Bernstein, 1976a ;1976, b; Santos, 2009, p.24). Assim, as epistemologias sociais que se engendram junto a dadas pedagogias se constituem no social, no debate teórico e, em particular, nos processos de reformas educativas e curriculares oficiais e não-oficiais e nas universidades/escolas (Popkewitz, 1997; Bernstein, 1996b; Ball, 2001; 2006), em contextos de regulação social entre territorialidades políticas: transnacional, supranacional, regional, nacional e local (Pacheco, 2007a, p.97-203; Leite, 2005), em que pesem a relação teleológica e axiológica da formação humana (Rönh, 2006) e a produção/ reconhecimento de identidades acadêmico-científicas no currículo, como sociais, de raça, gênero, etnia, sexualidade, idade, profissão, bem como as experiências/saberes sociais de setores populares (Moreira e Macedo, 2002a, p.17). Advoga-se, assim como Santos (2009, p.12), que a pluralidade epistemológica do mundo e, com ela, o reconhecimento de conhecimentos rivais dotados de critérios diferentes de validade tornam visíveis e credíveis espectros muito mais amplos e de agentes sociais. Tal pluralidade não implica o relativismo epistemológico ou cultural mas certamente obriga a Márcia Maria de Oliveira Melo 7321 Investigação da Pedagogia nas Políticas e Práticas Curriculares: ciência, epistemologia/ecologia de saberes como formações discursivas análise e avaliações mais complexas dos diferentes tipos de interpretação e de intervenção no mundo produzidos pelos diferentes tipos de conhecimento. O reconhecimento da diversidade epistemológica tem hoje lugar, tanto no interior da ciência (a pluralidade da ciência), como na relação entre e outros conhecimentos (a pluralidade externa da ciência). Nessa perspectiva, as pedagogias introduzem e interpretam textos e discursos na relação com o social, o cultural e o político, e também no processo curricular na relação com o discurso acadêmico-pedagógico e os saberes das experiências sociais, em particular, nos diferenciados contextos universitários, como construções sociais, teóricas, discursivas e autobiográficas, segundo Pinar (2007). Elas podem ser acordadas/resistidas pelos sujeitos sociais e educativos, por veicularem concepções de mundo diversas pela mediação das capacidades humanas a realizarem sucessivas retraduções entre as “políticas educativas e curriculares oficiais” e as práticas curriculares. Nessa pluralidade têm-se como resultado a produção de textos e identidades híbridos, segundo (Ball, 2006; 2001; Bernstein, 1996b), como apontam os trabalhos de pesquisa de Lopes (2005), no contexto de sobredeterminações entre o econômico, o cultural e o político, no âmbito do capitalismo global. Esse contexto é caracterizado por muitas tensões entre o global/local (Estado – Nação), conforme Morgado (2007), entre homogeneidades/heterogeneidades hierarquizadas e injustas, antidemocráticas e anti-solidárias (Jameson, 1996), sob o peso da ideologia neoliberal e da cultura do consumo, informacional e comunicacional. A despeito disso, aposta-se na possibilidade da concordância reorganização/resistência a essas forças (Ball, 2001), a considerar o peso da formulação/desenvolvimento e avaliação de políticas no interior das práticas institucionais, ainda embasadas, muitas delas, por disciplinaridades, individualismos e formas clássicas de realizar o currículo, com base em Tyler (Pacheco, 2005a), não obstante as sinalizações de outras práticas. Ressalte-se que os discursos pedagógicos, ou seja, as pedagogias, são assim tecidas nas práticas sociais diversas como produtores e tradutores de diferentes epistemologias/ discursos e culturas (no caso das reformas educativas, em particular, na regulação Estado/ sociedade), enquanto um “instrumento de regulação social”, conforme Popkewitz (1997). Para Bernstein (1976a; 1976b) e Goodson (2008), a produção de conhecimentos/saberes/poderes nesses âmbitos passa por sucessivos processos de recontextualização/refração de conhecimentos teórico-científicos, político- Márcia Maria de Oliveira Melo 7322 Investigação da Pedagogia nas Políticas e Práticas Curriculares: ciência, epistemologia/ecologia de saberes como formações discursivas oficiais, na esfera das entidades acadêmico-políticas organizadas, com regras e critérios diferenciados de validade (que não estão isentos de significados, sentidos, “concepções de mundo” no campo da cultura). O debate teórico no Brasil e em Portugal tem se debruçado razoavelmente sobre essas questões, mas quando se refere aos estudos culturais na elaboração de políticas e práticas de currículo, sua influência ainda é mínima, conforme Silva (1999). De outra parte, há críticas mais ou menos radicais e diferenciadas à postura do universalismo particular científico e cultural da ciência moderna, expressa no pensamento de autores, entre outros, como Santos (2004:2006), Veiga-Neto (2007), Lopes (2005), Moreira (2005b), Silva (1999), Leite (2007), Pacheco (2005a); Carvalho (2004), Costa (2006) e Melo (2000), sem todavia esquecer as literaturas estrangeiras influentes – inglesas, americanas, francesas –,neomarxistas, pós-marxistas, no campo do currículo, como lembra Moreira (2005b). Dentro deste campo, autores ressaltam mais ou menos a importância do diálogo entre o conhecimento, a cultura escolar e o peso do social; afirmam ou rechaçam mais ou menos radicalmente a ciência na relação com as subjetividades/identidades individuais e coletivas e com os códigos culturais/classes sociais e as macro e microrrelações de poder; outros consideram a reconstrução/morte do social, do sujeito e das metanarrativas, etc, como Pinar, Bernstein, Goodson, Forquin, Giroux, Habermas, Hall, Focault, Derrida, Jameson, Baudrillard, Deleuze e Guattari. Alguns desses enveredam também pela crítica e/ou pela (des)construção radical da epistemologia moderna junto aos seus colonialismos políticos, econômicos, culturais, mostrando diversidades/ diferenças/significados culturais outros. Como base nesse debate, a pedagogia, objeto e eixo curricular, oxigena-se e se atualiza nessas tensões entre ortodoxias e heterodoxias, uma vez que seu discurso é de princípios, regras, normas e forma condutas sociais (Bernstein, 1997a; Bernstein, 1976b). Está incumbida da retradução de discursos especializados, significados e sentidos arrolados nas interatividades e interdiscursividades entre os sujeitos sociais e da transformação deles em outros textos, por um conjunto de mediações necessárias. Faz-se nesta metodologia uma ponte entre a epistemologia refundada por Boaventura Santos (2004; 2009) e o entendimento de discurso de Fairclough (1997; 2001). Trata com o primeiro de compartilhar da tese da refundação radical de crítica à lógica da epistemologia ocidental e ressaltar o peso das categorias de classe social Márcia Maria de Oliveira Melo 7323 Investigação da Pedagogia nas Políticas e Práticas Curriculares: ciência, epistemologia/ecologia de saberes como formações discursivas gênero, cultura, raça, etnia, poder, multiculturalismo, pós-colonialismo, experiências sociais, sem deixar de considerar o econômico e a crítica à tendência cultural colonizadora na sociedade capitalista ocidental. Com Fairclough (2001), trata de compreender a teoria/a ciência como discurso, sem descartar, pelo que parece, aquelas categorias, mais outras ênfases marcantes, ou seja, a relação entre discurso, ideologia, classe social e hegemonia. PISTAS COMO INDICATIVOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS Pelo que foi posto, a metodologia deste estudo apresenta uma base teóricoprática com vistas à compreensão de saberes/discursos e práticas discursivas no plano macro e microssocial (Sociedade/Universidade/Cursos de Formação de Profissionais da Educação/ Professores), articulada à compreensão de uma dada epistemologia social, inserida em tempos de mudança social e cultural (capitalismo globalizado × sociedade esgarçada e fragmentada), com vistas a compreender o objeto – a pedagogia – e sua constituição no processo curricular dos cursos de formação do profissional da educação/professores no dilema entre a sua focalização/especificidade em objeto/eixo e a sua dispersão plural (Estrela, t. 2008; Estrela, 1992; Boavida e Amado, 2006; Melo, 2006; Aguiar e Melo, 2005). Nesse sentido, caminha-se na tentativa de apreender diversas falas (em grupos focais) e escritos (em questionários aplicados) de sujeitos sociais (discursos oficiais e não oficiais), em particular de docentes de universidades públicas com base na relação entre a linguagem, a ideologia, o sociocultural e o poder, sem esquecer, todavia, como afirma Fairclough (1997), que As convenções dos discursos podem encerrar ideologias naturalizadas, que as transformam num mecanismo muitíssimo eficaz de preservação de hegemonias. Para além disso, o controle das práticas discursivas das instituições é uma das dimensões da hegemonia cultural. A tecnologização do discurso faz parte de uma luta, travada pelas forças sociais dominantes, para modificar as práticas discursivas institucionais dominantes já existentes, assumindo-se como uma dimensão do motor da mudança social e cultural e da reestruturação das hegemonias (...). Márcia Maria de Oliveira Melo 7324 Investigação da Pedagogia nas Políticas e Práticas Curriculares: ciência, epistemologia/ecologia de saberes como formações discursivas Com base nesses fundamentos, permite-se fazer aberturas para a retradução/ resistências desses discursos e práticas, com apoio de outros estudiosos no assunto, como Dijk (2005) e Pedro (1997). Considera-se assim que a Análise Crítica do Discurso daria conta do objeto deste estudo, cujo marco macro/micro teórico exige uma pluralidade de dados pelas dimensões dos discursos envolvidos e de análises dos próprios discursos, em diversos contextos sociais envolvidos, e também por envolver a especificidade de diversos eventos discursivos que, no caso deste estudo, buscar-se-ia entendê-los (em uma forma ainda inicial de aprofundamento), em quatro instituições universitárias públicas de ensino no Brasil e em Portugal. Então, essa adesão à ACD guarda, assim, uma coerência com o quadro teórico /discursivo mais amplo deste estudo, a envolver a relação entre o objeto – a pedagogia – na relação com currículo, ideologia, estrutura social, cultura, poder, discurso e subjetividades e a favorecer/desvendar neste estudo possíveis expressões/repercussões e problemáticas nos campos socioeducativo, político, epistemológico e curricular, levando em consideração os contextos de mudança social, cultural e política, especialmente da década de 90 para cá. DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA O desenvolvimento da pesquisa baseou-se no diagrama 1, o qual, compõe as dimensões do discurso e da análise crítica do discurso, por Fairclough (1997, p.84), no sentido de compreender a pedagogia como discurso passível de ser descrito, interpretado e explicado nas suas dimensões epistemológicas, ontológicas e éticopolíticas e na relação com práticas socioculturais e institucionais em que se situam os currículos dos cursos de Formação de Profissionais da Educação/Professores em universidades públicas (na relação com os contextos e textos políticos oficiais e nãooficiais, institucionais e docentes investigados): Ao considerar as dimensões do discurso e a análise do discurso com base no marco analítico de Fairclough (digrama 1) por ele elaborado (1997, p.84; 2001, p.3159), foram seguidos os seguintes passos para essa análise que demonstram ser compatíveis com o estudo deste objeto (traduzidos por Pedrosa, 2009): Márcia Maria de Oliveira Melo 7325 Investigação da Pedagogia nas Políticas e Práticas Curriculares: ciência, epistemologia/ecologia de saberes como formações discursivas a) Centralização de um problema social que tenha um aspecto semiótico. b) Identificação dos elementos da formação discursiva que lhe põem obstáculos com o fim de abordá-los, mediante a análise: da rede das práticas em que estão localizados, da relação de semiose que mantém com outros elementos da prática particular de que se trata, do discurso, a envolver a análise estrutural – a ordem do discurso; análise da prática discursiva (interação e interdiscursividade); a análise linguística e semiótica. c) Consideração da ordem social (a rede de práticas) d) Identificação das possíveis maneiras de superar os obstáculos. e) Reflexão critica da análise. Na análise discursiva, com base nesses pontos, concebe-se a pedagogia (objeto deste estudo), enquanto uma construção social, política, cultural e ideológica, a depender da mediação de determinados contextos históricos de sociedade e das mudanças imbricadas no movimento do seu campo discursivo das idéias teóricas sobre a educação/ensino. Ao se localizar a pedagogia no processso curricular de cursos de formação de profissionais da educação/ professores em algumas universidades públicas (Brasil/ Portugal), ela está sob as influências da tecnologização do discurso, na expressão do discurso oficial político, como “processo de intervenção na esfera das práticas discursivas, que visa construir uma nova hegemonia na ordem de discurso da instituição ou organização à qual se aplica, inscrevendo-se numa luta generalizada para impor hegemonias (re)estruturadas às práticas e culturas institucionais” (Faircglough, 1997, p.89). Enquanto um discurso pedagógico, ela está a permear os textos oficiais e das práticas institucionais, enquanto uma “formação discursiva”, compondo-se de princípios/ pressupostos, conceitos, processos educativos e profissionais, orientados por determinadas ordens do discurso macro e micro (Fairclouhg, 2001), e em lógicas epistemológica, teleológica, axiológica e praxiológica dirigidas para o sentido de formar sujeitos (condutas sociais) na prática pedagógica e para constituição do quê (conteúdo) e do como se organiza essa formação e o seu processo de aquisição e de produção de conhecimentos e práticas, em relações sociais determinados contextos (Bernstein, 1978,p.106). E ainda, a pedagogia mantém uma Márcia Maria de Oliveira Melo 7326 Investigação da Pedagogia nas Políticas e Práticas Curriculares: ciência, epistemologia/ecologia de saberes como formações discursivas relação com a pesquisa, outros conhecimentos clássicos, contemporâneos e outros saberes das experiências sociais que contribuem para compreender e tecer a realidade educativa e formativa, a possibilitar uma dada intervenção. Esses processos de produção, não estão isentos de princípios e estratégias de distribuição de poder e de princípios ideológicos de controle e de resistência, segundo Bernstein (1996b, p.134) e, especialmente, Fairclough (1998), quando admite uma maior mobilidade/ dinamização das relações sociais em disputa por hegemonia. MAPEAMENTO DA REALIDADE DA PESQUISA Diante da realidade complexa da pesquisa, a envolver contextos e textos diversos, em uma rede de articulações entre eles, traçou-se um mapa (Diagrama 2) para situar o objeto nos seus contextos de influências, de produção de textos, a propiciar os processos de sucessivas recontextualizações de textos/discursos, pela força dos contextos de estratégias políticas, das práticas e dos efeitos/resultados de políticas (Mainardes, 2006) e práticas envolvidas que estão norteadas pelas categorias: pedagogia, epistemologia, discurso, políticas e práticas curriculares de formação dos profissionais da educação professores, o que não dispensa as subcategorias de poder, cultura, classe social e ideologia, intrincadas na dinamização das análises que estão sendo realizadas no estudo. A pesquisa empírica sobre as políticas e práticas foi desenvolvida em dois capítulos – um texto a versar sobre “Análises críticas de discursos pedagógicos inscritos nas propostas curriculares nos contextos das Universidades da UFPE/ U.MINHO, U. PORTO e U.LISBOA – PORTUGAL”, um outro, a tratar de “Análises críticas de discursos pedagógicos inscritos nas propostas curriculares nos contextos das Universidades da UFPE/ U.MINHO, U. PORTO e U.LISBOA – PORTUGAL”. O corpus de análise dos discursos oficiais e das diretrizes nacionais curriculares oficiais das Licenciaturas de Formação do Profissional da Educação, tem o sentido de apreender, as categorias – pedagogia, educação, formato de organização do currículo/ prática docente, identidade/ perfil do curso e do profissional da educação, as quais serão dimensionadas sobretudo pelos aspectos pedagógico-político epistemológico , a partir da descrição (análise textual), interpretação (análise processual) e explicação (análise social). Sabe-se que essa tridimensionalidade do discurso, com base em Fairclough Márcia Maria de Oliveira Melo 7327 Investigação da Pedagogia nas Políticas e Práticas Curriculares: ciência, epistemologia/ecologia de saberes como formações discursivas (1998), envolve um processo de produção – texto, processo de interpretação, prática discursiva e prática sociocultural e que envolve uma rede de práticas em que estão localizados, a análise estrutural - a ordem do discurso, análise das interações e da interdiscursividade; análise lingüística e semiótica, sendo que esta será pouco considerada pelos limites deste estudo. O corpus de análise (quadro 1 anexo), compõe- se de dois conjuntos de documentos básicos, com as seguintes especificações próprias, para posteriores exposições da análise crítica de cada discurso, sendo que o primeiro grupo,foi analisado no capítulo IV do trabalho (discursos oficiais da políticas curriculares), e o segundo grupo, no V capítulo, é composto de outros documentos de ordem local, dos projetos curriculares das instituições. Os discursos curriculares das instituições formadoras foram analisados em função dos seguintes aspectos: a) Estrutura e organização geral dos Cursos (Licenciatura em Pedagogia/ Formação de Professores/Educação/ Educação Básica/ Ciências da Educação); b) Descrição da Matriz Curricular do Curso de Licenciatura de Educação; c) A pedagogia inscrita no curso como objeto e eixo na relação com as Ciências da Educação – primado ou campo educativo relativamente autônomo e plural ?; d)Sentidos e modos em que a Pedagogia é compreendida; e) A pedagogia e o modo de organização currículo na multi, inter ou transdisciplinaridade?; f) Modo de orientar e organizar o currículo como um projeto educativo articulado ou não, à docência, à organização /gestão da prática educativa; e) A Pedagogia inscrita na matriz curricular. Não coube neste estudo discutir os achados dessa pesquisa, uma vez que seria o desenvolvimento de um outro artigo a fim de contemplar isso. Foi-se fiel então à temática escolhida nesse Colóquio, centrando-se em uma abordagem teóricometodológica de como investigar a pedagogia na tensão entre políticas e práticas institucionais curriculares. Conclusões Ao se adentrar em uma abordagem teórico-metodológica para o entendimento da pedagogia, de como ela se constitui, ou seja, de como ela se direciona e se inscreve nas Políticas Curriculares e práticas desses Cursos, na realidade brasileira e portuguesa, Márcia Maria de Oliveira Melo 7328 Investigação da Pedagogia nas Políticas e Práticas Curriculares: ciência, epistemologia/ecologia de saberes como formações discursivas pretendeu-se dar um contributo inicial para uma análise comparada, cujo teor, será explicitada em uma outra produção. A construção dessa metodologia, com base na interdiscursividade entre os discursos de Ball, Bernstein e Fairclough, tem sido um grande desafio, ao mesmo tempo que eles têm pontos que podem convergir entre eles, a se completarem, muito embora, por outro lado, apresentam matrizes teóricas diferentes, tendo sido, portanto, um grande esforço de captar neste estudo a pedagogia, na sua complexidade, multidimensionalidade e multireferencialidade, em meio a influências de vários contextos e textos, que pela singularidade de tratarem um assunto, são considerados neste estudo de discursos, quer na condição de ser uma ciência moderna ou não. Com Santos (2009, p. 23-57) e Nunes (2009, p.231) assumiu-se bem que a ciência e a epistemologia não desaparecem no quadro de um pensamento pós-abissal, mas passaram a existir numa configuração distinta de saberes, em que Santos designa por ‘ecologia de saberes’, bastante útil esse conceito para o entendimento dos saberes nos currículos dos cursos investigados nas suas mais diferentes experiências sociais. Com Bernstein, foi possível identificar as identidades pedagógicas inscritas nas políticas /discursos e práticas curriculares locais institucionais, uma vez que, em contextos de reformas educativas, Bernstein (1998, p.9-107), admite a possibilidade do Estado ligar-se à projeções de diferentes identidades pedagógicas (a depender das relações de poder/ controle, de tempo, época, espaço), sob influências externas/ internas de negociações/ acordos – 1. A postura retrospectiva (conservadora); 2. A postura prospectiva 3. A postura instrumental neoliberal (des – centrada) e; 4. A postura denominada descentrada terapêutica Ele deu grandes contribuições neste estudo, ao admitir em sua teoria, hibridismo, a constituição de discursos, outras identificações, além da classe social (gênero, raça etc.), bem como a possibilidade de resistência e de recontextualização de discursos nas práticas pedagógicas. Faz isso, dentro de uma certa mobilidade/ dinamização das relações sociais e políticas determinadas, enquanto relações de poder, não apenas como fonte externa (apesar do peso ser bem mais forte nesta fonte). Enquanto Fairclough é chamado neste estudo, por trazer uma compreensão de mundo e de discurso mais aberta, em que faz crítica às concepções de análises de discurso, com base em visões estruturalistas e ideológicas, com base em Althusser, pela pouca mobilidade possível de Márcia Maria de Oliveira Melo 7329 Investigação da Pedagogia nas Políticas e Práticas Curriculares: ciência, epistemologia/ecologia de saberes como formações discursivas intervenção nas práticas, com suas idéias de inculcação/ reprodução de forças materiais etc. Assim, este autor muito contribuiu para adentrar na pedagogia, pela compreensão da tridimensionalidade dada ao discurso, a envolver um processo de produção – texto, processo de interpretação, prática discursiva e prática sociocultural e uma rede de práticas em que estão localizados, bem como com a sua idéia de análise estrutural – a busca da ordem do discurso, equilibrada com a análise das interações e da interdiscursividade; da análise lingüística e semiótica, sendo que esta foi pouco considerada dentro dos limites deste estudo. Ball, especialmente, em seu texto, que trata de uma sociologia da pesquisa para análise de políticas, contribuiu por demais para se atentar para os diversos contextos, textos, influências, ausências e presenças de estratégias políticas, em um ciclo de continuidade de políticas, no contexto de influências societárias, em que as práticas dão retorno a redefinição de políticas e também, ao contribuir para se avançar nas análises de Bernstein, muitas vezes fragmentadas entre o campo da política e da prática, indo mais a fundo no conceito de hibridismo, da tecnologização do discurso, com o conceito da cultura da performatividade e individualismo. Com esse referencial, está-se a conduzir uma pesquisa, com análises críticas minunciosas, a fim de obter resultados que são também discursivos, mas com a prudência de organização de dados, estabelecimento de critérios, porém admitindo a subjetividade do pesquisador, a depender do “lugar social”, das formas de conceber o mundo, a pedagogia, a educação, o ensino e as “formas de ver do pesquisador, de sua história pessoal”, “como ato movido a poder”, segundo Kincheloe, Joe L. e Berry, Kathleen S. (2009, p.16), em uma visão de “complexidade do mundo real”. Nesse sentido, “os bricoleurs atuam a partir do conceito de que a teoria não é uma explicação do mundo – ela é uma explicação de nossa relação com o mundo” (p.16), daí a razão de se fazer uma ponte com o conceito de discurso de Faircloug (2001), que admite substantivamente a sua singularidade como um modo peculiar de tratar um assunto/ problema (onde linguagens, realidades e sujeitos sociais entram em interdiscursividades para produzir/ posições singulares em um discurso), como parte do que a humanidade construiu e está reconstruindo em determinadas épocas. Márcia Maria de Oliveira Melo 7330 Investigação da Pedagogia nas Políticas e Práticas Curriculares: ciência, epistemologia/ecologia de saberes como formações discursivas REFERÊNCIAS BILIOGRÁFICAS Aguiar, Márcia Ângela e Melo, Márcia M. de O. Pedagogia e Faculdades de Educação: Vicissitudes e Possibilidades da Formação Pedagógica e Docente nas IFES (2005a). Campinas SP: EDUCAÇÃO & SOCIEDADE v.26, n.92, p.959-982, Out.2005a, 1a edição. Ball, S. & Bowe, R.(1992). Reforming Education &Changing Schools; Case Studies in policy sociology. London, New York: Routledge, 1a. edição. Ball, Stephen J.Sociologia das Políticas Educacionais e Pesquisa Crítico -Social: uma revisão social das políticas educacionais e da pesquisa em política (2006) educacional. In: CURRÍCULO SEM FRONTEIRAS, v.6, n.2, pp.10-32, jul/Dez, ISSN 1645-1384 (online). Ball, Stephen J. Diretrizes políticas globais e relações políticas locais em educação (2001). CURRÍCULO SEM FRONTEIRAS, v.1,n.2, pp.99-116, Jul./dez.ISSN, 16451385 (online). Bernstein, Basil. A estrutura do discurso pedagógico. Classe, códigos, controles. (1996a). Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 1ª edição. Bernstein, Basil. Pedagogia, control simbólico e identidad (1996b). Madrid: Morata, 1996b. Boavida, João e Amado, João. Epistemologia, Identidades e Perspectivas (1996). Coimbra: Impressa da Universidade de Coimbra – IU, 1ª edição. Carvalho, Rosângela Tenório. Discurso pela interculturalidade no Campo curricular da educação de Adultos no Brasil nos anos 1990 (2004). Recife: Bagaço, 1ª edição. Costa, Marisa Vorraber. Currículo e Política Cultural (org.). (2005).O currículo nos limiares do contemporâneo. Rio de Janeiro: DP&A Editora, p.37-68,1ª edição. Dijk, Teun Van. Semântica do discurso e ideologia (1998). In: Pedro, Emília Ribeiro (org.).(1998). Análise Crítica do Discurso. Uma perspectiva Sóciopólítica e Funcional. Lisboa: Colecção Universitária, 1ª edição. Estrela, Albano. Pedagogia, Ciência da Educação? (1992).Portugal: Porto Editora, 1ª edição. Estrela, Maria Teresa. As Ciências da Educação hoje (2008). In: Formação Humana e Gestão da Educação. A arte de pensar ameaçada.São Paulo: Cortez, p.17-50, 1ª edição. Fairclough, Norman. Discurso, Mudança e Hegemonia (1998). In: Pedro, Emília Ribeiro (org.).Análise Crítica do Discurso. Uma perspectiva Sociopólítica e Funcional. Lisboa: Colecção Universitária, 1ª edição. Márcia Maria de Oliveira Melo 7331 Investigação da Pedagogia nas Políticas e Práticas Curriculares: ciência, epistemologia/ecologia de saberes como formações discursivas Fairclough, Norman (2001). Discurso e mudança social. Brasília; Universidade de Brasília, 1.edição (trad. 2001). Goodson, Yvor F. (2008).Conhecimento e vida profissional. Estudos sobre educação e mudança. Porto: Porto Editora, 1ª edição. (Colecção Currículo, Políticas e práticas). Tese de Doutorado. Programa de Pós-graduação em Educação. Centro de EducaçãoUFPE. Recife, -PE, 2008. Jameson, Frederic. Pós –Modernidade. A lógica cultural do capitalismo tardio. São Paulo-SP: Ática, 1996. Leite, Carlinda. A territorialização das políticas e das práticas educativas. In: LEITE, Carlinda Leite (org.). Mudanças Curriculares em Portugal. Transição para o século XXI. Porto: Porto Editora, 2005, p.15-32. Leite, Carlinda.A atenção ao multiculturalismo das políticas da educação escolar em Portugal. In: Moreira, António Flávio e Pacheco, José Augusto (orgs.).Globalização e Educação. Desafios para políticas e práticas. Porto: Porto editora, 2007, p.247-262. 1ª edição. LOPES, Alice Casimiro. Política de Currículo: Reconstrução e Hibridismo (2005).CURRÍCULO SEM FRONTEIRAS, v.5, n.2, p.p.50-64, Jul/Dez. MAINARDES, Jefferson. Abordagem do ciclo de políticas: uma contribuição para análise de políticas educacionais. EDUCAÇÃO & SOCIEDADE, Campinas, vol.27,n.94, p.47-69, Jan./Abr.2006 Melo, Márcia Maria de Oliveira (2000). A construção do saber docente: entre a formação e o trabalho. Tese de doutorado. Universidade de São Paulo – SP, p.450. Melo, Márcia Maria de Oliveira. A pedagogia e o Curso de Pedagogia: Riscos e possibilidades epistemológicos face ao debate e às novas diretrizes curriculares sobre esse curso (2006). In: Silva, Aída Maria Monteiro et al. Novas subjetividades, currículo, Docência e questões pedagógicas na perspectiva da inclusão social. ENCONTRO NACIONAL DE DIDÁTICA E PRÁTICA DE ENSINO (13. 2006, Recife): Bagaço, pp. 243-276.1ª edição. Moreira, António Flávio (2007). Desafios contemporâneos no campo da educação: a questão das identidades. In: Moreira, António Flávio e Pacheco, José Augusto (orgs.).Globalização e Educação. Desafios para políticas e práticas. Porto: Porto editora, p.11-30, 1ª edição. Moreira, Antonio Flávio e Macedo, Elisabeth, Fernandes. Currículo, identidade e diferença (2002a) In: MOREIRA, Antonio Flávio e Macedo, Elisabeth, Fernandes (org.) Currículo, Práticas Pedagógicas e Identidades, Porto: Porto Editora, p.11-34. 1ª edição (Colecção Currículo, Políticas e Práticas). Moreira, Antonio Flávio e Macedo, Elisabeth, Fernandes (org.). (2002b).Currículo, Márcia Maria de Oliveira Melo 7332 Investigação da Pedagogia nas Políticas e Práticas Curriculares: ciência, epistemologia/ecologia de saberes como formações discursivas Práticas Pedagógicas e Identidades. Porto: Porto Editora, p.93-118.1ª edição (Colecção Currículo, Políticas e Práticas). 1ª edição. Moreira, Antonio Flávio. Multiculturalismo, Currículo e formação de professores (2006). In:_____(org.).Currículo e Práticas.SP: Papirus, p.81-96.1ªEdição. Morgado, José Carlos.globalização, ensino Superior e Currículo (2007). In: MOREIRA, António Flávio e Pacheco, José Augusto (orgs.).Globalização e Educação. Desafios para políticas e práticas, Porto: Porto editora, p.61-72. 1ª edição. Nunes, João Arriscado.O resgate da Epistemologia (2009) In:______ et al. Epistemologias do Sul. Coimbra: ALMEDINA. CES, p. 1ª edição, p.215-242. Pacheco, José Augusto Pacheco. Europeização do currículo para uma análise das políticas educativas e curriculares (2007a).In: Moreira, António e Pacheco (orgs.).Globalização e Educação. Desafios para políticas e práticas. Porto: Editora Porto p.87-126, 1ª edição (Colecção Currículo, Políticas e práticas). Pacheco, José Augusto Pacheco. Estudos Curriculares (2005a). Para uma compreensão crítica da educação. Porto: Porto Editora, 1ª edição (Colecção Currículo, Políticas e práticas). Pacheco, José Augusto Pacheco, José Augusto. Escritos curriculares.Campinas –SP: Cortez, p.2005b. 1ª edição. Pacheco, José Augusto. Estudos curriculares: políticas, teorias e práticas (2007b). In: Moreira, António Flávio e Pacheco, José Augusto (orgs.).Globalização e Desigualdades. Desafios contemporâneos. Porto: Porto Editora, p.29-40, 1ª edição. Pedro, Emília Ribeiro. Análise crítica do discurso: aspectos teóricos, metodológicos e analíticos.In:______ (org.). (1997).Análise Crítica do Discurso. Uma perspectiva Sociopólítica e Funcional. Lisboa: Colecção Universitária, 1ª edição. Pedrosa, Cleide Emília Faye. Análise crítica do discurso uma proposta para análise crítica da linguagem. Acessado na Internet 15-01-2009. Pinar, William.F. (2007).O que é a teoria do currículo? Porto: Porto Editora, 1ª edição. Popkewitz, Thomas S. Reforma Educacional. Uma política sociológica. Poder e conhecimento em Educação. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997, 1ª edição. Röhn, Ferdinand. (2006) In: Silva, Aída Maria Monteiro et al. Fundamentos Epistemológicos da Educação, da pesquisa em Didática e Prática de Ensino. In. Silva, Aída Maria Monteiro et.al. Educação formal, processos formativos: desafios para a inclusão social. ENCONTRO Márcia Maria de Oliveira Melo 7333 Investigação da Pedagogia nas Políticas e Práticas Curriculares: ciência, epistemologia/ecologia de saberes como formações discursivas NACIONAL DE DIDÁTICA E PRÁTICA DE ENSINO (13.2006, Recife): Bagaço, p.425-450. Santos, Boaventura Souza 2006. A gramática do Tempo: para uma nova cultura política. São Paulo: Cortez Editora, 1ª edição. Santos, Boaventura Souza e al. Introdução: para ampliar o Cânone da ciência: a diversidade epistemológica do mundo (2004). In: SANTOS, Boaventura Souza. Semear outras soluções. Os caminhos da Biodiversidade e dos conhecimentos rivais. Porto: Edições Afrontamento, p.23-71, 1ª edição 2004. Santos, Boaventura Santos (2009). In: ______. et al. Epistemologias do Sul. Coimbra: ALMEDINA.CES, p. 1ª edição, p.23-71. Silva, Tomaz Tadeu (1999). Documentos de Identidade. Uma introdução às teorias do currículo.Belo Horizonte:Autêntica.1ª edição. Veiga-Neto, Alfredo J. (1998). Michel Foucault e Educação: há algo novo sob o sol? In: _____Crítica Pós-estruturalista e Educação (org.). Porto Alegre: Sulina, 1ª edição. Márcia Maria de Oliveira Melo 7334 Investigação da Pedagogia nas Políticas e Práticas Curriculares: ciência, epistemologia/ecologia de saberes como formações discursivas ANEXOS DIAGRAMA 1 Márcia Maria de Oliveira Melo 7335 Investigação da Pedagogia nas Políticas e Práticas Curriculares: ciência, epistemologia/ecologia de saberes como formações discursivas DIAGRAMA 2 MAPEAMENTO SOCIOCOGNITIVO E POLÍTICO DOS MACRO E MICROCONTEXTOS EM QUE ESTÃO CONSTITUINDO A PEDAGOGIA E SEUS EFEITOS: Contextos de globalização/educação Brasil/Portugal Textos oficiais Estado - estratégias políticas Contexto macro de políticas educativas e curriculares oficiais Acadêmicas Textos não – oficiais de Entidades e outros Contextos locais: Contextos locais Universidade/Faculdade/ Centro/ Instituto de Educação Constituição e mediação da pedagogia Efeitos das Contexto local políticas oficiais sobre as práticas curriculares e sobre a escola básica/ resistências Discurso do Práticas curriculares Cursos de F. de Profissionais da Educação// Professores Efeitos das propostas das entidades acadêmicas sobre os projetos oficiais e de curriculares QUADRO 1 Corpus legal para análise crítica do discurso Legislações pertinentes às Diretrizes Nacionais e Supranacionais Curriculares de Cursos de Formação de Profissional da Educação no Brasil e em Portugal Propostas Curriculares dos Cursos de Formação do Profissional da Educação da Universidade Federal de Pernambuco – Brasil e das U. Minho. U. Porto e U. Lisboa – Portugal Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Márcia Maria de Oliveira Melo 7336 Investigação da Pedagogia nas Políticas e Práticas Curriculares: ciência, epistemologia/ecologia de saberes como formações discursivas Licenciatura Plena em Pedagogia e sua relação com as Diretrizes de Formação de Professores no Brasil: Proposta curricular do curso de Pedagogia – UFPE Proposta curricular do Curso de Licenciatura em Educação Básica (educação Infantil e 1° e 2°ciclos) no Instituto de Educação da U.Minho. Proposta curricular da Licenciatura em Ciências da Educação da U.Lisboa CNE/CP N.5/2005 de 13/12/2005 (com a complementação do parecer que deu base para o Parecer CNE/CP N.°3/2006 de 21/2/2006, com a modificação do art.14). Projeto de Resolução CNE/ CP N.°1 , de 18 de Fevereiro de 2002 - Brasil (equivalente à homologação do Parecer CNE/ CP 09/2001 de 18/01/2002), com complementações do Parecer CNE/CP 09/2001, homologado em 17 de fevereiro Destaques - a Lei n° 10.172/2001 (Plano Nacional de Educação, no seu item IV). Destaques Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional N.° 9.394/96, de 20 de dezembro. Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Licenciatura em Educação Básica em Portugal: No âmbito da Licenciatura em Educação Básica MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Decreto-Lei n.° 240/2001, de 30 de Agosto; MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Decreto-Lei n.° 241/2001, de 30 de Agosto Proposta curricular da Licenciatura em Ciências da Educação da U.Porto MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Decreto-Lei n.° 43/2007, de 22 de Fevereiro Proposta curricular do Curso de Licenciatura em Educação no Instituto de Educação da U. Minho Destaques - Decreto - Lei n°74/ 2006, de 24 de março Declaração de Bolonha OBS : 1.No âmbito da Licenciatura em Educação e em Ciências da Educação, não existe nenhuma legislação Nacional. A tendência nesse aspecto evidenciou-se pela Márcia Maria de Oliveira Melo 7337 Investigação da Pedagogia nas Políticas e Práticas Curriculares: ciência, epistemologia/ecologia de saberes como formações discursivas especificidades do local (Universidades); 2. Ressalte-se que não irá se discutir os perfis na sua parte específica da formação de professores do Decreto n°241/ 2001 em Portugal (educação infantil, 1°ciclo, 2°cclo e secundário da educação básica), a fim de ser compatível com as DCN do Formação de Professores do Brasil (de âmbito geral). Ficou – se então no desempenho geral Márcia Maria de Oliveira Melo 7338 IV COLÓQUIO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS E PRÁTICAS CURRICULARES “DIFERENÇA NAS POLÍTICAS DE CURRÍCULO” A ANÁLISE DA POLÍTICA CURRICULAR EM UMA PERSPECTIVA DISCURSIVO-CULTURAL Maria do Carmo de Moura Silva Soares Ângela Maria Dias Fernandes JOÃO PESSOA - PB - BRASIL 10 A 13 DE NOVEMBRO DE 2009 A Análise da Política Curricular em uma Perspectiva Discursivo-Cultural A ANÁLISE DA POLÍTICA CURRICULAR EM UMA PERSPECTIVA DISCURSIVO-CULTURAL Maria do Carmo de Moura Silva Soares1 Ângela Maria Dias Fernandes2 RESUMO: A cultura e o discurso vêm ganhado espaço relevante nas análises dos fenômenos sociais. Tal perspectiva resulta do reconhecimento de que toda prática social está imbricada em uma dimensão cultural, já que a prática social depende de significados e com eles está intimamente associada. Nesse processo, a linguagem tornase fator determinante, pois os indivíduos, grupos ou tradições ao descrever, narrar ou explicar o que as coisas são e como funcionam as institui. Ou seja, mediante um conjunto de discursos e saberes é produzida uma “realidade”, instituindo-se algo como existente de tal ou qual forma. Nessa perspectiva, o campo educacional e o curricular, especificamente, por meio de seus discursos passam a ser vistos como lugares de normalização da cultura e de produção de identidades sociais e culturais. No âmbito dessa abordagem, o presente texto, constitui-se em uma sistematização de reflexões acerca da Análise do Discurso articulada à análise da política curricular, a partir do estabelecimento de um diálogo entre Michel Foucault e Stephen Ball. Tais reflexões resultam da pesquisa de Mestrado que venho engendrado e que dissertará sobre a Política Curricular vigente em PE. PALAVRAS-CHAVE: Política curricular. Cultura. Discurso. Análise do discurso. 1 Introdução É visível, na contemporaneidade, que os elementos culturais e discursivos ganham espaço na análise social. Segundo Hall, [...] a cultura é agora um dos elementos mais dinâmicos- e mais imprevisíveis – da mudança histórica do novo milênio. Não deve nos surpreender, então, que as lutas pelo poder sejam, crescentemente, simbólicas e discursivas, ao invés de tomar, simplesmente, uma forma física [...] (1997, p. 20) 1 Mestranda em Educação – PPGE/UFPB; graduação em Letras – UPE; especialização em Língua Portuguesa – FAINTVISA; professora da Rede Estadual de Ensino de PE. 2 Professora orientadora – Programa de Pós-Graduação em Educação – UFPB. Maria do Carmo de Moura Silva Soares & Ângela Maria Dias Fernandes 7078 A Análise da Política Curricular em uma Perspectiva Discursivo-Cultural A cultura tem se tornado como uma arena de lutas, de contradições, e de disputas travadas entre forças culturais diversas. Percebe-se que as fronteiras estão além dos aspectos físicos, têm um caráter simbólico e cultural. Nesse cenário, compreende-se a interferência da cultura e do discurso, ao se perceber que o dominado passa a ser o que o dominador diz, ou seja, o discurso dominante impõe-se, impondo também a sua cultura. De acordo com Hall (1997), no cenário contemporâneo, a cultura ganha centralidade ao se perceber que esta é constitutiva em todos os aspectos da vida social. Toda prática social depende do significado e com ele tem relação e é a partir de um modelo cultural que os saberes, valores e práticas são selecionados. Kroeber (1950) apud Laraia (2001) ao definir a cultura como um processo acumulativo, resultante de toda a experiência das gerações anteriores, afirma que, diferentemente das outras espécies, o ser humano, ao adquirir o novo conserva o anterior. Esse processo de acumulação é realizado, mediante a linguagem, elemento fundamental para que toda experiência de um indivíduo seja transmitida a outrem. Portanto, compreende-se que não existiria cultura se não houvesse o desenvolvimento da comunicação e da linguagem em sua diversidade de modalidades discursivas. Com a “virada lingüística”, Canning (1994) apud Popkewitz (2002, p. 183) considera que há “um escrutínio e um re-exame da linguagem não apenas como descrevendo e interpretando o mundo, mas como constituindo práticas e identidades sociais”. Os objetos não existem para nós, sem que antes tenham passado pela significação e esta é um processo social de conhecimento. Toda teorização constitui um conjunto de discursos, de saberes que, ao explicar como essas coisas funcionam e o que são as institui. (COSTA M., 2005). Ou seja, ao descrever, narrar ou explicar algo, os indivíduos, grupos ou tradições utilizam a linguagem para produzir uma “realidade”, instituindo algo como existente de tal ou qual forma. Em uma perspectiva analítica, centrada na inter-relação cultura / linguagem pode-se ampliar o campo de análise da política curricular, pois a política passa a ser concebida como um campo em que estão em jogo disputas sobre um conjunto de significações culturais. 2 Política curricular e discurso: dialogando com Ball Maria do Carmo de Moura Silva Soares & Ângela Maria Dias Fernandes 7079 A Análise da Política Curricular em uma Perspectiva Discursivo-Cultural A cultura constitui-se em um elemento determinante do currículo escolar. Daí a importância de se perceber a íntima relação entre currículo e cultura. Portanto, no atual contexto político-social, analisar as políticas curriculares requer uma abordagem que transcenda a abordagem verticalizadora e hierarquizante do poder hegemônico. Faz-se necessário uma abordagem analítica que, embora reconheça as relações hegemônicas de poder, considere que nestas estão imbricadas complexas relações entre o cultural e o político. A cultura será concebida, pois, não como uma esfera num conjunto de esferas e práticas diferenciadas, mas como um terreno em que o político, o cultural e o econômico formam uma dinâmica inseparável. (SANTOS, 2003). Essa articulação mútua entre elementos políticos e econômicos e a cultura faznos repensar a articulação entre os fatores materiais e simbólicos, haja vista que, como coloca Hall (1997, p. 18), estes, “causam impacto sobre os modos de viver, sobre os sentidos que as pessoas dão à vida, sobre suas aspirações para o futuro” [...], enfim interfere na formação de subjetividades e na sociedade como um todo em um constante movimento de retroalimentação. Ball (1993), apoiando-se em Foucault (2000) e Bernstein (1996), sugere pensar a política como discurso e como texto. Nessa perspectiva o discurso é definido como categoria na qual todo sujeito é posicionado ou reposicionado, práticas que sistematicamente formam os objetos dos quais falam; enquanto que texto pode ser compreendido como qualquer representação expressa pela fala ou pela escrita, nas quais são realizadas a produção e a reprodução culturais. (LOPES, 2005). Isso implica em se compreender que o discurso é produzido mediante o entrecruzamento de diversos campos e resultam de incessantes negociações. Estes se apresentam com poderes assimétricos e com múltiplos significados em disputa. Implica também em redimensionar a figura do Estado, a fim de vê-lo não mais como centro e origem da produção da política e do poder. Nessa visão rejeita-se a concepção linear verticalizadora que visualiza o processo político ora de cima para baixo, ora de baixo para cima e propõe-se uma concepção de política curricular como um processo cíclico, conflituoso, ambíguo, plural, contraditório e histórico que emerge de uma contínua interação entre contextos inter-relacionados e entre textos e contextos. (BALL, 1998). Maria do Carmo de Moura Silva Soares & Ângela Maria Dias Fernandes 7080 A Análise da Política Curricular em uma Perspectiva Discursivo-Cultural Os discursos consistem, pois, em construções simbólicas em um mundo globalizado, passíveis de recontextualizações, as quais produzem não apenas a homogeneização, mas também a heterogeneidade no âmbito de uma tensão contínua entre o local e o global e vice-versa. A recontextualização constitui-se a partir da transferência de textos de um contexto a outro, como por exemplo, da academia ao contexto oficial; do contexto oficial ao contexto escolar. (BERNSTEIN, 1996) Para haver a recontextualização, ocorre, a princípio, a descontextualização. Esta consiste em um processo de seleção de textos em detrimento de outros e de deslocamento dos mesmos para questões, práticas e relações sociais distintas. Simultaneamente, há um reposicionamento e uma refocalização. Neste processo o texto é modificado por processos de simplificação, condensação e reelaboração, desenvolvidos em meio a conflitos entre diferentes interesses e possibilidades que estruturam o campo de recontextualização. Desse modo, pode-se afirmar que o discurso pedagógico é produzido a partir de um processo de recontextualização. (LOPES, 2002). A partir do fenômeno da recontextualização, torna-se possível identificar o hibridismo discursivo. Este envolve a mistura de concepções e é caracterizado pela negociação entre os diversos segmentos sociais no processo de elaboração dos textos, propostas e políticas curriculares, considerando-se as condições de possibilidades discursivas. Nessa perspectiva, pode-se definir a política curricular como uma produção resultante de negociações em múltiplos contextos, sempre produzindo novos significados paras decisões curriculares nas instituições escolares. (CANCLINI, 1998 e BALL, 1998) No âmbito desse pensamento, Lopes e Macedo (2005) afirmam que o hibridismo parece ser a grande marca do campo curricular em que é identificada uma multiplicidade de teorizações. No entanto, tal multiplicidade não vem se configurando apenas como diferentes tendências e orientações teórico-metodológicas, mas como tendências e orientações que se inter-relacionam produzindo híbridos culturais. (p. 16). Para Lopes (2002), as propostas curriculares oficiais consistem em híbridos discursivos produzidos por processos de recontextualização, haja vista que na Maria do Carmo de Moura Silva Soares & Ângela Maria Dias Fernandes 7081 A Análise da Política Curricular em uma Perspectiva Discursivo-Cultural organização dessas propostas os textos são desterritorializados e deslocados das questões que levaram a sua produção e relocalizados em novas questões com novas finalidades. Nesse processo, textos de matrizes teóricas distintas são associados produzindose, inevitavelmente, ambigüidades discursivas. No entanto, a superposição de discursos ambíguos não autoriza a sua utilização independentemente dos contextos históricos e das relações de poder. A ambigüidade apresenta-se no discurso buscando-se se legitimálo junto a diferentes grupos sociais. A apropriação e hibridização de discursos acadêmicos e sua ressignificação, mediante a recontextualização, ocorrem de forma a atender certas finalidades educacionais. 3 Discurso e poder A linguagem significa a realidade no sentido de que constrói significados para ela. Quem tem o poder do discurso, em suas diversas modalidades e campos, estabelece o que tem ou não tem estatuto de “realidade”. Portanto, no processo de análise, as construções lingüísticas precisam ser mapeadas conceitualmente, porque descrevem mudanças na forma como os objetos da vida social são discursivamente construídos. Constituindo sistemas simbólicos e ordens sociais, os discursos consistem em instrumento de “apoderamento”. Daí por que instituições, grupos e classes sociais lutam para ocupá-lo, controlá-lo, forjá-lo, a fim de legitimar e disseminar um universo particular e único de saber. (CARLOS, 2002). Sendo instrumento de poder, o discurso é disputado tendo em vista que o controle do mesmo implica em disseminação de vontades de verdade, que resultam em legitimação de saber e de poder. Visto como perigoso, o discurso é inserido, pois, em uma ordem que busca controlá-lo e/ou excluí-lo, mediante mecanismos de controle. (...) em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que têm por função conjurar seus poderes, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade. (FOUCAULT 2007, p.8-9) Maria do Carmo de Moura Silva Soares & Ângela Maria Dias Fernandes 7082 A Análise da Política Curricular em uma Perspectiva Discursivo-Cultural Portanto, há um conjunto determinado de relações que viabilizam a existência ou não de certos enunciados e que detém uma força de produzir conceitos e valores. O enunciado é, pois, tecido em uma rede na qual existe um conjunto de condições que possibilitam ou não alguém enunciar algo, porque o ver e o falar são definidos por condições de possibilidades. Como afirma Deleuze (1998, p 87), “[...] cada formação histórica vê e faz ver tudo o que pode em função das suas condições de visibilidades, assim como diz tudo o que pode em função das suas condições de enunciado”. Nas análises históricas foucaultianas são abordadas as tecnologias do poder e a produção do saber na sociedade ocidental, a qual é denominada de sociedade disciplinar, por identificar na mesma micro-poderes que são exercidos sobre os corpos, mediante técnicas de controle e mecanismos de submissão. No entanto, o fato de haver mecanismos de controle e vigilância contínuos demonstra que os sujeitos lutam e, em decorrência dessa luta, nenhum poder é absoluto ou permanente; ele é, pelo contrário, transitório e circular, o que permite a aparição de fissuras, rupturas. (GREGOLIN, 2006, p. 136). Um dado momento histórico é marcado por continuidades e descontinuidades, de formações discursivas que aparecem e desaparecem. Desse modo, o discurso pressupõe a possibilidade de dominação, mas por outro lado, também apresenta brechas, que constituem em espaço de contestação e de resistência. Portanto, o discurso em curso implica em um discurso de transgressão, em uma luta contínua e cotidiana. São micro-lutas que se espalham por toda topografia social e que não decorrem de um centro único do Poder. Tais micro-lutas transcendem à clássica idéia de “lutas de classes”. Portanto, ao transcender, não nega a existência das mesmas e de um poder do Estado, mas mostra que há outros poderes com naturezas diversas. Nessa perspectiva, o que a resistência busca não é apenas libertar o indivíduo do poder do Estado e de suas instituições, mas de libertá-lo dos sistemas de representação individualizantes e totalizadores que atuam sobre sua vida cotidiana imediata. (Id, 2006. p. 133-137). O discurso curricular é construído no âmbito da interdiscursividade e apresenta, pois, marcas das diversos campos e ordens discursivas. O discurso curricular consiste em um espaço onde estão imbricadas relações de poder, no qual são engendradas técnicas de controle das subjetividades para atender a Maria do Carmo de Moura Silva Soares & Ângela Maria Dias Fernandes 7083 A Análise da Política Curricular em uma Perspectiva Discursivo-Cultural interesses determinados. Em um jogo de poder incessante, seleciona-se um conhecimento e se interdita outro, privilegia-se uma subjetividade e se silencia outra. São identificadas, pois, as marcas da ordem discursiva política delineando as condições de possibilidades enunciativas do discurso curricular. Nesse processo, as regras, padrões, valores, prioridades e disposições são elementos ativos na formação dos sujeitos, constituindo-se em técnicas articuladas e constituídas pelos discursos para o governo do indivíduo. Esses elementos, construídos discursivamente e disseminados nas políticas educacionais, produzem efeitos de verdade que são assumidos como “naturais” pelos sujeitos envolvidos no processo educativo institucional. Inclui-se nesse processo tanto aqueles que formulam a política, quanto os que as põem em prática; ou seja, desde a elaboração até a execução da política, os sujeitos, a partir da posição que ocupam, impregnam e são impregnados por um discurso resultante de uma rede interdiscursiva da qual fazem parte e que constituem o discurso educacional e/ou pedagógico. Além das marcas política e pedagógica, é possível identificar no discurso curricular oficial fundamentos legais que norteiam a produção do mesmo. Isto é, as marcas do imperativo das normas, características da ordem discursiva jurídica, fazem-se presente definindo os enunciados do discurso curricular. Nesse emaranhado das redes interdiscursivas produtoras do discurso curricular, vale salientar a importância das comunidades epistêmicas que fazem circular, no campo educacional, discursos que são base da produção de significados para as políticas de currículo em múltiplos contextos discursivos. Segundo Lopes (2006), as comunidades epistêmicas são compostas por grupos de especialistas que compartilham concepções, valores e regimes de verdades comuns entre si e que operam nas políticas pela posição que ocupam frente ao conhecimento, em relações de saber-poder. 4 Sobre a análise do discurso: dialogando com Foucault Foucault, em seus livros “As palavras e as coisas” (1999) e “Arqueologia do saber” (2000), apresenta uma proposta de análise discursiva que, discernindo-se de outras perspectivas, não as nega, mas acena para outra possibilidade no campo de análise do discurso e que traduz certas especificidades. Maria do Carmo de Moura Silva Soares & Ângela Maria Dias Fernandes 7084 A Análise da Política Curricular em uma Perspectiva Discursivo-Cultural Para enveredar pelos caminhos da análise do discurso faz-se necessário, a princípio, compreender alguns conceitos específicos, tais como discurso, enunciado, formações discursivas e práticas discursivas. De acordo com Foucault, o discurso pode ser definido como um conjunto de enunciados, na medida em que se apóiem na mesma formação discursiva ; ele é constituído de um número limitado de enunciados, para os quais podemos definir um conjunto de condições de existência; é, de parte a parte, histórico – fragmento de história, unidade e descontinuidade na própria história, que coloca o problema de seus próprios limites, de seus cortes, de suas transformações, dos modos específicos de sua temporalidade. (2000, p. 135-136) Nessa perspectiva de análise discursiva, percebe-se que o objeto a ser encontrado consiste, pois, nos enunciados e o campo de busca em que a mesma atua corresponde às diversas formações e práticas discursivas. Sendo o enunciado o objeto da análise do discurso, torna-se fundamental, compreender, por conseguinte, em que consiste o enunciado. O enunciado em seu modo de ser singular, nem inteiramente lingüístico, nem exclusivamente material é indispensável para que se possa dizer se há ou não frase, proposição ou ato de linguagem. Ele não é em si mesmo uma unidade, mas sim uma função que cruza um domínio de estruturas e de unidades possíveis e que faz com que apareçam, com conteúdos concretos no tempo e no espaço. Portanto, é uma função que se faz necessário descrever em seu exercício, em suas condições, nas regras que a controlam e no campo em que se realiza (FOUCAULT, 2000, p. 98 - 99). O enunciado não equivale nem a “proposição”, do domínio da lógica, e nem à “frase”, do domínio da lingüística, dada a mobilidade e a condição daquele apresentarse nas mais diversas formas, as quais não correspondem às especificidades destas. Também não equivale a “atos ilocutórios” (speech act), como falam os analistas ingleses, pois é preciso freqüentemente mais de um enunciado para efetuar um speech act, como em um juramento, prece, contrato, promessa, etc. Não há, portanto, uma relação biunívoca entre o conjunto de enunciados e o dos atos ilocutórios (FOUCAULT, 2000 p. 94- 95). Maria do Carmo de Moura Silva Soares & Ângela Maria Dias Fernandes 7085 A Análise da Política Curricular em uma Perspectiva Discursivo-Cultural Ou seja, por enxergar o enunciado no interior de uma historicidade, o objeto da análise discursiva “não é o enunciado atômico”, mas consiste no campo de exercício, suas condições, suas regras de controle, pois entre o enunciado e o que ele enuncia não há apenas relação gramatical, lógica ou semântica; há uma relação que envolve os sujeitos, que passa pela História. (GREGOLIN, 2006, p. 89-90). Os enunciados são essencialmente raros, portanto não pressupõem o implícito, pois, não admitem a multiplicidade de sentidos, nem a diversidade de interpretações. Interpretar é multiplicar o sentido, enquanto que analisar uma formação discursiva é procurar a lei de sua pobreza e de sua raridade. (FOUCAULT, 2000, p.139). A palavra “pobreza” denotando “escassez”, implica em raridade. O enunciado refere-se, pois, ao efetivamente dito, embora este não seja imediatamente perceptível, por se encontrar na inter-relação entre redes de signos, sempre articulado mediante frases, proposições, imagens em uma diversidade de formas da linguagem verbal e não-verbal. Ou seja, os enunciados não se confundem com palavras, frases, proposições, imagens, mas podem ser extraídos delas. Portanto, a investigação enunciativa só pode se referir a coisas ditas efetivamente, a frases que foram pronunciadas ou escritas, a elementos significantes que foram traçados ou articulados, mantendo-se fora de qualquer interpretação. (FOUCAULT, 2000, p. 126). Quanto à formação discursiva, Foucault afirma que sempre que se puder descrever, entre um certo número de enunciados, semelhante sistema de dispersão, e no caso em que entre os objetos, os tipos de enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, se puder definir uma regularidade (uma ordem, correlações, posições, funcionamentos, transformações) diremos, por convenção, que se trata de uma formação discursiva (2000, p. 43). Compreende-se, pois, a formação discursiva como um feixe complexo de relações que funcionam como regra e prescreve o que deve ser correlacionado em uma prática discursiva, para que se refira a certos objetos, empregue certa enunciação, utilize determinado conceito e organize determinada estratégia. Percebe-se, pois, que o que é descrito como formação discursiva consiste nos grupos de enunciados, ou seja, no conjunto de performances verbais que, mesmo dispersas, repartem regularmente aquilo de que falam no âmbito de um regime geral a Maria do Carmo de Moura Silva Soares & Ângela Maria Dias Fernandes 7086 A Análise da Política Curricular em uma Perspectiva Discursivo-Cultural que obedecem e que demarca sua singularidade em meio à multiplicidade, estando sempre em relação com determinados campos de saber. Definir em sua individualidade singular um sistema de formação é, assim, caracterizar um discurso ou um grupo de enunciados pela regularidade de uma prática. O campo de busca da análise consiste, pois, nas formações e nas práticas discursivas. Estas compreendidas como um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre determinadas no tempo e no espaço, que definiram, em uma dada época e para uma determinada área social, econômica, geográfica ou lingüística, as condições de exercício da função enunciativa (FOUCAULT, 2000, p. 136). Nessa perspectiva de análise, o lugar não funda, nem dá origem ao enunciado. Desconstrói-se a idéia de que uma obra específica, um livro em particular, um autor individual dá conta de uma formação discursiva. O corpus da análise, não se resumindo a um livro ou a um conjunto de obras de um autor, em um determinado período, consiste em um conjunto de enunciados dispersos e singulares, descontínuos e regulares, que estabelecem relações entre si mediante todo um campo enunciativo. Segundo Deleuze (1991), a idéia de enunciado posta por Foucault pressupõe três espaços, a saber, o espaço colateral, o espaço correlativo e o espaço complementar. O primeiro espaço, o colateral, é formado por outros enunciados que fazem parte do mesmo grupo. O que forma um grupo ou família de enunciados é a coexistência de outros enunciados anteriores, posteriores e simultâneos, dispersos, mas regulares. São estes que constituem uma formação discursiva. As formações discursivas configuram-se como um conjunto de regras para uma prática discursiva. Em outros termos, corresponde a um feixe complexo de relações que funcionam como regra: este prescreve o que deve ser correlacionado em uma prática discursiva, para que esta se refira a tal ou qual objeto, para que empregue tal ou qual enunciado, para que utilize tal ou qual conceito, para que organize tal ou qual estratégia (FOUCAULT, 2000, p. 82). O segundo espaço, denominado de correlativo trata da relação do enunciado, não mais com outros enunciados, mas com seus sujeitos, seus objetos, seus conceitos. No entanto, na análise foucaultiana não há a vinculação do discurso, do que foi dito, ao sujeito concreto, individual. Foucault “situa os lugares do sujeito na espessura de um murmúrio anônimo” (DELEUZE, 1991); nesta, o sujeito é uma posição e descrever uma Maria do Carmo de Moura Silva Soares & Ângela Maria Dias Fernandes 7087 A Análise da Política Curricular em uma Perspectiva Discursivo-Cultural formulação, enquanto enunciado, consiste em “determinar qual é a posição que pode e deve ocupar todo indivíduo para ser sujeito”. (FOUCAULT, 2000, p. 109). Trata-se de uma impessoalidade que desconstrói a idéia do “eu” que produz o discurso. Portanto o discurso não tem uma autoria individual, é produto de uma rede concreta, e por isso, não há a preocupação em se estabelecer uma vinculação ontológica entre o que foi dito e quem o disse, por que quem profere o discurso não é, precisamente, o autor do discurso. As coisas ditas são possibilitadas por um conjunto de condições histórico-sociais (instituições, condições de um tempo, tradições, práticas culturais, etc.). Desse modo, a análise dos enunciados não coloca a questão de quem fala, mas situa no nível do “diz-se”; não como uma espécie de opinião comum, representação coletiva ou uma grande voz anônima, falando através dos discursos de cada um, mas como o conjunto de coisas ditas, as relações, as regularidades e as transformações que podem ser observadas aí, o domínio do qual certas figuras e certos entrecruzamentos indicam o lugar singular de um sujeito e podem receber o nome de um autor. O que importa não é quem fala, mas que o que ele diz não é dito de qualquer lugar e é considerado no jogo de uma exterioridade. (FOUCAULT, 2000, p. 109). Portanto, o sujeito do enunciado não é aquele que emite o signo, aquele que profere o discurso, nem o signatário do texto. O sujeito do enunciado é uma função neutra, por que pode ser assumida por indivíduos distintos e indiferentes, ao formularem os enunciados dispersos e descontínuos, no âmbito das formações discursivas. Há, portanto, um deslocamento do foco, que sai do ator para as formações discursivas, que são construídas para organizar e produzir subjetividades, através do discurso. Quanto ao objeto da análise, este é discursivo e deriva do próprio enunciado, não se submetendo a um referente. Na proposta foucaultiana, a realidade empírica – coisas, fatos, seres concretos, contexto – consistem em um cenário importante, por que possibilitam que novos objetos de enunciados apareçam no campo discursivo. No entanto, esses elementos empíricos não constituem o referencial, pois o referencial do enunciado consiste na condição, no campo de emergência, a instância de diferenciação das relações que são postas em jogo pelo próprio enunciado e não pela situação do sujeito falante (contexto, núcleo psicológico). Maria do Carmo de Moura Silva Soares & Ângela Maria Dias Fernandes 7088 A Análise da Política Curricular em uma Perspectiva Discursivo-Cultural O interesse da análise em questão não é descrever o contexto empírico, mas sim o contexto discursivo, o que se disse efetivamente ou o que não pôde ser dito, considerando os enunciados anteriores e paralelos que circulam nas diversas práticas e formações discursivas e que definem a condição de existência do que está posto nos discursos. Em relação aos conceitos, estes constituem os esquemas discursivos próprios a uma formação discursiva. O que permite delimitar o grupo de conceitos é a maneira como os elementos pertencentes a uma formação discursiva estão organizados, o que possibilita descrever sua dispersão anônima através de textos, livros e obras. Os conceitos permitem estabelecer distinção entre os enunciados, proporcionando identificar a especificidade que os remete a uma determinada formação discursiva. Enfim, o terceiro espaço, o complementar, ou de formações não-discursivas, corresponde a um cenário determinado sem o qual os objetos de enunciados não poderiam aparecer. Na visão foucaultiana, os processos histórico-sociais, que envolvem os aspectos políticos, econômicos e culturais, são apresentados como um cenário importante, por que possibilitam que novos objetos de enunciados apareçam no campo discursivo, mas não é este o objeto da análise. Sendo assim, a relação do discursivo com o não-discursivo busca identificar qual a participação desses aspectos não discursivos na inserção de objetos de enunciados no discurso, com a intenção de realçar o domínio da existência e funcionamento de uma prática discursiva num determinado momento histórico. Não se trata, portanto, de buscar estabelecer, uma relação de causa e efeito, nem de simultaneidade ou reciprocidade entre os aspectos sócio-político, econômico e cultural e a forma de dizer no domínio do discurso. Neste caso, o aspecto não discursivo torna-se importante, à medida que possibilita a emergência de elementos que serão objetos de enunciados no discurso. Foucault (2007) dispõe ainda a sua análise em dois conjuntos: o crítico e o genealógico. O primeiro, o crítico, trata das funções de exclusão e os sistemas de interdição da linguagem, de recobrimento do discurso, procurando cercar as formas de exclusão, da limitação, da apropriação (...); mostrar como se formaram, para responder a que necessidades, como se modificaram e se deslocaram, que força exerceram efetivamente, em que medida foram contornadas. (FOUCAULT, 2007, p. 60). Maria do Carmo de Moura Silva Soares & Ângela Maria Dias Fernandes 7089 A Análise da Política Curricular em uma Perspectiva Discursivo-Cultural Nessa perspectiva de investigação, observam-se os processos de construção do discurso, fazendo-se uma análise dos enunciados presentes no mesmo, tendo em vista perceber por que determinados enunciados são colocados de uma forma e não de outra, a fim de compreender as condições de existência ou não desses enunciados. O segundo conjunto, o genealógico, trata da formação efetiva dos discursos procurando apreendê-lo em seu poder de afirmação, de constituir domínios de objetos, a partir dos quais se poderia negar ou afirmar proposições, seja no interior dos limites do controle, seja no exterior, seja a maior parte das vezes, de um lado e de outro da delimitação. As duas possibilidades de análise, a crítica e a genealógica, não são totalmente separáveis, sendo por vezes simultâneas e complementares. A diferença não é da ordem do objeto ou do domínio, mas sim da perspectiva e da delimitação da análise. (id., 2007, p. 67). Enquanto o crítico analisa não somente os processos de rarefação, mas também de reagrupamento e de unificação dos discursos; o genealógico estuda sua formação ao mesmo tempo dispersa, descontínua e regular. 5 Considerações finais A perspectiva teórico-metodológica apresentada propõe analisar a política curricular enquanto discurso. Tal proposta é justificada, pois, ao se considerar a premissa de que os textos e os documentos oficiais não consistem, apenas, em um conjunto de palavras e frases organizadas, desprovidas de implicações políticas, mas que estes em inter-relação constituem discurso(s). O discurso curricular consiste em diretrizes revestidas de relações de poder e, como tal, são apresentadas para “direcionar os sistemas de ensino na formação e atuação dos profissionais da Educação Básica do Estado” (BCC-PE, 2008). Na citação anterior, retirada da Base Curricular Comum de PE para as redes públicas de ensino do Estado, fica nítido, pois, que os documentos enunciam, mediante o discurso, as coordenadas, no sentido de posicionar os sujeitos da educação no âmbito do contexto educacional e social. Ao se enveredar pelo caminho restrito das coisas ditas e escritas, percebe-se que o enunciado da política curricular é produzido na complexidade das inter-relações Maria do Carmo de Moura Silva Soares & Ângela Maria Dias Fernandes 7090 A Análise da Política Curricular em uma Perspectiva Discursivo-Cultural enunciativas que ocorrem no âmbito das diversas ordens discursivas, com a participação decisiva das comunidades epistêmicas. Fica nítido, pois, o poder enunciativo do discurso político, jurídico e pedagógico na produção e constituição do discurso curricular. Sendo assim, para a sistematização da análise discursiva de uma política curricular, torna-se importante lançar mão de textos e documentos que se tornaram referência para o campo historiográfico educacional, considerando-se as marcas política, jurídica ou educacional predominantes, bem como as formações e práticas discursivas articuladas. Para tanto, faz-se necessário investigar os documentos e textos relacionados ao objeto de estudo, atuais e anteriores, seguindo a direção apontada pelos enunciados que vão surgindo, a fim de percorrer seus caminhos em sua dispersão e descontinuidade, tendo em vista perceber sua regularidade. Nesse processo, as construções lingüísticas precisam ser mapeadas conceitualmente, porque descrevem mudanças na forma como os objetos da vida social são discursivamente construídos. Nessa perspectiva, está incluída na análise discursiva a identificação dos pressupostos filosóficos, sociológicos e pedagógicos que fundamentam e norteiam a política curricular, com o intuito de perceber que vontades de verdade de ordem epistêmica estão postas no discurso curricular que circula, disseminando-se no sistema educacional. A preocupação central da pesquisa consiste, pois, em identificar os conceitos, as categorias e as idéias, articuladas pelo discurso curricular, a fim de compreender de que forma esse discurso é definido e define as práticas e as ações dos sujeitos da educação (educadores e educandos), sem perder de vista que esses discursos não apenas produzem subjetividades, mas também são produzidos pelos sujeitos. Ou seja, mediante a análise do discurso, pretende-se perceber que subjetividades estão sendo articuladas na política curricular, tendo em vista que o discurso constitui e é constituído por sujeitos que, por sua vez, constituem as identidades sociais e a sociedade. Nessa perspectiva, a análise da política curricular é engendrada, pois, a partir da concepção de que o currículo consiste em um terreno de produção e de política cultural, no qual os materiais existentes funcionam como matéria-prima de criação, recriação e, sobretudo, de contestação e transgressão. (MOREIRA e SILVA, 1995, p. 28). Maria do Carmo de Moura Silva Soares & Ângela Maria Dias Fernandes 7091 A Análise da Política Curricular em uma Perspectiva Discursivo-Cultural Portanto, será realizada na perspectiva de desvelar como o discurso curricular foi constituído, bem como de que forma este interfere na constituição do que somos, enquanto sujeitos. Ou melhor, ir mais além, no intuito de compreender como podemos nos tornar diferentes do que somos, bem como possibilitar ao outro ser diferente do que é, mediante o desvelar dos enunciados e a partir da análise do discurso curricular empreendida. Pois acreditamos que onde há poder, há resistência; onde há discurso, há a possibilidade do discurso da resistência e da transgressão. REFERÊNCIAS BALL, S. J. Big policies/small world: an introduction to international perspectives in education policy. Comparative Education, Penn State, v. 34, n. 2, p. 119-130. 1998. ________. What is policy? Texts, trajectories and toolboxes. Discourse, London, v. 13, n. 2, p. 10-17, 1993. BERNSTEIN, B. A estruturação do discurso pedagógico: classe, códigos e controle. Petrópolis: Vozes, 1996. CARLOS, Erenildo João. O discurso sobre a educação de jovens e adultos: uma possibilidade de análise na perspectiva foucaultiana. In: VASCONCELOS, José Geraldo. MAGALHÃES JR, Antônio Germano. (Orgs). Um dispositivo chamado Foucault. Fortaleza: LCR, 2002. COSTA, M. V., Currículo e política cultural. In: COSTA, M. V. (Org). O Currículo nos limiares do contemporâneo. Rio de Janeiro: DP&A, 1999. ________. Poder, discurso e política cultural: contribuições dos Estudos Culturais ao campo do currículo. In: LOPES, A.; MACEDO, E. Currículo: debates contemporâneos. São Paulo: Cortez, 2005. DELEUZE, G. Foucault. São Paulo: Brasiliense, 1991. DUSSEL, I. O currículo híbrido: domesticação ou pluralização das diferenças? In: LOPES, A.; MACEDO, E. Currículo: debates contemporâneos. são Paulo: Cortez, 2002. FOUCAULT, M. A Arqueologia do Saber. Trad. Luís Felipe Baeta Neves. 6 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000. ________. A Ordem do Discurso. Trad. Laura Fraga de Almeida Sampaio. 15 ed. São Paulo: Edições Loyola, 2007. Maria do Carmo de Moura Silva Soares & Ângela Maria Dias Fernandes 7092 A Análise da Política Curricular em uma Perspectiva Discursivo-Cultural ________. Michel. Microfísica do poder. Trad. Roberto Machado. 23 ed. Rio de Janeiro: Edições Graal, 2008. ________. As palavras e a coisas: uma arqueologia das ciências humanas. Trad. Salma Tannus Muchail. 8 ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999. GARCIA CANCLÍNI, N. Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. São Paulo: EDUSP, 1998. GREGOLIN, Maria do Rosário. Foucault e Pêcheux na análise do discurso – diálogos e duelos. 2 ed. São Carlos: Editora Claraluz, 2006. HALL, Stuart. A Identidade Cultural na Pós-modernidade. 11 ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2006. _________. A centralidade da cultura: notas sobre a revolução do nosso tempo. Educação e Realidade, v. 22, nº 2. p. 15-40, 1997. KROEBER, Alfred. O superorgânico. In.: PIERSON D. (Org). Estudos de organização social. São Paulo: Livraria Martins Editora, 1950. LARAIA, Roque de B. Cultura: um conceito antropológico. 14. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001. LOPES, A. C. Discursos nas políticas de currículo. Currículo sem Fronteiras, v. 6, n.2, pp. 33-52, Jul/Dez 2006. ________. Discursos curriculares na disciplina escolar Química. Ciência e Educação. v. 11, n. 2, p. 263-278, 2005. ________. Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino médio e a submissão ao mundo produtivo: o caso do conceito de contextualização. Educ. Soc., Campinas, vol. 23, n. 80, setembro / 2002. Disponível em http://www.scielo.br/pdf/es/v23n80/12938.pdf Acesso em: 28/05/2009. LOPES, A. C.; MACEDO, E. O pensamento curricular no Brasil. In: LOPES, A. C; MACEDO, E. (orgs.) Currículos: debates contemporâneos. 2ª ed. São Paulo: Cortez, 2005. MOREIRA, A. F. B, SILVA, T. T Sociologia e Teoria Crítica do Currículo: uma introdução. In: MOREIRA, A. F. B, SILVA, T. T. (orgs) Currículo, cultura e sociedade. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1995. PERNAMBUCO. Secretaria de Educação. Base Curricular Comum para as Redes Públicas de Ensino de PE: Língua Portuguesa. Recife: SE, 2008. Maria do Carmo de Moura Silva Soares & Ângela Maria Dias Fernandes 7093 A Análise da Política Curricular em uma Perspectiva Discursivo-Cultural POPKEWITZ, Thomas S. História do Currículo, Regulação Social e Poder. Trad. Tomás Tadeu da Silva. In: SILVA, Tomaz Tadeu da. (Org.) O Sujeito da Educação – Estudos Foucaultianos. Petrópolis: Vozes, 2002. SANTOS. B. S.; NUNES, J. A. Introdução: para ampliar o cânone do reconhecimento, da diferença e da igualdade. In: SANTOS, B. S. (org.). Reconhecer para libertar – os caminhos do cosmopolitismo cultural – pp. 25-68. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. Maria do Carmo de Moura Silva Soares & Ângela Maria Dias Fernandes 7094 IV COLÓQUIO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS E PRÁTICAS CURRICULARES “DIFERENÇA NAS POLÍTICAS DE CURRÍCULO” PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DE SÃO PAULO: RETORNO DO DISCURSO REGULATIVO DA TYLERIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO PÚBLICA Maria Izaura Cação JOÃO PESSOA - PB - BRASIL 10 A 13 DE NOVEMBRO DE 2009 Proposta Curricular do Estado de São Paulo: retorno do discurso regulativo da tylerização na educação pública PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DE SÃO PAULO: RETORNO DO DISCURSO REGULATIVO DA TYLERIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO PÚBLICA Maria Izaura Cação Faculdade de Filosofia e Ciências – UNESP - Marília RESUMO: O ensaio analisa como inovações e reformas educativas afetam a construção curricular na escola pública. Busca refletir se a Proposta Curricular do Estado de São Paulo preserva a autonomia e identidade das escolas; respeita seu projeto político-pedagógico, sem buscar homogeneizá-las; como altera o cotidiano escolar, o trabalho docente, as relações interpessoais e de poder. Parte do pressuposto de que ela adota princípios das reformas educacionais iniciadas em meados de 1990 mediante: adoção de currículos nacionais; introdução de mecanismos de mercado, gerando fragilização da representatividade da categoria docente e sua desprofissionalização; relativização do papel do estado; estímulo a parcerias públicoprivado, na gestão e financiamento do ensino e implantação de sistemas de avaliação externa; enquanto o discurso oficial prega descentralização; gestão democrática; participação da comunidade. Alguns princípios são recorrentes às reformas curriculares: ênfase na sociedade do conhecimento, pedagogia das competências e do aprender a aprender. Desse modo, entende-se que a proposta visa à homogeneização do conhecimento escolar e das práticas curriculares, encerrando a noção de currículo como produto. Considera que a recenticidade e relevância das medidas implantadas requererem pesquisa aprofundada, o que a autora iniciará em 2010. PALAVRAS-CHAVE: Retylerização do currículo. Projeto político-pedagógico. Trabalho docente alienado. Discurso regulativo. 1. INTRODUÇÃO: currículo como projeto político-pedagógico Referindo-nos aos textos do currículo, devemos partir da idéia de que não constituem em si mesmos a terra prometida, mas podem ser um mapa melhor ou pior para sua busca. O problema é ter consciência de seu valor operativo limitado, lembrando que boa partitura não é música, nem o mapa é o terreno. É útil quando o texto que codifica a música é tomado por bons músicos e há bons instrumentos. Dar demasiada ênfase ao texto e não prestar atenção às condições e aos agentes da execução; subestimar o valor e o poder do texto; é pensar que, mais do que uma Maria Izaura Cação 7098 Proposta Curricular do Estado de São Paulo: retorno do discurso regulativo da tylerização na educação pública partitura, são fichas perfuradas do órgão em que o executante, com voltas regulares da manivela, converte mecanicamente em melodias. (SACRISTÁN, 2007, p. 122) Este ensaio visa, do ponto de vista da pesquisadora e docente na área de currículo e planejamento educacional, refletir e lançar alguns questionamentos ainda iniciais sobre como as inovações e/ou reformas educativas afetam e de que forma o fazem na construção cotidiana do currículo das escolas públicas, considerando que reforma ou inovação não se configuram em políticas educacionais, mas em mediação para a efetivação das mesmas. Em nenhum período da história da educação atribuiu-se tamanha importância às políticas e propostas curriculares ou debateu-se tanto sobre o campo do currículo como a partir da segunda metade do século XX. Etimologicamente currículo (latim currere) significa caminho, jornada, trajetória, percurso a ser seguido, e encerra duas idéias essenciais: de seqüência ordenada e noção de totalidade de estudos. Silva (1999, p. 21) aponta que a emergência desse campo de estudo e da palavra modernamente conhecida liga-se à organização das experiências educativas. Entendido como rol de disciplinas ou conteúdo a ser ministrado, atualmente apresenta múltiplas definições contraditórias, que oscilam entre uma concepção restrita: “são as disciplinas de estudo”, e outras onde se opera ampliação do conceito e do significado: “currículo é o ambiente em ação”. Ou seja, currículo pode ser tudo ou nada, o que pode colocar em risco a especificidade e a efetividade da ação docente. O que o texto da Proposta Curricular do Estado de São Paulo (2008) pode revelar-nos sobre essas múltiplas apropriações? Atualmente na berlinda, o currículo converteu-se em objeto de debate e de disputa entre diferentes concepções, uma vez que sua visibilidade e importância cresceram em escala internacional nas últimas décadas, com traços e tendências bastante semelhantes. (CAMPOS, 2008) Ora, o currículo não é um conceito, mas construção social; itinerário formativo, organização e articulação interna de um curso de estudos no seu conjunto, no âmbito do qual devem colocar-se organicamente os currículos específicos, tendo em vista o projeto político-pedagógico construído pela escola, o orientador e organizador de todas as práticas educativas que se desenvolvem no interior da instituição escolar. É ele que Maria Izaura Cação 7099 Proposta Curricular do Estado de São Paulo: retorno do discurso regulativo da tylerização na educação pública confere organicidade, sentido e o horizonte a ser atingido pela totalidade dos agentes educacionais, considerando as finalidades da educação, a filosofia e objetivos da escola. (PONTECORVO, 1985; GRUNDY, 1987; SACRISTÁN, 2000) É uma prática na qual se estabelece um diálogo entre agentes sociais, elementos técnicos, alunos que reagem à prática da função socializadora e cultural da escola (SACRISTÁN, 2000), num dado período e que se consubstancia no projeto políticopedagógico. Currículo é, então, práxis, não objeto estático a emanar de um modelo coerente de pensar a educação ou de um currículo prescrito, formal. Ao definir currículo estamos descrevendo a concretização das funções socializadoras e culturais de uma escola, em sua forma particular de visualizá-las num determinado momento histórico, político, econômico, social, para um determinado curso ou modalidade de educação, em uma trama institucional, concretizada no projeto político-pedagógico que a escola constrói e lhe confere identidade. Como projeto embasado num plano construído e ordenado, relaciona a conexão entre determinados princípios e a realização dos mesmos. É um campo prático complexo a modelar-se num sistema de ensino concreto, dirige-se a determinados professores e alunos de uma determinada escola, com suas características específicas, numa dada região do país, num dado local, utiliza-se de determinados meios, cristalizase num contexto que confere o seu significado real. Ele não existe em abstrato. Partindo do princípio de que as escolas públicas, mesmo ao participarem da mesma problemática, não são iguais, cabe à equipe diretiva organizar a ação pedagógica da escola, buscando a autonomia do fazer educacional e pensando coletivamente a prática, sem perder de vista o vínculo entre ação-reflexão-ação, característica das atividades humanas. Isso não significa buscar uma única forma, um modelo universal de organizar o trabalho nas escolas, mas, a busca da identidade de cada uma delas. A partir da promulgação da LDB – Lei n. 9394/96, legalmente cabe à escola incumbir-se de elaborar e executar sua proposta pedagógica. A Secretaria de Estado da Educação de São Paulo utiliza a expressão proposta pedagógica, considerando que a esta deve expressar a busca da qualidade de formação a ser oferecida a todos os alunos, como exercício de cidadania, a exigir “o acesso de todos à totalidade dos recursos Maria Izaura Cação 7100 Proposta Curricular do Estado de São Paulo: retorno do discurso regulativo da tylerização na educação pública culturais relevantes para intervenção e participação responsável na vida social.” (SÃO PAULO, 2000, p. 10) A variedade terminológica dificulta o pleno entendimento, por parte dos profissionais da educação, do que vem a ser o projeto político-pedagógico. Ao detalhar as incumbências das escolas e docentes, a LDB faz distinção entre proposta pedagógica, plano de trabalho e projeto pedagógico. O Artigo 12 refere-se à proposta pedagógica; o 13 menciona a elaboração e execução do plano de trabalho docente “segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino” (BRZEZINSKI, 1997, p. 211), enquanto o Artigo 14 utiliza projeto pedagógico como sinônimo de proposta pedagógica. Utilizamos a denominação projeto político-pedagógico (PPP) por considerar que esta expressa com organicidade, visão totalizante e totalizadora o trabalho desenvolvido pela escola, ao traçar seus rumos; sua política; sua visão de mundo, de homem, de sociedade, da educação; seus princípios norteadores; seus objetivos; sua identidade; metas e ações. É político ao partir da visão da escola como organização social e do tipo de homem, de cidadão que quer formar e para qual sociedade; pedagógico ao definir as ações educativas necessárias para mudar a realidade, com qualidade de ensino. Assim, pensamos o projeto político-pedagógico como um articulador da ação educativa da escola, não como algo a mais que a ela se coloca, mas como instrumento teórico-metodológico que visa auxiliá-la a enfrentar os desafios cotidianos, de modo reflexivo, consciente, sistematizado, totalizante, orgânico e participativo. É metodologia de trabalho a possibilitar a ressignificação das ações dos agentes educacionais: ao caracterizar-se pela busca de um rumo, de uma direção, carrega em si um compromisso coletivamente definido. 2. REFORMAS E INOVAÇÕES EDUCACIONAIS DE CUNHO NEOLIBERAL É no contexto apresentado que devemos pensar o lugar e a função das inovações no cotidiano das práticas pedagógicas, em consonância com os objetivos traçados pelo projeto político-pedagógico elaborado pela escola. Maria Izaura Cação 7101 Proposta Curricular do Estado de São Paulo: retorno do discurso regulativo da tylerização na educação pública Ante essas considerações, como compreender as Propostas curriculares do Estado de São Paulo, ora em vigor na totalidade das escolas da rede pública estadual? Em que medida preservam a autonomia e a identidade das escolas, respeitam seu projeto político-pedagógico, sem buscar homogeneizá-las? Como e em que medida alteram o cotidiano escolar? O trabalho pedagógico? As relações interpessoais e de poder? Discutiremos, então, o teor da Proposta Curricular do Estado de São Paulo (FINI, 2008) como reflexo das reformas educativas de cunho neoliberal, emanadas de governos que se regem pelos princípios do Banco Mundial e de outros organismos internacionais, pautadas, portanto, nos pressupostos da globalização econômica, sob a égide do capital, mediante adoção de políticas intensificadas a partir dos três últimos decênios do século XX e que transcendem os limites geográficos entre as nações. Assim, as reformas educacionais são empreendidas em diferentes países, Brasil incluído, visando “ajustar” a escola à nova conjuntura do processo de acumulação capitalista; às novas demandas da economia, da cultura, da sociedade cada vez mais midiática, hedonista e imediatista. Nesse sentido, a valorização da educação na perspectiva da sociedade de classes na atual fase de reestruturação do capitalismo é acompanhada pelo esvaziamento da educação escolar, desintelectualização do professor, precarização, aligeiramento, fragmentação da formação inicial e esvaziamento do conteúdo no processo de formação docente, com a prevalência das chamadas teorias pós-modernas, aí inclusa a pedagogia das competências. (CAMPOS, 2002; DUARTE, 2003; KUENZER, 1999; MORAES e TORRIGLIA, 2003) Dentre os pressupostos norteadores comuns a essas reformas, destacamos: adoção de currículos nacionais, cujos parâmetros direcionam os critérios avaliativos; introdução de mecanismos de mercado, como a premiação das escolas por “produtividade” e o estabelecimento da competitividade entre as organizações escolares e entre os docentes, uma vez que critérios de promoção na carreira e de aumentos salariais baseiam-se em metas predeterminadas, gerando a pulverização e fragilização da representatividade da categoria docente, enquanto incentivam-se, via discurso oficial, a descentralização, gestão democrática e participação da comunidade. Relativiza-se o papel do estado, redirecionando-o, como condição para a eficiência e produtividade; estimulam-se escolas cooperativas, parcerias público-privado, na gestão e financiamento Maria Izaura Cação 7102 Proposta Curricular do Estado de São Paulo: retorno do discurso regulativo da tylerização na educação pública do ensino, mediante, inclusive, a criação jurídica do “público não estatal” e implantamse os sistemas de avaliação externa do ensino. Alguns princípios recorrentes dão a tônica a essas inovações/reformas educacionais e curriculares: a ênfase na sociedade do conhecimento, na pedagogia das competências e do aprender a aprender. Dessa forma, entendemos que a proposta paulista visa à homogeneização do conhecimento escolar e às práticas curriculares, carregando a noção de currículo como produto acabado, como fato (ou artefato) (PACHECO; PEREIRA, 2007), o que caracterizaria, no limite, um retorno ao paradigma técnico-linear (MACDONALD, 197; DOMINGUES, 1986), às proposições de Tyler (1974), ainda que sob nova roupagem, muito mais sofisticada, inclusive no plano teórico-metodológico e ideológico. Com a mesma lógica instrumental e normativa, os professores são expropriados do seu legítimo papel de construtores da prática docente e, consequentemente, do currículo, para se tornarem executores de um projeto concebido nos gabinetes da Secretaria da Educação paulista. Sobre este processo, podemos concordar com Pacheco e Pereira (2007), ao afirmarem que os professores trabalham projetos “num ritual de cumprimento de macrodecisões, mesmo que a sua justificação seja feita na base da autonomia das escolas e de identidades curriculares locais”. (p. 371) 3. PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DE SÃO PAULO: “São Paulo faz escola”? Com esta nova Proposta Curricular, daremos também subsídios aos profissionais que integram nossa rede para que se aprimorem cada vez mais. [...] Mais do que simples orientação, o que propomos com a elaboração da Proposta Curricular e de todo o material que a integra, é que nossa ação tenha um foco definido. Apostamos na qualidade da educação. Para isso, contamos com o entusiasmo e a participação de todos. (Carta da Secretária, apud FINI, 2008, p. 6) Fruto da recente reforma curricular empreendida pela Secretaria de Estado da Educação – SEE/SP, a Proposta Curricular do Estado de São Paulo faz parte de um conjunto de medidas adotadas pelo governo Serra com relação à educação básica, alterando o cotidiano das escolas públicas estaduais a partir de 2008, com o lançamento do programa “São Paulo faz escola”. Maria Izaura Cação 7103 Proposta Curricular do Estado de São Paulo: retorno do discurso regulativo da tylerização na educação pública Dentre outros dispositivos do programa, por meio da Resolução n. 92, a Secretária da Educação, em 19 de dezembro de 2007, “estabelece diretrizes para a organização curricular do ensino fundamental e médio nas escolas estaduais”, considerando como necessárias: a reorganização curricular da educação básica como uma das ações viabilizadoras das metas de melhoria do processo educacional paulista; - a implementação, em 2008, das propostas curriculares de ensino fundamental e médio organizadas por esta Pasta; - a necessidade de se estabelecer diretrizes que orientem as unidades escolares na montagem das matrizes curriculares desses níveis de ensino, [...] (SÃO PAULO, 2007, p. 196) Na Carta de apresentação da Proposta Curricular, a secretária argumenta: A criação da Lei de Diretrizes e bases (LDB), que deu autonomia às escolas para que definissem seus próprios projetos pedagógicos, foi um passo importante. Ao longo do tempo, porém, essa tática descentralizadora mostrou-se insuficiente. Por esse motivo, propomos agora uma ação integrada e articulada, cujo objetivo é organizar melhor o sistema educacional de São Paulo. (FINI, 2008, p. 6) Seguindo esta lógica, a SEE/SP investe contra a autonomia das escolas, ao centralizar as decisões curriculares, ainda que afirme o contrário, e mais, “no intuito de fomentar o desenvolvimento curricular”, a Secretaria toma duas iniciativas complementares: “realizar amplo levantamento do acervo documental e técnico pedagógico existente.” (p. 8) e [...] iniciar um processo de consulta a escolas e professores, para identificar, sistematizar e divulgar boas práticas existentes nas escolas de São Paulo. Articulando conhecimento e herança pedagógicos com experiências escolares de sucesso, a Secretaria pretende que esta iniciativa seja, mais do que uma nova declaração de intenções, o início de uma contínua produção e divulgação de subsídios que incidam diretamente na organização da escola como um todo e nas aulas. (FINI, 2008, p. 8) Entretanto, este sedutor discurso não correspondeu à prática real: as escolas não tiverem oportunidade de opinar sobre os pressupostos e as necessidades de implantação de uma nova proposta curricular, sequer foram consultadas sobre suas experiências exitosas ou mesmo sobre as condições concretas de trabalho para o desenvolvimento dessas inovações. Uma vez mais, docentes, gestores e estudantes foram desconsiderados. Os docentes, novamente, viram-se alijados dos processos de tomada Maria Izaura Cação 7104 Proposta Curricular do Estado de São Paulo: retorno do discurso regulativo da tylerização na educação pública de decisões a eles diretamente afetas. Expropriados dos meios de produção de seu trabalho e do seu saber, tornam-se executores reincidentes. Assim, viram seu cotidiano ser totalmente alterado ao serem obrigados a atender às novas diretrizes e metas definidas pela SEE, mediante a adoção compulsória do JORNAL DO ALUNO, no início do ano letivo de 2008. Dessa forma, a ingerência direta da SEE/SP sobre a organização do trabalho docente no interior das escolas, obrigou-as a abandonar ou a “contornar” objetivos, metas e atividades propostas em seu PPP e trabalhar com o material didático elaborado pela SEE, o JORNAL DO ALUNO, nos meses de fevereiro e março, visando recuperar conteúdos, sobretudo de Língua Portuguesa e Matemática e sanar defasagens. Ao final deste bimestre, a SEE/SP realizou uma avaliação centralizada Após esse período introdutório, a cada bimestre o professor recebeu material didático denominado CADERNO DO PROFESSOR, que, à guisa de subsídio pedagógico ao seu trabalho, detalhava para cada disciplina os conteúdos tidos como necessários e a metodologia a ser utilizada. Posteriormente, esses conhecimentos foram “cobrados” em avaliação realizada pela SEE, assim como pelas avaliações externas: SAEB (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica); SARESP (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo); ENEM (Exame Nacional de Ensino Médio). 4. DO TEOR DA PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DE SÃO PAULO 4.1 Antecedentes Para a SEE, o envio à totalidade das escolas da Proposta Curricular do Estado de São Paulo foi mais do que uma declaração de intenções, sua meta era “garantir a todos uma base comum de conhecimentos e competências [...].” Seu objetivo é muito claro: dar início a “uma contínua produção e divulgação de subsídios que incidam diretamente na organização da escola como um todo e nas aulas.” (FINI, 2008, p. 8) Assim, o texto deixa bastante elucidado o pressuposto de que a autonomia construída pelas e nas escolas não foi positiva para a qualidade de ensino, o que, aliás, é confirmado pela Secretária da Educação, Maria Helena Guimarães de Castro, em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, e mais, que a organização do trabalho docente, Maria Izaura Cação 7105 Proposta Curricular do Estado de São Paulo: retorno do discurso regulativo da tylerização na educação pública direito e competência, inclusive legais, que cabem à escola não mais serão afetos a ela, pois esta passará a ser “tutelada”. Do ponto de vista pedagógico, identificamos que tínhamos uma grande fragmentação. Cada escola fazia uma coisa [...]. Ficou provado que essa plena autonomia didático-pedagógica não era boa, levou a uma queda da qualidade. A progressão continuada não é o problema. [...] Estamos enfrentando a desorganização pedagógica com várias ações, que já estão em andamento, como a criação de um currículo para todas as séries e disciplinas e as expectativas de aprendizagem. Ou seja, as escolas agora sabem o que devem ensinar aos alunos. Não significa que a escola não tenha autonomia. Ela continua escolhendo seus livros e seu projeto pedagógico. Mas isso tem que seguir os conteúdos básicos. (TAKAHASHI, 2008, p. A 18). Ora, o conceito de autonomia não pressupõe a independência ou exclusão da escola de um sistema ou rede de ensino, ao contrário, trata-se de conceito relacional. Somos sempre autônomos em relação a outros. (BARROSO, 1996; 1997) Como já a conceituava Vergnaud, em 1983, L autonomie peut, alors se definir comme l’espace de liberté et d’iniciative qui est laisseé à la collectivité scolaire dans le cadre de l’instituition à laquelle elle appartient – le service publique d’enseignement – pour affirmer sa personnalité, prendre em compte sés données spécifiques et répondre à sés propres besoins; c’est par son autonomie qui lui donne une vie personnalisée et affirmée, que la communauté scolaire peut exprimer de la meilleure maniére son appartenance au système éducatif et lui donner son efficacité. Une telle autonomie n’est donc ni l’indepéndance, ni l’isolemente, ni la sortie du système. (VERGNAUD, 1983, p. 11, apud BALLALAI, 1985 p. 43). Desse modo, tanto os órgãos centrais do sistema – Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas – CENP, Coordenadorias de Ensino: da Grande São Paulo e do Interior – COGSP e CEI -; Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE; como os setoriais – Diretorias Regionais de Ensino - DRE – devem assessorar as escolas de todas as formas possíveis: mediante visitas; esclarecimentos; publicação de textos teórico-metodológicos destinados a docentes e especialistas de ensino; assistência direta às escolas com dificuldades, por meio de seus assistentes técnico-pedagógicos, numa relação de mão dupla, e não deixá-las à própria sorte e depois culpá-las pela baixa qualidade de ensino da rede estadual Não fosse a Secretária da Educação acadêmica renomada, docente da UNICAMP, poderíamos incorrer em erro ao acreditar que sua concepção de autonomia é equivocada, no entanto, consideramos, sim, que se trata de um posicionamento Maria Izaura Cação 7106 Proposta Curricular do Estado de São Paulo: retorno do discurso regulativo da tylerização na educação pública ideológico para agradar a mídia e a opinião pública, ao conceder a citada entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, em 25 de fevereiro de 2008. Outro aspecto relevante da citada entrevista refere-se à questão da avaliação externa, outro princípio caro às reformas atuais e que tem tido importância fundamental nas políticas educacionais em curso, “constituindo-se em um dos elementos estruturantes de sua concretização [...].” (SOUSA, 2002) Assim a Secretária, ao ser indagada sobre o mecanismo de concessão de bônus às escolas e aos professores, mediante os resultados do SARESP, responde: Não estou querendo que a escola dê um salto no SARESP de um ano para outro. Mas qualquer avanço no SARESP ou melhora na estabilidade do quadro de professores terá impacto no índice. (TAKAHASHI, 2008a, p. A 18). Em debate posterior, promovido pelo mesmo jornal e publicado em 12 de março de 2008, “a política de premiar em dinheiro professores e funcionários de escolas que atingirem metas de qualidade foi alvo de polêmica [...]” (TAKAHASHI, 2008b, p. C 6) A Secretária, uma das participantes do debate a defender essa política, foi enfática: Vamos valorizar os bons profissionais, que são maioria na rede. O bônus, existente desde 2000, contabiliza basicamente a assiduidade dos professores. Vamos ampliálo, contando também o desempenho dos alunos no SARESP, a taxa de reprovação, evasão e a fixação dos professores na escola. [...] Quanto mais ela [a escola] se esforçar, mais a equipe será beneficiada, com incentivos concretos. (TAKAHASHI, 2008b, p. C 6) Ao que o professor José Marcelino de Rezende Pinto rebateu: “Sou contrário à política de bônus. A medida traz um pressuposto implícito de que o professor não ensina porque não quer. Isso não é verdade.” (TAKAHASI, 2008b, p. C 6) As avaliações externas preconizadas pelos documentos internacionais e nacionais retiram do Estado o poder de condução e execução das políticas públicas, para que ele assuma seu papel de avaliador. Para Sousa (2002), o SAEB, basicamente, possibilita ao Estado: compreender e intervir na realidade educacional; controlar os resultados; estabelecer parâmetros para comparação e classificação das escolas; estimular a escola e o aluno por meio da premiação via competição; dentre outros mecanismos. (SOUSA, 2002, p. 29-34) Maria Izaura Cação 7107 Proposta Curricular do Estado de São Paulo: retorno do discurso regulativo da tylerização na educação pública Consideramos que as avaliações externas não sejam um mal em si ou indesejáveis para os sistemas de ensino, pois estes devem tornar públicos seus resultados à sociedade, entretanto estas não devem constituir-se únicos critérios para a avaliação do trabalho do professor e da escola, desconsiderando outros fatores intervenientes do processo educativo. Igualmente, concordamos com afirmação de Sousa (2002) de que essa avaliação “não deve se traduzir na aplicação de testes de rendimento escolar.” (p. 34) 4.1 Do documento oficial: pressupostos teórico-metodológicos A autonomia para gerenciar a própria aprendizagem (aprender a aprender) e o resultado dela em intervenções solidárias (aprender a fazer e a conviver) deve ser a base da educação das crianças, dos jovens e dos adultos, que têm em suas mãos a continuidade da produção cultural e das práticas sociais. Construir identidade, agir com autonomia e em relação ao outro, e incorporar a diversidade são as bases para a construção de valores de pertencimento e responsabilidade, essenciais para a inserção cidadã nas dimensões sociais e produtivas. (FINI, 2008a, p. 11) O que a Secretaria de Educação paulista denomina Proposta Curricular compõe-se de vários documentos. Inicialmente, as escolas receberam o primeiro deles: PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, que contém, na Apresentação, os objetivos e seus princípios estruturantes: 1. 2. Uma educação à altura dos desafios contemporâneos. Princípios para um currículo comprometido com o seu tempo I. Uma escola que também aprende II. O currículo como espaço de cultura III. As competências como referência IV. Prioridade para a competência da leitura e da escrita V. Articulação das competências para aprender VI. Articulação com o mundo do trabalho. (FINI, 2008a, p. 7). Integra-a, ainda, um segundo documento: ORIENTAÇÕES PARA A GESTÃO DO CURRÍCULO NA ESCOLA, “dirigido especialmente às unidades escolares e aos dirigentes e gestores que as lideram e apóiam: diretores, assistentes técnicopedagógicos, professores coordenadores, supervisores.” (FINI, 2008, p. 8) Mais do que tratar da gestão curricular em geral, sua “finalidade específica” é: “apoiar o gestor para Maria Izaura Cação 7108 Proposta Curricular do Estado de São Paulo: retorno do discurso regulativo da tylerização na educação pública que seja um líder e animador da implementação desta proposta curricular nas escolas públicas estaduais de São Paulo.” (FINI, 2008, p. 9) Por último, compõem a Proposta os CADERNOS DO PROFESSOR, organizados por bimestre e por disciplina. Neles, são apresentadas situações de aprendizagem para orientar o trabalho do professor no ensino dos conteúdos disciplinares específicos. Esses conteúdos, habilidades e competências são organizados por série e acompanhados de orientações para a gestão da sala de aula, para a avaliação e a recuperação, bem como de sugestões de métodos e estratégias de trabalho nas aulas, experimentações, projetos coletivos, atividades extraclasse e estudos interdisciplinares. (FINI, 2008, p. 9) As próprias expressões gestão do currículo e gestão da sala de aula já apontam que o modelo burocrático de currículo (SACRISTÁN, 2000) subsidia a opção da SEE e que esta se filia, tardia e de forma mais sofisticada, ao paradigma técnico-linear, cujo maior expoente foi Tyler (1974) (MACDONALD, 1975; DOMINGUES, 1986), operando no sentido de uma retylerização. Esta expressão permitimo-nos emprestá-la de Pacheco e Pereira (2007), que assim a conceituam: Retorno a Tyler (back to Tyler), aceitando-se que o currículo é um plano, um dispositivo normativo definido pela administração, embora possa ser gerido pelos professores, desde que essa gestão seja controlada pelo currículo nacional e pela avaliação estandardizada. (PACHECO; PEREIRA, 2007, p. 372) Para Tyler, a educação “é um processo que consiste em modificar os padrões de comportamento das pessoas [...] num sentido lato que inclui pensamentos e sentimentos, além da ação manifesta.” (TYLER, 1974, p. 5). Na apresentação do seu opúsculo, o autor afirma que este visa desenvolver uma base racional para considerar, analisar e interpretar o currículo e o programa de ensino de uma instituição educacional. [...] Este livro apresenta, em linhas gerais, um modo de encarar um programa de ensino como instrumento eficiente de educação. (TYLER, 1974, p. 1). Em 1986, Domingues apontava: “a análise das propostas de Tyler permite verificar que o interesse subjacente é técnico, ou seja, de controle, e que seu paradigma é um paradigma técnico-linear de reação em cadeia [...]”. (DOMINGUES, 1986, p. 355) Maria Izaura Cação 7109 Proposta Curricular do Estado de São Paulo: retorno do discurso regulativo da tylerização na educação pública Quanto ao que Sacristán denomina modelo intervencionista e burocrático, em linhas gerais pode ser caracterizado pelos seguintes fatores, também presentes na Proposta Curricular do Estado de São Paulo: 1) A administração regula o currículo determinando conteúdos, aprendizagens que considera básicos e aspectos relacionados com a educação (hábitos, habilidades, atitudes, etc). [...] 2) A intervenção se produz igualmente na hora de propor sugestões metodológicas [...]. 3) O modelo administrativo de comunicação teoriaprática deixa nas mãos da burocracia a definição e a operacionalização de modelos pedagógicos [...]. 4) Por tudo isso, é um modelo desprofissionalizador do professorado1, ou no mínimo, duvidosamente profissionalizador. O papel dos professores fica relegado à concretização das diretrizes metodológicas em suas classes, vigiados e orientados [...]. A autonomia se circunscreve fundamentalmente aos aspectos metodológicos e às relações pessoais com os alunos. Tira-se deles a possibilidade de intervirem nas variáveis contextuais, culturais e organizativas. [...] 5) Produz-se uma relação unidirecional e individualista entre o professor e a burocracia que presta orientações precisas de ordem metodológica para realizar o ensino ‘adequado’. [...] As prescrições curriculares e as orientações metodológicas vão dirigidas ao professor que realiza sua prática pessoal [...]. Essa relação unidirecional reforça, por sua vez, uma ética profissional individualista que gera dependência e impede o desenvolvimento de espaços coletivos de profissionalização nas escolas.2 (SACRISTÁN, 2000, p. 140-143) Quanto à concepção de gestão do currículo, o Caderno do Gestor assim a define: “o conjunto de iniciativas que devem ser adotadas na instituição como um todo, para que o currículo proposto se transforme em currículo em ação nas situações de ensino e de aprendizagem.” (FINI, 2008b, p.2) Nesse sentido, o PPP é encarado como “um recurso efetivo e dinâmico para assegurar aos alunos a aprendizagem dos conteúdos e a constituição das competências previstas nesta Proposta Curricular.” (FINI, 2008a, p. 9) 5. QUESTÕES EM ABERTO: algumas considerações que não se pretendem finais [...] as escolas não são unicamente espaços físicos, confinados a uma geografia localizada, que sofrem um processo de normalização, mas também espaços discursivos, constituídos pelo sistema de idéias, distinções e separações que funcionam para confinar o aluno a determinadas normalizações. (POPKEWITZ, 2001, p. 37) 1 Grifos nossos. 2 Grifos nossos. Maria Izaura Cação 7110 Proposta Curricular do Estado de São Paulo: retorno do discurso regulativo da tylerização na educação pública Como enunciado no início, as reflexões aqui apresentadas são ainda embrionárias, e não pretendem, de forma alguma, esboçar conclusões ou “fechar” a discussão, apenas abri-la, uma vez que nosso próximo projeto de pesquisa trienal (2010-2012) versará sobre o estudo dos pressupostos e concepções subjacentes às Propostas Curriculares do Estado de São Paulo. Assim, permitimo-nos algumas breves considerações. A primeira refere-se à perspectiva adotada pela SEE no tocante à chamada sociedade do conhecimento. A sociedade do século 21 é cada vez mais caracterizada pelo uso intensivo do conhecimento, seja para trabalhar, conviver, exercer a cidadania [...] produto da revolução tecnológica que se acelerou na segunda metade do século passado e dos processos políticos que redesenharam as relações mundiais, já está gerando um novo tipo de desigualdade ou exclusão, ligada ao uso das tecnologias de comunicação que hoje mediam o acesso ao conhecimento e aos bens culturais. (FINI, 2008a, p. 9) Para os teóricos da globalização e da sociedade da informação ou do conhecimento, como é chamada o que se considera como sociedade “pós-moderna”, esta possui regras básicas às quais a escola e nós docentes ainda não dominamos. Nesta “sociedade do conhecimento”, a educação adquire o status de propulsora do desenvolvimento, devendo voltar-se, fundamentalmente, às necessidades das forças produtivas, ou seja, do mercado, para criar melhores condições de competitividade. Por outro lado, a globalização opera no sentido da homogeneização escolar e no reforço da noção de currículo como produto e não práxis. Para países periféricos como o Brasil, a educação passa a ser entendida como condição essencial para a superação das dificuldades e desníveis de inserção nos mercados mais competitivos. Com a hipervalorização da informação e da comunicação, passa-se a alertar a escola e seus docentes para trabalharem as denominadas competências para discernir os valores transmitidos pela mídia, no intuito de desenvolver o espírito crítico. Essa noção inclui conhecimentos, mas, sobretudo, capacidades – saber fazer experiências, relações sociais, valores e poder. Desenvolve-se, então, o conceito de escola que aprende, deslocando-se o eixo do ensino para a aprendizagem. Duarte (2001) questiona o que seria essa sociedade do conhecimento na ótica pós-moderna. Seria pós-capitalista? Para o autor, não deixamos de ser uma sociedade Maria Izaura Cação 7111 Proposta Curricular do Estado de São Paulo: retorno do discurso regulativo da tylerização na educação pública essencialmente capitalista, apontando algumas das ilusões dessa sociedade do conhecimento. Para as finalidades deste trabalho, importa ressaltar apenas uma delas e, talvez, a mais perversa para os sistemas públicos de ensino: a de que o conhecimento nunca esteve tão acessível como hoje e que o acesso a ele foi amplamente democratizado, o que não é verdade. Desse modo, está implícita a falsa concepção de que todos os estudantes, tanto do sistema privado como público, possuem iguais possibilidades de acesso ao conhecimento, quando estes últimos, na sua grande maioria, nem possibilidades concretas de acesso às máquinas possuem de fato. Trata-se, pois, de uma falácia, pois o que as redes de informática propiciam é informação, já que o acesso e posse do conhecimento pressupõem a “construção subjetiva resultante de processos semióticos intersubjetivos nos quais ocorre uma negociação de significados.” (DUARTE, 2001, p.39). Para o autor, a validade do conhecimento é conferida pelos contratos sociais, tendo em vista este ser uma convenção social. Ou seja, ele não se configura como mera informação objetiva, pseudamente neutra ou mera apropriação da realidade pelo pensamento. Por outro lado, Ao apresentar-se como instrumento transparente, a máquina se pretende um mero repositório de dados que podem ser acessados, quando desejado, com rapidez e eficiência. Mascaram-se as atomizações e as sistematizações necessárias para a operação dos sistemas de armazenamento de informações. É como se as infindáveis categorizações, necessárias à ordenação e ao acesso de qualquer sistema de dados, seguissem um procedimento lógico e natural (MACEDO, 1997, p. 45) A generalização de tal ideologia traz conseqüências temerárias para o currículo. “Pensar o conhecimento como produto atomizável, natural, neutro e objetivo implica renunciar à compreensão de currículo como cultura (MACEDO, 1997, p. 45). Outra consideração possível, neste momento, é o retorno à educação paulista de um discurso extremamente regulativo. Para Bernstein (1990), o discurso pedagógico é constituído por regras que determinam a forma social de como certas competências serão transmitidas e pressupõe dois componentes: o técnico - discurso instrucional, que determina o que deve ser transmitido pela educação, e o componente moral - discurso regulativo, que determina Maria Izaura Cação 7112 Proposta Curricular do Estado de São Paulo: retorno do discurso regulativo da tylerização na educação pública como deve ocorrer essa transmissão. Desse modo, o que distingue o discurso pedagógico é exatamente o seu aspecto regulativo que domina o instrucional. Ao reapropriar-se de discursos alheios, o discurso pedagógico retira-os de seu contexto original, num processo de recontextualização. Desse modo, cria “uma regulação moral das relações sociais de transmissão/aquisição, isto é, regras de ordem, relação e identidade [...] prévia à transmissão de competências e constitui uma condição para que ela ocorra.” (BERNSTEIN, 1990, p. 184) Considerando esse processo de recontextualização, a questão de que o conhecimento e o currículo não podem ser reificados, pois materializam relações sociais, e o fato de não ser o currículo algo estático, pronto, acabado, mas, como enfatiza Silva (1996, p. 77), “um artefato social e histórico, sujeito a mudanças e flutuações”, o processo educacional é permeado por e construído em um contexto de relações de poder, regulado por um discurso marcado por ideologias e interesses de classe na sociedade capitalista. Para Pacheco e Pereira (2007), a globalização, como estratégia de homogeneização cultural, cuja base ideológica é o neoliberalismo, carrega uma “linguagem de uniformização para a escola que não lhe é totalmente estranha, contribuindo para a retylerização das práticas curriculares, sobretudo com o reforço da lógica dos conteúdos, competências e avaliação.” (p.372) Os autores afirmam mais, as identidades de actores educativos [...] – dentro de um léxico comum que integra, entre outras palavras, ‘autonomia’, ‘descentralização’, ‘projecto’ e ‘comunidade’ – existem mais no plano dos discursos políticos burocráticos do que nas práticas políticas de professores e alunos. (PACHECO; PEREIRA, 2007, p. 372) Desse modo, o planejamento do trabalho docente, cada vez mais escapa das mãos de professores e gestores, estes considerados “animadores”. Retira-se dos agentes educacionais o papel de educadores que são. Aprofunda-se a experiência alienada do trabalho dos docentes, uma vez que o currículo e o seu planejamento não mais lhes pertencem. E assim, à guisa de conclusão, afirmamos com Gitlin: “O ensino como gestão do currículo desprofissionaliza os professores e lhes exige a competência necessária para fazer seus alunos se dirigirem de forma efetiva ao longo de uma rota predeterminada.” (GITLIN, 1987, p. 117). Maria Izaura Cação 7113 Proposta Curricular do Estado de São Paulo: retorno do discurso regulativo da tylerização na educação pública Diante do volume e riqueza do material produzido pela SEE, dos fatores imbricados em sua tessitura, da recenticidade das medidas adotadas e de sua importância para a reconfiguração do currículo, do projeto político-pedagógico e da docência nas escolas públicas paulistas, consideramos inadiável a tarefa de nos debruçar sobre a Proposta Curricular do Estado de São Paulo. Referências BALLALAI, R. Administração participativa na educação: mito, tabu ou práxis? Forum. Rio de Janeiro, v. 3, n. 9, p. 38-61, jul./set. 1985. BARROSO, J. O estudo da escola. Porto: Porto Editora, 1996. ________. Autonomia e gestão das escolas. Lisboa: Ministério da Educação, 1997. BERNSTEIN, B. Class, codes and control: the structuring of pedagogic discourse. v. IV. Londres: Routledge & Kegan Paul, 1990. CAMPOS, M.M. Reformas educacionais: impactos e perspectivas para o currículo. Disponível em: <http://claudioalex.multiply.com/reviews/item/536>. Acesso em: 21 jul. 2008. DOMINGUES, J.L. Interesses humanos e paradigmas curriculares. Revista Brasileira de Educação, Brasília, v. 67, n. 156, p. 531-366, mai./ago. 1986. DUARTE, N. As pedagogias do “aprender a aprender” e algumas ilusões da assim chamada sociedade do conhecimento. Revista Brasileira de Educação. n. 18, p. 35-40, set./out./nov. 2001. FINI, M. I. (coord.) Proposta curricular do Estado de São Paulo. São Paulo: SEE, 2008a. _______. Caderno do Gestor. São Paulo: SEE, 2008b. Versão preliminar. GITLIN, A. Common school structures and teacher behaviour. In: SMYTH, J. (ed.). Educating teachers. Changing the nature of pedagogical knowledge. London: The Falmer Press, 1987. GRUNDY, S. Producto o praxis del curriculum. Madrid: Morata, 1991. Maria Izaura Cação 7114 Proposta Curricular do Estado de São Paulo: retorno do discurso regulativo da tylerização na educação pública KUENZER, A. Z. As políticas de formação: a construção da identidade do professor sobrante. Educação & Sociedade, Campinas, v. 20, n. 68, p. 163-183, dez./1999 . MACDONALD, J. B. Curriculum and human interests. In: PINAR, W.F. (comp.). Curriculum theorizing: the reconceptualistas. Berkeley: McCutchan Publishing, 1975. MORAES, M.C.M.; TORRIGLIA, P. Sentidos de ser docente e da construção de seu conhecimento. In: MORAES, M.C.M. (org.) Iluminismo às avessas: produção de conhecimento e políticas de formação docente. Rio de Janeiro: DP&A, 2003. MOREIRA, A. F. A crise da teoria curricular crítica. In: COSTA, M.V. (org.). O currículo nos limiares do contemporâneo. 2. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 1999, p. 1136. PACHECO, J. A.; PEREIRA, N. Globalização e identidade no contexto da escola e do currículo. Cadernos de Pesquisa, v. 37, n. 131, São Paulo: Fundação Carlos Chagas, p. 371-398, mai./ago., 2007. PONTECORVO, C. Teoria do currículo e sistema italiano de ensino. In: MARAGLIANO, R. (org.) Teoria da Didática. São Paulo: Cortez, 1985, p. 37 – 71. SACRISTÁN, J. G. O currículo: uma reflexão sobre a prática. 3. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2000. _________. A educação que ainda é possível. Porto Alegre: ArtMed, 2007. SILVA, T. T.. Identidades terminais – as transformações na política da pedagogia e na pedagogia da política. Petrópolis: Vozes, 1996. POPKEWITZ, T. Lutando em defesa da alma: a política do ensino e a construção do professor. Porto Alegre: Artmed, 2001. SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. Legislação de Ensino Fundamental e Médio. Estadual. Compilação e Organização de Leslie Maria José da Silva Rama et alii. São Paulo: SE/CENP, 2006, v. LXIV, p. 196-203. TAKAHASHI, F. Autonomia das escolas gerou queda na qualidade do ensino. Entrevista Maria Helena Guimarães de Castro. Folha de S. Paulo, São Paulo, 25 fev. 2008a. Caderno A, p. A 18. ________. Educadores divergem sobre bônus a professor do Estado. Debate Folha. Folha de S. Paulo, São Paulo, 12 mar. 2008b. Caderno Cotidiano, p. C 6. TYLER, R. W. Princípios básicos de currículo e ensino. Porto Alegre: Globo, 1974. Maria Izaura Cação 7115 IV COLÓQUIO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS E PRÁTICAS CURRICULARES “DIFERENÇA NAS POLÍTICAS DE CURRÍCULO” ESCOLA PÚBLICA E VONTADE POLÍTICA: O PPP COMO BASE DE FORMULAÇÃO DE UM CURRÍCULO EMANCIPATÓRIO Maria Margarete Sampaio de Carvalho Braga Maurício Cesar Vitória Fagundes JOÃO PESSOA - PB - BRASIL 10 A 13 DE NOVEMBRO DE 2009 Escola Pública e Vontade Política: o PPP como base de formulação de um currículo emancipatório ESCOLA PÚBLICA E VONTADE POLÍTICA: O PPP COMO BASE DE FORMULAÇÃO DE UM CURRÍCULO EMANCIPATÓRIO Dda. Maria Margarete Sampaio de Carvalho Braga (UECE/UFPE) Dr. Maurício Cesar Vitória Fagundes (UFPR) RESUMO: O texto parte do pressuposto de que a escolarização pode contribuir com a humanização do sujeito, a partir de intenções que se configuaram em ações voltadas para a sua elevação cognitiva, cultural, espiritual e estética através do ensino e da aprendizagem – vontade polítca. Reconhece que a construção de um currículo emancipatório encontra na elaboração coletiva do projeto político-pedagógico suas bases de formulação, condição sine qua non para a (re) afirmação da escola pública como espaço democrático para a construção de um projeto alternativo de sociedade. A construção das discussões se serve de duas pesquisas, uma realizada em uma escola confessional do Estado do Rio Grande do Sul e outra em uma escola pública do Estado do Ceará. Ambas pesquisas tiveram como aporte teórico-metodológico o estudo qualitativo com enfoque etnográfico. Considera que o impacto da construção coletiva do PPP na prática educativa, enquanto materialização do currículo, abre espaço para a leitura histórica da política curricular e suas múltiplas relações, tornando possível, além da denúncia de seus limites, o anúncio de realidades que poderão ser criadas em função da ação de seus sujeitos. PALAVRAS-CHAVE: Vontade Política. Currículo Emancipatório; Projeto Político-Pedagógico; A título de introdução O homem é, de um lado, um conjunto de relações sociais e, de outro, o conjunto das suas condições de vida, que lhe possibilitam a fazer ou não determinadas coisas. Para que se torne sujeito cultural, apto a transformar a realidade em que vive, ele necessita apropriar-se dos diferentes tipos de saber culturalmente construídos pela humanidade. Dentre os processos que concorrem para tal está a escolarização. Subjacente à tomada de decisões no âmbito educacional está a intenção de viabilizar, ou não, a escola pública; uma escola que contribua para que todos se tornem aptos e socialmente reconhecidos e legitimados para a convivência social, para o Maria Margarete Sampaio de Carvalho Braga & Maurício Cesar Vitória Fagundes 7119 Escola Pública e Vontade Política: o PPP como base de formulação de um currículo emancipatório exercício do trabalho (produção técnica e produção cultural) e para a arte de viver humanamente. Partimos do princípio de que uma condição sine qua non para que a escola pública de qualidade aconteça é a existência de vontade política de assegurar uma escola de qualidade na perspectiva da classe trabalhadora. Pressupomos, assim, que a existência de liberdade de ação, a não-vinculação dos que governam a interesses particulares é um princípio básico para que se atinja os objetivos articulados à vontade da maioria da população, enquanto vontade viva e fecunda de contribuir para a sua elevação cognitiva, cultural, espiritual e estética através do ensino e da aprendizagem. No Brasil, historicamente, observa-se um distanciamento da vontade expressa nos documentos e discursos oficiais de contribuir para a construção dessa escola e o envidamento de esforços para objetivá-la, na expressão da aprendizagem de crianças e jovens, predominando a mera priorização retórica. Saindo da perspectiva global, país, Brasil, como grande referente e instituidor dos marcos regulatórios, nos remetemos ao espaço local, as escolas. Chama-nos a atenção um fato não raro de observar, nas escolas públicas ou particulares, o silenciamento do corpo docente, direção e técnicos, enquanto educadores, referente à construção de um projeto político-pedagógico que explicite e discuta suas intencionalidades coletivas, frente e junto ao seu tempo e lugar. Comumente, a preocupação com o projeto educacional gira em torno da visão particular de cada docente. De forma coletiva, algumas escolas centram suas preocupações nos conteúdos, outras na estatística de aprovação e/ou reprovação, sem aprofundar a leitura diagnóstica do processo do ensinar e aprender. Identificar que respostas político-pedagógicas são dadas, no sentido de construir uma escola pública de qualidade, na perspectiva da classe trabalhadora, vem se constituindo nosso objeto de pesquisa, tanto em nível de mestrado como no doutorado, cujo foco é o currículo. O currículo tem assumido centralidade nas reformas educacionais desencadeadas, nos anos noventa do século passado, sob argumentos em favor de uma escola pública de qualidade (OLIVEIRA, 2005). Em nosso ponto de vista, a construção que tem como horizonte um currículo emancipatório encontra na elaboração coletiva do projeto político-pedagógico suas bases de formulação, condição sine qua non para a (re) Maria Margarete Sampaio de Carvalho Braga & Maurício Cesar Vitória Fagundes 7120 Escola Pública e Vontade Política: o PPP como base de formulação de um currículo emancipatório afirmação da escola pública como espaço democrático para a construção de um projeto alternativo de sociedade. O Projeto Político-Pedagógico (PPP) por ser um elemento que aglutina, em espaço micro, as relações (“práticas”) desenvolvidas na sociedade, torna-se um instrumento rico do pensar (“teoria”) e do agir (“processo histórico em ato”) docente/discente/comunidade, tanto para sua reprodução como para sua superação. Discutir o impacto da construção coletiva do PPP na prática educativa, enquanto materialização do currículo, abre espaço para a leitura histórica da política curricular e suas múltiplas relações, e, parafraseando Freire (1982), torna possível, além da denúncia de seus limites, o anúncio de realidades que poderão ser criadas em função da ação de seus sujeitos. Para a construção das discussões que desenvolvemos neste artigo, nos servimos de duas pesquisas, uma realizada em uma escola confessional do Estado do Rio Grande do Sul e outra em uma escola pública do Estado do Ceará. Ambas pesquisas tiveram como aporte teórico-metodológico o estudo qualitativo com enfoque etnográfico. A reafirmação da escola pública: mapeando concepções de homem, de educação e de escola Esta produção se inscreve na luta pela reafirmação da escola pública. Uma escola que ultrapasse os limites do ler, escrever e contar, que considere o processo dinâmico e contínuo de interação do ser humano com a natureza, com outros homens e consigo próprio, fazendo-o reconstruir-se e buscar a melhor forma de viver. Essa melhor forma de viver pressupõe uma concepção de homem, de sociedade, de educação. Adotamos a concepção de homem, segundo a qual ele é, de um lado, um conjunto de relações sociais e, de outro, o conjunto das suas condições de vida, que possibilitam a que ele faça ou não determinadas coisas. Essa possibilidade é que dá a medida da liberdade do homem, sendo necessário que ele conheça suas condições objetivas, saiba utilizá-las e queira utilizá-las. Neste sentido, o homem é vontade concreta, isto é, "aplicação efetiva do querer abstrato ou do impulso vital aos meios concretos que realizam esta vontade” (GRAMSCI, 1989, p. 47). O homem cria sua própria personalidade, na medida em que: dá uma direção determinada e concreta racional - ao próprio impulso vital ou vontade; identifica os meios que tornam esta Maria Margarete Sampaio de Carvalho Braga & Maurício Cesar Vitória Fagundes 7121 Escola Pública e Vontade Política: o PPP como base de formulação de um currículo emancipatório vontade concreta e determinada e não arbitrária; contribui para modificar o conjunto das condições concretas que realizam esta vontade, na medida de suas próprias forças e da maneira mais frutífera. Nesta perspectiva, ... o homem deve ser concebido como um bloco histórico de elementos puramente subjetivos e individuais e elementos de massa - objetivos ou materiais - com os quais o indivíduo está em relação ativa. Transformar o mundo exterior, as relações gerais, significa fortalecer a si mesmo. (...) Por isso, é possível dizer que o homem é essencialmente “político”, já que a atividade para transformar e dirigir conscientemente os homens realiza a sua ‘humanidade’, a sua natureza humana. (GRAMSCI, 1989, p. 47-8) A concepção de educação que, a nosso ver, muito contribui para a realização da humanidade dos homens encontra-se fortemente marcada na concepção freireana, segundo a qual, a educação deve estar voltada para a realidade material e a perspectiva que se abre para o ensino é a de que ele seja público, gratuito, universal e obrigatório, tendo em vista a construção do homem integral, completo. Realizar essa educação pressupõe, segundo Freire (2007), proporcionar aos homens e mulheres possibilidades de superação de suas atitudes ingênuas, mágicas, diante da realidade em que vivem, cabendo buscar formas que os ajudem a assumir atitudes de engajamento social, apostando “num método ativo, dialogal, crítico e criticizado”. (FREIRE, 2007, p. 115) Afinal, do ponto de vista da escolarização, os diferentes tipos de saber culturalmente construídos pela humanidade não interessam em si mesmos, mas sim, enquanto elementos que os indivíduos da espécie humana necessitam assimilar para se tornarem sujeitos culturais e transformarem a realidade. Na realidade, a educação continua o trabalho da vida, ...instalando-se no domínio eminentemente humano de trocas: de símbolos, de intenções, de padrões de cultura e de relações de poder. A educação dá continuidade ao desenvolvimento de homens e mulheres, fazendo-os evoluir, tornando-os mais humanos (BRANDÃO, 1982, p. 3). O nosso desafio, como educadores, é o de contribuir para a superação dessa realidade social e econômica em que alguns podem optar e outros não, quer do ponto de vista da saúde, alimentação, moradia ou educação. Desafio que se configura como resistência e que deve ser enfrentado com trabalho e reflexão, através da socialização do Maria Margarete Sampaio de Carvalho Braga & Maurício Cesar Vitória Fagundes 7122 Escola Pública e Vontade Política: o PPP como base de formulação de um currículo emancipatório saber. Esse processo de coletivização pode contribuir com a criação de condições para uma vida melhor, sendo dirigida a todos os homens e não a uns poucos eleitos. Deste modo, "uma escolarização voltada para as camadas populares poderá contribuir para uma correta interpretação da realidade social, auxiliando-as na busca do caminho para superar a dominação" (DAMASCENO, 1986, p. 2). Uma escolarização que, ao invés de reforçar as diferenças, reafirme a coletivização. Compete à escola formar cidadãos capazes de participar da vida política, social e econômica, tríade conseqüente da busca pela realização de homens e mulheres - o exercício pleno da condição de ser humano, do desempenho de sua “vocação para o ser mais, enquanto expressão da natureza humana, fazendo-se na História (FREIRE, 1995, p. 11). Ou seja, o sentido do homem de hoje só pode revelar-se plenamente quando visto em sua historicidade. Partindo do princípio de que não há neutralidade nos diferentes âmbitos numa sociedade de classes e que em educação não existe conhecimento desinteressado, consideramos que, subjacente à tomada de decisões no âmbito educacional, está a intenção de viabilizar, ou não, a escola do povo. Uma escola que atenda quantitativa e qualitativamente àqueles que por ela demandam. Uma escola, cujo saber torna a todos aptos e socialmente reconhecidos e legitimados para a convivência social, o trabalho, a arte. Essa proposta educativa fundamentada numa concepção de homem como sendo “um conjunto de relações sociais determinado pela consciência historicamente situada” (NOSELLA, 1992, p. 45), leva-nos a pensar que “o critério da possibilidade ou impossibilidade dos sonhos é um critério histórico-social e não individual” (BRANDÃO, 1982, p. 99). Se assim o é, o que seria então uma escola possível para a classe trabalhadora? Uma escola para todos, “como espaço e tempo de plenitude de vida” (NOSELLA, 1992, p. 6), cujos processos educativos se dêem numa perspectiva alternativa, “situados no conjunto de forças que elegem o ser humano como sujeito social no desenvolvimento omnilateral de suas possibilidades históricas” (FRIGOTTO, 1995, p. 57). Compreendemos que a preocupação da escola com seu papel social não deve centralizar-se no fazer pelo fazer, no reproduzir, mas no pensar, no refletir, no conhecer, Maria Margarete Sampaio de Carvalho Braga & Maurício Cesar Vitória Fagundes 7123 Escola Pública e Vontade Política: o PPP como base de formulação de um currículo emancipatório no fazer, no refazer, no construir, no reconstruir, enfim, na ação pensada a partir da realidade concreta dos alunos e seu meio, refletida individual e coletivamente, na perspectiva de construção de cidadania, com enfoque emancipatório. Nesse sentido, há necessidade de um PPP que viabilize ao educadores e educados o exercício da reflexão e tomada de decisões sobre suas vidas, tanto individualmente como coletivamente, esclarecendo sua concepção de vida; sua concepção de homem e de mundo, tendo como parâmetros as exigências de um período histórico complexo e orgânico, o que implica na construção de uma vontade racional 1. Reflexão essa que tenciona tornar a vontade racional em um novo ‘senso comum’ e uma nova ‘direção intelectual e moral’ e dentro dela conquistar sua hegemonia ideológica antes mesmo da tomada do poder. O partido, a escola, o sindicato assumem papel fundamental nesse processo, uma vez que, ...não há filosofia que se irradie sem a introjeção ou adesão das grandes massas às suas idéias, e também não há superação de uma ordem intelectual e moral (idéias, valores e costumes) por outra, sem que os homens estejam persuadidos por uma nova maneira de pensar e sentir. (MOCHCOVITCH, 1992, p. 40) Os intelectuais orgânicos2 é que promoverão, nas instâncias mencionadas acima, a elevação das massas3 do senso comum à consciência filosófica. O papel do professor é relevante nesse contexto de superação, consistindo na tentativa de, por meio de um processo reflexivo, contribuir para mudar o modo de pensar, sentir e agir das pessoas. Numericamente falando, é a sua profissão a melhor distribuída, uma vez que em todos os municípios existem professores, pelos quais passam milhares de brasileiros todos os dias, representando “audiência” superior a qualquer canal de televisão. Por outro lado, há que se considerar que os professores em seu conjunto não constituem um bloco homogêneo em termos de concepções político-filosóficas. 1 Segundo Gramsci, “a vontade racional se realiza enquanto corresponde à necessidades objetivas históricas, isto é, enquanto é a própria história universal no momento da sua atuação progressiva”. (1989, p.32) 2 Os intelectuais orgânicos são os organizadores e dirigentes, pessoas ‘especializadas’ na elaboração conceitual e filosófica, responsáveis pela teorização da relação teoria-prática. 3 Esse é o momento cultural de que fala Gramsci, cuja importância consiste no fato de que “todo ato histórico não pode deixar de ser realizado pelo ‘homem coletivo’, isto é, ele pressupõe a obtenção de uma unidade cultural-social pela qual uma multiplicidade de vontades desagregadas com fins heterogêneos, se solidificam na busca de um mesmo fim” (GRAMSCI, 1987: 36-7). Maria Margarete Sampaio de Carvalho Braga & Maurício Cesar Vitória Fagundes 7124 Escola Pública e Vontade Política: o PPP como base de formulação de um currículo emancipatório A estratégia política a ser adotada pela classe oprimida deve ser a busca pelo controle da sociedade civil, a consolidação de uma contra-hegemonia4. De que modo isso pode acontecer se os meios necessários estão à disposição e sob o controle da classe dominante? Nos espaços concedidos a ela para que se sinta livre, mesmo que ilusoriamente, através de uma ocupação consciente, via seus intelectuais orgânicos, ao construir uma contra-ideologia5, alternativa àquela dominante. Consolidando uma hegemonia da classe trabalhadora, tomando o poder político e alterando a lógica existente de dominação. Evidentemente não defendemos aqui outro tipo de tutela, mas a criação de condições objetivas para que os trabalhadores possam tornar-se intelectuais orgânicos e contribuir para essa dialética homem-massa. A pergunta que fazemos diz respeito a como desenvolver em nossos educadores, alunos e pais, “a exemplo do que fazem os índios e os camponeses, a consciência de que o saber que se transmite de um ao outro deve servir de algum modo a todos” (BRANDÃO, 1982, p. 67). Presumimos que a resposta pode ser dada por meio das ações, atos de execução, avaliação, deliberação, preferência e resolução, no âmbito das administrações dos recursos públicos, que priorizem os direitos sociais das classes trabalhadoras, dentre os quais, a sua própria educação. E fazê-los acontecer no cotidiano escolar, desenvolvendo uma prática pedagógica que contribua para a humanização dos alunos ... uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é propiciar as condições em que os educandos em suas relações uns com os outros e todos com o professor ou a professora ensaiam a experiência profunda de assumir-se. Assumir-se como um ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque capaz de amar. (FREIRE, 1996, p.46) No caso particular do Brasil, historicamente observa-se um distanciamento do desejo vivo e fecundo de contribuir para a elevação espiritual das camadas populares através do ensino e o envidamento de esforços para objetivá-lo, predominando a mera 4 A contra-hegemonia pressupõe uma contraposição à hegemonia dominante. Hegemonia é uma categoria criada por Gramsci, que significa o conjunto das funções de domínio e direção exercido por uma classe dominante sobre outra, ou mesmo sobre o conjunto das classes da sociedade, em um dado período histórico. 5 A compreensão de contra-ideologia está respaldada no conceito gramsciano de ideologias historicamente orgânicas: ideologias que “organizam as massas humanas, formam o terreno sobre o qual os homens se movimentam, adquirem consciência de sua posição, lutam, etc” (GRAMSCI, 1987, p. 62-3). Maria Margarete Sampaio de Carvalho Braga & Maurício Cesar Vitória Fagundes 7125 Escola Pública e Vontade Política: o PPP como base de formulação de um currículo emancipatório priorização retórica. Significa dizer que não existe uma vontade política de proporcionar a libertação das amarras da heteronomia naqueles que só contam com a escola pública para fazê-lo, quando contam. Predomina a visão positivista-funcionalista, uma vez que objetiva-se garantir o bom funcionamento da sociedade. Contrapondo essa visão, interessa buscar mudanças efetivas no sistema educacional de modo a assegurar a consciência crítica, a valoração da auto-estima coletiva de educadores e alunos, a confiança, o respeito mútuo, o sentir-se gente. Como isso pode ser feito? Como promover um sistema educacional que promova o desenvolvimento do conjunto da sociedade, em vez de reproduzir para elites segmentos de país desenvolvido? Experimentar dentro da escola pública a impossibilidade de responder a estas perguntas; inserir-se nos movimentos pela valorização do magistério e do ensino público suscita grandes inquietações, que potencializadas e somadas às de outros educadores mobiliza para a luta pela escola que queremos, mesmo que sua construção pareça-nos distante; avaliar o que consideramos, muitas vezes, como insucessos do movimento docente; buscar na academia o substrato teórico para refletir a conjuntura educacional de forma ampliada, compreendendo que essa seria também uma contribuição para a reafirmação da escola pública; denunciar as condições desalentadoras nas quais a escolarização da sociedade brasileira se efetiva nos impele a buscar a devida compreensão de processos sociais que anunciam a materialização de condições que rompem com essa lógica perversa. Vontade política e escola pública: direcionando o olhar Etimologicamente, a palavra vontade significa consentimento, ato de querer. É o sentimento, aspiração, anseio, desejo que incita alguém a atingir um fim proposto. Genericamente, a vontade exprime "a manifestação exterior de um desejo, o propósito de fazer alguma coisa, a intenção de proceder desta ou daquela forma" (SILVA,1980, p. 1665). Ela se manifesta sob diferentes maneiras, seja tácita ou expressamente. Quando sob a forma tácita, ela resulta da prática de atos, gestos ou de fatos que, de modo indireto, revelam a intenção das pessoas que os praticaram ou produziram. Não tem forma substancial, vai além das palavras. É um modo exterior de revelar uma intenção. Pode ser identificada, por exemplo, nas ações e práticas de pais para Maria Margarete Sampaio de Carvalho Braga & Maurício Cesar Vitória Fagundes 7126 Escola Pública e Vontade Política: o PPP como base de formulação de um currículo emancipatório oportunizar a escolarização aos seus filhos. Para eles, escolarização corresponde ao patrimônio, à herança a ser legada, no intuito de preparar os seus descendentes para auferir melhores condições de vida Quando, de outra maneira, o desejo, decisão ou determinação dá-se de forma expressa, diz-se que ali está configurada a vontade expressa, uma vez que é declarada formal e verbalmente ou por escrito, podendo resultar em uma presunção legal. No campo educacional, em geral, manifesta-se através de discursos, na legislação e pareceres, entre outros, que dizem respeito à garantia formal de escolarização da população brasileira. A articulação e a coerência entre a vontade expressa e a vontade tácita resulta em vontade política. A vontade política, neste sentido é, mais do que a intenção, o querer fazer acontecer algo que é idealizado. Nesse sentido, a coerência é um fator determinante para que o discurso formal e a prática real se coadunem. A vontade política revela-se através de "atos de execução, avaliação, deliberação, preferência e resolução que, necessariamente, refletem o objetivo que se quer atingir - é a intenção configurada na ação" (BRAGA, 1995, p. 40). Alusões feitas à vontade se dão no cotidiano dos seres humanos, sendo frequentemente atribuídas ao Divino. Quem já não ouviu expressões do tipo: “se Deus quiser”, “se depender da vontade de Deus”, “queira Deus...”, “a Deus querer...”, “foi Deus quem quis assim”? Estas são apenas algumas expressões veiculadas no senso comum de muitas pessoas. Aliás, parece que quanto menos consciência política se tem, maior é a crença de que os seres humanos muito pouco podem fazer sem o aval, a deliberação, a decisão ou arbítrio de uma entidade superior. Ou seja, o homem parece não ter vontade própria, assumindo um perfil heterônomo no modo de ser e de viver. Nesse sentido, percebe-se que a "vontade de Deus" coloca uma perspectiva que referencia o espírito de conformação, de acomodação, posto que nela está embutida uma concepção de que as coisas e fatos já estão postos, estabelecidos, e portanto, são imutáveis. Essa é uma visão que assume feições da consciência do tipo tradicional, religiosa, mágica que ... capta os fatos, emprestando-lhes um poder superior, que a domina de fora e a que tem, por isso mesmo, de submeter-se com docilidade. É próprio desta consciência o fatalismo, que leva ao cruzamento dos braços, à impossibilidade Maria Margarete Sampaio de Carvalho Braga & Maurício Cesar Vitória Fagundes 7127 Escola Pública e Vontade Política: o PPP como base de formulação de um currículo emancipatório de fazer algo diante do poder dos fatos, sob os quais fica vencido o homem. (FREIRE, 1982, p. 105-6) Esta falta de iniciativa, bem como a sucessão de derrotas, faz surgir a “vontade real”, identificada como uma força de resistência moral, de coesão, de perseverança paciente e obstinada, disfarçada em um ato de fé numa certa racionalidade da história, em uma forma empírica e primitiva de finalismo apaixonado, como um substituto da predestinação. A vontade real pressupõe uma forte atividade volitiva, uma intervenção direta sobre a força das coisas, mas de uma maneira implícita, velada, que se envergonha de si mesma, revelando a contraditoriedade da consciência, a falta de unidade crítica (GRAMSCI, 1987). A unidade crítica pressupõe a superação da autonomia pautada em uma construção individual, baseada nos princípios liberais, apartada da totalidade e não construída na relação com outros sujeitos como resultado de diálogos e reflexões. Nessa perspectiva, não se percebe a educação como um elemento que possa, por meio de seu fazer coletivo, realizar a promoção dos sujeitos enquanto sujeitos históricos, mesmo admitindo-se que, no caso específico da escolarização, sua constituição se dá no conjunto das relações sociais do mundo presente. Essas relações, percebidas a partir do modo de produção capitalista, buscam estabelecer formas para reprodução e ampliação do capital. As classes dominantes, por meio do Estado, têm utilizado histórica e sistematicamente a educação formal para alcançar seus objetivos. Na contramão da reprodução, reconhecemos que a concepção de educação em Paulo Freire, como processo de humanização do sujeito, com vistas à intervenção na realidade, marca o currículo emancipatório que tem no diálogo a indispensável relação com o ato cognoscente, desvelador da realidade (FREIRE apud SANTIAGO, 2007, p. 35), “...uma educação [...] identificada com as condições de nossa realidade. Realmente instrumental, porque integrada ao nosso tempo e ao nosso espaço e levando o homem a refletir sobre sua vocação ontológica de ser sujeito”. (FREIRE, 1996, p.114) Um currículo emancipa tório pressupõe a construção coletiva do PPP Sousa Santos (1996) faz referência ao sistema educativo construído pela modernidade, destacando que “foram moldados por um único tipo de conhecimento, o conhecimento científico, e por um tipo único da sua aplicação, a aplicação técnica” (p. Maria Margarete Sampaio de Carvalho Braga & Maurício Cesar Vitória Fagundes 7128 Escola Pública e Vontade Política: o PPP como base de formulação de um currículo emancipatório 18). Essa tendência homogeneizante da educação tem, entre tantas possibilidades, as do silenciamento, da naturalização das relações de dominação e de escamoteamento de possíveis conflitos. A respeito, afirma o autor: “o conhecimento-como-regulação consiste numa trajetória entre um ponto de ignorância designado por caos e um ponto de conhecimento, designado por ordem” (p. 24) [grifos nossos]. Contraditoriamente, o mesmo sistema que busca a homogeneização tem a necessidade de aprofundar e/ou ampliar o campo dos saberes e conhecimentos para dar conta de suas necessidades de produção do sistema econômico. Apesar da intencionalidade técnica, esses saberes são fundados em fazeres construídos socialmente, que carregam consigo, além da necessidade da classe dominante, também a leitura e necessidade da classe dominada. Nessa direção, Cury (1979) afirma que “a ação pedagógica, enquanto apropriação pelas classes dominadas de um saber que tem a ver com os seus interesses (acrescentamos, ou em oposição explícita aos seus interesses), concorre para o encaminhamento da modificação das condições sociais” (p. 71). Nesse movimento, o conflito começa a ficar latente. Em oposição, a classe dominante dispara com todos seus aparatos ideológicos, principalmente a mídia, com o objetivo de camuflar as verdadeiras causas dos conflitos sociais que possam ser explicitadas pela classe dominada e gerar uma tomada de consciência objetiva da realidade. Embora esse aparato ideológico tenha um forte poder, apenas escamoteia as causas fundantes dessa realidade, mantendo a contradição latente. Por exemplo, hoje vemos instalada a indústria do medo, do terror, localizando seus principais responsáveis na periferia. As cidades apontam para as favelas, os países ditos de 1° mundo apontam para os países ditos subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, fenômeno esse muito facilitado pela globalização hegemônica da comunicação. Esse contexto da realidade social, percebido em um projeto político-pedagógico de intencionalidade emancipatória, sustentado como defende Sousa Santos (1996) em um modelo de “aplicação edificante da ciência” (p. 20), consistirá em construir o conhecimento a partir de “um ponto de ignorância chamado colonialismo e um ponto de conhecimento chamado solidariedade” (p. 24) [grifo nosso], corroborando com a materialização de um currículo também emancipa tório. Maria Margarete Sampaio de Carvalho Braga & Maurício Cesar Vitória Fagundes 7129 Escola Pública e Vontade Política: o PPP como base de formulação de um currículo emancipatório Essa perspectiva paradigmática do currículo não tem em si a garantia de adesão de seus sujeitos na direção intencionada. No momento em que os conflitos forem potencializados como forma de ampliação de esclarecimento e de tomada de novas posições, pode haver o desencadeamento da capacidade de “espanto, de indignação e a vontade de rebeldia e de inconformismo” (id. p. 33). Pode, também, contraditoriamente, gerar o desejo de voltar aos princípios dominantes onde havia uma pseudo-certeza e uma pseudo-harmonia. A esses movimentos o autor se refere como a transição paradigmática, que decorre de uma navegação de cabotagem, que vai de margem a margem. As possibilidades de explicitação das contradições presentes nesse processo são muitas. A primeira refere-se à própria concepção do pensamento dominante que tem legitimado historicamente os fazeres da escola, percebida como instância socializadora dos conhecimentos produzidos pela e na universidade. Conforme Sousa Santos (1996), o paradigma dominante tem como uma de suas características a “aplicação unívoca e o seu pensamento é unidimensional. Os saberes locais ou são recusados ou são funcionalizados e, em qualquer caso, tendo sempre em vista a diminuição das resistências ao desenrolar da aplicação” (p. 19). Ou seja, a Universidade, nesse contexto, tem toda legitimidade do sistema, pois ela é a autoridade inquestionável na produção dos saberes. Cabe aos sujeitos da localidade não questioná-la, por entenderem que seus conhecimentos pouco ou nada valem nessa comparação. Contraditoriamente, tem também o poder e a legitimidade para construir processos de outra concepção no meio onde se instalar. (FAGUNDES, 2009) Destacamos como fundamental o entendimento de que o ponto de partida e de retorno no processo ensino-aprendizagem é o aluno e sua realidade concreta, pois aprendemos com Freire que “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção” (1996, p. 25), proporcionando condições e estimulando o aluno à assunção do protagonismo. Aprendemos, ainda, a importância do fazer coletivo, da problematização, da busca de alternativas, de construções para superação das situações-limite e a busca do “inédito-viável6” de Freire 6 Conforme Freire, “Essa categoria encerra nela toda uma crença no sonho possível e na utopia que virá, desde que os que fazem a sua história assim o queiram”. Nesse querer está implícito a necessidade de perceber as situações-limites como barreiras a serem vencidas e que, desafiados por elas, “se sentem mobilizados a agir e a descobrirem o inédito-viável. [...] Esse inédito viável é, em última instância, algo que o sonho utópico sabe que existe mas que só será conseguido pela práxis libertadora que pode passar Maria Margarete Sampaio de Carvalho Braga & Maurício Cesar Vitória Fagundes 7130 Escola Pública e Vontade Política: o PPP como base de formulação de um currículo emancipatório (1992), no contexto da permanente (re)construção do projeto político-pedagógico. Um projeto político emancipa tório que dispute e conquiste a hegemonia na luta contra a miséria, o desemprego, a exploração e a opressão da grande maioria dos brasileiros. Essa é a perspectiva que assumimos, tomando por base o processo coletivo de construção do PPP, para retomar Gramsci (1989) quando o autor enfatiza que se “toda a ação é resultado de diversas vontades, com diverso grau de intensidade, de consciência, de homogeneidade, com o conjunto íntegro da vontade coletiva” (p. 51), a teoria correspondente e implícita “será uma combinação de crenças e pontos de vista igualmente desordenados e heterogêneos. Todavia, existe adesão completa da teoria à prática, nestes limites e nestes termos” (id.). Portanto, essa dialética teoria-prática, existe e é presente nos processos educativos. Temos de criar espaços para reflexão individual e coletiva para nos apropriarmos e/ou até mesmo descobrirmos a favor de quem/que e/ou contra quem/que estamos trabalhando/formando. Nessa direção, consideramos que a ação do professor ganha sustentação e força quando o diálogo dá suporte e, especialmente quando é basilado por um projeto político-pedagógico de caráter emancipatório. A construção dialógica de um projeto político-pedagógico, com data para iniciar, mas sem data para terminar, torna possível superar o senso comum. Esse projeto necessita autocriticar-se permanentemente, elaborando o bom senso como caminho fundante de uma nova teoria, de um novo senso comum. Como afirma Gramsci (1989), coincidir “identificando-se como os elementos decisivos da própria prática, acelere o processo histórico em ato, tornando a prática mais homogênea, coerente e eficiente em todos os seus elementos, isto é, elevando-a à máxima potência..." (p. 51). Essa é uma possibilidade de tornarmo-nos (comunidade escolar) intelectuais orgânicos, protagonistas de uma nova cultura e de uma nova sociedade, contribuindo com processos em que várias vontades desagregadas, podem solidificar-se na busca de um mesmo fim, formando um conjunto íntegro da vontade coletiva, assumindo posições de embate contra a hegemonia dominante, exigindo a afirmação de que o direito social, e não as vontades particulares traduzam-se cotidianamente na vida da população. pela teoria da ação dialógica de Freire ou evidentemente, porque não necessariamente só pela dele, por outra que pretenda os mesmos fins” (ARAÚJO FREIRE In: FREIRE,1992, pp. 205-206). Maria Margarete Sampaio de Carvalho Braga & Maurício Cesar Vitória Fagundes 7131 Escola Pública e Vontade Política: o PPP como base de formulação de um currículo emancipatório As experiências que vividas nas investigações realizadas no Mestrado em Educação7, junto a Faculdade de Educação da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) e Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará (UFC) centraram o estudo na avaliação do Projeto Político-Pedagógico da Escola particular e confessional no Estado do Rio Grande do Sul, e avaliação da política educacional de uma rede de ensino do interior do Estado do Ceará, respectivamente. Ambas, coincidem em seu objetivo de perceber as possibilidades e os limites da concretização de intencionalidades emancipatórias, que, pela ação coletiva, propunha-se a gerar significações subjetivas e objetivas na comunidade discente, através da produção de conhecimentos, fortalecimento de valores e atitudes cidadãs. Como resultado da primeira pesquisa, foi possível perceber que um Projeto Político-Pedagógico de intencionalidade emancipatória substancia e dá corpo ao trabalho coletivo, na perspectiva da visibilidade das ações, na e com a realidade concreta, como possibilidade de teorizar e construir ações emancipatórias, superando conceitos naturalizados pela educação e pensamento moderno, que persistem em continuarem presentes nos currículos. A pesquisa deixou evidente que, coletivamente, a educação é uma das possibilidades de instrumentalizar os sujeitos sociais na construção de outro projeto societário, tendo a clareza, não ingênua, de que esse é um processo que se dá em uma sociedade estruturada e, portanto, se constitui no tensionamento entre estrutura e superestrutura, com avanços e recuos. Assim se constituindo, possibilita a explicitação das contradições permitindo que o real seja revelado à consciência e criando possibilidades para a construção de uma nova prática (FAGUNDES, 2007). Nesse caminho, foi possível entender que a relação da educação com a totalidade concreta será tanto mais descortinadora das relações sociais, econômicas, políticas e ideológicas da sociedade vigente, quanto mais contínua for sua dialetização; deixou, também, a clareza de que os tempos dessas construções são históricos. Portanto, embora seja um processo coletivo, alcança a cada um de seus protagonistas de forma diferente, em um perpétuo devenir histórico. 7 A dissertação de mestrado de Maurício Fagundes, intitulada Reprodução e Emancipação – categorias de análise histórico-ontológica de um projeto político-pedagógico: dialogando com a realidade concreta de seus sujeitos, contou com a orientação do Prof. Dr. Gomercindo Ghiggi e a de Margarete Sampaio, intitulada Escola Pública e vontade política. Icapuí: uma escola possível para os filhos da classe trabalhadora?, foi acompanhada pela Profa. Dra. Ângela Souza. Maria Margarete Sampaio de Carvalho Braga & Maurício Cesar Vitória Fagundes 7132 Escola Pública e Vontade Política: o PPP como base de formulação de um currículo emancipatório A segunda pesquisa revelou que a educação de Icapuí (CE), naquele momento em que a pesquisa se deu se constituía num projeto que se construia coletivamente no dia a dia das escolas e contava com o apoio da comunidade e da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, que desenvolvia o seu papel de articuladora e dinamizadora dos projetos de cada escola e da política educacional como um todo (BRAGA, 1998). Dessa forma, as deliberações e decisões sobre o possível, isto é, sobre aquilo que podia ser ou deixar de ser, tornando-se real graças ao ato voluntário, que atua em vista de fins e da previsão das conseqüências, configuravam a existência de vontade política de construir a escola na perspectiva da classe trabalhadora, uma vez que os esforços para vencer os inúmeros obstáculos eram contundentes e confirmadores disso: a tenacidade e a perseverança, a resistência e a continuação do esforço erma marcas dessa vontade (CHAUÍ, 1994). Apresentavam-se notórios o discernimento, a reflexão, a avaliação antes das tomadas de decisão, numa estreita articulação com os interesses da população. Sínteses Provisórias Conforme visto em nossos estudos, se determinados grupos puderam contribuir significativamente para uma mudança radical em suas realidades locais, o que não poderá acontecer quando toda uma geração estiver escolarizada? Essa reflexão nos leva a pleitear que o homem seja o centro das ações e decisões, cabendo a nós, educadores, contribuir para a mudança do pensar, sentir e agir dos nossos educandos. Para tanto, interessa sedimentar uma nova concepção de homem, de sociedade e de educação, esteio para um currículo comprometido com a humanização do sujeito. Nessa direção, reconhecemos que a contribuição do pensamento de Paulo Freire para o campo do currículo se dá no reconhecimento da condição de sujeito dos que buscam produzir o conhecimento, na afirmação da finalidade da educação para o desenvolvimento humano e social, como processo contínuo que respeita os diferentes saberes e culturas. (SANTIAGO, 2007) Portanto, a construção de um currículo humanizador passa pela dimensão do trabalho coletivo em uma perspectiva emancipatória, de modo que o real se faça presente revelando suas contradições e o humano recupere a dimensão ontológica de Maria Margarete Sampaio de Carvalho Braga & Maurício Cesar Vitória Fagundes 7133 Escola Pública e Vontade Política: o PPP como base de formulação de um currículo emancipatório sujeito, capaz de produzir o produzido que lhe produz, de questionar e superar a concepção de cidadania impregnada da carga liberal, que escamoteia os privilégios e os privilegiados. Um currículo humanizador e por isso emancipatório que possibilite a comunidade escolar se perceber/agir como protagonista de seus processos educativos. Em assim sendo, defendemos um currículo vivo e gerador de sentido diante da vida, de existência, de totalidade das relações históricas passadas que fundam as relações presentes e estabelecem possibilidades para a construção do futuro que desejamos, portanto em uma concepção dialética e dialógica. Um currículo muito mais do que uma relação de disciplinas, fragmentos de informações, com proprietários que desejam apenas sua reprodução, mas um currículo que tenha vida, movimento, garanta o espaço do desejo, do sonho, do amor, do ódio, da alegria, da tristeza, da utopia, do sabor e do saber, que permita, constantemente, ser revelador das relações que nos oprimem e, contraditoriamente, fundam os caminhos para a nossa liberdade. Por onde começar? Sonhando juntos. E como dizia Amílcar Cabral, citado por Paulo Freire: “ai das revoluções que não sonham.” (FREIRE, 1982, p. 101)8 REFERÊNCIAS BRAGA, Maria Margarete Sampaio de Carvalho. Para quê escola pública no Brasil? In: Cadernos da Pós-Graduação em Educação nº 4. Fortaleza, UFC, 1995, p. 40-45. _________. Escola Pública e Vontade Política. Icapuí: uma escola possível para os filhos da classe trabalhadora? 1998. Dissertação (Mestrado em educação Brasileira). Universidade Federal do Ceará, Fortaleza-CE. BRANDÃO, Carlos Rodrigues. (Org.). O Educador: Vida e Morte. Edições Graal, 1982. CURY, Carlos Roberto Jamil. Educação e contradição: elementos metodológicos para uma teoria crítica do fenômeno educativo. 7. ed. São Paulo: Cortez, 1979. DAMASCENO, Maria Nobre. Questões Teóricas e Práticas da Pesquisa Social e Educacional. In: Em Aberto, ano 5, Nº 31, jul./set. 1986. FAGUNDES, Maurício Cesar Vitória. Universidade e projeto político-pedagógico: diálogos possíveis fomentando formações emancipatórias. 2009. Tese (Doutorado em Educação). Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo-RS. 8 Paulo Freire cita essa passagem no depoimento de uma militante do Partido Africano da Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde, sobre o líder do movimento de libertação da Guiné-Bissau, Amílcar Cabral. Maria Margarete Sampaio de Carvalho Braga & Maurício Cesar Vitória Fagundes 7134 Escola Pública e Vontade Política: o PPP como base de formulação de um currículo emancipatório _________. A implementação do Projeto Político-Pedagógico na escola fundamental. In VEIGA, Ilma Passos de Alencastro. (org.) Quem sabe faz a hora de construir o Projeto Político-Pedagógico. Campinas, SP: Papirus, 2007. p. 65-88. FREIRE, Paulo. Educação e mudança. 7. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. _________. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 4. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996. _________. Ação cultural para a liberdade e outros escritos. 6. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982. _________. Pedagogia do oprimido. 31. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1987. __________. Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido. 6. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1992. __________. Política e Educação, 2a ed. São Paulo, Cortez, 1995. _________ . Educação Como Prática da Liberdade. 30ª Ed. São Paulo, Paz e Terra, 2007. FRIGOTTO, Gaudêncio. Educação e a Crise do Capitalismo Real. São Paulo, Cortez, 1995. GRAMSCI, Antonio. Os intelectuais e a organização da cultura. 4.ed. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1982. _________. Concepção dialética da história. 8. ed. Rio de Janeiro, RJ: Civilização Brasileira, 1989. MOCHCOVITCH, Luna Galano. Gramsci e a Escola. São Paulo: Ática, 1992. SILVA, De Plácido. Vocabulário Jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 1980. NOSELLA, Paolo. A escola de Gramsci. Porto Alegre, Artes Médicas, 1992. OLIVEIRA, Ozerina Victor. Tendências teórico-metodológicas em estudos de política curricular: o que dizem teses e dissertações. 30ª Reunião anual da ANPED, 2005. SANTIAGO, Maria Eliete. Campo Curricular, Prática Pedagógica e Pedagogia Freireana. Revista de Educação da AEC. Brasília: AEC, nº 142 / 2007, p.28-40. SOUSA SANTOS, Boaventura de. Para uma pedagogia do conflito. In: SILVA, Luiz Heron. Reestruturação curricular: novos mapas culturais, novas perspectivas educacionais. Porto Alegre: Sulina, 1996. Maria Margarete Sampaio de Carvalho Braga & Maurício Cesar Vitória Fagundes 7135 IV COLÓQUIO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS E PRÁTICAS CURRICULARES “DIFERENÇA NAS POLÍTICAS DE CURRÍCULO” PROTAGONISMO DE SUJEITOS E GRUPOS NAS POLÍTICAS CURRICULARES Rosanne Evangelista Dias JOÃO PESSOA - PB - BRASIL 10 A 13 DE NOVEMBRO DE 2009 Protagonismo de Sujeitos e Grupos nas Políticas Currriculares PROTAGONISMO DE SUJEITOS E GRUPOS NAS POLÍTICAS CURRICULARES1 Rosanne Evangelista Dias UFRJ RESUMO: A produção de políticas curriculares nos últimos trinta anos no Brasil contou com a atuação de diferentes sujeitos e grupos, intensificada a partir do período de redemocratização da sociedade brasileira. O aumento dessa produção pode ser atribuído à mobilização de sujeitos e grupos, com conhecimento autorizado – as comunidades epistêmicas –, na discussão e produção de políticas públicas para diversos setores. Em tal processo, proposições sobre as políticas curriculares, foco deste trabalho, foram formuladas, confrontadas e articuladas em diferentes arenas tendo em vista a consolidação de uma proposta hegemônica (Laclau) para o país. A despeito da presença dessa atuação de sujeitos e grupos, notamos a existência de poucas análises que dêem conta dessa atuação. Frequentemente essas investigações ficam circunscritas ao âmbito oficial (atuação do parlamento e executivo), sem considerar as diversas influências que cercam as definições curriculares. Defendemos, portanto, o desenvolvimento de análises orientadas pela abordagem do ciclo de políticas (Ball), a vertente das comunidades epistêmicas (Antoniades) e os processos de articulação por demandas (Laclau) em diferentes contextos por reconhecer o protagonismo de sujeitos e grupos na produção das políticas curriculares. PALAVRAS-CHAVE: Abordagens teórico-metodológicas; Protagonismo de sujeitos e grupos; articulação por demandas; ciclo de políticas; comunidades epistêmicas. Introdução A produção de políticas curriculares deve ser entendida como um processo que envolve a participação ativa de diferentes sujeitos e grupos em diversos tempos e espaços. Portanto, os textos e discursos que são objeto de análises em investigações no campo da educação não podem deixar de refletir sobre as vozes que expressam as ideias difundidas nos documentos curriculares. O reconhecimento da ativa participação de sujeitos e grupos nas proposições das políticas curriculares, especialmente nos anos de 1 Este trabalho é derivado da minha tese de doutorado: Ciclo de políticas curriculares para a formação de professores no Brasil (1996-2006), orientado por Alice Casimiro Lopes. Rosanne Evangelista Dias 7139 Protagonismo de Sujeitos e Grupos nas Políticas Currriculares 1990, não pode ser ignorado. Considero essa intensificação como resultado de um período conhecido pela redemocratização do país que marcou a participação de sujeitos e grupos impulsionados pela perspectiva de formulação de propostas para diversos setores da educação como em outros campos das políticas públicas. Vários setores da sociedade civil atuaram na produção, difusão e discussão de proposições, em processos de articulação política em torno das ideias defendidas para a educação. Com a aprovação da Lei Nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/96), importante texto de definição de políticas para a educação, essa participação ganhou novo sentido diante das configurações que estavam sendo definidas nos marcos do processo democrático. Por todos esses anos, uma série de sujeitos e grupos sociais participou nas arenas de luta em defesa dos projetos que representavam, influenciando em maior ou menor grau, a definição dessas políticas. Essa atuação se fez presente em diferentes contextos de produção da política como defende Ball e Bowe (1998), a partir de processos de articulação em luta por proposições que se espera ter hegemonizadas como políticas. O modelo analítico de Ernesto Laclau (1993, 2005, 2006) sobre os processos de articulação de demandas contribui nas investigações de políticas curriculares por considerar não apenas os sujeitos que nelas atuam, como também a dinâmica de negociação de sentidos que envolvem as políticas. Defendo, portanto, a contribuição de Ball (1994, 1998) e Laclau (1993, 2005, 2006) para orientar as nossas investigações em políticas públicas curriculares. Entre os méritos das abordagens desses autores está o de focalizar as análises relacionais como macro e micro/ global e local; a contingência e a provisoriedade das políticas presentes nesses processos caracterizados pela complexidade. Não pretendo com essas perspectivas defender o apagamento do papel do Estado ou da atuação de governos nas políticas públicas. Ao contrário, busco incluir as ações que são produtoras de políticas envolvendo a atuação de sujeitos e grupos sociais que produzem e fazem circular ideias, influenciando e definindo essas políticas e que muitas vezes ficam sem visibilidade nessas análises. Tenciono neste trabalho, apresentar as orientações teórico-metodológicas que conduziram a minha pesquisa de doutorado e as discussões sobre política curricular que Rosanne Evangelista Dias 7140 Protagonismo de Sujeitos e Grupos nas Políticas Currriculares vêm sendo encaminhadas no âmbito do grupo de pesquisa no qual atuo2. Desenvolvo na primeira seção uma síntese do debate no campo das ciências sociais sobre a pesquisa desenvolvida na área de política pública, dialogando com a produção do campo da educação e destacando, particularmente as abordagens do ciclo de políticas e a vertente das comunidades epistêmicas como significativas contribuições para essas investigações. Na segunda seção, apresento as questões que orientam as pesquisas sobre o protagonismo de sujeitos e grupos e os processos de articulação na produção de políticas curriculares, apresentando os principais conceitos que defendo para a condução dessas análises a partir das contribuições de Ball e Laclau. Finalizo com considerações acerca das questões apontadas indicando as possibilidades presentes nas pesquisas sobre políticas curriculares que se pautam nas abordagens apresentadas que tem como referência o protagonismo de sujeitos e grupos e a política como um complexo processo de articulação. Políticas públicas: a produção em diferentes campos A produção da pesquisa em políticas públicas tem crescido no Brasil em diversas áreas do conhecimento. No campo da educação, a produção de teses e dissertações em currículo da Educação Básica3 que tem como tema central a política curricular, no período de 1996 a 2002, chegou a 42,5% (Paiva, Frangella e Dias, 2006). Entendo que o resultado do aumento dessa produção, traz consequências de caráter teórico-metodológico (Melo & Costa, 1995) que devem ser enriquecidas pelo debate entre os campos das ciências sociais e da educação para a compreensão sobre os limites e as possibilidades das pesquisas sobre políticas públicas no atual contexto. Uma das críticas desenvolvidas pelos pesquisadores de políticas públicas nas ciências sociais diz respeito à existência de micro-abordagens contextualizadas desvinculadas de análises dos processos macro e limitadas no tempo, falhando na busca de inter-relações entre os processos investigados (Frey, 2000). Este problema está 2 Grupo de pesquisa do CNPq “Currículo: sujeitos, conhecimento e cultura”, coordenado pela Profa. Dra. Alice Casimiro Lopes. Para maiores informações em www.curriculo-uerj.pro.br 3 As teses e dissertações analisadas nesse trabalho são oriundas da pesquisa “Estado da Arte do currículo da educação básica no Brasil”, financiada pelo INEP/PNUD e realizada no âmbito da ANPED, desenvolvida no ano de 2004. Rosanne Evangelista Dias 7141 Protagonismo de Sujeitos e Grupos nas Políticas Currriculares intimamente vinculado à relação macro e micro, objeto de debate também no campo da educação. Muitas vezes, os aspectos macro e micro são expressos nas investigações sobre políticas ressaltando a dicotomia e a unilateralidade entre as instâncias (Lopes, 2005, Brandão, 2002). Para Lopes, o problema não está na opção por investigações que priorizem empiricamente instâncias macro ou micro em suas análises, mas quando é inexistente a busca de relações entre essas instâncias, predominando o caráter determinista entre as mesmas. Os pesquisadores devem sentir-se desafiados a compreender como ambas as instâncias influenciam e estruturam, no mundo contemporâneo, um número crescente de situações em nível global e local. Tem sido destacado em trabalhos que analisam a produção de políticas no campo do currículo (Lopes, 2005, 2004b; Paiva, Frangella e Dias, 2006) uma discussão voltada para a produção dos governos, explorando muito o institucional, em especial as ações no âmbito dos poderes executivo e legislativo. Outro aspecto presente é a influência das reformas no contexto da globalização no cenário político brasileiro e de outros países do mundo e a pouca presença de análises sobre o papel dos sujeitos e grupos sociais que estejam fora do quadro burocrático do Estado. Desse modo, lideranças que exercem influência na formulação e definição das políticas públicas acabam tendo um papel secundário nessas análises, quando elas se apresentam. Resulta assim, que na maior parte delas, silenciam os conflitos e polêmicas que cercam a política curricular, revelando o papel da política como prescritiva da prática. Fatores exógenos, como acordos transnacionais, financiamentos promovidos por organismos internacionais, entre outros, têm um relevo significativo nas análises das políticas públicas educacionais. O destaque conferido às agências multilaterais, influenciando a produção de políticas públicas, não pode ser ignorado, mesmo por aqueles que, como eu, consideram seu papel de influência relativo. Contudo, considero a necessidade de se buscar nas análises de políticas públicas educacionais a inter-relação entre esses organismos internos e os grupos e lideranças de um país, aspecto ainda pouco presente nesses estudos. Em uma direção distinta da que enfatiza o papel central do Estado na produção de políticas públicas, Ball incorpora em sua análise as relações entre os contextos micro e macro e as complexas influências que marcam a produção das políticas educacionais, como um processo dinâmico, introduzindo a questão da Rosanne Evangelista Dias 7142 Protagonismo de Sujeitos e Grupos nas Políticas Currriculares convergência de políticas que, para o autor, são influenciadas por processos que transcendem os limites da territorialidade de um Estado-nação. Outra perspectiva teórico-metodológica que vem sendo discutida e aprofundada na área de políticas públicas no campo das ciências sociais tem como central nas análises as políticas como processo, vistas como práticas políticas que envolvem tensões e contradições. Como exemplo dessas abordagens, destaco a arena, a rede e o ciclo de política que tendem a desfocar os denominados agentes decisores que concentram a atenção no processo da definição das políticas, agentes esses, muitas das vezes circunscritos à ação em cargos governamentais. Também o campo tem reconhecido a existência de novos sujeitos e grupos atuando, via organizações para além dos limites territoriais e da participação de redes de especialistas (Faria, 2003) – o caso das comunidades epistêmicas. Neste trabalho o interesse está focalizado no ciclo de políticas e nas comunidades epistêmicas. O ciclo de políticas, caracterizado pela dinâmica e complexidade temporal, assume importância como abordagem analítica por se constituir em um modelo heurístico bastante interessante para a análise da vida de uma política pública (Frey, 2000, p. 226). Ao tecer um breve balanço da produção de políticas educacionais, Mainardes (2007) defende a utilização da abordagem do ciclo contínuo de políticas4 desenvolvido por Ball (1994) e Ball e Bowe (1998), como contribuição para a pesquisa no campo da educação. Destaco, ainda, que na análise do ciclo se faz presente a interação entre sujeitos e grupos sociais nacionais e internacionais na formação de agenda de políticas públicas, especialmente no contexto de globalização na qual o papel das entidades transnacionais adquire especial relevo (Melo & Costa, 1995). Contudo, para analisar essas interações faz-se necessário uma visão diferenciada daquela que atribui às forças externas a responsabilidade total e inexorável pelo empreendimento da política contra a qual não há espaço para “negociação”. Outra tendência apontada pela literatura das ciências sociais indica a presença, cada vez mais permanente, das ações de comunidades epistêmicas na produção e 4 Nesse ciclo contínuo de políticas Ball apresenta cinco contextos que podem ser entendidos como arenas políticas nos quais o processo de produção de políticas deve ser analisado: a) contexto de influência; b) contexto de definição de textos4; c) contexto da prática; d) contexto dos resultados / efeitos; e) contexto da estratégia política. Esses dois últimos contextos resultam de uma expansão pelo autor, do ciclo contínuo de políticas, incorporando nele as preocupações com a avaliação e o impacto das políticas na alteração do quadro social. Os três primeiros contextos: influência, definição de textos e prática são para Ball os contextos primários e todos eles produtores de política curricular. Rosanne Evangelista Dias 7143 Protagonismo de Sujeitos e Grupos nas Políticas Currriculares difusão de políticas. O conceito de comunidade epistêmica envolve questões como conhecimento e poder em redes de influências que atuam em arenas políticas. Essas redes, constituídas de sujeitos, na sua maior parte com atuação não-governamental, congregam lideranças na área de conhecimento ou em determinada instituição/empresa/entidade. O poder da comunidade epistêmica está associado ao conhecimento ou a autoridade cognitiva aplicado à implementação de políticas (Melo & Costa, 1995; Antoniades, 2003), mas não só a isso. Nesses processos de formação de agenda e difusão de conhecimento, em escala global e local, faz-se muito importante não apenas o conhecimento técnico-científico, mas, sobretudo, nos aspectos relativos à produção de consenso como base para coordenação de políticas. Embora não aprofunde a respeito da caracterização e dinâmica das comunidades epistêmicas, Ball (1998) identifica a dessas comunidades de pensamento (Faria, 2003) influenciando de forma direta a produção de políticas educacionais por meio do fluxo de idéias disseminado em suas redes sociais e políticas. Mas, não é apenas no contexto de influência que a ação das comunidades epistêmicas se realiza. No contexto de definição de documentos curriculares, os membros de uma comunidade epistêmica são vistos participando em comissões, consultorias, conselhos, etc. A presença de investigações utilizando a comunidade epistêmica como vertente analítica ainda é pequena no campo da educação, sendo mais notada no Brasil na discussão de políticas setoriais na área da saúde e meio ambiente, como também no campo das relações internacionais (Dias, 2009). Como exemplo de trabalhos que utilizam o conceito de comunidade epistêmica, cito meu próprio trabalho com López (2006) que analisa as proposições para a formação de professores e o processo de avaliação contidas no Relatório Delors (2001). Podemos verificar o quanto a UNESCO, na sua função catalisadora de políticas, desempenha esse papel de incorporar ideias produzidas por sujeitos e comunidades com grande amplitude e também legitimando ideias e propostas que tenha a UNESCO como referência. Lopes5 (2006, 2004a) também discute o papel das comunidades epistêmicas na produção das políticas 5 Em sua pesquisa, financiada pelo CNPq e intitulada “A produção de políticas de currículo em contextos disciplinares”, Lopes utiliza-se do conceito de comunidade epistêmica (Ball) na produção de discursos sobre seleção e organização do conhecimento escolar às políticas curriculares para o ensino médio no Brasil. Rosanne Evangelista Dias 7144 Protagonismo de Sujeitos e Grupos nas Políticas Currriculares curriculares para o ensino médio, demonstrando a força com que grupos e sujeitos ligados a essa área influenciam na produção de políticas para o Brasil. Um bom exemplo de trabalho, no campo da educação, que lança questões sobre a atuação dos sujeitos e grupos também em ações que envolvem a produção de sentidos junto aos organismos internacionais é o de Krawczyk (2001). Ela analisa a influência dos organismos internacionais nas reformas educacionais na América Latina, sem, contudo, avançar nos aspectos relacionais entre a participação desses sujeitos/grupos políticos e os organismos internacionais. Cito ainda dois trabalhos importantes para as análises que incorporem o papel de sujeitos e grupos políticos na produção de políticas: os trabalhos de Hage (2003) e de Silva (2003). Ambos focalizam a ação política de grupos como associações acadêmicas, sindicatos, segmentos privados e religiosos, bem como a atuação de Fóruns cuja composição ampla permite a inclusão de vários grupos organizados da sociedade. Embora esses dois autores se preocupem com a explicitação das tensões do processo e das disputas de projeto presentes no decurso da produção da política, ao terem como questão a luta pela hegemonia6 na construção dos projetos, desconsideram os espaços de conciliação de interesses que também se fazem presentes nesse processo complexo de produção de políticas. O processo de produção de políticas é permeado de confluências e divergências procedentes de fontes autorais distintas, o que nos permite pensar o contexto das influências na suas múltiplas complexidades, derivadas de variadas fontes (sujeitos, grupos, organizações, etc.), espaços (em diferentes escalas) e destinação. Considerar a atuação de sujeitos na produção de políticas nos deve fazer reconhecer as diversas identidades que participam nas ações políticas e as distintas posições assumidas pelo mesmo sujeito, no mundo contemporâneo, e as ambivalências que podem surgir derivadas dessas diferentes posições do sujeito, influenciadas também pelas inserções em grupos que defendem semelhantes posições e suas relações de poder. As diferentes formas de atuação repercutem nas distintas posições assumidas pelos sujeitos (Laclau, 1996; Mouffe, 1996), relacionadas aos diferentes propósitos que empreendem na luta política. Compartilho da defesa de Laclau a respeito do pertencimento múltiplo do sujeito na vida social contemporânea, na medida em que esse pertencimento é constituído em função de diferentes lutas políticas. As posições dos 6 O conceito de hegemonia empregado pelos dois autores em seus trabalhos é fundamentado na teoria do Estado de Gramsci. Rosanne Evangelista Dias 7145 Protagonismo de Sujeitos e Grupos nas Políticas Currriculares sujeitos defendidas nos discursos se difundem nos variados espaços e grupos em que participam, ou nas arenas de ação (Ball, 1994), vindo a constituir, entre os vários pertencimentos, o de uma comunidade epistêmica. Reconheço a relevância de modelos analíticos que contemplem o processo de produção da política compreendendo sua dinâmica e complexidade. Defendo o emprego das abordagens do ciclo de políticas e a vertente da comunidade epistêmica por revelarem-se extremamente úteis para as análises em políticas curriculares. Protagonismo e processos de articulação na produção de políticas curriculares Na investigação que defende o protagonismo de sujeitos e grupos na produção de políticas curriculares faz-se importante a análise da inter-relação entre os discursos presentes nos textos de definição política com os discursos produzidos e difundidos nos contextos da prática e de influência pelos seus autores nos diferentes textos que defendem demandas dirigidas às políticas curriculares. Concordo com Ball (1994), que as políticas são simultaneamente discursos e textos. Entendo discurso como prática social, não se dissociando a linguagem da ação e das próprias regras que a constituem. Os diferentes discursos produzidos nos variados contextos de produção curricular são recontextualizados (Bernstein, 1996; 1998) por processos de hibridização (Canclini, 1998), com a finalidade de garantir às políticas a legitimidade, por parte de diferentes grupos, bem como articular demandas desses mesmos grupos. A incorporação dos diferentes discursos nos documentos curriculares é resultado de um complexo processo de negociação de sentidos em torno das políticas pelos diferentes sujeitos e grupos sociais. Por não estarem fechados, nem terem seu significado fixado nem claro, os textos políticos, segundo Ball e Bowe (1998), estão submetidos a interpretações e reinterpretações de sentidos, nos diferentes contextos marcados por uma variedade de interesses. Esse processo de tradução, não é capaz de controlar por parte dos autores dos textos todos os significados, pois podem ser lidos de modo diferente nos diversos contextos em que são difundidos (Ball, 1994; Ball & Bowe, 1998). Ressaltam ainda, esses autores, que os textos políticos possuem uma estreita relação com os contextos nos quais são produzidos e dirigidos. Rosanne Evangelista Dias 7146 Protagonismo de Sujeitos e Grupos nas Políticas Currriculares Enfatizo a importância do discurso na produção dos sentidos de políticas públicas e defendo a relevância da incorporação dessa análise. Analisar os discursos como conteúdo da política, sejam eles associados aos mais diversos textos ou às ações e embates em curso nas arenas políticas voltadas para a produção de políticas nos variados setores, implica vê-los como expressão da prática social, constituindo-se de fundamental importância para a compreensão das influências que envolvem a política. Esses discursos têm por finalidade influenciar o contexto da prática, nos cursos de formação de professores ou nas orientações de pesquisas que são desenvolvidas, pois é para esse contexto que são produzidos. Por outro lado, esses mesmos discursos têm, potencialmente, a capacidade de influenciar textos curriculares nos demais contextos de produção de políticas: influência, prática e definição de textos, circulando entre os diferentes contextos, com múltiplos sentidos e significados em disputa (Lopes, 2006a) estando também sujeitos a múltiplas interpretações. Os textos, a partir dos quais são analisados os discursos sobre políticas curriculares, são todos eles, materiais caracterizados pela pluralidade (Laclau, 1996). Essa pluralidade está presente em muitas dimensões. Há pluralidade de autores e sentidos, além da pluralidade de leituras, decorrente dos diversos sentidos e interpretações possíveis para um texto ou discurso, influenciado pelas contingências. Muitas dessas interpretações resultam em ações políticas como acordos, estabelecimento de agendas, etc. (Ball, 1994). Desse modo, não podemos esperar por uma única opinião autorizada (Bauman, 1999) e sim por múltiplas opiniões também autorizadas que disputam o campo da significação das políticas curriculares. Isso, muitas vezes, pode vir a produzir a ambivalência nos discursos que circulam e são incorporados nos textos de definição, manifestando sua hibridização. Devo considerar ainda as possibilidades, nesses processos de articulação, de que os sentidos sejam transferidos nos vários contextos de produção da política e que nesse processo ocorram deslizamentos interpretativos e processos de contestação (Ball & Bowe, 1998), capazes de dar uma nova dinâmica à produção do discurso da política. As interpenetrações de sentidos nos variados contextos não nos permite, muitas vezes, identificar a “origem” do discurso que acabou por ser legitimado e transformado em texto de definição das políticas de currículo. O processo de definição de textos políticos passa por processos de produção da política curricular baseados em articulações Rosanne Evangelista Dias 7147 Protagonismo de Sujeitos e Grupos nas Políticas Currriculares políticas em torno de demandas formuladas e difundidas pelos diferentes sujeitos e grupos sociais que constituem essas comunidades epistêmicas. Os discursos em torno das demandas são disputados nos diferentes contextos e visam a constituir propostas hegemônicas em meio ao processo complexo de articulação discursiva que envolve tensões e conflitos (Laclau, 1993, 2005, 2006). Na luta pelo reconhecimento de demandas em torno dos sentidos para o currículo, há processos de incorporação pelo Estado dos discursos em defesa de demandas. As demandas emergem dos discursos e são processualmente alteradas seja pela inclusão de novas demandas, pelo deslocamento de sujeitos e grupos incorporados ou excluídos ou pela reconfiguração delas no contexto da política (Laclau, 2005) e na luta por políticas. Defendo a investigação dos processos de construção de demandas e de articulação (Laclau, 1993, 2005, 2006) em torno da política curricular a partir dos textos produzidos por sujeitos e grupos sociais nos diferentes contextos em que participam. Ao focalizar o processo de articulação de diferentes demandas podemos analisar como são estabelecidas cadeias de equivalências entre diferentes demandas, tendo como propósito uma determinada política. A lógica da equivalência não dilui ou apaga a diferença existente entre as demandas em uma mesma cadeia, mas permite a vinculação delas em torno de um propósito no qual há uma convergência, ampliando o arco de alianças. A despeito das diferenças, as demandas, estabelecem relações que aproximam umas das outras no processo de luta pela política por um projeto hegemônico, revelando toda a multiplicidade e pluralidade e seus aspectos de continuidades e descontinuidades que caracteriza esse processo. Lembro ainda que, embora possam se distinguir uma da outra no seu sentido, as demandas podem se equivaler pela oposição, ou não, em relação a uma determinada política, indicando complementariedade ou tensão. Ao se aglutinarem, essas demandas acabam por constituir-se em outra com sentido geral, mais ampla, em torno de um projeto hegemônico. Esse processo deve ser visto como resultado do processo de luta pela política. Assim, há hegemonia quando uma particularidade assume certa função universal (Laclau, 2006). Contudo, a hegemonia é provisória e contingente, sendo o resultado da articulação de elementos em torno de certas configurações sociais, estreitamente ligada às lutas concretas de sujeitos e grupos sociais. Inserir nas análises das políticas curriculares todos os aspectos que envolvem os embates em torno das diferentes proposições que disputam a hegemonia no campo político, nos faz Rosanne Evangelista Dias 7148 Protagonismo de Sujeitos e Grupos nas Políticas Currriculares compreender melhor a complexidade da produção das políticas nos mais diferentes contextos. Outra importante contribuição de Laclau para as análises das políticas curriculares é o significante vazio que resulta do processo em que uma determinada demanda deixa de estar marcada pelos seus significados particulares, de tanto que ela se estendeu em equivalências. Assim, um significante vazio é capaz de incorporar todos os sentidos possíveis, representando uma totalidade heterogênea (Laclau, 2006), deixando de ser assumida e identificada, separadamente, pelas particularidades que as constituíram, como é, por exemplo, a demanda pela qualidade da educação. O significante vazio não apaga os limites entre aquilo a que se opõe, mas para existir precisa de vê-los bem estabelecidos (Laclau, 2005, 2006), a partir de um discurso privilegiado por ser capaz de incorporar conteúdos e sentidos diversos, mesmo que provisórios e contingentes. Por não haver fixidez permanente nos processos políticos e na produção de políticas, existe também uma significação indefinida ou flutuante na representação das demandas que deve ser identificada nos textos curriculares. Essa dimensão flutuante está presente quando as demandas podem ser articuladas em cadeias equivalenciais alternativas em processos de pressão, na disputa de diferentes projetos hegemônicos (Laclau, 2005). A presença de ambos os significantes, flutuantes e vazios, corresponde à complexidade da política, pois se para a constituição de políticas são necessárias as fixações de sentidos, elas não podem ser estabelecidas ad infinitum. Conclusões Defendo as análises da produção de políticas curriculares em sua dinâmica de ciclo, considerando os contextos de influência, definição dos textos e prática como responsáveis pela construção dos consensos possíveis sobre as políticas (Mouffe, 2005). Esses consensos, provisórios e contingentes, são constituídos a partir dos processos de articulação discursiva entre sujeitos e grupos sociais, que constituem as comunidades epistêmicas, a partir das demandas que vêm a influenciar a definição dos textos políticos curriculares. As opiniões autorizadas se distinguem de outras no terreno do político e, muitas vezes se opõem ou antagonizam com as posições defendidas por outros sujeitos e grupos investidos de poder. Essas posições se auto-afirmam na diferença entre si, nas oposições que se constroem nas práticas cotidianas, sendo, portanto, relacionais (Laclau, Rosanne Evangelista Dias 7149 Protagonismo de Sujeitos e Grupos nas Políticas Currriculares 2006; Mouffe, 1996), sendo essas diferenças fundamentais para o processo de articulação. Assim, um texto ambivalente carrega em si, diferentes opiniões autorizadas, ampliando a representatividade de determinado texto a partir dos grupos que venham a se sentir apoiados pelas posições expressas e ainda legitimar diferentes campos de conhecimento. Considero que defender a inclusão dessa dinâmica de novos protagonistas na produção de políticas implica uma compreensão não-verticalizada dessa produção e a necessária incorporação de análises sobre as concepções de sujeitos e grupos sociais, a partir dos textos e discursos produzidos e difundidos por eles nos contextos de produção da política curricular. Em síntese, proponho uma análise para além das personagens do cenário oficial, focalizando a investigação na produção de discursos (conteúdo das políticas) e nos sujeitos e grupos sociais/políticos que formulam, defendem e negociam ideias em torno dessas políticas nos processos políticos. Entendo que os variados discursos que defendem, nos textos, as políticas curriculares precisam ser analisados em seus processos de tradução e recontextualização (Ball, 1998), considerados os diferentes contextos em que são produzidos e os sujeitos e grupos sociais que neles participam. A complexidade desse processo se faz presente nos esforços, no desenvolvimento de acordos para a produção dos textos políticos, como também na interpretação dos significados atribuídos por parte dos diferentes sujeitos. Essa luta pela significação do currículo entre diferentes grupos e sujeitos está envolta em relações e tensões e tem por finalidade legitimar posições por eles defendidas em meio a diversos sentidos em disputa. Pensar o currículo como uma política cultural pública, implica entender o currículo como uma arena de negociação de sentidos, marcado pela dinâmica de complexidade sempre contingente e provisória (Laclau, 1996). Nesse aspecto, as demandas apresentadas importam menos pela sua origem do que pelo modo como organizou sujeitos e grupos em processos de articulação. Outro aspecto importante na constituição do grupo relaciona-se às características heterogêneas que possibilitam as articulações entre diferentes grupos, no sentido de constituição de formação de projeto hegemônico ou mesmo do estabelecimento de limites em torno dos antagonismos entre projetos. Defendo nas investigações sobre políticas curriculares o reconhecimento das demandas e a compreensão dos sentidos que elas expressam nas disputas políticas por Rosanne Evangelista Dias 7150 Protagonismo de Sujeitos e Grupos nas Políticas Currriculares significações e na constituição das comunidades epistêmicas. Reconheço que esses aspectos, presentes nos processos políticos e de constituição das políticas, permitem a construção de consensos provisórios e contingentes na definição dos textos em defesa de propostas hegemônicas marcadas pela mesma precariedade, pelo indecidível. Tenho claro que, mesmo reconhecido o conhecimento especializado de determinado grupo social ou sujeito, outras relações de poder influem nos processos de negociação das políticas presentes nos discursos produzidos, na formulação e estabelecimento de agendas políticas, em consonância às visões de mundo dessas comunidades (Antoniades, 2003). Nesses processos, a política é tanto contestada quanto alterável, sempre em um estado de ‘tornar-se’, do ‘era’, e ‘nunca ter sido’ e ‘não exatamente’ (Ball, 1994), fruto da luta pela significação dos textos de definição de políticas. Compreendo a complexidade da realização de estudos sobre políticas públicas e o quanto o pesquisador deve estar apoiado em orientações teórico-metodológicas que o permitam realizar sua investigação visando a contribuir na produção do conhecimento e em consequentes derivações que esse trabalho pode permitir, nos mais variados campos, seja na pesquisa, na formação e mesmo na avaliação das políticas produzidas. Referências bibliográficas ANTONIADES, Andreas. Epistemic communities, epistemes and the construction of (world) politics. Global society, vol. 17, n. 1, 2003, pp. 21-38. BALL, Stephen. Education Reform: a critical and post-structural approach. Buckingham: Open University Press, 1994. BALL, Stephen. J. Cidadania global, consumo e política educacional. In: SILVA, L.H. (Org.). A escola cidadã no contexto da globalização. Petrópolis: Vozes, 1998, pp. 121-137. BALL, Stephen. & BOWE, Richard. El currículum nacional y su “puesta en práctica”: El papel de los departamentos de materias o asignaturas. Revista de Estudios de Currículum. vol. 1, nº 2, abril/1998, pp.105-131. BAUMAN, Zygmunt. Modernidade e ambivalência. tradução Marcus Penchel. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1999. Rosanne Evangelista Dias 7151 Protagonismo de Sujeitos e Grupos nas Políticas Currriculares BERNSTEIN, Basil. A estruturação do discurso pedagógico. Petrópolis: Vozes, 1996. BERNSTEIN, Basil. Pedagogía, Control Simbólico e Identidad. Madri: Morata, 1998. BRANDÃO, Zaia. Para além das ortodoxias: a dialética micro/macro na sociologia da educação. In: BRANDÃO, Zaia. (CDRom) Anais da 25ª Reunião Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. Caxambu, out./2002, 9 pp. CANCLINI, Nestor Garcia. Culturas Híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. 2ª edição. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1998. DELORS, Jacques (org.) Educação: um tesouro a descobrir. Relatório para a Unesco da Comissão Internacional sobre a Educação para o século XXI. São Paulo: Cortez; Brasília, DF: MEC, UNESCO, 2001. DIAS, Rosanne Evangelista. Ciclo de políticas curriculares na formação de professores no Brasil (1996-2006). Tese de doutorado. Faculdade de Educação - UERJ, 2009, 248p. DIAS, Rosanne E. & LÓPEZ, Silvia B. Conhecimento, poder e interesse na produção de políticas curriculares. Currículo sem fronteiras. v.6, nº 2, pp. 53-66, Jul./Dez.2006 Disponível em: <www.curriculosemfronteiras.org> Acesso em: 23 de outubro 2006, às 10h. FARIA, Carlos Aurélio Pimenta de. Ideias, conhecimento e políticas públicas: um inventário sucinto das principais vertentes analíticas recentes. Revista Brasileira de Ciências Sociais. vol 18, nº 51, fevereiro/ 2003, pp. 21-29. FREY, Klaus. Políticas públicas: um debate conceitual e reflexões referentes à prática da análise de políticas públicas no Brasil. Planejamento e Políticas Públicas. nº 21, junho de 2000, pp.211-259. HAGE, Salomão A. M. Guerra cultural pela escola o Brasil: a disputa pela direção do Plano Nacional de Educação (1988-1999) (CDRom) Anais da 26ª Reunião Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. Poços de Caldas, out./2003, 16 p. KRAWCZYK, Nora. A sustentabilidade da reforma educacional em questão: a posição dos Organismos Internacionais. (CDRom) Anais da 24ª Reunião Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. Caxambu, out./2001, 33 p. Rosanne Evangelista Dias 7152 Protagonismo de Sujeitos e Grupos nas Políticas Currriculares LACLAU, Ernesto. Poder y representación IN: Politics, Theory and Contemporary Culture, editado por Mark Poster, Nueva York: Columbia University Press, 1993. Tradujo Leandro Wolfson LACLAU, Ernesto. Emancipación y diferencia. Buenos Aires: Difel, 1996. LACLAU, Ernesto. La razón populista. Buenos Aires: FCE, 2005. LACLAU, E. Inclusão, exclusão e a construção de identidades. IN: BURITY, Joanildo & AMARAL, Aécio. Inclusão social, identidade e diferença: perspectivas pósestruturalistas de análise social. São Paulo: Annablume, 2006. pp.21-37. LOPES, Alice Casimiro. Políticas curriculares: continuidade ou mudança de rumos? Revista Brasileira de Educação. Rio de Janeiro/Campinas: Anped/Autores Associados. vol. 9 , nº 26, Maio/Agosto, 2004a, pp. 109-118. LOPES, Alice Casimiro. Políticas de currículo: mediação por grupos disciplinares de ensino de ciências e matemática In: LOPES, Alice C. & MACEDO, Elizabeth. (org.) Currículo de ciências em debate. Campinas: Papirus, 2004b, pp.45-75 LOPES, Alice Casimiro. Relações macro/micro na pesquisa em educação: o caso do campo do currículo. VII Encontro de Pesquisa em Educação da Região Sudeste. Belo Horizonte: UFMG/PUC-MG, 2005, 15p. LOPES, Alice Casimiro. Discursos nas políticas de currículo. Currículo sem fronteiras. v.6, nº 2, pp. 33-52, Jul/Dez.2006 Disponível em: <www.curriculosemfronteiras.org> Acesso em: 23 de outubro 2006, às 9h10min. MAINARDES, Jefferson. Reinterpretando os Ciclos de Aprendizagem. São Paulo: Cortez, 2007. MELO, Marcus A. B. C. de & COSTA, Nilson do R. A difusão das reformas neoliberais: análise estratégica, atores e agendas internacionais. In: REIS, Elisa. ALMEIDA, Maria Hermínia e FRY, Peter (orgs.) Pluralismo, espaço social e pesquisa. ANPOCS e Editora HUCITEC: São Paulo, 1995, pp.153-175. MOUFFE, Chantal. O regresso do político. Trajectos, 32. Tradução: Ana Cecília Simões. Lisboa: Gradiva, 1996. MOUFFE, Chantal. Por um modelo agonístico de democracia. Revista Sociologia Política. Curitiba, 25, p. 11-23, nov. 2005. PAIVA, Edil V.; FRANGELLA, Rita de C. P. e DIAS, Rosanne E. Políticas curriculares no foco das investigações. In: LOPES, Alice C. & MACEDO, Rosanne Evangelista Dias 7153 Protagonismo de Sujeitos e Grupos nas Políticas Currriculares Elizabeth (org.). Políticas de currículo em múltiplos contextos. São Paulo: Cortez, 2006 – (Série cultura, memória e currículo; v.7). pp.241-269. SILVA, Andréia F. da. A formação de professores para a educação básica no Brasil: projetos em disputa (1987-2001) (CDRom) Anais 26ª Reunião Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. Poços de Caldas, outubro/2003, 17 p. Rosanne Evangelista Dias 7154 IV COLÓQUIO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS E PRÁTICAS CURRICULARES “DIFERENÇA NAS POLÍTICAS DE CURRÍCULO” SABERES E PRÁTICAS NA JORNADA AMPLIADA ESCOLAR NA AMAZÔNIA: UM ESTUDO DE CURRÍCULO PAUTADO NA EDUCAÇÃO INTEGRAL Sheila Cristina Monteiro Matos JOÃO PESSOA - PB - BRASIL 10 A 13 DE NOVEMBRO DE 2009 Saberes e Práticas na Jornada Ampliada Escolar na Amazônia: um estudo de currículo pautado na educação integral SABERES E PRÁTICAS NA JORNADA AMPLIADA ESCOLAR NA AMAZÔNIA: UM ESTUDO DE CURRÍCULO PAUTADO NA EDUCAÇÃO INTEGRAL Sheila Cristina Monteiro Matos, UNIRIO RESUMO: Este trabalho busca refletir sobre uma proposta curricular emancipatória para escolas de tempo integral atendidas pelo Programa Mais Educação em regiões periféricas de metrópoles na Amazônia. Este debate se justifica pela necessidade de as escolas de tempo integral refletirem sobre os conhecimentos que os alunos da periferia trazem como bagagem cultural, que perfazem um currículo oculto e que precisam ser legitimados no ambiente escolar. Partimos da premissa que o currículo, os saberes e a aprendizagem são componentes interligados e podem concretizar uma educação com sucesso escolar. Assim, utilizamos como aporte teórico Stuart Hall, Antônio Flávio, Anísio Teixeira, Dewey, Giroux e Apple. Os procedimentos metodológicos utilizados foram: análise curricular de escolas das redes públicas estaduais atendidas pelo Programa; observação das práticas pedagógicas no contraturno escolar; e entrevistas com roteiros semiestruturados com coordenadores que gerenciam o projeto de Educação Integral. Os resultados da investigação sinalizam que a proposta curricular das escolas estudadas ainda precisa ser aperfeiçoada no que tange aos saberes não instituídos pelo currículo formal, apresentando fragmentações na elaboração do saber e dissociando-se da proposta de Educação Integral. PALAVRAS-CHAVE: Educação Integral, Programa Mais Educação, Proposta curricular. 1 INTRODUÇÃO A Amazônia é um celeiro de saberes populares. Sua origem e seu processo de colonização formaram identidades bastante peculiares que não foram valorizadas plenamente pelas políticas públicas, particularmente a educacional. As atuais políticas educacionais, valorizando pressupostos de Educação Integral, buscam universalizar o acesso, a permanência e a aprendizagem na escola pública, com a finalidade de enfrentar as enormes injustiças na educação popular brasileira. Uma de suas ações de fomento é o Programa Mais Educação. Sheila Cristina Monteiro Matos 7158 Saberes e Práticas na Jornada Ampliada Escolar na Amazônia: um estudo de currículo pautado na educação integral Valorizando a ampliação da jornada escolar, o Programa Mais Educação é uma realidade nas metrópoles da Amazônia. Entretanto, do que adianta chegar o recurso se o currículo ainda não reflete os pressupostos básicos da Educação Integral? Assim, este artigo tem por objetivo refletir sobre uma proposta curricular emancipatória para escolas de tempo integral atendidas pelo Programa Mais Educação em regiões periféricas de capitais na Amazônia. Para tal, foi realizada pesquisa documental, bibliográfica e de campo ao se analisar o currículo de escolas atendidas pelo Programa; ao se observar as práticas pedagógicas no contraturno escolar; e ao se entrevistar coordenadores que gerenciam projetos de Educação Integral. 2 CURRÍCULO, CULTURA E IDENTIDADE AMAZÔNICA Existem várias correntes e concepções sobre identidade no Brasil. Dentre as diversas concepções, adotamos o pensamento de Stuart Hall (2004), que a define como resultado de “celebrações” históricas que resultam em um contexto sociocultural no qual o sujeito está inserido, traduzindo-se em valorização das diferenças. A identidade não é um simples produto biológico alinhado somente por questões étnicas ou geográficas. Ela é “formada e transformada continuadamente em relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam” (HALL, 2004, p. 13). Fischmann (2002), ao referir-se às várias concepções de identidade no Brasil, aborda que todas essas correntes asseveram algo em comum: a relevante heterogeneidade presente na formação cultural, social e étnica brasileira. Contextualizando este trabalho, afirmamos que a Amazônia é um celeiro de heterogeneidades, que perfazem-na como uma das regiões mais complexas e multifacetadas do Brasil. Comunidades indígenas, remanescentes de quilombos, extrativistas, ribeirinhos, migrantes, camponeses, garimpeiros - diferentes culturas e etnias que desenharam uma paisagem que Hage (2005) definiu como uma imensa “pororoca multicultural” e que formou um “homo amazonius” (O HOMEM..., 2009). Entretanto, essa especificidade multicultural popular da Amazônia, o que em tese seria um significativo espaço pedagógico em que seriam levantadas importantes questões com base na subjetividade e na experiência do aluno (cf GIROUX; SIMON, Sheila Cristina Monteiro Matos 7159 Saberes e Práticas na Jornada Ampliada Escolar na Amazônia: um estudo de currículo pautado na educação integral 2008), foi durante muitos séculos, conforme Loureiro (1995), ignorada pelos poderes públicos, sendo tomada sob a condição de subcultura – inferior, primitiva, superficial e puramente lúdica. “O país não o entende muito bem” (O HOMEM..., 2009, p. 26). O chamado “homo amazonius” foi estigmatizado e passou a ser conhecido por “inconstante, despreocupado, sedentário, desambicioso, indolente, desleixado, degradado” (p. 32). Devido a essas condições, Cristo (2007) disserta que o amazônida não se encontra somente às margens dos rios e igarapés, mas também está à margem das políticas públicas, principalmente a educacional. As difíceis condições logísticas ainda agravam essa situação, encaminhando a desejada qualidade de ensino público para uma realidade distante (MATOS; MATOS, 2008). Logo, não é difícil perceber que educar na Amazônia é um desafio e as políticas educacionais necessitam ser específicas em considerar a identidade sociocultural de seu povo. Hage (2005) reforça este pensamento, afirmando que um projeto de educação na Amazônia deve ser includente, valorizando a cultura popular. Valorizar a cultura popular nos remete ao campo das lutas sociais. Cultura, por si só, já reflete um jogo de poder (SILVA, T., 2007). A cultura popular, por sua vez, representa um contraditório terreno de luta social (GIROUX; SIMON, 2008). Por seu turno, Antonio Flavio e Tomaz Tadeu (MOREIRA; SILVA, T., 2008) destacam a relevância do currículo para a transmissão de cultura popular em meio a esse terreno de luta. Para os autores, a ideia de cultura é “inseparável da de grupos e classes sociais” (p. 27), sendo o campo em que se luta pela manutenção ou superação das divisões sociais. Assim, o currículo é um “terreno privilegiado de manifestação desse conflito” (p. 27) e não deve ser um local de transmissão de cultura incontestada e unitária. Pelo contrário, conforme Tomaz Tadeu (SILVA, T., 2007), o currículo é um documento que forja a identidade cultural. O currículo deve, portanto, valorizar as diferenças das culturas minoritárias no campo social, oficializando o que tem sido chamado de currículo oculto1. Como abordamos, o currículo não pode ser unitário, único para toda uma região. Apple (2008), ao relacionar currículo à cultura em âmbito nacional, aborda que a 1 Refere-se àqueles aspectos da experiência educacional não explicitados no currículo oficial formal (MOREIRA; SILVA, 2008, p. 31) Sheila Cristina Monteiro Matos 7160 Saberes e Práticas na Jornada Ampliada Escolar na Amazônia: um estudo de currículo pautado na educação integral incorporação de um currículo centralizado oficial tornaria a escola uma escola de classes, o que iria de encontro à democratização do ensino. Pensar em um único currículo para toda a região amazônica, uma das áreas mais multifacetadas culturalmente do mundo, é não respeitar a diversidade cultural existente. É impor um modelo que, com certeza, não vai valorizar os saberes populares. Infere-se, portanto, que as políticas públicas devem fomentar currículos formais para Amazônia valorizando os saberes populares de cada região: ribeirinhos, centros urbanos, tribos indígenas, campo, reservas florestais, assentamentos etc. Assim, o currículo pode ser um efetivo terreno de política cultural que forneça condições rumo à educação com qualidade. 3 REFLEXÕES SOBRE EDUCAÇÃO INTEGRAL E SUA IMPLANTAÇÃO NA AMAZÔNIA Neste Século XXI, diversos autores e pesquisadores brasileiros em educação redescobrem e retomam a Educação Integral em prol de uma formação humana mais completa, ao congregar e articular três instâncias básicas: a educação intelectual, a educação física e a educação moral (GALLO, 2002). Sua relevância vem sendo corroborada em termos de políticas públicas, tornando-se presente nas mais recentes legislações educacionais brasileiras com a ampliação do tempo e espaço nas redes de ensino em diversos estados e municípios do País. Feldman (2003) afirma que essa ampliação possibilitaria a democratização do ensino público A escola pública tem um espaço próprio que precisa ser redimensionado. Devem ser revistos seus métodos pedagógicos, sua organização curricular, sua gestão, os saberes nela e por ela veiculados, em concordância a uma definição e viabilização de políticas públicas compromissadas com os princípios autênticos da democracia e da participação. Mudar o tempo e o espaço da escola é inserir-se numa perspectiva de mudança das estruturas sociais, tendo como horizonte de possibilidades a transformação de uma sociedade injusta e excludente para uma sociedade mais igualitária e integrada (p. 88, grifo nosso). Entender os atuais pressupostos de Educação Integral nos remete a estudá-la a partir de sua história. Essa temática eclodiu no Brasil, de fato, em 1932, por meio de um movimento de educadores e intelectuais renomados no campo educacional chamados de Sheila Cristina Monteiro Matos 7161 Saberes e Práticas na Jornada Ampliada Escolar na Amazônia: um estudo de currículo pautado na educação integral Escolanovistas. Suas ideias foram em defesa da adoção de um tempo ampliado com qualidade na escola, em favor de uma educação única, laica, obrigatória, pública e gratuita. Os ideais escolanovistas se materializaram a partir de alguns atos, tais como: a criação do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP), em 1938; a designação para a chefia de cargos na burocracia educacional pelos signatários do Manifesto de 1932; e a criação dos periódicos da Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, a RBPE, que, em 1944, trazia temáticas renovadoras pautadas na concepção humanista moderna (SAVIANI, 2008). Já nessa época, os ideais escolanovistas chegaram a Belém, maior cidade da região amazônica até então. Um texto da Assembléia Legislativa de 1937 atesta esse marco. A Escola Nova, revolucionando completamente os methodos de ensino […] trouxe como consequencia a ampliação do apparelhamento dídactico, tornando-o cada vez mais dispendioso. O actual desenvolvimento da sciencia educacional exige não só installações perfeitas para o preparo intellectual do alumno, como também uma sã assistência moral e bem orrientada educação physica […] Além disso, é imprescindível que seu corpo docente seja culto, dedicado, animado de um patriotismo e tenha á sua disposição um apparelhamento escolar completo (apud ROSÁRIO, 2008, p. 49, grifo nosso). A precariedade de material e de pessoal foi decisiva para sua não efetivação na Escola Pública, resultando em ações meramente discursivas e teóricas. Preponderantemente, essa renovação no Brasil foi uma consequência dos pensamentos de John Dewey, sobretudo na visão de “perceber que a escola não pode ser uma preparação para a vida, mas sim, a própria vida” (LOURENÇO FILHO, 2002, p. 289). Toda sua discussão “continha a ideia de religamento entre os conhecimentos escolares e a vida em plenitude” (CAVALIERE, 2002, p. 255). Com base nas experiências que prova, a vivência educativa torna-se para a criança num ato de constante construção e reconstrução de saberes. Cavaliere (2002) ainda atesta que a prática do pensamento pragmático de Dewey foi mais desenvolvida e consistente nos Estados Unidos devido à formação social americana. “Sua pluralidade étnica e cultural demandava um tipo de escolarização da qual emergissem cidadãos capazes de construir uma identidade Sheila Cristina Monteiro Matos 7162 Saberes e Práticas na Jornada Ampliada Escolar na Amazônia: um estudo de currículo pautado na educação integral cultural” (p. 256), o que vem a democratizar o ensino, premissa tão necessária à realidade educacional brasileira. Logo, a identidade cultural que emerge na Amazônia, tão ímpar como foi visto na seção anterior, deve nortear os conhecimentos curriculares. Anísio Teixeira, verdadeira legenda brasileira desse movimento, afirmou que o pensamento renovador de Dewey trouxe como proposta inovadora fazer uma escola de vida, em que as matérias fossem experiências e atividades da própria vida (TEIXEIRA, 1977). As ideias de Anísio influenciaram a implantação da Escola-Classe em Brasília, na década de 1960, e, posteriormente, a criação dos Centros Integrados de Educação Públicas (CIEPS), na década de 1980, no Rio de Janeiro, bem como a dos Centros de Atenção Integral à Criança (CAICs), na década de 1990, já em âmbito nacional (MOLL, 2008). Os CIEPs e os CAICs foram experiências inovadoras, porém frágeis e emblemáticas, sobretudo por não haver políticas de continuidade nessa esfera educacional (COELHO; MENEZES, 2007). Essas experiências, aliadas a contrasensos e dissensos de Políticas Educacionais naquele período, tornaram o discurso da Educação Integral ser conhecido como utópico e fantasioso. Algumas décadas depois, a temática da Educação Integral retorna aos cerne das legislações de ensino. No campo ideológico, possui conotações das mais variadas possíveis, perpassando por concepções que defendem a jornada ampliada a partir da centralidade da escola, bem como outras concepções que entendem que há possibilidade de tempo e espaço escolar sem a necessária centralidade da instituição escolar. Enfim, são concepções que aparentam similaridades, porém em seu cerne conceitual e político, são completamente diferentes. Na concepção de Educação Integral numa perspectiva integrada, a escola está integrada num contexto maior de aprendizagem escolar. “Essa ideia assevera que a solução para muitos males e mazelas no interior da sociedade e, mais precisamente no espaço escolar, está direcionado à falta de sensibilização e do envolvimento da população” (GADOTTI, 2008, p. 14). Portanto, torna-se ímpar agregar a escola a outros parceiros em prol de uma Educação Integral. Como exemplo, temos a “Escola Integrada”, de Belo Horizonte, que nada mais é que a ampliação da Escola Plural. Sheila Cristina Monteiro Matos 7163 Saberes e Práticas na Jornada Ampliada Escolar na Amazônia: um estudo de currículo pautado na educação integral A outra concepção de Educação Integral enfatizada pela literatura estudada é na perspectiva de uma Educação Integradora. As características e princípios sobre essa nova modalidade é claramente explicitada pela publicação organizada por Carmen Granell e Vila (GOMEZ-GRANELL; VILA, 2003). A publicação abarca que a escola precisa, necessariamente, comprometer-se a um projeto de cidade. Nesse projeto, a escola deixa de ter a centralidade do planejamento do processo educativo, ampliando-se os espaços escolares. A escola adentra a esse projeto como mera parceira, destituindo-se, assim, do seu grande papel de propulsora de uma educação comprometida com a criticidade e com a transformação social. É perceptível, ao estudar os diversos artigos que compõem a obra, que há algumas “questões de fundo” que precisam ser identificadas, estabelecendo conceitos da nova ordem econômica e social mundial. Nesta ordem, o Estado, o grande mantenedor financeiro das Políticas Educacionais, passa a ser meramente o co-responsável, destituindo-se de seu comprometimento em manter as políticas de fomento a uma educação de qualidade. Nessa conjuntura, corroboramos com o pensamento de Leher (Apud FRIGOTTO, 2005) que afirma que o fundo público garante apenas um patamar mínimo de escolaridade ou de subsídio aos mais pobres. A educação e a qualificação transitam, assim, da política pública para a assistência ou filantropia ou como a situa o Banco Mundial, uma estratégia de alívio da pobreza (p. 15). Outras dimensões conceituais são tratadas no livro, abarcando que, no plano ideológico, desloca-se a responsabilidade social para o plano individual. Nessa perspectiva, o indivíduo passa a ser o grande mantenedor de seus sucessos e fracassos na nova ordem mundial, culpabilizando este se não consegue ascensão profissional ou cultural. Há a descaracterização de uma análise conjuntural e política de sociedade. Estas idéias sobre Educação Integral numa perspectiva integradora são corroboradas por discursos em defesa de parcerias, teias sociais, redes e, mais exatamente, comunidade educativa. Este último conceito se mostra contínuo na defesa de uma educação integradora e, como tal, vem se engendrando na perspectiva de semear Sheila Cristina Monteiro Matos 7164 Saberes e Práticas na Jornada Ampliada Escolar na Amazônia: um estudo de currículo pautado na educação integral ideologicamente que a escola, sozinha, não tem a competência em prover esforços para transmitir valores e atitudes educativas. Assim, percebemos o quão querem desmoralizar a escola no seio de seu papel social e cultural. A escola tem sua verdadeira missão no ato de educar para a cidadania a escola instrui e potencializa os indivíduos nas diversas linguagens do conhecimento! Esse é seu verdadeiro papel. Ela não tem a obrigação de absorver todas as funções do educar (família, igreja, grupos sociais, dentre outros). Ainda sob esse prisma, devemos compreender que a escola deve ser a protagonista no projeto educativo e, não necessariamente a cidade. Se acharmos que a escola tem enfraquecido seus ideais de transformação social e cultural, permitir-nosemos assumir uma educação que reproduz uma sociedade excludente e desleal. Para que possamos amadurecer nessa reflexão, temos que entender que a educação é vista sob um prisma dos aspectos econômicos e produtivos, atrelados, é claro, à teoria do capital cultural. Esta teoria defende que precisamos nos adaptar a atual sociedade da informação, buscando uma qualificação desenfreada a qualquer preço, sem de fato, ver se haverá um lugar promissor no mercado de trabalho (MOTTA, 2008). É a apropriação de uma cultura que na maioria dos casos, forma mão-de-obra barata e qualificada. Nas palavras de Gaudêncio Frigotto (2006), é a instalação da precarização do trabalho na nova sociedade capitalista. Esse período de modernização conservadora sob a égide da Pedagogia da hegemonia do capital é claramente percebida quando Gomez-Granell e Vila (2003) afirmam que a educação deve transcender os muros escolares e direcionar uma renovação escolar para práticas sociais agregado a parceiros e teias sociais com o intuito de se resgatar um co-responsabilidade de todos na construção de um mundo melhor e mais solidário ( p.17). É a modernidade sob o pretexto da teia social e laboral! Uma outra categoria analisada por Gomez-Granell e Vila é a discussão sobre cidadania. Para os autores, a cidadania é construída a partir de uma proliferação de uma educação referendada no projeto de cidade. Cabe ressaltar, que o conceito de cidadania agrega-se aos quatro pilares da educação (aprender a fazer, aprender conhecer, aprender a conviver e aprender a ser), estes condicionantes reais determinado pelos grandes organismos internacionais, em especial, a UNESCO. Assim, os autores nos levam a Sheila Cristina Monteiro Matos 7165 Saberes e Práticas na Jornada Ampliada Escolar na Amazônia: um estudo de currículo pautado na educação integral entender que lutar contra a exclusão e a marginalização dos indivíduos seria fomentar a operacionalização desses pilares e congregar esforços nas redes comunitárias de solidariedade. Observamos, assim que, o dissenso para a mobilização social, crítica e participativa, não são levado as em consideração para a efetivação de práticas emancipadoras no espaço educativo. Outra modalidade de Educação Integral é caracterizada como o tempo ampliado, subsidiada atualmente pelo Programa Mais Educação do governo federal, ao distribuir recursos que visam a apoiar a ampliação da jornada escolar para aquelas escolas que possuem o IDEB abaixo da média nacional. Segundo o texto “Referência para o debate Nacional”, sua implantação deve valorizar aspectos de identidade cultural, pois afirma que “a instituição escolar é desafiada a reconhecer os saberes da comunidade […] e com eles promover uma constante e fértil transformação” (MOLL, 2008, p. 33). De nada adianta a efetivação de políticas de Educação Integral não respaldada pela identidade cultural do grupo em que tiver inserida. As propostas do Programa Mais Educação chegaram às capitais da Amazônia. Em Manaus, a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas (2008) delineia que suas políticas educacionais têm por finalidade possibilitar a permanência do aluno na escola, no tempo devido para a construção de sua cidadania. Assim, possui 6 escolas de tempo integral para o ensino fundamental e duas para o ensino médio. O cotidiano dessas escolas inclui atividades como artes, música, teatro e estudos dirigidos entre 07 e 17 horas. Apesar de existirem críticas que afirmam que tal iniciativa somente possui cunho político-eleitoreiro (SANTOS JÚNIOR, 2009), o governo estadual do Amazonas vem aumentando a estrutura para abrigar escolas de Educação Integral. Atualmente, estão sendo construídos quatorze Centros Educacionais de Tempo Integral com estruturas que irão contar com piscina, campo de futebol, salas de aulas climatizadas, laboratório de ciências, laboratório de informática, quadra poliesportiva, refeitório e biblioteca (MANAUS..., 2009). Percebe-se que em Manaus existe um planejamento bem definido para a concretização do Programa mais Educação. Sheila Cristina Monteiro Matos 7166 Saberes e Práticas na Jornada Ampliada Escolar na Amazônia: um estudo de currículo pautado na educação integral Em Belém do Pará, o Programa Mais Educação já atende 56 escolas. Implantado em 2008, visa a garantir a permanência de crianças, adolescentes e jovens por mais tempo na escola ao desenvolver oficinas pedagógicas e ações sócio-educativas e de convivência no contraturno escolar (SEDUC, 2008). Porém, realizando entrevistas semiestruturadas junto a professores das Escolas Públicas que adotam o tempo ampliado no entorno das comunidades carentes dos bairros do Guamá e da Terra Firme, verificamos que ainda falta capacitação contínua de professores e estrutura interdisciplinar para a consecução dos objetivos da Educação Integral. Para se ter uma ideia, há escolas que não oferecem comida entre os turnos escolares. Falácia, assistencialismo, educação com qualidade, democratização do ensino? Será que a precariedade de material e de pessoal, tal como aconteceu em 1937, será decisiva para sua não efetivação na Escola Pública? 4 SABERES E PRÁTICAS NA JORNADA AMPLIADA Como educadores, devemos valorizar a diversidade cultural e os saberes da comunidade, garantindo a “identidade de cada tradição e promovendo a solidariedade tarefa intransferível da educação” (FISCHMANN, 2002, p. 112). Conforme já delineamos anteriormente, de nada adianta se a efetivação de políticas de Educação Integral não for respaldada pela identidade cultural do grupo em que tiver inserida. Yrrla Silva (SILVA, Y., 2002) corrobora essa ideia, destacando que uma das causas de fracasso dos projetos dos CIEPS foi, justamente, perceber os alunos das classes populares como portadores de um déficit cultural, não de diferenças culturais. Diferenças essas, conforme abordamos, andam geminadas com a construção identitária. Para tal, a escola, enquanto espaço heterogêneo e plural (GADOTTI, 2008), deve aproveitar as situações comuns do dia-a-dia das crianças, empregando-as como exemplos e como “matéria-prima” para desenvolver um raciocínio científico. Relacionar questões do cotidiano com as estudadas na escola torna mais fácil a assimilação de conteúdos estudados. Seria a aplicabilidade do pensamento de Dewey, resgatando-se, no interior do cotidiano escolar, questões de “pertencimento” a um Sheila Cristina Monteiro Matos 7167 Saberes e Práticas na Jornada Ampliada Escolar na Amazônia: um estudo de currículo pautado na educação integral grupo, a uma comunidade, a uma categoria profissional, em prol de efetivar experiências transformadoras rumo a um ideal coletivo na sociedade. Quando relacionamos currículo e cultura, verificamos que a discussão do currículo nos remete a pressupostos de luta pelo poder. Essa luta deve ser concebida pela equipe pedagógica que, como intelectuais transformadores (cf GIROUX apud SILVA, T., 2007, p. 55), deve estabelecer objetivos valorizando a cultura popular, silenciada historicamente pelas políticas hegemônicas de currículo. Esta valorização vem, paulatinamente, surgindo na realidade amazônica. A demanda por saberes historicamente construídos pelas minorias étnicas é real e latente. Uma grande parcela professores, gestores e demais profissionais da educação, ao elaborar os caminhos a serem percorrido no cotidiano escolar, já se propõem a pensar o caráter histórico, social, ético e político dessas ações curriculares. Em se tratando de Educação Integral em jornada ampliada, a estrutura curricular para o ciclo básico do ensino fundamental nas escolas do Amazonas (SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO DO AMAZONAS, 2008) tem seguido esta estrutura: - Língua Portuguesa, Artes, Educação Física, Matemática, Ciências Naturais, História, Geografia e Ensino Religioso. No contraturno, há oficinas de orientação de estudos, leitura e escrita, resolução de problemas matemáticos, orientação em pesquisa, práticas em laboratório de Informática e Ciências. Como atividades complementares o currículo contempla: - Informática, Língua estrangeira, capoeira, dança, teatro, música, xadrez, tênis de mesa, coral e fanfarra. Na análise desse documento, apesar de haver referências à capoeira e fanfarra, não se verificou reflexões emancipadoras contundentes na forma de se pensar o currículo, tampouco questões ligadas a saberes da comunidade, nem quais conteúdos que deverão, propositalmente, ser legitimados em sala de aula. Já em Belém, nossa entrevista com uma gestora de uma escola atendida pelo Mais Educação torna evidente o não comprometimento efetivo com a identificação desses saberes. O foco tornou-se o recurso financeiro administrado pelo Programa, e não a educação com qualidade. Sheila Cristina Monteiro Matos 7168 Saberes e Práticas na Jornada Ampliada Escolar na Amazônia: um estudo de currículo pautado na educação integral Essa análise sinaliza que a proposta curricular ainda precisa ser aperfeiçoada no que tange aos saberes não instituídos pelo currículo formal, apresentando fragmentações na elaboração do saber e dissociando-se da proposta de Educação Integral. 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS A Educação Integral visa a atingir um horizonte de transformação de uma sociedade injusta e excludente para uma sociedade mais igualitária a partir da democratização do ensino. De nada adianta, porém, se sua efetivação não for respaldada pela identidade cultural do grupo em que tiver inserida. Para a realidade amazônica, mais do que recursos como o Mais Educação, deve-se implementar os currículos, verdadeiros documentos de identidade, abrangendo e valorizando os saberes populares, o que fornece, de fato, condições rumo à educação com qualidade. Os resultados da investigação sinalizam que a proposta curricular das escolas estudadas ainda precisa ser aperfeiçoada no que tange aos saberes não instituídos pelo currículo formal, apresentando fragmentações na elaboração do saber e dissociando-se da proposta de Educação Integral. Assim, deve-se ponderar, no espaço escolar, os saberes que norteiam a realidade amazônica2. Isso fomenta um novo direcionamento em prol da valorização dos conhecimentos culturais socialmente construídos pela comunidade e trilha verdadeiramente o ensino rumo à qualidade. REFERÊNCIAS APPLE, M. W. A política do conhecimento oficial: faz sentido a ideia de um currículo nacional? In: MOREIRA, A. F.; SILVA, T. T. (orgs.). Currículo, cultura e sociedade. São Paulo: Cortez, 2008. pp. 59-92. 2 Tais como sustentabilidade, recursos naturais renováveis, artes a partir da cultura cabocla – boi-bumbá, dentre outros. Sheila Cristina Monteiro Matos 7169 Saberes e Práticas na Jornada Ampliada Escolar na Amazônia: um estudo de currículo pautado na educação integral CAVALIERE, A. M. V. Educação integral: uma nova identidade para a escola brasileira. Educação e Sociedade, Campinas: CEDES, v. 23, n. 81, p. 247-271, dez. 2002. COELHO, L. M. C. C; MENEZES, J. S. S. Tempo Integral no ensino fundamental: ordenamento constitucional-legal em discussão. In: ANPED. 30ª Reunião anual da ANPED: 30 anos de pesquisa e compromisso social. Rio de Janeiro: ANPED, 2007. CRISTO, A. C. P. Cartografias da educação na Amazônia rural ribeirinha: estudo do currículo, imagens, saberes e identidade em uma escola do município de Breves/ Pará. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Pará. Belém: UFPA, 2007. FISCHMANN, R. Identidade, identidades – indivíduo, escola – passividade, ruptura, construção. In: TRINDADE, L.; SANTOS, R. (orgs.). Multiculturalismo: mil e uma faces da Escola. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. FRIGOTTO, G. Educação, crise do trabalho assalariado e do desenvolvimento: teorias em conflito. In: FRIGOTTO, G. Educação e crise do trabalho. Petrópolis: Vozes, 2005. ______. Fundamentos científicos e técnicos da relação trabalho e educação no Brasil de Hoje. In: LIMA, J. C.; Neves, L. M. Fundamentos de educação escolar do Brasil contemporâneo. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2006. GADOTTI, M. Inovações educacionais: educação integral, integrada, integradora e em tempo integral. São Paulo: Instituto Paulo Freire, 2008. mimeo. GALLO, S. A educação integral numa perspectiva anarquista. In: COELHO, L. M. C. C.; CAVALIERE, A. M. V. Educação brasileira e(m) tempo integral. Petrópolis: Vozes, 2002. pp. 13-42. GIROUX, H. A.; SIMON, R. Cultura popular e pedagogia crítica: a vida cotidiana como base para o conhecimento curricular. In: MOREIRA, A. F.; SILVA, T. T. (orgs.). Currículo, cultura e sociedade. São Paulo: Cortez, 2008. pp. 93-123. GÓMEZ-GRANELL, C.; VILA, I. (orgs.). A escola como projeto educativo. Porto Alegre: Artmed, 2003. Sheila Cristina Monteiro Matos 7170 Saberes e Práticas na Jornada Ampliada Escolar na Amazônia: um estudo de currículo pautado na educação integral HAGE, S. M. Educação do campo na Amazônia: retratos de realidade das Escolas Multisseriadas no Pará. Belém: Gutemberg, 2005. HALL, S. A identidade cultural na pós-modernidade. 9. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2004. LOUREIRO, J. J. P. Cultura amazônica: uma poética do imaginário. Belém: CEJUP, 1995. LOURENÇO FILHO, M. B. Introdução ao Estudo da Escola Nova. RJ: EDUERJ, 2002. MANAUS ganhará novas escolas de tempo integral. Portal Amazônia: pense verde e descubra a Amazônia. Manaus, 2009. Disponível em: <http://portalamazonia.globo.com/>. Acesso em: 20 abr. 2009. MATOS, S. R. M.; MATOS, S. C. M. Saberes em diversidade cultural: um olhar exploratório sobre a variação linguística em aldeias indígenas. Revista Científica da Escola de Administração do Exército, Salvador, ano 4, n. 1, 1º semestre de 2008. MOLL, J. (org.) Educação Integral: texto referência para o debate nacional. Brasília, DF: Ministério da Educação, 2008. MOREIRA, A. F.; SILVA, T. T. Sociologia e teoria crítica do currículo: uma introdução. In: MOREIRA, A. F.; SILVA, T. T. (orgs.). Currículo, cultura e sociedade. São Paulo: Cortez, 2008. pp. 7-38. MOTTA, V. Ideologias do capital humano e do capital social: da integração à inserção e ao conformismo. Trabalho, educação e saúde, v.6, n.3, nov. 2008. pp 549-571. O HOMEM da Amazônia. Veja Especial Amazônia, São Paulo, ano 42, n. 2130, setembro de 2009. pp. 20-31. ROSÁRIO, M. J. A. A organização do ensino público primário em Belém-PA: 1930 – 1937. In: ROSÁRIO, M. J. A.; ARAÚJO, R. M. L. Políticas públicas educacionais. Campinas: Alínea, 2008. pp. 37-53. SAVIANI, D. História das idéias pedagógicas no Brasil. Campinas: Autores Associados, 2008. Sheila Cristina Monteiro Matos 7171 Saberes e Práticas na Jornada Ampliada Escolar na Amazônia: um estudo de currículo pautado na educação integral SANTOS JÚNIOR, R. S. O que está por trás da Escola de Tempo Integral. Schvoong: resumos e revisões curtas. Manaus, 2009. Disponível em: <http://pt.shvoong.com/social-sciences/education/>. Acesso em: 13 jun. 2009. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (SEDUC). Pará, governo popular. Programa mais educação. Belém, 2008. Disponível em: <www.seduc.pa.gov.br>. Acesso em: 13 ago. 2009. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DE ENSINO DO AMAZONAS. Educação em tempo integral. Manaus, 2008. Aprova o projeto das escolas de tempo integral. SILVA, T. T. Documentos de identidade: uma introdução às teorias de currículo. Belo Horizonte: Autêntica, 2007. ______. Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis: Vozes, 2005. SILVA, Y. A proposta de alfabetização dos centros integrados de educação pública. In: COELHO, L. M. C. C.; CAVALIERE, A. M. V. Educação brasileira e(m) tempo integral. Petrópolis: Vozes, 2002. pp. 168-181. TEIXEIRA, A. Educação e Mundo Moderno. São Paulo: Nacional, 1977. Sheila Cristina Monteiro Matos 7172 IV COLÓQUIO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS E PRÁTICAS CURRICULARES “DIFERENÇA NAS POLÍTICAS DE CURRÍCULO” A PROPOSTA DE LETRAMENTO NA FORMAÇÃO DO ALUNO – UM DIÁLOGO IMEDIATO COM A SOCIEDADE Sônia Maria Cândido da Silva JOÃO PESSOA - PB - BRASIL 10 A 13 DE NOVEMBRO DE 2009 A Proposta de Letramento na Formação do Aluno – um diálogo imediato com a sociedade A PROPOSTA DE LETRAMENTO NA FORMAÇÃO DO ALUNO – UM DIÁLOGO IMEDIATO COM A SOCIEDADE Sônia Maria Cândido da Silva RESUMO: Um breve estudo sobre as práticas educativas, tendo como subsídio o gênero textual a canção Encontros e Despedidas. O objetivo é analisar a presença de conteúdos curriculares como Movimentos Sociais na MPB, cujo estilo traduz uma reflexão do fenômeno: migração interna no Brasil, como tema para fomentar métodos e técnicas pedagógicas, à luz do pensamento de Freire. PALAVRAS-CHAVE: práticas educativas – letramento – movimentos sociais. 1 INTRODUÇÃO Nossa proposta de estudo defende os gêneros textuais se apresentando como um “instrumento” metodológico, complexo que compreende níveis diferentes, o que faz deles ser um megainstrumento para as práticas educativas e para o ensino com linguagem na Educação Básica. Com base nesse entendimento, o estudo objetiva: 1) apresentar uma reflexão, em torno do ensino aprendizagem com gêneros textuais, especialmente, com uma canção: Encontro e Despedidas, que está sendo tomada num contexto do fenômeno da migração interna no Brasil; 2) compreender os pressupostos teóricos, advindos de uma metodologia de análise de diálogo interacionista que norteia atividades de/com linguagem na construção de modelos didáticos de ensinar a compreender textos; e, ainda, 3) analisar dados do perfil da população migrantes e suas interações culturais em cujos movimentos de idas/ vindas ali interpretadas e culturalmente experienciadas se apresentam no gênero a serviço do letramento, a serviço das práticas pedagógicas dialogantes dos professores de Educação Básica. Tratar-se-á de um estudo, em linhas gerais, sobre a canção, em epigrafe: Encontro e Despedidas, traduzindo uma prática social, apontando uma cultura de migração que faz parte da dinâmica social, ou seja, a canção traduz movimento social. Sônia Maria Cândido da Silva 7176 A Proposta de Letramento na Formação do Aluno – um diálogo imediato com a sociedade Com base nessa canção, tomamos emprestada a questão: a migração pode ser considerada um problema social? , colocada à discussão na Revista NOVA ESCOLA, ano XXIV, nº.224 de agosto de 2009, para subsidiar uma prática educativa. As canções são textos que apontam, elucidam questões sociais. Desta feita, apropriar-se delas como um megainstrumento para as práticas educativas, torna-se relevante, em especial, analisá-las sob a perspectiva do letramento, uma vez que representam momentos significativos da história da sociedade. No Brasil, por exemplo, tal migração inspira uma realidade vivenciada por cidadãos, considerados excluídos das atividades sociais, como emprego, moradia, entre outros. Como texto, a canção em foco, mostra os encontros e desencontros das culturas, das buscas, é realista e insere na história uma gente que precisa estar incluído socialmente, num contexto histórico marcado, desencadeado, ora pelas secas, ora pelos programas sociopolíticos e econômicos contra essa fatia da população. A discussão teórica contará com os estudos Schneuwly e Dolz (1998), Rojo (2006) para tratar das práticas de linguagem instrumentando o ensino. Os estudos de Contier (2005; 1996) para ancorar os estilos musicais nos Movimentos Sociais, apontando cultura, autovalorização das raças, denúncias e exclusão social e racismo. Para as questões de inclusão/exclusão, como prática educativa, elucidada nos textos e discursos sociais, através do ensino, pautaremos nos trabalhos de Paulo Freire e seguidores, como Libâneo, que pensam homens sociais como sujeitos sociais politicamente conscientes que estão em/com o mundo para transformar a realidade, nãofixa, e “(i)mutável”, como é o caso da canção, ora em estudo. Para tal reflexão, dividiremos o estudo em três partes: a) na primeira, estão os gêneros textuais como megainstrumento para prática educativa, em especial, para o processo de letramento, no caso, o gênero canção. b) Na segunda, discutir-se-á um modelo de prática educativa, apontada nas políticas de currículo para o ensino com linguagem; e, c) analisar-se-á a canção, objeto de estudo, a partir dos critérios: sóciohistória e descrição do fato social apontados na letra, conforme a hipótese de fatos sociais colocada pelo autor da canção, como o da representação de um momento significativo da história do(s) sujeito(s) em epígrafe – os migrantes; e, em seguida, a análise linguístico-discursiva do texto. Sônia Maria Cândido da Silva 7177 A Proposta de Letramento na Formação do Aluno – um diálogo imediato com a sociedade 2 O MEGA-INSTRUMENTO DA PRÁTICA EDUCATIVA: OS GÊNEROS TEXTUAIS E O LETRAMENTO CONSTRUINDO UM SUJEITO SOCIAL A prática de/com linguagem é um instrumento que desempenha papel central no desenvolvimento das atividades e das ações humanas. Com base nesse entendimento, as reflexões, acerca das atividades sociais de/com linguagem, configuram-se pelas escolhas dos gêneros textuais, cujas atividades sociais com a linguagem se dão em uma determinada situação, o que confere uma ação didática dos saberes de referência que possam fundamentar progressões curriculares de gêneros suscetíveis de serem trabalhados no Ensino Fundamental e Médio, assim como no Ensino de Jovens e adultos (EJA). Tal pensamento conduz a investigações do ensino aprendizagem de leitura e escrita, dentro de um processo de “letramento contínuo”. Nesse processo, as atividades práticas conduzem ao desenvolvimento da consciência, do reconhecimento holístico das palavras, abrem os horizontes dos sujeitos alunos ali envolvidos para compreender e interpretar o mundo. A exemplo disso, têm-se esses sujeitos avaliando, inferindo fatos, isto é, sendo sujeitos dessa história. Do ponto de vista social, os gêneros textuais, em geral, são inerentes às atividades do cotidiano dos sujeitos que vivem em sociedade, uma vez que cada atividade suscita outras e, por sua vez, gêneros textuais diversos. No que diz respeito à escola, são megaferramentas para planejar atividades diversas com alunos. E quanto à vida sócio-individual, tais gêneros são práticas sociocomunicativas que fazem desse discente um sujeito social que sabe e pode usar a língua nos textos em seu favor, apreciando e experienciando-os e, ao mesmo tempo, apropriando-se deles no/para o mundo. Como prática educativa, tais gêneros devem estar presentes no currículo escolar, como artefatos riquíssimos para formar leitores, para subsidiar as atividades escolares em situações reais, já que o fenômeno Letramento é sociocultural e envolve as atividades sociais diversas, cuja ênfase recai nos usos, nas funções e nos propósitos de se estar no contexto social. Costa Val (2006) defende os gêneros textuais como processo de inserção e participação na cultura escrita. Com base nesse entendimento, defende-se que os suportes e os gêneros destes podem ser aqui colocados como “artefatos didáticos” já que Sônia Maria Cândido da Silva 7178 A Proposta de Letramento na Formação do Aluno – um diálogo imediato com a sociedade possibilitam compreender o uso de textos diversos em situações também diversas, no que trata o uso da língua(gem) em práticas sociais, em situações em que são necessárias, como ler e produzir texto para atender uma exigência social. Como se pode notar, concorda-se com esse pensamento de Val de esses gêneros em sala de aula também se apresentarem como um conjunto de conhecimentos, atitudes e capacidades nas práticas sociais. No processo da prática educativa, fazer o “letramento”, com o subsídio dos gêneros textuais, possibilita uma pedagogia com autonomia. Diante disto, é imprescindível que os alunos tenham domínio do fazer/elaborar e produzir textos, pois essa prática de letramento abre portas para o mundo, para o diálogo, tornando o aluno capaz de participar do mundo real, como indivíduo social. Conforme esse entendimento, essa prática educativa também pode estar presente na Educação Infantil, pois, mesmo nas atividades educativas com criança “não-alfabetizada”, pequena, já se pode inserir o processo de letramento. Para tal, os gêneros textuais possibilitam uma leitura “incidental”, conforme pensa Soares (2004), como leitura de linguagens diversas: rótulos, de textos não-verbais: gestos, imagens, emoções, conforme subsidio fomentado pela linguagem, atividade inerente ao homem. O diálogo(ismo) com/no o mundo nessa fase vem antes das letras, do ponto de vista formal. Como afirma a mesma Soares, o contato dialogal vai além das letras, para isto, o professor educador contará com a linguagem em seu funcionamento constituída nos gêneros textuais, em seu favor, através do ato do diálogo: ensinar aprender e aprender a ensinar, no caso com textos. Conforme esse diálogo(ismo), Bakhtin e Freire nos mostram que o homem se constitui via linguagem, com isso, as práticas educativas devem contar com esta estratégia de constituição para ensinar a ler e escrever e, assim, atender às demandas sociais e, por sua vez, promover a inserção social formalmente para que essa criança pequena comece a se preparar para o exercício da cidadania. Com Freire compreendemos que a linguagem em seu funcionamento no mundo é prescrita na leitura e na escrita. Para esse filósofo, que defende uma Educação Libertadora e Autônoma, é preciso saber lidar com a leitura e a escrita, pois estes atos empurram os aprendizes do saber para a vida e levam-nos, em qualquer fase, em que se encontram, a incluírem-se no mundo. Para tal, têm-se os gêneros textuais levando esses discentes para dentro desse mundo que lhes interessa viver. Sônia Maria Cândido da Silva 7179 A Proposta de Letramento na Formação do Aluno – um diálogo imediato com a sociedade Com base nesse pensamento freiriano, contamos com os gêneros textuais nas práticas educativas estabelecendo o caminho da invenção da cidadania, pois, em cujos palcos estão as lutas e as conquista do cotidiano das gentes que vivem em sociedade. Com isso, a aprendizagem requer uma dinâmica dos seus “ensinantes”, desfazendo, como diz Freire, isto é, precisa-se desfazer a dicotomia da leitura de mundo da palavra descontextualizada, sem gente, sem luta, sem mudança ou transformação social. Diante disso, compreende-se que a leitura dessa palavra não encontrará sentido se não houver a leitura do mundo. É preciso ensinar saber lidar com a palavra completa, porque fomenta mudanças de atitudes diante das questões sociais, nossos discentes como “aprendentes” utilizam os textos socialmente para serem reconhecidos como sujeitos plenos, diante da cidadania. Nesse contexto, as práticas devem visar a um saber sociocomunicativo, amplo, de modo que a competência comunicativa perpasse o ensinar aprender texto pelo texto, mas que vise à comunicação como um pilar de ações que permita o “aprendente” a usar o mega-instrumento, definido-o como pessoa real e social atuando entre as pessoas e as necessidades sociais, como recomenda os PCN’s no currículo escolar. Nessa perspectiva de o gênero textual subsidiar as práticas de letramento, na escola nas fases EI, EJA e ou Ensino Fundamental e Médio, têm-se as práticas educativas mergulhando e inserindo ensinantes e aprendentes num contexto de relações de convívio social vívido, onde e quando coloca a língua(gem) no texto. Com isso, os sujeitos alunos e professores educadores, por excelência, estão convidados a lidar com textos, o que faz retomar o pensamento dos filósofos: Freire e Bakhtin, ser produtor de textos pressupõe dialogar com outros textos, outros sujeitos. Essa relação dialóg(o)ica da palavra colocada por esses pensadores faz compreender o ensino aprendizagem sempre relacionado à relação de interação social, cujo espaço permite o ato de descoberta, privilegia a ação sociocomunicativa, o texto e a palavra. Propõe o aluno ser um sujeito crítico que entende o mundo que pode ser transformado socialmente. 2.1 A canção – megainstrumento textual para a prática educativa Sônia Maria Cândido da Silva 7180 A Proposta de Letramento na Formação do Aluno – um diálogo imediato com a sociedade O Gênero canção na prática educativa torna-se relevante por trazer à sala de aula, em qualquer fase, uma proposta de experienciar cultura(s) de processar o letramento. Trata-se de uma língua(gem) da cultura que informa ludicamente sobre os tempos e as formas e sociabilidades, assim como fatos sócio-históricos e sociais, em especial, circuitos e culturas diversificadas que permitem estratégias educativas de entender o funcionamento da língua(gem) apresentando os fatos sociais. Diante disso, interessar-se por gêneros textuais, especialmente, as canções, é trazer cultura para o ensino aprendizagem, é uma forma colocar em ação a palavra pela palavra na prática educativa com letramento. Com base nesse entendimento, a canção é uma condição didática para trabalhar as questões e comportamentos sociais, como Movimentos Sociais (MS), por exemplo. No evento comunicativo, ali constituído, estão a informação, o registro dos fatos sociais na história; estão a denúncia, as ideologias locais e/ou nacionais, assim como as identidades e as questões em torno de grupos e comunidades excluídos. Tal gênero envolve o discente a querer se mergulhar nos acontecimentos, ali instituídos, com o fim de refletir o conteúdo ali apontado, assim também a informação viva num certo contexto sociocultural. Envolve esse aluno desde o estilo ao ritmo, as letras traduzem a ideologia e são textos que mostram momentos significativos da história do Brasil, isto, ao colocar temas sociais, como: a fome na canção: Comida é arte...; adoção de bichos/crianças em: Troque seu cachorro por uma criança pobre...; violência contra as raças em: O canto das três raças; movimentos sociais em: Canção do estudante e etc. Nesse viés, vê-se que a canção possibilita uma proposta de prática educativa, coloca os alunos em contato com as questões sociais, em diálogo com as culturas e as subculturas, retratando os fatos da realidade do mundo desses discentes. Não só através da linguagem verbal, como também outras formas de linguagem como o estilo, o ritmo; e, ainda o contexto sócio-histórico cultural, tais elementos fazem o leitor experienciar a realidade ali constituída sobre a vida cotidiana de um brasileiro. 3 UMA PROPOSTA DE MODELO DE PRÁTICA EDUCATIVA PARA O ENSINO COM LINGUAGEM NOS GENEROS TEXTUAIS Sônia Maria Cândido da Silva 7181 A Proposta de Letramento na Formação do Aluno – um diálogo imediato com a sociedade Nessa discussão, propõe-se um modelo de prática educativa de base pluralista, em cujas atividades pedagógicas contemplem a inter transdisciplinaridade, a fim de colocar, no espaço escolar, um exercício que possibilite autonomia para o educando. Tal proposta está dentro da educação freiriana, a que faz o educando despertar um senso crítico, diante das condições oferecidas pela sociedade, no sentido de saber se libertar das opressões, de aprender a transformar certos valores que amarram e empurram-no para baixo, sem dar-lhe chance de se inserir na sociedade como sujeito pertencente. A esse respeito, como diz: Azanha (2004), a sociedade é um conjunto de vínculos sociais, que são frutos da adesão ou da rejeição de uma multiplicidade de valores pessoais e sociais. A ideia de um modelo pedagógico tendo os gêneros textuais como suporte de ensino aprendizagem visa a praticar melhor a relação dessas práticas com o mundo, das práticas especificas com esse mundo, conscientes da realidade social. Estas devem, desde já, ser vivenciadas na escola, por serem rotinas que constam saberes, valores, identidades impregnadas nas relações sociais, conforme papéis a serem experienciados em suas devidas fases. Executar tal propósito é fazer o aluno tomar consciência dos valores que a sociedade disponibiliza e exige para que possa ser um sujeito de sua própria história, eticamente social. Acerca desse modelo de prática educativa, que se quer refletir, é interessante lembrar que a proposta de ensino não está apenas no saber, ou apenas depende do professor, assim como a aprendizagem não depende apenas do aluno. Com esse pensamento, à luz de Freire, vê-se que a relação dual discente/docente complementa-se com uma prática com gêneros textuais para tornar real a aprendizagem do saber que está no mundo. Diante disso, é mister lembrar o rigor metodológico para tal prática. Nesta, espera-se que se desenvolva uma atividade que busque o saber do mundo assimilando fatos, de forma crítica, com questionamentos para entender o que acontece nesse mundo à mostra naquele texto escolhido, isto relacionando com os conhecimentos e experiências vívidas pelos alunos ali envolvidos. Tal prática escolar fará o aluno aprender a pensar, com isso, esse aluno terá a facilidade de se desenvolver socialmente, a se sentir no/com mundo, como quer Freire. Sônia Maria Cândido da Silva 7182 A Proposta de Letramento na Formação do Aluno – um diálogo imediato com a sociedade Uma proposta, nesse âmbito, é inovadora porque os gêneros textuais desafiam os alunos e professores a entenderem a dinâmica do continuum de viver participando das atividades sociais. Isto, porque esses educandos veem que tais textos fazem parte da vida de qualquer cidadão, independente das classes e/ou raças sociais, fazem-nos compreender que viver socialmente é saber lidar com textos, é comprender como funciona a linguagem colocando as situações sociais no texto. Esse propósito de experienciar o mundo e de buscar de saberes nos textos suscita o espaço para o diálogo. Neste, o educador se envolve com a história do seu aluno, com o pensamento dele, o que suscita ouvi-lo, promover um debate, uma troca de experiência e de cultura. Tudo isso estimulará o gosto pelo texto, pois, sem ele, a prática escolar não terá sentido de existir. È interessante refletir que tal proposta metodológica torna-se inesgotável, uma vez que é multi trans e interdisciplinar, porque envolve realidades diversas e dinâmicas do mundo, envolve desde a dimensão individual à coletiva. É relevante esclarecer que essa perspectiva de ensino não permite memorização mecânica, porque as palavras, as ideias que surgem no embate vêm da experiência individual e coletiva daquele espaço escolar, vindas de das crianças, jovens e ou adultos que estejam envolvidos na discussão nesse espaço de aprendizagem, dialogante. Tal prática conduz os educadores a propor atividades que respeitam os saberes do educando, que fazem perceber as identidades culturais e rejeitam certos valores atravessados na sociedade que discriminam as gentes, e negam o direito da liberdade e da autoria de suas atividades, de ter consciência do direito de ser autônomo na construção da sociedade pertença. O significado de ensinar nessa visão é o processo de interação social: aluno e professor, aluno/professor e escola, escola e sociedade. Diante disso, é papel do educador combater as mazelas sociais, como preconceitos, falsos moralismos, isto conforme as propostas que estão marcadas no texto, conforme o procedimento didáticometodológico que os gêneros textuais suscitam Esse entendimento da interação social, advinda da prática educativa, voltada para a tríade aluno, escola e sociedade, traz à cena o pensamento de Bakhtin (1997) em comunhão com o de Freire (1997), a cerca da ideia do inacabamento das coisas do/no mundo. Em Bakhtin, trata-se de um acabamento inacabado, alocado nas enunciações do Sônia Maria Cândido da Silva 7183 A Proposta de Letramento na Formação do Aluno – um diálogo imediato com a sociedade discurso do homem, nos textos que circulam socialmente; em Freire, trata-se da realidade do inacabamento do ser, ou sua inconclusão que lhe é inerente: ser inconcluso, ou se complementa no outro, na sociedade. Assim como o discurso do homem e o próprio homem são (in)acabados, assim também o ato de ensinar na escola deverá sê-lo, deverá estar em uma sempre (re)construção de atividades, em reformulações de pontos de vistas para se chegar à produção e/ou à construção de conhecimentos. Para isso, é necessário estimular momentos de experiências, como fomentar o debate, fazer produzir textos em situações reais. 4 PROPOSTA DE ANÁLISE DA CANÇÃO: ENCONTROS E DESPEDIDAS – UMA PRÁTICA EDUCATIVA E DE LETRAMENTO Para compreender a proposta acima, aponta-se a canção Encontros e Despedidas, para trazer à prática educativa uma atividade de letramento com gêneros textuais subsidiando saberes e produção de conhecimento na escola. Encontro e Despedidas ( Autoria:Milton Nascimento e F Brant) Mande notícias do mundo de lá Diz quem fica Me dê um abraço, venha me apertar Tô chegando Coisa que gosto é poder partir Sem ter planos Melhor ainda é poder voltar Quando quero Todos os dias é um vai-e-vem A vida se repete na estação Tem gente que chega pra ficar Tem gente que vai pra nunca mais Tem gente que vem e quer voltar Tem gente que vai e quer ficar Tem gente que veio só olhar Tem gente a sorrir e a chorar E assim, chegar e partir Sônia Maria Cândido da Silva 7184 A Proposta de Letramento na Formação do Aluno – um diálogo imediato com a sociedade São só dois lados Da mesma viagem O trem que chega É o mesmo trem da partida A hora do encontro É também de despedida A plataforma dessa estação É a vida desse meu lugar É a vida desse meu lugar É a vida. (Acesso pelo site: http://letras.terra.com.br) 4.1 As contribuições do gênero canção nas praticas educativas A análise, ora proposta, explorará, em linhas gerais, alguns dados básicos dos fatos sociais para pautar a discussão, em torno das práticas educativas, no que se refere à geração do conhecimento sobre o fenômeno da migração, através das canções. Tais dados possibilitam apre(e)nder as ações sociais, sejam elas de caráter (ex)includentes nas práticas sociais, ao serem colocadas nas práticas educativas. Quando se considera essa pràtica: a) oportunizam-se os saberes, que circulam no contexto socioculturalmente, o que possibilita à relação discente docente um diálogo com o mundo fomentando atividades sociais em sala de aula. b) Capacita-se o aluno a ser um sujeito socialmente inserido na história social, ao se comunicar em diferentes níveis de linguagem, promovidas pela canção, como debate, relatar os fatos da canção em outra esfera contextual. Tal atividade faz o aluno conduzir a experiência vivenciada na sala de aula e no mundo, para fora da escola, experiências estas propostas pela intenção da canção, como: a denúncia, a informação, os pedidos etc. Diante dessa habilidade, esse discente se sentirá capaz de recepcionar outras canções e captar as ações ali constituídas, conforme a habilidade pedagógica conduzida para tal percepção. Com tal prática, tem-se um momento de construir saberes, de tal feito que propiciará, nas atitudes do docente, no momento da recepção do texto, da escolha da canção, um atitude pedagógica mais moderna que faz aluno e professor pensarem, conhecerem o mundo, em especial, as situações sociais no Brasil. Essa atitude desenvolve um meio de didatizar um estudo multi trans e interdisciplinar, cujo papel da Sônia Maria Cândido da Silva 7185 A Proposta de Letramento na Formação do Aluno – um diálogo imediato com a sociedade linguagem, configurada nesse gênero, relaciona a linguagem e o desenvolvimento humano - foco de interesse da escola. Conforme os estudos de Rojo (2000), e o grupo de Genebra, pode-se considerar o gênero textual, a canção, ser uma ferramenta para uso de modelo de prática educativa. Esta gera conhecimentos sociais, fomenta procedimentos didáticos pensantes e dialógicos, porque incita a competência e a habilidade inerentes ao aluno: a comunicação, e, ainda, habilita o docente a construir saberes, como: a escolha do gênero, no caso a canção, o procedimento metodológico para inserir o conteúdo curricular devido. Tudo isto, conforme o contexto do ensino, os níveis dos educandos, os objetivos de interesse para estudar o tema proposto naquele gênero. 4.3. Do Encontro e Despedidas: um espaço sócio-interativo cultural nas práticas educativas Para o procedimento de análise da canção, eis a questão para destacar a contribuição do gênero nas ações educativas: o processo da migração pode ser considerado um problema social? Como um fenômeno social natural, a migração no Brasil nessa orientação é um acontecimento de interação sociocultural, cujos “encontro e desencontros”, proporcionados pela migração interna no Brasil, formam um espaço de interação sociocultural. É um processo natural de quem vive socialmente, pois, através desse contato, dos que migram, é que os indivíduos sociais ali envolvidos dialogam suas culturas, ganham espaços e saberes sociais, sejam de forma direta, como as visitas periódicas; ou, sejam de forma menos direta, como as comunicações internas, via correios, telefone, via Internet. Com base no pensamento de Barcellos (1995), esse processo gera troca diversa, por envolver grupos e classes sociais. Apresenta-se com caráter socioeconômico, no âmbito do planejamento rural e urbano de modo que gera (des)emprego, (re)qualificação do mercado de trabalho, do tipo descentralizado, no que trata de padrões de rendimentos.socioeconômicos. A mesma Barcellos defende que o processo de troca influencia desde o processo de urbanização, como é o caso do movimento rural-urbano e ainda urbano-urbano. Este Sônia Maria Cândido da Silva 7186 A Proposta de Letramento na Formação do Aluno – um diálogo imediato com a sociedade movimento social e popular contribui na integração das regiões no âmbito do desenvolvimento produtivo das relações de trabalho no que diz respeito à ascensão da propriedade, em termos da mobilidade social. Com base nesse entendimento, procede-se a análise numa visão contexto sociocultural. Para tal, é interessante destacar o título da canção: Encontro e Despedidas, pois remete às principais características das migrações no Brasil: as migrações temporais, as de retorno, conforme o termo técnico utilizado no estudo de Bacellos (2005). A esse respeito, a primeira estrofe da canção mostra a situação da família do migrante temporal, a que fica, ao dizer: Mande notícias do mundo de lá , diz quem fica. E do migrante de retorno ao dizer: Me dê uma abraço, venha me apertar, Tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos, Melhor ainda é poder voltar Quando quero. No que concerne à mobilidade social, o fluxo populacional de idas e vindas, a canção retrata que: Todos os dias é um vai-e-vem, A vida se repete na estação. Já no trecho: Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais... Consta no relato da canção o migrante de destino; já o trecho que diz: tem gente que vem e quer voltar, caracteriza o migrante sazonal. E, no verso que diz: tem gente que veio só olhar; constata-se o migrante que se configura como um “turista de situação” (termo nosso), também podendo ser caracterizado nesta passagem: Tem gente a sorrir e a chorar, E assim, chegar e partir. Acerca desse migrante “turista de situação forçada”, pode-se compreender uma questão social, advinda do fenômeno de migração no Brasil, a da marginalização desse migrante. Nesse viés, a migração mostra seu lado cruel, o de possibilitar o caráter excludente ao marginalizar essa classe social, conforme pode-se refletir na passagem do texto: Tem gente a sorrir e a chorar E assim, chegar e partir ... Com base na mesma Bacellos (2005), existem fatores “atrativos e expulsivos” nesse movimento social. O da atração – configura-se na busca de trabalho e de moradia; o da expulsão - a falta destes elementos. Como se sabe, muitas vezes, se o movimento de ida dá-se em grande fluxo, pode causar problemas no planejamento social do local receptor. Tais sujeitos migrantes, no âmbito geral, saem com destino a ter uma condição Sônia Maria Cândido da Silva 7187 A Proposta de Letramento na Formação do Aluno – um diálogo imediato com a sociedade de trabalho marginalizado, a de sub empregos, o que já os leva à condição ser sujeito excluído.dos segmentos sociais, desta feita voltam, ou por vontade própria, ou por sugestão dos assistencialistas do governo local, que controlam o fluxo e repetição das idas sem sucesso do migrante e, assim, ajudam financeiramente a volta desse sujeito. Na segunda estrofe, o autor da canção coloca o fluxo pendular dos movimentos populares: são só dois lados da mesma viagem, o trem que chega é o mesmo trem da partida. E retoma o início do novo ciclo da migração: A hora do encontro, é também a hora de despedida, A plataforma dessa estação, É a vida desse meu lugar... Ainda buscando saberes sociais na canção, a MPB representa um movimento significativo na historia social, só que no âmbito das classes mais favorecidas. Tal estilo musical inspira uma reflexão em torno desse migrante, que chega e que sai, ao chamar atenção dos problemas sociais porque muitos passam. Desta feita, sabe-se que existe no planejamento local de campos mais atrativos, como o Rio de janeiro e São Paulo, como o de mandar volta tais migrantes temporários aos seus locais de origem, o que Bacellos chama de migrantes de retorno por pressão dos agentes do planejamento local. Quanto á presença de figuras de linguagem na canção, atente-se para as passagens: a) Mande noticias do mundo e lá... b) Todos os dias é um vai-e-vem, c) A vida se repete na estação, d) Tem gente... tem gente ... tem gente... e) Tem gente a sorrir e a chorar, f) São só dois lados da mesma viagem O trem que chega É o mesmo trem de partida A hora do encontro é também a hora da despedida, e g) A plataforma dessa estação é vida desse meu lugar... é a vida é a vida... As metáforas alijadas, na canção, têm-se em (a) mostrando uma relação de distância indefinida entre os que ficaram e os que partiram, num âmbito geográfico: do Norte/ Nordeste para o Sudeste; no âmbito afetivo: saudades; no âmbito econômico, o sustento.da “família ficante”. Em (b), tem-se o mobilização intra-urbana, conforme a expressão vai-e-vem, designando a origem e o de destino. Já em. (c) mostra-se o cotidiano da vida desse sujeito social, o migrante. A passagem em (d), a repetição tem gente, tem gente... representa a grande quantidade de migrante, um aglomerado de gente, suscitando planejamento social; O (e) mostra o antagonismo da situação dos migrantes sonhos e decepção, por não encontrarem o apoio a seu desejo: o trabalho e a Sônia Maria Cândido da Silva 7188 A Proposta de Letramento na Formação do Aluno – um diálogo imediato com a sociedade moradia e, com isso, precisa(rá) voltar. (f) Traz a antítese do movimento, a dialética da questão social: a migração por duas faces, a que contribui socioculturalmente e a face que traz problemas sociais quando não planejada pela cidade receptora. E (g) a metáfora do cotidiano desse sujeito: AVIDA É UM VAI-E-VEM NA ESTAÇÃO. 4 À GUISA DE CONSIDERAÇÕES FINAIS Com base no exposto, procurou-se nesse estudo, pautar uma proposta dialógica com: escola e mundo social, ensinante e aprendente em situação dialogante, uma vez que sociedade e homem se constituem pela linguagem. Desta forma, a hipótese aqui se confirma, a de que as práticas educativas constroem um saber, um saber ensinar e aprender para atender às demandas sociais, o que configura uma proposta de letramento. Para isso, o megainstrumento – os gêneros textuais – pode promover a inclusão social desse discente, porque nessa proposta prepara-se esse aluno para a realidade, para uma cidadania no mundo. Aqui se tomou a canção como exemplo para eestabelecer práticas educativas no viés sociocomuncativo, ao colocar a multi e transdisciplinaridade em foco, através do saber (re)conhecer nesse gênero os movimentos sociais ali alijados, o da migração. Nessa proposta, viu-se que os procedimentos metodológicos, para tal pratica, requerem do professor um perfil moderno, de buscas de conhecimento para colocar na sala de aula questões sociais que estão marcadas em canções. Tal procedimento didático é eficaz, porque aluno e professor se envolvem, reconhecem-se como sujeito da história que são Ca(o)ntadas no gênero, suscita saberes diversos, assim como integração com outras áreas de conhecimento. Tal proposta contextualiza as práticas pedagógicas para um saber comunicativo, cuja base dessas práticas esteja no ato de preparar o aluno para ser sujeito de sua própria história. Para isso, ele precisa dominar a linguagem que o rodeia, conforme está presente nos textos em diferentes suportes e situações sociais. REFERÊNCIAS AZANHA, José Mario Pires. Uma reflexão sobre a formação do professor da escola básica. In: Revista Educ e Pesquisa. Vol 30, n. 2, são Paulo: mai/ago de 2004. Acesso pelo site: Scielo [email protected], em 13 de set de 2009. Sônia Maria Cândido da Silva 7189 A Proposta de Letramento na Formação do Aluno – um diálogo imediato com a sociedade BAKHTIN, M. Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo: Hucitec,1997. _______. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 1997. BARCELLOS, Tanya M de. Migrações internas: os conceitos básicos frente à realidade da última década (1990). In: Ensaio FEE. Porto Alegre, 1995. Acesso em http://revistas.fee.tche.br/index.php/ensaios/article/viewPDFInterstitial/1755/212 em 12 de set de 2009. BRASIL. Rede Nacional de Formação Continuada de Professores de Educação Básica. Orientações Gerais. 2005. BRONCKART, Jean-Paul. Atividade de linguagem, textos e discursos: por um interacionismo sociodiscursivo. São Paulo: EDUC, 1999. CONTIER, Arnaldo Daraya. (org) História Abordagens e Métodos. Assis: UNESP, 1996. ______. O rap brasileiro e os racionais Mcs. In: Revista Eletrônica Scielo Brasil, São Paulo: 2005. FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. LIBERALI, F. C. O papel do multiplicador. In: CELANI, M. A.(org.) Professores e formadores em mudança: relato de um processo de reflexão e transformação da prática docente. Campinas: Mercado de Letras, 2001 LIBANEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 1994. MOURA, Tania Maria de Melo. A Prática Pedagógica dos Alfabetizadores de Jovens e Adultos: Contribuições de Freire, Ferreiro e Vygotsky. Maceió: INEP; EDUFAL, 1999. Sônia Maria Cândido da Silva 7190 A Proposta de Letramento na Formação do Aluno – um diálogo imediato com a sociedade RIBEIRO, Vera Masagão (org.). Educação de Jovens e Adultos. Novos leitores, novas leituras. Campinas, SP: 2003. ROJO, Roxane (org.).A prática de sala de aula. Praticando os PCNs. São Paulo: EDUC; Campinas: Mercado de Letras, 2000. SIGNORINI, Inês (org.). Investigando a relação oral/escrita e as teorias do letramento. Campinas, São Paulo: Mercado de Letras, 2001. ZABALA, Antoni Zabala. A prática educativa. Porto Alegre: Artmed, 1998. Sônia Maria Cândido da Silva 7191 IV COLÓQUIO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS E PRÁTICAS CURRICULARES “DIFERENÇA NAS POLÍTICAS DE CURRÍCULO” UM OLHAR NA ELABORAÇÃO DE ORIENTAÇÕES CURRICULARES NO RN: DIZENDO DE SONHOS E AÇÕES Vânia Maria Benevides Marinho Maria do Socorro Moreira Santana JOÃO PESSOA - PB - BRASIL 10 A 13 DE NOVEMBRO DE 2009 Um Olhar na Elaboração de Orientações Curriculares no RN: dizendo de sonhos e ações UM OLHAR NA ELABORAÇÃO DE ORIENTAÇÕES CURRICULARES NO RN: DIZENDO DE SONHOS E AÇÕES Vânia Maria Benevides Marinho Secretaria Estadual de Educação e Cultura [email protected] Maria do Socorro Moreira Santana Secretaria Estadual de Educação e Cultura [email protected] RESUMO: No presente artigo as autoras dizem a respeito de uma experiência formativa da Comissão de Currículo/Secretaria Estadual de Educação e Cultura do Estado do Rio Grande do Norte – SEEC/RN, no processo de elaboração coletiva das Orientações curriculares para a rede estadual pública de educação. Relatamos a ação, a formação em rede, agregada a composição de uma coletânea de textos com fundamentação teórica referenciada por diversos teóricos que contribuíram nos estudos dos formadores e nos desdobramentos na formação de professores nas escolas estaduais. PALAVRAS-CHAVE: Educação. Orientações curriculares. Formação. “Merece mais confiança um só testemunho ocular do que dez que testemunhem por ouvir dizer” (PLAUTO apud Comenius,1977, p 234) O escritor Leonardo Boff (2001) diz que os “olhos partem de onde os pés pisam” e Gaiarsa (2000) adverte que “os olhos são os maiores espiões do mundo. São dois, mas funcionam como se fossem um só”. É a partir do testemunho ocular das autoras que será construído o projeto de dizer sonhos e ações que envolveram e envolvem a elaboração de orientações curriculares no Rio Grande do Norte. Olhar e dizer. Considerando todos os significados contidos no dicionário da Língua Portuguesa (mini-Aurélio, 2001), para essas palavras viu-se que as duas demandam sensibilidade, envolvimento e coragem. A escritora Clarice Lispector (2007) quando fala sobre o ato de escrever diz “Será preciso coragem para fazer o que vou fazer: dizer.” E o objetivo deste texto é Vânia Maria Benevides Marinho & Maria do Socorro Moreira Santana 7195 Um Olhar na Elaboração de Orientações Curriculares no RN: dizendo de sonhos e ações dizer. Dizer de um escrito de uma ação formativa vivenciada no estado do RN, que envolveu os técnicos das dezesseis Diretorias Regionais de Educação e os professores da educação básica da rede estadual pública, na visão de suas autoras. Dizer, também, sobre o olhar na travessia, desde a formação do grupo de estudo, do planejamento, seleção de material, composição de uma coletânea de textos sobre currículo e dos saberes e fazeres vividos e experenciados até a atividade formativa, objeto deste texto. Entende-se, relevante, estender o olhar ao passado para alcançar os últimos referenciais curriculares do RN, publicados nos anos noventa, um pouco antes do advento da Lei de Diretrizes e Bases – LDB 9394/96. Na época foi forjada uma coletânea para todos os componentes curriculares, resultado de uma ampla discussão com todos os professores da rede estadual. O fato de ter sido publicado sob a égide da lei 5.692/71 que havia sido revogada pela atual lei, tornou sem efeito a sua utilização. Em 1998, os professores do ensino fundamental participaram de um Curso de Atualização Curricular – CAC, com foco nos Parâmetros Curriculares Nacionais e a implantação dos ciclos no ensino fundamental e tinha como objetivo geral de acordo com o Manual de informação (1998, p.11): Promover a melhoria do ensino fundamental, de 1ª a 8ª série, através da disseminação de novos procedimentos quanto ao planejamento e implementação do projeto pedagógico da escola, principalmente no que se relaciona a organização curricular e avaliação do processo ensinoaprendizagem e normatização do fluxo escolar, contribuindo-se, assim, para a redução dos índices de repetência e evasão na rede estadual pública de ensino. Importa dizer a esse respeito que a Coordenadoria de Desenvolvimento Escolar – CODESE/SEEC atenta às exigências da sociedade do conhecimento, as inquietações dos coletivos de educadores e a ausência de uma orientação curricular na/da rede e, sobretudo, a situação dos estudantes e professores e as condições para o desenvolvimento dos processos de ensino e de aprendizagem, formou um grupo intersetorial ligado a CODESE para a articulação e discussão das atividades desenvolvidas em cada setor que envolveu a dimensão curricular. O grupo, inicialmente, Vânia Maria Benevides Marinho & Maria do Socorro Moreira Santana 7196 Um Olhar na Elaboração de Orientações Curriculares no RN: dizendo de sonhos e ações se reunia semanalmente, depois pelas exigências e carências da temática aumentou para duas reuniões semanais com um cronograma de estudo. Depois de um ano atividade foi criada oficialmente a Comissão de Currículo, foram realizados vários encontros e reuniões para apresentar os seus membros e disseminar a natureza do trabalho que se desejava realizar com intuito de modificar a ação educativa nas escolas, conjuntamente com todos os seus atores: estudantes, professores, gestores, funcionários e a comunidade. Buscando-se o envolvimento de todos como co-produtores de um novo momento educativo. Para tanto, tornou-se visível o partilhamento de orientações curriculares, ou seja, de algo que não dependia somente de uma ação/instituição/ator, e sim todas as pessoas para implementar e desenvolver um conjunto de ações com um objetivo comum. Considerando-se por esse viés que “a educação dever da família e do estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento da pessoa, sem preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (art. 2º LDB). Com os olhos nesse artigo, como não incluir toda escola na feitura das orientações curriculares? Sem negá-las o direito ao exercício da cidadania? O que é mais cidadão do que opinar legitimamente sobre o desenvolvimento dos processos de ensino e de aprendizagem? A quem caberia dizer, por exemplo, do conteúdo, da complexidade do assunto, da dificuldade da matéria, de como situar-se no estágio de compreensão do estudante, senão ao professor? Apresenta-se, portanto, o resumo das ações da comissão de currículo: reuniões da Comissão para estudos e discussão dentro da temática curricular; encontros em duplas para a escrita de uma versão preliminar do documento das orientações; encaminhamentos para que os setores da SEEC, para contribuição na escrita da versão do documento; encontros de formação para os integrantes da Rede de Formadores do Ensino Fundamental – REDEF, encontros para trabalhos com professores, gestores e coordenadores das escolas estaduais; organização de dois seminários e do roteiro para elaboração do documento das orientações na sua versão preliminar. Para dar uma maior e melhor visibilidade apresenta-se a formação original: Apresentação, Introdução, (Contexto, estrutura educacional e legal do ensino no Brasil e RN), Concepções norteadoras das Orientações Curriculares: homem, sociedade, cultura, educação, aprendizagem, escola, currículo, criança, jovem e adulto; Fundamentos Vânia Maria Benevides Marinho & Maria do Socorro Moreira Santana 7197 Um Olhar na Elaboração de Orientações Curriculares no RN: dizendo de sonhos e ações Filosóficos e Político-pedagógicos; Etapas e modalidades da educação básica (Proposições de espectativas de aprendizagens); Considerações e Perspectivas. Ancorada nesse roteiro que daria corpo as orientações curriculares para a rede estadual em um movimento que vinha sendo anunciado e pactuado com as escolas enquanto ato coletivo, propiciado por uma ação compartilhada em que cada pessoa participante contribuiu com um saber. Saber resultante de experiências produzidas no cotidiano de fazeres e afazeres e nas vivências e estudos trilhados na estrada da vida, chegara à hora de realizar uma ação mais ousada com mais tempo para estudo presencial e com material teórico para maior e melhor embasamento. Nesse propósito, escolheu-se dez textos sobre currículo que comporiam uma coletânea, com objetivo de avançar na temática e contribuir para a confirmação de que é possível construir uma escola que deseja ser um espaço educativo de vivências sociais, de convivências democráticas e, ao mesmo tempo de apropriação, construção e divulgação de conhecimentos. Para a escolha dos textos considerou-se a relevância, a pertinência e a consonância com o que já vinha sendo estudado, bem como, a dialogicidade e intertextualidade propiciada pelo conteúdo. Cada texto escolhido, mesmo na sua singularidade, remetia a Paulo Freire no seu entendimento de educação como um fazer essencial da vida humana. Para o autor, educação é “um que fazer humano. Quefazer, portanto, que ocorre no tempo e no espaço, entre homens uns com os outros” (FREIRE, 1999). Portanto uma ação coletiva por excelência que só se realiza quando há interação e dialogicidade. Nesse sentido a decisão de escrever orientações curriculares partiu da compreensão de que pensar currículo é pensar escola. Uma escola que se constrói e se reconstrói no cotidiano de seu trabalho pedagógico. Uma escola, cujos educadores estão preocupados com a ausência de sintonia entre os currículos e a realidade de seus alunos. Uma escola que deseja uma educação para a cidadania, para a criatividade e para a vivência da democracia e da liberdade. Uma escola que visualiza a possibilidade de diálogos com os dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases, LDB 9394/ 96, no seu Artº. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: (...) “II- liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; IIIPluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; IV- Respeito à liberdade e apreço à tolerância; (...). Vânia Maria Benevides Marinho & Maria do Socorro Moreira Santana 7198 Um Olhar na Elaboração de Orientações Curriculares no RN: dizendo de sonhos e ações Isso significa dizer que a lei, não obriga nem tampouco garante mudanças, mas abre um leque de possibilidades para quem deseja estabelecer um pacto ético pelo bem comum e aposta em se unir aos outros para realizar. Paulo Freire, situava a educação no campo da ética: ele estava convencido da natureza ética da prática educativa enquanto prática especificamente humana. Defendia a presença consciente no mundo, e que a pessoa não pode fugir da responsabilidade ética de atuar e transformar, procurando criar um mundo melhor. Reparando na escolha dos textos, para a composição da coletânea e o projeto de dizer currículo de cada um, traz a memória das autoras os nomes de Izabel Alarcão, Antonio Nóvoa, Tomaz Tadeu, Sandra Corazza, Paulo Freire e outros que contribuíram para a escolha desses textos. Após a escolha dos textos, Criou-se um circuito de reflexão, debate, estudo, discussão, acertos e combinados e o encontro foi gerado e gestado por dezesseis mentes e corações, na tentativa de se fazer um trabalho interessante, contextualizado, diversificado e gerador de situações de aprendizagens significativas, identitárias e capazes de despertar o sentimento de pertencimento de cada pessoa envolvida na atividade e, por conseguinte nas escolas. Para COMENIUS (1977 p. 96). Com grande Sabedoria falou quem disse que as escolas são oficinas da humanidade: elas transformam os homens em homens de verdade, ou seja, (visando aos fins já estabelecidos):1) uma criatura racional; 2) uma criatura deleite de seu criador. Isso acontecerá se as escolas se esforçarem por tornar os homens sábios na mente, prudente nas ações, piedosos no coração. Acreditando-se na escola e na possibilidade de sonhar e concretizar uma educação que possibilite a construção de um país para todos e sem negar as condições econômicas, políticas e socioculturais adversas, os membros da comissão de currículo foram desenhando o projeto de formação, selecionando as atividades e os princípios metodológicos. Em princípio foi preciso pensar na coletânea. Os textos já estavam selecionados. Como deveria ser a capa? Quem imagem gráfica usar? E as palavras? Que palavras? Depois de muitas sugestões e recusas escolheu-se uma capa branca com pedras preciosas circundando a palavra escola. Uma mandala de pedras e palavras, ou melhor, entre as pedras palavras: conhecimentos prévios, saberes, Vânia Maria Benevides Marinho & Maria do Socorro Moreira Santana fazeres, 7199 Um Olhar na Elaboração de Orientações Curriculares no RN: dizendo de sonhos e ações conhecimentos científicos, conteúdo escolares, metodologias, processos avaliativos, aprendizagem, ensino, formação, reelaboração, alunos, professores. Palavras que se soube captadas nas falas de estudantes, professores, gestores, funcionários, comunidade. E a poetiza Cecília Meireles no seu poema vôo (1987 p. 627) nos diz que: Alheias e nossas. As palavras voam (...) Oh! Alto e baixo Em círculos e retas Acima de nós, em redor de nós As palavras voam E às vezes pousam. As palavras estavam ali em circularidade rodopiando entre pedras. Convidando para pousar o olhar em uma delas ou no conjunto. Capa aceita. Aceitos os desafios. Partiu-se para o planejamento e surgiram alguns questionamentos.O que fazer com os textos escolhidos para compor a coletânea? Que objetivos serviriam para desafiar os educadores no avanço de seu processo de conhecimento e ação sobre a temática em estudo? O que significaria desafiar os educadores? seria na perspectiva de explorar o dizer/fazer currículo com autonomia? O desafio estaria nas reflexões teóricas postas em suas mãos? Será que proporcionaria a ruptura, mesmo tímida, de alguns paradigmas? Serviria para reorientar a prática educativa? Nesse sentido, (SCOCUGLIA, 2006) diz que “O currículo é algo para ser assumido pelos sujeitos cotidianos das escolas como protagonistas legítimos e autores das possibilidades de interação na realidade”. E os membros da comissão qual a dimensão de sua assunção nessa proposição? O olhar pairou nos questionamentos e na clareza da contribuição dos textos para essa etapa de formação, assim deixou-se que a imaginação, o sonho e o diálogo se tornassem os ingredientes necessários para a realização de uma atividade que deveria retratar uma proposta educacional inovadora, revolucionária, comprometida com a formação e o desenvolvimento de uma nova sociedade. O acolhimento dos participantes envolveu música, poesia, abraços, e aconchegos, bem como, as informações gerais relativas a horários e rotinas de trabalho bem como distribuição das salas. Assim, na chegada a sala Cecília Meireles, local onde as autoras atuaram, os participantes foram intimados a dizer o seu nome e uma palavra que pudesse contribuir para o sucesso do encontro. Surgiu uma profusão de palavras- Vânia Maria Benevides Marinho & Maria do Socorro Moreira Santana 7200 Um Olhar na Elaboração de Orientações Curriculares no RN: dizendo de sonhos e ações conhecimento, disponibilidade, alegria, prazer, cooperação, prudência, fé, coragem, esperança, harmonia, saberes, socialização, motivação, companherismo, partilha, compromisso, entusiasmo, sintonia – grávidas da intenções e de ações que foram compartilhados, nos três dias de duração da formação. Na seqüência, pediu-se a elaboração de um acróstico com a palavra currículo para tecer uma rede de idéias que anteciparia a leitura do texto de Afonso Celso Scocuglia: Paulo Freire – conhecimento, aprendizagem e currículo que destacou a necessidade de construção-reconstrução permanente do currículo formado pela consciência, pelo conhecimento e pela dialogicidade (enquanto metodologia). Para o autor “O sentimento de pertencimento em relação ao conhecimento, a construção do currículo e a sua aplicação coletiva pode vir a ser detonador (individual ou coletivo) de um sentimento mais amplo de pertencimento em relação ao processo educativo e a escola”. Trabalhou-se os textos em cinco grupos de trabalho, cada grupo receberia duas perguntas e respondia para depois socializar em plenária. Estabeleceu-se o mesmo tempo para todos os grupos lerem o texto e depois responder aos questionamentos. O autor inicia o texto falando sobre a leitura de mundo e a leitura da palavra, para tanto ele afirma que os conteúdos programáticos e as metodologias, os fundamentos epistemológicos, devem estar contextualizados e influenciados pelas experiências de vida dos atores, destacando o direito subjetivo ao conhecimento em um país marcado pela exclusão social. Como o título afirma o texto tem o aporte teórico em Paulo Freire em sua forma de pensar/dizer educação vendo o ser humano como ser histórico-social desapropriado de seus direitos a uma aprendizagem que garanta viver com liberdade e autonomia na sociedade determinada pelo letramento em geral. Há no texto o reconhecimento de que o ritmo humano não é só o ritmo biológico, o caráter social, cultural do simbólico torna a administração das necessidades e, sobretudo, dos desejos, um problema coletivo e não apenas individual. Elegeu-se alguns momentos lúdicos na formação, o primeiro foi uma sessão de cinema com o filme Escritores da liberdade, uma produção do diretor Richard LaGravenese, gênero: drama, país de origem Alemanha/EUA, 2007, com duração de Vânia Maria Benevides Marinho & Maria do Socorro Moreira Santana 7201 Um Olhar na Elaboração de Orientações Curriculares no RN: dizendo de sonhos e ações 122 minutos. Aborda de uma forma comovente e instigante, o desafio da educação em um contexto social problemático e violento. O referido filme inicia com uma jovem professora, Erin (interpretada por Hilary Swank), que entra como novata em uma instituição de “ensino médio”, a fim de lecionar língua inglesa e literatura para uma turma de adolescentes considerados “turbulentos”, inclusive envolvidos com gangues. Ao perceber os grandes problemas enfrentados por tais estudantes, a professora Erin, resolve adotar novos métodos de ensino, ainda que sem a concordância da diretora do colégio. Para isso, a educadora entregou aos seus alunos um caderno para que escrevessem, diariamente, sobre aspectos de suas próprias vidas, desde conflitos internos até problemas familiares. Ademais a professora indicou a leitura de diferentes obras sobre episódios cruciais da humanidade, como o célebre livro “O Diário de Anne Frank”, com o objetivo de os alunos perceberem a necessidade de tolerância mútua, sem a qual muitas barbáries ocorreram e ainda podem se perpetrar. O filme contribuiu com o debate sobre currículo e as possibilidades de quebra de paradigmas quando há envolvimento e compromisso. O filme fez os participantes, rir e se emocionar fazendo avaliar suas possibilidades reais e intervir na realidade. A discussão gerada a partir de um roteiro que perguntava: a) que história é contada no filme? (Reconstrução da história) b) Como é contada a história?O que mais chamou atenção visualmente e o que destacaria nos diálogos) c) Que contribuição o filme traz para a discussão sobre currículo? d) Quais os modelos de sociedade e de relações culturais são apresentadas? e) que valores são afirmados/negados? f) Há mensagens não mencionadas, mas sugeridas pelo filme? A escolha desse filme teve como aporte o texto: A proposta curricular: a organização e o desenvolvimento do currículo de José Carlos Libâneo, cuja metodologia adotada para a feitura e compreensão do texto foi o estudo dirigido. O autor faz, inicialmente, um breve histórico de currículo, traz algumas definições de outros autores e afirma que o currículo escolar se manifeste em três níveis: 1 – Currículo Formal estabelecido pelos sistemas de ensino ou instituição educacional, expressando as diretrizes curriculares, objetivos e conteúdos das áreas ou disciplinas de estudo. Vânia Maria Benevides Marinho & Maria do Socorro Moreira Santana 7202 Um Olhar na Elaboração de Orientações Curriculares no RN: dizendo de sonhos e ações 2 – Currículo real é o que acontece nas salas de aula em decorrência de um projeto pedagógico e dos planos de ensino, ou aquele que sai da prática dos professores da percepção e do uso que professores fazem do currículo formal. 3 – Currículo oculto é tudo que os alunos aprendem pela convivência espontânea em meio a várias práticas, atitudes, comportamentos, gestos, percepções que vigoram no meio social e escolar. Níveis que entrecruzam de alguma forma na prática escolar e o filme foi uma vitrine onde se manifestaram os três níveis do currículo. O texto de Libâneo trouxe o reconhecimento de algumas práticas curriculares, ainda em uso na escola e a clareza de “O currículo constitui o elemento nuclear do projeto pedagógico, por ser ele que viabiliza o processo de ensino e aprendizagem”. Contudo, antes do grupo mergulhar de cabeça no texto a ser estudado, viveuse um momento de interatividade com a roda poética cuja temática envolvia o autoconhecimento e o reconhecimento do eu, enquanto ser finito e inconcluso. Cecília Meireles, Adélia Prado, Mário Quintana, Manoel Bandeira e Paulo Leminski foram os poetas escolhidos para esse momento, os títulos dos poemas, muito semelhantes, aproximaram os participantes para descoberta dos títulos e para combinar a forma de apresentação na roda. Depois cada um falou da experiência e do momento vivido. Após o momento poético e das inferências dos participantes sobre a atividade, explorou-se os territórios de Carlos Eduardo Ferraço, em uma exposição dialogada que fez ver entre outras as implicações da visão de currículo proposta para a educação e para a prática pedagógica, apontando os sujeitos cotidianos das escolas (professores, alunos, serventes, coordenadores, diretores, entre outros) como protagonistas legítimos e autores das possibilidades de intervenção na realidade, contudo ele, também chama atenção para a necessidade de se adotar uma postura teórico-metodológico para elaboração do currículo. Cada participante foi convidado para observar nas palavras do autor a importância de envolver cada pessoa da escola. fazê-la olhar currículo como recomenda (HORÁCIO apud Comenius,1977,p.234-235) “Aquilo que no teu espírito entrar passando pelo ouvido, menos força há de ter sobre ti que o que for posto sob o fiel olhar, e que tu mesmo aprenderes à força de fitar.” Vânia Maria Benevides Marinho & Maria do Socorro Moreira Santana 7203 Um Olhar na Elaboração de Orientações Curriculares no RN: dizendo de sonhos e ações Na seqüência foi realizada uma aproximação com os outros textos por meio de uma pré-leitura propiciada pelos mediadores e depois realizou-se um planejamento das atividades que seria desenvolvida nas escolas com prazos, recursos para execução e o número de pessoas envolvidas. Para tanto, apresenta-se resumidamente o teor de cada texto da coletânea: texto 1 - Adaptações: Currículo e aprendizagem para todos -- Andréa Krug, a autora apresenta uma discussão sobre o processo de construção do conhecimento, tendo como eixo central, as adaptações possíveis ao currículo. A finalidade é assegurar aprendizagens significativas, considerando as diferenças apresentadas pelos alunos e alunas, nos diversos contextos pedagógicos. No texto 02 - Currículo escolar – Limites e possibilidades, Ricardo Tescarolo, sugere que se pense a organização curricular orientada por uma visão orgânica do conhecimento e por uma abertura e uma sensibilidade, que possam articular o conhecimento e os contextos diversos da vida dos sujeitos. Texto 3 - Currículo Cultura e Formação de professor - Antonio Flávio Barbosa Moreira, apresenta reflexões sobre currículo e formação de professores, situando-as no contexto de um mundo multicultural dominado pela lógica neoliberal. Discute em que medida os atuais currículos dos cursos de formação de professores estão formando profissionais capazes de atuar como intelectuais questionadores do existente, multiculturalmente orientados e preocupados em pesquisar e aprimorar suas próprias práticas. O texto 4 - Currículo, Escola e Comunidade escrito por Sandra Zita Silva Tiné; Prof. Dante propõe que se pense currículo como um processo construído por quem o vivencia no espaço escolar. Sugere que se trabalhe a articulação entre a escola e a comunidade; a articulação entre os saberes escolares e extra-escolares, vislumbrando a construção de uma escola democrática e espaço da diversidade. No texto 05 - Paulo Freire – Conhecimento, Aprendizagem e Currículo de Afonso Celso Scocuglia, aborda a leitura do mundo e a leitura da palavra como eixo fundante do conhecimento, aprendizagem e currículo, norteados pelo direito ao conhecimento em um país marcado pela exclusão social, a mediação entre educador e educando, a problematização do conhecimento e do currículo e, não, o seu depósito, a construção democrática do currículo e ação dialógica como pedagogia na reeducação do educador, cotidiano, trabalho e “saber da experiência feita” como um dos pilares da Vânia Maria Benevides Marinho & Maria do Socorro Moreira Santana 7204 Um Olhar na Elaboração de Orientações Curriculares no RN: dizendo de sonhos e ações construção curricular, gestão e autonomia curricular pública popular, letramento, conhecimento e cidadania. No texto 6 - Possibilidades para entender o currículo - Carlos Eduardo Ferraço, expõe o currículo como redes de saberes e fazeres dos sujeitos, como partilha e prática da e na escola, hibridismo culturais vividos nos cotidianos escolares, os sujeitos cotidianos das escolas como protagonistas do currículo escolar, valorização dos saberes e das práticas dos sujeitos das escolas, o cotidiano como lócus privilegiado da discussão escolar, luta diária, no chão das escolas, considerando as condições e os contextos concretos dos sujeitos que atuam na realização dos currículos. O texto 7- Currículo, Conhecimento e Cultura - Antonio Flávio Barbosa Moreira e Vera Maria Candau, o texto aborda uma concepção de currículo como experiências escolares que se desdobram em conhecimento, no meio das relações sociais e corroboram para a construção das identidades dos alunos. Discute também, o que seja conhecimento escolar, cultura, diversidade cultural e apresenta princípios norteadores da construção de um currículo multicultural. Já no texto 8 - A proposta curricular: a organização e o desenvolvimento do currículo - José Carlos Libâneo estuda os princípios orientadores da proposta curricular: Escolarização básica, direito de todos em condições iguais de oportunidade, requer práticas diferenciadas, currículo escolar como cruzamento de culturas, processo de ensino e aprendizagem centrado no aluno, currículo: inclusão de uma proposta de educação para os valores, conteúdos possibilitadores da aquisição de capacidades e competências, inclusão da interdisciplinaridade na organização curricular, escola inclusiva, consideração da diversidade e as diferenças, aprendizagem cognitiva de qualidade, articulação no currículo nas dimensões cognitiva, social, e afetiva de aprendizagem, processo formativo dos professores: investimento no aspecto pessoal e profissional, condições para o pleno desenvolvimento da cidadania. No texto 9 - Diversidade e Currículo - Nilma Lino Gomes, O que a diversidade traz para o currículo? a autora inicia o texto fazendo tal indagação. Apresenta uma discussão sobre o que seja diversidade, diversidade cultural, educação, práticas escolares, direito a diversidade, ética, conhecimento, tempos e espaços escolares e o texto 10 - Currículo e Avaliação – os autores ,Cláudia de Oliveira Fernandes e Luiz Carlos de Freitas, propõem uma discussão sobre os aspectos da Vânia Maria Benevides Marinho & Maria do Socorro Moreira Santana 7205 Um Olhar na Elaboração de Orientações Curriculares no RN: dizendo de sonhos e ações avaliação escolar presentes no cotidiano da escola. Aborda a temática no âmbito do currículo, a partir de entendimentos do que seja educação, aprendizagem, processo avaliativo e práticas avaliativas. O Encontro terminou com uma escuta ativa, no exato entendimento que escutar, é mais que ouvir, é tentar pela fala do outro entendê-lo na sua inteireza e na singularidade de sua condição humana. Criando a partir desse ponto canais de comunicação para dar suporte ao trabalho na sua complexidade do que estava por vir. O relato registrado neste texto sobre a ação formativa que envolveu a Comissão de Currículo da Secretaria de Estado, da Educação e Cultura do estado do Rio Grande do Norte, realizado em primeira instância para os técnicos de dezesseis diretorias regionais de educação e posteriormente multiplicado para os professores da rede estadual de ensino público, retrata o olhar/dizer, de duas professoras que são integrantes de um grupo criado oficialmente como Comissão de Currículo, exprime, o olhar/dizer de quem acredita na força-ação de soluções abertas, que não estreitam cedo demais os caminhos nem congelam as opções. Tarefa manifesta a favor da construção, da democracia como princípio de organização social. No entender das autoras a democracia só existe onde é vivida, e esta ação formativa acena que sonhar com um currículo que seja gestado e gerado pelos educadores em cada escola no estado do Rio Grande do Norte é possível. REFERÊNCIAS: BRASIL. MEC. Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, 1996. BOFF. Leonardo. A águia e a galinha: uma metáfora da condição humana. Petrópolis, RJ. Ed. Vozes,1997. BOFF. Leonardo.Valores de uma prática militante. Secretaria de Consulta popular. 3ª ed. caderno nº 09. Out., 2001. Vânia Maria Benevides Marinho & Maria do Socorro Moreira Santana 7206 Um Olhar na Elaboração de Orientações Curriculares no RN: dizendo de sonhos e ações COMENIUS. Didática Magna. Tradução Ivone Castilho Benedetti – São Paulo: Martins Fontes, 1977. FERRAÇO, Carlos Eduardo. Possibilidades para entender o currículo escolar. Revista Pátio. Ano X, nº 37, fev/abr, 2006. FERNANDES, Claudia de Oliveira; FREITAS, Luiz Carlos de. Currículo e Avaliação In: Indagações sobre currículo. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2008. GOMES, Nilma Lino. Diversidade e currículo. In: Indagações sobre currículo. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2008. GAIARSA. José Ângelo. Olhar. Ed. Gente. São Paulo, 2000. KRUG, Andréa. Ciclos de formação: uma proposta transformadora. Porto Alegre: Mediação, 2001. LIBÂNEO, José Carlos. Gestão e organização da escola: teoria e prática. Goiânia: Alternativa, 2001. LISPECTOR. Clarice. A hora da estrela. Rio de Janeiro. Ed.Rocco,1999. MEIRELES. Cecília. Melhores Poemas, Global Editora, S.Paulo, 1984. MOREIRA, Antonio Flávio Barbosa. CANDAU, Vera Maria. Currículo, conhecimento e cultura. In: Indagações sobre currículo. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2008. MOREIRA. Antonio Flávio Barbosa. Currículo, Cultura e Formação de Professores. Educar em Revista, Curitiba, v. 17, n. 0, p. 39-52, 2001. SCOCUGLIA, Afonso Celso. A História das idéias de Paulo Freire e a atual crise de paradigmas. 5ª ed. Ed. Universitária/UFPB. 2006 SCOCUGLIA, Afonso Celso. Paulo Freire: conhecimento, aprendizagem e currículo. In: PEREIRA, Maria Zuleide da Costa; GONSALVES, Elisa Pereira; CARVALHO, Maria Eulina Pessoa de. (Orgs.). Currículo e contemporaneidade: questões emergentes. Campinas, SP: Alínea, 2004. SEEC/RN. Manual de informações do cursista/coordenadoria de normas e ações pedagógicas. Coleção Cadernos de Treinamento e Capacitação – série de atualizações curricular – 3. Vânia Maria Benevides Marinho & Maria do Socorro Moreira Santana 7207 Um Olhar na Elaboração de Orientações Curriculares no RN: dizendo de sonhos e ações TESCAROLO, Ricardo. Currículo escolar: limites e possibilidades. Trabalho apresentado no Congresso da Associação Católica de São Paulo, 2007. TINÉ. Sandra Z. S.; BESSA. Dante. Currículo, Escola e Comunidade: Relações e possibilidades. 2004. Vânia Maria Benevides Marinho & Maria do Socorro Moreira Santana 7208
Download