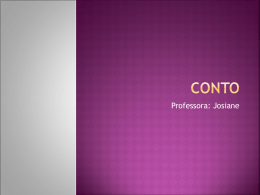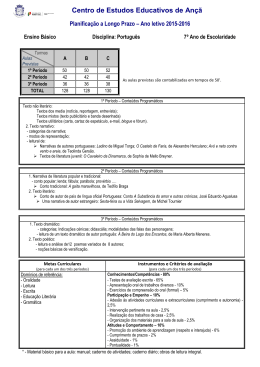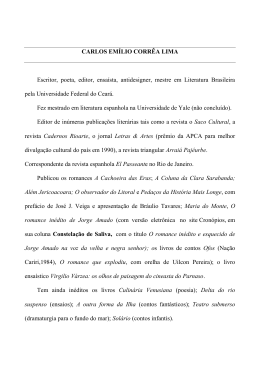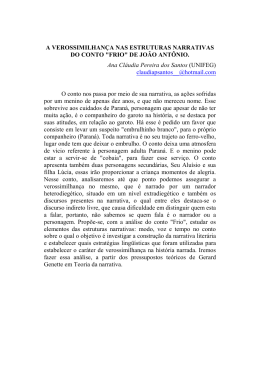VICE-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO E CORPO DISCENTE COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA LITERATURA BRASILEIRA III Conteudista Neuza Maria de Souza Machado Rio de Janeiro / 2009 TODOS OS DIREITOS RESERVADOS À UNIVERSIDADE CASTELO BRANCO UNIVERSIDADE CASTELO BRANCO Todos os direitos reservados à Universidade Castelo Branco - UCB Nenhuma parte deste material poderá ser reproduzida, armazenada ou transmitida de qualquer forma ou por quaisquer meios - eletrônico, mecânico, fotocópia ou gravação, sem autorização da Universidade Castelo Branco - UCB. Un3l Universidade Castelo Branco Literatura Brasileira III / Universidade Castelo Branco. – Rio de Janeiro: UCB, 2009. - 68 p.: il. ISBN 1. Ensino a Distância. 2. Título. CDD – 371.39 Universidade Castelo Branco - UCB Avenida Santa Cruz, 1.631 Rio de Janeiro - RJ 21710-250 Tel. (21) 3216-7700 Fax (21) 2401-9696 www.castelobranco.br Apresentação Prezado(a) Aluno(a): É com grande satisfação que o(a) recebemos como integrante do corpo discente de nossos cursos de graduação, na certeza de estarmos contribuindo para sua formação acadêmica e, consequentemente, propiciando oportunidade para melhoria de seu desempenho profissional. Nossos funcionários e nosso corpo docente esperam retribuir a sua escolha, reafirmando o compromisso desta Instituição com a qualidade, por meio de uma estrutura aberta e criativa, centrada nos princípios de melhoria contínua. Esperamos que este instrucional seja-lhe de grande ajuda e contribua para ampliar o horizonte do seu conhecimento teórico e para o aperfeiçoamento da sua prática pedagógica. Seja bem-vindo(a)! Paulo Alcantara Gomes Reitor Orientações para o Autoestudo O presente instrucional está dividido em três unidades programáticas, cada uma com objetivos definidos e conteúdos selecionados criteriosamente pelos Professores Conteudistas para que os referidos objetivos sejam atingidos com êxito. Os conteúdos programáticos das unidades são apresentados sob a forma de leituras, tarefas e atividades complementares. As Unidades 1 e 2 correspondem aos conteúdos que serão avaliados em A1. Na A2 poderão ser objeto de avaliação os conteúdos das três unidades. Havendo a necessidade de uma avaliação extra (A3 ou A4), esta obrigatoriamente será composta por todo o conteúdo de todas as Unidades Programáticas. A carga horária do material instrucional para o autoestudo que você está recebendo agora, juntamente com os horários destinados aos encontros com o Professor Orientador da disciplina, equivale a 30 horas-aula, que você administrará de acordo com a sua disponibilidade, respeitando-se, naturalmente, as datas dos encontros presenciais programados pelo Professor Orientador e as datas das avaliações do seu curso. Bons Estudos! Dicas para o Autoestudo 1 - Você terá total autonomia para escolher a melhor hora para estudar. Porém, seja disciplinado. Procure reservar sempre os mesmos horários para o estudo. 2 - Organize seu ambiente de estudo. Reserve todo o material necessário. Evite interrupções. 3 - Não deixe para estudar na última hora. 4 - Não acumule dúvidas. Anote-as e entre em contato com seu monitor. 5 - Não pule etapas. 6 - Faça todas as tarefas propostas. 7 - Não falte aos encontros presenciais. Eles são importantes para o melhor aproveitamento da disciplina. 8 - Não relegue a um segundo plano as atividades complementares e a autoavaliação. 9 - Não hesite em começar de novo. SUMÁRIO Quadro-síntese do conteúdo programático ................................................................................................. 09 Contextualização da disciplina ................................................................................................................... 11 UNIDADE I TRADIÇÃO X RENOVAÇÃO 1.1 - Tradição na Literatura Brasileira ........................................................................................................ 1.2 - Tradição ficcional (até o final do século XIX) .................................................................................... 1.3 - Simbolismo - momento de cisão: da tradição à renovação (século XX) ............................................ 1.4 - Pré-Modernismo no Brasil (século XX): fase de transição de escassa novidade ............................... 1.5 - Renovação na Literatura Brasileira .................................................................................................... 13 15 15 17 17 UNIDADE II A ESTRUTURA DA NARRATIVA 2.1 - Para a elucidação da narrativa ficcional tradicional ........................................................................... 2.2 - Estrutura (formal) da narrativa/ficção em prosa ................................................................................. 2.3 - Século XX: narrativas ficcionais (conto e romance) .......................................................................... 2.4 - Estrutura modernista (e pós-modernista) da narrativa em prosa (século XX) ................................... 2.5 - Formas em prosa ................................................................................................................................. 2.6 - O conto na literatura do século XX .................................................................................................... 2.7 - O romance na literatura do século XX ............................................................................................... 23 24 25 25 25 27 28 UNIDADE III LINHAS TEMÁTICAS (SÉCULO XX) 3.1 - O social na ficção brasileira do século XX ......................................................................................... 29 3.1.1 - Características da ficção brasileira do século XX ......................................................................... 29 3.1.2 - Alguns escritores representativos do período ............................................................................... 29 3.1.3 - Mário de Andrade: O Peru de Natal ............................................................................................ 29 3.1.4 - Autran Dourado: Os Mínimos Carapinas do Nada ...................................................................... 32 3.1.5 - João Antônio: Carioca da Gema .................................................................................................. 35 3.2 - O mito/origem na ficção brasileira do século XX .............................................................................. 36 3.2.1 - Características da ficção brasileira da primeira metade do século XX .................................................... 38 3.2.2 - Alguns escritores representativos do período (fase intermediária do Modernismo para o Pós-Modernismo) ... 38 3.2.3 - Osman Lins: A Partida ................................................................................................................. 38 3.2.4 - Lygia Fagundes Telles: A Caçada ................................................................................................. 40 3.2.5 - Características da ficção brasileira da segunda metade do século XX ................................................. 42 3.2.6 - Alguns escritores representativos do período (Pós-Modernismo/1a fase) .................................... 42 3.3 - O existencial na Literatura Brasileira do século XX .......................................................................... 42 3.3.1 - Características da ficção brasileira da segunda metade do século XX ......................................... 42 3.3.2 - Escritores representativos do período ........................................................................................... 43 3.3.3 - Guimarães Rosa: Darandina ........................................................................................................ 43 3.3.4 - Clarice Lispector: Cem Anos de Perdão ....................................................................................... 49 3.3.5 - Clarice Lispector: Amor ................................................................................................................ 50 3.4 - O urbano na Literatura Brasileira do século XX ................................................................................ 54 3.4.1 - Características da ficção brasileira da segunda metade do século XX ......................................... 54 3.4.2 - Escritores representativos do período ........................................................................................... 54 3.4.3 - Roberto Drummond: Por Falar na Caça às Mulheres ................................................................. 54 3.4.4 - Sônia Coutinho: Camarão no Jantar ............................................................................................ 59 3.4.5 - Rubem Fonseca: Cidade de Deus ................................................................................................. 62 3.5 - Ficção pós-moderna/pós-modernista dos anos finais do século XX e início do século XXI ............. 63 Referências bibliográficas ........................................................................................................................... 65 Quadro-síntese do conteúdo programático UNIDADES DO PROGRAMA OBJETIVOS I - TRADIÇÃO X RENOVAÇÃO 1.1 - Tradição na Literatura Brasileira 1.2 - Tradição ficcional (até o final do século XIX) 1.3 - Simbolismo – momento de cisão: da tradição à renovação (século XX) 1.4 - Pré-Modernismo no Brasil (século XX): fase de transição de escassa novidade 1.5 - Renovação na Literatura Brasileira • Levar ao aluno de Literatura Brasileira III informações teórico-críticas que possibilitem a ele reconhecer as diferenças entre Ficção Tradicional (os romances e contos das Estéticas Literárias anteriores ao século XX) e, fundamentalmente, Ficções Modernista e Pós-Modernista (fenômenos exclusivos da Literatura do século XX à atualidade, literatura esta reconhecida anteriormente como Ficção Contemporânea). II - A ESTRUTURA DA NARRATIVA 2.1 - Para a elucidação da narrativa ficcional tradicional 2.2 - Estrutura (formal) da narrativa/ficção em prosa 2.2 - Século XX: narrativas ficcionais (conto e romance) 2.4 - Estrutura modernista (e pós-modernista) da narrativa em prosa (século XX) 2.5 - Formas em prosa 2.6 - O conto na literatura do século XX 2.7 - O romance na literatura do século XX • Levar ao aluno de Literatura Brasileira III informações teórico-críticas que definam a situação da ficção literária do século XX (e início do século XXI) ― conto e romance ―, chamando a atenção para aspectos que a tipifiquem e que possam orientar a sua leitura. III - LINHAS TEMÁTICAS 3.1 - O social na ficção brasileira do século XX 3.2 - O mito/origem na ficção brasileira do século XX 3.3 - O existencial na Literatura Brasileira do século XX 3.4 - O urbano na Literatura Brasileira do século XX 3.5 - Ficção pós-moderna/pós-modernista dos anos finais do século XX e início do século XXI • Possibilitar ao efetivo estudioso da literatura brasileira ― da literatura do século XX e do início do século XXI, especialmente àquele que as desconhece ―, a faculdade de analisar, interpretar e/ou interagir com obras ficcionais, e reconhecer nelas (fenomenologicamente) a sua validade como Literatura-Arte. • Estabelecer relações crítico-reflexivas entre a diversa produção literária brasileira do século XX (Modernista e Pós-Modernista), relativamente às linhas temáticas nela contidas. 9 Contextualização da Disciplina A disciplina Literatura Brasileira III, acrescida dos saberes da Teoria da Literatura/Teoria Literária, incluindo a Crítica Literária desenvolvida pelo ponto de vista da interdisciplinaridade, visa reafirmar e consolidar o leque de informações que foram utilizadas no decorrer dos cursos de Literatura Brasileira I e II. No caso específico deste módulo, o objetivo é propiciar ao aluno de Letras o conhecimento das inovações estéticoliterárias ocorridas no século XX, quando se possibilitou assistir ao desenvolvimento de uma criatividade diferenciada na arte de compor trabalhos artísticos em prosa ou em versos. O conhecimento de tais textos diferenciados – o que poderíamos nomear atualmente como textos das estéticas modernistas e pós-modernistas – é matéria de vital importância ao estudioso da Literatura Brasileira, uma vez que a mesma está em permanente renovação, e não seria de distinta estratégia – principalmente aos alunos de Letras, como futuros professores – a falta de reciclagem do conhecimento da Literatura Brasileira (ou mesmo de outra Literatura da grade curricular da Faculdade de Letras). Como já foi notificado em outros Instrucionais relativos ao assunto, tal conhecimento somar-se-á às informações dos cursos anteriores, pois, além de permitir a continuação das explorações de todas as possibilidades de como interagir com a literatura propriamente dita, o estudioso terá condições de se disciplinar a estudar com reanimado empenho e, por tais motivações, continuar a desenvolver seu próprio senso crítico, sabendo assim a diferenciar os diversos valores da literatura. Reafirmando as anteriores contextualizações – dos anteriores Instrucionais relativos à Literatura – as informações, contidas nesta disciplina, assim como os textos diferenciados e inovadores, tendem a provocar no estudioso da literatura a continuação do gosto pelo crescimento intelectual. 11 UNIDADE I 13 TRADIÇÃO X RENOVAÇÃO 1.1 - Tradição na Literatura Brasileira TRADIÇÃO (DICIONÁRIO): Ato de transmitir. Transmissão oral de lendas, fatos, costumes, doutrinas, hábitos, etc. Tudo que se sabe por uma transmissão de geração em geração. FICÇÃO TRADICIONAL NO BRASIL FICÇÃO ROMÂNTICA “O romance romântico brasileiro dirigia-se a um público mais restrito do que o atual: eram moços e moças provindos das classes altas, e, excepcionalmente, médias; eram os profissionais liberais da corte ou dispersos pelas províncias; eram, enfim, um tipo de leitor à procura de entretenimento, que não percebia muito bem a diferença de grau entre um Macedo e um Alencar urbano. Para esse devoradores de folhetins franceses, divulgados em massa a partir de 1830/40, uma trama rica de acidentes bastava como pedra de toque do bom romance. À medida que os nossos narradores iam aclimando à paisagem e ao meio nacional os esquemas de surpresa e de fim feliz dos modelos europeus, o mesmo público acrescia ao prazer da urdidura o do reconhecimento ou da autoidealização. (Conferir: BOSI, Alfredo. História Concisa da Literatura Brasileira. 37. ed. Rio de Janeiro: Cultrix, 1999: 128-129) ALGUNS ROMANCES ROMÂNTICOS REPRESENTATIVOS DO PERÍODO • O Filho do Pescador (1843), de Teixeira e Sousa. (Antônio Gonçalves Teixeira e Sousa ― inaugurou o romance romântico no Brasil). • Romance Original Brasileiro (1843), de Teixeira e Sousa. • Tardes de um Pintor ou As Intrigas de um Jesuíta (1844), de Teixeira e Sousa. (Pesquisar a obra de Teixeira e Sousa, ficcionista ― desconhecido ― do Romantismo Brasileiro). • A Moreninha (1844), de Joaquim Manuel de Macedo. • O Moço Loiro (1845), de Joaquim Manuel de Macedo. • Memórias de um Sargento de Milícias (1853, em folhetins, e 1854, 1a edição em livro), de Manuel Antônio de Almeida. • Cinco Minutos (1856), de José de Alencar. • A Viuvinha (1857), de José de Alencar. • O Guarani (1857), de José de Alencar. • As Minas de Prata (1862), de José de Alencar. • Diva. Perfil de Mulher (1864), de José de Alencar. • O Ermitão de Muquém (1864), de Bernardo Guimarães • Iracema. Lenda do Ceará (1865), de José de Alencar. • A Luneta Mágica (1869), de Joaquim Manuel de Macedo. • O Gaúcho (1870), de José de Alencar. • A Pata da Gazela (1870), de José de Alencar. • Sonhos D’Ouro (1872), de José de Alencar. • Til (1872), de José de Alencar. • O Garimpeiro (1872), de Bernardo Guimarães. • O Seminarista (1872), de Bernardo Guimarães. • Inocência (1872), de Visconde de Taunay (Alfredo D’Escragnolle Taynay). • A Guerra dos Mascates (1873), de José de Alencar. • O Índio Afonso (1873), de Bernardo Guimarães. • Ubirajara (1874), de José de Alencar. • Senhora (1875), de José de Alencar. • O Sertanejo (1875), de José de Alencar. • A Escrava Isaura (1875), de Bernardo Guimarães. • Encarnação (1877), de José de Alencar (edição póstuma, romance escrito entre 1875 e 1876). CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO ROMANTISMO (POESIA E PROSA) • Na Europa, gosto pelas tradições medievais (no Brasil, Alencar se valeu da tradição indígena); • Banimento da mitologia e dos processos eruditos da retórica greco-romana; • Mistura dos gêneros definidos (mistura de matérias oriundas dos gêneros literários: matéria lírica, matéria épica, matéria dramática); • Literatura variada e popularizante, fora das exigências formais anteriores (repúdio às exigências clássicas relativas aos gêneros literários). Inovações formais do Romantismo: • O belo horrível, disforme, tenebroso, cemiterial (≠ bucolismo arcádico); • O desordenado, o desmesurado (≠ da ordem e medida anteriores); • O enevoado, o noturno (≠ contornos nítidos e diurnos); • O improviso, os versos de rimas audíveis (≠ racionalização e ponderação na estrutura da obra); • Digressão; • Interrupção da narrativa; • O exagero sentimental e melodramático; • Adjetivação, pormenorização descritiva (cor local); 14 • O pitoresco; • O exótico; • Individualismo (contraditório em suas manifestações). Principais facetas literárias deste individualismo: • Culto da originalidade pessoal; • Oposição à teoria clássica da imitação emuladora [seguidora de exemplos]; • Tema da insaciedade humana; da inspiração indefinida; • Dor cósmica (de simplesmente existir); • Obsessão em relação à morte; • Autobiografismo direto ou velado; • Apologia do herói insociável e amoral ou fora da lei (o pirata, o bandido, o proscrito, etc.); • Gosto pelo sonho (devaneio passivo, evasão imaginativa para alhures no tempo e no espaço; historicismo, exotismo); • Sentimentalismo amoroso indizível e irrealizável; • Manifestações de anárquico irracionalismo ou misticismo; • Encarecimento de valores literários inerentes às lendas cristãs, ao culto católico e ao mais antigo viver aristocrático feudal. ROMANCE DE TRANSIÇÃO DO ROMANTISMO PARA O REALISMO “Do Romantismo ao Realismo houve uma passagem do vago ao típico, do idealizante ao factual”. (Conferir: BOSI, Alfredo. História Concisa da Literatura Brasileira. 37. ed. Rio de Janeiro: Cultrix, 1999: 173). CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO MOMENTO DE TRANSIÇÃO DO ROMANTISMO PARA O REALISMO • Em princípio, há o desejo de seguir as normas da ficção romântica, sempre colocando o personagem principal (masculino, exigências patriarcais) em posição de destaque e procurando desculpar suas falhas humanas (narrativa de personagem); • A ficção de transição, do Romantismo para o Realismo, no final narrativo, não consegue o fecho romântico (a glorificação do personagem masculino), ou seja, termina à moda realista, julgando severamente o personagem (narrativa de espaço, presa às exigências ideológicas do final do século XIX). Exemplos: no Brasil, O Cabeleira, de Franklin Távora; em Portugal, A Queda de um Anjo, de Camilo Castelo Branco. FICÇÃO REALISTA/NATURALISTA “Estreitando o horizonte das personagens e da sua interação nos limites de uma factualidade que a ciência reduz às suas categorias, o romancista [realista/naturalista] acaba recorrendo com alta frequência ao tipo e à situação típica: ambos, como síntese do normal e do inteligível, prestam-se docilmente a compor o romance que se deseja imune a tentações da fantasia. E, de fato, a configuração do típico foi uma conquista do Realismo, um progresso da consciência estética em face do arbítrio a que o subjetivismo levava o escritor romântico, a quem nada impedia de engendrar criaturas exóticas e enredos inverossímeis”. (Conferir: BOSI, Alfredo. História Concisa da Literatura Brasileira. 37. ed. Rio de Janeiro: Cultrix, 1999: 170). ALGUNS ROMANCES REALISTAS REPRESENTATIVOS DO PERÍODO: • Memórias Póstumas de Brás Cubas (1881), de Machado de Assis (Joaquim Maria Machado de Assis); • Quincas Borba (1892), de Machado de Assis; • Dom Casmurro (1900), de Machado de Assis; • Esaú e Jacó (1904), de Machado de Assis; • Relíquias da Casa Velha (1906), de Machado de Assis; • Memorial de Aires (1908), de Machado de Assis. ALGUNS ROMANCES NATURALISTAS REPRESENTATIVOS DO PERÍODO: • O Coronel Sangrado (1878), de Inglês de Sousa (Herculano Marcos Inglês de Sousa); • O Mulato (1881), de Aluísio de Azevedo (Aluísio Tancredo Gonçalves de Azevedo); • Casa de Pensão (1884), de Aluísio de Azevedo; • O Missionário (1888), de Inglês de Sousa; • O Cortiço (1890), de Aluísio de Azevedo; • A Normalista (1893), de Adolfo Caminha (Adolfo Ferreira Caminha); • O Bom Crioulo (1895), de Adolfo Caminha; • Tentação (1896), de Adolfo Caminha; • Luzia-Homem (1903), de Domingos Olímpio (Domingos Olímpio Braga Cavalcante); • A Fome (1890), de Rodolfo Teófilo. ATENÇÃO: O romance naturalista, de inspiração regional, Dona Guidinha do Poço, de Manuel de Oliveira Paiva, foi escrito no final do século XIX, mas não foi publicado pelo autor. Os leitores da época não conheceram a trama desse romance. ROMANCE REPRESENTATIVO DO PERÍODO NO BRASIL • O Cabeleira (1876), de Franklin Távora (João Franklin da Silveira Távora). “Não alcançou a mesma fortuna de publicação imediata o melhor escritor do grupo, Manuel de Oliveira Paiva. O seu romance Dona Guidinha do Poço, escrito por volta de 1891, só veio a ser editado em 1951, graças ao empenho de Lúcia Miguel Pereira que o apresentou com um prefácio elogioso. E merecido”. (Conferir: BOSI, Alfredo. História Concisa da Literatura Brasileira. 37. ed. Rio de Janeiro: Cultrix, 1999: 196). critores/artistas (incomuns), realistas e, inclusive, naturalistas, que souberam fintar tais exigências, ultrapassaram as barreiras de seu próprio tempo e espaço histórico-ideológicos, alcançando merecida valorização posterior. FICÇÃO REALISTA/IMPRESSIONISTA CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO REALISMO • Exigência estética: detectar a realidade do momento o mais fielmente possível; • Realce ficcional do materialismo dominando o homem do final do século XIX; • Valorização do cientificismo na literatura; • Em forma de literatura, o escritor critica o homem, a sociedade, a vida (por um ponto de vista adequado às normas ideológicas do momento); • Romance de caráter psicológico, social e de tese; • Narrador: observando diretamente as coisas e os fatos ― o momento histórico ― em forma de ficção (posicionamento ficcional diferente do cronista e/ou mesmo do jornalista). • Narrador: racional; • Normas narrativas: exigindo objetividade (algo impossível em se tratando de texto ficcional/arte). Os es- “Raul Pompéia partilhava com Machado de Assis o dom do memorialista e a finura da observação moral, mas no uso desses dotes deixava atuar uma tal carga de passionalidade que o estilo de seu único romance realizado, O Ateneu, mal se pode definir, em sentido estrito, realista; e se já houve quem o dissesse impressionista, afetado pela plasticidade nervosa de alguns retratos e ambientes, por outras razões se poderiam nele ver traços expressionistas, como o gosto do mórbido e do grotesco com que deforma sem piedade o mundo do adolescente”. (Conferir: BOSI, Alfredo. História Concisa da Literatura Brasileira. 37. ed. Rio de Janeiro: Cultrix, 1999: 183). ROMANCE REALISTA/IMPRESSIONISTA REPRESENTATIVO DO PERÍODO • O Ateneu (1888), de Raul Pompéia (Raul D’Ávila Pompéia). 1.2 - Tradição Ficcional (até o Final do Século XIX) LER: CÂNDIDO, Antônio. Literatura e Sociedade. 6.ed. São Paulo: Nacional, 1980: 24-30. TRADIÇÃO FICCIONAL LITERATURA (FICÇÃO) TRADICIONAL (ATÉ O FINAL DO SÉCULO XIX) • O realismo consolidou seu império até os anos finais do século XIX. • A posição do Artista (até o final do século XIX): Houve um exagero em relação ao aspecto coletivo da criação, concebendo-se o povo, no conjunto, como criador de arte. • Relação personagem-autor: O personagem como um elemento entre outros e cada um por seu lado etc. • A configuração da obra: “Determinada atividade se transforma em ocasião e matéria de poesia [de ficção, de drama], pelo fato de representar para o grupo [primitivo] algo singularmente prezado, o que garante o seu impacto emocional”. (Op. cit.: 24). Por exemplo: Relatar determinadas atividades que se transformam em “ocasião e matéria de poesia [ou de relato em prosa], pelo fato de representar para o grupo [primitivo] algo singularmente prezado, o que garante o seu impacto emocional; a celebração de uma caça feliz” ou qualquer outra atividade, seja em forma de felicidade ou não. ATENÇÃO: Os textos das novelas de televisão, por serem textos lineares para entretenimento (textos horizontais), se pautam por este modelo primitivo. • Argumento de Barth [escritor americano] revisto por Jair Ferreira dos Santos (In: OLIVEIRA, Roberto Cardoso de (Org.). Pós-Modernidade. 1.ed. Campinas: Unicamp, 1987: 59-69): “(...) numa ambiência niilista, desencantada, o romance tradicional [realizase] calcado na ilusão verossímil, é um flatus vocis...” 1.3 - Simbolismo – Momento de Cisão: da Tradição à Renovação (Século XX) MOVIMENTO SIMBOLISTA Pela origem e natureza da sua estética, o Simbolismo tendia a expressar-se melhor na poesia do que nos gêneros em prosa, em geral, mais analíticos e mais presos aos padrões do verossímil e do coerente. E, de fato, a prosa narrativa, que, no último quartel do século XIX, chegara a um ponto de alta maturação em 15 16 Raul Pompéia, Aluísio Azevedo e Machado de Assis, não continuará a dar frutos de valor a não ser em escritores deste século, de formação realista, como Lima Barreto, Graça Aranha e Simões Lopes Neto. Isto não quer dizer que os nossos decadentes1 não hajam tentado as várias sendas da prosa: o romance, o conto, a crônica, a prosa de arte, a crítica. Fizeram-no difusa e copiosamente, mas com precários resultados, à exceção, talvez, de Nestor Vítor, o maior crítico do Simbolismo. O “poema em prosa”, de que haviam dado exemplos Baudelaire e Rimbaud, é gênero difícil, pois não se tolera por muito tempo a indefinição ou vaguidade no discurso não rítmico, a não ser que essas características sejam compensadas por uma força rara de fantasia. As Canções sem Metro, de Raul Pompéia, embora inferiores ao Ateneu, parecem-me de leitura mais agradável que as próprias Evocações de Cruz e Sousa, não obstante a grandeza deste como poeta. Mas foi o modelo menos feliz que proliferou nos primeiros anos do século. É fato lamentado por um especialista em “literatura 1900”, Brito Broca: “... as boas heranças da poesia simbolista poucos a colheram, enquanto as más heranças da prosa encontraram terreno fértil e propício para desenvolver-se entre nós. Desde o começo do século que implantou em nossas revistas literárias e mundanas, com vinhetas e ilustrações, um gênero de crônica meio poemática, espécie de divagação fantasista sobre motivos abstratos, mero jogo de palavras, em que se exercitavam a habilidade e o engenho verbal dos autores. Era a assimilação do pior Simbolismo pelo pior Parnasianismo, e o tipo perfeito desse mal de literatice, que se tornou um dos principais alvos dos modernistas” (Nota de n.o 232, de Alfredo Bosi, op. cit.: BRITO BROCA. “Quando teria começado o Modernismo?” In: Letras e Artes, Suplemento Literário de A MANHÃ (jornal), Rio de Janeiro, 20/07/1952). (...) A prosa ornamental de Coelho Neto, incerta entre o Realismo e o Decadentismo, já prenunciava essa linha que iria prolongar-se por toda a belle époque. Mas viria de simbolistas de estreita observância, como Lima Campos, Gonzaga Duque, Rocha Pombo e Nestor Vítor, o esforço mais sistemático de criar uma prosa poética em moldes realmente originais. (...) Da mole de contos, quadros, fantasias e devaneios em prosa, escritos nessa época, é justo que se ressalvem algumas obras representativas da forma mentis simbolista entre nós: Signos (1897), de Nestor Vítor, em que o atilado crítico do movimento trabalha uma linguagem expressionista avant la lettre, cujo exemplo mais sério é a novela “Sapo”, história de um rapaz que se alheia 1 radicalmente da sociedade até ver-se um dia transformado em um animal repelente “de malhas amarelas e verde-escuras a cobrirem-lhe o corpo”. Quem não lembrará, ao menos pela alegoria final, a Metamorfose, que Kafka escreveria vinte anos depois? Confessor Supremo (1904), de Lima Campos, contos fantásticos ou oníricos, mas elaborados em uma prosa frouxa e retórica que dilui o impacto da mensagem psicológica. Hora de Mágoas (1914), de Gonzaga Duque, livro de contos nefelibatas. Tentativas mais ambiciosas de romance antirrealista fizeram-nas o mesmo Gonzaga Duque, com Mocidade Morta (1897), Nestor Vítor, com Amigos (1900), e Rocha Pombo, com No Hospício (1906)”. (Conferir: BOSI, Alfredo. História Concisa da Literatura Brasileira. 37. ed. Rio de Janeiro: Cultrix, 1999: 292-294). CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO SIMBOLISMO • Revalorização do sonho evasivo; • Nefelibatas: os que vivem nas nuvens; • Arte é emoção; • Arte é identidade; • Intuição vidente; • O objeto deve ser sugerido, não enunciado claramente; • Símbolo: vincula as partes ao Todo Universal; • Reação contra os preceitos materialistas; • Reação contra as correntes analíticas do final do século XIX; • Alquimia verbal, magia vocabular, poder encantatório do vocábulo; • Valorização do sentimento imaginativo, o instinto da imaginação; • Mística oculta; • Respectiva estilística de símbolos multivalentes; • Sinestesias; • Obsessão pela musicalidade; • Aliterações; • Ecos; • Pitoresco regional; • Moralismo discursivo; • Idealismo pronunciadamente religioso; • Eu literário inadaptado à realidade (em todas as suas gradações); • Linguagem literária: tom de conversa ou diário íntimo; • Escritor: narcisista que se sente exilado, quer no espaço, quer no tempo, e que traduz o seu enguiço, o seu fadário; • Mistério (mistério simbolista ≠ mistério romântico); ATENÇÃO: A palavra decadentes aqui não possui sentido depreciativo. Decadentes = Simbolistas. Decadentes = Aqueles que vivenciaram uma época que precedeu o fim de uma civilização ou de uma Era. Por exemplo: da Era Moderna para a Era Pós-Moderna. • Dor metafísica; a Luz; o Éter, a Morte; • Sensualismo e Transcendentalismo; • Libertação do vocabulário e da imaginação das convenções de uma expressão que se pretendia, anteriormente, simultaneamente poética e elevada; • Rejeição do primado do objetivo em Arte; • Desejo de apreender diretamente os valores transcendentais; • Sondagem nos estratos interiores, em busca de surpreender o universo mental anterior à fala. PARAA COMPREENSÃO DA RENOVAÇÃO DA LITERATURA DO SÉC. XX: PRINCIPALMENTE DA PROSA FICCIONAL/FICÇÃO-ARTE 2 1.4 - Pré-Modernismo no Brasil (Século XX): Fase de Transição de Escassa Novidade “Creio que se pode chamar pré-modernista (no sentido forte de premonição dos temas vivos em 22) tudo o que nas primeiras décadas do século, problematiza a nossa realidade social e cultural. O grosso da literatura anterior à “Semana” foi, como é sabido, pouco inovador. As obras, pontilhadas pela crítica de “neos” ― neoparnasianas, neossimbolistas, neorromânticas ― traíam o marcar passo da cultura brasileira em pleno século da revolução industrial. Essa literatura já foi vista, em suas várias direções, nas páginas dedicadas aos epígonos do Realismo e do Simbolismo. No caso dos melhores prosadores regionais, como Simões Lopes e Valdomiro Silveira, poder-se-ia acusar um interesse pela terra diferente do revelado pelos naturalistas típicos, isto é, mais atento ao registro dos costumes e à verdade da fala rural; mas, em última análise, tratava-se de uma experiência limitada, incapaz de desvencilhar-se daquele conceito mimético de arte herdado ao Realismo naturalista. Caberia ao romance de Lima Barreto e de Graça Aranha, ao largo ensaísmo social de Euclides da Cunha, Alberto Torres, Oliveira Viana e Manuel Bonfim, e à vivência brasileira de Monteiro Lobato o papel histórico de mover as águas estagnadas da belle époque, revelando, antes dos modernistas, as tensões que sofria a vida nacional. Parece justo deslocar a posição desses escritores: do período realista, em que nasceram e se formaram, para o momento anterior ao Modernismo. Este, visto apenas como estouro futurista e surrealista, nada lhes deve (nem sequer a Graça Aranha, a crer nos testemunhos dos homens da “Semana”);mas, considerado na sua totalidade, enquanto crítica ao Brasil arcaico, negação de todo academismo e ruptura com a República Velha, desenvolve a problemática daqueles, como o fará, ainda mais exemplarmente, a literatura dos anos de 30”. (Conferir: BOSI, Alfredo. História Concisa da Literatura Brasileira. 37. ed. Rio de Janeiro: Cultrix, 1999: 306 - 307). ALGUNS ROMANCES PRÉ-MODERNISTAS REPRESENTATIVOS DO PERÍODO: • Os Sertões (1902), de Euclides da Cunha (Euclides Rodrigues Pimenta da Cunha); • Canaã (1902), de Graça Aranha (José Pereira da Graça Aranha); • Recordações do Escrivão Isaías Caminha (1909), de Lima Barreto (Afonso Henriques de Lima Barreto); • Triste Fim de Policarpo Quaresma (1911), de Lima Barreto. 1.5 - Renovação na Literatura Brasileira SÉCULO XX: RENOVAÇÃO FICCIONAL NO BRASIL RENOVAÇÃO (DICIONÁRIO): Ato ou efeito de renovar-se. Tornar novo. Dar aspecto novo. Substituir por coisa nova. Corrigir. Reformar. Recomeçar. Rejuvenescer. Revigorar-se. Dar novas forças a. Tornar melhor em todos os respeitos. MODERNISMO (DICIONÁRIO): Denominação genérica de vários movimentos literários e artísticos: futurismo, cubismo, expressionismo, dadaísmo, surrealismo etc. Especificamente, movimento literário brasileiro iniciado na Semana de Arte Moderna. 2 ATENÇÃO: Prosa Ficcional/Arte (paradigmática, vertical, insólita, de estrutura complexa, romanceada) ≠ Prosa Ficcional/Paraliterária (sintagmática, horizontal, ideológica, de estrutura simples, novelística). 17 18 RENOVAÇÃO NA LITERATURA BRASILEIRA: HISTÓRICO 1912: Oswald de Andrade, na Europa, toma conhecimento das ideias futuristas; 1912: Manuel Bandeira, na Suíça, entra em contato com a literatura pós-simbolista; 1915: Ronald de Carvalho, em Portugal, toma parte na Revista Orpheu; 1016: Fundação da Revista do Brasil; 1917: Anita Malfatti, viajando pela Europa e Estados Unidos, entra em contato com a Arte Moderna; 1917/1918: Anita Malfatti expõe sua pintura moderna em São Paulo, causando muita polêmica. Monteiro Lobato critica a exposição de Anita no Jornal “O Estado”. Título do artigo de Monteiro Lobato: “Paranóia ou Mistificação”; 1918: Oswald de Andrade rebate violentamente a crítica de Monteiro Lobato no “Jornal do Comércio”, defendendo a inovação artística (pintura) de Anita Malfatti. Os que prestigiaram a arte de Anita Malfatti: Mário de Andrade, Di Cavalcanti, Guilherme de Almeida; 1920: Surge a pintura de Victor Brecheret; 1921: Mário de Andrade publica “Mestres do Passado”, análise crítica à geração parnasiana; 1921: Início de adesão às novas ideias. Graça Aranha, acadêmico (ABL), resolve aderir às novas ideias artístico-literárias; 1922: Fevereiro. Semana de Arte Moderna; 1922: Publicação da Revista Klaxon (a Revista visava representar a época); 1924: Movimento Pau-Brasil – Oswald de Andrade (posição nacionalista); 1925: Movimento Verde-Amarelo (primitivista). Mais tarde, o Movimento Verde-Amarelo foi transformado no Grupo Anta; 1928: Publicação da Revista Antropofagia – Oswald de Andrade. MODERNISMO NA LITERATURA BRASILEIRA Movimento de Vanguarda na Literatura Brasileira “Ronald de Carvalho foi o introdutor da literatura de vanguarda no Brasil, onde encontrou uma atmosfera sumamente propícia ao florescimento dos experimentalismos que culminaram na já mitológica Semana de Arte Moderna de São Paulo (13 a 17 de fevereiro de 1922). O radicalismo de vanguarda brasileiro encontrou favorável caldo de cultura no nacionalismo cultural antiportuguês, descobrindo, no experimentalismo da língua, uma das vias da identidade específica do brasileirismo. A esta diretriz se deve a tradicional abertura cultural do Brasil aos vários movimentos inovadores, representada em nomes como os de Manuel Bandeira, Murilo Mendes e Cecília Meireles, de um compositor musical como Heitor Villalobos e de um arquiteto como Oscar Niemeyer, o criador de Bra- sília, que foi um sonho de vanguarda artística por excelência. Mas, à orientação seguida se deve, também, ao comprometimento do futurismo brasileiro com o nacionalismo, marcado de tendências fascistas, do Estado Novo. Foi necessário esperar pelas gerações de vanguarda mais recentes (escritores, poetas e cantores de música pop brasileira, única que não recebe mimeticamente a influência americana e, por isso mesmo, com maior interesse), para se poder registrar o aparecimento de uma vanguarda artística e literária que nada tem que ver com o Estado Novo fascizante e seus herdeiros”. (Conferir: FRONTIN, José Luis Gimenez. Movimentos Literários de Vanguarda. Tradução de Álvaro Salema e Irineu Garcia. Rio de Janeiro: Salvat Editora do Brasil, 1979: 118-119). SEMANA DE ARTE MODERNA “A Semana foi, ao mesmo tempo, o ponto de encontro das várias tendências que desde a I Guerra se vinham firmando em São Paulo e no Rio, e a plataforma que permitiu a consolidação de grupos, a publicação de livros, revistas e manifestos, numa palavra, o seu desdobrar-se em viva realidade cultural”. (Conferir: BOSI, Alfredo. História Concisa da Literatura Brasileira. 37. ed. Rio de Janeiro: Cultrix, 1999: 340). MODERNISMO/PÓS-MODERNISMO (SÉCULO XX) • Novo conceito da função de escritor; • Quebra dos valores tradicionais da forma artística; • O escritor questiona o mundo, suas relações com o mundo, e questiona a si mesmo; • Personagem de narrativa modernista/pós-modernista (século XX): ¾ É personagem atuante na narração; ¾ É o elemento estruturante que representa o máximo conhecimento daquilo que narra; ¾ É o elemento mais preciso na medida em que o conto [narrativa] é contado por um ser humano a outros; ¾ A personagem é, por sua vez, inúmeras personagens e suas respectivas formas variam de acordo com as condições. • Relação personagem-autor: ¾ “O autor constrói seus personagens seguindo o desenho afetivo ou virtual (que está predeterminado e contém todas as condições essenciais a sua realização) que conhece nas pessoas” (Op. cit.: 24); ¾ “O autor singulariza as personagens, mas respeitando, variando, negando certos modelos em cuja eleição transcorre a primeira etapa da gênese do romance” (Op. cit.: 24); • A posição do artista (escritor): ¾ “(...) sabemos que a obra exige necessariamente a presença do artista criador. O que chamamos arte coletiva é a arte criada pelo indivíduo a tal ponto identificado às aspirações e valores do seu tempo, que parece dissolver-se nele, sobretudo levando em conta que, nestes casos, perde-se quase sempre a identidade do criador-protótipo” (Op. cit.: 25). ¾ “Os elementos individuais adquirem significado social na medida em que as pessoas correspondem a necessidades coletivas; e estas, agindo, permitem por sua vez que os indivíduos possam exprimir-se, encontrando repercussão no grupo. As relações entre o artista [escritor] e o grupo se pautam por esta circunstância e podem ser esquematizadas do seguinte modo: em primeiro lugar, há a necessidade de um agente individual que tome a si a tarefa de criar ou apresentar a obra; em segundo lugar, ele é ou não reconhecido como criador ou intérprete pela sociedade, e o destino da obra está ligado a esta circunstância; em terceiro lugar, ele utiliza a obra, assim marcada pela sociedade, como veículo das suas aspirações individuais mais profundas” (Op. cit.: 25); ¾ “Considerações deste tipo fazem ver o que há de insatisfatório e pouco exato nas discussões que procuram indagar, como alternativas mutuamente exclusivas, se a obra é fruto da iniciativa individual ou de condições sociais, quando na verdade ela surge na confluência de ambas, indissoluvelmente ligadas. Isto nos leva a retomar o problema, indagando qual é a função do artista, qual a sua posição social e quais os limites da sua autonomia criadora. O último ponto ficará esclarecido com a discussão dos dois primeiros e com a apresentação subsequente do problema do público” (Op. cit.: 25 - 26). • A configuração da obra (século XX): ¾ “A obra depende estritamente do artista [outras terminologias que poderão ser utilizadas: escritor, ficcionista, narrador] e das condições sociais que determinam a sua posição”. (Op. cit.: 30) ¾ Artista: relacionado aos aspectos estruturais; ¾ Obra: “influxo exercido pelos valores sociais, ideologias e sistemas de comunicação, que nela se transmudam em conteúdo e forma, discerníveis apenas logicamente, pois na realidade decorrem do impulso criador como unidade inseparável”. (Op. cit.: 30) ¾ CONTEÚDO DA OBRA: valores e ideologia; ¾ FORMA: várias modalidades de comunicação; ¾ “No momento em que a escrita triunfa como meio e comunicação, o panorama se transforma. A poesia [e a ficção] deixa de depender exclusivamente da audição, concentra-se em valores intelectuais e pode, inclusive, dirigirse de preferência à vista (...). A poesia [e a ficção do século XX] esqueceu o auditor e visa principalmente a um leitor atento e reflexivo, capaz de viver no silêncio e na meditação o sentido do seu canto no mundo” (Op. cit.: 33). PÓS-MODERNISMO: • PONTO DE VISTA DE JAIR FERREIRA DOS SANTOS SOBRE FICÇÃO PÓS-MODERNA/ PÓS-MODERNISTA (Conferir: SANTOS, Jair Ferreira dos. In: OLIVEIRA, Roberto Cardoso de (org.). Pós-Modernidade. 1. ed. Campinas: Unicamp, 1987: 59-69.) Para a identificação da literatura Pós-Modernista (Século XX e início do Século XXI): Î Barth (John Barth, escritor americano): verbos no passado; // Deus, ou qualquer outro grande referente tipo História, Natureza, Conhecimento são liquidados como abonadores da ordem ou de um sentido para o universo e a vida; e em seguida é anulado o realismo, a mais cara das convenções literárias, com sua fé de sapateiro numa realidade objetiva que seria singelamente captada na linguagem por um sujeito-narrador atento e forte, em franca afinidade com as coisas (Op. cit.:.58 - 59). Î Literatura bem-humorada, fantasiosa, sem “iluminações”, problematizando ao máximo a percepção da experiência e da própria literatura” (Op. cit.:.59). Î Entropia (desordem) e antirrealismo são os decalques, na literatura, do capitalismo pós-industrial, baseado na tecnociência e na informação, em ascensão nos Estados Unidos da América há duas décadas. Receptor de mensagens aleatórias, emitidas pela “mass media” e os sistemas informatizados, o indivíduo percebe o mundo e a História como um espetáculo entrópico (desordenado), fragmentário, sem totalidade e irracional, enquanto à sua volta a realidade se dissolve numa colagem de signos e simulacros cujos referentes são remotos ou se perderam. Nesse cosmos tendente ao caos, sem princípio unificador seja ele cristão ou newtoniano, o sujeito é, quando muito, um átomo estatístico surfando nas ondas do provável e do incongruente (Op. cit: 60). Î Anos 60: Nova sensibilidade, não linear, não livresca – quântica no seu feitio descontínuo – estava sendo modelada pela TV, a moda, a publicidade, o design, o rock. Era Pop e gregária, dionisíaca e contracultural, experimentadora e sem hierarquias, enfeixando o que seria a revanche pós-moderna dos sentidos contra a inteligência modernista. O consumo desbancava a Bíblia, McLhuan abalava Marx e Dylan silenciava Eliot. Aos escritores americanos do pós-guerra, como Barth, Pynchon, Heller, Vonnegut, Brautingan, só restava não se oporem a essa sensibilidade pelo intelectualismo, mas pesquisar um estilo ou antiestilo para expor sua face apocalíptica, sua farsa terminal, engendrar uma antiforma para o absurdo sob o guarda-chuva nuclear, numa era de mutação cultural (op. cit.: 60). [ATENÇÃO: São obras ficcionais do século XX e início do século XXI chamadas de Narrativas de Acontecimento (Acontecimento Normal ― as pioneiras ―, Fantástica, de Absurdo e do Realismo-Mágico)]. Î Década de 60 (nos EUA): O romance tradicional perdera a eficácia e a credibilidade. A nova complexidade cultural e social ultrapassava seus meios de espelhar a realidade. 19 20 Î Anteriormente: Dos Passos, Hemingway, Faulkner tinham feito a glória trágica do indivíduo e do tempo esfacelados, tinham explorado os conflitos da consciência alienada a poderosas forças sociais. (...) Esses meios explorados por esses escritores agora pareciam canhestros ante um mundo informacionalmente hiperbólico (Op. cit.: 61). Î 1963: Thomas Pynchon Î incoerência grotesca mas talentosa (Romance V). Î ROMANCE V: Alguma coisa experimental e lúdica igual ao modernismo emergia, no entanto, ao modernismo, excluindo muitos dos seus dogmas. Vinha sem revelações epifânicas; descartava o privilégio do artista como guia para iluminar os porões da subjetividade; substituía a psicologia por uma sociologia meio alegórica, meio delirante; trocava a originalidade formal pela reciclagem, em paródia, dos vários gêneros; desfazia ou recompunha o enredo sem aludir a uma mítica tomada como quintessência da realidade; criava enfim sem se pretender “cultura superior” (Op. cit.: 61-62). Î A SOLUÇÃO PARA A CONSOLIDAÇÃO DO ROMANCE PÓS-MODERNISTA: A solução seria jogar esse impasse intelectual contra si mesmo. Isto é, o romance deveria se tornar uma imitação deliberada do romance, dos gêneros literários ou de qualquer outro texto apto a injetar-lhe sobrevida. Era a hora da metaficção, literatura sobre literatura, texto que expõe sua fraude e renega o ilusionismo (Op. cit.: 62). Î O BURLESCO (AUTODEVORAÇÃO CRIADORA):O burlesco (exagero cômico) vai ser o tom dominante da metaficção. Uma estética jocosa, fantasista, não-modernista, do absurdo passará por ele. Gênero menor, modo temático e estilo narrativo, o burlesco, em ação na literatura inglesa desde o século XVII, surrupiado ao francês Searson, é um dispositivo de paródia que faz rir pela incongruência entre o fundo e a forma (algo assim como transpor a Eneida com a linguagem virgiliana para o meio de uma família calabresa vivendo hoje no Brás). Para fazer rir, o burlesco convoca toda a baixaria: sexo, violência, drogas, loucura, perversão, escatologia, em outras palavras, a parte maldita com a qual o pós-modernismo, sem ilusões ante a sociedade tecnológica, desanca o projeto Iluminista em sua crença na emancipação do homem pelo conhecimento e progresso. Nessa mesma trilha, o burlesco é ainda a ponte intertextual por onde os autores pós-modernos cruzam o fosso (bem modernista) entre arte culta e arte de massa: ficção científica, romance policial, conto de fadas, pornografia, western e quadrinhos são alegremente canibalizados pelos espíritos mais requintados (Op. cit.: 62). Î METAFICÇÃO: Não é apenas uma fisiologia do escabroso e do bizarro, nem os funerais de gêneros que se esgotaram. A metaficção é um contrarromance que imita o romance. Ela quer ser uma nova epistemologia literária, um desmascaramento das convenções ficcionais mantidas intactas pelo próprio modernismo, e por aí, criando mundos verbais alternativos, ser um ataque à atualidade, na qual, segundo Borges, é total a contaminação da realidade pelo sonho (Op. cit.: 63). Î NARRATIVA PÓS-MODERNISTA: Vitimada pela entropia (volta à desordem), caotiza [CAOS] espaço, tempo e enredo. Î ENREDO PÓS-MODERNISTA: destruído por saturação (Ler Barth) // Acontecem mais coisas do que a memória pode reter ou seria necessário; ou simplesmente o descartar (ler Donald Barthelme). Î Não existe curva dramática na narrativa pósmoderna/pós-modernista; // A curva dramática inexiste e o fim não traz mensagem ética; é antes lugar para glosas. Exemplo: Em Lost in the Funhouse, Barth-Narrador propõe e rejeita vários finais. Î PERSONAGENS: Cômicos (a começar pelo nome); // São emblemas bidimensionais com rala psicologia, como se extraídos das histórias em quadrinhos; // São palhaços como nós do acaso (seus desastres não levam à compaixão mas ao riso, pois lembram, na sua inanidade, na sua estupidez, ou na sua frieza, os bonecos beckettianos, em que filósofos europeus têm lido o eclipse do sujeito. Î TÉCNICA NARRATIVA: Está voltada à incerteza, que na metaficção é endêmica (uma doença). O labirinto é também instável. Pessoa ou pronomes narrativos podem se permutar até no meio de uma frase e ficamos sem saber quem está narrando. // Perda da unidade de tom; // Carga de incerteza, que provoca resistência à leitura, representa a opacidade do mundo à interpretação, o que é obtido mediante a desestabilização de elementos antes intocados da gramática narrativa. // Constatação da narrativa pela narrativa [exemplo (início de um conto): “Percorro a ilha e eu a invento”]. Segue-se, em 55 fragmentos, uma desova, em abismo, de contos de fadas mortos pela narração, mal nascem na narrativa, centrados nos motivos da varinha e do beijo mágicos. (Ler The Magic Poker, de Robert Coover); // No conto “A frase”, de Donald Baethelme, o personagem é a própria frase que está sendo escrita sem ponto algum por oito páginas (Op. cit.: 65). Î INTERTEXTUALIDADE: Se a intertextualidade – sistemática, carnavalesca – é marca de nascença no pós-modernismo, Nabokov (escritor russo) é seu rebento mais radical. Seu fantástico Pale Fire (1962), cujo humor e inteligência metem no chinelo as Écritures, fatura Tel Quel, parodia ao mesmo tempo thriller de espionagem, estudo literário e análise filológica, até consumar-se em delirante máquina intertextual. Pois seu personagem é um poema de 999 versos escrito por John Shade possivelmente a partir de conversas com seu vizinho Kimbote. Mas Kimbote, que tenta provar sua participação na criação do poema, é um homossexual lunático que se crê o exilado e perseguido rei de Zembla, e, com isso, a narrativa nos mantém até o fim flutuando, incertos, entre dois textos e vários níveis de realidade: o objetivo, o delirante, o ficcional (Op. cit.: 66). Î O PÓS-MODERNISMO NA FICÇÃO BRASILEIRA (CARACTERÍSTICAS): • Os referentes que justificam a ordem, a vida equilibrada, as ideologias já sacralizadas, são eliminados do fio narrativo; • O Realismo (realidade objetiva) é eliminado // É eliminada a realidade objetiva em benefício de um sujeito narrador atento (técnica do olhar), em franca afinidade com seu meio social; • PÓS-MODERNISMO = desequilíbrio narrativo / antiliteratura / fantasia sem “iluminações” / problematização da percepção da experiência / problematização da percepção da própria literatura; • ANTIRREALISMO na Literatura: procura decalcar o capitalismo pós-industrial, baseado na tecnociência e na informação; / procura decalcar aleatoriamente as mensagens emitidas pelos sistemas informatizados; / o indivíduo-narrador percebe o Mundo e a História como espetáculos fragmentários, sem totalidades e irracionais; / a realidade, que circunda esse indivíduonarrador, se dissolve numa colagem de signos e simulacros cujos referentes são remotos ou se perderam. Î INDIVÍDUO-NARRADOR: • Solitário; • Surfando nas ondas do provável e do incongruente [improvável, impróprio, incompatível]. Î ANOS 60 (MOMENTO DE TRANSIÇÃO PARA O PÓS-MODERNISMO NA LITERATURA BRASILEIRA): • Nova sensibilidade não linear, descontínua (modelada pela TV, a moda, a publicidade, o design, o rock); • Pop X Gregária; • Dionisíaca X Contracultural; • Experimentalista X Sem hierarquias; • REVANCHE PÓS-MODERNA DOS SENTIDOS CONTRA A INTELIGÊNCIA MODERNISTA • A IDEOLOGIA AMERICANA DIRECIONANDO • CONSUMO DESBANCANDO A BÍBLIA • McLhuan abalando Marx • Bob Dylan silenciando T. S. Eliot Î TENDÊNCIA LITERÁRIA: • Sensibilidade (oposição ao intelectualismo); • Pesquisa de um estilo, ou antiestilo, para expor a face apocalíptica da realidade; • Engendramento de uma antiforma para o absurdo (localizado sob o teto nuclear); • Tendência literária inserida numa Era de mudanças culturais. Î ANTES DE 60 (MODERNISMO): • Exploração dos conflitos da consciência. Î DEPOIS DE 60 (PÓS-MODERNISMO): • EXPLORAÇÃO DE UM MUNDO INFORMACIONALMENTE HIPERBÓLICO; • PARECIDO COM A TENDÊNCIA MODERNISTA (EXPERIMENTAL E LÚDICA), MAS EXCLUINDO MUITO DOS SEUS DOGMAS. EXEMPLOS: • Excluindo as revelações epifânicas (Clarice Lispector e Guimarães Rosa); • Descartando o privilégio do Artista como guia para “iluminar” os porões da subjetividade; • Substituindo a psicologia por uma sociologia meio alegórica, meio delirante; • Trocando a originalidade formal pela reciclagem, em paródia dos vários gêneros; • Desfazendo e recompondo o enredo, sem aludir a um arcabouço mítico (o mítico com quintessência da realidade); • Criação sem pretensão a uma “cultura superior”; • Testamento com alegorias em que o apocalipse é um thriller à moda dos quadrinhos; • Literatura-Paródia ou Literatura de Exaustão; • Homenagem aos autores de antes; • Sacralização desses autores (principalmente, de Jorge Luis Borges): notas de pé-de-página a textos imaginários; • Ambiência niilista, desencantada; • Embate intelectual: Literatura (OBRA LITERÁRIA) X “literatura” (PARALITERATURA DE IMAGINAÇÃO); • Impasse intelectual (o intelectual-indivíduo contra o mundo intelectual circundante) // A narrativa ficcional imitando deliberadamente a narrativa ficcional, os gêneros literários ou qualquer outro texto [texto-obra ou paraliterário] apto a injetar-lhe sobrevida. (METAFICÇÃO: literatura sobre literatura / texto que expõe sua própria fraude e renega o ilusionismo). CARACTERÍSTICAS DOS ROMANCES E CONTOS PÓS-MODERNISTAS (NARRATIVAS EM PROSA) (Conferir: ROBBE-GRILLET, Alain. Por um novo romance. Ensaios sobre uma literatura do olhar nos tempos da reificação. Tradução: T. C. Netto. São Paulo: Documento, 1969.) 21 22 ¾ Procura de novas formas romanescas capazes de exprimir ou de criar novas soluções entre o homem e o universo que o envolve. ¾ Literatura = algo vivo. ¾ Obras: capazes de afrontar o mundo (recusa do passado; angústia ante o futuro) ¾ Forma romanesca: forma que gera polêmica (traz, para as linhas do romance, as questões ― complicadas ― que nem mesmo o narrador sabe como respondê-las. ¾ O escritor é aquele que não tem nada a dizer (não ter nada a dizer é colocar-se em situação de tudo a dizer). ¾ Tudo a dizer: a realidade só é verdadeira quando atualizada e descondicionada (ou seja, a realidade só se mostrará verdadeira se trouxer à luz o sentido e o valor de nossa condição histórica e social). ¾ Tudo a dizer: novos homens, novos costumes, nova sociedade, novas formas artísticas, nova época, novo século, novo milênio, etc. ¾ Romance Pós-Moderno (Modernismo e Pós-Modernismo): denúncia das formas gastas do romance tradicional; descrença dos valores já estabelecidos. ¾ Romance Pós-Moderno (Modernismo e Pós-Modernismo): proposta de nova reflexão para o surgimento de novos valores. ¾ Romance Pós-Moderno (Modernismo e Pós-Modernismo): proposta de transgressão ficcional. ¾ Romance Pós-Moderno (Modernismo e Pós-Modernismo): romance-pesquisa. ¾ Romance Pós-Moderno (Modernismo e Pós-Modernismo): tentativa de preenchimento discursivo (diferente da forma romanesca tradicional possuidora de um fio narrativo com princípio, meio e fim). ¾ Criação Ficcional Pós-Moderna (Modernismo e Pós-Modernismo): reflete a visão singular do criador (do ficcionista-criador). O criador (o ficcionista-criador) estabelece as suas próprias leis de organização discursiva. ¾ O ficcionista não está preso às convenções estéticas, está livre para transmitir o que quiser: sensações, intuições, questionamentos, etc. ¾ Linguagem ficcional pós-moderna/pós-modernista: instrumento de descoberta e de busca. ¾ Romance pós-moderno/pós-modernista: espelho de um novo tempo, busca do sentido da realidade, jogo narrativo durante a elaboração da obra e que será concluído ao término da obra. ¾ Ficcionista: inicia a obra sem um projeto antecipado, ele não sabe o que vai escrever. A obra faz-se no decorrer da escrita, submetida às questões existenciais do narrador (alter ego daquele que conhece a realidade caótica a ser apresentada). São questões ainda sem respostas (por isto, não há o fecho narrativo tradicional). UNIDADE II 23 A ESTRUTURA DA NARRATIVA 2.1 - Para a Elucidação da Narrativa Ficcional Tradicional PERSONAGEM Î Cada um dos seres humanos, sobrenaturais ou simbólicos idealizados pelo escritor, e que, como dotados de vida própria, tomam parte na ação de uma obra literária. AÇÃO Î O conjunto e o desenrolar dos diferentes acontecimentos de um drama, uma narrativa, uma película, etc. É possível a existência de várias ações simultâneas, e, igualmente, que a ação lance mão (jogue, combine) de um papel secundário no conjunto, como ocorre em determinadas novelas modernas. Os teóricos da literatura, apesar das tendências modernas, desde a Poética de Aristóteles, têm exigido a unidade de ação. Dividem ação em três partes principais: a exposição (o assentamento, o registro da questão ou situação a ser narrada), o nó (ou laço, ou enredo), parte em que a ação alcança seu ponto máximo (culminante), assim como o argumento alcança também sua máxima tensão, e, finalmente, o desenlace (conclusão) em que se resolve o conflito. AÇÃO Î É pôr em movimento personagens que se relacionam entre si. Como na vida, essas relações podem ser de amor, de amizade, de competição, de oposição. TEMPO Î As camadas temporais detectadas: tempo vital (do relógio), tempo do pensamento (os cogitos). MATÉRIA NARRADA (ENREDO) Î É a ação da narrativa, a sucessão e a transformação de fatos, vivências e situações. É também chamada de história, ou fábula, ou enunciado. RELAÇÕES ENTRE AS PERSONAGENS (Funções que exercem dentro do enredo) Î Há entre as personagens as que se sobressaem, por ser as que mais “agem” ou as que mais são focalizadas pelo narrador. São os protagonistas (heróis ou anti-heróis). As que se relacionam por oposição aos protagonistas são os antagonistas, também, geralmente, no primeiro plano dos acontecimentos. À volta dessas, um conjunto de personagens secundárias dão suporte ao desenrolar da ação. NÚCLEO DRAMÁTICO (ATENÇÃO: Não confundir com Gênero Dramático) Î É o que se narra. É o núcleo conflitivo, gerador das ações das personagens, em torno do qual se podem criar outros conflitos, confronto de forças antagônicas, ação gerando ação, em sentido contrário. Tais forças em luta, no seu interrelacionamento, vão impulsionando as mudanças das situações criadas. Ainda em relação ao núcleo dramático: em muitos casos, a trajetória existencial da personagem (do herói problemático das narrativas modernas ou do anti-herói), constitui o próprio núcleo enredo. CONSTITUIÇÃO DO NÚCLEO DO ENREDO (Romance de Aprendizagem): Î procura do autoconhecimento; Î busca da identidade perdida; Î busca da verdade do outro; Î busca da comunicação intersubjetiva; Î busca do conhecimento das regras do jogo do mundo. Às vezes, o núcleo dramático pode parecer um e, a uma leitura mais atenta, revelar-se outro. Exemplo: a narrativa ficcional Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa. Em um primeiro momento: todas as perguntas do personagem principal parecem ser feitas para responder se o diabo existe, mas, o grande enigma é a própria identidade do personagem (identidade perdida, fenômeno das narrativas da Era Moderna). Quem sou eu? É a questão básica (é a questão básica também de toda narrativa em primeira pessoa). NÚCLEO DRAMÁTICO NO ROMANTISMO Predominância dos enredos de amor. Construção da narrativa: Encontro de dois jovens, inexperientes no amor, que se apaixonam à primeira vista. Todas as situações que se sucedem ao primeiro encontro vão ser criadas pela luta obstinada do par amoroso, para realizar o seu amor. Os obstáculos a vencer são geralmente as desigualdades sociais, a autoridade paterna, um rival poderoso, o mistério da origem de um dos apaixonados, entre outros. Na conclusão, há sempre a vitória do amor ou da morte, esta sob a forma de loucura ou de entrada para um convento (formas de “morrer” para o mundo = Filosofia Idealista). NÚCLEO DRAMÁTICO NO REALISMONATURALISMO Î A ênfase dos enredos desloca-se para o coletivo. No espaço urbano, a degenerescência social, a marginalização, os aspectos mórbidos da realidade vão ser focalizados como forma de rea- 24 ção à idealização romântica. A Filosofia Materialista da estética do Realismo-Naturalismo se opõe à visão da Filosofia Idealista do Romantismo. Novos fatos, novas correntes de pensamento, novas teorias científicas, mudanças na sociedade, com o surgimento e desenvolvimento da máquina, iriam resultar em diferentes concepções do mundo e da arte. NÚCLEO DRAMÁTICO NO MODERNISMO (SÉCULO XX) Î A motivação conflitiva pode recair na personagem, mas pode ser posta no contexto social dentro da qual as personagens se situam. As relações entre o trabalho e o capital, as questões de propriedade da terra, a luta pelo poder, etc. AS SITUAÇÕES Î As situações que se criam dentro do núcleo dramático das narrativas lineares são geralmente articuladas entre as personagens principais. Por exemplo, o núcleo dramático de Iracema, de José de Alencar, é o amor proibido entre Martim e Iracema. 2.2 - Estrutura (Formal) da Narrativa/Ficção em Prosa DIVISÃO TRADICIONAL NARRATIVA DE ESTRUTURA SIMPLES (FORMA SIMPLES) 1a Observação: Não confundir com Narrativa de Acontecimento Normal, também conhecida pelo nome de Narrativa de Acontecimento Simples; 2a Observação: Narrativa de Estrutura Simples = Narrativa de Personagem (Romantismo) e Narrativa de Espaço (Realismo-Naturalismo) ¾ Apresentação; ¾ Complicação; ¾ Clímax; ¾ Solução (outros nomes: Resolução ou Epílogo). NARRATIVA FICCIONAL TRADICIONAL (PROSA) Estudo básico: Enredo: ¾ Personagem; ¾ Ação; ¾ Tempo; ¾ Espaço; ¾ Ambiente. ENREDO (Narrativa em prosa): FORMA TRADICIONAL ¾ Linear ou não; ¾ Sequência lógica ou não; ¾ Princípio, meio e fim; ¾ Abertura da obra; ¾ Construção da narrativa; ¾ A estruturação (no seu conjunto); ¾ Enfoque narrativo; ¾ Desenvolvimento da narrativa. PERSONAGENS: ¾ A relação entre si; ¾ A imagem que formam; ¾ A intriga de que participam; ¾ Os obstáculos que têm de enfrentar; ¾ O discurso das personagens. AÇÃO: ¾ Como se desenvolve; ¾ Como os personagens participam da AÇÃO. TEMPO: ¾ Normal; ¾ Lento; ¾ Acelerado; ¾ Tempo da memória. ESPAÇO: ¾ Sua limitação ou não; ¾ Regional e/ou universal; ¾ O contra-espaço. AMBIENTE: ¾ Urbano; ¾ Campestre; ¾ A relação do ambiente com a caracterização das personagens; ¾ As personagens niveladas ou não ao ambiente em que se encontram. 2.3 - Século XX: Narrativas Ficcionais (Conto e Romance) SITUAÇÕES X INOVAÇÕES AS SITUAÇÕES (SÉCULO XX) Î Surgimento da Psicanálise e da Concepção Marxista da Sociedade e da História, bem como da Filosofia do Existencialismo. Enredo centrado no personagem-narrador (narrador que enfatiza o social, levando às últimas consequências a análise psicológica, as indagações existenciais e o comportamento da sociedade em suas relações econômico-político-culturais). + Revivência do mítico, de arquétipos bíblicos, do elemento mágico, do onírico, do maravilhoso (Origens) . COMPLEXIDADE NARRATIVA (NARRATIVAS DO SÉCULO XX) 2.4 - Estrutura Modernista (e Pós-modernista) da Narrativa em Prosa (Século XX) AS INOVAÇÕES NARRATIVA DE ESTRUTURA COMPLEXA (FORMA COMPLEXA) ¾ Predominância do TEMPO DO PENSAMENTO (cogitos superpostos) ¾ Introspecção do narrador ¾ Caos narrativo Ex.: A paixão segundo GH de Clarice Lispector, que começa assim: “ - - - - - - estou procurando, estou procurando.” E termina assim: “E então adoro. - - - - - -.” Aprendizagem ou Livro dos Prazeres de Clarice Lispector: começa por uma vírgula e com letra minúscula. 2.5 - Formas em Prosa FORMAS EM PROSA (Conferir: MOISÉS, Massaud. A criação literária. 5.ed. São Paulo: Melhoramentos, 1973) Histórico: “Antes do século XVIII, quase tão somente a poesia é que interessava aos teóricos e pensadores da literatura, que entendiam por poesia a lírica, a épica e o drama. A tal ponto as formas em prosa possuíam menos cotação que os poucos estudos acerca do romance anteriores àquela centúria, via de regra tinham por objetivo subestimá-lo, considerá-lo inferior à epopeia, e mesmo à tragédia e à historiografia, ou satirizá-lo. (...) Com o Romantismo e a consequente criação do romance no sentido moderno do termo, as teorias a respeito do romance entraram a destronar a velha preocupação pela poesia épica e pelo teatro. (Conf.: MOISÉS, M. A criação literária. 5.ed. SP: Melhoramentos, 1973: 113) Etimologias: ¾ FICÇÃO: ato ou efeito de fingir; simulação, coisa imaginária (1813). Talvez adaptado do francês fiction e, este, do latim fictio, -onis, cujo radical fict é o mesmo do supino [= forma nominal do verbo] de fingĕre = modelar, criar, inventar. 25 26 ¾ CONTO (CONTAR): relatar, narrar, calcular, computar (século XIII). Do latim cǒmpǔtâre ║ conta = ato ou efeito de contar, na Segunda acepção (século XIII) ║ contista = autor de contos literários (século XX) ║ conto = relato, narração, cálculo, cômputo (século XIII). Do latim compŭtus. ¾ NOVELA: conto, romance curto sobre fatos geralmente verossímeis │ nouela (século XIV), nouella (século XIV) │ Do francês nouvelle, derivado do italiano novella ║ novelESCO (século XX) ║ novellista (1881). ¾ ROMANCE: origem: a língua dos povos romanizados │ rromãço (século XIV), rimanço (século XIV), romançii (século XV) = narrativa de feitos heroicos │ rromanço (século XIV) │; modernamente: obra de ficção, em prosa, contendo a narração das ações e dos sentimentos de personagens fictícios (século XIX). Do advérbio latino römänǐce; a variação romanço provém do latim medieval romancium. Na acepção moderna, o vocábulo sofreu a influência do inglês romance ║ romancEAR (século XVII) ║ romancEIRO (1841). Adaptação do castelhano romancero. FORMAS DA NARRATIVA EM PROSA (FICÇÃO LINEAR) ESTRUTURA SIMPLES (FORMA SIMPLES) ¾ Conto à moda tradicional (de estrutura simples). ¾ Novela (qualquer novela possui estrutura simples – a novela publicada em livro e a novela escrita para ser encenada em televisão). FORMAS DA NARRATIVA EM PROSA (FICÇÃO COMPLEXA) ESTRUTURA COMPLEXA ¾ Conto à moda tradicional (já apresentando o embrião de uma estrutura complexa, por exemplo, os contos de Machado de Assis – Realismo); ¾ Conto do Século XX (as inovações, por exemplo, os contos de Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Murilo Rubião, Roberto Drummond, Sônia Coutinho e outros); ¾ Romance (o Romance se caracteriza por sua estrutura complexa). ROMANCE NARRATIVA EM PROSA FICCIONAL (COMPLEXA) ROMANCE PSICOLÓGICO ≠ ROMANCE INTROSPECTIVO ROMANCE PSICOLÓGICO Î INTENSIDADE ¾ Toda narrativa sintagmática (linear) é psicológica (NARRATIVA DE PERSONAGEM). Conto, novela e romance são transposições, ou representações, de seres vivos para o plano da ficção / criações de uma relação psicológica com o mundo exterior); ¾ Personagem + Psicologia = ligação dinâmica (de acordo com o poder analítico do ficcionista); ¾ Por exemplo: Senhora, de José de Alencar (Romantismo). Os conflitos das personagens situam-se ao nível do relacionamento social, mas sem buscar-lhes causas profundas nem recorrer às analogias psíquicas que revelam complexidades subjacentes às opções de ordem ética ou sentimental. O romance psicológico localiza os dramas na consciência. (Massaud Moisés) ROMANCE INTROSPECTIVO Î DENSIDADE ¾ Evidencia o máximo de densidade dramática a que pode chegar a prosa de ficção (NARRATIVA DE ESPAÇO); ¾ Ergue-se ao ponto mais alto de uma curva iniciada nas novelas e nos romances lineares; ¾ À medida que decresce a intensidade, aumenta a densidade, e vice-versa; ¾ Por exemplo: Dom Casmurro, de Machado de Assis. Primeiros capítulos: adolescência dos personagens Î decorre lentamente (acompanha o demorado amadurecer dos personagens) Î INTENSIDADE. Depois, ÁPICE NARRATIVO Î “De repente, a ação põe-se a acelerar, e a intensidade cede lugar à densidade.” O romance introspectivo invade a subconsciência e a inconsciência, o que equivale a perquirir o mundo da memória, dos sonhos, dos devaneios, dos monólogos interiores, dos lapsos de linguagem, as associações involuntárias. (Massaud Moisés) Como explicar esta mudança de ação narrativa? A mudança no andamento dramático obedeceu a razões inerentes à própria fabulação [Narrativa de Es- paço]. Para o quadro social e psicológico que tinha em mira, Machado de Assis teve de criar um ritmo em tempos diferentes, pois do contrário atentaria contra a verossimilhança (tão cara aos realistas). ADOLESCÊNCIA ¾ Assinala a lenta maturação dos personagens; ¾ Constitui a época em que se plasmam as condições para a tragédia que deflagraria nos capítulos restantes, de intensidade reduzida. CÂMARA LENTA (capítulos iniciais) ¾ Proporciona a verossimilhança; ¾ Nítida impressão de crescimento duma equação psicológica fatal: o leitor visualiza o inexorável daqueles destinos, sente quão “verídica” é a narrativa. PRECIPITAÇÃO (capítulos finais) = DENSIDADE 2.6 - O Conto na Literatura do Século XX CONTO (DICIONÁRIO) Narração falada ou escrita; história ou historieta imaginadas. século XX conhecerá as obras de Pirandello, Kafka e Borges, entre outros. (...)”. (Conferir: ARAGÃO, Maria Lúcia. “Gêneros Literários”. In: SAMUEL, Rogel. Manual de Teoria Literária. 6. ed. Petrópolis: Vozes, 1992: 84-86) CONTO “Geralmente o conto é definido como sendo uma forma narrativa em prosa, de pequena extensão. É claro que não podemos reconhecer um conto só a partir do número de páginas em que se enquadra uma história. Por ser um tipo de narrativa voltada para objetivos bem determinados, a sua forma acompanhará o conjunto dos elementos específicos a esse tipo de narrativa. A chave para o entendimento do conto como gênero está na concentração de sua trama. O conto geralmente trata de uma determinada situação e não de várias, e acompanha o seu desenrolar sem pausas, nem digressões, pois o seu objetivo é levar o leitor ao desfecho, que coincide com o clímax da história, com o máximo de tensão e o mínimo de descrições. (...). O conto tradicional absorveu grande parte do folclore de todos os povos, notadamente o conto de fadas, que podemos considerar como sendo um tipo de conto com objetivo nitidamente didático. A fonte mais rica de enredos de contos populares foi oferecida pelo Oriente. O primeiro grande contista da literatura ocidental foi Bocácio que, com o seu Decamerão, presenteounos com histórias de cunho crítico sobre a sociedade de sua época. No século XVIII surge o “conto filosófico” de Voltaire e Diderot, que envolverá temas totalmente diferentes dos que vinham sendo elaborados até então, e no século XIX, na época romântica, o gênero se irá enriquecer com novos elementos, como o fantástico e o sobrenatural. Nesta linha do conto fantástico, o SITUAÇÃO E FORMAS DO CONTO BRASILEIRO DO SÉCULO XX (ATÉ MEADOS DOS ANOS 70) “O conto cumpre a seu modo o destino da ficção contemporânea. Posto entre as exigências da narração realista, os apelos da fantasia e as seduções do jogo verbal, ele tem assumido formas de surpreendente variedade. Ora é quase-documento folclórico, ora a quase-crônica da vida urbana, ora o quase-drama do cotidiano burguês, ora o quase-poema do imaginário às soltas, ora, enfim, grafia brilhante e preciosa voltada às festas da linguagem. Esse caráter plástico já desnorteou mais de um teórico da literatura ansioso por encaixar a forma-conto no interior de um quadro fixo de gêneros. Na verdade, se comparada à novela e ao romance, a narrativa curta condensa e potencia no seu espaço todas as possibilidades da ficção. E mais, o mesmo modo breve de ser compele o escritor a uma luta mais intensa com as técnicas de invenção, de sintaxe compositiva, de elocução: daí ficarem transpostas depressa as fronteiras que no conto separam o narrativo do lírico, o narrativo do dramático. Proteiforme, o conto não só consegue abraçar a temática toda do romance, como põe em jogo os princípios de composição que regem a escrita moderna em busca do texto sintético e do convívio de tons, gêneros e significados”. (Conferir: BOSI, Alfredo. O Conto Brasileiro Contemporâneo. São Paulo: Cultrix, 1981: 7) 27 28 2.7 - O Romance na Literatura do Século XX ROMANCE (DICIONÁRIO) Texto literário em prosa, mais ou menos longo, no qual se narram fatos imaginários, às vezes inspirados em histórias reais, cujo centro de interesse pode estar no relato de aventuras, no estudo de costumes ou tipos psicológicos, na crítica social, etc. ROMANCE (PONTO DE VISTA DE VÍTOR MANUEL DE AGUIAR E SILVA) “Na evolução das formas literárias, durante os últimos três séculos, avulta como fenômeno de capital magnitude o desenvolvimento e a crescente importância do romance. Alargando continuamente o domínio da sua temática, interessando-se pela psicologia, pelos conflitos sociais e políticos, ensaiando constantemente novas técnicas narrativas e estilísticas, o romance transformou-se, no decorrer dos últimos séculos, mas, sobretudo, a partir do século XIX, na mais importante e mais complexa forma de expressão literária dos tempos modernos”. (Conferir: SILVA, Vítor Manuel de Aguiar e. Teoria da Literatura. 1.ed. brasileira. São Paulo: Martins Fontes, 1976: 249) ROMANCE (PONTO DE VISTA DE ALFREDO BOSI) “A costumeira triagem por tendência em torno dos tipos romance social-regional/romance psicológico ajuda só até certo ponto o historiador literário; passado esse limite didático vê-se que, além de ser precária em si mesma (pois regionais e psicológicas são obras-primas como São Bernardo e Fogo Morto), acaba não dando conta das diferenças internas que separam os principais romancistas situados em uma mesma faixa”. (Conferir: BOSI, Alfredo. História Concisa da Literatura Brasileira. 37. ed. Rio de Janeiro: Cultrix, 1999: 390). ROMANCE (PONTO DE VISTA DE MARIA LÚCIA ARAGÃO) “O estudo do romance enquanto gênero literário apresenta dificuldades particulares, porque é um gênero que está permanentemente em evolução, principalmente em nossos dias. Os outros gêneros mais antigos, em todas as suas formas, já têm suas estruturas consolidadas, mas o romance é o mais jovem e vem recebendo e adaptando as novidades que se apresentam constantemente”. (Conferir: ARAGÃO, Maria Lúcia. “Gêneros Literários”. In: SAMUEL, Rogel. Manual de Teoria Literária. 6. ed. Petrópolis: Vozes, 1992: 86) UNIDADE III 29 LINHAS TEMÁTICAS (SÉCULO XX) 3.1 - O Social na Ficção Brasileira do Século XX “O quadro geral da sociedade brasileira dos fins do século [século XIX] vai-se transformando graças a processos de urbanização e à vinda de imigrantes europeus em levas cada vez maiores para o centrosul. Paralelamente, deslocam-se ou marginalizamse os antigos escravos em vastas áreas do país. Engrossam-se, em consequência, as fileiras da pequena classe média, da classe operária e do subproletariado. Acelera-se ao mesmo tempo o declínio da cultura canavieira no Nordeste que não pode competir, nem em capitais, nem em mão-de-obra, com a ascensão do café paulista. Um olhar, ainda que rápido, para esse conjunto mostra que deviam separar-se cada vez mais os pólos da vida pública nacional: de um lado, arranjos políticos manejados por oligarquias rurais; de outro, os novos estratos socioeconômicos que o poder oficial não representava. Do quadro emergem ideologias em conflito: o tradicionalismo agrário ajusta-se mal à mente inquieta dos centros urbanos, permeável aos influxos europeus e norte-americanos na sua faixa burguesa, e rica de fermentos radicais nas suas camadas média e operária”. (Conferir: BOSI, Alfredo. História Concisa da Literatura Brasileira. 37. ed. Rio de Janeiro: Cultrix, 1999: 304 - 305). 3.1.1 - Características da Ficção Brasileira do Século XX Temática: Social • Narrador: ressentido socialmente; • Narrador: marginalizado socialmente (narrando para classes elevadas); • Narrador: comprometido com um determinado ponto de vista crítico [pessoal X social]; • Narrador: corrosivo (estimulante, animado, provocador, cáustico); • Narrador: rebelde (narrando para classes elevadas); • Narrador (ficção para classes elevadas): benevolente, de caráter nobre, bondoso; • Narrador (ficção para classes elevadas): personagem-narrador nitidamente intelectual em que pese, por vezes, uma forma de narrar patentemente popular; • Narrativa: defensiva (homem X realidade); • Narrativa: enfoque de realidades sociais (cenas do cotidiano, cenas familiares); proporciona reflexões das diversas classes sociais; • Narrativa: matéria crítica (subentendida nas entrelinhas); invólucro crítico para a manifestação de problemas sociais; • Narrativa: levantamento dos problemas de classes e grupos marginalizados (para o deleite das classes elevadas, o leitor); • Personagem-narrador: anti-herói (reflete o homem comum em meio ao caos da realidade opressora). 3.1.2 - Alguns Escritores Representativos do Período • Mário de Andrade; • José Américo de Almeida; • Raquel de Queirós; • Gilberto Freyre; • Graciliano Ramos; • Jorge Amado; • Érico Veríssimo; • Marques Rebelo; • Cyro dos Anjos; • José Lins do Rego; • Fernando Sabino; • João Antônio; • Rubens Fonseca; • Autran Dourado. 3.1.3 - Mário de Andrade: O Peru de Natal O PERU DE NATAL Mário de Andrade O nosso primeiro Natal de família, depois da morte de meu pai acontecida cinco meses antes, foi de conseqüências decisivas para a felicidade familiar. Nós sempre fôramos familiarmente felizes, nesse sentido muito abstrato da felicidade: gente honesta, sem crimes, lar sem brigas internas nem graves dificuldades econômicas. Mas, devido principalmente à natureza cinzenta de meu pai, ser desprovido de qualquer lirismo, de uma exemplaridade incapaz, acolchoado no medíocre, sempre nos faltara aquele aproveitamento da vida, aquele gosto pelas felicidades materiais, um 30 vinho bom, uma estação de águas, aquisição de geladeira, coisas assim. Meu pai fora de um bom errado, quase dramático, o puro-sangue dos desmancha-prazeres. vida! Peru aqui em casa é prato de festa, vem toda essa parentada do diabo... — Meu filho, não fale assim... Morreu meu pai, sentimos muito, etc. Quando chegamos nas proximidades do Natal, eu já estava que não podia mais pra afastar aquela memória obstruente do morto, que parecia ter sistematizado pra sempre a obrigação de uma lembrança dolorosa em cada almoço, em cada gesto mínimo da família. Uma vez que eu sugerira à mamãe a idéia dela ir ver uma fita no cinema, o que resultou foram lágrimas. Onde se viu ir ao cinema, de luto pesado! A dor já estava sendo cultivada pelas aparências, e eu, que sempre gostara apenas regularmente de meu pai, mais por instinto de filho que por espontaneidade de amor, me via a ponto de aborrecer o bom do morto. Foi decerto por isto que me nasceu, esta sim, espontaneamente, a idéia de fazer uma das minhas chamadas “loucuras”. Essa fora aliás, e desde muito cedo, a minha esplêndida conquista contra o ambiente familiar. Desde cedinho, desde os tempos de ginásio, em que arranjava regularmente uma reprovação todos os anos; desde o beijo às escondidas, numa prima, aos dez anos, descoberto por Tia Velha, uma detestável de tia; e principalmente desde as lições que dei ou recebi, não sei, de uma criada de parentes: eu consegui no reformatório do lar e na vasta parentagem, a fama conciliatória de “louco”. “É doido, coitado!” falavam. Meus pais falavam com certa tristeza condescendente, o resto da parentagem buscando exemplo para os filhos e provavelmente com aquele prazer dos que se convencem de alguma superioridade. Não tinham doidos entre os filhos. Pois foi o que me salvou, essa fama. Fiz tudo o que a vida me apresentou e o meu ser exigia para se realizar com integridade. E me deixaram fazer tudo, porque eu era doido, coitado. Resultou disso uma existência sem complexos, de que não posso me queixar um nada. Era costume sempre, na família, a ceia de Natal. Ceia reles, já se imagina: ceia tipo meu pai, castanhas, figos, passas, depois da Missa do Galo. Empanturrados de amêndoas e nozes (quanto discutimos os três manos por causa dos quebra-nozes...), empanturrados de castanhas e monotonias, a gente se abraçava e ia pra cama. Foi lembrando isso que arrebentei com uma das minhas “loucuras”: — Bom, no Natal, quero comer peru. Houve um desses espantos que ninguém não imagina. Logo minha tia solteirona e santa, que morava conosco, advertiu que não podíamos convidar ninguém por causa do luto. — Mas quem falou de convidar ninguém! essa mania... Quando é que a gente já comeu peru em nossa — Pois falo, pronto! E descarreguei minha gelada indiferença pela nossa parentagem infinita, diz-que vinda de bandeirantes, que bem me importa! Era mesmo o momento pra desenvolver minha teoria de doido, coitado, não perdi a ocasião. Me deu de sopetão uma ternura imensa por mamãe e titia, minhas duas mães, três com minha irmã, as três mães que sempre me divinizaram a vida. Era sempre aquilo: vinha aniversário de alguém e só então faziam peru naquela casa. Peru era prato de festa: uma imundície de parentes já preparados pela tradição, invadiam a casa por causa do peru, das empadinhas e dos doces. Minhas três mães, três dias antes já não sabiam da vida senão trabalhar, trabalhar no preparo de doces e frios finíssimos de bem feitos, a parentagem devorava tudo e ainda levava embrulhinhos pros que não tinham podido vir. As minhas três mães mal podiam de exaustas. Do peru, só no enterro dos ossos, no dia seguinte, é que mamãe com titia ainda provavam num naco de perna, vago, escuro, perdido no arroz alvo. E isso mesmo era mamãe quem servia, catava tudo pro velho e pros filhos. Na verdade ninguém sabia de fato o que era peru em nossa casa, peru resto de festa. Não, não se convidava ninguém, era um peru pra nós, cinco pessoas. E havia de ser com duas farofas, a gorda com os miúdos, e a seca, douradinha, com bastante manteiga. Queria o papo recheado só com a farofa gorda, em que havíamos de ajuntar ameixa preta, nozes e um cálice de xerez, como aprendera na casa da Rose, muito minha companheira. Está claro que omiti onde aprendera a receita, mas todos desconfiaram. E ficaram logo naquele ar de incenso assoprado, se não seria tentação do Dianho aproveitar receita tão gostosa. E cerveja bem gelada, eu garantia quase gritando. É certo que com meus “gostos”, já bastante afinados fora do lar, pensei primeiro num vinho bom, completamente francês. Mas a ternura por mamãe venceu o doido, mamãe adorava cerveja. Quando acabei meus projetos, notei bem, todos estavam felicíssimos, num desejo danado de fazer aquela loucura em que eu estourara. Bem que sabiam, era loucura sim, mas todos se faziam imaginar que eu sozinho é que estava desejando muito aquilo e havia jeito fácil de empurrarem pra cima de mim a... culpa de seus desejos enormes. Sorriam se entreolhando, tímidos como pombas desgarradas, até que minha irmã resolveu o consentimento geral: — É louco mesmo!... Comprou-se o peru, fez-se o peru, etc. E depois de uma Missa do Galo bem mal rezada, se deu o nosso mais maravilhoso Natal. Fora engraçado: assim que me lembrara de que finalmente ia fazer mamãe comer peru, não fizera outra coisa aqueles dias que pensar nela, sentir ternura por ela, amar minha velhinha adorada. E meus manos também, estavam no mesmo ritmo violento de amor, todos dominados pela felicidade nova que o peru vinha imprimindo na família. De modo que, ainda disfarçando as coisas, deixei muito sossegado que mamãe cortasse todo o peito do peru. Um momento, aliás, ela parou, feito fatias um dos lados do peito da ave, não resistindo àquelas leis de economia que sempre a tinham entorpecido numa quase pobreza sem razão. — Não senhora, corte inteiro! Só eu como tudo isso! Era mentira. O amor familiar estava por tal forma incandescente em mim, que até era capaz de comer pouco, só-pra que os outros quatro comessem demais. E o diapasão dos outros era o mesmo. Aquele peru comido a sós, redescobria em cada um o que a quotidianidade abafara por completo, amor, paixão de mãe, paixão de filhos. Deus me perdoe, mas estou pensando em Jesus... Naquela casa de burgueses bem modestos, estava se realizando um milagre digno do Natal de um Deus. O peito do peru ficou inteiramente reduzido a fatias amplas. — Eu que sirvo! “É louco, mesmo” pois por que havia de servir, se sempre mamãe servira naquela casa! Entre risos, os grandes pratos cheios foram passados pra mim e principiei uma distribuição heróica, enquanto mandava meu mano servir a cerveja. Tomei conta logo de um pedaço admirável da “casca”, cheio de gordura e pus no prato. E depois vastas fatias brancas. A voz severizada de mamãe cortou o espaço angustiado com que todos aspiravam pela sua parte no peru: foros pra não chorar também, tinha dezenove anos... Diabo de família besta que via peru e chorava! coisas assim. Todos se esforçavam por sorrir, mas agora é que a alegria se tornara impossível. É que o pranto evocara por associação a imagem indesejável de meu pai morto. Meu pai, com sua figura cinzenta, vinha pra sempre estragar nosso Natal, fiquei danado. Bom, principiou-se a comer em silêncio, lutuosos, e o peru estava perfeito. A carne mansa, de um tecido muito tênue boiava fagueira entre os sabores das farofas e do presunto, de vez em quando ferida, inquietada e redesejada, pela intervenção mais violenta da ameixa preta e o estorvo petulante dos pedacinhos de noz. Mas papai sentado ali, gigantesco, incompleto, uma censura, uma chaga, uma incapacidade. E o peru, estava tão gostoso, mamãe por fim sabendo que peru era manjar mesmo digno do Jesusinho nascido. Principiou uma luta baixa entre o peru e o vulto de papai. Imaginei que gabar o peru era fortalecê-lo na luta, e, está claro, eu tomara decididamente o partido do peru. Mas os defuntos têm meios visguentos, muito hipócritas de vencer: nem bem gabei o peru que a imagem de papai cresceu vitoriosa, insuportavelmente obstruidora. — Só falta seu pai... Eu nem comia, nem podia mais gostar daquele peru perfeito, tanto que me interessava aquela luta entre os dois mortos. Cheguei a odiar papai. E nem sei que inspiração genial, de repente me tornou hipócrita e político. Naquele instante que hoje me parece decisivo da nossa família, tomei aparentemente o partido de meu pai. Fingi, triste: — É mesmo... Mas papai, que queria tanto bem a gente, que morreu de tanto trabalhar pra nós, papai lá no céu há de estar contente... (hesitei, mas resolvi não mencionar mais o peru) contente de ver nós todos reunidos em família. — Se lembre de seus manos, Juca! Quando que ela havia de imaginar, a pobre! que aquele era o prato dela, da Mãe, da minha amiga maltratada, que sabia da Rose, que sabia meus crimes, a que eu só lembrava de comunicar o que fazia sofrer! O prato ficou sublime. — Mamãe, este é o da senhora! Não! não passe não! Foi quando ela não pode mais com tanta comoção e principiou chorando. Minha tia também, logo percebendo que o novo prato sublime seria o dela, entrou no refrão das lágrimas. E minha irmã, que jamais viu lágrima sem abrir a torneirinha também, se esparramou no choro. Então principiei dizendo muitos desa- E todos principiaram muito calmos, falando de papai. A imagem dele foi diminuindo, diminuindo e virou uma estrelinha brilhante do céu. Agora todos comiam o peru com sensualidade, porque papai fora muito bom, sempre se sacrificara tanto por nós, fora um santo que “vocês, meus filhos, nunca poderão pagar o que devem a seu pai”, um santo. Papai virara santo, uma contemplação agradável, uma inestorvável estrelinha do céu. Não prejudicava mais ninguém, puro objeto de contemplação suave. O único morto ali era o peru, dominador, completamente vitorioso. Minha mãe, minha tia, nós, todos alagados de felicidade. Ia escrever «felicidade gustativa», mas não era só isso não. Era uma felicidade maiúscula, um amor 31 32 de todos, um esquecimento de outros parentescos distraidores do grande amor familiar. E foi, sei que foi aquele primeiro peru comido no recesso da família, o início de um amor novo, reacomodado, mais completo, mais rico e inventivo, mais complacente e cuidadoso de si. Nasceu de então uma felicidade familiar pra nós que, não sou exclusivista, alguns a terão assim grande, porém mais intensa que a nossa me é impossível conceber. calçadas, onde se ficava sabendo de tudo pelos passantes que iam e vinham (como era bom se debruçar e bater dois dedinhos de prosa ou fugir para dentro, se quem apontava na esquina era um maçante), de tudo se sabia sem carecer de estafeta e selo, as notícias e novidades: quem andava pastoreando quem, aquela que tinha caído na vida e agora era carne nova, estava de rapariga na Casa da Ponte, na testa de quem apontara o broto de futura e soberba galhada... Mamãe comeu tanto peru que um momento imaginei, aquilo podia lhe fazer mal. Mas logo pensei: ah, que faça! mesmo que ela morra, mas pelo menos que uma vez na vida coma peru de verdade! Mesmo nas nobres sacadas de ferro, nas janelas de ricos sobrados, podia-se ver a qualquer hora do dia, no enovelar lento do tempo, os carapinas do nada, ocupados na gratuita e absurda, prazerosa ocupação. A tamanha falta de egoísmo me transportara o nosso infinito amor... Depois vieram umas uvas leves e uns doces, que lá na minha terra levam o nome de “bem-casados”. Mas nem mesmo este nome perigoso se associou à lembrança de meu pai, que o peru já convertera em dignidade, em coisa certa, em culto puro de contemplação. Eram os carapinas do mínimo e do nada, os devoradores das horas, insaciáveis Saturnos, dizia o sapientíssimo, alambicado, precioso dr. Viriato. Quem não tem o que fazer, faz colher de pau e enfeita o cabo, vinha por sua vez o proverbial, memorioso, eterno, pantemporal noveleiro Donga Novais, uma das poucas pessoas a não se entregar inteiramente ao vício e paixão da cidade. É porque para ele a entidade metafísica do tempo não existe (como para os platônicos que, ao contrário dos hebreus, não tinham o senso da historicidade, lidavam com o puro universal), passado, presente e futuro são uma coisa só, retrucava o dr. Viriato súbito espantosamente aderindo à fiação e tecelagem dos nossos mitos. Ele que era um cientista exaltado, um agnóstico convicto, de dialético linguajar maneirista que demandava precioso raciocínio, imaginação, dicionário. Levantamos. Eram quase duas horas, todos alegres, bambeados por duas garrafas de cerveja. Todos iam deitar, dormir ou mexer na cama, pouco importa, porque é bom uma insônia feliz. O diabo é que a Rose, católica antes de ser Rose, prometera me esperar com uma champanha. Pra poder sair, menti, falei que ia a uma festa de amigo, beijei mamãe e pisquei pra ela, modo de contar onde é que ia e fazê-la sofrer seu bocado. As outras duas mulheres beijei sem piscar. E agora, Rose!... ANDRADE, Mário. In. Nós e o Natal. Rio de Janeiro: Artes Gráficas Gomes de Souza, 1964: 23-27. 3.1.4 - Autran Dourado: Os Mínimos Carapinas do Nada OS MÍNIMOS CARAPINAS DO NADA Autran Dourado (Waldomiro Freitas Autran Dourado) No Ponto, na farmácia de seu Belo, no armazém de secos e molhados de seu Bernardino, mesmo no final das tardes de conversação distinta do Banco Duas Pontes, no gabinete do nobre de alma e de gestos Vítor Macedônio (o belo varão, bem-nascido e gentilhomem), que reunia em torno de si (ali se servia do melhor conhaque francês) os potentados do café como o coronel Tote ou ilustres desocupados como seu Bê P. Lima, maledicente e boa-vida, mas de berço, enfim nas várias ágoras da cidade onde se comerciava a novidade, a imaginação, o ócio e o tédio... Nas janelas das casas terreiras de grandes e pesadas janelas de marco rústico, baixo e retangular, junto das Não que o dr. Viriato tivesse as mãos ocupadas no admirável passa-tempo (santo remédio para a ansiedade e a angústia), que demandava habilidade, precisão e paciência, a que se dedicavam aristocraticamente potentados e pingantes que só tinham de seu serem bem-nascidos. Tão auto-crítico ele era, jamais se permitiria aquela vamos dizer arte, paixão antiga de Duas Pontes. De uma certa maneira ele colaborava era na criação de nossos mitos, mesmo negando-os, racionalista que ele se dizia e era. Quando, quem inventou tão sublime vamos dizer desocupação e alívio do espírito, perguntava o dr. Viriato a seu Donga Novais, sapiência viva do nosso tempo e história, os fabulosos, inconclusos e aéreos anais. Você, Donga, é o Sócrates da nossa pólis. Não sei, dizia desapontando a gente o nosso macróbio cidadão Donga Novais: amor e ócio são maus negócios. Eu acho que deve ser invenção de índio, que enfeitava caprichosamente as suas flechas que, partidas do arco, não voltavam mais. Mas eles não estão enfeitando nada, dizia por sua vez o dr. Viriato. Os puristas, os cultores do absoluto, os escribas da idéia, dos protótipos e arquétipos ideais, os minúsculos carapinas do nada. Seu Donga ficou um tempo parado, assuntando, ideando. Não é que o senhor tem razão, dr. Viriato? Sim, dizia o médico, porque a finalidade mágica dos bisões e demais caças pintadas nas cavernas pelo homem de Cro-Magnon... Seu Donga desatou a rir, não tinha mesmo jeito aquele dr. Viriato, comia brisas com pirão de areia. Porque havia três categorias de livres oficinas que se dedicavam à nobre arte de desbastar e trabalhar a madeira com o simples canivete e um ou outro instrumento auxiliar feito as latinhas que faziam as vezes do compasso. Três, porque não se podia considerar como cultores da Idéia, do sublime e do nada, os carpinteiros e marceneiros, que se utilizavam da madeira e de instrumentos mais eficientes como o formão, o cepilho, as brocas, e tudo sabiam de sua arte, ofício e meio de vida. São os nossos sofistas, dizia o dr. Viriato, que pensavam ser possível ensinar a arete e recebiam pelo seu trabalho e tinham as mãos calosas. A primeira categoria quase se podia, se não fosse o nenhum pagamento, considerar uma corporação de operários, que faziam de sua técnica e imaginação um ofício. Se vendiam o produto, não eram bem vistos pelos autênticos carapinas do nada, os sublimes; podiam começar a receber encomendas como qualquer trabalhador, o que se considerava degradante. Não há dúvida que o elogio é uma forma sublimada de remuneração e só se remunera operário, o que nem de longe se podia dizer deles (se ofendiam) que nunca pegaram no pesado. Eles e seus ancestrais, patriarcas absolutos, sempre estiveram do lado do cabo do chicote. Eram os fabricantes de carrinhos de bois, caminhões, mobilinhas, monjolos de sofisticada feitura e perfeita serventia, usados para compor presépio. Em geral exerciam a sua ocupação ociosa em casa, se serviam de instrumentos caseiros para auxiliar o trabalho do canivete, e chegavam a utilizar outros materiais que não a madeira, como espelhinhos, pregos, folhas-de-flandres. A segunda categoria, os marceneiros da nobre arte. Era exatamente aquela, sem metáfora ou imagem, de que falou o sábio e intemporal rifoneiro Donga Novais – os que literalmente enfeitavam cabo de colher de pau. Às vezes se dava o caso de que a colher ficava tão bem-feitinha e artística, com delicado e sutil rendilhado, labiríntica barafunda, de quase absoluta nenhuma serventia, que a peça passava de mão em mão por toda a parentela, vizinhos e mesmo estranhos. Os elogios que recebiam valiam por uma paga ao artista, que acabava por consentir (queriam) que a mulher ou a filha colocasse a colher na parede, para nunca ser usada. O perigo dessa categoria era o autor, por vaidade ou outro motivo subalterno, gravar o seu nome na concha ou no cabo da colher. Como o primeiro artista da antiguidade que gravou numa obra sua a frase “Felix fecit”, inaugurando assim o culto da personalidade, tão contrário aos artistas do gótico, que nunca tinham a certeza de verem concluídas as catedrais que iniciavam, e eram anônimos, senão humílimos oficiais. O coronel Sigismundo era exemplo típico dos oficiais da segunda categoria. Era não só meio destelhado e quarta-feira, mas verdadeira alimária. Dele constavam dos anais fantásticas proezas nos seus carros sempre novos e lustrosos, se dando ao luxo e à extravagância de às vezes vestir a sua brilhosa e engalanada farda da Guarda Nacional, que não mais existia, e passear de carro pela cidade. Tudo se desculpava no coronel Sigismundo, por respeito ou medo. Ele se deu ao máximo, como nos tempos de casa-grande e senzala, de oferecer não uma colher de pau, mas palmatória de manopla por ele rendilhada, verdadeiro instrumento de suplício, ao major Américo, diretor e dono do Colégio Divino Espírito Santo, de terrível e acrescentada memória, capaz de desasnar a própria alimária. O velho major da Guarda Nacional recuou, os tempos agora eram outros. O gesto de ofertar e a utilidade do produto desqualificavam muito o coronel Sigismundo. Podiase argumentar em seu favor que uma colher de pau finamente trabalhada para remexer panela, o bom dela, após o trabalho do artista, era não servir para coisa nenhuma, puro deleite. E agora se apresenta a pura, a sublime, a extraordinária terceira categoria. Só aos seus membros, peripatética academia, se podia aplicar estes qualificativos: divinos e luminosos, aristocráticos artífices do absurdo. Eram como poetas puros, narradores perfeitos, cepilhando e polindo as vazias estruturas do nada. A terceira categoria era o último estágio para se atingir a sabedoria e a salvação. Às vezes se dava o caso de que o artista (e isso não se ensina, ao contrário do que afirmava os sofistas, dizia o Dr. Viriato, emérito teórico do vazio e do absoluto) vinha diretamente da primeira categoria, e alcançava a plenitude do nada, era um dos amados dos deuses, para os quais o grande, senão único pecado é a ignorância. Não se atingia essa categoria (era raríssimo o caso de um jovem a ela pertencer; falta à juventude ócio e paciência) senão a velhice, quando se alcançava a plenitude da arte. Vovó Tomé era um desses casos raros do artista que passa veloz e diretamente da primeira à terceira categoria. Atribuem a sua proeza e sua mestria no ofício ao sofrimento, que é uma das vias para se atingir o 33 34 absoluto e a glória. Ele os alcançou, e isso consta dos anais do vento, na última velhice, quando atingiu, de apara em apara, cada vez mas longe e mais longas e mais finas, enroladinhas que nem cabelo de preto, o etéreo e o que lhe restou na mão foi um minúsculo pedacinho de pau. Na mesa, a seu lado, no círculo de luz do cone do abajur, um monte de finíssimas aparas, nenhuma delas partida. Uma obra divina, foi o que disse o famigerado artista Bê P. Lima, quando viu o tiquinho de nada que restou. Falou quem pode, disse seu Donga Novais da sua aérea fantástica e insone janela, almenara da cidade. Um mestre e guru nirvântico, acolitou o Dr. Viriato. fazer a canivete um ou outro objeto de alguma serventia. A gratuidade mesmo de magníficos caracóis ele só viria a atingir depois da morte por enforcamento de tio Zózimo. Para atingir esse estágio, o noviço carece de muita paciência, aplicação, humildade, modéstia. É preciso enfrentar a maledicência dos ocupados, vence a delicadeza e timidez, correr o risco de se ferir. Os outros podem estar certos, e eu mesmo recuaria no tempo (não conhecia senão de crônica vovô Zé Mário, pai de vovô Tomé), se pudesse contar a história que num dia de maior solidão e sufocamento, sob a maior promessa de sigilo, me contou vovó Tomé. Mas é um caso longo não é para agora. O mais elevado ideal dos membros dessa categoria era se dedicar a tão sublime ocupação sentado numa roda, prestando atenção no desenrolar da conversa vadia e mesmo dela participando com um ou outro aforismo ou ponderação, sem despregar os olhos da mecânica ocupação. Conta-se a fantástica proeza de um dos sacerdotes do culto, o inefável seu Bê P. Lima, que começou desbastando um grande pedaço de madeira e foi indo, de caracol, sem pressa, preciso, cuidando do seu gratuito ofício, o ouvido porém atento a conversa, que esquentava, e seu Bê não queria perder nada, cujo tema principal era comportamento de certa dama de nossa cidade. E de repente se suspendeu a conversação, todos voltados para ele. Seu Bê se aproximava do fim, faltavalhe uma última e mínima apara para atingir o nada. O próprio seu Belo veio lá de dentro do laboratório e ficou à espera. Então aconteceu. Não se podia dizer se o que ficou na mão de seu Bê fosse ou não minúsculo caracol que ele soprou. Como num circo ou num concerto, após sustenida atenção, a respiração suspensa, a roda prorrompeu num coro de palmas. Seu Vítor Macedônio, que passava pela farmácia, diante do silêncio da roda, parou. Não se dedicava ao nobre ofício, mas vendo a atenção de todos, também ele aderiu à rodada de palmas. Seu Bê, me faça o favor de comparecer no banco lá pelo fim da tarde, para comemoramos o evento. Mais do que o normal, ele seria generoso com seu conhaque francês. Acredito com os outros que o móvel inicial que levou vovô Tomé à nobre ocupação de pica-pau tenha sido o sofrimento. O suicídio de tio Zózimo, a loucura mansa de tia Margarida, um desastre econômico de papai que o obrigou a vender a Fazenda do Carapina para que não lhe tomassem a casa. Mas muito antes da terrível morte do tio Zózimo ele já se ocupava em Mas antes mesmo do primeiro desses tristes acontecimentos vovô Tomé já se dedicava a manter as mãos ocupadas. Acredito em parte que foi a tentativa de manter as mãos ocupadas para vencer a opressão e a angústia que o levou a se dedicar a pequena tarefas caseiras. Porque não lhe bastava fazer um longo, caprichando e lento cigarro de palha, tarefa em que era perito. Não, não foi só isso. Havia um lado menino muito bom em vovô Tomé. Eu me lembro do entusiasmo em que ele ficava quando da chegada de um circo à nossa cidade, mesmo que fosse circo de tourada. E eu muito criança ia com ele, ficava no seu camarote. Só depois é que o abandonei para estar com meus amigos mais velhos lá no alto das arquibancadas. Me lembro (e isso mamãe e vovó Naninha confirmam) dos primeiros passos de vovô Tomé na arte de picar pau. Eu estava sentado no chão de tábuas lavadas e secas da sala, cortando umas figuras de umas revistas velhas. Eram de uma coleção de tia Margarida. Quando vovô Tomé viu e me chamou. João, deixa isso de banda, guarde as revistas onde você tirou, venha comigo, tive uma idéia. Vamos ao armazém de seu Bernardino buscar material. Ele me deu a mão e eu estava muito feliz. Não era meu aniversário quando, como fazia com os netos e afilhados, ele nos levava ao armazém de seu Bernardino para comprar um sapato de ver Deus. No armazém, depois de uma conversa breve e formal com seu Bernardino, vovô perguntou se ele podia nos arranjar um caixote vazio. Seu Bernardino se espantou com o pedido, vovô ainda não era da confraria. Quer que eu mande levar, perguntou seu Bernardino. Se me fizessem a bondade... Eu tive um ímpeto, disse pode deixar que eu levo. Seu Bernardino olhou pra mim, olhou para vovô Tomé, e disse com ficamos, seu Tomé? Mande levar, disse vovô. E o preço da peça e do carreto, por favor. Seu Bernardino disse brincando nem o preço de uma das suas fazendas bastaria. Então lhe mandarei no fim da safra, uma saca do melhor café tipo sete. Ora, seu Tomé, e eu ia acreditar?! Não é pelo caixote, é por nossa velha amizade, disse vovô Tomé. Aprendi então um dos preceitos do seu código de aristocracia rural. Eu e ele não podíamos fazer qualquer trabalho manual, a nossa posição nos vedava. O primeiro foi (como esquecer!) quando soube que o delegado seu Dionísio tinha mandado dar uma surra num preso para ele confessar. Em homem não se bate, é melhor matar, por respeito à sua condição de homem, é mais digno. Outro preceito do seu código de honra aprendi muito menino, quando uma vez, a mando de mamãe, lhe fui tomar bênção. Ele me recusou a mão, disse homem não beija mão de homem. Era um comportamento raro em Duas Pontes, cidade de velhos patriarcas. Nem bem chegamos em casa e veio o empregado com o caixote. Era um caixote de madeira branca que, pelos dizeres e pelo cheiro, se viu que tinha servido para embalar bacalhau, madeira das estranjas. Vovô tirou o paletó, desabotoou o colete, afrouxou o colarinho e começou a fazer um caminhãozinho para mim. Para quem parecia estar usando as mãos pela primeira vez, não estava mal. No final da tarde, a obra estava pronta. Tinha ficado um tanto rústica, mas eu não disse nada a vovô Tomé, para não atrapalhar a sua satisfação. No outro dia dei com vovô Tomé aparando pachorrentamente um pedaço de pau. Quê que o senhor está fazendo, perguntei. Uma colher de pau para Naninha, ela me pediu, disse ele meio envergonhado, talvez pela sua utilidade doméstica. O senhor parece que não está gostando, não é, perguntei. Para lhe ser franco, não, disse vovô. O que gostaria de fazer, um monjolinho, indaguei. Não, gostaria de fazer nada, disse ele. Nada, à toa? Disse eu meio desapontado. Não, fazendo absolutamente nada, quer dizer, ir aparando vagarosamente a madeira até não restar mais nada. Assim feito seu Bê, perguntei. Vovô riu, achava muita graça nas bestagens de seu Bê P. Lima, nas histórias obscenas que ele contava, quando não tinha menino por perto, na presença de menino e de mulher ele fechava a cara, metia a viola no saco, se dava ao respeito. Bê é um artista do nada, por isso é um homem feliz, disse. E vovô Tomé foi ficando um perito na arte dos caracóis. Demorava muito o aprendizado, ele porém não tinha pressa. Pra quê? dizia, não falta matéria-prima neste mundo. E brincando, haja povo na terra para desbastar a floresta amazônica. Às vezes fico imaginando o povo todo do mundo picando pauzinho. Seria a paz e a união dos homens. Eu tinha um certo medo de que vovô enjoasse do gratuito ofício e virasse um teórico do não fazer nada, abso- lutamente nada. Seu Bê, por exemplo, não tinha dessas cogitações, apenas ia aparando as suas fitas e caracóis. Vovô não tinha a pachorra e a tranqüilidade de seu Bê. Era exigente, ia ao armazém de seu Bernardino escolher as melhores madeiras, havia uma certa qualidade de pinho que era em si uma beleza. A madeira não podia ter olhos nem veios muito acentuados, nem mistura de tons. Quanto mais lisas e uniformes, melhor. Quem tem pressa não faz nada, dizia ela já agora conceituoso. Ele tinha a sua poética, a diferença entre ele e seu Bê é que seu Bê não tinha poética nenhuma, era um puro artista do nada. Com o passar do tempo, vovô Tomé viu que se aprende até certo ponto, depois é desaprender de tal maneira que cada dia se tenha diante de si o puro nada. E os anos passaram e eu me afastei de vovô Tomé. Fui para Belo Horizonte, onde fiz o meu curso superior sustentado por ele. É com remorso que me lembro de que lhe escrevi apenas umas minguadas cartas. Em nenhuma delas perguntei como ele ia na sua velha arte. Fiquei sabendo por uma carta de vovó Naninha que ele tinha morrido. Voltei imediatamente a Duas Pontes. Vovó Naninha disse que ele morrera de pé, feito queria, sem curtir leito de doente, à grande mesa da sala de jantar, tirando um enorme caracol. Tinha encontrado o seu nada. Vovó Naninha me deu o seu canivete preferido. Não sei o que fazer com ele, é de outra maneira que procuro o meu nada. AUTRAN DOURADO. Os Cem Melhores Contos Brasileiros do Século. Rio de Janeiro: Objetiva, 2000: 510 - 515. 3.1.5 - João Antônio: Carioca da Gema CARIOCA DA GEMA João Antônio Carioca, carioca da gema seria aquele que sabe rir de si mesmo. Também por isso, aparenta ser o mais desinibido e alegre dos brasileiros. Que, sabendo rir de si e de um tudo, é homem capaz de se sentar ao meio-fio e chorar diante de uma tragédia. O resto é carimbo. Minha memória não me permite esquecer. O tio mais alto, o meu tio-avô Rubens, mulherengo de tope, bigode frajola, carioca, pobre, porém caprichoso nas roupas, empaletozado como na época, empertigado, namorador impenitente e alegre e, pioneiro, me ensinar nos bondes a olhar as pernas nuas das mulheres e, após, lhes oferecer o lugar. Que havia saias e pernas nuas nos meus tempos de menino. 35 36 Folgado, finório, malandreco, vive de férias. Não pode ver mulher bonita, perdulário, superficial e festivo até as vísceras. Adjetivação vazia... E só ideia genérica, balela, não passa de carimbo. Gosto de lembrar aos sabidos, perdedores de tempo e que jogam conversa fora, que o lugar mais alegre do Rio é a favela. E onde mais se canta no Rio. E, aí, o carioca é desconcertante. Dos favelados nasce e se organiza, como um milagre, um dos maiores espetáculos de festa popular do mundo, o Carnaval. O carimbo pretensioso e generalizador se esquece de que o carioca não é apenas o homem da Zona Sul badalada — de Copacabana ao Leblon. Setenta e cinco por cento da população carioca moram na Zona Centro e Norte, no Rio esquecido. E lá, sim, o Rio fica mais Rio, a partir das caras não cosmopolitas. E se o carioca coubesse no carimbo que lhe imputam não se teriam produzido obras pungentes, inovadoras e universais como a de Noel Rosa, a de Geraldo Pereira, a de Nelson Rodrigues, a de Nelson Cavaquinho... Muito do sorriso carioca é picardia fina, modo atilado de se driblarem os percalços. Tenho para mim que no Rio as ruas são faculdades; os botequins, universidade. Algumas frases apanhadas lá nessas bigornas da vida, em situações diversas, como aparentes tipos-a-esmo: “Está ruim pra malandro” - o advérbio até está oculto. “Quem tem olho grande não entra na China”. “A galinha come é com o bico no chão”. “Negócio é o seguinte: dezenove não é vinte”. “Se ginga fosse malandragem, pato não acabava na panela”. “Não leve uma raposa a um galinheiro”. “Se a farinha é pouca o meu pirão primeiro”. “Há duas coisas em que não se pode confiar. Quando alguém diz “deixe comigo” ou “Este cachorro não morde”. “Amigo, bebendo cachaça, não faço barulho de uísque”. “Da fruta de que você gosta eu como até o caroço”. “A vida é do contra: você vai e ela fica”. Como filosofia de vida ou não, vivendo numa cidade em que o excesso de beleza é uma orgia, convivendo com grandezas e mazelas, o carioca da gema é um dos poucos tipos nacionais para quem ninguém é gaúcho, paraibano, amazonense ou paulista. Ele entende que está tratando com brasileiros. JOÃO ANTÔNIO. Ô, Copacabana. São Paulo: Cosac & Naify, 2001: 142 - 143. 3.2 - O Mito/Origem na Ficção Brasileira do Século XX Século XX: Uma Nova Sensibilidade na Arte Literária Brasileira Mito (DICIONÁRIO): MITO (Do grego mythos = fábula, pelo latim mythu) ♦ Narrativa dos tempos fabulosos ou heroicos; ♦ Narrativa de significação simbólica, geralmente ligada à cosmogonia (Ciência que trata da origem e evolução do Universo), e referente a deuses encarnadores das forças da natureza e/ou de aspectos da condição humana; ♦ Representação de fatos ou personagens reais, exagerada pela imaginação popular, pela tradição, etc; ♦ Pessoa ou fato assim representado ou concebido. Por ex.: Para muitos, o mito do Super-Homem do cinema americano representa o próprio homem americano, dos Estados Unidos da América do Norte; ♦ Representação (passada ou futura) de um estágio ideal da humanidade. Por ex.: o mito da Idade do Ouro; ♦ Coisa inacreditável, fantasiosa, irreal; utopia. Por ex.: A perfeição absoluta é um mito; ♦ Na Filosofia: Forma de pensamento oposta à do pensamento lógico e científico; ♦ Mito da Caverna (Filosofia): Aquele com que Platão, no começo do livro sétimo da República, figura o processo pelo qual a alma passa da ignorância à verdade; ♦ Ontologia Sagrada: Ontologia: Parte da filosofia que trata do ser enquanto ser, isto é, do ser concebido como tendo uma natureza comum que é inerente a todos os seres e a cada um dos seres. Sagrada: Que se sagrou ou que recebeu a consagração. MITO (Etimologia latim mÿthos ou mÿthus; grego mûthos) ¾ Fábula; // História // Relato; // Discurso; // Palavra ¾ Relato fantástico de tradição oral, geralmente protagonizado por seres que encarnam, sob forma simbólica, as forças da natureza e os aspectos gerais da condição humana (por exemplo, as lendas dos índios do Xingu); ¾ Narrativa acerca dos tempos heroicos que, geralmente, guarda um fundo de verdade (por exemplo, o mito dos argonautas e o velocino de ouro); ¾ Relato simbólico, passado de geração em geração dentro de um grupo, que narra e explica a origem de determinado fenômeno, ser vivo, acidente geográfico, instituição, costume social, etc. (por exemplo, o mito da criação do mundo); ¾ Representação de fatos e/ou personagens históricos, frequentemente deformados, amplificados através do imaginário coletivo e de longas tradições literárias orais ou escritas (por exemplo, o mito em torno de Tiradentes); ¾ Exposição alegórica de uma ideia qualquer, de uma doutrina ou teoria filosófica; // fábula; // alegoria (p. ex., o mito da utopia, de More; o mito da caverna, de Platão); ¾ Construção mental de algo idealizado, sem comprovação prática; // ideia; // estereótipo (por exemplo, o mito do detetive infalível; o mito do bom selvagem); ¾ Representação idealizada do estado da humanidade, no passado ou no futuro ou moral questionável, porém decisivo para o comportamento dos grupos humanos em determinada época (por exemplo, o mito da virgindade; o mito do negro de alma branca; e outros); ¾ Afirmação fantasiosa, inverídica, que é disseminada com fins de dominação, difamatórios, propagandísticos, como guerra psicológica ou ideológica (por exemplo, o mito do comunista que come criancinhas; o mito da inferioridade mental dos negros); ¾ Afirmação ou narrativa inverídica, inventada, que é sintoma de distúrbio mental; // fabulação (por ex., sua ideia de que está sendo perseguido não passa de um mito). Origens “Recordando o fato cultural que é o divórcio arte-sociedade, terá que perguntar-se que características definem a nova sensibilidade que conduziu à experimentação de novas formas, contribuindo estas, por sua vez, para acelerar o processo de desentendimento e distanciamento entre a arte e a sociedade. O século XIX consagra o poder político-econômico de uma burguesia convencida da legitimidade histórica de seus interesses e privilégios, exalta a filosofia utilitarista e presta culto à Razão e à Ciência. Ninguém põe em dúvida as excelências de um progresso tecnológico e científico que, como movimento contínuo, nunca terá fim e conduzirá os povos a situações de felicidade generalizada. As violentas convulsões sociais do século, por seu turno, quando não são espontâneas revoltas contra condições de vida insuportáveis ― que a burguesia, em sua sã consciência, considerava naturais ― correspondiam a uma filosofia internacionalista de maior alcance, mas baseada, em última instância, numa confiança sem limites na racionalidade e progresso da história. É impossível compreender a atitude ambígua, quando não abertamente hostil, ante os movimentos revolucionários do seu tempo, de muitos artistas e escritores que experimentaram o embate com a estreiteza mental da burguesia, vendo apenas em tais movimentos: a) uma nova versão de antigos comunitaristas de fé cristã, num momento em que a Igreja era a inimiga declarada das “luzes” do século; b) uma desordem social, uma “barbárie” que, no fim de contas, alterava os mecanismos de um processo histórico-racional na vida de níveis de civilização cada vez mais elevados (...). Mas nem todas as vozes entoam a mesma melodia do século. Houve quem duvidasse de que o homem pudesse controlar seu destino ou ― o que vinha a dar no mesmo ― de que a realidade fosse suceptível de um conhecimento e de um controle objetivos. Perante o sonho cientificista do seu tempo, os poetas “malditos” concebem a vida como mistério e o homem cindido entre os anelos de uma beleza, felicidade e perfeição inacessíveis e a descida aos infernos da existência e da consciência. A arte, então, mais que reflexo da “realidade” exterior deverá sê-lo dessa outra realidade, “interior” e mais profunda. Mais do que um retrato: um cântico e uma reflexão ― um poema. (...) De qualquer modo, a literatura do século seguinte viria a considerá-los como autênticos precursores. E de fato, no que é essencial, a literatura contemporânea não perfilha basicamente outros temas senão os da oposição entre inteligência e realidade, verdade e instinto, ciência e vida, reassumindo ante os excessos do otimismo racionalista o velho tema de meditação que Kierkegaard propusera: o da existência dos homens, entendidos não como abstrações, mas como seres reais de carne e osso, que, na expressão característica de Camus, “morrem e não são felizes”. (Conferir: FRONTIN, José Luis Gimenez. Movimentos Literários de Vanguarda. Tradução de Álvaro Salema e Irineu Garcia. Rio de Janeiro: Salvat Editora do Brasil, 1979: 34 - 36) 37 38 Evolução “Pelo início do século [século XX], em plena partilha do saque colonial e entre exaltações nacionalistas, atritos na conquista dos mercados internacionais e na obtenção de matérias-primas, sonhos imperiais e embates com os movimentos sindicais crescentes da classe operária, surge um grupo de homens de ciência que começa a desvendar facetas até então insuspeitadas (pela ciência) da condição humana. Em 1859 Josef Breuer e Sigmund Freud publicaram Estudo sobre a histeria, primeira pedra do que virá a constituir mais tarde a nova ciência psicanalítica, consagrada por Freud com suas análises de interpretação dos sonhos, da sexualidade e da psicopatologia da vida quotidiana, publicadas entre 1900 e 1905. No entanto, foram as artes plásticas as primeiras a ostentar e a reinvindicar um “novo olhar” para se atingir a “verdadeira essência de uma realidade caótica nas suas manifestações aparentes e externas, levando atrás de si toda uma série de escritores que comungavam dos mesmos princípios estéticos. O cubismo nasce oficialmente em 1906 e o futurismo publica seu primeiro manifesto em 1909. Por seu lado, o movimento expressionista (...) já faz sentir sua presença na Alemanha antes da eclosão da Primeira Guerra Mundial. E na França é publicada, em 1913, a primeira obra surrealista, A. O. Barnabaoth, de Valéry Larbaud. O absurdo dos longos quatro anos da Primeira Guerra Mundial marcou profundamente toda uma geração de escritores e artistas ― mas em sentido diferente do que se manifestou entre seus demais contemporâneos. (...). Contra a crença numa nova ordem e na impossibilidade de nova conflagração internacional ― que só os marxistas não compartilhavam ― os escritores de vanguarda propõem uma meditação inquietante: a fé perdida, a personalidade do homem dissolvida; e é urgente redescobrir a totalidade de ser, os mundos interiores, ao mesmo tempo que são revalorizadas a ação e a aventura individuais. Nesta panorâmica, até o pensamento cristão é convulsionado e se converte em trágico. Os anos imediatamente posteriores à guerra de 1914-18 são os do florescimento da literatura de avant-garde, dos vanguardismos em sentido estrito. Entre todos os “ismos”, porém, há um que propõe algo mais do que uma re-ordenação da realidade, mais do que uma mera revolução formal: o surrealismo. Este não se apresenta apenas como um “novo olhar” com que o homem se possa reconhecer a si mesmo na sua totalidade, mas também como sistema de vida, como estilo de vida, como vida, afinal. É este o “ismo” de maior alcance entre os seus contemporâneos e suas inovações vão fazer-se sentir com maior profundidade em todas as literaturas. Integrados em militâncias vanguardistas ou escrevendo fora delas, como isolados, os escritores dessa época reconhecem-se nos “malditos” de épocas anteriores, testemunham o drama do homem do seu tempo e lançam-se no experimentalismo de novas técnicas, absolutamente necessárias à expressão de sua sensibilidade e de seu pensamento”. (Conferir: FRONTIN, José Luis Gimenez. Movimentos Literários de Vanguarda. Tradução de Álvaro Salema e Irineu Garcia. Rio de Janeiro: Salvat Editora do Brasil, 1979: 36 - 40) 3.2.1 - Características da Ficção Brasileira da Primeira Metade do Século XX Temática: Mito e Origem • 1o momento (Ficção: Modernismo Brasileiro). Narrador: nova sensibilidade estético-literária (primeiros anos a partir de 1922); • Ruptura com os códigos literários; • Conjunto de experiências de linguagem; • Inovações formais; • Novos ideais estético-literários; • Literatura em crise; • Literatura extravagante; • Literatura-Nova; • Revisão dos valores estéticos nacionais (os quais continuavam imperando na literatura); • Primitivismo (em alguns textos): as raízes brasileiras (raízes negras e indígenas) exigindo acolhimento estético-ficcional; • Na fase intermediária do período, o narrador concebendo a vida como mistério, início, ponto de partida para algo diferente do até então conhecido (institucionalizado); • Narrativa: propensa a captar a realidade interior do homem em confronto com a realidade exterior de um mundo desordenado. 3.2.2 - Alguns Escritores Representativos do Período (Fase Intermediária do Modernismo para o Pós-Modernismo) • Graciliano Ramos; • Josué Montello; • Jorge Amado; • Guimarães Rosa; • Clarice Lispector; • Osman Lins; • Lygia Fagundes Telles. 3.2.3 - Osman Lins: A Partida A PARTIDA Osman Lins Hoje, revendo minhas atitudes quando vim embora, reconheço que mudei bastante. Verifico também que estava aflito e que havia um fundo de mágoa ou de- sespero em minha impaciência. Eu queria deixar minha casa, minha avó e seus cuidados. Estava farto de chegar a horas certas, de ouvir reclamações; de ser vigiado, contemplado, querido. Sim, também a afeição de minha avó incomodava-me. Era quase palpável, quase como um objeto, uma túnica, um paletó justo que eu não pudesse despir. Sentei-me na cama, as têmporas batendo, o coração inchado, retendo uma alegria dolorosa, que mais parecia um anúncio de morte. As horas passavam, cantavam grilos, minha avó tossia e voltava-se no leito, as molas duras rangiam ao peso de seu corpo. A tosse passou, emudeceram as molas; ficaram só os grilos e os relógios. Deitei-me. Ela vivia a comprar-me remédios, a censurar minha falta de modos, a olhar-me, a repetir conselhos que eu já sabia de cor. Era boa demais, intoleravelmente boa e amorosa e justa. Passava de meia-noite quando a velha cama gemeu: minha avó levantava-se. Abriu de leve a porta de seu quarto, sempre de leve entrou no meu, veio chegando e ficou de pé junto a mim. Com que finalidade? — perguntava eu. Cobrir-me ainda? Repetir-me conselhos? Ouvi-a então soluçar e quase fui sacudido por um acesso de raiva. Ela estava olhando para mim e chorando como se eu fosse um cadáver — pensei. Mas eu não me parecia em nada com um morto, senão no estar deitado. Estava vivo, bem vivo, não ia morrer. Sentia-me a ponto de gritar. Que me deixasse em paz e fosse chorar longe, na sala, na cozinha, no quintal, mas longe de mim. Eu não estava morto. Na véspera da viagem, enquanto eu a ajudava a arrumar as coisas na maleta, pensava que no dia seguinte estaria livre e imaginava o amplo mundo no qual iria desafogar-me: passeios, domingos sem missa, trabalho em vez de livros, mulheres nas praias, caras novas. Como tudo era fascinante! Que viesse logo. Que as horas corressem e eu me encontrasse imediatamente na posse de todos esses bens que me aguardavam. Que as horas voassem, voassem! Percebi que minha avó não me olhava. A princípio, achei inexplicável ela fizesse isso, pois costumava fitar-me, longamente, com uma ternura que incomodava. Tive raiva do que me parecia um capricho e, como represália, fui para a cama. Deixei a luz acesa. Sentia não sei que prazer em contar as vigas do teto, em olhar para a lâmpada. Desejava que nenhuma dessas coisas me afetasse e irritava-me por começar a entender que não conseguiria afastar-me delas sem emoção. Minha avó fechara a maleta e agora se movia, devagar, calada, fiel ao seu hábito de fazer arrumações tardias. A quietude da casa parecia triste e ficava mais nítida com os poucos ruídos aos quais me fixava: manso arrastar de chinelos, cuidadoso abrir e lento fechar de gavetas, o tique-taque do relógio, tilintar de talheres, de xícaras. Por fim, ela veio ao meu quarto, curvou-se: — Acordado? Apanhou o lençol e ia cobrir-me (gostava disto, ainda hoje o faz quando a visito); mas pretextei calor, beijei sua mão enrugada e, antes que ela saísse, deilhe as costas. Não consegui dormir. Continuava preso a outros rumores. E quando estes se esvaíam, indistintas imagens me acossavam. Edifícios imensos, opressivos, barulho de trens, luzes, tudo a afligir-me, persistente, desagradável — imagens de febre. Afinal, ela beijou-me a fronte e se afastou, abafando os soluços. Eu crispei as mãos nas grades de ferro da cama, sobre as quais apoiei a testa ardente. E adormeci. Acordei pela madrugada. A princípio com tranqüilidade, e logo com obstinação, quis novamente dormir. Inútil, o sono esgotara-se. Com precaução, acendi um fósforo: passava das três. Restavam-me, portanto, menos de duas horas, pois o trem chegaria às cinco. Veio-me então o desejo de não passar nem uma hora mais naquela casa. Partir, sem dizer nada, deixar quanto antes minhas cadeias de disciplina e de amor. Com receio de fazer barulho, dirigi-me à cozinha, lavei o rosto, os dentes, penteei-me e, voltando ao meu quarto, vesti-me. Calcei os sapatos, sentei-me um instante à beira da cama. Minha avó continuava dormindo. Deveria fugir ou falar com ela? Ora, algumas palavras... Que me custava acordá-la, dizer-lhe adeus? Ela estava encolhida, pequenina, envolta numa coberta escura. Toquei-lhe no ombro, ela se moveu, descobriu-se. Quis levantar-se e eu procurei detê-la. Não era preciso, eu tomaria um café na estação. Esquecera de falar com um colega e, se fosse esperar, talvez não houvesse mais tempo. Ainda assim, levantou-se. Ralhava comigo por não tê-la despertado antes, acusavase de ter dormido muito. Tentava sorrir. Não sei por que motivo, retardei ainda a partida. Andei pela casa, cabisbaixo, à procura de objetos imaginários enquanto ela me seguia, abrigada em sua coberta. Eu sabia que desejava beijar-me, prenderse a mim, e à simples idéia desses gestos, estremeci. Como seria se, na hora do adeus, ela chorasse? 39 40 Enfim, beijei sua mão, bati-lhe de leve na cabeça. Creio mesmo que lhe surpreendi um gesto de aproximação, decerto na esperança de um abraço final. Esquivei-me, apanhei a maleta e, ao fazê-lo, lancei um rápido olhar para a mesa (cuidadosamente posta para dois), com a humilde louça dos grandes dias e a velha toalha branca, bordada, que só se usava em nossos aniversários. LINS, Osman. Os cem melhores contos brasileiros do século. Rio de Janeiro, Objetiva, 2000: 190-191. — Não, não passei nada, essa tapeçaria não agüenta a mais leve escova, o senhor não vê? Acho que é a poeira que está sustentando o tecido acrescentou, tirando novamente o grampo da cabeça. Rodou-o entre os dedos com ar pensativo. Teve um muxoxo: — Foi um desconhecido que trouxe, precisava muito de dinheiro. Eu disse que o pano estava por demais estragado, que era difícil encontrar um comprador, mas ele insistiu tanto... Preguei aí na parede e aí ficou. Mas já faz anos isso. E o tal moço nunca mais me apareceu. — Extraordinário... 3.2.4 - Lygia Fagundes Telles: A Caçada A CAÇADA Lygia Fagundes Telles A loja de antiguidades tinha o cheiro de uma arca de sacristia com seus anos embolorados e livros comidos de traça. Com as pontas dos dedos, o homem tocou numa pilha de quadros. Uma mariposa levantou vôo e foi chocar-se contra uma imagem de mãos decepadas. — Bonita imagem — disse ele. A velha tirou um grampo do coque, e limpou a unha do polegar. Tornou a enfiar o grampo no cabelo. — É um São Francisco. Ele então voltou-se lentamente para a tapeçaria que tomava toda a parede no fundo da loja. Aproximou-se mais. A velha aproximou-se também. — Já vi que o senhor se interessa mesmo é por isso... Pena que esteja nesse estado. O homem estendeu a mão até a tapeçaria, mas não chegou a tocá-la. — Parece que hoje está mais nítida... — Nítida? — repetiu a velha, pondo os óculos. Deslizou a mão pela superfície puída. — Nítida, como? — As cores estão mais vivas. A senhora passou alguma coisa nela? A velha encarou-o. E baixou o olhar para a imagem de mãos decepadas. O homem estava tão pálido e perplexo quanto a imagem. — Não passei nada, imagine... Por que o senhor pergunta? — Notei uma diferença. A velha não sabia agora se o homem se referia à tapeçaria ou ao caso que acabara de lhe contar. Encolheu os ombros. Voltou a limpar as unhas com o grampo. — Eu poderia vendê-la, mas quero ser franca, acho que não vale mesmo a pena. Na hora que se despregar, é capaz de cair em pedaços. O homem acendeu um cigarro. Sua mão tremia. Em que tempo, meu Deus! em que tempo teria assistido a essa mesma cena. E onde?... Era uma caçada. No primeiro plano, estava o caçador de arco retesado, apontando para uma touceira espessa. Num plano mais profundo, o segundo caçador espreitava por entre as árvores do bosque, mas esta era apenas uma vaga silhueta, cujo rosto se reduzira a um esmaecido contorno. Poderoso, absoluto era o primeiro caçador, a barba violenta como um bolo de serpentes, os músculos tensos, à espera de que a caça levantasse para desferir-lhe a seta. O homem respirava com esforço. Vagou o olhar pela tapeçaria que tinha a cor esverdeada de um céu de tempestade. Envenenando o tom verde-musgo do tecido, destacavam-se manchas de um negro-violáceo e que pareciam escorrer da folhagem, deslizar pelas botas do caçador e espalhar-se no chão como um líquido maligno. A touceira na qual a caça estava escondida também tinha as mesmas manchas e que tanto podiam fazer parte do desenho como ser simples efeito do tempo devorando o pano. — Parece que hoje tudo está mais próximo — disse o homem em voz baixa. — É como se... Mas não está diferente? A velha firmou mais o olhar. Tirou os óculos e voltou a pô-los. — Não vejo diferença nenhuma. — Ontem não se podia ver se ele tinha ou não disparado a seta... — Que seta? O senhor está vendo alguma seta? — Aquele pontinho ali no arco... A velha suspirou. — Mas esse não é um buraco de traça? Olha aí, a parede já está aparecendo, essas traças dão cabo de tudo — lamentou, disfarçando um bocejo. Afastou-se sem ruído, com suas chinelas de lã. Esboçou um gesto distraído: — Fique aí à vontade, vou fazer meu chá. O homem deixou cair o cigarro. Amassou-o devagarinho na sola do sapato. Apertou os maxilares numa contração dolorosa. Conhecia esse bosque, esse caçador, esse céu — conhecia tudo tão bem, mas tão bem! Quase sentia nas narinas o perfume dos eucaliptos, quase sentia morder-lhe a pele o frio úmido da madrugada, ah, essa madrugada! Quando? Percorrera aquela mesma vereda aspirara aquele mesmo vapor que baixava denso do céu verde... Ou subia do chão? O caçador de barba encaracolada parecia sorrir perversamente embuçado. Teria sido esse caçador? Ou o companheiro lá adiante, o homem sem cara espiando por entre as árvores? Uma personagem de tapeçaria. Mas qual? Fixou a touceira onde a caça estava escondida. Só folhas, só silêncio e folhas empastadas na sombra. Mas, detrás das folhas, através das manchas pressentia o vulto arquejante da caça. Compadeceuse daquele ser em pânico, à espera de uma oportunidade para prosseguir fugindo. Tão próxima a morte! O mais leve movimento que fizesse, e a seta... A velha não a distinguira, ninguém poderia percebê-la, reduzida como estava a um pontinho carcomido, mais pálido do que um grão de pó em suspensão no arco. Enxugando o suor das mãos, o homem recuou alguns passos. Vinha-lhe agora uma certa paz, agora que sabia ter feito parte da caçada. Mas essa era uma paz sem vida, impregnada dos mesmos coágulos traiçoeiros da folhagem. Cerrou os olhos. E se tivesse sido o pintor que fez o quadro? Quase todas as antigas tapeçarias eram reproduções de quadros, pois não eram? Pintara o quadro original e por isso podia reproduzir, de olhos fechados, toda a cena nas suas minúcias: o contorno das árvores, o céu sombrio, o caçador de barba esgrouvinhada, só músculos e nervos apontando para a touceira... “Mas se detesto caçadas! Por que tenho que estar aí dentro?” cravado no cenário! E por que tudo parecia mais nítido do que na véspera, por que as cores estavam mais fortes apesar da penumbra? Por que o fascínio que se desprendia da paisagem vinha agora assim vigoroso, rejuvenescido?... Saiu de cabeça baixa, as mãos cerradas no fundo dos bolsos. Parou meio ofegante na esquina. Sentiu o corpo moído, as pálpebras pesadas. E se fosse dormir? Mas sabia que não poderia dormir, desde já sentia a insônia a segui-lo na mesma marcação da sua sombra. Levantou a gola do paletó. Era real esse frio? Ou a lembrança do frio da tapeçaria? “Que loucura!... E não estou louco”, concluiu num sorriso desamparado. Seria uma solução fácil. “Mas não estou louco”. Vagou pelas ruas, entrou num cinema, saiu em seguida e quando deu acordo de si, estava diante da loja de antiguidades, o nariz achatado na vitrina, tentando vislumbrar a tapeçaria lá no fundo. Quando chegou em casa, atirou-se de bruços na cama e ficou de olhos escancarados, fundidos na escuridão. A voz tremida da velha parecia vir de dentro do travesseiro, uma voz sem corpo, metida em chinelas de lã: “Que seta? Não estou vendo nenhuma seta...” Misturando-se à voz, veio vindo o murmurejo das traças em meio de risadinhas. O algodão abafava as risadas que se entrelaçaram numa rede esverdinhada, compacta, apertando-se num tecido com manchas que escorreram até o limite da tarja. Viu-se enredado nos fios e quis fugir, mas a tarja o aprisionou nos seus braços. No fundo, lá no fundo do fosso, podia distinguir as serpentes enleadas num nó verde-negro. Apalpou o queixo. “Sou o caçador?” Mas ao invés da barba encontrou a viscosidade do sangue. Acordou com o próprio grito que se estendeu dentro da madrugada. Enxugou o rosto molhado de suor. Ah, aquele calor e aquele frio! Enrolou-se nos lençóis. E se fosse o artesão que trabalhou na tapeçaria? Podia revê-la, tão nítida, tão próxima que, se estendesse a mão, despertaria a, folhagem. Fechou os punhos. Haveria de destruí-la, não era verdade que além daquele trapo detestável havia alguma coisa mais, tudo não passava de um retângulo de pano sustentado pela poeira. Bastava soprá-la, soprá-la! Apertou o lenço contra a boca. A náusea. Ah, se pudesse explicar toda essa familiaridade medonha, se pudesse ao menos... E se fosse um simples espectador casual, desses que olham e passam? Não era uma hipótese? Podia ainda ter visto o quadro no original, a caçada não passava de uma ficção. “Antes do aproveitamento da tapeçaria...” — murmurou, enxugando os vãos dos dedos no lenço. — Já não estranho mais nada, moço. Pode entrar, pode entrar, o senhor conhece o caminho... Atirou a cabeça para trás como se o puxassem pelos cabelos, não, não ficara do lado de fora, mas lá dentro, en- “Conheço o caminho” — murmurou, seguindo lívido por entre os móveis. Parou. Dilatou as narinas. E Encontrou a velha na porta da loja. Sorriu irônica: — Hoje o senhor madrugou. — A senhora deve estar estranhando, mas... 41 42 aquele cheiro de folhagem e terra, de onde vinha aquele cheiro? E por que a loja foi ficando embaçada, lá longe? Imensa, real só a tapeçaria a se alastrar sorrateiramente pelo chão, pelo teto, engolindo tudo com suas manchas esverdinhadas. Quis retroceder, agarrou-se a um armário, cambaleou resistindo ainda e estendeu os braços até a coluna. Seus dedos afundaram por entre galhos e resvalaram pelo tronco de uma árvore, não era uma coluna, era uma árvore! Lançou em volta um olhar esgazeado: penetrara na tapeçaria, estava dentro do bosque, os pés pesados de lama, os cabelos empastados de orvalho. Em redor, tudo parado. Estático. No silêncio da madrugada, nem o piar de um pássaro, nem o farfalhar de uma folha. Inclinou-se arquejante. Era o caçador? Ou a caça? Não importava, não importava, sabia apenas que tinha que prosseguir correndo sem parar por entre as árvores, caçando ou sendo caçado. Ou sendo caçado?... Comprimiu as palmas das mãos contra a cara esbraseada, enxugou no punho da camisa o suor que lhe escorria pelo pescoço. Vertia sangue o lábio gretado. Abriu a boca. E lembrou-se. Gritou e mergulhou numa touceira. Ouviu o assobio da seta varando a folhagem, a dor! “Não...” - gemeu, de joelhos. Tentou ainda agarrarse à tapeçaria. E rolou encolhido, as mãos apertando o coração. 1965 TELLES, Lygia Fagundes. Mistérios: Ficções. 4.ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1981:23 - 28. 3.2.5 - Características da Ficção Brasileira da Segunda Metade do Século XX Temática: Mito e Origem • 2o momento: anos 60 em diante (Ficção: Pós-Modernismo Brasileiro). Narrador: renovada sensibilidade estético-literária (para fintar ou agredir as determinações da censura sociopolítica ditatorial); • Contracultura brasileira; • Relação misteriosa, enigmática, entre o estabelecimento cultural do país e a forma de narrar a problemática existencial do brasileiro daquela época. • Proposta coletiva de negação de um determinado sistema; • Incorporação temática da realidade da comunicação de massa; • Abordagem de uma experiência humana radical; • Resistência ao regime militar; • Escritor compromissado (alguns, disfarçando tal compromisso nos subterrâneos da ficção-arte; outros, poetas ou ficcionistas, ostentando perigosamente o seu compromisso socioliterário com a realidade da época); • Escrever (poesia, drama ou ficção): atividade compromissada, subversiva; • Reiteração de nomes próprios (de artistas de cinema ou televisão, estrangeiros e brasileiros, mimetizando suas presenças na mídia); • Crítica aos mitos cotidianos criados pela Indústria Cultural; • Urgência em dar forma e expressão ao contexto político do momento; • Extraficcional: contexto político hostil transformando a literatura em importante instrumento (texto poético, texto dramático e texto ficcional); • Romance como rótulo para difundir (espalhar) a realidade indigna (torpe, vil), na qual estava entranhada o país; • A ficção-arte e a poesia-arte (textos ímpares, diferenciados) se desenvolvendo enquanto os meios de comunicação convencionais se posicionavam bloqueados. 3.2.6 - Alguns Escritores Representativos do Período (Pós-Modernismo/1a fase) • Murilo Rubião - O Convidado; • Roberto Drummond – A Morte de DJ em Paris; Hitler Manda Lembranças; Quando Fui Morto Em Cuba; • José Agripino de Paula - PanAmérica; • Inácio de Loyola Brandão - Zero; • Sônia Coutinho – Os Venenos de Lucrécia. 3.3 - O Existencial na Literatura Brasileira do Século XX 3.3.1 - Características da Ficção Brasileira da Segunda Metade do Século XX Temática: Existencial • Pensamento e reflexão no âmbito da narrativa ficcional; • Capacidade de pensar e refletir criativamente; • Questionamento ficcional do inconsciente; • Predomínio do onipresente (= ubíquo: o que está em toda parte ao mesmo tempo); • Ficção que oferece ao homem uma imagem de si, no entanto, esta imagem está destinada a confundi-lo; • Recusa da “invenção” ficcional de modelo tradicional; • Coragem de questionar ficcionalmente o momento histórico por meio de um narrar insólito, diferenciado; • Existência posta como interrogação; • Preenchimento de vazio narrativo (narrador: observador da realidade); • Ponto de vista existencialista na Ficção: aponta o fracasso da utopia modernista; • Técnica narrativa = Caos. 3.3.2 - Escritores Representativos do período • Guimarães Rosa; • Clarice Lispector; • Lygia Fagundes Telles; • Murilo Rubião. 3.3.3 - Guimarães Rosa: Darandina DARANDINA Guimarães Rosa De manhã, todos os gatos nítidos nas pelagens, e eu em serviço formal, mas, contra o devido, cá fora do portão, à espera do menino com os jornais, e eis que, saindo, passa, por mim e duas ou outras três pessoas que perto e ali mais ou menos ocasionais se achavam, aquele senhor, exato, rápido, podendo-se dizer que provisoriamente impoluto. E, pronto, refez-se no mundo o mito, dito que desataram a dar-se, para nós, urbanos, os portentosos fatos, enchendo explodidamente o dia: de chinfrim, afã e lufa-lufa. ― “Ô, seô!...” ― foi o grito; senão se, de guerra: ― “Ugh, sioux!... ― também cabendo ser, por meu testemunho, já que com concentrada ou distraída mente me encontrava, a repassar os próprios íntimos qüiproquós, que a matéria da vida são. Mas: ― “Oooh...” ― e o senhor tão bem passante algum quieto transeunte apunhalara?! Isso em relance e instante visvi-vislumbrou-se-me. Não. Que só o que tinha sido ― vice-vi mais ―: pouco certeiro e indiscreto no golpe, um afanador de carteiras. Desde o qual, porém, irremediável, ia-se o vagar interior da gente, roto, de imediato, para durante contínuos episódios. ― “Sujeito de trato, tão trajado...” ― estranhava, surgindo do carro, dentr’onde até então cochilara, o chofer do dr. Bilôlo. ― “A caneta-tinteiro foi que ele abafou, do outro, da lapela...” ― depunha o menino dos jornais, só no vivo da ocasião aparecendo. Perseguido, entretanto, o homem corria que luzia, no diante do pé, virava pela praça, dava que dava. ― “Pega!” ― Ora, quase no meio da praça, instalava-se uma das palmeirasreais, talvez a maior, mesmo majestosa. Ora, ora, o homem, vestido correto como estava, nela não esbarrou, mas, sem nem se livrar dos sapatos, atirou-se-lhe abraçado, e grimpava-a, voraz, expedito arriba, ao incrível, ascensionalíssimo. ― Uma palmeira é uma palmeira ou uma palmeira ou uma palmeira? ― inquiriria um filósofo. Nosso homem, ignaro, escalara dela já o fim, e fino. Susteve-se. ― Esta! ― me mexi, repiscados os olhos, em tento por me readquirir. Pois o nosso homem se fora, a prumo, a pino, com donaires de pica-pau e nenhum deslize, e ao topo se encarapitava, safado, sabiá, no parámo empíreo. Paravam os de seu perséquito, não menos que eu surpresos, detidos, aqui em nível térreo, ante a infinita palmeira-muralhavaz. O céu só safira. No chão, já nem se contando o crescer do ajuntamento, dado que, de toda a circunferência, acudiam pessoas e povo, que na praça se emagotava. Tanto nunca pensei que uma multidão se gerasse, de graça, assim e instantânea. Nosso homem, diga-se que ostentoso, em sua altura inopinada, floria e frutificava: nosso não era o nosso homem. ― “Tem arte...” ― e quem o julgava já não sendo o jornaleiro, mas o capelão da Casa, quase com regozijo. Os outros, acolá, de infra e supra, empinavam insultos, clamando do demo e aqui-da-polícia, até se perguntava por arma de fogo. Além, porém, muito a seu grado, ele imitativamente aleluiasse, garrida a voz, tonifluente; porque mirável era que tanto se fizesse ouvir, tudo apesar-de. Discursava sobre canetas-tinteiro? Um camelô, portanto, atrevido na propaganda das ditas e estilógrafos. Em local de má escolha, contudo, pensei; se é que, por descaridosa, não me escandalizasse ainda a idéia de vir alguém produzir acrobacias e dislativas peloticas, dessas, justo em frente de nosso Instituto. Extremamente de arrojo era o sucesso, em todo o caso, e eu humano; andei ver o reclamista. Chamavam-me, porém, nesse entremenos, e apenas o Adalgiso, sisudo ele, o de sempre, só que me pegando pelo braço. Puxado e puxando, corre que apressei-me, mesmo assim, pela praça, para o foco do sumo, central transtornamento. Com estarmos ambos de avental, davam-nos alguma irregular passagem. ― “Como foi que fugiu?” ― todo o mundo perguntando, do populacho, que nunca é muito tolo por muito tempo. Tive então enfim de entender, aime, mísero. ― “Como o recapturar?” ― Pois éramos, o Adalgiso e eu, os internos de plantão, no dia infausto’fantástico. Vindo o que o Adalgiso, com de-curtas, não urgira em cochichar-me: nosso homem não era nosso hóspede. Instantes antes, espontâneo, só, dera ali o ar de sua desgraça. ― “Aspecto e facies nada anormais, mesmo a forma e conteúdo da elocução a princípio denotando fundo mental razoável...” ― Grave, grave, o caso. Premia-nos a multidão, e estava-se na área de baixa pressão do ciclone. ― Disse que era são, mas que, vendo a humanidade já enlouquecida, e em véspera de mais tresloucar-se inventara a decisão de se internar, voluntário: assim, quando a coisa se varresse de informal a pior, estaria já garantido ali, com lugar, tratamento e defesa, que, à maioria, 43 44 cá fora, viriam a fazer falta...” ― e o Adalgiso, a seguir, nem se culpava de venial descuido, quando no ir querer preencher-lhe a ficha. ― “Você se espanta?” ― esquivei-me. E fato, o homem exagerara somente uma teoria antiga: a do professor Dartanhã, que, mesmo a nós, seus alunos, declarava-nos em quarenta-por-cento casos típicos, larvados; e, ainda, dos restantes, outra boa parte, apenas de mais puxado diagnóstico... Mas o Adalgiso, mas ao meu estarrecido ouvido: ― “Sabe quem é? Deu nome e cargo. Sandoval o reconheceu. É o secretário das Finanças Públicas...” ― assim baixinho, e choco, o Adalgiso. Ao que, quase de propósito, a turba calou-se e enervou-nos, à estupefatura. Desolávamo-nos de mais acima olhar, aonde evidentemente o céu era um desprezo de alto, o azul antepassado. De qualquer modo, porém, o homem, aquém, em torre de marfim, entre as verdes, hirtas palmas, e ao cabo de sua diligência de veloz como um foguete, realizava-se, comensurado com o absurdo. Sei-me atreito a vertigens. E quem não, então, sob e perante aquilo, para nós um deus-nos-sacuda, de arrepiar perucas, semelhante e rigorosa coisa? Mas um super-humano ato pessoal, transe hiperbólico, incidente hercúleo. ― “Sandoval vai chamar o dr. Diretor, a Polícia, o Palácio do Governo...” ― assegurou o Adalgiso. de-força. Fitava-se o nosso homem empalmeirado. E o dr. Diretor, dono: ― “Há de ser nada!” Contestando-o, diametral, o professor Dartanhã, de contrária banda apartado: ― “Psicose paranóide hebefrênica, dementia præcox, se vejo claro” ―; e não só especulativo-teorético, mas por picuinha, tanto o outro e ele se ojerizavam; além de que rivais, coincidentemente, se bem que calvo e não calvo. Toante que o dr. Diretor ripostou, incientífico, em atitude de autoridade: ― “Sabe quem aquele cavaleiro é?” ― e o título declinou, voz vedada; ouvindo-o, do povo, mesmo assim, alguns, os adjacentes sagazes. Emendou o mote o professor Dartanhã: ― “... mas transitória perturbação, a qual, a capacidade civil, em nada lhe deixará afetada...” ― versando o de intoxicação-ou-infecção, a ponto falara. Mesmo um sábio se engana quanto ao em que crê ―; cremos, nós outros, que nossos límpidos óculos limpávamos. Assim cada qual um asno prepalatino, ou, melhor, apud o vulgo: pessoa bestificada. E, pois que há razões e rasões1, os padioleiros não depunham no chão a padiola. Uma palmeira não é uma mangueira, em sua frondosura, sequer uma aroeira, quanto a condições de fixibilidade e conforto, acontece-que. Que modo e como, então, agüentava de reter-se tanto ali, estadista ou não, são ou doente? Ele lá não estava desequilibrado; ao contrário. O repimpado, no apogeu, e rematado velhaco, além de dar em doido, sem fazer por quando. A única coisa que fazia era sombra. Pois, no justo momento, gritou, introduziu-se a delirar, ele mais em si, satisfatível: ― “Eu nunca me entendi por gente!... ― de nós desdenhava. Pausou e repetiu. Daí e mais: ― “Vocês me sabem é de mentira!” ― Respondendo-me? Riu, ri, riu-se, rimo-nos. O povo ria. Porque, o nosso, o excelso homem, regritou: ― “Viver é impossível!...” ― um slogan; e, sempre que ele se prometia para falar, conseguia-se, cá, o multitudinal silêncio ― das pessoas de milhares. Nem esqueceralhe o elemento mímico: fez gesto ― de quem empunhasse um guarda-chuva. Ameaçava o quê a quem, com seu estro catastrófico? ― “Viver é impossível!” ― o dito declarado assim, tão empírico e anermenêutico, só através do egoísmo da lógica. Mas, menos como um galhofeiro estapafúrdio, ou alucinado burlão, pondo a ouvir, antes em leal tom e generoso. E era um revelar em favor de todos, instruía-nos de verdadeira verdade. A nós ― substantes seres sub-aéreos ― de cujo meio ele a si mesmo se raptara. Fato, fato, a vida se dizia, em si, impossível. Já assim me pareceu. Então, indigente, universalmente, era preciso, sem cessar, um milagre; que é o que sempre há, a fundo, de fato. De mim, não pude negar-lhe, incerta, a simpatia intelectual, a ele, abstrato ― vitorioso ao anular-se ― chegado ao píncaro de um axioma. Adalgiso, não: ― “Ia adivinhar? Não entendo de política.” ― inconcluía. ― “Excitação maníaca, estado demencial... Mania aguda, delirante... E o contraste não é tudo, para se acertarem os sintomas?” ― ele, contra si consigo, opunha. Psiu, porém, quem, assado e assim, a mundos e resmungos, sua total presença anunciava? Vê-se que o dr. Diretor: que, chegando, sobrechegado. Para arredar caminho, por império, os da Polícia ― tiras, beleguins, guardas, delegado, comissário ― para prevenir desordem. Também, cândidos, com o dr. Diretor, os enfermeiros, padioleiros, Sandoval, o Capelão, o dr. Enéias e o dr. Bilôlo. Traziam a camisa- Sete peritos, oficiais pares de olhos, do espaço inferior o estudavam. ― “Que ver: que fazer?” ― agora. Pois o dr. Diretor comandava-nos em conselho, aqui, onde, prestimosa para nós, dilatava a Polícia, a proêmios de casse-tetes e blasfemos rogos, uma clareira precária. Para embaraços nossos, entretanto, portava-se árduo o ilustre homem, que ora encarnava a alma de tudo: inacessível. E ― portanto ― imedicável. Havia e haja que reduzi-lo a baixar, valha que por condigno meio desguindá-lo. Apenas, não estando à mão de colher, nem sendo de se atrair com afagos e morangos. ― “Fazer o quê?” ― unânimes, 1 rasões (sic). Respeitar a grafia roseana, incluindo as pontuações aparentemente contrárias às normas (NGB). ora tardávamos em atinar. Com o que o dr. Diretor, como quem saca e desfecha, prometeu: ― “Vem aí os bombeiros!” Ponto. Depunham os padioleiros no chão a padiola. O que vinha, era a vaia. Que não em nós, bem felizmente, mas no nosso guardião do erário. Ele estava na ponta. Conforme quanto, rápida, no chacoalhar da massa, difundira-se a identificação do herói. Donde, de início, de bufos avulsos gritos, daqui, aqui, um que outro, comicamente, a atoarda pronta borbotava. E bradou aos céus, formidável, una, a versão voxpopular: ― “Demagogo! Demagogo!...” ― avessa ressonância. ― “Demagôoogo!...” ― a belo e bom, safa, santos meus, que corrimaça. O ultravociferado halali, a extrair-se de imensidão: apinhada, em pé, impiedosa ― aferventada ao calor do dia de março. Tenho que mesmo uns de nós, e eu, no conjunto conclamávamos. Sandoval, certo, sim; ele, na vida, pela primeira vez, ainda que em esboço, a revoltar-se. Reprovando-nos o professor Dartanhã: ― “Não tem um político direito às suas moléstias mentais?” ― magistralmente enfadado. Tão certo que até o dr. Diretor em seus créditos e respeitos vacilasse ― psiquiatrista. Vendo-se, via-se que o nosso pobre homem perdia a partida, agora, desde que não conseguindo juntar o prestígio ao fastígio. Demagogo... Conseguiu-o ― de truz, tredo. Em suave e súbito, deu-se que deu que se mexera, a marombar, e por causas. Daí, deixando cair... um sapato! Perfeito, um pé de sapato ― não mais ― e tão condescendentemente. Mas o que era o teatral golpe, menos amedrontador que de efeito burlesco vasto. Claro que no vivo popular houve refluxos e fluxos, quando a mera peça demitiuse de lá, vindo ao chão, e gravitacional se exibiu no ar. Aquele homem: ― É um gênio!” ― positivou o dr. Bilôlo. Porque o povo o sentia e aplaudia, danado de redobrado: ― “Viva! Viva!...” ― vibraram, reviraram. ― “Um gênio!” ― notando-se, elegiam-no, ofertavam-lhe oceânicas palmas. Por São Simeão! E sem dúvida o era, personagente, em sua sicofância, conforme confere e confirmava: com extraordinária acuidade de percepção e alto senso de oportunidade. Porque houve também o outro pé, que não menos se desabou, após pausa. Só que, para variar, este, reto, presto, se riscou ― não parabolava. Eram uns sapatos amarelados. O nosso homem, em festival ― autor, alcandorado, alvo: desta e elétrica aclamação, adequada. Estragou-a a sirene dos bombeiros: que eis que vencendo a custo o acesso e despontando, com esses tintinábulos sons e estardalho. E ancoravam, isto é ― rubro de lagosta ou arrebol ― cujo carro. Para eles se ampliava lugar, estricto espaço de manobra; com sua forte nota belígera, colheram sobeja sobra dos aplausos. Aí já seu Comandante se entendendo com a Polícia e pois conosco, ora. Tinham seu segundo, comprido caminhão, que se fazia base da escada: andante apetrecho, para o empreendimento, desdobrável altaneiramente, essencial, muito máquina. Ia-se já agir. Manejando-se marciais tempos e movimentos, à corneta e apito dados. Começou-se. Ante tanto, que diria o nosso paciente ― exposto cínico insigne? Disse. ― “O feio está ficando coisa...” ― entendendo de nossos planos, vivaldamente constatava; e nisso indocilizava-se, com mímica defensiva, arguto além de alienado. A solução parecendo inconvir-lhe. ― “Nada de cavalo-de-pau!” ― vendo-se que de fresco humor e troiano, suspeitoso de Palas Atenéia. E: ― “Querem comer-me ainda verde?!” ― o que, por mero mimético e sintomático, apenas, não destoava nem jubilava. À arte que, mesmo escada à parte, os bons bombeiros, muito homens seriam para de assalto tomar a palmeira-real e superá-la: o uso avulso de um deles, tão bem em técnicas, sabe-se lá, quanto um antilhano ou canaca. A poder de cordas, ganchos, espeques, pedais postiços e poiais fincáveis. Houve nem mais, das grandes expectações, a conversa entrecortada. O silêncio timbrava-se. Isto é, o homem, o prócer, protestou. ― “Pára!...” Gesticulou que ia protestar mais. ― “Só morto me arriam, me apeiam!” ― e não à-toa, augural, tinha ele o verbo bem adestrado. Hesitou-se, de cá para cá, hesitávamos. ― “Se vierem, me vou, eu... Eu me vomito daqui!...” ― pronunciou. Declamara em demorado, quase quite eufórico, enquanto que nas viçosas palmas se retouçando, desvárias vezes a menear-se, oscilante por um fio. À coaxa acrescentou: ― “Cão que ladra, não é mudo...” ― e já que só faltava mesmo o triz, para passar-se do aviso à lástima. Parecia prender-se apenas pelos joelhos, a qualquer simples e insuportável finura: sua palma, sua alma. Ah... e quase, quasinho... quasezinho, quase... Era de horrir-me o pêlo. Nanja. ― “É de circo...” ― alguém sus susurrou-me, o dr. Enéias ou Sandoval. O homem tudo podia, a gente sem certeza disso. Seja se com simulagens e fictâncias? Seja se capaz de elidir-se, largar-se e se levar do diabo. No finório, descabelado propósito, pendurou-se um pouco mais, resoluto rematado. A morte tocando, paralela conosco ― seu tênue tambor taquigráfico. Deu-nos a tensão pânica: gelou-se-me. Já aí, ferozes, em favor do homem: ― “Não! Não!” ― a gritamulta ― “Não! Não! Não!” ― tumultroada. A praça reclamava, clamava. Tinha-se de protelar. Ou produzir um suicídio reflexivo ― e o desmoronamento do problema? O dr. Diretor citava Empédocles. Foi o em que os chefes terrestres concordaram: apertava a urgência de não se fazer nada. Das operações de salvamento, interrompeuse o primeiro ensaio. O homem parara de balançar-se ― irrealmente na ponta da situação. Ele dependia dele, ele, dele, ele, sujeito. Ou de outro qualquer evento, o qual, imediatamente, e muito aliás, seguiu-se. 45 46 De um ― dois. Despontando, com o Chefe-de-Polícia, o Chefe-de-Gabinete do Secretário. Passou-selhe um binóculo e ele enfiava o olho, palmeira-real avante-acima, detendo-se, no titular. Para com respeito humano renegá-lo: ― “Não o estou bem reconhecendo...” Entre, porém, o que com mais decoro lhe conviesse, optava pela solicitude, pálido. Tomava o ar um ar de antecâmara, tudo ali aumentava de grave. A família já fora avisada? Não, e melhor, nada: família vexa e vencilha. Querendo-se conquanto as verticais providências, o que ficava por nossa má-arte. Tinhase de parlamentar com o demente, em não havendo outro meio nem termo. Falar para fazer momento; era o caso. E, em menos desniveladas relações, como entrosar-se, físico, o diálogo? Se era preciso um palanque? ― disse-se. Com que, então sem mais, já aparecia ― o cônico cartucho ou cumbuca ― um alto-falante dos bombeiros. O dr. Diretor ia razoar a causa: penetrar em o labirinto de um espírito, e ― a marteladas de intelecto ― baqueá-lo, com doutoridade. Toques, crebros, curtos, de sirene, o incerto silêncio geraram. O dr. Diretor, mestre do urso e da dança, empunhava o preto cornetão, embocava-o. Visava-o para o alto, circense, e nele trombeteiro soprava. ― “Excelência!...” ― começou, sutil, persuasivo; mal. ― “Excelência...” ― e tenha-se, mesmo, que com tresincondigna mesura. Sua calva foi que se luziu, de metalóide ou metal; o dr. Diretor gordo e baixo. Infundado, o povo o apupou: ― “Vergonha, velho!” ― e ― “larga, larga!...” Deste modo, só estorva, a leiga opinião, quaisquer clérigas ardilidades. Todo abdicativo, o dr. Diretor, perdido o comando do tom, cuspiu e se enxaguava de suor, soltando da boca o instrumento. Mas não passou o megafone ao dr. Dartanhã, o que claro. Nem a Sandoval, prestante, nem ao Adalgiso, a cujos lábios. Nem ao dr. Bilôlo, que o querendo, nem ao dr. Enéias, sem voz usual. A quem, então pois? A mim, mi, me, se vos parece; mas só enfim. Temi quando obedeci, e muito siso havia mister. Já o dr. Diretor me ditava: ― “Amigo, vamos fazer-lhe um favor, queremos cordialmente ajudá-lo...” ― produzi, pelo conduto; e houve eco. ― “Favor? De baixo para cima?...” ― veio a resposta, assaz sonora. Estava ele em fase de aguda agulha. Havia que o questionar. E, a novo mando do dr. Diretor, chamei-o, minha boca, com intimativa: ― “Psiu! Ei! Escute! Olhe!...” ― altiloqüei. ― “Vou falir de bens?” ― ele altitonava. Deixava que eu prosseguisse; a sua devendo de ser uma compreensão entediada. Se lhe de deveres e afetos falei! ― “O amor é uma estupefação...” ― respondeu-me. (Aplausos) Para tanto tinha poder: de fazer, vezes, um oah-ao-oah! ― mão na boca ― cavernoso. Intimou ainda: ― “Tenha-se paciência!...” E: ― “Hem? Quem? Hem?” ― fez, pessoalmente, o dr. Diretor, que o aparelho, sôfrego, me arrebatara. ― “Você, eu, e os neutros...” ― retrucou o homem; naquele elevado incongruir, sua imaginação não se entorpecia. De nada, esse ineficaz paraláparacáparlar, razões de quiquiriqui, a boa nossa verbosia; a não ser a atiçar-lhe mais a mioleira, para uma verve endiabrada. Desistiu-se, vem que bem ou mal, do que era querer-se amimar a murros um porco-espinho. Do qual, de tão de cima, ainda se ouviu, a final, pérfida pergunta: ― “Foram às últimas hipóteses?” Não. Restava o que se inesperava, dando-se como sucesso de ipso-facto. Chegava... O quê? O que crer? O próprio! O vero e são, existente, Secretário das Finanças Públicas ― ipso. Posto que bem de terra surgia, e desembarafustadamente. Opresso. Opaco. Abraçavanos, a cada um de nós se dava, e aliás o adulávamos, reconhecentemente, como ao Pródigo o pai ou o cão a Ulisses. Quis falar, voz inarmônica; apontou causas; temia um sósia? Subiam-no ao carro dos bombeiros, e, aprumado, primeiro perfez um giro sobre si, em tablado, completo, adequando-se à expositura. O público lhe devia. ― “Concidadãos!” ― ponta dos pés. ― “Eu estou aqui, vós me vedes. Eu não sou aquele! Suspeito exploração, calúnia, embuste, de inimigos e adversários...” De rouco, à força, calou-se, não se sabe se mais com bens ou que males. O outro, já agora ex-pseudo, destituído, escutou-o com ociosidade. De seu conquistado poleiro, não parava de dizer que “sim”, acenado. Era meio-dia em mármore. Em que curiosamente não se tinha fome nem sede, de demais coisas qual que me lembrava. Súbita voz: ― “Vi a Quimera!” ― bradou o homem, importuno, impolido; irara-se. E quem e que era? Por ora, agora, ninguém, nulo, joão, nada, sacripante, qüidam. Desconsiderando a moral elementar, como a conceito relativo: o que provou, por sinais muito claros. Desadorava. Todavia, ao jeito jocoso, fazia-se de castelo-no-ar. Ou era pelo épico epidérmico? Mostrou ― o que havia entre a pele e a camisa. Pois, de repente, sem espera, enquanto o outro perorava, ele se despia. Deu-se à luz, o fato sendo, pingo por pingo. Sobre nós, sucessivos, esvoaçantes ― paletó, cueca, calças ― tudo a bandeiras despregadas. Retombando-lhe a camisa, por fim, panda, aérea, aeriforme, alva. E feito o forró! ― foi ― balbúrdias. Na multidão havia mulheres, moças, gritos, mouxetrouxe, e trouxe-mouxe, desmaios. Era, no levantar os olhos, e o desrespeitável público assistia ― a ele in puris naturalibus. De quase alvura enxuta de aipim, na verde coma e fronde da palmeira, um lídimo desenroupado. Sabia que estava a transparecer, apalpava seus membros corporais. ― “O síndrome...” ― o Adalgiso observou; de novo nos confusionávamos. ― “Síndrome exofrênico de Bleuler...” ― pausando, exarou o Adalgiso. Simplificava-se o homem em escândalo e emblema, e franciscano magnifício, à força de sumo contraste. Mas se repousava, já de humor benigno, em condições de primitividade. Com o que ― e tanta folia ― em meio ao acrisolado calor, suavam e zangavam-se as autoridades. Não se podendo com o desordeiro, tão subversor e anônimo? Que havia que iterar, decidiram, confabulados: arcar com os cornos do caso. Tudo se pôs em movimento, troada a ordem outra vez, breve e bélica, à fanfarra ― para o cometimento dos bombeiros. Nosso rancho e adro, agora de uma largura, rodeado de cordas e polícias; já ali se mexendo os jornalistas, repórteres e fotógrafos, um punhado; e filmavam. O homem, porém, atento, além de persistir em seus altos intentos, guisava-se também em trabalho muito ativo. Contara, decerto, com isso, de maquinar-selhe outra esparrela. Tomou cautela. Contra-atacava. Atirou-se acima, mal e mais arriba, desde que tendo início o salvatério: contra a vontade, não o salvavam! Até; se até. A erguer-se das palmas movediças, até ao sumo vértice; ia já atingir o espique, ver e ver que com grande risco de precipitar-se. O exato era ter de falhar ― com uma evidência de cachoeira. ― “É hora!” ― foi nossa interjeição golpeada; que, agora, o que se sentia é que era o contrário do sono. Irrespirava-se. Naquela porção de silêncios, avançavam os bombeiros, bravos? Solerte, o homem, ao último ponto, sacudiu-se, se balançava, eis: misantropóide gracioso, em artificioso equilíbrio, mas em seu eixo extraordinário. Disparatou mais: — “Minha natureza não pode dar saltos?...” — e, à pompa, ele primava. Tanto é certo que também divertia-nos. Como se ainda carecendo de patentear otimismo, mostravanos insuspeitado estilo. Dandinava. Recomplicou-se, piorou, a pausa. Sua queda e morte, incertas, sobre nós pairando, altanadas. Mas, nem caindo e morrendo, dele ninguém nada entenderia. Estacavam, os bombeiros. Os bombeiros recuavam. E a alta escada desandou, desarquitetou-se, encaixava-se. Derrotadas as autoridades, de novo, diligentes, a repartir-se entre cuidados. Descobri, o que nos faltava. Ali, uma forte banda-de-música, briosa, à dobrada. Do alto daquela palmeira, um ser, só, nos contemplava. pentes, para a luta com o nobre e jovem povo. Carregavam? Pois, depois. Maior a atrapalhação. Tudo tentava evoluir, em tempo mais vertiginoso e revelado. Virou a ser que se pediam reforços, com vistas a pôr-se a praça esvaziada; o que vinha a ponto. Porém, também entoavam-se inacionais hinos, contagiando a multaturba. E paz? De ás e roque e rei, atendeu a isso, trepado no carro dos bombeiros, o Secretário de Segurança e Justiça. Canoro, grosso, não gracejou: — “Rapazes! Sei que gostam de me ouvir. Prometo, tudo...” — e verdade. Do que, aplaudiram-no em sarabando, de seus antecedentes se fiavam. Deu-se logo uma remissão, e alguma calma. Na confusão, pelo sim pelo não, escapou-se, aí, o das-Finanças-Públicas Secretário. Em fato, meio quebrado de emoções, ia-se para a vida privada. Outra coisa nenhuma aconteceu. O homem, entre o que, entreaparecendo, se ajeitara, em berço, em seus palmares. Dormindo ou afrouxando de se segurar, se ele desse de torpefazer-se, o enfim, à espatifação, malhar abaixo? De como podendo manter-se rijo incontável tempo assim, aos circunstantes o professor Dartanhã explicava. Abusava de nossa paciência — um catatônico-hebefrênico — em estereotipia de atitude. ― “A frechadas logo o depunham, entre os parecis e nhambiquaras...” ― inteirou o dr. Bilôlo; contente de que a civilização prospere a solidariedade humana. Porque, sinceros, sensatos, por essa altura, também o dr. Diretor e o professor Dartanhã congraçavam-se. Sugeriu-se nova experiência, da velha necessidade. Se, por treslouco, não condescendesse, a apelo de algum argumento próximo e discreto? Ele não ia ressabiar; conforme concordou, consultado. E a ação armou-se e alou-se; a escada exploradora ― que nem que canguru, um, ou louva-a-deus enorme vermelho ― se desdobrou, em engenhingonça, até a mais de meio caminho no vácuo. Subia-a o dr. Diretor, impertérrito ousadamente, ele que naturalizava-se heróico. Após, subia eu descendo, feito Dante atrás de Virgílio. Ajudavam-nos os bombeiros. Ao outro, lá, no galarim, dirigíamo-nos, sem a própria orientação no espaço. A de nós ainda muitos metros, atendia-nos, e ao nosso latim perdido. Por que, brusco, então, bradou por: ― “Socorro!...” ―? Dizendo sorrindo o Capelão: — “Endemoninhado...” Endemoninhados, sim, os estudantes, legião, que do sul da praça arrancavam? — de onde se haviam concentrado. Dado que roda-viveu um rebuliço, de estrépito, de assaltada. Em torrente, agora, empurravam passagem. Ideavam ser o homem um dos seus, errado ou certo, pelo que juravam resgatá-lo. Era um custo, a duro, contê-los, à estudantada. Traziam invisa bandeira, além de fervor hereditário. Embestavam. Entrariam em ato os cavalarianos, esquadrões rom- Tão então outro trebulício ― e o mundo inferior estalava. Em fúria, arruaça e frenesis, ali a população, que a insanar-se e insanir-se, comandando-a seus mil motivos, numa alucinação de manicomiáveis. Depreque-se! ― não fossem derrubar caminhão e escada. E tudo por causa do sobredito-cujo: como se tivesse ele instilado veneno nos reservatórios da cidade. Reaparecendo o humano e estranho. O homem. Vejo que ele se vê, tive de notá-lo. E algo de terrível de re- 47 48 pente se passava. Ele queria falar, mas a voz esmorecida; e embrulhou-se-lhe a fala. Estava em equilíbrio de razão: isto é, lúcido, nu, pendurado. Pior que lúcido, relucidado; com a cabeça comportada. Acordava! Seu acesso, pois, tivera termo, e, da idéia delirante, via-se dessonambulizado. Desintuído, desinfluído ― se não se quando ― soprado. Em doente consciência, apenas, detumescera-se, recuando ao real e autônomo, a seu mau pedaço de espaço e tempo, ao sem-fim do comedido. Aquele pobre homem descoroçoava. E tinha medo e tinha horror ― de tão novamente humano. Teria o susto reminiscente ― do que, recém, até ali, pudera fazer, com perigo e preço, em descompasso, sua inteligência em calmaria. Sendo agora para despenhar-se, de um momento para nenhum outro. Tremi, eu, comiserável. Vertia-se, caía? Tiritávamos. E era o impasse da mágica. É que ele estava em si; e pensava. Penava ― de vexame e acrofobia. Lá, ínfima, louca, em mar, a multidão infernal, ululava. Daí, como sair-se, do lance, desmanchado o firme burgo? Entendi-o. Não tinha rosto com que aparecer, nem roupas ― bufão, truão, tranca ― para enfrentar as razões finais. Ele hesitava, electrochocado. Preferiria, então, não salvar-se? Ao drama no catafalco, emborcava-se a taça da altura. Um homem é, antes de tudo, irreversível. Todo pontilhado na esfera de dúvida, propunha-se em outra e imensurável distância, de milhões e trilhões de palmeiras. Desprojetava-se, coitado, e tentava agarrar-se, inapto, à Razão Absoluta? Adivinhava isso o desvairar da multidão espaventosa ― enlouquecida. Contra ele, que, de algum modo, de alguma maravilhosa continuação, de repente nos frustrava. Portanto, em baixo, alto bramiam. Feros, ferozes. Ele estava são. Vesânicos, queriam linchá-lo. Aquele homem apiedava diferentemente ― de fora da província humana. A precisão de viver vencia-o. Agora, de gambá num atordoamento, requeria nossa ajuda. Em fácil pressa atuavam os bombeiros, atirando-se a reaparecê-lo e retrazê-lo ― prestidigitavamno. Rebaixavam-no, com tábuas, cordas e peças, e, com seus outros meios apocatastáticos. Mas estava salvo. Já, pois. Isto e assim. Iria o povo destruí-lo? alguma coisa ou nenhuma proferia. Ninguém poderia deter ninguém, naquela desordem do povo pelo povo. Tudo se desmanchou em andamento, espraiando-se para trivialidades. Vivera-se o dia. Só restava imudada, irreal, a palmeira. Concluindo. Dando-se que, em pós, desafogueados, trocavam-se pelos paletós os aventais. Modulavam drásticas futuras providências, com o professor Dartanhã, ex-professor, o dr. Diretor e o dr. Enéias ― alienistas. ― “Vejo que ainda não vi bem o que vi...” ― referia Sandoval, cheio de cepticismo histórico. ― “A vida é constante, progressivo desconhecimento...” ― definiu o dr. Bilôlo, sério, entendo que, pela primeira vez. Pondo o chapéu, elegantemente, já que de nada se sentia seguro. A vida era à hora. Apenas nada disse o Adalgiso, que, sem aparente algum motivo, agora e sempre súbito assustava-nos. Ajuizado, correto, circunspecto demais: e terrível, ele, não em si, insatisfatório. Visto que, no sonho geral, permanecera insolúvel. Dava-me um frio animal, retrospectado. Disse nada. Ou talvez disse, na pauta, e eis tudo. E foi para a cidade, comer camarões. GUIMARÃES ROSA, João. Primeiras Estórias. 5. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1969 (1a edição: agosto/1962). ANÁLISE DO PRIMEIRO E SEGUNDO SEGMENTOS DO CONTO “DARANDINA”, DE GUIMARÃES ROSA 1o segmento: Índice do ACONTECIMENTO (1o parágrafo) 1o parágrafo: • Manhã (claridade): “todos os gatos nítidos nas pelagens” • Eu ficcional (o Narrador): “em serviço formal” (trabalhando) • Eu ficcional (o Narrador): (trabalhando) “mas, contra o devido, cá fora do portão, à espera do menino com os jornais”. ÍNDICE DO ACONTECIMENTO: Ainda não concluindo. Antes, ainda na escada, no descendimento, ele mirou, melhor, a multidão, deogenésica, diogenista. Vindo o quê, de qual cabeça, o caso que já não se esperava. Deu-nos outra cor. Pois, tornavam a endoidá-lo? Apenas proclamou: ― “Viva a luta! Viva a Liberdade!” ― nu, adão, nado, psiquiartista. Frenéticos, o ovacionaram, às dezenas de milhares se abalavam. Acenou, e chegou em baixo, incólume. Apanhou então a alma de entre os pés, botou-se outro. Aprumou o corpo, desnudo, definitivo. Fez-se o monumental desfecho. Pegaram-no, a ombros, em esplêndido, levaram-no carregado. Sorria, e, decerto, • Eu ficcional [o narrador]: “E eis que, saindo, passa por mim e duas ou outras três pessoas [que perto e ali mais ou menos ocasionais se achavam] aquele senhor [o personagem], exato, rápido, podendo-se dizer que, provisoriamente, impoluto”. • NÓ (que propicia o índice do Acontecimento): “E, pronto, refez-se no mundo o mito.” “desataram a dar-se, para nós urbanos, os portentosos fatos, enchendo explodidamente o dia: de chinfrim, afã e lufa-lufa”. Chinfrim = algazarra, barulho de vozes (vozeria). 2o segmento: Início do ACONTECIMENTO (2o e 3o parágrafos) • Grito (possivelmente de guerra) X mente distraída do narrador • Mente distraída do narrador, em relação ao ACONTECIMENTO (que, no âmbito da ficção, ainda não foi realizado): * O desconhecido Senhor (“tão bem passante”) “teria apunhalado algum quieto transeunte? Não!” * O desconhecido Senhor (“tão bem passante”) seria “um afanador de carteiras?” • O NARRADOR: “Desde qual, porém, irremediável, ia-se o vagar interior da gente, roto, de imediato, para durante contínuos episódios”. • Depoimento do chofer do dr. Bilôlo, sobre o senhor que passou correndo (estranhamento): “sujeito de trato, tão trajado!” • Depoimento do menino dos jornais (que apareceu “só no vivo da ocasião”): “A caneta-tinteiro foi que ele abafou, do outro, da lapela”. • HOMEM CORRENDO X PERSEGUIÇÃO (perseguido pela população da Cidade: “Pega!”) • PALMEIRA-REAL (CENTRALIZA O ACONTECIMENTO): “Ora, quase no meio da praça, instalava-se uma das palmeiras-reais, talvez a maior, mesmo MAJESTOSA”. • HOMEM CORRENDO X PERSEGUIÇÃO (perseguido pela população da Cidade) “vestido correto como estava, nela não esbarrou [na Palmeira-Real], mas, sem nem se livrar dos sapatos, atirou-se-lhe abraçado, e grimpava-a, voraz, ao incrível, ascensionalíssimo”. UMA PALMEIRA É UMA PALMEIRA OU UMA PALMEIRA OU UMA PALMEIRA? – inquiriria um filósofo // “Nosso homem, ignaro, escalara dela já o fim, e fino. SUSTEVE-SE.” Ignaro = ignorante, bronco, rude fraco de caráter // ignavo = PROPOSTA PARA OS ALUNOS Continuar a análise dos outros segmentos do conto “Darandina”. 3.3.4 - Clarice Lispector: Cem Anos de Perdão CEM ANOS DE PERDÃO Clarice Lispector Quem nunca roubou não vai me entender. E quem nunca roubou rosas, então, é que jamais poderá me entender. Eu, em pequena, roubava rosas. Havia em Recife inúmeras ruas, as ruas dos ricos, ladeadas por palacetes que ficavam no centro de grandes jardins. Eu e uma amiguinha brincávamos muito de decidir a quem pertenciam os palacetes. “Aquele branco é meu.” “Não, eu já disse que os brancos são meus.” “Mas esse não é totalmente branco, tem janelas verdes.” Parávamos às vezes longo tempo, a cara imprensada nas grades, olhando. Começou assim. Numa das brincadeiras de “essa casa é minha”, paramos diante de uma que parecia um pequeno castelo. No fundo, via-se o imenso pomar. E, à frente, em canteiros bem ajardinados, estavam plantadas as flores. Bem, mas isolada no seu canteiro, estava uma rosa apenas entreaberta cor-de-rosa-vivo. Fiquei feito boba, olhando com admiração aquela rosa altaneira que nem mulher feita ainda não era. E então aconteceu: do fundo de meu coração, eu queria aquela rosa para mim. Eu queria, ah como eu queria. E não havia jeito de obtê-la. Se o jardineiro estivesse por ali, pediria a rosa, mesmo sabendo que ele nos expulsaria como se expulsam moleques. Não havia jardineiro à vista, ninguém. E as janelas, por causa do sol, estavam de venezianas fechadas. Era uma rua onde não passavam bondes e raro era o carro que aparecia. No meio do meu silêncio e do silêncio da rosa, havia o meu desejo de possuí-la como coisa só minha. Eu queria poder pegar nela. Queria cheirá-la até sentir a vista escura de tanta tonteira de perfume. Então não pude mais. O plano se formou em mim instantaneamente, cheio de paixão. Mas, como boa realizadora que eu era, raciocinei friamente com minha amiguinha, explicando-lhe qual seria o seu papel: vigiar as janelas da casa ou a aproximação ainda possível do jardineiro, vigiar os transeuntes raros na rua. Enquanto isso, entreabri lentamente o portão de grades um pouco enferrujadas, contando já com o leve rangido. Entreabri somente o bastante para que o meu esguio corpo de menina pudesse passar. E, pé ante pé, mas veloz, andava pelos pedregulhos que rodeavam os canteiros. Até chegar à rosa foi um século de coração batendo. Eis-me afinal diante dela. Paro uns instantes, perigosamente, porque de perto ela ainda é mais linda. Finalmente começo a lhe quebrar o talo, arranhando-me com os espinhos, e chupando o sangue dos dedos. E, de repente ― ela toda na minha mão. A corrida de volta ao portão tinha também de ser sem barulho. Pelo portão que deixara entreaberto, passei segurando a rosa. E então nós duas pálidas, eu e a rosa, corremos literalmente para longe da casa. O que é que fazia eu com a rosa? Fazia isso: ela era minha. 49 50 Levei-a para casa, coloquei-a num copo d’água, onde ficou soberana, de pétalas grossas e aveludadas, com vários entretons de rosa-chá. No centro dela a cor se concentrava mais e seu coração quase parecia vermelho. Foi tão bom. Foi tão bom que simplesmente passei a roubar rosas. O processo era sempre o mesmo: a menina vigiando, eu entrando, eu quebrando o talo e fugindo com a rosa na mão. Sempre com o coração batendo e sempre com aquela glória que ninguém me tirava. Também roubava pitangas. Havia uma igreja presbiteriana perto de casa, rodeada por uma sebe verde, alta e tão densa que impossibilitava a visão da igreja. Nunca cheguei a vê-la, além de uma ponta de telhado. A sebe era de pitangueira. Mas pitangas são frutas que se escondem: eu não via nenhuma. Então, olhando antes para os lados para ver se ninguém vinha, eu metia a mão por entre as grades, mergulhava-a dentro da sebe e começava a apalpar até meus dedos sentirem o úmido da frutinha. Muitas vezes, na minha pressa, eu esmagava uma pitanga madura demais com os dedos que ficavam como ensangüentados. Colhia várias que ia comendo ali mesmo, umas até verdes demais, que eu jogava fora. Nunca ninguém soube. Não me arrependo: ladrão de rosas e de pitangas tem cem anos de perdão. As pitangas, por exemplo, são elas mesmas que pedem para ser colhidas, em vez de amadurecer e morrer no galho, virgens. LISPECTOR, Clarice (e outros). “Cem anos de perdão”. In: Para gostar de ler: contos. São Paulo: Ática, 1984, vol. 9: 14-16. 3.3.5 - Clarice Lispector: Amor AMOR Clarice Lispector Um pouco cansada, com as compras deformando o novo saco de tricô, Ana subiu no bonde. Depositou o volume no colo e o bonde começou a andar. Recostou-se então no banco procurando conforto, num suspiro de meia satisfação. Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si, malcriados, instantes cada vez mais completos. A cozinha era enfim espaçosa, o fogão enguiçado dava estouros. O calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando. Mas o vento batendo nas cortinas que ela mesma cortara lembrava-lhe que se quisesse podia parar e enxugar a testa, olhando o calmo horizonte. Como um lavrador. Ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas. E cresciam árvores. Crescia sua rápida conversa com o cobrador de luz, crescia a água enchendo o tanque, cresciam seus filhos, crescia a mesa com comidas, o marido chegando com os jornais e sorrindo de fome, o canto importuno das empregadas do edifício. Ana dava a tudo, tranqüilamente, sua mão pequena e forte, sua corrente de vida. Certa hora da tarde era mais perigosa. Certa hora da tarde as árvores que plantara riam dela. Quando nada mais precisava de sua força, inquietava-se. No entanto sentia-se mais sólida do que nunca, seu corpo engrossara um pouco e era de se ver o modo como cortava blusas para os meninos, a grande tesoura dando estalidos na fazenda. Todo o seu desejo vagamente artístico encaminhara-se há muito no sentido de tornar os dias realizados e belos; com o tempo, seu gosto pelo decorativo se desenvolvera e suplantara a íntima desordem. Parecia ter descoberto que tudo era passível de aperfeiçoamento, a cada coisa se emprestaria uma aparência harmoniosa; a vida podia ser feita pela mão do homem. No fundo, Ana sempre tivera necessidade de sentir a raiz firme das coisas. E isso um lar perplexamente lhe dera. Por caminhos tortos, viera a cair num destino de mulher, com a surpresa de nele caber como se o tivesse inventado. O homem com quem casara era um homem verdadeiro, os filhos que tivera eram filhos verdadeiros. Sua juventude anterior parecia-lhe estranha como uma doença de vida. Dela havia aos poucos emergido para descobrir que também sem a felicidade se vivia: abolindo-a, encontrara uma legião de pessoas, antes invisíveis, que viviam como quem trabalha — com persistência, continuidade, alegria. O que sucedera a Ana antes de ter o lar estava para sempre fora de seu alcance: uma exaltação perturbada que tantas vezes se confundira com felicidade insuportável. Criara em troca algo enfim compreensível, uma vida de adulto. Assim ela o quisera e o escolhera. Sua precaução reduzia-se a tomar cuidado na hora perigosa da tarde, quando a casa estava vazia sem precisar mais dela, o sol alto, cada membro da família distribuído nas suas funções. Olhando os móveis limpos, seu coração se apertava um pouco em espanto. Mas na sua vida não havia lugar para que sentisse ternura pelo seu espanto — ela o abafava com a mesma habilidade que as lides em casa lhe haviam transmitido. Saía então para fazer compras ou levar objetos para consertar, cuidando do lar e da família à revelia deles. Quando voltasse era o fim da tarde e as crianças vindas do colégio exigiam-na. Assim chegaria a noite, com sua tranqüila vibração. De manhã acordaria aureolada pelos calmos deveres. Encontrava os móveis de novo empoeirados e sujos, como se voltassem arrependidos. Quanto a ela mesma, fazia obscuramente parte das raízes negras e suaves do mundo. E alimentava anonimamente a vida. Estava bom assim. Assim ela o quisera e escolhera. O bonde vacilava nos trilhos, entrava em ruas largas. Logo um vento mais úmido soprava anunciando, mais que o fim da tarde, o fim da hora instável. Ana respirou profundamente e uma grande aceitação deu a seu rosto um ar de mulher. O bonde se arrastava, em seguida estacava. Até Humaitá tinha tempo de descansar. Foi então que olhou para o homem parado no ponto. A diferença entre ele e os outros é que ele estava realmente parado. De pé, suas mãos se mantinham avançadas. Era um cego. O que havia mais que fizesse Ana se aprumar em desconfiança? Alguma coisa intranqüila estava sucedendo. Então ela viu: o cego mascava chicles... Um homem cego mascava chicles. Ana ainda teve tempo de pensar por um segundo que os irmãos viriam jantar — o coração batia-lhe violento, espaçado. Inclinada, olhava o cego profundamente, como se olha o que não nos vê. Ele mascava goma na escuridão. Sem sofrimento, com os olhos abertos. O movimento da mastigação fazia-o parecer sorrir e de repente deixar de sorrir, sorrir e deixar de sorrir — como se ele a tivesse insultado, Ana olhava-o. E quem a visse teria a impressão de uma mulher com ódio. Mas continuava a olhá-lo, cada vez mais inclinada — o bonde deu uma arrancada súbita jogando-a desprevenida para trás, o pesado saco de tricô despencou-se do colo, ruiu no chão — Ana deu um grito, o condutor deu ordem de parada antes de saber do que se tratava — o bonde estacou, os passageiros olharam assustados. Incapaz de se mover para apanhar suas compras, Ana se aprumava pálida. Uma expressão de rosto, há muito não usada, ressurgia-lhe com dificuldade, ainda incerta, incompreensível. O moleque dos jornais ria entregando-lhe o volume. Mas os ovos se haviam quebrado no embrulho de jornal. Gemas amarelas e viscosas pingavam entre os fios da rede. O cego interrompera a mastigação e avançava as mãos inseguras, tentando inutilmente pegar o que acontecia. O embrulho dos ovos foi jogado fora da rede e, entre os sorrisos dos passageiros e o sinal do condutor, o bonde deu a nova arrancada de partida. Poucos instantes depois já não a olhavam mais. O bonde se sacudia nos trilhos e o cego mascando goma ficara atrás para sempre. Mas o mal estava feito. A rede de tricô era áspera entre os dedos, não íntima como quando a tricotara. A rede perdera o sentido e estar num bonde era um fio partido; não sabia o que fazer com as compras no colo. E como uma estranha música, o mundo recomeçava ao redor. O mal estava feito. Por quê? Teria esquecido de que havia cegos? A piedade a sufocava, Ana respirava pesadamente. Mesmo as coisas que existiam antes do acontecimento estavam agora de sobreaviso, tinham um ar mais hostil, perecível... O mundo se tornara de novo um mal-estar. Vários anos ruíam, as gemas amarelas escorriam. Expulsa de seus próprios dias, parecia-lhe que as pessoas da rua eram periclitantes, que se mantinham por um mínimo equilíbrio à tona da escuridão — e por um momento a falta de sentido deixava-as tão livres que elas não sabiam para onde ir. Perceber uma ausência de lei foi tão súbito que Ana se agarrou ao banco da frente, como se pudesse cair do bonde, como se as coisas pudessem ser revertidas com a mesma calma com que não o eram. O que chamava de crise viera afinal. E sua marca era o prazer intenso com que olhava agora as coisas, sofrendo espantada. O calor se tornara mais abafado, tudo tinha ganho uma força e vozes mais altas. Na Rua Voluntários da Pátria parecia prestes a rebentar uma revolução, as grades dos esgotos estavam secas, o ar empoeirado. Um cego mascando chicles mergulhara o mundo em escura sofreguidão. Em cada pessoa forte havia a ausência de piedade pelo cego e as pessoas assustavam-na com o vigor que possuíam. Junto dela havia uma senhora de azul, com um rosto. Desviou o olhar, depressa. Na calçada, uma mulher deu um empurrão no filho! Dois namorados entrelaçavam os dedos sorrindo... E o cego? Ana caíra numa bondade extremamente dolorosa. Ela apaziguara tão bem a vida, cuidara tanto para que esta não explodisse. Mantinha tudo em serena compreensão, separava uma pessoa das outras, as roupas eram claramente feitas para serem usadas e podia-se escolher pelo jornal o filme da noite – tudo feito de modo a que um dia se seguisse ao outro. E um cego mascando goma despedaçava tudo isso. E através da piedade aparecia a Ana uma vida cheia de náusea doce, até a boca. Só então percebeu que há muito passara do seu ponto de descida. Na fraqueza em que estava, tudo a atingia com um susto; desceu do bonde com pernas débeis, olhou em torno de si, segurando a rede suja de ovo. Por um momento não conseguia orientar-se. Parecia ter saltado no meio da noite. Era uma rua comprida, com muros altos, amarelos. Seu coração batia de medo, ela procurava inutilmente reconhecer os arredores, enquanto a vida que descobrira continuava a pulsar e um vento mais morno e mais misterioso rodeava-lhe o rosto. Ficou parada olhando o muro. Enfim pôde localizar-se. Andando 51 52 um pouco mais ao longo de uma sebe, atravessou os portões do Jardim Botânico. Andava pesadamente pela alameda central, entre os coqueiros. Não havia ninguém no Jardim. Depositou os embrulhos na terra, sentou-se no banco de um atalho e ali ficou muito tempo. A vastidão parecia acalmá-la, o silêncio regulava sua respiração. Ela adormecia dentro de si. De longe via a aléia onde a tarde era clara e redonda. Mas a penumbra dos ramos cobria o atalho. Ao seu redor havia ruídos serenos, cheiro de árvores, pequenas surpresas entre os cipós. Todo o Jardim triturado pelos instantes já mais apressados da tarde. De onde vinha o meio sonho pelo qual estava rodeada? Como por um zunido de abelhas e aves. Tudo era estranho, suave demais, grande demais. Um movimento leve e íntimo a sobressaltou — voltou-se rápida. Nada parecia se ter movido. Mas na aléia central estava imóvel um poderoso gato. Seus pêlos eram macios. Em novo andar silencioso, desapareceu. Inquieta, olhou em torno. Os ramos se balançavam, as sombras vacilavam no chão. Um pardal ciscava na terra. E de repente, com mal-estar, pareceu-lhe ter caído numa emboscada. Fazia-se no Jardim um trabalho secreto do qual ela começava a se aperceber. Nas árvores as frutas eram pretas, doces como mel. Havia no chão caroços secos cheios de circunvoluções, como pequenos cérebros apodrecidos. O banco estava manchado de sucos roxos. Com suavidade intensa rumorejavam as águas. No tronco da árvore pregavam-se as luxuosas patas de uma aranha. A crueza do mundo era tranqüila. O assassinato era profundo. E a morte não era o que pensávamos. Ao mesmo tempo que imaginário — era um mundo de se comer com os dentes, um mundo de volumosas dálias e tulipas. Os troncos eram percorridos por parasitas folhudas, o abraço era macio, colado. Como a repulsa que precedesse uma entrega — era fascinante, a mulher tinha nojo, e era fascinante. As árvores estavam carregadas, o mundo era tão rico que apodrecia. Quando Ana pensou que havia crianças e homens grandes com fome, a náusea subiu-lhe à garganta, como se ela estivesse grávida e abandonada. A moral do Jardim era outra. Agora que o cego a guiara até ele, estremecia nos primeiros passos de um mundo faiscante, sombrio, onde vitórias-régias boiavam monstruosas. As pequenas flores espalhadas na relva não lhe pareciam amarelas ou rosadas, mas cor de mau ouro e escarlates. A decomposição era profunda, perfumada... Mas todas as pesadas coisas, ela via com a cabeça rodeada por um enxame de insetos enviados pela vida mais fina do mundo. A brisa se insinuava entre as flores. Ana mais adivinhava que sentia o seu cheiro adocicado... O Jardim era tão bonito que ela teve medo do Inferno. Era quase noite agora e tudo parecia cheio, pesado, um esquilo voou na sombra. Sob os pés a terra estava fofa, Ana aspirava-a com delícia. Era fascinante, e ela sentia nojo. Mas quando se lembrou das crianças, diante das quais se tornara culpada, ergueu-se com uma exclamação de dor. Agarrou o embrulho, avançou pelo atalho obscuro, atingiu a alameda. Quase corria — e via o Jardim em torno de si, com sua impersonalidade soberba. Sacudiu os portões fechados, sacudia-os segurando a madeira áspera. O vigia apareceu espantado de não a ter visto. Enquanto não chegou à porta do edifício, parecia à beira de um desastre. Correu com a rede até o elevador, sua alma batia-lhe no peito — o que sucedia? A piedade pelo cego era tão violenta como uma ânsia, mas o mundo lhe parecia seu, sujo, perecível, seu. Abriu a porta de casa. A sala era grande, quadrada, as maçanetas brilhavam limpas, os vidros da janela brilhavam, a lâmpada brilhava — que nova terra era essa? E por um instante a vida sadia que levara até agora pareceu-lhe um modo moralmente louco de viver. O menino que se aproximou correndo era um ser de pernas compridas e rosto igual ao seu, que corria e a abraçava. Apertou-o com força, com espanto. Protegia-se trêmula. Porque a vida era periclitante. Ela amava o mundo, amava o que fora criado — amava com nojo. Do mesmo modo como sempre fora fascinada pelas ostras, com aquele vago sentimento de asco que a aproximação da verdade lhe provocava, avisando-a. Abraçou o filho, quase a ponto de machucá-lo. Como se soubesse de um mal — o cego ou o belo Jardim Botânico? — agarrava-se a ele, a quem queria acima de tudo. Fora atingida pelo demônio da fé. A vida é horrível, disse-lhe baixo, faminta. O que faria se seguisse o chamado do cego? Iria sozinha... Havia lugares pobres e ricos que precisavam dela. Ela precisava deles... Tenho medo, disse. Sentia as costelas delicadas da criança entre os braços, ouviu o seu choro assustado. Mamãe, chamou o menino. Afastou-o, olhou aquele rosto, seu coração crispouse. Não deixe mamãe te esquecer, disse-lhe. A criança mal sentiu o abraço se afrouxar, escapou e correu até a porta do quarto, de onde olhou-a mais segura. Era o pior olhar que jamais recebera. O sangue subiu-lhe ao rosto, esquentando-o. Deixou-se cair numa cadeira com os dedos ainda presos na rede. De que tinha vergonha? Não havia como fugir. Os dias que ela forjara haviam-se rompido na crosta e a água escapava. Estava diante da ostra. E não havia como não olhá-la. De que tinha vergonha? É que já não era mais piedade, não era só piedade: seu coração se enchera com a pior vontade de viver. Já não sabia se estava do lado do cego ou das espessas plantas. O homem pouco a pouco se distanciara e em tortura ela parecia ter passado para o lados que lhe haviam ferido os olhos. O Jardim Botânico, tranqüilo e alto, lhe revelava. Com horror descobria que pertencia à parte forte do mundo — e que nome se deveria dar a sua misericórdia violenta? Seria obrigada a beijar um leproso, pois nunca seria apenas sua irmã. Um cego me levou ao pior de mim mesma, pensou espantada. Sentia-se banida porque nenhum pobre beberia água nas suas mãos ardentes. Ah! era mais fácil ser um santo que uma pessoa! Por Deus, pois não fora verdadeira a piedade que sondara no seu coração as águas mais profundas? Mas era uma piedade de leão. Humilhada, sabia que o cego preferiria um amor mais pobre. E, estremecendo, também sabia por quê. A vida do Jardim Botânico chamava-a como um lobisomem é chamado pelo luar. Oh! mas ela amava o cego! pensou com os olhos molhados. No entanto não era com este sentimento que se iria a uma igreja. Estou com medo, disse sozinha na sala. Levantou-se e foi para a cozinha ajudar a empregada a preparar o jantar. Mas a vida arrepiava-a, como um frio. Ouvia o sino da escola, longe e constante. O pequeno horror da poeira ligando em fios a parte inferior do fogão, onde descobriu a pequena aranha. Carregando a jarra para mudar a água – havia o horror da flor se entregando lânguida e asquerosa às suas mãos. O mesmo trabalho secreto se fazia ali na cozinha. Perto da lata de lixo, esmagou com o pé a formiga. O pequeno assassinato da formiga. O mínimo corpo tremia. As gotas d’água caíam na água parada do tanque. Os besouros de verão. O horror dos besouros inexpressivos. Ao redor havia uma vida silenciosa, lenta, insistente. Horror, horror. Andava de um lado para outro na cozinha, cortando os bifes, mexendo o creme. Em torno da cabeça, em ronda, em torno da luz, os mosquitos de uma noite cálida. Uma noite em que a piedade era tão crua como o amor ruim. Entre os dois seios escorria o suor. A fé a quebrantava, o calor do forno ardia nos seus olhos. obrigá-las a dormir. Ana estava um pouco pálida e ria suavemente com os outros. Depois do jantar, enfim, a primeira brisa mais fresca entrou pelas janelas. Eles rodeavam a mesa, a família. Cansados do dia, felizes em não discordar, tão dispostos a não ver defeitos. Riam-se de tudo, com o coração bom e humano. As crianças cresciam admiravelmente em torno deles. E como a uma borboleta, Ana prendeu o instante entre os dedos antes que ele nunca mais fosse seu. Depois, quando todos foram embora e as crianças já estavam deitadas, ela era uma mulher bruta que olhava pela janela. A cidade estava adormecida e quente. O que o cego desencadeara caberia nos seus dias? Quantos anos levaria até envelhecer de novo? Qualquer movimento seu e pisaria numa das crianças. Mas com uma maldade de amante, parecia aceitar que da flor saísse o mosquito, que as vitórias-régias boiassem no escuro do lago. O cego pendia entre os frutos do Jardim Botânico. Se fora um estouro do fogão, o fogo já teria pegado em toda a casa! pensou correndo para a cozinha e deparando com o seu marido diante do café derramado. — O que foi?! gritou vibrando toda. Ele se assustou com o medo da mulher. E de repente riu entendendo: — Não foi nada, disse, sou um desajeitado. Ele parecia cansado, com olheiras. Mas diante do estranho rosto de Ana, espiou-a com maior atenção. Depois atraiu-a a si, em rápido afago. — Não quero que lhe aconteça nada, nunca! disse ela. — Deixe que pelo menos me aconteça o fogão dar um estouro, respondeu ele sorrindo. Ela continuou sem força nos seus braços. Hoje de tarde alguma coisa tranqüila se rebentara, e na casa toda havia um tom humorístico, triste. É hora de dormir, disse ele, é tarde. Num gesto que não era seu, mas que pareceu natural, segurou a mão da mulher, levando-a consigo sem olhar para trás, afastando-a do perigo de viver. Acabara-se a vertigem de bondade. Depois o marido veio, vieram os irmãos e suas mulheres, vieram os filhos dos irmãos. Jantaram com as janelas todas abertas, no nono andar. Um avião estremecia, ameaçando no calor do céu. Apesar de ter usado poucos ovos, o jantar estava bom. Também suas crianças ficaram acordadas, brincando no tapete com as outras. Era verão, seria inútil E, se atravessara o amor e o seu inferno, penteavase agora diante do espelho, por um instante sem nenhum mundo no coração. Antes de se deitar, como se apagasse uma vela, soprou a pequena flama do dia. LISPECTOR, Clarice. Laços de Família. Rio de Janeiro: Rocco, 1998: 19 - 26. 53 54 3.4 - O Urbano na Literatura Brasileira do Século XX 3.4.1 - Características da Ficção Brasileira da Segunda Metade do Século XX Temática: Urbano • Narrativa ficcional transgressora (transgressão silenciosa, indireta ≠ transgressão direta); • Narrador: narra, por meio de ficção, o que observa em seu próprio tempo e espaço; (≠ narrador tradicional: aquele que conta uma história); • Ligada à violência, e/ou drogas, e/ou sexo; • Não dissemina informações ideológicas ou mesmo ideias da época; • Não apresenta um princípio narrativo à moda tradicional (é exclusivamente narrativa de acontecimento); • Não apresenta um fecho narrativo à moda tradicional (é exclusivamente narrativa de acontecimento); • Narrativa que se revela nos detalhes, nas fendas, nos subterrâneos das entrelinhas; • Histórias que expõem (apresentam) os problemas da cidade (não há questionamentos ideológicos); • Apresentação da cultura pop e televisiva da segunda metade do século XX; • Temas: música, moda, publicidade, televisão, cinema; • Simulacro narrativo; • Narrador: olhar voltado para os modelos de comunicação e sociabilidade; • Narrativa própria da Era de Informação; • Teor narrativo: as inúmeras culturas urbanas e suas várias faces; • Cidade: Paraíso Artificial X Cidade: Inferno “Real” (o horror dos abismos sociais); • Caos. 3.4.2 - Escritores Representativos do Período Juliana: Você é a vida de Sérgio! (17/12/70) Feliz Natal, Juliana! Votos de Sérgio! (24/12/70) Devo mendigar um olhar, Juliana? (26/12/70) Ah, Juliana! (29/12/70) Feliz 1971, Juliana! De todo coração, Sérgio. (30/12/70) Para que tanto orgulho, Juliana, se você é pó e pó se tornará? (7/1/71) Pelo menos um olhar, Juliana! (9/1/71) Juliana: não vá para Cabo Frio! (11/1/71) Cabo Frio dá câncer! (12/1/71, na parte da manhã) Está dando meningite em Cabo Frio! (12/1/71, na parte da tarde) Não vá, Juliana! (13/1/71) Volte de Cabo Frio, Juliana! (15/1/71) • João Gilberto Noll – O Quieto Animal da Esquina • Rubem Fonseca – A Grande Arte • Sérgio Sant’Anna – Um Crime Delicado • Roberto Drummond – A Morte de DJ em Paris, Quando fui Morto em Cuba e outros • Sônia Coutinho – O Caso Alice • Chico Buarque de Holanda – Estorvo Sem Juliana, Belo Horizonte é um cemitério! (17/1/71) 3.4.3 - Roberto Drummond: Por Falar na Caça às Mulheres Seja bem-vinda a Belo Horizonte, Juliana! (25/2/71) POR FALAR NA CAÇA ÀS MULHERES Roberto Drummond (O que foi escrito nos muros com grafite, spray e sangue) Juliana: Sérgio te ama! (13/12/70) Brasil, capital Juliana! (19/1/71) Ju: quinze dias em Cabo Frio é demais! (30/1/71) Pelo menos responda ao meu bom-dia, Juliana! (26/2/71) Juliana: você voltou mais linda de Cabo Frio! (28/2/71) Um sorriso, pelo menos, Juliana! (5/3/71) Ju: você é o ar que Sérgio respira! (17/3/71) Sérgio e Ju estão in love! (26/4/71) Ju: sem você, Sérgio prefere a morte! (21/3/71, escrito a sangue) Sérgio e Ju se amam very much! (27/4/71) Pense no que está fazendo, Juliana! (25/3/71, outra vez a sangue) Sérgio e Ju juram eterno amor! (9/5/71) Ju tem o prazo de dez dias para namorar Sérgio! (1/4/71) Ju é a alma gêmea de Serjão! (11/5/71) Se, em dez dias, Ju não namorar Sérgio, ele dá um tiro no ouvido! (3/4/71) Serjão fará Ju feliz por toda a vida! (15/5/71) (De uma coluna social, no ano de 1973) Faltam nove dias para Sérgio dar um tiro no ouvido! (15/4/71) Faltam oito dias para Sérgio dar um tiro no ouvido! (16/4/71) Faltam sete dias para Sérgio dar um tiro no ouvido! (17/4/71) Faltam seis dias para Sérgio dar um tiro no ouvido! (18/4/71) Faltam cinco dias para Sérgio dar um tiro no ouvido! (19/4/71) Faltam cinco dias para Sérgio dar um tiro no ouvido! (20/4/71, pela manhã) Juliana: você não tem coração? (20/4/71, de tarde, escrito a sangue) Faltam três dias para Sérgio dar um tiro no ouvido! (21/4/71, de manhã) Sérgio já comprou o revólver! (21/4/71, de tarde) Faltam dois dias para Sérgio dar um tiro no ouvido! (22/4/71) Falta um dia para Sérgio dar um tiro no ouvido! (23/4/71, pela manhã) Depois não diga que eu não avisei, Juliana! (23/4/71, pela tarde) É hoje, Juliana! (24/4/71) Obrigado, Ju, por salvar a vida de Sérgio! (24/4/71) Praza aos céus que este colunista possa ver, ainda nesta bendita e festiva década de 70, que assinala o “Milagre Brasileiro”, uma outra cerimônia tão tocante e tão inesquecível. Saibam todos que a Basílica de Nossa Senhora de Lourdes, régia e lindamente decorada com flores amarelas do campo, foi pequena para caber a verdadeira multidão que se espremeu e se acotovelou em todos os recantos da nave, para assistir ao Casamento do Ano, que uniu pelos sagrados laços do matrimônio dois troncos muito queridos da Tradicional Família Mineira. Refiro-me, vocês já devem saber, ao enlace de Juliana Montenegro, a bela Ju, do clã dos Montenegro, pioneiros da industrialização de Minas, e do jovem empresário e desportista Sérgio Avelar, o Serjão, do clã dos Avelar, pioneiros da fase heróica dos bancos mineiros. Em meio a empurrões, corres-corres e até mesmo a alguns desmaios, a bela Ju (que, diga-se de passagem, é um lançamento desta coluna, eleita que foi, com todos os merecimentos, Glamour Girl na promoção deste colunista) chegou à igreja com o atraso de quarenta e sete minutos, um recorde, mesmo em se tratando de noivas retardatárias. Aliás, enquanto a bela Ju não chegava, o jovem noivo, Serjão (que é como ele é conhecido nas rodas desportivas), já se postava no altar e exibia, muito orgulhoso, um telegrama de parabéns enviado pelo presidente Médici e dona Scila. E Serjão recordava para os amigos, entre risos (mas sem deixar de olhar para a porta de entrada da nave), que conquistou o coração da bela Ju, logo depois que ela foi eleita Glamour Girl, e quando, ele, Serjão, era membro do Clube dos Gaviões, utilizandose de um expediente sui generis: escrevia mensagens dirigidas a Ju em todos os muros das vizinhanças do palacete dos Montenegros (que, por sinal, ocupa todo um quarteirão). Quando, enfim, dissipados os temores e os diz-quediz sobre o atraso da Noiva do Ano, eis que a bela Ju chegou na limusine negra (que seu próprio pai, o banqueiro-industrial Juracy Montenegro, fez questão 55 56 de dirigir), e no momento em que ela desceu da limusine, houve um “oh!” de exclamação geral entre a multidão postada diante da Basílica de Lourdes e a multidão não se conteve: aplaudiu. E com toda razão, pois Juliana Campos Montenegro era a própria imagem da beleza e, visivelmente emocionada, parecia prestes a chorar,o que mais realçava a beleza de seu rosto (que o colunista Ibraim Sued elegeu como o mais belo de todo o Brasil). A muito custo, cercada por agentes de segurança em boa hora contratados, a bela Juliana Montenegro desvencilhou-se da multidão e adentrou à nave da Basílica de Lourdes, pelo braço do emocionado pai, o banqueiro Juracy Montenegro (impecável na sua elegância britânica). Nesse exato momento, o Madrigal Renascentista regido pelo maestro Isaac Karabtschewsky (que veio do Rio especialmente) começou a cantar “Va Pensiero”, de Verdi, tendo como solista a sublime Maria Lúcia Godoy. Então, a Basílica de Nossa Senhora de Lourdes, como que flutuou e era tal a beleza do quadro que os presentes (incluindo vários banqueiros amigos do casal Montenegro) não puderam conter as lágrimas. Não era para menos. Afinal, Juliana Montenegro estava linda de morrer, com um penteado simplesmente maravilhoso assinado pelo cabeleireiro Lauro Ribeiro (que cuida de sua linda cabecinha desde que Ju tinha doze anos) e uma coiffure da internacional Many Catão. E, ademais, quando o Madrigal Renascentista pôs-se a cantar “Va Pensiero” e a voz maviosa de Maria Lúcia Godoy pairou na nave, mais parecia tratar-se (talvez pela própria música “Va Pensiero”, escolhida pela noiva) de uma cerimônia ligada aos destinos da pátria... (O que foi escrito nos mesmos muros, com grafite, spray, sangue e piche, de 1973 em diante, enquanto Ju e Sérgio pareciam felizes.) ― Abaixo a ditadura! ― Fora Médici! ― Viva a Guerrilha do Araguaia! ― Ouçam a Rádio Tirana! ― Médici assassino! ― Abaixo a tortura! ― O que foi feito do nosso hipódromo? ― Prestigie a Calourada de Medicina! ― Queremos Telê no Atlético! ― Abaixo Iustrich no Atlético! ― Pílulas de Lussen ainda resolvem! ― Anule seu voto! ― Vote em branco contra farsa eleitoral! ― Liquidação é nas Casas Pernambucanas! ― Queremos nosso hipódromo já! ― Viva a maconha! ― LSD! ― Prestigie o Rei do Pão de Queijo! ― Julieta está dando! ― Maurinho é bicha! ― MDB! ― Rock concerto domingo! Campo do Cruzeiro! ― I love The Who! ― Voltem Beatles! ― Vamos viajar, gente! ― Viva a cocaína! ― Viva Chico Buarque! ― Chega de generais! ― Abaixo a ditadura! ― Fora Geisel! ― Poder para os civis! ― AI-5 é nazismo! ―Abaixo o AI-5! ― Abaixo a tortura! ― Herzog: teu sacrifício não será em vão! ― Viva Manoel Fiel! ― MDB: você sabe por quê? ― Vote contra a ditadura! Vote MDB! ― Tome Hepatovis! ― Anistia! ― Queremos anistia já! ― Anistia ampla, geral e irrestrita! ― Abaixo o AI-5! ― Abaixo às multinacionais! ― Chega de generais! ― Queremos eleições diretas! ― Fora Figueiredo! ― Viva o cheiro do povo! ― O ABC é o Brasil! ― Todo apoio à greve do ABC! ― Viva Lula! ― Greve geral amanhã! ― Anistia ampla, geral e irrestrita! ― E os mortos? Quem vai anistiar os mortos? ― Sejam bem-vindos exilados! ― Viva a UNE! ― Bem-vindo Brizola! ― Viva o Cavaleiro da Esperança! ― Arraes fala amanhã: Faculdade de Direito! ― Viva o ABC! ― João Amazonas fala amanhã: Sindicato dos Gráficos! ― Fora militares! ― Abaixo à repressão! ― Viva a greve das professoras! ― Viva a greve do ABC! ― Segunda-feira: greve da Fiat! ― Amanhã: greve da Belgo! ― Viva os operários da Volks! ― Todo apoio à greve dos enfermeiros! ― Segunda-feira: greve geral da construção civil! ― Viva os peões em greve! ― Cadeia para os assassinos de operários! ― Viva a greve dos lixeiros e garis! ― Terça-feira: greve dos médicos residentes! ― Legalidade para o PCB! ― Todo poder à classe operária! ― Simone canta amanhã no DCE! ― Cadeia para o terror! ― Cadeia para os assassinos do terror! ― Quem jogou a bomba no Riocentro? Até as crianças sabem! ― Cadeia para os terroristas do Riocentro! ― Liberdade! ― Chega de pacote! ― Viva o Gay Power! ― Abaixo a inflação! ― Fora Delfim! ― Queremos liberdade! ― Chega de militares! ― Viva os civis! ― Liberdade! ― Eles brigavam o dia inteiro e dona Juliana, coitada, não tinha paz nem para assistir às telenovelas, o que ela tanto gostava... Disse ainda Marli de Jesus que o empresário Sérgio Avelar nutria fortes ciúmes da bela Juliana que, segundo Marli, era uma pessoa muito alegre, comunicativa com todos, razão porque era adorada por ela, Marli, mais as duas domésticas Neide e Conceição e pelo caseiro Sebastião Francisco do Nascimento, o Chico Caseiro. Revelou também Marli de Jesus que as discussões do casal se acirraram depois que a bela Juliana resolveu trabalhar, abrindo a Ju Butique, no bairro da Savassi... (Quatro dias depois, nos jornais) (Da página de polícia dos jornais num dia qualquer da década de oitenta) Com três tiros de revólver disparados à queima-roupa, o empresário e desportista Sérgio Avelar matou sua bela mulher Juliana Campos Montenegro Avelar, mais conhecida como Ju, integrante da lista de “Dez Mais” e considerada a dona do rosto mais bonito do Brasil pelo colunista Ibraim Sued. O crime, que envolve duas das mais ricas e conceituadas famílias mineiras, ocorreu na mansão do casal no Alto das Mangabeiras, a apenas alguns quarteirões do palácio residencial do governador Francelino Pereira. O empresário Sérgio Avelar, o Serjão da seleção mineira de vôlei na fase de maior glória, desapareceu após o crime. Toda a cena foi presenciada pela menina Andréa, de quatro anos, única filha do casal, que gritava: ― Papai, não mata minha mãe! Segundo a doméstica Marli de Jesus, que trabalha com o casal desde o casamento, o crime foi precedido de violenta discussão, tendo, a certa altura, a ex-Glamour Girl Juliana Campos Montenegro Avelar gritado: ― Atire logo! (Ainda nos jornais, nos dias seguintes) Enquanto o empresário Sérgio Avelar continua em destino ignorado (suspeita-se que esteja numa clínica de repouso ou num sítio) e seu advogado Lins Bernardes informa que o assassino está preso de forte depressão nervosa, mas se apresentará às autoridades tão logo o médico que o assiste ache conveniente, a doméstica Marli de Jesus depôs ontem sobre o crime de que foi vítima sua patroa Juliana Montenegro, a bela Ju, e disse que, ultimamente, o casal discutia por um nada. Em novo depoimento sobre o rumoroso crime que teve como vítima a bela Ju, a doméstica Marli de Jesus revelou na Delegacia de Homicídios, na tarde de ontem, que era freqüente o empresário Sérgio Avelar, bêbado e com uma pinça na mão, interrogar e torturar a menina Andréa, única filha do casal, para saber se a esposa, a bela Ju, tinha conversado com outro homem. ― Muitas vezes ― contou Marli de Jesus ― o empresário Sérgio torturava tanto Andréa com a pinça, levando a pobrezinha a inventar uma história que comprometia sua mãe... (Certo dia nos jornais) Barbado, óculos escuros, jeans azul, mais parecia um galã de telenovela. Foi assim que o empresário Sérgio Avelar, o Serjão da seleção brasileira de vôlei de 71, que assassinou a esposa Juliana Campos Montenegro Avelar, a bela Ju, com três tiros à queima-roupa, compareceu na tarde de ontem para depor na Delegacia de Homicídios. Ele foi recebido na porta da delegacia aos gritos de “lindo! lindo!” por moças que portavam cartazes com os dizeres “Viva Serjão!”, enquanto as feministas carregavam cartazes onde estava escrito “Quem ama não mata!” e ficavam em silêncio. Pelo menos uma vez o milionário Sérgio Avelar acenou para as fãs, tendo dado três autógrafos, mas, tão logo o delegado Raul Resende, o doutor Kojac, lhe perguntou se confessava a autoria da morte de sua esposa Juliana Campos Montenegro Avelar, o empresário chorou copiosa e convulsivamente, repetindo seguidamente: ― Deus sabe por que matei, Deus sabe... Ao começar seu depoimento, os olhos vermelhos de chorar, o empresário Sérgio Avelar declarou que, nos primeiros anos de casado, viveu num verdadeiro 57 58 paraíso com a esposa Juliana. Viviam, segundo sua expressão, uma eterna lua-de-mel, realizando, de seis em seis meses, viagens ao exterior, tendo percorrido não apenas os Estados Unidos, como toda a Europa e até mesmo a Rússia, pois estiveram em Moscou e Leningrado. Como prêmio a tanta felicidade, nasceu uma filha, que recebeu o nome de Andréa. Mas quando Andréa completou três anos (isso há um ano, exatamente), o empresário começou a notar uma súbita mudança no comportamento da bela Juliana, que, segundo ele, se ligou a artistas, escritores e homossexuais, tendo-se associado a conhecido travesti da cidade, contra sua vontade, para a abertura de uma butique de roupas, a Ju Butique. Mas, logo, as discussões cessaram, uma vez que a bela Ju se desinteressou por completo pela novela “Coração Alado”. A paz do casal, no entanto, durou pouco, pois acabada “Coração Alado”, eis que a Rede Globo lançou nova novela das oito, “Baila Comigo”, de Manoel Carlos, com o ator Reginaldo Farias vivendo o papel do médico homeopata Saulo. Foi o bastante para que a bela Ju voltasse a se interessar por novelas, sendo que deixava a butique mais cedo e, após mergulhos na piscina da mansão do casal, os cabelos sexymente molhados, e vestida de maneira provocante (algumas vezes de biquíni) postava-se diante da televisão e não podia esconder o interesse quando a personagem vivida por Reginaldo Farias surgia em cena. Inconformado, o empresário Sérgio Avelar tentou levar a bela Ju a mudar de idéia, argumentando que ela devia viver para o lar e para a filha, que precisava dela, no que não foi atendido. Disse ainda o empresário que a bela Ju chamou-o de machista, usando uma expressão naturalmente aprendida com as novas amizades, quando ele disse que ela não precisava trabalhar e lhe ofereceu uma Mercedes verde, zerinho, em troca do fechamento da butique, proposta que a bela Ju recusou com veemência. Por mais de uma vez, conforme revelou em seu depoimento, o empresário Sérgio Avelar chegou a conversar com a bela Ju, admoestando-a (a expressão é dele) pelas atitudes inconvenientes e provocantes com o ator Reginaldo Farias, chegando até a proibi-la, sem sucesso, de assistir “Baila Comigo”. Nessas ocasiões a bela Ju dizia: ― Nesse dia ― contou o empresário Sérgio Avelar em seu depoimento ― ela não me deixou dormir na mesma cama, como fazíamos desde casados... Outro ponto de discórdia entre o casal era o fato da bela Ju gostar muito de telenovelas, que o empresário Sérgio Avelar considera nocivas à moral, subversivas e desagregadoras de lares. Lembrou que, durante a novela “Água Viva”, de Gilberto Braga, a bela Ju não conseguia disfarçar o entusiasmo quando aparecia no vídeo a personagem Nélson, vivido pelo ator Reginaldo Farias. A princípio, logo nos primeiros capítulos de “Água Viva”, o empresário Sérgio Avelar julgou que seria uma atração passageira. Mas, com o evoluir da novela, a bela Ju se mostrava mais e mais empolgada com Nélson, ou seja, com o ator Reginaldo Farias, o que gerou acaloradas discussões entre o casal. Conforme chegou a confessar em seu depoimento, o empresário Sérgio Avelar (usando expressões textuais suas) “respirou aliviado quando terminou a novela ‘Água Viva’ ”. E mais aliviado ficou porque, na novela seguinte, “Coração Alado”, de Janete Clair, que a TV Globo apresentou, o ator Reginaldo Farias, o Nélson de “Água Viva”, não desempenhou nenhum papel. Foi o bastante, por sinal, para a bela Ju pouco se interessar por “Coração Alado”, chegando a hostilizar o ator principal, Tarcísio Meira, chamando-o de canastrão, o que provocava sucessivas discussões, pois o empresário Sérgio Avelar defendia Tarcísio Meira, classificando-o de excelente ator, ao mesmo tempo em que dizia: ― Canastrão é o tal de Reginaldo Farias! ― Você ficou louco! Disse o empresário, já no fim de seu depoimento, que na noite que antecedeu à madrugada do crime, teve sério desentendimento com a bela Ju, por causa do ator Reginaldo Farias, já que a ex-Glamour Girl, após nadar na piscina da mansão e com um copo de uísque na mão, foi assistir à novela “Baila Comigo”, numa atitude provocante, inteiramente nua, apenas enrolada numa saída de praia. Nessa ocasião, não resistindo, o empresário Sérgio Avelar, sabendo-se traído em pensamento pela esposa, deu um tiro de revólver no aparelho de televisão, quando aparecia o ator Reginaldo Farias. Já de madrugada, com os nervos muito abalados, o empresário Sérgio Avelar ainda tentou uma reconciliação com a bela Ju, que o afastou, dizendo: ― Você atirou no homem que eu amo! Diante disso, o empresário Sérgio Avelar não se conteve e em nome de sua honra ferida disparou três tiros à queima-roupa que atingiram mortalmente a bela Ju... (O que nem os muros nem os jornais contaram: o delírio da bela Juliana Montenegro na hora da morte) No primeiro tiro, sentiu saudade de San Francisco, na Califórnia, mas nunca tinha estado lá, e caiu de joelhos com o primeiro tiro e viu uma imensa rua de uma zona boêmia só com mulheres índias, que estavam bêbadas e vestidas e cantavam um rock. Thank you, very well thank you, senhores do Brasil. Nós somos as mulheres índias do Brasil peritas em strip-tease recebemos em dólar em libra em franco e em cruzeiro. Thank you, very well ladies and gentlemen thank you for the sífilis thank you for the gonorréia crônica thank you (nunca nos esqueceremos) pela tuberculose e a lepra e o sarampo oh, yeah, thank you, very well senhores proprietários do Brasil. No segundo tiro, quis comer outra vez uma ceia que nunca comeu na Cidade do México, e quis se levantar, achando que tudo era um sonho, e outra vez caiu de joelhos, e viu milhares de participantes de um congresso nacional de moças de trottoir do Brasil, era ao longo do calçadão da Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro, e as participantes tinham de nove a vinte e três anos e havia uma alegria fabricada às custas de bebida e maconha e as moças do trottoir estavam vestidas de virgens, todas de branco, e cantavam um rock: Thank you, very well thank you, donos do Brasil. Nós somos as moças do trottoir alegramos velhos decrépitos por qualquer vintém fazemos os gringos subirem à parede por uma migalha de dólar fingimos estar gozando mas na hora no escuro dos quartos enxergamos nossos pais que nos chamam de putas e têm medo do comunismo ateu e anticristão e se ajoelham nos pés dos donos do Brasil. Oh, thank you, very well qualquer lixo da sociedade de consumo nos serve somos as moças do trottoir famintas de um pedaço de pão e carne e chegamos em casa cheirando a gringos e a velhos decrépitos. Oh, thank you, very well thank you for the prostituição que é de todo o corpo e até do coração. No terceiro tiro, dançou um tango que nunca dançou em Buenos Aires e quis andar de bicicleta, porque achava que era imortal, e flutuou como uma asa delta ou uma garça sobre o estádio do Maracanã lotado de lebres e panteras e coelhinhas e egüinhas e poldrinhas e era época da temporada de caça às mulheres do Brasil e elas cantavam: Thank you, very well thank you, donos do Brasil. Hoje não somos as suas coelhinhas venham nos comer se vocês forem homens não somos as lebres venham nos caçar se vocês forem homens não somos as panteras do Brasil venham nos amar se vocês são homens não somos nem as poldrinhas nem as egüinhas nem as Amélias do Brasil hoje somos uma rebelião que começa entre as pernas e acaba no coração... No quarto tiro, bom, não houve o quarto tiro: ela já estava morta, mas julgava-se viva e ouvia a voz de Amélia, a do samba, falando: — Pior, Ju, não é a morte no gatilho, pior é quando nos matam e nos deixam com a sensação de que estamos vivas e que somos vacas parideiras, pior, Ju, é essa morte com tiros silenciosos e que transformam nosso coração num pássaro empalhado que já não canta... (DRUMMOND, Roberto. “Por falar na caça às mulheres”. In: Quando fui morto em Cuba. 8. ed. São Paulo: Atual, 1994: 68-83) 3.4.4 – Sônia Coutinho: Camarão no Jantar CAMARÃO NO JANTAR Sônia Coutinho Chove há dois dias. A mulher sozinha trancada em seu apartamento. Está muito úmido. Acordou com o corpo todo doendo. E teve a deprimente idéia de que era reumatismo. Depois do café da manhã, achou que era preciso mudar tudo. Como? Ah, sim, grande idéia. Na verdade, repetida ao longo de anos, a mesma idéia: tentar reativar um grande amor, que permanece em banhomaria. Morno mas ainda aquecido. E na história desse amor há um jantar que o Homem Amado nunca esqueceu. Deve fazer vinte anos, mas 59 60 ele sempre fala daquele bobó de camarão preparado por ela. Antes, houve uma série de tentativas de sua mãe, de lhe ensinar a cozinhar. Sempre se recusou a aprender, achava careta. Rogério, o único homem que conseguiu, em toda a vida dela, levá-la para a cozinha. Decide ligar para ele, agora. Decorou desde o início o número do telefone do escritório de Rogério. (Um dia, lembra, disse a ele: “Se esse número, alguma vez, deixar de atender, enlouqueço. Vou ter de mudar de vida. Ou de cidade, de país, quem sabe.”) Já o telefone da casa dele, Rogério sempre deu um jeito de nunca lhe informar. Muito menos, claro, de levá-la lá. A história era horrorosa: ele era casado desde quando se conheceram, e sempre disse o contrário. Mas veio a descoberta. Ela estava em New Orleans — sua primeira viagem aos Estados Unidos, num grupo de turismo quando ligou para aquele eterno número do escritório de Rogério e ouviu a seguinte resposta de um dos dois outros advogados associados: “Ele saiu, foi levar ao médico a esposa dele, que está grávida.” Um dia inteiro ouvindo jazz em Bourbon Street e chorando. Até então tinha sido enganada — ou se enganara, voluntariamente, em dois anos de relacionamento tórrido (de sua parte). Liga agora para Rogério, atende um desconhecido (os dois outros advogados do escritório mudaram) e vai chamá-lo. Que voz a dele, maravilhosa. E sua eterna gentileza. Depois de uma rápida troca de palavras, ela convida: — Venha jantar aqui, na próxima sexta-feira. Desta vez, será bobó de camarão, prometo. — Que maravilha! Vou sim, sem falta – responde. Mas sempre se mostra entusiasmado, promete ir — e fica apenas na promessa. Nunca — ou raramente aparece. Está de férias, pode enfrentar a trabalheira. Até agora, vem convidando Rogério, com escassos resultados, para vários outros tipos de refeição. Agora, usa seu maior trunfo. Para daqui a uma semana. Assim, até dá tempo para todos os preparativos: limpar a casa, ver se está lavada sua única toalha de mesa realmente festiva (é linda), providenciar as bebidas. E ir logo comprando todos os ingredientes do bobó. Menos, claro, o camarão, que fica para a véspera. É um prato que se precisa começar a fazer no dia anterior, não dá para aprontar tudo no mesmo dia. Enquanto isso, cabe uma boa faxina no apartamento, escolher as flores que colocará nos jarros. E no que fará para criar um “clima”. (Decide deixar apenas alguns abajures acesos, em pontos estratégicos.) Pensa agora no próprio Rogério, na sedução dele. Também engordou, como ela. Mas tem uma espécie de doçura que o torna lindo. Seus dedos... Aqueles dedos grandes. Um encanto irresistível que vem... sabe ela de onde! Um homem fechado, misterioso, esconde o jogo. Enquanto durou o caso de amor deles, Rogério a fez de gato e sapato, depois vinha sempre seu perdão. Primeiro, tem de reler a receita do bobó, que não prepara há tanto tempo, ver se ainda sabe os truques. Depois fará uma lista de ingredientes. É bom lembrar que o mercado de frutas e verduras fecha na segunda-feira. Além de ser o único homem para quem gostou de cozinhar, em toda sua vida, Rogério é também o único que lhe inspirou amor à primeira vista. Coisa em que não acreditava, mas aconteceu. A paixão começou quando o viu sentado a uma escrivaninha do escritório dele (precisava de um advogado, alguém o recomendara), alto, todo grande, muito sério. A tarefa da vida dela seria amenizar aquela seriedade, só que ele não deixou. Ora, corta essa de maus pensamentos, ordena a si mesma, ao desligar o telefone. Recentemente, em conversa pelo telefone, Rogério dissera, rindo: “Você mudou minha vida...” Talvez porque soubesse que era o que ela mais esperaria ouvir, da parte dele. Deita-se no sofá e avalia o convite que acabou de fazer. Foi num impulso. Talvez não devesse. Um homem bem vestido e tratado como nunca tivera igual. Mas há a chuva, seu quase desespero. Tudo bem, fará o bobó. Ela, que sempre fez um gênero “alternativo”, ela que usava bolsas indianas, colares artesanais, ela que anda sempre com sujeitos mais para artistas, “papocabeça”. E agora Rogério, nada menos. Ele seria, com certeza, a grande aspiração de mulheres de outro tipo. Para ela, significava entrar no comum. Hoje, para combater a deprê, irá a algum lugar onde nunca foi, um restaurante mais caro. Fica imaginando qual. *** E chega a noite do prometido jantar. Todas gostam de flores, mas ela nunca pensara nisso a fundo. Até que, um dia, começou a achar uma orquídea a coisa mais linda do mundo. Sua paixão por Rogério ficava nessa clave. O curioso era ela, afinal, amar com tanta intensidade um homem assim. Tirou muitas fotos dele, admirando seu perfil grego. Um amor para ela irracional, como não acreditava que pudesse acontecer-lhe. Porque havia um detalhe: Rogério era dez anos mais novo. O que dava àquele relacionamento o indispensável caráter de impossibilidade. Era um amour fou, apesar de tudo. Chove, chove ainda. Dá um pulo do sofá, vai tomar um banho quente. E revê mentalmente, sob o chuveiro, todos os dados acumulados, ao longo dos anos, sobre aquele homem mistério. Primeiro, meses de paixão e cama. Depois, a descoberta de que ele era casado, o que a fez romper dramaticamente o relacionamento. Em seguida, um período de recaídas, relações intermitentes. Sim, admitia que gostava de prolongar as coisas, não sabia nunca pôr um ponto final, quando algo, um dia, tinha sido agradável. Apegava-se interminavelmente a pessoas, situações. Acabou havendo, no caso do Rogério, a inevitável sublimação: uma amilié amoureuse. Alimentada por telefonemas profissionais seus, pois continuava a precisar de um advogado: as eternas questões em torno dos imóveis que sua mãe alugava. Mas quase todas as iniciativas eram suas. Para ela, mais sofrimento do que qualquer outra coisa, mas não sabia como se desprender daquilo. Aquela ânsia que às vezes sentia por Rogério. Era preciso controlar-se para não telefonar mais uma vez. Como se convencer, afinal, de que aquilo não renderia nada mais além, na melhor das hipóteses, de uma eterna amabilidade? Decide sair para almoçar fora, apesar da chuva. Está acostumada a sair sozinha, a entrar nos restaurantes sem olhar em torno. Não quero descrever a angústia dessa mulher, na sala à meia-luz, enquanto o tempo passa e a comida esfria. Rogério está atrasado meia hora, mas ela ainda não sente inquietação. De vez em quando, vai até a cozinha dar uma olhada no bobó. Para acompanhar, há apenas arroz, uma refeição simplificada. Agora, Rogério está atrasado uma hora, mas ainda sente esperanças. Uma hora e meia de atraso, toda e qualquer possibilidade vai desaparecendo deste mundo. Ah, mas que história insuportável. Ah, meu Deus, que dor. Terrível, a dor dessa perda. Um amor que, no entanto, ela continua achando que não levou tão a sério quanto merecia. Por que teve aquela reação tão radical, quando soube que ele era casado? Por que não fez como todas as outras, foi levando? Como não percebeu na mesma hora que tinha de ser humilde, porque jamais esqueceria aquele amor? Um homem que, quem sabe — e isso alimenta sua dor —, ela talvez tivesse conquistado, no início, se fosse mais esperta. *** Mas há ainda um final. Que vem — ou começa a vir — quando ela descobre que Rogério estava tirando uma parte indevida do dinheiro dos aluguéis que sua mãe recebe. (No dia da descoberta, estava no escritório dele e entrou uma garota linda, com um casaco de couro preto... Sorria, sorria para Rogério.) Mesmo assim, dias depois, cheia de alguma estranha esperança de que nada disso seja verdadeiro, apenas um pesadelo, liga mais uma vez para o escritório dele. E o telefone toca, toca, ninguém atende, como sempre temeu que um dia fosse acontecer. Repete o telefonema nos dias seguintes — e nada. Descobre, afinal, através de um conhecido comum, que o escritório de Rogério faliu. Que há agora inúmeros processos contra ele, tido como trambiqueiro perigoso. E que ele fugiu, ninguém sabe para onde. 61 62 No fundo, porém, ela continua achando que ele apenas se atrapalhou, cedeu a tentações. Meses se passam e ela ainda se surpreende eventualmente esperançosa de rever Rogério. O telefone pode tocar e ela ouvirá novamente sua voz. Ou ligará para o número inesquecível e ele atenderá. Mas acaba sentindo, certo dia, depois de muito sumiço, que nunca mais verá Rogério. É uma dor profunda. Pensa ainda, desesperada, em contratar um detetive particular, para tentar localizá-lo. Mas não chega a esse ponto. Ou, pelo menos, ainda não chegou, até o momento. Por enquanto, contrata outro advogado, numa tentativa de salvar o que ainda é possível dos aluguéis. va as costas para ela e dormia. Soraia era calada e sem iniciativa, mas Zinho queria ela assim, gostava de ser obedecido na cama como era obedecido na Cidade de Deus. “Antes de você dormir posso te perguntar uma coisa?” “Pergunta logo, estou cansado e quero dormir, amorzinho.” “Você seria capaz de matar uma pessoa por mim?” “Amorzinho, eu mato um cara porque ele me roubou cinco gramas, não vou matar um sujeito que você pediu? Diz quem é o cara. É aqui do condomínio?” “Não”. Um ano depois, continua amando Rogério, mas, já, de alguma forma, conformada. Outro ano se passa. A ferida ainda existe, porém, e se ela cutucar... “De onde é?” A essa altura só entende o que essa mulher sente quem gosta muito de jazz. E, de repente, ouve Billie Holliday cantando e, com uma punhalada no peito, identifica a melodia: Can’t Help Lovin’ Dat Man. “O que foi que ele te fez?” COUTINHO, Sônia. 21 Histórias de Amor. RJ: Francisco Alves, 2002: 83 - 87. 3.4.5 - Rubem Fonseca: Cidade de Deus CIDADE DE DEUS Rubem Fonseca O nome dele é João Romeiro, mas é conhecido como Zinho na Cidade de Deus, uma favela em Jacarepaguá, onde comanda o tráfico de drogas. Ela é Soraia Gonçalves, uma mulher dócil e calada. Soraia soube que Zinho era traficante, dois meses depois de estarem morando juntos num condomínio de classe média alta da Barra da Tijuca. Você se importa?, Zinho perguntou, e ela respondeu que havia tido na vida dela um homem metido a direito que não passava de um canalha. No condomínio Zinho é conhecido como vendedor de uma firma de importação. Quando chega uma partida grande de droga na favela Zinho some durante alguns dias. Para justificar sua ausência Soraia diz, para as vizinhas que encontra no playground ou na piscina, que o marido está viajando pela firma. A polícia anda atrás dele, mas sabe apenas o seu apelido, e que ele é branco. Zinho nunca foi preso. “Mora na Taquara”. “Nada. Ele é um menino de sete anos. Você já matou um menino de sete anos?” “Já mandei furar a bala as palmas das mãos de dois merdinhas que sumiram com uns papelotes, pra servir de exemplo, mas acho que eles tinham dez anos. Por que você quer matar um moleque de sete anos?” “Para fazer a mãe dele sofrer. Ela me humilhou. Tirou o meu namorado, fez pouco de mim, dizia para todo mundo que eu era burra. Depois casou com ele. Ela é loura, tem olhos azuis e se acha o máximo.” “Você quer se vingar porque ela tirou o seu namorado? Você ainda gosta desse puto, é isso?” “Gosto só de você, Zinho, você é tudo para mim. Esse merda do Rodrigo não vale nada, só sinto desprezo por ele. Quero fazer a mulher sofrer porque ela me humilhou, me chamou de burra, ria na frente dos outros.” “Posso matar esse puto.” “Ela nem gosta dele. Quero fazer essa mulher sofrer muito. Morte de filho deixa a mãe desesperada.” “Está bem. Você sabe onde o menino mora?” “Sei.” Hoje à noite Zinho chegou em casa depois de passar três dias distribuindo, pelos seus pontos, cocaína enviada pelo seu fornecedor em Puerto Suarez e maconha que veio de Pernambuco. Foram para a cama. Zinho era rápido e rude e depois de (...) a mulher vira- “Vou mandar pegar o moleque e levar para a Cidade de Deus.” “Mas não faz o garoto padecer muito.” “Se essa puta souber que o filho morreu sofrendo é melhor, não é? Me dá o endereço. Amanhã mando fazer o serviço, a Taquara é perto da minha base.” De manhã bem cedo Zinho saiu de carro e foi para a Cidade de Deus. Ficou fora dois dias. Quando voltou, levou Soraia para a cama e ela docilmente obedeceu a todas as suas ordens, Antes de ele dormir, ela perguntou, “você fez aquilo que eu pedi?” “Faço o que prometo, amorzinho. Mandei meu pessoal pegar o menino quando ele ia para o colégio e levar para a Cidade de Deus. De madrugada quebraram os braços e as pernas do moleque, estrangularam, cortaram ele todo e depois jogaram na porta da casa da mãe. Esquece essa merda, não quero mais ouvir falar nesse assunto”, disse Zinho. “Sim, eu já esqueci.” Zinho virou as costas para Soraia e dormiu. Zinho tinha um sono pesado. Soraia ficou acordada ouvindo Zinho roncar. Depois levantou-se e pegou um retrato de Rodrigo que mantinha escondido num lugar que Zinho nunca descobriria. Sempre que Soraia olhava o retrato do antigo namorado, durante aqueles anos todos, seus olhos se enchiam de lágrimas. Mas nesse dia as lágrimas foram mais abundantes. “Amor da minha vida”, ela disse, apertando o retrato de Rodrigo de encontro ao seu coração sobressaltado. FONSECA, Rubem. Histórias de Amor. São Paulo: Cia. das Letras, 1997: 11 - 12. 3.5 - Ficção Pós-Moderna/Pós-Modernista dos Anos Finais do Século XX e Início do Século XXI • PÓS-MODERNA = ERA PÓS-MODERNA • PÓS-MODERNISTA = ESTÉTICA (ESCOLA) PÓS-MODERNISTA • Narrador: alter ego do escritor/ficcionista do final do século XX e início do século XXI apresentando, por meio de simulacro narrativo, em prosa, um passado histórico-sociofamiliar repleto de memórias, lembranças e recordações. Pesquisa histórico-ficcional (social e/ou familiar). • Ficcionistas representativos da fase: - DRUMMOND, Roberto. Hilda Furacão (1991) - SAMUEL, Rogel. O Amante das Amazonas (1992) - DRUMMOND, Roberto. O Cheiro de Deus (2001) • Ponto de vista crítico de Alfredo Bosi sobre a ficção brasileira dos anos finais do século XX: “A potencialidade da ficção brasileira está na sua abertura às nossas diferenças. Não a esgotam nem os bas-fonds cariocas nem os rebentos paulistas em crise de identidade, nem os velhos moradores dos bairros de classe média gaúcha, nem as histórias espinhentas do sertão nordestino. Há lugar também para outros espaços e tempos e, portanto, para diversos registros narrativos como os que derivam de sondagens no fluxo da consciência. (...). Na rede de uma cultura plural como a que vivemos, é a qualidade estética do texto que ainda deve importar como primeiro critério de inclusão no vasto mundo da narrativa; só depois, e em um matizado segundo plano, é que interessam o assunto ou a visibilidade dos seus referentes. Esta, por seu turno, parece depender, cada vez mais, da mídia, isto é, do mercado das comunicações. O que conta e deve sobreviver na memória seletiva da história literária é o phatos feito imagem e macerado pela consciência crítica.” (Conferir: BOSI, Alfredo. História Concisa da Literatura Brasileira. 37. ed. Rio de Janeiro: Cultrix, 1999: 437 - 438). 63 64 Se você: 1) 2) 3) 4) concluiu o estudo deste guia; participou dos encontros; fez contato com seu tutor; realizou as atividades previstas; Então, você está preparado para as avaliações. Parabéns! Referências Bibliográficas BOSI, Alfredo. História Concisa da Literatura Brasileira. 37. ed. Rio de Janeiro: Cultrix, 1999. ________. O Conto Brasileiro Contemporâneo. São Paulo: Cultrix, 1981. CÂNDIDO, Antônio. Literatura e Sociedade. 6. ed. São Paulo: Nacional, 1980. COUTINHO, Sônia. 21 Histórias de Amor. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 2002. DOURADO, Autran. O Risco do Bordado. Rio de Janeiro: Expressão e Cultura, 1973. DRUMMOND, Roberto. Quando fui morto em Cuba. 8. ed. São Paulo: Atual, 1994. FONSECA, Rubem. Histórias de Amor. São Paulo: Cia. das Letras, 1997. FRONTIN, José Luis Gimenez. Movimentos Literários de Vanguarda. Tradução de Álvaro Salema e Irineu Garcia. Rio de Janeiro: Salvat Editora do Brasil, 1979. GOTLIB, Nádia Batella. Teoria do Conto. São Paulo: Ática, 1985. GUIMARÃES ROSA, João. Primeiras Estórias. 5. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1969 (1a edição: agosto/1962). LINS, Osman. Avalovara. São Paulo: Melhoramentos, 1973. ________. “A Partida”. In: Os cem melhores contos brasileiros do século. Rio de Janeiro, Objetiva, 2000. ________. O Fiel e a Pedra. São Paulo: Sumus, 1979. LISPECTOR, Clarice. A Hora da Estrela. Rio de Janeiro: Rocco, 1998. ________. Laços de Família. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1983. ________ (e outros). “Cem anos de perdão”. In: Para gostar de ler: contos. São Paulo: Ática, 1984, vol. 9: 14-16. LYOTARD, Jean-François. O Pós-Moderno. Tradução de Ricardo Corrêa Barbosa. 2.ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1986. MOISÉS, Massaud. A criação literária. 5.ed. São Paulo: Melhoramentos, 1973. OLIVEIRA, Roberto Cardoso de (Org.). Pós-Modernidade. 1. ed. Campinas: Unicamp, 1987. ROBBE-GRILLET, Alain. Por um novo romance. Ensaios sobre uma literatura do olhar nos tempos da reificação. Tradução: T. C. Netto. São Paulo: Documento, 1969. SAMUEL, Rogel. Manual de Teoria Literária. 6. ed. Petrópolis: Vozes, 1992. SILVA, Vítor Manuel de Aguiar. Teoria da Literatura. 1.ed. brasileira. São Paulo: Martins Fontes, 1976. TELLES, Lygia Fagundes. Mistérios: Ficções. 4. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1981. 65
Download