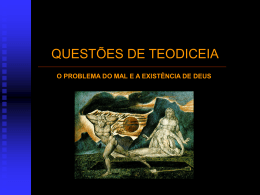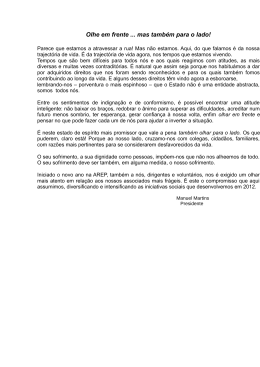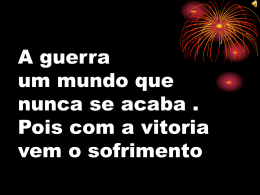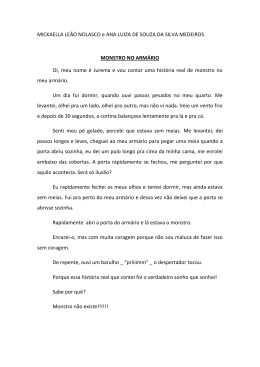1 Monstros como metáforas do mal Julio Jeha 1. Mal e sofrimento: primeiros comentários Em Pensieri, Giacommo Leopardi lamenta a perda, ainda que necessária, do consolo cego fornecido pelo mito e pela religião. O resultado, diz ele, é que o mal está em toda parte e tudo é mal.1 O mal é cometido, mas também é sofrido, e, como sofrimento, é a essência dos seres vivos.2 Já Filotetes, na peça de Sófocles de mesmo nome, reclamava do seu sofrimento, uma dor tão grande que parecia eterna, pois se alimentava de si mesma.3 Mal cometido e mal sofrido não são o mesmo, mas podem se tornar a mesma coisa, como Primo Levi e Elie Wiesel testemunharam em Auschwitz. Mas uma enxaqueca feroz também pode nos reduzir a coisas, como também o faz a dor do câncer ou um coração partido, como no mito de Níobe. O sofrimento afunda o mundo, nos embrutece, nos priva da capacidade de expressão, nos torna meros objetos, detritos numa terra devastada.4 Uma delimitação do conceito, uma definição de mal parece necessária, caso contrário, falaremos de literatura, mas não do mal em si. Porém, como chegar a um conceito filosófico de mal se os próprios filósofos falam dele como um enigma, como um mistério impenetrável? Agostinho se debateu com o problema do mal e propôs que este é uma privação do bem e, como tal, só pode ter uma não-existência.5 Como falar de uma privação senão através dos seus efeitos? Uma jarra trincada, segundo Agostinho, é má por que se afasta de sua natureza, que é ser inteira e conter água, vinho, leite ou qualquer outro líquido. A rachadura no seu bojo a torna inútil, mas como falar da rachadura senão como algo que torna a jarra sem serventia? Não falamos do estado da trinca, sua largura ou sua natureza; antes, deploramos o estrago que ela concretiza. O mesmo acontece em relação ao mal: se ele é privação, então ele nada é, e como podemos falar do nada? Paul Ricoeur afirma que, como a morte, que nenhum pensamento consegue objetivar, o mal é a pedra na qual toda filosofia tropeça.6 Neste ponto tomamos consciência de que até mesmo o sofrimento carece de palavras para ser dito. Se é difícil definir o mal, talvez seja possível discernir uma causa para ele. Em muitos de seus livros, Fiodor Dostoiévski examina a escuridão do mundo para localizar a fonte do sofrimento. Dostoiévski parece vacilar em Os irmãos Karamazov ao apontar uma causa para o mal, de que todo o mundo está impregnado, até mesmo suas partes mais recônditas.7 Um mal tão grande parece necessitar uma causa com grandeza semelhante e, assim, só Deus parece preencher o requisito. O demônio medíocre que aparece a Ivan Karamazov não é uma causa, mas antecipa a invisibilidade ou, melhor, a banalidade do mal, o tópico que Hannah Arendt 2 desenvolveu em reportagem sobre o julgamento de Adolph Eichmann em Jerusalém.8 Esse tipo de diabo parece mais apto a esconder o mal do que a incitá-lo. Em Notas do subterrâneo, o autor lança a hipótese de que o mal pode ser o vazio dentro do homem subterrâneo, um espaço livre e indiferente que o mal pode inundar.9 Para Stavrogin, em Os demônios, estupro, crime e arrependimento se igualam dentro desse vazio atroz10 O objetivo do mal em Dostoiévski parece ser o mundo inteiro escorregando em sangue, até cair no vazio. Paul Ricoeur afirma que quando o mal for compreendido, ele não será mais mal. Sua essência é a de um mistério impenetrável: uma escuridão tão densa que não conseguimos nem pensar em penetrá-la. Talvez seja ao conceder ao mal a qualidade de mistério que Ricoeur considere que o mal por si só não é representável. Numa primeira fase de suas reflexões, ele diz que é possível torná-lo visível por meio de mitos e símbolos, que, entretanto, fracassam diante do horror de Auschwitz.11 Ricoeur depois concorda com Adorno: o mal não pode ser representado — é disso que trata a literatura de testemunho — e podemos apenas mencioná-lo de modo precário, para mostrar, nas rachaduras, vazios e assimetrias da narrativa, o espaço do indizível. Ao contrário de Ricoeur, Adorno ou Lévinas, Simone Weil afirma que o mal é representável12 Ela escreve que o bem é a própria realidade, por ser o conjunto de contraditórios, e que a união dos contrários constitui o real. Mas se o bem é a união de contrários, o mal não é o contrário do bem. O que, então, é o mal? Devemos transferi-lo do nosso lado impuro, diz ela, para o nosso lado puro, transformando-o em sofrimento. No entanto, podemos entender que Weil esteja dizendo que ele é representável apenas na pessoa sofrente: como dor, como experiência de dor. Chegar ao fim da dor significa vislumbrar o fim, a fronteira do mal. O problema da representação do mal e a inadequação dos meios de expressão em face da sua imensurabilidade permanecem. O único meio que parece capaz de incluir essa enormidade em si mesmo é a narrativa. Karl Barth, defronte à impossibilidade de falar o nada, afirma que a própria teologia deve se tornar narrativa para incluir em si fratura e limite. 13 Mas a narrativa parece ser movida e libertada pela força do mal: não apenas para incluí-lo, mas para tornar-se sua cúmplice. “A literatura não é inocente”, diz Bataille; “ela é culpada e deveria reconhecer-se como tal”.14 Apenas quando a literatura reconhece sua cumplicidade com o mal é que ela cumpre sua natureza, que é comunicar o essencial. 3 2. O mal e sua origem imprecisa Em princípio, uma abordagem secular do mal deve evitar considerações religiosas, mas isso diminuiria os méritos do argumento. Como a tradição cristã moldou e informou o desenvolvimento da nossa civilização, com tudo que isso possa acarretar, qualquer análise do mal deve levar em conta a caracterização católica deste fenômeno. A escolha, então, se determina pela continuidade desde os inícios da Igreja Católica e o debate filosófico que ela ensejou. Se deixarmos de lado referências ao sobrenatural, é possível explorar e examinar as especulações teológicas e filosóficas que animaram a igreja primitiva e transportar essa análise do mal para a literatura. As duas respostas mais comuns ao mal são a da moralidade e a da sabedoria. A moralidade vê os seres humanos como agentes cônscios do mal; a sabedoria, ao contrário, “nos caracteriza como respondendo inadvertidamente a ameaças à nossa auto-identidade”.15 De acordo com a moralidade, o mal é qualquer obstáculo que impede um ser de alcançar a perfeição que, não fosse por isso, ele poderia atingir. O mal impede os indivíduos de realizar seus desejos e satisfazer suas necessidades; “surge daí, pelo menos entre os seres humanos, o sofrimento que a vida tem em abundância”.16 De maneira semelhante, para os que seguem a abordagem da sabedoria, “o mal é a qualidade frustrada do desejo insatisfeito”.17 A diferença entre essas respostas é que a moralidade foca as ações, enquanto a sabedoria mira o conhecimento. Ambas concordam que o mal se opõe ao bem, que pode ser entendido como a integridade do ser, e, por isso, o mal deve ser combatido. No dia-a-dia, mal e sofrimento aparecem como sinônimos, o que ocorre também com mal e fazer mal ou mal e infortúnio. Ao ligarmos mal e sofrimento, enfocamos o efeito; quando falamos de fazer mal, miramos na ação. Faz-se imperativo delinear melhor o conceito: o sofrimento deve ser desnecessário, supérfluo, em oposição a uma dor que possa ser inevitável num processo de cura, por exemplo. Rejeição e oposição por parte da vítima, entretanto, nem sempre são necessárias, porque alguém nascido e criado em condições desumanas pode desconhecer a possibilidade de um mundo melhor, como veremos adiante.18 Pode-se acrescentar que para a ação ser propriamente malévola, é necessário haver intenção e consciência por parte do agente; caso contrário, estaríamos falando de acidentes comuns que surgem de falta de cuidado e negligência. Tal afirmação, entretanto, não se sustenta ao levarmos em conta as atrocidades cometidas em nome do bem ou até de Deus. Stálin, Hitler e Mao Tsé-tung reconstruíram seus países ignorando a situação precária ou mesmo perseguindo e matando centenas de milhões de pessoas que eles consideravam ruinosas para os seus objetivos. Séculos antes deles, os cruzados seguiram a ordem do papa 4 para lutarem em nome de Cristo e fizeram peregrinações que eram ao mesmo tempo guerras “para recuperar territórios ou fiéis cristãos ou defendê-los” e, nesse processo de autosantificação, mataram milhares de cristãos, judeus e muçulmanos.19 Ainda que suas intenções pudessem ter sido fundamentalmente boas, tiranos e cruzados sabiam que estavam causando sofrimento. Outra objeção pode ser levantada, desta vez contra a necessidade de rejeição e oposição por parte da vítima. Anomia, abuso sexual, violência doméstica e discriminação podem gerar apatia, impedindo, assim, a vítima de reagir contra a sua condição. Ou a vítima pode não se ver como tal, aceitando inteiramente a prática cultural que pode parecer injusta a membros de outro grupo. Algumas mulheres muçulmanas podem pensar que usar uma burca lhes confere poder, enquanto ocidentais podem pensar que tal prática as degrada porque indica opressão masculina e freqüentemente oculta sinais de violência familiar. Ambos os exemplos dependem de as vítimas serem pegas numa situação da qual seja difícil escapar, quer elas tenham consciência disso ou não. No primeiro caso, a vítima pode estar desamparada por falta de força ou por ter sido levada a crer que “é assim que as coisas são”. No segundo exemplo, afiliação e orgulho cultural podem cegar a vítima para um modo de vida diferente ou pelo menos um código de vestuário que não seja ditado pela religião. O mal forma hábitos e funciona melhor quando passa despercebido. Quando o sofrimento tem causas naturais, não podemos falar de mal propriamente. Em vez disso, temos de aceitar raios, enchentes, furacões e tsunamis como elementos da natureza, cujos efeitos podemos tentar prevenir ou remediar, mas aos quais não podemos imputar intenção ou consciência. No ato de vitimar por querer, a relação se dá entre indivíduos, ao passo que no caso de calamidades naturais, a relação se dá entre indivíduos e seu ambiente. O mal, então, é necessariamente predicado na existência de seres humanos como agentes morais. Embora a maioria dos autores divida o mal em metafísico, físico e moral, poucos estão de acordo sobre o que essas categorias significam. De acordo com filósofos desde Leibniz no século 17, o mal metafísico resulta da finitude. Todos os organismos vivos estão sujeitos a esse tipo de mal, uma vez que eles morrem antes de atingir a perfeição (potencial). A morte pode ocorrer por causa tanto da luta pela sobrevivência quanto por catástrofes naturais. A natureza, assim, parece operar num regime de mal metafísico, pois seus ciclos de vida e morte, criação e destruição, continuam inexoravelmente. Se esse tipo de mal afeta “todos os seres criados universalmente e sem culpa da parte deles”, então ele “pode ser contestado, uma vez que a finitude em si mesma não é um mal”.20 De fato, se a morte é uma condição para 5 todos os seres vivos (até onde se sabe), então o mal metafísico não pode ser considerado mal propriamente. Enquanto alguns consideram tempestades e catástrofes um mal metafísico, outros classificam “cataclismos — terremotos, tufões, epidemias — que afetam áreas maiores ou menores da Terra” como mal físico.21 O mal físico afeta nossa integridade física ou mental. Cegueira ou retardo mental são considerados defeitos físicos, como o são doenças de ocorrência natural. Pobreza, opressão e algumas condições de saúde podem resultar de uma organização social imperfeita.22 Dores morais, como pesar e arrependimento, e distúrbios psicológicos, como neuroses e psicoses, são males físicos porque destroem nosso bem-estar mental. Ao contrário de suas contrapartes física e metafísica, o mal moral parece estar claramente definido. Ele consiste na desordem da vontade humana, quando a volição se desvia da ordem moral livre e conscientemente. Vícios, pecados e crimes são exemplos de mal moral. Enquanto o mal físico é sempre sofrido, quer ele afete nossa mente ou nosso corpo, o mal moral surge quando, livre e conscientemente, infligimos sofrimento nos outros.23 Para que esse tipo de mal possa ocorrer, o agente tem de se decidir a abandonar sua integridade moral; assim, ele afeta tanto a vítima quanto o agente. Para teólogos e filósofos, o problema do mal subjaz no estudo da experiência humana. Começando com Epicuro, muitos tentaram (e tentam) responder um conjunto de perguntas embaraçadoras: “Deus quer prevenir o mal, mas não consegue? Então ele não é onipotente. Ele consegue, mas não quer? Então ele é malévolo. Ele tanto quer quanto consegue? Então, de onde vem o mal?”24 Teólogos, mais do que filósofos, tentam dar razões para o mal que não culpem Deus, o que eles fazem de diversas maneiras. Alguns (os Christian Scientists, por exemplo), negam a existência do mal, mas a nossa experiência diária do sofrimento é inegável. Outros, como Agostinho e Tomás de Aquino, afirmam que o mal não existe por si só, mas sim como uma privação do bem.25 Entretanto, o sofrimento existe, e considerá-lo uma privação não o alivia de maneira nenhuma. Um terceiro grupo, guiado por Leibniz, propõe que o mal é necessário para o bem maior: a existência do mal torna possíveis a bravura, a compaixão e o auto-sacrifício. Sem o sofrimento, não teríamos essas formas do bem, eles argumentam, mas podemos objetar que não teríamos necessidade desses bens se o mal não existisse. Ainda outros, como Plantinga, afirmam que o mal resulta da liberdade de agentes morais, sem nada de natural.26 Se isso fosse verdade, então o mal natural, como terremotos, tsunamis, epidemias, etc., teria de ser causado por agentes demoníacos, os anjos caídos liderados por Satanás. Por fim, Davies e outros defendem que a bondade de Deus é diferente 6 da nossa, que o que consideramos mal é, na verdade, bem para Deus e vice-versa.27 No entanto, só a possibilidade de cometermos tal erro conceitual já é um mal. Uma discussão, com base teológica, do problema do mal aparentemente não tem fim, o que indica não ser esta a melhor maneira de abordá-lo. A partir do fim do século 19, a discussão tendeu a focar mais o mal do que sua existência supostamente problemática. Marx, Freud e Nietzsche retiraram da moral sua relativa autonomia e sua intencionalidade, reduzindo-a a outros elementos que a antecedem e a condicionam.28 Marx encontra as causas do mal nas relações de produção; Nietzsche o localiza na vontade de poder, e Freud o descobre nas pulsões libidinais. Assim, eles transformam o mal em Mal, um conceito abstrato, platônico, que reside no reino das idéias. Ao contrário, discordam alguns pensadores, a discussão deveria se concentrar nas “coisas más que tornam ruim as vidas das pessoas: dor, sofrimento, perda, humilhação, danos, terror, alienação e tédio”,29 isto é, nas ocorrências concretas de obstáculos às nossas necessidades e aos nossos desejos. Outros pensadores, por sua vez, objetam que falar de mal concreto não faz sentido, porque, a menos que toda manifestação seja a manifestação do mesmo fenômeno, é impossível falar de um em relação ao outro.30 Por focarem no indivíduo e não nas agências causadoras do mal, para eles, os indivíduos sofrem porque não se conhecem e, como resultado, não conhecem seus verdadeiros desejos. Assim, os indivíduos buscam fontes equivocadas de satisfação, frustrando-se. 3. Através de metáforas, sombriamente Se filósofos e teólogos falham ao tentar representar o mal, então escritores talvez sejam capazes de tornar o indizível visível.31 A serviço deles, figuras do discurso, principalmente metáforas, podem dar corpo a noções abstratas tais como “existência negativa”. As metáforas levam significado de um domínio ontológico para outro, criando uma relação que não se encontra na natureza.32 Falamos de Nova York como a “Big Apple” para sugerir seu aspecto fascinante, juntando uma cidade e um símbolo cultural de sedução. Se dissermos “Aquele médico é um açougueiro”, estaremos comparando um açougueiro, que corta animais, com um cirurgião, que corta seres humanos. Ao juntá-los, queremos dizer que ao cirurgião falta habilidade, finura ou até mesmo ética no trabalho. De maneira semelhante, quando falamos do mal, tendemos a criar referências metafóricas, relacionando um ser ou um acontecimento a algo que existe em um plano diferente. Entre as metáforas mais comuns que usamos para nos referir ao mal estão crime, pecado e monstruosidade (ou monstro). Quando o mal é transposto para a esfera legal, 7 atribuímos-lhe o caráter de transgressão das leis sociais; quando o mal aparece no domínio religioso, o reconhecemos como uma quebra das leis divinas, e quando ele ocorre no reino estético ou moral, damos-lhe o nome de monstro ou monstruosidade. Ao dizermos que Madame de Merteuil, em Les liaisons dangereuses, é um monstro, esperamos trazer à mente do nosso interlocutor uma idéia de excesso e transgressão que caracteriza o comportamento moral daquela personagem. Passamos do mais concreto (a vida diária, ainda que ficcional) para o mais abstrato (domínios religioso, legal, estético e moral) por meio de uma semelhança estrutural, e, ao fazer isso, esperamos ajudar nossas mentes a entender algo que, de outra maneira, poderia escapar à nossa compreensão. Como maravilhas do discurso, as metáforas têm sua contraparte nos monstros, as maravilhas da natureza. “Algo monstruoso espreita” dentro das metáforas, diz Paul de Man.33 As metáforas podem parecer perigosas, até monstruosas, porque “são capazes de inventar as entidades mais fantásticas por causa do poder posicional inerente na linguagem. Elas podem desmembrar a tessitura da realidade e entrelaçá-la de novo de maneiras as mais caprichosas, emparelhando homem e mulher ou ser humano com fera, nas formas mais antinaturais”. 34 Daí a adequação de monstros e metáforas para representar o mal. Diferente das metáforas, que têm sido “um problema perene e, às vezes, uma fonte reconhecida de embaraço para o discurso filosófico”,35 os monstros desempenham, reconhecidamente, um papel político como mantenedor de regras sociais. Grupos sociais precisam de fronteiras para manter seus membros unidos dentro delas e proteger-se contra os inimigos fora delas. A coesão interna depende de uma visão de mundo comum, que diga àqueles afetados por ela que “as coisas são assim” e não de outra maneira e “é assim que fazemos as coisas por aqui”. As fronteiras existem para manter medida e ordem; qualquer transgressão desses limites causa desconforto e requer que retornemos o mundo ao estado que consideramos ser o certo. O monstro é um estratagema para rotular tudo que infringe esses limites culturais. As definições de monstro se desenvolvem de maneira quase histórica: para os antigos gregos e romanos, o monstro era um prodígio, um aviso contra uma infração da pax deorum. Qualquer aliança que os deuses pudessem ter tido com os humanos estava para ser rescindida por causa de algum malfeito. Até meados do século 12, a palavra significava tanto prodígio quanto maravilha, e se aplicava a uma criatura meio humana, meio animal, “ou que combinava elementos de duas ou mais formas animais, e [era] freqüentemente de grande tamanho e aparência feroz”,36 resultante de uma agência sobrenatural. A Esfinge, a Quimera, o Minotauro e a Medusa indicavam que algum mal cometido estava sendo castigado. 8 Ao contrário da maioria dos gregos, Aristóteles considerava o monstro não o resultado da punição divina para faltas humanas, mas sim uma questão do estágio em que o conhecimento se encontrava. Para o filósofo, o monstro não era uma ofensa contra a natureza, mas simplesmente um desvio do que nela usualmente ocorria. Gêmeos eram monstruosos por causa de sua raridade. A redescoberta das obras de Aristóteles no século 13 pode ter direcionado o conceito de monstro para a ordem natural, pois ele adquiriu os significados de “pessoa desfigurada” e “ser malformado”.37 Sob a fluência duradoura dos seus textos, um “indivíduo com uma má-formação congênita grave” seria considerado um monstro.38 Um hermafrodita, que, nos tempos de Aristóteles, seria teras, maravilha, tornou-se monstruosidade na Alta Idade Média (1000-1300). Os limites sociais afetam nosso conhecimento do mundo e vice-versa. Toda vez que ampliamos nosso domínio epistemológico, quer conquistando novos territórios, quer desbravando-os, as fronteiras que controlam nossas vidas também se movem (embora nem de pronto, nem facilmente). O mesmo acontece quando descobrimos ou inventamos algo: nossa visão de mundo tem de acomodar outros seres ou novos fenômenos e isso pode causar incerteza epistemológica. Nossa experiência se baseia em fundamentos epistemológicos e ontológicos; mudanças epistemológicas vão gerar alterações ontológicas, e um acréscimo ontológico vai forçar nosso conhecimento a se expandir. Quando isso ocorre, sentimos que nossas expectativas de ordem — as fronteiras — estabelecidas pela ciência, filosofia, moral ou estética foram transgredidas. E transgressões geram monstros. Monstros fornecem um negativo da nossa imagem de mundo, mostrando-nos disjunções categóricas. Dessa maneira, eles funcionam como metáforas, aquelas figuras do discurso que indicam uma semelhança entre coisas dessemelhantes, geralmente juntando elementos de diferentes domínios cognitivos. O que liga os dois ou mais elementos de uma metáfora é a idéia que ela representa. O mesmo se dá com os monstros: eles estão por um aviso ou um castigo por alguma ruptura de um código — por um mal cometido. A disjunção não precisa ser apenas entre domínios cognitivos; elas podem se dar entre a idéia que temos do que é próprio de uma coisa ou um ser e a coisa ou o ser. Aristóteles nota que deficiência ou excesso caracterizam um prodígio ou monstruosidade.39 Uma galinha de duas cabeças ou um cachorro de três pernas são ocorrências raras, isto é, monstruosas. Se a ocorrência se torna comum, o fenômeno perde seu aspecto prodigioso e é aceito como natural, isto é, pertencente à ordem das coisas como as conhecemos. De maneira, semelhante, em nossa percepção, quando um fenômeno tende a se repetir, ele se torna “natural”, desde novidades na moda até coelhos geneticamente modificados, desde perseguições políticas até extermínio em massa. 9 4. A Criatura de Frankenstein: metáfora concretizada “Pois eu sou toda coisa morta” John Donne No século 19, a literatura inglesa viu cinco nascimentos monstruosos: Frankenstein, ou, o moderno Prometeu (1818, 1831), de Mary Shelley; Dr. Jekyll e Mr. Hyde (1886), de Robert Louis Stevenson; O retrato de Dorian Gray (1891), de Oscar Wilde, A ilha do Dr. Moreau (1896), de H. G. Wells, e Drácula (1897), de Bram Stoker. “Ao lado do monstro de Frankenstein (...) podemos colocar o Doppelgänger [duplo], a máscara da inocência, o criador de seres humanos e o novo e aprimorado vampiro”, anuncia David Punter. 40 Todos eles são metáforas da degenerescência humana e, assim, da essência do humano, que, como nos ensinam Leopardi e Bataille, é o próprio mal. Entre esses cinco mitos modernos, Frankenstein e a sua Criatura, que são o duplo um do outro, se destacam como uma metáfora dos males decorrentes do Iluminismo, de uma família disfuncional, da reprodução assexuada e, por fim, da ciência sem controle. A mãe de Mary Shelley, Mary Wollstonecraft, foi à Paris acompanhar o desenvolvimento da Revolução Francesa, que, como a epítome do pensamento iluminista, supostamente terminaria com a injustiça social. Após ver muitos dos seus amigos morrerem guilhotinados, Wollstonecraft voltou à Inglaterra, casou-se com o filósofo iluminista William Godwin e morreu em conseqüência do parto de Mary Godwin. Apesar dos infortúnios de Wollstonecraft durante a Revolução, Mary foi criada com valores iluministas, que foram encorajados pelo seu futuro marido, defensor do amor-livre, Percy Shelley. Percy era casado com Harriet, mas como Wollstonecraft, praticava o que pregava. Primeiro ele cometeu adultério com Mary e depois abandonou Harriet por Mary. Abandonada, Harriet, que tinha filhos com Percy, suicidou-se. Mary Godwin Shelley foi assaltada pelo remorso por ter contribuído para o suicídio de Harriet, mas porque Mary acreditava nos valores do Iluminismo, ela não podia admitir que tanto ela quanto Percy tivessem se comportado de maneira imoral. Eles tinham apenas praticado amor-livre; Harriet escolhera o seu próprio destino. Incapaz de enfrentar ou mesmo entender sua consciência culpada, Mary não conseguia se arrepender do seu pecado e se sentir livre. Então, ela sublimou sua culpa em Frankenstein, uma personagem que esposa valores iluministas (um universo mecanicista onde homens estão livres de restrições morais) como um meio para o progresso e a felicidade. Frankenstein se comporta de maneira prepóstera, até 10 mesmo idiota, pois ele parece não ver o que é aparente para qualquer leitor: ele soltou no mundo uma criatura poderosa e temível, quer essa criatura lhe agrade esteticamente ou não, e ele deve assumir responsabilidade por isso. Só que, claro, ele não faz isso. Como ele diz a si mesmo, repetidamente, ele não tem culpa nenhuma, a não ser pelo próprio ato de criação. Frankenstein se assusta ao descobrir que, em vez de um progresso feliz, suas nobres intenções resultaram num monstro que destrói os inocentes à sua volta e, por fim, ele próprio. O monstro, então, pode ser visto como a metáfora do remorso, tanto de Frankenstein quanto de Mary Shelley. Por um lado, o doloroso drama de reprodução assexuada alegoriza, em Frankenstein, o nascimento do monstro maltusiano da “superpopulação” a partir do sonho iluminista de benevolência universal e perfectibilidade orgânica e social que Godwin acalentava.41 Por outro, ele nos alerta contra uma ciência desprovida de valores morais. Ao embarcar na produção deliberada de um monstro, Frankenstein inaugura a teratogênese na ficção de língua inglesa. A Criatura representa um objeto desejado, mas logo rejeitado por se desviar dos padrões estéticos, produzindo, assim, aquela variação que define o monstro como uma diferença que destrói toda possibilidade de uma explicação genética. Ao mesmo tempo necessária e implícita nesse processo, a medida da dessemelhança é o pai abolido, o progenitor silenciado que não consegue se reconhecer nesse infante, e, no entanto, fornece o significado último para a aberração teratológica. Em Frankenstein, Mary Shelley mostra que o sofrimento é inexorável e que a verdade sobre um crime — no caso, o assassinato do irmão de Frankenstein, pelo qual Justine é falsamente acusada — nem sempre aparece. A prova material (a miniatura) convence o júri de Justine e invalida o apelo da testemunha. A evidência figura-se como um pessimismo hobbesiano sobre a natureza humana: quem quer que tenha levado a miniatura, o fez por razões egoístas. Por meio dessa figuração, o texto oferece uma defesa dialética da “justiça cega” do senhor De Lacey e as formas sentimentais de idoneidade contra a força da evidência legal e a evidência dos sentidos, supostamente incontroversa. Em contraste com a justiça natural de apelo aos sentimentos, testemunhos e idoneidade está esse modelo de justiça legal e empírica, como um tipo de justiça não natural de reconstituição monstruosa.42 A Criatura manipula a evidência para incriminar Justine, mas numa reviravolta tortuosa o monstro acaba por se implicar e fazer de si o culpado pela falsa acusação contra ela e, em último caso, pela sua morte. Embora aqui o texto pareça naturalizar uma equivalência entre monstruosidade física e moral, a narrativa iluminista que serve de moldura para essa passagem sugere que essa equação é mediada pelas circunstâncias que movem a Criatura, elas, sim, monstruosas. 11 A Criatura revela o papel do monstro na literatura: figurar o indizível. Ao oferecer uma representação problemática de um mundo empiricamente real, o monstro levanta questões sobre o bem e o mal, realçando a relação entre eles como a preocupação central da literatura. Na fantasia romântica de Mary Shelley, a percepção se torna cada vez mais confusa, os signos ficam vulneráveis a interpretações múltiplas e contraditórias, de modo que os significados recuam indefinidamente e conceitos absolutos como “verdade”, “bem” e “mal” se tornam meros pontos de fuga do texto. A retórica do indizível, marcada pela presença do monstro, torna a própria literatura monstruosa: recusando-se a ser circunscrito por uma definição, o mal causa um curto-circuito na significação ao se conectar com uma rede de metáforas sem limites. Essa lacuna entre signo e significado repete a disjunção categórica fundamental do monstro, exemplificada na criatura de Frankenstein: considerado indigno de um nome, ele será sempre uma coisa sem designação, um desejo frustrado, um grito de dor no vácuo, dramatizando a tentativa de apreender o mal e dar-lhe um significado fixo. (Uma bolsa Fulbright/Capes possibilitou a escrita desse artigo.) 12 REFERÊNCIAS ADORNO, Theodor W. Negative dialectics. Translated by E. B. Ashton. New York: Continuum, 1973. ___. Aesthetic theory. Translated by C. Lenhardt. London: Routledge, 1986. AQUINAS, Thomas. Summa theologica. Translated by the Fathers of the English Dominican Province. 5 vols. 1. Westminster, MD: Christian Classics, 1981. ARENDT, Hannah. Eichmann in Jerusalem. Rev. ed. New York: Penguin, 1994. ARISTOTLE. De generatione. Translated by Arthur Platt. Disponível <http://worldebooklibrary.com/eBooks/Alex_Collection/aristotle-on-270.htm>. em: Acesso em: 9 jan. 2006. AUGUSTINE. Confessions. ELIOT, Charles W. (Ed.). Disponível em: <http://www.bartleby.com/7/1/>. Acesso em: 10 out. 2006. BATAILLE, Georges. La littérature et le mal. Paris: Gallimard, 1957. BARTH, Karl. God and nothingness. In: ___. Church dogmatics. Trans. G. Bromiley and R. Ehrlich. Edinburgh: T. & T. Clark, 1960. v. 3/3, p. 289-368. DAVIES, Brian. Philosophy of religion. Washington, DC: Georgetown University Press, 1999. DE MAN, Paul. The epistemology of metaphor. Critical Inquiry, Chicago, v. 52, n.1, p. 13-30, 1978. DONNE, John. A nocturnal upon S. Lucies day, being the shortest day. In: GRIERSON, Herbert J. C. (Ed.). Metaphysical lyrics & poems of the seventeenth century, Donne to Butler. Oxford: Clarendon Press, 1921. 1999. <http://www.bartleby.com/105/12.html>. Acesso em: 10 out. 2006. Disponível em: 13 DOSTOYEVSKY, Fiodor. The brothers Karamazov. Trans. Ignat Avsey. New York: Oxford University Press, 1994. ___. Notes from the underground. In: ___. Notes from the underground and the gambler. Trans. Jane Kentish. New York: Oxford University Press, 1999. p. 1-124. ___. The devils. Trans. David Magarshack. London: Penguin, 1971. HUME, David. Dialogues concerning natural religion. POPKIN, Richard H. (Ed.). Indianapolis: Hackett, 1980. JOLIVET, R. Evil. NEW CATHOLIC Encyclopedia. New York: McGraw-Hill, 1967. 15 vols., v. 5, p. 665-671. KOEHN, Daryl. The nature of evil. New York: Palgrave Macmillan, 2005. KOHN, Jerome. Evil. Disponível em: <http://rs6.loc.gov/ammem/arendthtml/ essayc1.html>. Acesso em: 10 out. 2006. (The Hannah Arendt Papers at the Library of Congress.) LACLOS, Pierre Choderlos de. Les liaisons dangereuses. Paris: Gallimard, 2003. LAKOFF, George. Women, fire, and dangerous things. Chicago: University of Chicago Press, 1987. ___. The contemporary theory of metaphor. In: ORTONY, Andrew (Ed.). Thought and metaphor. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. p. 202-251. LAKOFF, George; JOHNSON, Mark. Metaphors we live by. Chicago: University of Chicago Press, 1980. LARRIMORE, Mark J. (Ed.). The problem of evil. Malden: Blackwell, 2000. 14 LEOPARDI, Giacomo. Pensieri di varia filosofia e di bella letteratura. Firenze: Le Monnier, 1921-1924. Disponível em: <http://www.libromania.it>. Acesso em: 5 set. 2006 LEVINAS, Emmanuel. The provocation of Levinas. BERNASCONI, Robert; WOOD, David (Eds.). New York: Routledge, 1988. MONSTER. In: OXFORD English Dictionary. Disponível em: <http://www.oed.com>. Acesso em: 10 mar. 2006. OPHIR, Adi. The order of evils. Trans. Rela Mazali and Hari Karel. New York: Zone Books, 2005. PLANTINGA, Alvin. God, freedom, and evil. New York: Harper & Row, 1974. PUNTER, David. The literature of terror. New York: Longman, 1980. RELLA, Franco. Figure del male. Milano: Feltrinelli, 2002. RICOEUR, Paul. Evil, a challenge to theology and philosophy. Trans. David Pellauer. Journal of the American Academy of Religion, v. 53, n. 4, p. 635-648, December 1985. ___. La symbolique du mal. Philosophie de la volonté. II. Paris: Aubier, 1960. RILEY-SMITH, Jonathan. Rethinking the crusades. First Things 101. Opinion. March 2000: 20-23. Disponível em: <http://www.firstthings.com/ftissues/ft0003/opinion/rileysmith.html>. Acesso em: 4 dez. 2005 SCHNEIDER, Steven. Monsters as (uncanny) metaphors. Other Voices, v. 1, n. 3, January 1999. Disponível em: <http://www.othervoices.org/1.3/sschneider/monsters.html>. Acesso em: 18 mai. 2006 SHARPE, A. B. Evil. THE CATHOLIC Encyclopedia. HERMERMANN, Charles G. et al. (Eds.). New York: Robert Appleton, c1909. v. 5, p. 649-653. 15 SOPHOCLES. Philoctetes. In: STEVENSON, Daniel C. (Ed.). The Internet classics archive. Disponível em: <http://classics.mit.edu>. Acesso em: 5 set. 2006. TUITE, Clara. Frankenstein’s monster and Malthus’ “jaundiced eye”: population, body politics, and the monstrous sublime. Eighteenth-Century Life, Durham, v. 22, n. 1, p. 141155, 1998. WEIL, Simone. Œuvres complètes. DEVAUX André A.; LUSSY, Florence de (Eds.). Paris: Gallimard, 1988-1990. 1 NOTAS LEOPARDI. Pensieri di varia filosofia e di bella letteratura, p. 4174. Traduzo: “Tudo é mal. Isto é, tudo que existe é mal; que cada coisa exista é um mal; cada coisa existe para o mal; a existência é um mal e organizada para o mal; o fim do universo é o mal; a ordem e o estado, as leis, o andamento ordinário do universo, nada mais são que o mal, direcionados apenas para o mal. Não há outro bem que o não existir; não há nada de bom que o não ser, as coisas que não são coisas: todas as coisas são más. O todo existente, o conjunto dos tantos mundos que existem, o universo nada mais é que uma pinta, um cisco na metafísica”. 2 LEOPARDI. Pensieri di varia filosofia e di bella letteratura, p. 4175. 3 SOPHOCLES. Philoctetes. 4 Devo este parágrafo a Figure del male, de Franco Rella. 5 AUGUSTINE. Confessions. 6 RICOEUR. La symbolique du mal. 7 DOSTOYEVSKY. The brothers Karamazov. 8 O encontro com Eichmann fez Arendt perceber que a metáfora de “raiz” é inadequada para falar da banalidade do mal, dado o seu potencial de crescimento ilimitado. Pode-se arrancar uma raiz, ao passo que o mal perpetrado por um Eichmann consegue se espalhar pelo planeta como um “fungo”, precisamente por não ter raiz (KOHN. Evil, p. 7). 9 DOSTOYEVSKY. Notes from the underground. O individualismo radical do homem subterrâneo o impede de se interessar por causas sociais, por justiça na comunidade, etc. Suas objeções surgem do seu sentido de si próprio e esse sentido exclui qualquer ligação com outras pessoas, individualmente ou em grupos, ou com idéias políticas e sociais. 10 DOSTOYEVSKY. The devils. 11 RICOEUR. Evil, a challenge to theology and philosophy. 12 ADORNO. Negative dialectics; ADORNO. Aesthetic theory; LEVINAS. The provocation of Levinas; WEIL. Œuvres complètes. 13 BARTH. God and nothingness. 14 BATAILLE. La littérature et le mal, p. 10. 15 KOEHN. The nature of evil, p. 11. 16 SHARPE. Evil, p. 649. 17 KOEHN. The nature of evil, p. 5. 18 Um caso específico é o da relação sadomasoquista, menos comum mas nem por isso desprezível, em que a inflicção de dor é consensual. 19 RILEY-SMITH. Rethinking the crusades. 20 JOLIVET, Evil, p. 666. 21 JOLIVET, Evil, p. 666. 22 SHARPE. Evil, p. 649. 23 JOLIVET, Evil, p. 667. 24 Pouco resta dos escritos de Epicuro; a citação aparece em Hume (Dialogues concerning natural religion, p. 63). Contra a prática acadêmica comum, Larrimore (The problem of evil, p. xx) indica Outlines of Pyrrhonism (ca. 200 AD), de Sexto Empírico, como a fonte mais antiga do problema do mal na forma que chegou a nós. 25 Em Summa Theologica (Q.48 A.3), Tomás de Aquino diferencia ausência como privativa ou negativa. No sentido negativo, uma ausência não afeta a natureza de um ser (por exemplo, asas e ser humano), mas no sentido privativo, sim (por exemplo, visão e ser humano). Dessa maneira, o mal não é uma negação, mas uma privação do bem. 26 PLANTINGA. God, freedom, and evil. 27 DAVIES. Philosophy of religion. 28 OPHIR. The order of evils, p. 15. 29 OPHIR. The order of evils, p. 11. 30 KOEHN. The nature of evil, p. 242. 31 Para monstros como metáforas no cinema, ver SCHNEIDER. Monsters as (uncanny) metaphors. 32 LAKOFF; JOHNSON. Metaphors we live by; LAKOFF Women, fire, and dangerous things; LAKOFF The contemporary theory of metaphor. 33 DE MAN. The epistemology of metaphor, p. 21. 34 DE MAN. The epistemology of metaphor, p. 21. 35 DE MAN. The epistemology of metaphor, p. 13. 36 MONSTER. 37 MONSTER. 38 MONSTER. 39 ARISTOTLE. De generatione, livro 1, cap. 4. 40 PUNTER. The literature of terror, p. 239. 41 O discurso da população em Thomas Malthus aparece em Essay (1798), gerado por “Of avarice and profusion” (1797) e Political justice (1793), de William Godwin. Para Malthus, a população é concebida e se move em “razão geométrica”, que projeta um crescimento incontível e imensurável da população. Como esse crescimento não é acompanhado de um aumento proporcional dos meios de subsistência, a menos que ele seja desacelerado por restrições morais ou desastres (como doença, fome ou guerra), inevitavelmente resultarão pobreza e degradação generalizadas. 42 TUITE. Frankenstein’s monster and Malthus’ “jaundiced eye”: population, body politics, and the monstrous sublime, p. 145.
Baixar