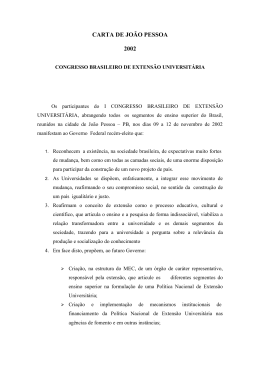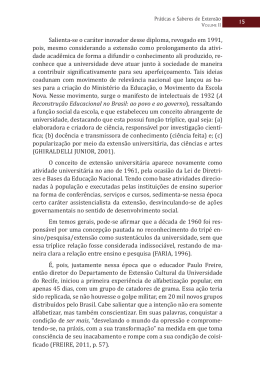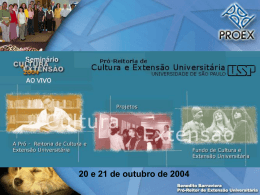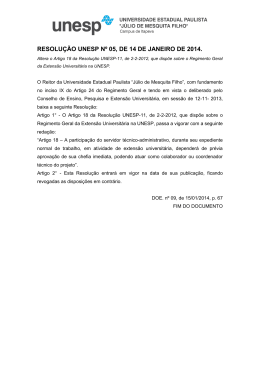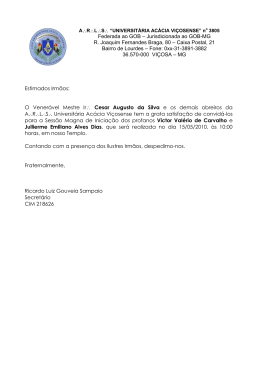De qual universidade o Brasil precisa? Renato Dagnino Este trabalho foi preparado para a discussão nas atividades programadas no Instituto de Geociências durante a greve e aguarda a contribuição crítica de professores, funcionários e estudantes. Junho 2014 S e tivesse que fazer um diagnóstico sobre a universidade pública no Brasil, eu poderia resumi-lo numa palavra: disfuncionalidade. Ela não é funcional, quer dizer, não é necessária, nem para a classe dominante nem para a classe dominada. Essa disfuncionalidade é por isso percebida tanto pela direita quanto pela esquerda. O que varia em cada caso é a proposta sobre o tipo de aliança que ela deve buscar para ganhar forças, recuperar sua legitimidade e superar a disfuncionalidade. A direita da universidade pública vem se dedicando a encontrar aliados na esfera privada. A esquerda sabe que universidade pública não rima com empresa privada e sim com o “público”. Sua busca por aliados deve estar cada vez mais orientada para a esfera pública. São os movimentos sociais e o próprio Estado os atores que precisam do (e tem direito ao) conhecimento que a universidade pública pode produzir. A empresa privada até hoje não demandou significativamente conhecimento localmente produzido. E, quando o fizer, poderá procurá-lo, para valorizar a rima, na universidade privada. A direita brasileira vê a universidade pública como disfuncional ao modelo neoliberal que desejou implementar desde finais dos anos oitenta. Um modelo de abertura econômica indiscriminada, de desindustrialização, que não necessita de uma universidade que faça pesquisa e forme recursos humanos qualificados. Uma condição característica da situação periférica foi e é a fraca demanda de conhecimentos e recursos humanos gerados localmente. Se esta situação já se fazia sentir no modelo agroexportador primário e durante a vigência do modelo de industrialização via substituição de importações, onde o problema não mudou 1 significativamente, com mais razão ela se dá no modelo neoliberal. Esse diagnóstico de disfuncionalidade por parte da direita tem como ação política uma visão pragmática da universidade e o consequente corte de tudo o que é considerado “desnecessário”, que se manifesta não somente na pressão sobre os salários e as condições de trabalho, mas também numa mudança da função e reconhecimento que hoje já não tem a universidade frente às elites políticas e o poder econômico no Brasil. Para expressar isso de uma forma muito dura: as elites universitárias já não conseguem convencer as elites do pode econômico e político que o conhecimento, o saber e, portanto, a pesquisa, universitários, podem ser importantes para o futuro. Durante muito tempo a comunidade universitária conseguiu relacionar-se com essas forças de considerável poder econômico e político, permitindo que a universidade existisse da forma que tem feito até agora no Brasil. O próprio governo militar viu na universidade pública um instrumento para seu projeto do Brasil “grande potência” e estimulou várias áreas do conhecimento, sobretudo as áreas duras. Entretanto, essa vinculação hoje se torna impossível. Os aliados que a universidade pública tem tido, de forma tácita ou explícita, inclusive durante o governo militar, já não estão mais acessíveis. Esta situação, então, de crise, de disfuncionalidade, pode ser resumida mais ou menos desta forma: a universidade já não é necessária para que a classe dominante siga com seu projeto de acumulação; a universidade, num país cada vez mais dependente do ponto de vista tecnocientífico, é muito cara para ser desnecessária. E é seu alto custo e baixa legitimidade que a colocam cada vez mais indefesa frente às ameaças de privatização. E o diagnóstico da universidade feito pela esquerda? A universidade pública no Brasil, até os anos 1960, foi responsável pela maior parte da matrícula de terceiro grau. No começo dos anos 1960, antes do golpe militar, a universidade pública era responsável por algo em torno de 70% da matrícula do ensino superior. Hoje está entre 20 e 30%. Esse número varia. É maior nos estados do nordeste, onde as elites conseguiram pressionar para que lá se estabelecessem universidades federais. As elites dos estados mais ricos, como São Paulo e os mais ao sul, não pressionaram o governo federal. De fato, a porcentagem de matrículas públicas no Estado de São Paulo é de mais ou menos 15%. Isso quer dizer que cerca de 85% dos estudantes do terceiro grau estudam ao setor privado. Por outro lado, do total de jovens brasileiros entre 18 e 24 anos, somente 15% está no terceiro grau. O que quer dizer que apenas 3 a 4% recebem nas universidades 2 públicas uma educação que pode ser considerada “de qualidade”. Nos países desenvolvidos, como no Canadá, 80% dos jovens nessa faixa etária está na universidade. Estes dados nos dão uma ideia de como a universidade no Brasil é elitista ou, melhor dizendo, é elitizada. Devo adicionar que, caso se possa falar de qualidade (uma vez que o conceito que adotamos é socialmente construído nos países de capitalismo avançado), a universidade privada tem uma qualidade muito baixa e não faz pesquisa. Ela é considerada por muitos como uma “fábrica de fazer diplomas”. Enquanto que as pessoas que entram na universidade pública, quer dizer, que passam no vestibular, tendem a ser as que fizeram ensino fundamental e médio privados, que nesses níveis é melhor. Então se dá o paradoxo bem conhecido de que as pessoas com menos recursos estão nas universidades privadas e os ricos estão na universidade pública. Essa situação faz com que também exista um diagnóstico pela esquerda acerca da disfuncionalidade. Para ela, a universidade pública não representa como no passado uma alternativa ou possibilidade de ascensão social para as classes de baixa renda. A ascensão social não ocorre mais pela via da universidade. No modelo de substituição de importações existia a possibilidade, ou ao menos a meta, de que o Brasil, depois de substituir importações, pudesse também substituir a tecnologia necessária para produzir esses bens. O abandono desse modelo, que se manifestou na abertura comercial – e que não por acaso se dá e simultâneo ao desmantelamento das redes tecnoeconômicas que tinham como núcleo as empresas estatais que foram privatizadas –, inviabilizou essa meta. As atividades de pesquisa, tanto a adaptativa, realizada nos institutos públicos da área industrial que implementavam a proposta da vinculação universidade–empresa, quanto a universitária, concebida em torno de uma agenda mais qualificada, que iria alavancar o projeto de autonomia tecnológica formulado pelos militares, se tornaram desnecessárias. Em conclusão, poderíamos dizer, voltando a que afirmei no início, que hoje a universidade pública não é funcional, quer dizer, não é necessária, nem para a classe dominante nem para a classe dominada. Esta situação, entretanto, não é percebida dessa forma pelo movimento docente nem pelas forças políticas de esquerda que se manifestam na universidade. Seguimos defendendo uma concepção de universidade (ou um modelo ou projeto) que não corresponde ao momento em que vivemos. Ao fazê-lo, contribuímos para que o que está ocorrendo há muito tempo: a universidade pública vem sendo atacada pelas forças conservadoras, perdendo capacidade de convencimento, prestígio, legitimidade 3 e força política. A maneira como se pretende enfrentar essa crise estrutural e as de natureza conjuntural, como as greves que se sucedem e às vezes chegam a durar quase um ano, como ocorreu com a Universidade Autônoma do México, em 1999, é o que se conhece como uma “resposta reflexa”; aquela que levou os dinossauros à extinção frente a um planeta que mudava. Nas greves, o que tem feito o movimento docente é adotar uma atitude meramente sindical, de defender nossas justas reivindicações corporativas. Temos tentado “provar” aos dirigentes universitários (muitas vezes entendidos como nossos patrões, como se não fossem colegas que, lamentavelmente e por culpa do próprio movimento docente nunca foram expostos a uma discussão como a que se pretende fazer neste documento) e como se eles não soubessem (!) que sim, há recursos, para conceder os reajustes que demandamos. E entramos na armadilha de discutir valores, porcentagens etc., sem atentar para o fato de que, se não tivermos um projeto que oriente nossa universidade no sentido que demanda a sociedade (e os mais pobres que pagam o imposto que se transforma no salário que recebemos), e se não o implementarmos de modo adequado, não vamos convencer ninguém. Nossa atitude, que possui caráter implícito de superioridade (um “gosto”, lá “no fundinho”, daquela pretensão de que nos acusam), como se tudo o que fazemos estivesse correto e adequado ao que a sociedade espera de nós, e que se o único que precisássemos fossem mais recursos para melhor cumprir a nossa missão, vai ser cada vez mais criticada. As forças conservadoras e a sua mídia tenderão a convencer a sociedade de que nossa sula disfuncionalidade não poderá ser revertida – endogenamente – por nós. Não merecem confiança pessoas cada vez mais alheias à realidade que essas forças, mas também os movimentos sociais, estão apontando. Submergida no cientificismo-produtivismo, de um lado, e, de outro, numa dinâmica tecnocientífica programada, convencional obsoletismo presidida planejado, pelo lucro, consumismo que origina exacerbado deterioração e degradação ambiental a universidade, dirão ela, não deve mais orientar-se a si mesma. Mas a comunidade universitária segue em geral tentando convencer as elites políticas e econômicas de sua importância e necessidade, e se queixa que o governo não a entende, não valoriza a ciência, que os empresários são atrasados, não fazem pesquisa, não são patrióticos, e por isto não demandam a pesquisa e os profissionais produzidos pela universidade. É um discurso defensivo e como tal se esgota em si mesmo, não gera uma ação eficaz, muito menos um projeto para o futuro. Parece que a comunidade universitária perdeu a possibilidade de formular um projeto alternativo que lhe permita ganhar força, apoio e propor algo distinto. Esta situação se agrava a cada ano e não tem solução a persistirem as características que se vêm manifestando até agora. 4 Entretanto, as mudanças que se podem visualizar para o futuro nos trazem a pergunta sobre o que fazer com a universidade pública, como recompô-la, em que direção, com qual projeto? Durante o governo militar, sabíamos como combater o inimigo, mesmo sem que tenhamos logrado grandes resultados, sabíamos o que fazer. Mas, quando os militares foram embora e começou o governo civil, o movimento docente parece ter ficado desorientado e ainda segue assim. O contexto mudou e vai mudar de uma forma muito radical, e é necessário preparar a reação da universidade, do movimento docente, diante disso. Durante o governo militar, uma estratégia defensiva que a universidade desenvolveu para se preservar foi se isolar do adverso contexto político. Levantando a bandeira da qualidade e insistindo na necessidade de critérios acadêmicos de contratação e promoção, ela conseguia ficar a salvo do autoritarismo e oportunismo dos regimes militares. Mas se escondendo defensivamente atrás dos biombos da “ciência pura”, não prestou atenção à possibilidade de gerar conhecimento relevante para sua sociedade. Este foi um traço característico da nossa universidade pública durante o período que, bem distante dos ideais da Reforma de Córdoba e da proposta engajada da Universidade de Brasília, estávamos todos de acordo que ela deveria ser uma trincheira contra o autoritarismo. Na atualidade, a universidade pública orienta seu ensino e sua pesquisa, que é onde isto aparece de modo mais evidente, de uma forma exógena. As agendas e os critérios de investigação são tentativas de se emular o que se faz nos países desenvolvidos. Uma imitação do que nós chamamos uma “dinâmica de exploração da fronteira do conhecimento”, mas que é na realidade um conhecimento cada vez mais monopolizado (a metade da pesquisa que se faz hoje no mundo é feita nas multinacionais). Não há consciência por parte dos pesquisadores brasileiros de que poderia haver outro tipo de tecnocientífica (ou de ciência e tecnologia) e de pesquisa distinta da que se faz por e para as empresas dos países desenvolvidos. Ainda subjazem no trabalho científico e na concepção daqueles que o desempenham, sejam de direita ou de esquerda – sem distinção ideológica, portanto –, os mitos da Neutralidade e do Determinismo tecnocientífico. Como se a tecnociência avançasse num caminho linear e inexorável. Como se a ciência fosse universal e o conceito de qualidade que emana desta noção devesse ser o único padrão de avaliação da atividade de pesquisa. Esses mitos que ainda predominam na universidade têm raízes muito antigas que remontam ao nascimento da própria ciência, na origem do capitalismo, que surgem 5 em confrontação com a religião, criticando o pensamento dogmático, substituindo a fé pelo método. Mas caso se preste atenção no que acontece de fato, se percebe que essa maneira de pensar não faz sentido. Já não se pode falar de ciência e de tecnologia, de pesquisa básica e pesquisa aplicada, como se tratasse de atividades ou processos separados; pelo contrário, desde as últimas décadas do século XX, o correto é falar de tecnociência. Os critérios de localização e de temporalidade utilizados até agora para diferenciar ciência básica de aplicada e ciência de tecnologia já não funcionam. Enquanto o critério locacional localizava a ciência básica na universidade e a ciência aplicada ou o desenvolvimento tecnológico na indústria, o critério temporal indicava que a ciência básica não serve para o imediato senão para o futuro, enquanto que o desenvolvimento tecnológico é para amanhã. Hoje, as 20 empresas que mais gastam em pesquisa no mundo investem mais que a França e Grã-Bretanha, dois países líderes em muitos campos do conhecimento, que junto com outros seis gastam 90% do que se investe no mundo em pesquisa. A pergunta é: essas 20 empresas fazem ciência básica ou ciência aplicada? Uma dessas grandes empresas tem dez prêmios Nobel em sua folha de pagamento, enquanto que o Japão, para dar um exemplo, teve seis prêmios Nobel em ciência, e apenas três trabalhavam em seu país no momento de recebê-lo. O que quero dizer com isto é que cada vez mais a pesquisa que nós chamamos de básica se faz na empresa. Portanto, o critério espacial para distinguir ciência de tecnologia já não é verdadeiro. O critério de tempo também não funciona. Se alguém olha a história das inovações desde começos do século XX, vai se dar conta que o tempo que medeia a invenção e a inovação ou entrada de um produto no mercado, antes se contava em décadas, depois em anos e agora em meses. Hoje, no mundo, 70% da pesquisa que se realiza é gasto em empresas. E desses, 70% em empresas multinacionais. O que significa que a metade da pesquisa que se faz no mundo se faz em empresas multinacionais que, como sabemos, adoram o meio ambiente, adoram o gerar emprego. Quer dizer, a dinâmica tecnocientífica que temos (e que emulamos em nossa universidade) está condicionada pelo interesse dos grandes conglomerados multinacionais, da indústria armamentista etc. A pergunta então é: por que continuar trabalhando com a ideia que devemos emular esse padrão de ciência que obviamente não é neutro, que serve às grandes potências e está cada vez mais monopolizado pelas grandes empresas dos países ricos? É claro que esta forma de produção do conhecimento está enviesada pelos países ricos e pelas classes dominantes. Portanto, os bens que incorporam a tecnologia mais recente jamais vão chegar a beneficiar o conjunto da população de nossos países. É uma falácia a ideia oriunda da concepção da Neutralidade e do Determinismo de 6 que essa maneira de explorar a fronteira do conhecimento pode ser funcional e adaptada para um projeto de incorporação da maior parte da população brasileira que está fora, para não falar do mercado, do território em que os direitos de cidadania são respeitados e garantidos. Evidentemente, esta é uma afirmação polêmica. Entretanto, hoje um grupo crescente de professores e pesquisadores no Brasil está criticando o “alto clero da ciência dura” porque ainda não é capaz de admitir isto. Quando nos países avançados se lançou no mercado o computador pessoal, pouquíssimas famílias tinham acesso a ele. Mas isto não foi um problema porque, numa sociedade com ganhos bem distribuídos e uma economia em crescimento, rapidamente o PC penetrou em a toda a pirâmide de ganhos e hoje virtualmente está em todas as casas dos Estados Unidos. É evidente que isso não acontece em países como os nossos. Da mesma forma que a esquerda latino-americana criticou a ideia de que temos que crescer para depois distribuir, é muito ingênuo acreditar que essa maneira de desenvolver o conhecimento pode servir para a grande massa da população. No Brasil, como no resto da América Latina, há uma grande necessidade de satisfazer demandas materiais de bens e serviços relacionados a infraestrutura, telecomunicações, estradas, alimentação, habitação, saúde etc. – o que nós chamávamos nos anos 1970 de necessidades básicas. Entretanto, caso se observe a orientação que teve a exploração da fronteira do conhecimento, pode-se ver que o conhecimento e as tecnologias disponíveis para produzir esses bens e serviços se estancaram ao longo do tempo, não foram rejuvenescidas com conhecimento novo. Dessa forma, se hoje no Brasil queremos produzir casas ou fornecer água potável para satisfazer o imenso déficit que temos, teremos que fazer pilhas de tijolos como faziam os babilônios ou como os romanos. O “progresso tecnológico” se orientou, como é natural que ocorra em sociedades capitalistas, para atender à demanda pujante dos ricos dos países ricos. Não se desenvolveu conhecimento eficaz para o que necessitam os pobres dos países pobres. E assim se deu com qualquer tecnologia relacionada com infraestrutura e produção de bens e serviços. Em todos os casos vamos observar que são extremamente ineficientes e ambientalmente desastrosas. Entretanto, a maior parte dos professores universitários e pesquisadores costumam dizer que os problemas associados à satisfação das necessidades básicas são meramente políticos. Não são tecnológicos e muito menos científicos. A Argentina, por exemplo, tem a possibilidade de produzir e produz comida para 700 milhões de pessoas – conforme tenho lido –, tem 40 milhões de habitantes e 20 milhões passam fome. Há tecnologia para produzir comida para todos os argentinos? Eu tenho certeza que não. Porque se a tecnologia se produz de forma concentrada, a produção vai estar 7 concentrada. Dou outro exemplo: no Brasil vamos ter que acelerar a reforma agrária. Como a faremos: dividiremos a terra, daremos a cada camponês uma pá, um enxadão e um saco de sementes? É obvio que não. Isso seria condenar a experiência ao fracasso. Obviamente se necessita um padrão tecnocientífico distinto que permita ao pequeno produtor ser competitivo. E esse pacote tecnológico não é o da Monsanto, não somente porque é insustentável do ponto de vista ambiental, mas porque é inacessível para o pequeno produtor. Outro exemplo: 50% das casas no Brasil não têm água potável. Como se resolve isto? Basta conectar todas as casas à rede com tubos de plástico baratos para que qualquer família pobre possa comprá-los? Novamente devo dizer que não. Estamos falando de milhões e milhões de casas, por isso estamos obrigados a resolver primeiro outros temas como: de onde tirar a água, como transportá-la, como tratá-la, como distribuí-la, o que fazer com a água oferecida, assegurar que haja água para todos. Todos esses são problemas que têm um componente tecnocientífico, que não somente exige que façamos pesquisa, senão que, além disso, de uma forma que não sabemos fazer e que não se faz em nenhuma parte: pesquisa interdisciplinar que trabalhe por problema e não por disciplina. Em definitivo, acredito que o futuro contém desafios que, pela primeira vez, podem fazer que com a universidade brasileira não seja um luxo, mas sirva realmente a um projeto. O segmento de esquerda da comunidade universitária tem que convencer os pesquisadores e os professores de que, sim, há necessidade de uma universidade pública de pesquisa no futuro que a sociedade quer construir. Teremos que pensar juntos, na universidade, uma nova política de alianças da universidade que inclua os movimentos que lutam pelo aprofundamento da democracia. A estratégia de persuadir as elites políticas ou econômicas para que voltem a acreditar na importância da universidade e da pesquisa, tem que ser trocada por outra visão que procure outros aliados na sociedade. As elites políticas e econômicas podem muito bem sobreviver sem a universidade. Entretanto, para satisfazer as necessidades básicas do conjunto da sociedade, para agregar valor às matérias primas que produzem nossos países, necessita-se de conhecimento novo. É certo que o Brasil e todos os países da América Latina não vão poder, nem é intenção de nenhum governo progressista que o povo elegeu dando um basta ao neoliberalismo imperialista, fechar fronteiras. Vamos ter que seguir “vivendo” no mercado internacional, possivelmente com uma atitude mais agressiva em relação aos centros de poder internacional, os bancos etc. Eu acredito que se apresenta no futuro para o governo brasileiro uma oportunidade e uma missão, que é justamente criar um 8 bloco que nos permita ter uma posição mais firme no mercado internacional frente aos grupos de poder. No que se refere ao comércio propriamente dito, o Brasil segue sendo um país exportador de produtos primários e segue exportando suas mercadorias com pouca elaboração e com pouco valor agregado. E isso se deve em grande medida ao fato de que não conseguimos desenvolver tecnologias que nos permitam dar conta da especificidade de nosso país, de nossa riqueza natural, de nossa mineração, de nossa biomassa etc. Somos um país que ainda segue colonizado; mas desde sempre, por nossas elites com mentalidade de intermediários coloniais. A alteração desse quadro possui evidentes desdobramentos para o que temos que conceber, como tentam fazer os países avançados ainda submergidos no pântano do neoliberalismo ao clamarem por uma sociedade do conhecimento, a nossa sociedade o conhecimento. A sociedade que estamos ajudando a construir terá que ser intensiva em conhecimento. E para isso, cada vez mais, temos que pensar as áreas das políticas públicas que se relacionam mais diretamente com o conhecimento (e a política de ensino e de C&T são aqui fundamentais e fundantes) como germes de uma futura política cognitiva que orientará nosso caminho na direção de uma sociedade em que o conhecimento seja de todos e para todos; compartilhado e produzido por todos. A disfuncionalidade que estamos discutindo vai continuar enquanto a comunidade universitária se mantiver refratária e “se fizer de surda” aos sinais de relevância que os movimentos sociais estão emitindo cada vez com maior intensidade e, nos dois sentidos do termo, frequência. Mas se ela se convencer de algumas ideias básicas a respeito de como a ciência pode ser transformada, então há uma oportunidade de que a universidade pública no Brasil tenha um futuro brilhante, que não só signifique a possibilidade de uma boa educação a um número crescente de jovens. As dificuldades são muitas, porque qualquer tentativa de reorientar a agenda de pesquisa é vista por parte da comunidade científica como uma intervenção perniciosa. Os temas de pesquisa são escolhidos de forma muito pouco racional, sem participação; a política científica e tecnológica segue sendo controlada predominantemente pela comunidade científica e não tem havido possibilidade de trazer novos atores para participar desse processo. Essa situação leva a um círculo vicioso, no qual novos temas não têm como entrar na agenda e, ademais, se agrava por algo que é tradicional nos arquipélagos que são nossas universidades, a incompreensão e a dificuldade de diálogo entre os “inexatos” e os “desumanos”. Tudo isso debilita a capacidade de resposta e de transformação do potencial cognitivo 9 de professores, pesquisadores, funcionários e estudantes. Pelo que pude ver até agora na América Latina, a comunidade universitária segue dando respostas reflexas diante de uma situação que mudou profundamente. Alguns têm uma visão simplista da universidade. Ela é vista por um segmento da esquerda do movimento docente – equivocada e ingenuamente – como apenas mais uma arena da luta de classes. Outros têm uma visão despolitizada e despolitizadora da universidade, porque alegam querer evitar a qualquer preço o risco da partidarização que, segundo eles, nos conduziria à mediocridade. No fim das contas, dizem que o conhecimento não é "politizável", é neutro, e nós temos que nos guiar pelo que faz Berkeley, Stanford etc. Afirma-se que atuando dessa maneira estaremos cumprindo com nosso dever. Mas muitos já querem desfazer-se desta postura do que os colegas argentinos mais críticos denominam o “cumplo-y-miento”, pois sabe que o “cumplimiento” do seu dever aponta noutra direção. A cultura política da comunidade científica no Brasil – e na Argentina creio que é igual –, ainda tem uma referência importante no marxismo. E numa leitura possível de Marx, a ciência e a tecnologia são neutras, seguem um caminho inexorável. O motor da história é o avanço das forças produtivas; esse avanço linear e inexorável é o que, tensionando as relações de produção, transforma a humanidade em cada momento de ruptura histórica. O avanço contínuo das forças produtivas é o que leva a mudança de um modo de produção a outro levando da escravidão, ao feudalismo, ao capitalismo, ao socialismo e ao comunismo. Essa leitura simplista e positivista do Marxismo ainda está no centro do pensamento da esquerda tradicional. Ela ainda segue entendendo que a ciência é boa em si mesma, e o que pode ser boa ou má é a sua utilização, a tecnologia. Essa ideia, já questionada desde os anos de 1970 pelos pesquisadores dos Estudos Sociais da Ciência e Tecnologia da natureza do conhecimento já não faz sentido. Mas sei que é muito difícil levar essa discussão à universidade justamente porque o pensamento da esquerda ortodoxa rechaça essa ideia, não entende que poderíamos fazer outro tipo de pesquisa, que poderíamos explorar a fronteira do conhecimento de outra forma. Outro tema central nessa discussão é como se avalia o que se faz na universidade. Parece-me cada vez mais necessária uma forma de avaliação universitária e científica alternativa. As formas de avaliação tradicionais se centram na “qualidade”, mas o que é a qualidade? Nos países desenvolvidos a sociedade emite sinais de relevância que indicam o que é relevante. Esse sinal é recebido pela sociedade científica de uma forma muito sutil, de uma forma que ela mesma não se dá conta que o recebe. Entretanto, os campos de relevância que emitem esses sinais estão aí e o que faz a comunidade científica é trabalhá-los com qualidade. E qualidade, 10 nesse caso, é o julgamento dos pares. Quando falo de relevância não estou fazendo nenhum juízo de valor. Os Estados Unidos, nos anos 1980, chegou a gastar 70% dos recursos públicos para pesquisa na área militar. Somado ao gasto que ia para a energia nuclear e aeroespacial, isso chegava a 85%. Os 15% restantes eram para agricultura, saúde etc. Mas não há nenhuma dúvida que a população estadunidense (ou o establishment que a representava) naquele momento acreditava que isso era importante. Havia um sinal de relevância e os cientistas faziam com qualidade o que era considerado importante. Portanto, nos países desenvolvidos a relevância é essencial, é necessária, é ex-ante. A qualidade é adjetivo, não é necessária, é ex-post. A qualidade, portanto, não é universal, é socialmente construída. Nós que temos uma situação e condição periférica, na qual as empresas não fazem pesquisa e o Estado e os movimentos sociais não demandam conhecimento, não emitimos sinais de relevância. Isto faz com que a comunidade científica não escute e, às vezes, se faça de surda. A comunidade científica nos países desenvolvidos produz recursos humanos que vão ser empregados nas empresas para inovar. Nos EUA, 70% dos mestres doutores que se formam em ciência dura vão à empresa privada para fazer pesquisa. O Brasil está formando 40 mil mestres e doutores ao ano, e somente 4 mil trabalham nas empresas locais fazendo pesquisa. O que quer dizer que, se esse número aumentar 10%, no ano vem teremos uma demanda adicional de apenas 400! Mas a realidade é ainda pior. De fato, entre 2006 e 2008, enquanto formamos 90 mil mestres e doutores em ciências duras, apenas 68 profissionais foram contratados pelas empresas para fazer pesquisa! O que indica que o esforço que faz a universidade para treiná-los para colocá-los à disposição das empresas e que tampouco as bolsas que crescentemente fornece o governo para que elas os absorvam, tampouco pode ser considerada uma “coisa certa”. Numa sociedade em que não há demanda por “pessoal bem formado” para as empresas e que, ademais, o critério que se usa para conformar a agenda de pesquisa e ensino é exógeno e absurdo, uma vez que baseado na “qualidade” (e, por isto na relevância dos países avançados), é claro que há uma enorme necessidade de refazer esses critérios de avaliação e produzir uma nova agenda de pesquisa. Outra insuficiência é a maneira de entende e elaborar a política de C&T. Muitas vezes se diz por aqui que a empresa não faz pesquisa, então a universidade deve fazer pesquisa e logo colocá-la ao alcance da empresa. Mas se nos Estados Unidos, do total do gasto das empresas com pesquisa, somente 1% é utilizado para contratar pesquisas com a universidade (o 99% restante é gasto intramuros), o que se espera que possa acontecer na América Latina? 11 Não existe informação semelhante para o caso brasileiro, mas o que divulga o IBGE é que das 30 mil empresas inovadoras somente 7% se relacionam com universidades e institutos de pesquisa. E que 70% destas consideram estas relações de baixa importância. O que sugere o mesmo em relação à pouca relevância que possui para elas (80% das quais dizem, dando prova da irrepreensível racionalidade que orienta o empresariado periférico, baseia sua estratégia de inovação na compra de máquinas e equipamentos) as medidas que defende a comunidade de pesquisa, que não por acaso é o ator hegemônico da Política de C&T, para reforçar sua lucratividade e, assim se alega, a competitividade do país e o bem-estar de seu povo. Medidas que visam a incrementar a relação universidade-empresa, como as de criação incubadoras, polos e parques tecnológicos, e de estímulo ao patenteamento universitário e ao estabelecimento de parcerias via projetos conjuntos, pouca importância têm para modificar o capotamento racional dos excelentes empresários locais e o crescimento do país; menos ainda para o seu desenvolvimento. Em vez de seguir insistindo com o mito dos parques, polos e incubadoras, é hora de apoiar-nos na realidade estadunidense para “entender” o que significa a relação universidade-empresa. A universidade não serve à empresa como produtora de conhecimento intangível. Serve como produtora de recursos humanos que sabe fazer pesquisa e que fará nas empresas. A realidade estadunidense questiona, também, a falácia de que as universidades podem se autofinanciar vendendo serviços ou resultados de pesquisas à empresa: somente 1% do “orçamento” da universidade estadunidense vem dessa atividade. Até agora, discussões políticas (de policy e de politics) com caráter estratégico (que pesquisa faremos, que alunos queremos formar, qual é o papel da universidade etc.?) não ocorrem nos órgãos de direção da universidade, nos conselhos, nas congregações, nas reuniões de departamento. O que faremos com nossa representatividade política na universidade? Ainda não conseguimos fazer com que essas discussões penetrem nos organismos políticos. O que sugere que como professores e pesquisadores, façamos isso nas salas de aula e nos nossos laboratórios. Que possibilidade temos de mudar a gestão da universidade senão politizando, no bom sentido do termo, a vida universitária? Só à medida que essa politização ganhar corpo, conseguiremos mudar a realidade de nossa universidade e de sua relação com a sociedade. Eu não vejo outra forma. 12 13
Download