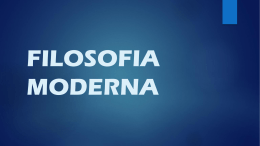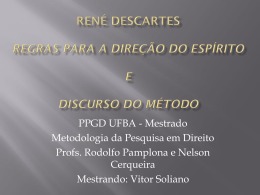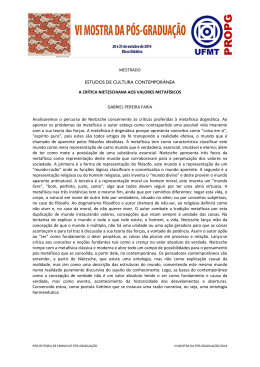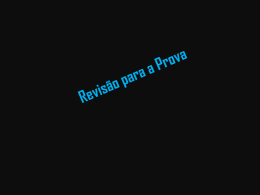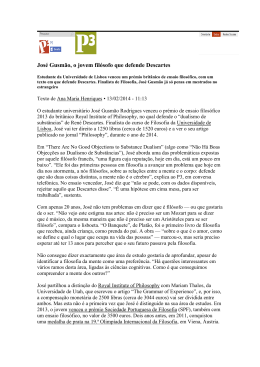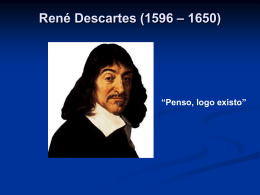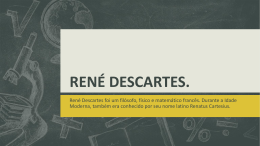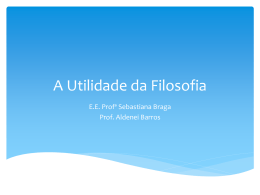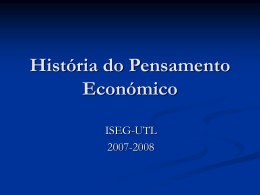FILOSOFIA E EDUCA
ÇÃO
AÇ
APROXIMAÇÕES E CONVERGÊNCIAS
Paulo Eduardo de Oliveira
(organizador)
2
FILOSOFIA E EDUCAÇÃO
APROXIMAÇÕES E CONVERGÊNCIAS
Paulo Eduardo de Oliveira
(organizador)
Círculo de Estudos Bandeirantes
2012
3
Com a educação presente, o homem não atinge
plenamente a finalidade da sua existência. [...]
Podemos trabalhar num esboço de educação mais
conveniente e deixar indicações aos pósteros, os
quais poderão pô-las em prática pouco a pouco.
Immanuel Kant
4
Copyright © 2012
Todos os direitos desta edição reservados ao
CÍRCULO DE ESTUDOS BANDEIRANTES
OLIVEIRA, Paulo Eduardo de (org.)
Filosofia e educação: aproximações e convergências /
Paulo Eduardo de Oliveira (org.). Curitiba: Círculo de
Estudos Bandeirantes, 2012.
ISBN
978-85-65531-01-6
1. Filosofia. 2. Educação. 3. História da Filosofia.
4. Filosofia da Educação.
Inclui bibliografia.
5
CÍRCULO DE ESTUDOS BANDEIRANTES
Afiliado à Pontifícia Universidade Católica do Paraná
Rua XV de Novembro, 1050 - Curitiba – Paraná
Fone: (41) 3222-5193
http://www.pucpr.br/circuloestudos/
Presidente: Prof. Dr. Clemente Ivo Juliatto
Diretor: Prof. Sebastião Ferrarini
Conselho Editorial
Prof. Dr. Agemir de Carvalho Dias – FEPAR
Prof. Dr. Edilson Soares de Souza – FTBP
Prof. Dr. Eduardo Rodrigues Cruz – PUCSP
Prof. Drª Etiane Caloy Bovkalovski – PUCPR
Prof. Dr. Euclides Marchi – UFPR
Prof. Dr. Gerson Albuquerque de Araújo Neto – UFPI
Prof. Dr. Jean Lauand – USP
Prof. Dr. Jean-Luc Blaquart – Universidade Católica de Lille (França)
Prof. Dr. João Carlos Corso – UNICENTRO
Prof. Dr. Joaquín Silva Soler – PUC-Chile
Prof. Drª Karina Kosicki Bellotti – UFPR
Prof. Dr. Lafayette de Moraes – PUCSP
Prof. Drª Márcia Maria Rodrigues Semenov – UNISANTOS
Prof. Drª Maria Cecília Barreto Amorim Pilla – PUCPR
Prof. Dr. Paulo Eduardo de Oliveira – PUCPR
Prof. Dr. Silas Guerriero – PUCSP
Prof. Dr. Uipirangi Franklin da Silva Câmara – FTBP
Prof. Drª Wilma de Lara Bueno – UTP
6
Nota do Organizador
A sequência dos capítulos obedece, na medida do
possível, a própria cronologia dos pensadores aqui
contemplados. Esta mesma sequência é utilizada para a
apresentação da breve biografia dos respectivos autores
dos capítulos, na sessão Sobre os Autores.
Procurou-se, ao longo de toda a obra, dar certa
homogeneidade aos formatos das citações e referências
bibliográficas utilizadas. Contudo, respeitou-se também
o estilo de cada autor e, sobretudo, tomou-se o cuidado
para manter as peculiaridades na forma de citação dos
textos clássicos da Filosofia que, em muitos casos, não
se alinham às normas técnicas vigentes.
As notas de rodapé têm numeração sequencial em toda
a obra, independentemente do capítulo, de modo a
manter a unidade do trabalho.
7
SUMÁRIO
APRESENTAÇÃO [10]
SOBRE OS AUTORES [13]
A PEDAGOGIA ANTES DA PEDAGOGIA [19]
Barbara Botter
SÓCRATES E A FORMAÇÃO DO MESTRE: VIRTUDE, ÉTICA E
ESPIRITUALIDADE [32]
Ricardo Tescarolo
AGOSTINHO DE HIPONA: A VERDADE, OS SENTIDOS E O
“MESTRE INTERIOR” [42]
Rogério Miranda de Almeida
TOMÁS DE AQUINO: FILOSOFIA E PEDAGOGIA [57]
Jean Lauand
BOAVENTURA E A FILOSOFIA: O ENSINO UNIVERSITÁRIO [74]
Eduardo Vieira da Cruz
MONTAIGNE: CETICISMO E EDUCAÇÃO [100]
Celso Martins Azar Filho
DESCARTES, MÉTODO E CONHECIMENTO [121]
Ethel Menezes Rocha
8
LOCKE, O CONHECIMENTO E A EDUCAÇÃO [144]
Gustavo Araújo Batista
KANT E A TAREFA DA EDUCAÇÃO [162]
Vera Cristina de Andrade Bueno
ROUSSEAU: A EDUCAÇÃO DOS SENTIMENTOS E
DAS VIRTUDES [178]
Ericson Falabretti
HEGEL, HISTÓRIA DA FILOSOFIA E EDUCAÇÃO [198]
Luiz Fernando Barrére Martin
AS CRÍTICAS DE MARX E HUME À FILOSOFIA COMO
FUNDAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO [208]
Samuel Mendonça
GOTTLOB FREGE E O ENSINO DA MATEMÁTICA [239]
Lafayette de Moraes
Carlos Roberto Teixeira Alves
NIETZSCHE: PARA UMA PEDAGOGIA DA AMIZADE [256]
Jelson Roberto de Oliveira
FREUD E O IMPOSSÍVEL OFÍCIO DA EDUCAÇÃO [286]
Fátima Caropreso
EDUCAÇÃO, VIDA E COTIDIANO: UMA LEITURA A PARTIR DA
PRAGMÁTICA DE LUDWIG WITTGENSTEIN [300]
Bortolo Valle
GASTON BACHELARD: ESPÍRITO DE ESCOLA E SOCIEDADE [329]
Fábio Ferreira de Almeida
9
FOUCAULT, A EDUCAÇÃO E AS RESISTÊNCIAS AGONIZANDO A
MÁQUINA PANÓPTICA [345]
Gilmar José De Toni
REFLEXÕES A PARTIR DO TEXTO “RACIONALIDADE E
REALISMO” DE JOHN SEARLE [367]
Kleber Bez Birollo Candiotto
SARTRE, EXISTENCIALISMO E EDUCAÇÃO [389]
Daniela Ribeiro Schneider
CONSIDERAÇÕES SOBRE A INFLUÊNCIA DA FILOSOFIA
GRAMSCIANA NO PENSAMENTO DE DERMEVAL SAVIANI [405]
Célia Kapuziniak
ÉTICA E EDUCAÇÃO: UMA REFLEXÃO A PARTIR DA NOÇÃO DE
CONHECIMENTO FALÍVEL EM KARL POPPER [422]
Paulo Eduardo de Oliveira
10
APRESENTAÇÃO
O empenho filosófico destina-se não somente à
compreensão do mundo e do homem, mas também, ainda que
implicitamente, à educação deste mesmo homem, cuja vida se
desenrola na relação com o mundo. A prática educativa, por
sua vez, encerra em seu interior uma determinada visão do
homem e do mundo e, portanto, inclui uma posição filosófica
definida, mesmo que tal posição nem sempre seja objeto da
consciência dos atores envolvidos no processo educativo. Não
se pode negar, portanto, as íntimas relações que se
estabelecem entre Filosofia e Educação. Trata-se, certamente,
não de sobreposições ou interferências arbitrárias, mas, isso
sim, de mesclas teórico-conceituais que se foram tecendo
juntas (o que corresponde ao sentido literal da palavra
complexo ou complexidade), como os diferentes fios que se
juntam para constituir uma única peça.
Dos antigos gregos aos filósofos dos nossos dias,
percebem-se muitas trilhas de aproximação entre os distintos
campos do saber filosófico e da ciência pedagógica,
evidenciando-se, desse modo, as possibilidades inauditas de
entrecruzamento e de diálogo, de convergências e de
aproximações entre os habitantes destes dois espaços de
teorização-compreensão da vida, do homem e do mundo. Dos
Pré-Socráticos a Popper, os mais destacados filósofos também
se dedicaram, de uma forma ou de outra, a atividades de
ensino e docência; por outro lado, a maior parte dos grandes
pensadores da educação, como Rousseau, Vygotsky, Piaget,
11
Gramsci e Paulo Freire, por exemplo, também se revestiu de
uma bagagem filosófica significativa.
Os ensaios reunidos neste volume estão assentados,
precisamente, nesta perspectiva dialógica e convergente entre
Filosofia e Educação. Objetivam, desse modo, servir aos
intelectuais que se dedicam aos dois campos do saber, porque
são filósofos-educadores ou educadores-filósofos. Destinamse, ainda, aos estudantes de Filosofia e de Educação que, no
esforço rigoroso e específico de suas áreas de investigação,
sentem a necessidade de compreender sempre mais as
interconexões entre o amor ao saber e a dedicação em educar. Não
se trata de uma obra que encerra todas as questões nem que
apresenta uma visão exaustiva de toda a história do
pensamento filosófico em suas relações com o saber
pedagógico. Mesmo assim, tem-se aqui uma abordagem
bastante ampla de toda a filosofia, dos filósofos pré-socráticos
aos pensadores atuais, em 22 diferentes perspectivas.
Como o leitor poderá verificar, na sessão Sobre os
Autores, os co-autores desta obra têm a mais alta qualificação
em seus respectivos campos de investigação, o que confere a
este trabalho um elevado grau de profundidade dos temas
tratados. Quero ressaltar, ainda, que todos estes co-autores são
profissionais profundamente comprometidos ao mesmo
tempo com a Filosofia e com a Educação, não só na tarefa de
elaboração teórica destes dois campos, mas na própria
atividade profissional de pesquisa e de ensino.
A cada um dos co-autores, quero manifestar minha
mais profunda gratidão por todo o empenho na construção
desta obra coletiva. Sem a presença generosa de cada um
deles, este livro seria apenas mais um habitante do mundo da
utopia. Mas, em razão de seu comprometimento, esta obra
tornou-se realidade e, hoje, pode ser oferecida ao público
brasileiro.
Agradeço também ao Círculo de Estudos Bandeirantes,
Órgão Cultural afiliado à Pontifícia Universidade Católica do
12
Paraná, que acolheu este trabalho para publicação. Ressalto,
com esta referência, que o Círculo de Estudos Bandeirantes,
nas primeiras horas do século XX, foi a instituição responsável
pelo surgimento das primeiras escolas superiores de Filosofia
em Curitiba e no Estado do Paraná, contribuindo para fazer
nascer a Universidade Federal do Paraná e a Pontifícia
Universidade Católica do Paraná. Esta entidade é um exemplo
vivo do quanto a Filosofia e a Educação andam de mãos dadas
nas trilhas da história.
Fazemos votos de que as propostas aqui apresentadas
sejam como sementes plantadas em terreno fértil, permitindo
que brotem novos horizontes para a Filosofia e para a
Educação neste nosso país, tão carente de ambas.
Prof. Paulo Eduardo de Oliveira
Pontifícia Universidade Católica do Paraná
13
SOBRE OS AUTORES
BARBARA BOTTER
Licenciada em Filosofia e Doutorado em Filosofia Antiga pela
Universidade Ca’Foscari de Veneza, desenvolvido em co-tutel
na Universidade Charles de Gaulle-Lille III. Pós-doutoramento
na Universidade de São Paulo. Foi Professora da PUC-Rio
entre os anos de 2008 a 2010.
RICARDO TESCAROLO
Possui doutorado em Educação pela USP, mestrado em
Educação pela PUC-SP, graduação em Letras Português-Inglês
e em Pedagogia. É professor do Programa de Pós-Graduação
em Educação da PUCPR, onde também exerce o cargo de PróReitor Comunitário.
ROGÉRIO MIRANDA DE ALMEIDA
Doutor em filosofia pela Universidade de Metz e em teologia
pela Universidade de Estrasburgo, ambas na França. É
professor no programa de Pós-Graduação de Filosofia da
Pontifícia Universidade Católica do Paraná, professor de
filosofia na FASBAM (Faculdade São Basílio Magno) e de
teologia sistemática no Studium Theologicum, em Curitiba.
14
JEAN LAUAND
Professor Titular Sênior da Faculdade de Educação da
Universidade de São Paulo. Professor do Programa de PósGraduação em Educação da FEUSP. Professor do Programa de
Pós-Graduação em Educação da Universidade Metodista de
São Paulo. Fundador e Presidente do CEMOrOc – Centro de
Estudos Medievais Oriente e Ocidente, do EDF-FEUSP.
EDUARDO VIEIRA DA CRUZ
Possui doutorado em Filosofia e mestrado em História da
Filosofia pela Université de Paris IV; tem ainda mestrado em
Filosofia pela Universidade de São Paulo e graduação em
Ciências Biológicas pela Universidade do Estado do Rio de
Janeiro. Atualmente, é Professor na Universidade Federal do
Estado do Rio de Janeiro.
CELSO MARTINS AZAR FILHO
Doutor em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Atualmente é Professor do Departamento de Filosofia
da Universidade Federal Fluminense e Professor Colaborador
no Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade
Federal do Rio de Janeiro. Trabalhou como Pesquisador
Convidado pela École Normale Supérieure de Lyon em 2009 e
em 2011, e é líder do Laboratório de Estudos Renascentistas
(LERen-UFF).
ETHEL MENEZES ROCHA
Possui graduação pela PUC-Rio, mestrado em Filosofia pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutorado pela
Boston University e pós-doutorado pela Yale University.
Atualmente é Professora da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, membro de corpo editorial e revisora de periódico da
Revista Analytica (UFRJ).
15
GUSTAVO ARAÚJO BATISTA
Professor do Programa de Mestrado em Educação da
Universidade de Uberaba-MG. Professor titular da Faculdade
de Ciências Humanas e Sociais da Fundação Carmelitana
Mário Palmério, em Monte Carmelo-MG. Possui graduação
nas áreas de Letras e Filosofia pela Universidade Federal de
Uberlândia (UFU), pela qual também é Mestre em Educação;
Doutor em Educação pela UNICAMP, tem pós-doutorado em
Educação pela Universidade Federal de Uberlândia.
VERA CRISTINA DE ANDRADE BUENO
Possui graduação em Filosofia e mestrado em Filosofia pela
PUC-Rio; tem doutorado em Filosofia e Estética das Formas
pela Université de Paris X, Nanterre, e pós-doutorado na
University of Pennsylvania. Atualmente é professora
assistente da PUC-Rio.
ERICSON FALABRETTI
Possui graduação em Filosofia pela UFPR, mestrado e
doutorado em Filosofia pela Universidade Federal de São
Carlos. Atualmente é Professor Titular e coordenador do
Programa de Pós-Graduação em Filosofia da PUC-PR.
LUIZ FERNANDO BARRÉRE MARTIN
Possui graduação em Filosofia pela Universidade de São
Paulo, graduação em Direito pela Universidade Presbiteriana
Mackenzie, mestrado em Filosofia e doutorado em Filosofia
pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente, é
professor da Universidade Federal do ABC.
16
SAMUEL MENDONÇA
Samuel Mendonça tem doutorado em Educação (Filosofia da
Educação) pela Universidade Estadual de Campinas.
Atualmente, é Professor Pesquisador e Coordenador do
Programa de Pós-Graduação em Educação da PUC-Campinas.
É assessor científico da FAPESP - Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de São Paulo.
LAFAYETTE DE MORAES
Possui graduação em Física pela Universidade de São Paulo,
graduação em Matemática pela Faculdade Nacional de
Filosofia da Universidade do Brasil, especialização em
Filosofia e mestrado em Filosofia (Lógica) pela Universidade
de São Paulo. Tem doutorado em Filosofia (Lógica) pela PUCSP e pós-doutorado pela Universidade de Munchen.
Atualmente, é professor titular da PUC-SP e da Faculdade São
Bento.
CARLOS ROBERTO TEIXEIRA ALVES
Mestre em Filosofia pela PUC-SP, pesquisando na área de
lógica, em especial “semântica da verdade” de Alfred Tarski.
Atualmente, é professor no Colégio de São Bento, no Colégio
Mundo Atual e da Escola Estadual Joaquim Eugênio Lima
Neto, em São Paulo.
JELSON ROBERTO DE OLIVEIRA
Doutor em Filosofia, professor do Programa de PósGraduação em Filosofia da PUC-PR, onde é coordenador do
Curso de Licenciatura em Filosofia. Autor de vários artigos
publicados em revistas especializadas e dos livros A solidão
como virtude moral em Nietzsche (Curitiba: Champagnat, 2010) e
Para uma ética da amizade em Friedrich Nietzsche (Rio de Janeiro:
7Letras, 2011), entre outros.
17
FÁTIMA CAROPRESO
Professora do Curso de Psicologia e do Programa de PósGraduação em Psicologia da Universidade Federal de Juiz de
Fora. Bacharel em Psicologia e Psicóloga pela Universidade
Federal de São Carlos (UFSCar); Mestre em Filosofia e
Metodologia das Ciências e Doutora em Filosofia pela mesma
instituição. Realizou estágio de pós-doutoramento no Instituto
de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de
Campinas.
BORTOLO VALLE
Possui graduação em Filosofia e Especialização em Filosofia
da Educação e em Didática do Ensino Superior pela PUC-PR.
Tem mestrado em Filosofia e doutorado em Comunicação e
Semiótica pela PUC-SP. Atualmente, é Professor do Programa
de Pós-Graduação em Filosofia da PUCPR, e docente do
UNICURITIBA e da FAVI.
FÁBIO FERREIRA DE ALMEIDA
Professor da Faculdade de Filosofia da Universidade Federal
de Goiás. Possui graduação em Filosofia e mestrado em
Filosofia pela Universidade Federal de Goiás; doutorado em
Filosofia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro,
desenvolvido em co-tutel com a Université de BourgogneFrança.
GILMAR JOSÉ DE TONI
Doutor em Filosofia pela Universidade Estadual de Campinas,
Mestre em Filosofia pela Universidade Federal da Paraíba,
Bacharel e Licenciado em Filosofia e Licenciado em História
pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Atualmente é
professor da Universidade Federal da Integração Latino
Americana.
18
KLEBER BEZ BIROLLO CANDIOTTO
Possui graduação em Filosofia e Especialização em Ética pela
PUCPR; mestrado em Educação pela mesma universidade e
doutorado em Filosofia pela UFSCar. Co-autor dos livros
Filosofia da linguagem, Filosofia da Ciência e Fundamentos da
pesquisa científica, pela Editora Vozes, e do livro Da psicologia às
ciências cognitivas, pela editora CRV. Atualmente, é professor
do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da PUC-PR.
DANIELA RIBEIRO SCHNEIDER
Psicóloga, professora do Departamento de Psicologia da
Universidade Federal de Santa Catarina, Mestre em Educação,
Doutora em Psicologia Clínica, Pós-Doutora pela
Universidade de Valência (Espanha), autora de vários
capítulos de livros e artigos sobre psicologia existencialista,
saúde mental, álcool e outras drogas. Autora do livro Sartre e a
Psicologia Clínica (Editora da UFSC, 2011).
CÉLIA KAPUZINIAK
Possui graduação em Filosofia pela Universidade Federal de
Santa Catarina e mestrado em Educação pela Universidade
Federal de Uberlândia. Foi professora de Filosofia da PUCPR.
É co-autora de Docência: uma construção ético-profissional
(Papirus).
PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA
Doutor e Mestre em Filosofia das Ciências Humanas pela
PUCSP, com Pós-Doutorado pela UFPR. Graduado em
Filosofia pela PUCPR e especialista em Filosofia Política pela
UFPR. Atualmente, é professor titular do Departamento de
Filosofia da PUCPR. Autor de Introdução ao pensamento de Karl
Popper (Champagnat, 2010, em parceria com o Prof. Bortolo
Valle); Da ética à ciência: uma nova leitura de Karl Popper (Paulus,
2011).
19
Capítulo 1
A PEDAGOGIA ANTES DA PEDAGOGIA
Barbara Botter
FILOSOFIA, PEDAGOGIA E POLÍTICA: UMA UNIDADE
O título deste capítulo carrega uma ambiguidade: ao
falar da pedagogia antes da pedagogia, falamos de que
exatamente? Pretendemos tratar de uma pedagogia que,
afastada de nós o suficiente para ser considerada só filosofia,
ainda assim não abandona as características peculiares que a
definem como pedagogia, compartilhando conosco um mesmo
ethos e um mesmo território conceitual? Ou, antes, vamos nos
ocupar de um conjunto de ideias, de noções, de sentidos e de
valores que nasceram na Grécia Antiga e que serão utilizados
para definir e delimitar o âmbito conceitual da hodierna
pedagogia? Na verdade, uma e outra coisa: ao falar da
pedagogia na primeira ocorrência do termo mencionado no
título, falamos da paideia grega que se sobrepõe à filosofia e
continua a viver na pedagogia contemporânea (segunda
acepção do termo) como repertório de pensamentos e ações.
No período da Grécia clássica, filosofia, educação,
antropologia e política coincidem. A filosofia grega não
precisou criar uma nova disciplina chamada pedagogia, pois a
convergência entre os dois pensamentos era algo natural. A
filosofia é pedagógica e a pedagogia é filosófica, assim como a
filosofia-pedagogia é política e a política é filosófico-
20
pedagógica. A educação de um indivíduo perpassa as
finalidades da retórica ou da matemática, pois o objetivo
maior concentra-se no desenvolvimento das potencialidades
do homem em si e como indivíduo da Polis. Esta convicção
pode ser vista neste trecho da República de Platão.
- A presente discussão indica a existência dessa faculdade na
alma e de um órgão pelo qual se aprende. Como um olho que
não fosse possível voltar das travas para a luz, senão
juntamente com todo o corpo, do mesmo modo esse órgão
deve ser desviado juntamente com a alma toda das coisas que
se alteram, até ser capaz de suportar a contemplação do Ser e
da parte mais brilhante do Ser. A isso chamamos o bem. Ou
não?
- Chamamos.
- A educação seria, por conseguinte, a arte desse desejo, a
maneira mais fácil e mais eficaz de fazer dar a volta a esse
órgão, não a de fazer obter a visão, pois já a tem, mas uma vez
que ele não está na posição correta e não olha para onde deve,
dar-lhe os meios para isso (PLATÃO, 1993, 518 C-D).
Somente na época atual a filosofia e a pedagogia se
definem como processos distintos. Na sua origem, a filosofia é
propriamente um projeto educativo; num segundo momento,
a filosofia fornece os fundamentos do projeto pedagógico e a
pedagogia vira uma consequência do progresso filosófico;
num terceiro momento, a filosofia assume a tarefa crítica
relativa às teorias educacionais (PAVIANI, 2008, p. 5-25).
Para entender esta evolução da relação entre filosofia e
educação, é necessário voltar ao passado e à figura dos antigos
filósofos.
É importante compreender em que grau dependemos
dos conhecimentos herdados dos antigos, ao invés de achar
que o passado, por simples necessidade cronológica, não vive
conosco. Na realidade, nosso entendimento do passado, além
de ser um acontecimento cristalizado no tempo, é também a
vivência do passado em nós, através do nosso jeito de pensar e
21
se comportar. Dessa maneira, a paideia1 dos antigos se
manifesta em nós como atitude de agir e de raciocinar.
Herdamos uma forma de reflexão que foi inaugurada pela
filosofia, isto é, um jeito de procurar as respostas para aquelas
questões “relevantes” que os gregos também consideraram
importantes. Em primeiro lugar, destaca-se a importância que
damos à razão, considerada pelos filósofos o instrumento para
buscar e compreender o elemento responsável (aitia) pelos
acontecimentos naturais e pelas ações humanas. É importante
lembrar que o exercício da razão rende o homem
independente do recurso à tradição, a qual tem autoridade
apenas pelo fato mesmo de ser tradição e por não aceitar ser
colocada em dúvida. A relevância da tradição perde
progressivamente a supremacia com as invasões dos povos
vindos do norte da península balcânica, por volta do século
XII antes de Cristo e, com isso, perde importância a figura do
basileus, o rei, exaltada nos versos da Ilíada e da Odisséia. Uma
vez emudecidas as palavras do rei, e com elas a verdade
depositada na tradição, os discursos míticos, poéticos e
religiosos deixam de satisfazer as exigências pedagógicas dos
gregos. Essa carência é o que fará os homens procurarem
outros caminhos e buscarem perguntas que nunca precisaram
ser feitas antes: qual é a origem de todas as coisas? O que é o
homem? Como o homem deve se comportar na cidade?
Os pré-socráticos e os sofistas contribuíram para a
formação do novo homem, nascido das cinzas da tradição, o
qual repõe a fé apenas na autoridade do logos, na dúplice
acepção que este termo possui, isto é, de razão e de discurso.
Enquanto detentor da razão, o homem não recorre à palavra
indiscutida dos deuses; enquanto detentor do discurso, o
homem compartilha a sua palavra com os outros homens e se
torna animal politicus.
1
A palavra paideia foi criada pelos Sofistas para indicar a natureza do seu ensino.
22
O NOVO JEITO DE OLHAR PARA O MUNDO
Os pré-socráticos descobriram aquela maneira de olhar
para o mundo que é a maneira científica ou racional. Viam o
mundo como algo ordenado e inteligível, cuja história
obedecia a um desenvolvimento explicável, organizado,
compreensível. O mundo não é considerado um conjunto
arbitrário de partes ou de eventos, nem responde a uma
ordem determinada apenas pela vontade e pelo capricho da
divindade. O mundo natural tem a sua ordem intrínseca, a
qual é suficiente para explicar a sua estrutura. As explicações
dos pré-socráticos são marcadas por três características: são
internas, isto é, explicam o universo a partir das características
que o constituem; são sistemáticas, isto é, explicam todos os
eventos empregando os mesmos termos e métodos; são
econômicas, isto é, empregam poucos conceitos e poucas
operações. Os filósofos pré-socráticos não são personagens
inúteis na gênese da elaboração de uma nova imagem do
homem. Com isso, não estamos dizendo que todos os
argumentos que eles apresentaram foram bons argumentos,
nem isso nos parece algo relevante. O que nos parece relevante
é que os pré-socráticos apresentaram “argumentos” sobre o
cosmo, o homem e o convívio dos homens na cidade.
Os primeiros filósofos enfatizaram o domínio da
faculdade racional. A razão é a faculdade capaz de estabelecer
relações lógicas, isto é, de dar conta dos fenômenos naturais e
antropológicos através da busca pelas causas. Ao alcançar este
objetivo, a razão produz inferências. A inferência manifesta
em primeiro lugar as razões, revela as causas e indica o
responsável pelo efeito experimentado. Da inferência deriva a
ciência demonstrativa, a saber, o processo de conhecimento
que não se satisfaz apenas com a apreensão da existência dos
fatos, mas também toma conta do porquê, dos motivos de sua
existência.
23
Embora seja exato afirmar que a filosofia introduz os
fundamentos da paideia, do ethos e da episteme ocidentais, ou
seja, do jeito de viver, de portar-se e de compreender
característicos do Ocidente europeu, ela mantém um atributo
que lhe é essencial e que desapareceu na época atual. A
filosofia é a apreensão desinteressada da natureza. O
historiador Heródoto, que viveu no século V a.C., narra uma
primeira manifestação da atividade filosófica da seguinte
forma. Heródoto narra o encontro de Sólon, o legislador de
Atenas (VII-VI a.C.), um dos que são denominados Sete
Sábios, com Creso, o rei de Lídia. Creso dirige-se a Sólon
nestes termos: “Meu caro ateniense, a notícia da tua sabedoria e de
tuas viagens chegou até nós. Não ignoro absolutamente que, por
amar a sabedoria (philosopheon), percorreste muitos países, por causa
de teu desejo de conhecer”. Naquele momento, o que
representava a filosofia eram as viagens que Sólon realizou e
que tinham como fim conhecer, adquirir vasta experiência da
realidade e dos homens, descobrir países e costumes
diferentes. Tal experiência pode fazer daquele que a possui
um bom juiz nas coisas humanas e um homem apto ao
convívio social.
Filosofia é o desejo pelo saber em si mesmo de uma
maneira desinteressada e engloba tudo o que se refere à
cultura intelectual. A filosofia é um bios, um estilo de vida e
uma opção que não se situa no momento conclusivo da
atividade filosófica, como uma consequência de um percurso
de conversão. Ao contrário, esta escolha existencial se
posiciona logo no começo, em uma complexa relação e
interação entre a crítica a outras atitudes existenciais, a visão
global do mundo, e a própria decisão voluntária e responsável.
É a opção escolhida que determina até certo ponto a doutrina
filosófica professada e o jeito de transmiti-la para os discípulos
(HADOT, 1999, p. 167). As mutações que a filosofia produz
aparecem em quem a pratica, no filósofo, ou seja, naquele que
vive no estilo filosófico. A filosofia não possui nenhuma
24
utilidade prática: ela é livre, pois não se submete a qualquer
fim que lhe seja alheio. “Todas as outras ciências serão mais
necessárias do que esta, diz Aristóteles, mas nenhuma lhe será
superior”. Isto pelo fato de que a tarefa da filosofia é uma tarefa
essencialmente pedagógica: a produção do homem.
Hoje em dia parece estranho falar deste jeito, pelo fato
de que na época atual o que impõe a sua força é justamente o
interesse, o útil. A partir do pensamento marxista, a filosofia
tem como escopo a transformação da realidade; a filosofia se
propõe a mudar e fazer mudar a realidade. O ato de
transformar não é em si mesmo ruim: com efeito, pode ser
considerado um empenho político ou mesmo educativo
(HÜHNE, 2006, p. 54). Porém, o filósofo grego objetaria que
tudo isso não pode ser o fim último da filosofia. Quem filosofa
tendo o útil como objetivo perde a liberdade. A ânsia de
transformar perturba o momento do conhecimento. A
filosofia, o amor desinteressado ao saber, se submeteria à
prática e deixaria de ser filosofia.
Contudo, o que é mais novo na filosofia está em relação
ao jeito particular de viver que é a escolha própria do filósofo.
Existe uma enorme diferença entre a representação que os
antigos faziam da filosofia e a representação hodierna da
mesma disciplina, pelo menos na imagem transmitida aos
estudantes por conta das necessidades do ensino universitário.
Normalmente, os estudantes têm a impressão de que todos os
filósofos esforçam-se sucessivamente para arquitetar, cada um
de uma maneira original, uma nova construção sistemática e
abstrata, destinada a explicar, de uma maneira ou de outra, o
universo. O “jogo das interpretações” parece um conjunto de
movimentos arbitrários no qual o sujeito, conscientemente ou
até abandonando-se ao próprio inconsciente criativo, cria
imagens da “realidade” para opor às dos outros.
Isso não entra na perspectiva do discurso filosófico
antigo. Evidentemente, não estamos negando a extraordinária
capacidade dos filósofos antigos de desenvolver uma reflexão
25
sobre os problemas mais sutis da realidade natural e humana.
Porém, essa atividade teórica deve ser situada em uma
perspectiva diferente daquela que a filosofia indica hoje. Em
primeiro lugar, a opção pelo modo de vida filosófico se situa
na origem do caminho de pesquisa, e isso determina o
processo educativo do filósofo e dos seus discípulos (HADOT,
1999, p. 169). “A Escola Eleata, fundada por Parmênides, e a
Escola Pitagórica foram dois focos importantes do
desenvolvimento e da transmissão deste tipo de saber”
(FERREIRA, 1993, p. 34-35.). No domínio educativo interessa
de modo especial a Escola Pitagórica, seja pelo seu ideal de
vida que reveste a procura do saber com um caráter iniciático
e religioso, seja pela sua contribuição na criação do currículo
de estudos que foi considerado o fundamento das artes
liberais, ou artes do trivium e do quadrivium, como foram
chamadas na Idade Média. A filosofia como opção de vida
determina a doutrina adotada pelo pensador e seu modo de
ensino. Esta escolha não é tomada na solidão: nunca houve
filosofia nem filósofos fora de um grupo, de uma comunidade,
de uma escola filosófica e, precisamente, uma escola filosófica
corresponde, na época antiga, a uma maneira de viver, a uma
atitude de pensamento e de vida (hairesis2), um desejo de ser e
de viver de certa maneira. Essa conversão existencial implica,
por seu turno, certa visão do mundo, e será tarefa do discurso
filosófico revelar e justificar racionalmente tanto essa opção de
vida quanto essa representação do mundo. O discurso
filosófico teórico, que normalmente se encontra na “História
da Filosofia” não está na origem, mas no final dessa opção
existencial (HADOT, 1999, p. 172).
O discurso filosófico deve ser compreendido na
perspectiva do modo de vida e a escolha de vida particular do
filósofo determina o seu ensino, sua paideia. Esta apuração nos
leva a dizer que não se pode considerar o discurso filosófico
2
O termo significa propriamente “eleição”, “escolha”.
26
como uma realidade existente em si e por si mesma, como
uma disciplina a ser transmitida do alto de um púlpito. Não é
possível estudar Sócrates separando o discurso de Sócrates da
vida e da pedagogia de Sócrates.
Claro, hoje o filósofo, ou talvez fosse melhor se contentar
em dizer o professor de filosofia, não pode retomar exatamente o
modelo da filosofia antiga. Hoje parece impossível fazer de
uma universidade uma comunidade pedagógica no sentido
filosófico do termo, na qual mestres e discípulos vivem juntos
experiências em comum num comum ideal. Mas, hoje, o
discurso do professor de filosofia ainda pode se apresentar sob
uma forma tal que o estudante possa percorrer um caminho de
amadurecimento intelectual e espiritual e transformar-se
interiormente.
LUGARES E MESTRES DA PAIDEIA
Como vimos, a nova definição de homem que aparece na
Grécia, depois das invasões dos povos vindos da península
balcânica, carrega o advento de um novo modo de pensar,
alicerçado na racionalidade. O exercício da razão, antes de
tudo, é um discurso público e compartilhado. A grande escola
dos antigos é o convívio social, e isso é particularmente
evidente em Atenas.
O novo arquétipo da cidade grega, a polis, criada depois
do desaparecimento do basileus, pressupõe novas instituições e
a autoridade é espalhada entre diferentes delegados. “A
autoridade não repousa mais na tradição, mas na lei, nomos,
fruto da ação do homem, regida pelo discurso elaborado,
argumentado e persuasivo” (PAGOTTO-EUZEBIO, 2010, p.
199).
A mudança política carrega a necessidade de formar um
homem diferente. A polis não necessita do chefe guerreiro ou
do sacerdote que encarna a voz da verdade. Com esta
mudança política, os gregos criam uma nova definição de
27
homem e uma nova paideia, que dita os parâmetros daquilo
que deve ser um homem: o homem politicus (PAGOTTOEUZEBIO, 2010, p. 199).
Aristóteles esclarece na sua Política que o homem é
essencialmente ser da cidade3 e isso não indica apenas um lugar
físico particular mas, antes, o caráter próprio do homem: o
homem se faz tal só ao participar das práticas e das
experiências dos outros homens.
Aristóteles não é nem original nem pretende ser original com
esta afirmação: ele somente constata e reafirma o que aparecia
como verdade ao grego do seu tempo. O homem é fruto da
cidade, da sua paideia, e por decorrência toda criação humana
terá a cidade como origem e – é importante não esquecer –
como propósito ou, pelo menos, referência (PAGOTTOEUZEBIO, 2010, p. 201).
Nesta cidade, a educação se transmite na Ágora, nos
banquetes e nos ginásios4. O symposion, ou banquete, tem um
sentido cultural de grande valor. Ao redor de uma mesa rica
em vinho e comida, os gregos discutiam assuntos elevados e
cantavam os versos dos poetas (HERÓDOTO 6. 129;
ARISTÓFANES, Nuvens, 1353-1379). O symposion é descrito na
homônima obra de Platão como um lugar que possui alto
poder educativo. No Banquete platônico, cinco figuras de
relevo, Sócrates, Aristófanes, Fedro, Pausânias e Alcibíades se
reúnem na casa do tragediógrafo Ágaton, para comemorar a
sua vitória nas Grandes Dionísias. A antiga educação
aristocrática é baseada no conhecimento dos poetas antigos e
só será reformada com o advento dos Sofistas, em Atenas. Os
ginásios constituem um segundo pólo educativo. Eles, além de
serem frequentados pelos jovens que querem praticar
Aristóteles, Política, 1253a: “É evidente que a polis é natural, e que o homem é por
natureza um animal político e que o apolide por natureza e não por acidente é menos
ou mais que um homem” (tradução nossa).
4 Para uma panorâmica exaustiva do assunto, ver Ferreira (1993).
3
28
exercícios físicos, são procurados por muitos adultos que
gozam da beleza e do espetáculo oferecidos pelos mais novos,
e lhes dão dicas de vida. Sócrates escolhia frequentemente
estes lugares para ensinar5. Finalmente, a Ágora é um
importante centro cívico e comercial. Lá ficam os mais
importantes edifícios públicos, vários templos, altares e
estátuas. Lá se realizam as sessões da Ecclesia, a Assembleia, da
Boulê, o Conselho dos Quinhentos, e dos Tribunais da Helieia.
No edifício do Pritaneu, encontram-se gravados na pedra
diversos documentos, o mais notório dos quais é o código de
Sólon. A Ágora é, portanto, um local de grande afluxo, que os
atenienses usam para conversar e transmitir a cultura
(FERREIRA, 1993, p. 32).
É evidente que esta evolução da política ateniense do
regime monárquico ao regime democrático permitiu a
participação nos órgãos coletivos de governo a um número
infinitamente maior de cidadãos e por isso as técnicas de
argumentação se tornaram de grande importância. A essa
exigência responderam prontamente aqueles filósofos que
podem ser considerados mestres do discurso e professores de
homens, visto que erigiam o homem em alvo de seu
ensinamento: os Sofistas6. Embora os sofistas tenham sido
considerados por muito tempo personagens negativos e falsos
pedagogos, eles despertaram considerável entusiasmo entre os
jovens da Atenas democrática (PLATÃO, Protágoras, 310a311a; 314b-315d). Finalmente, foram eles que cunharam a
palavra paideia para indicar a natureza essencialmente
pragmática de seu ensino, o qual permitiu a muitos jovens
atenienses intervir nas relações públicas graças à habilidade
dialética e retórica. Na época da Grécia clássica, os Sofistas
Os seguintes diálogos de Platão, Laques, Lísis e Cármides, se passam no ginásio.
Protágoras, fr. Diels: “O homem é a medida de todas as coisas, das que são, enquanto
existem, e das que não são, enquanto não existem”. Tradução de Rocha Pereira, 2005, p.
289.
5
6
29
eram personagens suspeitos7 e seu nome é utilizado ainda hoje
para designar aqueles que buscam perturbar o interlocutor
com assuntos cavilosos. No século de Péricles, a palavra
“sofista” era empregada sempre num sentido pejorativo por
causa do tipo específico de saber que os Sofistas transmitiam e
pelo fato deles serem itinerantes e remunerados (PLATÃO,
Apologia 19e-20a; ISÓCRATES, Antídosis 3). Entre as duas
características, a mais perigosa do ponto de vista político é a
primeira, isto é, ensinar um tipo específico de saber; do ponto
de vista filosófico, a segunda, pois para filósofos como
Sócrates, Platão ou Aristóteles, e o mesmo pode ser dito para
as Escolas helenísticas, a filosofia é um fim em si e não pode
ser vista como meio em vista de uma finalidade alheia. Basta
ler a Apologia de Sócrates, um dos primeiros escritos de Platão,
para descobrir no diálogo entre Sócrates e os Sofistas um jogo
ético, político e pedagógico, uma crítica açulada e
intransigente aos sofistas e à face corrupta da sociedade
ateniense. Os aristocratas, por fim, achavam os Sofistas
personagens ameaçadores, pelo fato de serem peritos na arte
reputada necessária aos membros de uma democracia e
perigosa para o governo aristocrata. Ocupados em ensinar de
que forma a racionalidade podia ser utilizada eficientemente,
isto é, produzindo a persuasão e levando à derrota a
argumentação do adversário, os sofistas se tornaram assim os
primeiros professores da technê politiké, que com uma palavra
atual podemos designar “cidadania”. “O discurso é plástico,
dirão eles, e pode ser moldado de inúmeras formas, mais ou
menos adequadas para o momento (kairós), que era o que de
mais importante havia: perder ou não notar o kairós, a ocasião,
impedia o sucesso do discurso” (PAGOTTO-EUZEBIO, 2010,
p. 206).
7 Sobre as razões do escândalo que o ensino dos Sofistas provocou ver Rocha Pereira
2003, p. 448 e nota 7, citado por Ferreira 1993, p. 37 nota 32.
30
Desta forma, o homem instruído pelos Sofistas consegue
prever as reações dos membros da Assembleia, do Tribunal e
dos outros órgãos. Devido à sua habilidade dialética e retórica,
o cidadão educado na democracia alcança influir na tomada
de decisão dos ouvintes pela sua competência comunicativa,
pela sua capacidade de persuadir e consequentemente
dominar o demos.
REFERÊNCIAS
ARISTÓTELES. Política. Brasília: Editora da UnB, 1997.
CAMBI, F. História da Pedagogia. São Paulo: Fundação Editora da UNESP,
1999.
COLLI, G. O Nascimento da Filosofia. Campinas: Editora da Universidade
de Campinas, 1992.
CORNFORD, F. M. Principium Sapientiae. As origens do Pensamento
Filosófico Grego. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, s/d.
DIÓGENES LAÉRCIO. Vidas e doutrinas dos filósofos ilustres. Brasília:
Editora da UnB, 1987.
DUMONT, J. P. Les Sophistes. Fragments et Témoignages. Paris: PUF,
1969.
DUPRÉEL, E. Les Sophistes. Protagoras, Gorgias, Prodicus, Hippias.
Neuchatel: Edition du Griffon, 1948.
FERREIRA, J. R. Educação em Esparta e em Atenas. Dois métodos e dois
paradigmas. In: LEÃO, D. F; FERREIRA, J.R; FIALHO, M. do Céu (ed.).
Cidadania e Paideia na Grécia Antiga. Coimbra: Centro de Estudos
Clássicos e Humanísticos, 1993.
GÓRGIAS. Testemunhos e Fragmentos. Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian, 1993.
HADOT, P. O que é a filosofia antiga. São Paulo: Loyola, 1999.
31
HÜHNE, M. Filosofia, Introdução ao pensar. Rio de Janeiro: Editora UAPE,
2006.
ISÓCRATES. Discours. trad. G. Mathieu et A. Brémond. Paris: Les Belles
Lettres, 1928.
JAEGER, W. Paideia. Los ideales de la cultura griega. México-Buenos Aires:
Fondo de Cultura Economica, 1957 (a tradução brasileira é: Paideia: a
formação do homem grego. São Paulo: Martins Fontes, 1986).
LORAUX, N. Invenção de Atenas. São Paulo: Editora 34, 1994.
MARROU, H. I. História da Educação na Antiguidade. São Paulo: EPU,
1990.
MOSSÉ, C. Atenas: a História de uma Democracia. Brasília: Editora da UnB,
1982.
PAGOTTO-EUZEBIO, M. S. A Filosofia, a cidade, a Paideia: os antigos
contemporâneos. São Paulo: Revista Páginas de Filosofia, v. 2, n. 1, 2010.
PAVIANI, J. Filosofia e educação, filosofia da educação: aproximações e
distanciamentos. In: DALBOSCO, C. A; MUHL, E. H; CASAGRANDE, E. A.
(ed.). Filosofia e Pedagogia. Campinas: Editora da Universidade de
Campinas, 2008.
PLATÃO. A República. Trad. Maria helena da Rocha Pereira. Lisboa:
Fundação Calouste Gulbenkian, 1993.
PROTÁGORAS. Fragmentos y Testimonios. Buenos Aires: Aguilar, 1965.
VERNANT, J. P. As Origens do Pensamento Grego. Rio de Janeiro: DIFEL,
1992.
32
Capítulo 2
SÓCRATES E A FORMAÇÃO DO MESTRE: VIRTUDE, ÉTICA E
ESPIRITUALIDADE
Ricardo Tescarolo
SÓCRATES, A ARTE DA MAIÊUTICA E O MESTRE VIRTUOSO
A despeito de não haver registro de qualquer produção
escrita de sua autoria, a súbita transformação que atingiu a
filosofia após Sócrates, “confirma-o de maneira que não tem
comparação com os filósofos precedentes” (REALE, 1993, p.
253). Sem dúvida, “a filosofia socrática mostra ter tido peso
decisivo no pensamento grego e, em geral, do pensamento
ocidental” (ibidem). A partir desta inferência, adotar-se-á
como iluminação o pensamento atribuído a Sócrates, mais
precisamente a maiêutica, para refletir sobre a educação
escolar e o papel decisivo do mestre, a partir da perspectiva da
prática pedagógica.
A arte da maiêutica baseia-se na ideia de que o
conhecimento está latente8 na mente do sujeito como razão
inata e que, para se tornar consciente, precisa ser “parido”
(“dado à luz”) mediante sequência lógica de perguntas.
Michael Polany, por exemplo, refere-se a essa razão latente como “conhecimento
tácito” (The Tacit Dimension. The University of Chicago Press, 1996, p. 4), na medida
em que “we can know more than we can tell” (“sabemos mais do que reconhecemos”).
8
33
O primeiro texto dos diálogos de Platão, em ordem
cronológica, a mencionar a maiêutica de Sócrates é o Simpósio.
Neste diálogo, relatado por Platão, Sócrates repete as palavras
da sábia sacerdotisa Diotima de Mantinéia, que sugere que a
alma dos homens está grávida e quer dar à luz. No entanto, o
parto não pode se realizar. Por essa razão, o mestre, tal qual o
obstetra, deve ajudar o educando a dar à luz a verdade
(aleteia).
Portanto, o mestre não é o que enche a mente do
discípulo com informações, como se sua mente fosse uma
caixa vazia. Na maiêutica, o mestre ajuda o discípulo a
alcançar o conhecimento mediante um diálogo questionador.
Foucault (2004) adverte que o mestre não pode mais se limitar
a ser “o mestre da memória”, mas o mediador “na formação
do indivíduo como sujeito” (p. 160), em que “o ato do
conhecimento permanece ligado às exigências da
espiritualidade” que vincula este ato à conversão do sujeito
(idem, p. 267), condição que será atingida pela prática da aretê
(virtude). Por conseguinte, o mestre de virtudes pressupõe o
mestre virtuoso.
Mas será a virtude ensinável? A virtude pode ser
ensinada, sim, mas menos pelos discursos e textos do que pelo
exemplo, que se funda na ética e se nutre da sabedoria
dedicada à construção da reciprocidade e do respeito à
alteridade e à diversidade. A ética deve se constituir, pois, na
sustentação da ação humana, integrada pela vontade e pelo
livre-arbítrio, assumindo sentido mais radical como
responsabilidade pelas consequências das iniciativas humanas
e servindo de referência para o diálogo de cada pessoa com a
própria consciência e com as consciências dos outros,
despertando-os de uma eventual indiferença em relação à
agressão à vida e à dignidade da pessoa.
Assiste-se hoje à substituição do paradigma social por
outro que decorre de um processo de “dessocialização”
(TOURAINE, 2007, p. 23), acompanhado por uma “penetração
34
generalizada de uma violência de mil formas e faces, que
rejeita todas as normas e os valores sociais” e a “escalada das
reivindicações culturais, tanto sob a forma neocomunitária
como sob a forma de apelo a um sujeito pessoal e à
reivindicação de direitos culturais” (ibidem). E, no esforço de
criação de “instituições e regras de direito que sustentarão a
liberdade e a criatividade das pessoas, estão em jogo a família e
a escola” e, em seu centro, os modelos educacionais (idem, p.
240).
Por isso, a atualização dos mestres na concepção da ética
assume atualmente importância crucial. De fato, a eficácia da
escola será principalmente resultado da virtuosidade da
intervenção docente em seu interior. E apenas no contexto
mais amplo da função social de formação do mestre é que as
questões da sua intervenção ética terão sentido. Sua formação
priorizará, destarte, o manejo mais amplo dos saberes, como
projeto solidário e construção coletiva, alimentado pela
profundidade e pelo confronto constante e convergente e
considerando a aprendizagem em suas implicações
emocionais, afetivas e relacionais.
A formação do mestre passa, então, a ser afetada pela
natureza complexa do paradigma emergente, implicando o
desenvolvimento das capacidades de identificar, analisar e
operacionalizar sua ação tendo em conta, de um lado, as
complexas circunstâncias contemporâneas. Os mestres, assim,
aptos a elaborar e atualizar os saberes pedagógicos, não
ficarão reduzidos a executores de projetos alheios ou planos
acabados.
Enfim, a visão do mestre não pode se limitar a fixar o
olhar no dedo que aponta, mas estender sua perspectiva para
aquilo que o dedo aponta: a constelação das novas
possibilidades nascidas no interior das novas, ricas, complexas
e dinâmicas circunstâncias contemporâneas, mas que também
se alimenta de perplexidade e consternação.
35
Impõe-se, pois, a articulação de novos conhecimentos
com novos objetivos e formas de aprendizagem e de ensino,
pelo desenvolvimento de uma cartografia de relevâncias que
funcione como um radar capaz de perscrutar uma nova
epistemé fundada em dois eixos: a ética planetária e a
espiritualidade.
A ÉTICA E A ÉTICA PLANETÁRIA
A ética planetária, segundo O’Sullivan (2004), manifestase no seio de uma racionalidade industrial como um
movimento transformador que transcende ao modernismo
progressista, ainda que o inclua, e se empenha para favorecer
um “habitat planetário sustentável para seres vivos
interdependentes, além e contra o apelo disfuncional do
mercado competitivo global” (p. 26). Isso implica parâmetros
visionários
e
transformadores
baseados
em
um
desenvolvimento sustentável que se coloca contra os mitos do
otimismo ilimitado no crescimento e na abundância e da
produção industrial, da expansão tecnológica e do consumo a
qualquer custo (idem, p. 28-39).
Embora as pessoas aparentemente tenham preservado e
mobilizem sua capacidade de desencadear processos de
intervenção transformadora, tal intervenção acabou se
tornando uma prerrogativa dos cientistas que, sem “a textura
das relações humanas”, ampliaram a esfera dos negócios
humanos a tal ponto que extinguiram “a consagrada linha
divisória e protetora entre a natureza e o ser humano”
(ARENDT, 2001, p. 337), transformando-o no predador mais
voraz da natureza.
A cosmovisão exclusivamente antropocêntrica e interhumana, em sua natureza analítica, cientificista e
instrumentalmente racionalista da realidade universal,
separou a Noosfera — termo teilhardiano que corresponde à
camada humana reflexiva da Terra, em vias de unificação
36
física e união espiritual, que ele denominou ‘unanimização’ —
da Biosfera, a camada viva não reflexiva que alimenta e
sustenta a Noosfera, que por sua vez depende de sua
preservação, numa simbiose cheia de energia, mas complexa e
delicada (CHARDIN, 2003, p. 210).
Nesse contexto, é urgente que se desenvolva, em todas
as instâncias da sociedade — e aqui colocamos em destaque a
escola — uma ética planetária que se empenhe pela
integridade da “realidade sagrada primordial” do universo
(O’SULLIVAN, 2004, p. 379), estabelecendo um novo contrato
de solidariedade com a terra, com a vida e com o outro,
superando o relativismo moral e a privatização de valores
ofertados ao deus-mercado.
Neste caso, o uso ético da razão questiona esses valores e
se move em torno da questão da justiça, representando
fenômeno interpessoal que passa a se constituir no conjunto
dos princípios que só ocorrem no diálogo. Assim, quando a
razão prática se pauta pelos princípios éticos, a vontade e a
razão se amalgamam nos sujeitos humanos. O uso ético,
portanto, leva em conta o que é bom para a sociedade como
um todo e se questiona sobre a coerência do agir individual
em relação ao projeto coletivo, representando, assim, atitude
baseada em virtudes. Os princípios éticos, nesse caso,
assumem natureza racional garantida por sua universalidade.
Todas as iniciativas humanas, portanto, precisam assumir
forma de valor e integrar determinada ética (cf. HABERMAS,
1989).
Tal condição nos reporta ao contrato ético
imprescindível à educação, na medida em que é ela que recebe
a responsabilidade coletiva de contribuir para a inclusão das
crianças e dos jovens em um mundo em permanente
metamorfose. Conforme entende Hannah Arendt (2002, p.
239), essa responsabilidade assume, na educação, uma forma
de autoridade diferente da competência — certamente
necessária, porém não suficiente —, decorrente dos saberes
37
pedagógicos. Tal autoridade, delegada e legitimada pelo
poder social, repousa na responsabilidade ética que os
educadores assumem pelo mundo. É como se representassem,
perante a criança e o jovem, todos os adultos. Acontece,
porém, que a autoridade pública e política, em que se baseia a
autoridade da escola e dos educadores, ou perdeu quase todo
o sentido, ou tem o seu papel contestado — em razão da
violência, da arbitrariedade, da impunidade e da corrupção
nas esferas política e social.
É nesse cenário contemporâneo de crise que o mestre
virtuoso deverá ser capaz, pelo testemunho de sua ação
educativa, de ensinar os alunos a agirem eticamente em favor
da dignidade humana e a responder pelo mundo e pela vida,
cuja finalidade confunde-se com a própria finalidade da
educação. E é exatamente a escola, ocupando o ‘lugar’ de uma
consciência mais ampla sobre toda a cultura e o pensamento
humanos, que se encontra hoje entre a tradição e a inovação, a
conservação e a mudança, entre o passado e o futuro, e diante
do seguinte dilema ético: se, como pessoas, amamos ou não o
mundo e a vida o suficiente para assumirmos
a responsabilidade por ele e, com tal gesto, salvá-lo da ruína
que seria inevitável não fosse a renovação e vinda dos novos e
dos jovens. A educação é, também, onde decidimos se
amamos nossas crianças o bastante para não expulsá-las de
nosso mundo e abandoná-las a seus próprios recursos e,
tampouco arrancar de suas mãos a oportunidade de
empreender alguma coisa nova e imprevista para nós,
preparando-as em vez disso com antecedência para a tarefa de
renovar um mundo comum (ARENDT, 2002, p. 247).
O contexto contemporâneo de crise também causa
profunda repercussão na história de cada pessoa, ao revelar
‘quem’ ela de fato é. A identidade real da pessoa se coloca,
então, em oposição à sua personagem social, isto é, ao ‘que’ ela
é, que se manifesta nos talentos, habilidades e serviços que ela
38
pode exibir ou ocultar, conforme isso for útil ou necessário aos
seus interesses particulares. Se a pessoa se limitar ao ‘que’ ela
é, sua ação perde o caráter genuinamente humano e torna-se
uma realização ordinária, sem a revelação da pessoalidade,
reduzindo-se ao labor para satisfazer suas necessidades de
sobrevivência ou ao trabalho que a reduz a instrumento ou
mecanismo (recurso?) dedicado à fabricação de alguma coisa.
A ação comunicativa, então, limitar-se-á a uma conversa vazia
e insignificante para iludir o adversário. Enfim, a revelação e a
emancipação humanas só ocorrem a partir da identidade única
e singular de ‘quem’ é a pessoa, e não do ‘que’ ela é (idem,
2001, p. 193).
Nesse processo, a consciência, sob inspiração ética, é
instada a assumir como princípio que toda pessoa é
essencialmente livre e solidária, capaz de um protagonismo
responsável.
Tal princípio, entretanto, pode parecer improvável, por
depender muitas vezes de valores submetidos à perspectiva e
ao interesse de quem, consciente ou inconscientemente, muitas
vezes deles se serve desumanamente.
Como a convivência humana se baseia na necessidade
histórica de estabelecer contratos de longo prazo que evoluem
em leis, regimentos, normas e preceitos morais, a ética passa,
então, a ser o princípio catalisador que garante a dignidade da
vida humana, fundamentando as normas de respeito de todos
por todos e a responsabilidade solidária de cada um pelo
outro e pelo mundo.
Não obstante, considera-se aqui a ética que se funda
também na “atribuição objetiva por parte da natureza do todo,
[...] de tal espécie que mesmo o último membro de uma
humanidade moribunda, em sua última solidão, lhe poderia
ainda ser fiel” (JONAS, 2004, p. 272). Será, pois, na perspectiva
da intervenção humana iluminada pelas virtudes que deve ser
considerada a história de todas as pessoas.
39
A ESPIRITUALIDADE
A espiritualidade é a sabedoria que concilia a razão, a
emoção e a experiência com a consciência e a ética com a
reflexão, a sensibilidade e a intuição, cuja condição central é o
amor, mas não em sentido qualquer.
O amor, na espiritualidade, é “a afinidade do ser com o
ser”, não exclusivo do ser humano, mas, como coloca Chardin,
“uma propriedade geral da Vida [...] e, sob todos os seus
matizes, o sinal mais ou menos direto marcado no âmago do
elemento pela Convergência psíquica do Universo sobre si
mesmo”. Só o amor nos vincula, reúne, integra, identifica e
prende a todos os seres na Terra pelo mais fundo de nós
mesmos através de uma ‘vibração fundamental’ que nos
impele inexoravelmente para a Unidade, “no Sentido do
Universo, Sentido do Todo: diante da Natureza, perante a
Beleza, na Música, a nostalgia se apossa de nós — a expectação
e o sentimento de uma grande Presença” (CHARDIN, 1986, p.
301).
Como seremos íntegros sem o mundo, a nossa
‘circunstância’, e sem a cumplicidade de todos os seres
viventes e de todas as coisas existentes, nessa tessitura vital
que se nutre do Espírito da Terra? Como seremos humanos
sem essa “força primordial do espírito dotado de atividade
volitiva, força animadora e criadora de valores”? Como
seremos solidários e sensíveis ao outro sem o amor “que nos
arranca do nosso isolamento individual e nos integra ao Real e
ao convívio na comunidade humana”? (Idem, p. 348).
A espiritualidade é o amor reflexivo pela Vida que
promove a transformação do self como autoconsciência, autoreflexão e altruísmo em conexão com o universo, um viver
além de nós mesmos, que não apresenta natureza nem
racional, nem emocional, mas as duas amalgamadas. Daí a
necessidade de se ter “sobre a natureza um ponto de vista, um
conhecimento, um saber amplo e detalhado que nos permita
40
precisamente conhecer não apenas sua organização global,
mas seus detalhes” (FOUCAULT, 2004, p. 339).
A espiritualidade é reverência, uma espécie de confiança
em nossa capacidade de usar amplamente o poder das
virtudes; não de uma virtuosidade apenas inter-humana, mas
uma virtuosidade planetária, o que “pressupõe um
compromisso com a bondade do mundo, uma bondade que
pode ser infinitamente multifacetada e plural, mas que
reconhecemos como sendo muito maior e mais poderosa que
nós mesmos” (SOLOMON, 2003, p. 100).
Tornamo-nos
dessa
forma
sagrados,
porque
participamos, “como membros da comunidade universal que
nos produz com a substância das estrelas” (O’SULLIVAN,
2004, p. 379), da dimensão sagrada de todo o universo. E a
percepção da grandeza numinosa e inefável da vida conduz,
na revelação de Teilhard de Chardin (1986), o nosso espírito ao
‘êxtase’, como o arrebatamento íntimo, o enlevo, o arroubo
“que transporta para fora do mundo exterior e leva a
participar de uma realidade superior e universal”, o Espírito
da Terra (idem, p. 335). Por isso, nossa luta não pode mais se
limitar apenas pela sobrevivência, mas pela ‘supervida’
universal que, no dizer de Chardin, é o nosso “acesso à vida
consciente coletiva que ultrapassa a vida consciente individual
[...], engendrada pela união dos centros pessoais entre si e pela
união de todas as pessoas num foco ‘hiperpessoal’ de amor e
de irreversibilidade” (p. 269).
Impõe-nos, pois, a espiritualidade que propicia a
contemplação “da maravilha e do mistério do universo”; da
“promoção do processo de criação de significado”; da
concepção de “unidade da natureza e da humanidade”; “de
um mito cultural que sirva de base para a fé na capacidade
humana de participar de um mundo de justiça, compaixão”;
além “do cuidado com o outro, amor e felicidade”, “de ideais
de comunidade e interdependência”, “de atitudes de
indignação e responsabilidade diante da injustiça, da
41
indignidade, da violência e da opressão” (PURPEL apud
O’SULLIVAN, 2004, p. 393-396).
Por isso, a espiritualidade catalisa as manifestações
reveladoras do sagrado, como amor pela Vida, que se realiza
na utopia de um mundo justo e fraterno.
REFERÊNCIAS
ARENDT, Hannah. A Condição Humana. 10 ed. São Paulo: Forense
Universitária, 2001.
_______. Entre o Passado e o Futuro. Coleção Debates. Trad. Mauro W.
Barbosa de Almeida. 5. ed. São Paulo: Perspectiva, 2002.
BORGES, Jorge Luis. História da Eternidade. Trad. Carmen Cirne Lima.
4.ed. São Paulo: Globo, 1997.
CHARDIN, Teilhard de. O Fenômeno Humano. [1955]. 6.ed. São Paulo:
Cultrix, 2003.
FOUCAULT, Michel. A Hermenêutica do Sujeito. São Paulo: Martins
Fontes, 2004.
HABERMAS, Jürgen. Consciência Moral e Agir Comunicativo. Rio de
Janeiro: Tempo Brasileiro, 1989.
JONAS, Hans. O Princípio Vida – Fundamentos para uma biologia
filosófica. Trad. Carlos Almeida Pereira. Petrópolis/RJ: Vozes, 2004.
O’SULLIVAN, Edmund. Aprendizagem Transformadora - Uma visão
educacional para o século XXI. São Paulo: Cortez Editora; Instituto Paulo
Freire, 2004.
REALE, Giovanni. História da Filosofia Antiga. Vol. 1. São Paulo: Loyola,
1993.
SOLOMON, Robert C. Espiritualidade para Céticos – Paixão, verdade
cósmica e racionalidade no século XXI. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
2003.
42
Capítulo 3
AGOSTINHO DE HIPONA: A VERDADE, OS SENTIDOS
E O “MESTRE INTERIOR”
Rogério Miranda de Almeida
Ao iniciar a construção de sua teoria do conhecimento,
na obra intitulada Contra os acadêmicos, Agostinho ataca
igualmente as teorias céticas da “média” e da “nova”
Academia de Platão. A primeira teve como chefe de fila, ou
como diretor, Arcesilau de Pitane (c. 315–c. 240 a.C.), enquanto
que a “nova” Academia foi comandada por Carnéades de
Cirene (c. 214–c. 128 a.C.), seguido por Clitômaco de Cartago,
Filão de Larissa e Antíoco de Ascalona. Foi, sobretudo, graças
às leituras de Cícero que o teólogo africano se familiarizou
com a história e as principais ideias da Academia.
Do ponto de vista formal, a obra Contra os acadêmicos se
divide em três livros e se apresenta como a primeira produção
dos “diálogos de Cassiciaco” que se desenrolaram durante o
chamado período de conversão do professor de retórica. Este
período se acha compreendido entre o fim do verão de 386 e as
primeiras semanas de 387. Cassiciaco era uma propriedade de
um amigo de Agostinho, situada não muito distante de Milão,
onde ele transcorreu esses meses discutindo questões
filosóficas juntamente com a sua mãe, Mônica, com o filho,
Adeodato, com o irmão, Navígio, o amigo, Alípio, alguns
discípulos e mais dois parentes. Certo, os primeiros escritos
agostinianos não derivam todos da convivência que tiveram
43
esses personagens em Cassiciaco. Não são dessa época, por
exemplo, A potencialidade da alma, O livre-arbítrio, A música e O
mestre. Não obstante, com exceção de A imortalidade da alma e
dos Solilóquios – que é propriamente um monólogo ou, mais
exatamente, um diálogo de Agostinho consigo mesmo – todos
os demais textos foram redigidos sob a forma de diálogo,
inclusive o Contra os acadêmicos, A vida feliz e A ordem. A tônica
que atravessa e caracteriza esses escritos é a questão da
linguagem, da “iluminação interior”, da fiabilidade ou não
fiabilidade dos sentidos e, em suma, a busca da verdade.
Retenha-se, contudo, que esta busca é paradoxal, na
medida em que o “mestre interior” não pode prescindir nem
dos sentidos nem da linguagem que a exprime. É, pois, esta
problemática que pautará as reflexões que se seguem, as quais
têm como ponto de partida e referência principal a obra Contra
os acadêmicos.
O CETICISMO E A BUSCA DA VERDADE
Não é por acaso que Agostinho põe na boca de seu
discípulo Licêncio, já no Primeiro Livro de Contra os
acadêmicos, a declaração de Cícero segundo a qual nada pode
ser conhecido com certeza e que o sábio deve dedicar-se
incansavelmente à busca da verdade, porquanto, mesmo na
hipótese de que as coisas incertas possam eventualmente
revelar-se como verdadeiras, o sábio não estaria isento de erro.
Esta última possibilidade, prossegue o discípulo, estaria em
total desacordo com a sua condição ou sua pretensão de sábio.
Por conseguinte, e em contraste com a conclusão de seu
interlocutor Trigésio, a opinião de Licêncio é a de que se se
deve aceitar que o sábio é necessariamente feliz, e se o papel
da sabedoria consiste tão somente na busca da verdade,
forçoso é admitir que uma vida é feliz na medida mesma em
que dura a investigação ou a procura da verdade (Cf.
AGOSTINHO, 2006, p. 31). Melhor dizendo, a felicidade reside
44
na busca contínua, incessante e infatigável da verdade, pois –
pondera o defensor dos Acadêmicos – aquele que busca a
verdade com menos tenacidade do que convém à finalidade
do homem, jamais poderá atingir este fim, que é justamente a
busca perfeita da verdade. Aquele, porém, que a procura sem
trégua nem descanso pode considerar-se feliz, mesmo se não a
encontra jamais (Cf. ibid., p. 35).
A partir dessas afirmações, não se pode senão chegar a
esta constatação, ou a esta problemática: se todo filosofar é
busca ou investigação, é o próprio conceito de filosofia,
enquanto ciência, que agora deve ser questionado. Pois, com a
obtenção desta ciência, cessa simultaneamente a sua busca e,
por conseguinte, o processo filosofante, que se verá na
necessidade de reconhecer o seu próprio termo, ou os seus
próprios limites. Todavia, e conforme as declarações de
Licêncio, se a felicidade e o fim da alma racional consistem no
filosofar, a filosofia estaria paradoxalmente destinada a jamais
atingir a verdade que procura. De sorte que o filosofar – e a
felicidade que lhe está inerentemente vinculada – se
resolveriam não propriamente na meta a que se propuseram,
mas no vir-a-ser que conduziria a esta meta. O Primeiro Livro
de Contra os acadêmicos termina, portanto, numa suspensão de
sentido, e esta suspensão é tanto mais relevante quanto é o
próprio Agostinho quem sublinha, numa tradição que
remonta a Platão e a Aristóteles, que todos aspiram à
felicidade, mas que a felicidade só será possível se a verdade
for encontrada ou – ajunta o retórico – se ela for
diligentemente procurada. Com efeito, afirma, “devemos
colocar em segundo plano todo o resto e dar-nos inteiramente
à busca da verdade, se quisermos ser felizes” (Ibid., p. 63).
No Segundo Livro, é o próprio Agostinho quem exporá,
mas de maneira difusa, as características principais da filosofia
acadêmica, segundo a qual não se deve aderir a qualquer
doutrina ou a qualquer enunciado para não se incorrer em
erro. Porém, o retórico ironiza esta atitude cética ao afirmar
45
que os acadêmicos dizem seguir na vida prática a semelhança
(similitudo) do verdadeiro (verum), quando na realidade
ignoram a própria natureza do verdadeiro. Segue-se então
uma análise crítica dessas noções e se demonstra – tanto da
parte de Agostinho quanto da de Licêncio – que o cético é
paradoxalmente obrigado a pressupor e a fazer uso da
verdade. É que a própria escolha de excluir o “verdadeiro”
para dar lugar ao “verossímil” não pode ser feita senão a
partir do próprio conceito de “verdade” (Cf. ibid., p. 99, 109,
111). Ao invés, portanto, de admitir a noção de verossímil, os
convivas aderiram à sugestão de Agostinho, que se propôs
demonstrar estas duas possibilidades: 1) é muito mais
provável que o sábio possa atingir a verdade; 2) não se deva
manter para sempre o juízo em suspensão.
O Terceiro Livro se desenvolve como uma retomada e,
ao mesmo tempo, um aprofundamento da problemática do
paradoxo do ato de filosofar que, como vimos no Primeiro
Livro, pressupõe a não apropriação total da verdade. Aqui
também Agostinho examina – embora não mais sob a forma
de diálogo, mas de exposição – uma passagem de Cícero sobre
os acadêmicos e a definição estoica de Zenão acerca do
“verdadeiro”. De suas análises resulta que o filosofar consiste
essencialmente não na posse da verdade, mas na possibilidade
mesma de se conhecer a verdade.
É, todavia, curioso o fato de Agostinho evocar, pela boca
de seu interlocutor Alípio, a divindade marinha Proteu, que
gozava da reputação de se metamorfosear e de conhecer o
presente, o passado e o futuro. No entanto, este “velho do
mar” – cuja residência Homero situava na ilha de Faros e
Virgílio na de Cárpatos – não revelava facilmente seus
presságios a quem o fosse consultar. Quem dele, pois,
desejasse extrair profecias devia ir encontrá-lo na hora do
repouso meridiano, quando seria possível amarrá-lo e, assim,
coagi-lo a proferir seus vaticínios. Surpreendido, porém, e
pleno de cólera, Proteu se transformava numa série de
46
monstros, chegando mesmo a revestir as aparências da água e
do fogo. Caso, contudo, não conseguisse suplantar seu
adversário, o adivinho retomava sua forma primitiva e, então,
consentia em falar.
Sintomático é, pois, ver Alípio – após recapitular a
doutrina dos Acadêmicos, segundo a qual não se deve dar o
seu assentimento irrefletidamente – assimilar esta suspensão
de juízo àquela imagem de Proteu que – diz ele – se deixava
amarrar tão somente para melhor fugir à tentativa de
apreendê-lo (Cf. ibid., p. 141). Mais curioso ainda é constatar
que também Agostinho faz apelo – certo, de maneira irônica –
à mitologia e aos poetas que apresentam Proteu “como a
figura da verdade”; esta verdade que ninguém poderá reter
caso, “enganado por falsas imagens, tenha afrouxado ou
deixado partir os nós da compreensão” (Ibid., p. 143). A
compreensão a que se refere Agostinho remete obviamente à
esfera da razão, que na tradição platônica, e neoplatônica, é a
única capaz de apreender a essência dos objetos, mas desde
que, à diferença da imaginação – que não cessa de deambular
pelo mundo da sensibilidade e da efemeridade – não se deixe
seduzir pela aparência e pelas transformações que o
caracterizam. Ora, não esqueçamos de que o próprio
Agostinho, além de sua formação retórica e musical, recorre
frequentemente à mitologia e à literatura romanas9. De sorte
que esta aversão e depreciação vis-à-vis da imaginação e da
sensibilidade – que só tenderão a se acentuar ao longo de sua
obra – já poderiam revelar-se como sintomas de um conflito
ou de duas tendências que caracterizam um escritor em cujo
estilo se fazem ressaltar a plasticidade, os jogos de palavras, as
9 Para a formação de Agostinho, veja a obra clássica de H.-I. MARROU, Saint
Augustin et la fin de la culture antique. Paris: E. De Boccard, 1958 (1ª. ed. 1938),
capítulos I-III.
47
imagens, as metáforas, as metonímias, a verve, a erótica e,
enfim, a sedução e a beleza do dizer, ou do como dizer10.
Com relação à figura de Proteu que Agostinho evoca
nessa passagem, não se pode deixar de pensar naquele registro
do real que Lacan amarrará borromeanamente com os outros
registros do imaginário e do simbólico. O real não pode ser
concebido sem um e sem outro, todavia, ele permanece hostil
a toda tentativa de captação, porquanto é de natureza
proteiforme. Com efeito, pela experiência da fala e, portanto, da
falha, da falta, dos ditos e dos inter-ditos que não cessam de
reenviar a este impossível, o real se manifesta como aquele
dado bruto que está continuamente a retornar e a se oferecer à
simbolização, na medida mesma em que escapa, se elide e se a
subtrai à significação enquanto tal. É o próprio Lacan quem
chama a atenção para este paradoxo fundamental: “O real, ou
aquilo que é percebido como tal, é o que resiste absolutamente
à simbolização” (LACAN, 1975, p. 80). Isto quer dizer que a
nossa percepção dos fenômenos só se dá, ou só se escreve,
através das próprias sinuosidades e ambiguidades que
atravessam, marcam, pontilham e informam o mundo dos
sentidos.
A PERCEPÇÃO OU A VERDADE DOS SENTIDOS
Não é, pois, fortuitamente que, no Terceiro Livro de
Contra os acadêmicos, Agostinho desafia seus interlocutores
quanto a saberem se este mundo realmente existe, porquanto se
supõe que os sentidos enganam. Ora, este desafio é tanto mais
importante quanto o retórico objeta que os argumentos que se
evocam em torno da não fiabilidade dos sentidos jamais foram
capazes de desmentir a força que eles exercem e, portanto, de
levá-lo a convencer-se de que nada parece ou está como é.
10 No parágrafo 128 de Para além de bem e mal, Nietzsche dirá: “Quanto mais
abstrata for a verdade que queres ensinar, tanto mais deverás seduzir para ela os
sentidos” (NIETZSCHE, 1988, p. 95).
48
Consequentemente, a principal objeção que se poderia
levantar contra os céticos consiste no seguinte: conquanto eles
se empenhem em demonstrar que as coisas podem ser
diferentes do modo como aparecem aos nossos sentidos, elas
não podem deixar de parecer aquilo que parecem ser (Cf. ibid.,
p. 165). É certo, pois, dizer que os sentidos percebem o falso;
certo não é, porém, afirmar que nada percebem, porquanto
não há como negar que o universo aparece aos nossos olhos
como aquilo que contém o céu e a terra, ou que é visto como
sendo o céu e a terra. Portanto, forçoso é concluir que o erro
não reside nos sentidos – na medida em que os sentidos
sentem somente aquilo que sentem – mas no julgamento que
se dá de maneira precipitada, irrefletida, sobre aquilo que nos
aparece como tal. Inversamente, não haverá engano quando
não se der o seu assentimento além do necessário para
persuadir alguém de que uma determinada coisa parece ser
deste ou daquele outro modo (Cf. ibid., p. 169)11.
Para fundamentar a tese de que não se deve exigir dos
sentidos mais do que eles podem perceber, Agostinho recorre
à analogia que há entre o estado de vigília e o do sono. Sabe-se
efetivamente que, no sono, as coisas se aproximam ainda mais
do falso do que no estado de vigília. Se, pois, não se pode
conhecer com certeza nem mesmo o fato de estarmos
acordados, esta impossibilidade se revelará a fortiori quando se
consideram os fenômenos do universo onírico. Todavia,
retruca Agostinho, se os mundos se compõem de um mais
seis, é patente que os mundos formam sete em qualquer
situação ou estado em que nos encontrarmos. De igual modo,
que nove sejam três vezes três e forme um quadrado de
números inteligíveis, é necessariamente verdadeiro mesmo se
toda a humanidade estivesse a ressonar. De sorte que os
sentidos não devem ser acusados ao constatar-se que os
11 Convém, porém, lembrar que Agostinho não acusa os Acadêmicos de terem negado
valor aos sentidos. O que ele ressalta é justamente não ter neles encontrado nenhuma
crítica contra os sentidos (Cf. ibid., p. 167-169).
49
delirantes são afetados por falsas visões, nem tampouco pelo
fato de, quando sonhamos, percebermos coisas falsas (Cf. ibid.,
p. 167).
Essas
ponderações
nos
conduzem
quase
irremediavelmente para as Meditationes de prima philosophia, de
René Descartes, e, mais precisamente, para a Primeira
Meditação, onde o filósofo francês realiza – deslavada e
despudoramente – mais um de seus numerosos plágios sobre
as intuições que, doze séculos antes, já havia avançado e
desenvolvido o teólogo africano. Assim, baseando-se quase
nos mesmos exemplos, Descartes assevera: “Seja que me
encontre acordado ou dormindo, a soma de dois mais três é
sempre cinco e o quadrado não tem mais que quatro lados”
(DESCARTES, 1999, p. 408). Voltarei a esta problemática na
terceira e última seção deste capítulo. Por enquanto,
sublinhemos mais uma vez que, para Agostinho, o erro não
reside nos órgãos dos sentidos, mas tão somente nos juízos
que, irrefletidamente, emitimos sobre aquilo que parece ser.
Donde o clássico exemplo da ilusão ótica, na qual o remo
imerso na água parece quebrado ou oblíquo. Um epicureu –
lembra Agostinho – poderia observar: “A respeito dos
sentidos, nada tenho a lamentar, pois seria injusto deles exigir
mais do que podem. Assim, tudo o que podem ver os olhos,
estes veem algo verdadeiro. É então verdadeiro o que veem a
respeito do remo na água?” (AGOSTINHO, 2006, p. 167).
Para Agostinho, não há dúvida de que é verdadeiro
aquilo que aparece aos nossos olhos como sendo um remo
quebrado. Verdadeiro também é o fato de que, para os
navegantes, as torres, vistas de longe, parecem mover-se.
Verdadeiro igualmente é o fenômeno indicando que a
plumagem de certas aves muda de cor conforme o ângulo do
qual ela é observada. De sorte que não se poderia confutar
aquele que declarasse: “Sei que isto me parece branco, sei que
meu ouvido encontra deleite nisto, sei que para mim isto tem
50
um odor agradável, sei que para mim isto tem um doce sabor,
sei que isto para mim é frio” (Ibid., p. 169).
Moustapha Safouan, no livro, L’échec du principe du
plaisir, chama a atenção para algumas consequências que o
problema da percepção acarretou para três filósofos: Platão,
Berkeley e Kant. Em Berkeley, a aparência ou a percepção se
teria anexado ao próprio eu, de modo que, ao reduzir-se o ser a
esta mesma percepção, não se poderia evitar a consequência
de negar o ser e, destarte, desprover a percepção de sua
própria realidade ou de seu caráter de ser real. Quanto ao
autor da Crítica da razão pura, existiria também uma anexação
da aparência ou da percepção, não ao eu, mas ao sujeito do
conhecimento, cuja função, através da influência que exercem as
formas puras da intuição sobre as percepções, é a de organizar
ou constituir o objeto como tal. Com relação à coisa mesma,
esta permanece como que subtraída ao nosso conhecimento e,
portanto, como uma coisa em si, um não-objeto. Isto equivale a
dizer que o ser, o não-eu, é mantido, mas sem nenhuma
identidade verificável para nós. Em outros termos, embora
mantido, este ser continua sendo indeterminado e
indeterminável (Cf. SAFOUAN, 1979, p. 23).
Em Platão, a percepção de que as coisas se apresentam
numa perpétua instabilidade, mobilidade e mutabilidade – o
mesmo remo, por exemplo, aparecendo ora inteiriço ora
quebrado, ora mais longo ora mais curto, ora num lugar ora
noutro – teria conduzido o filósofo a deslocar todos esses
fenômenos, não para o percipiens, mas para as próprias coisas
percebidas. Mas, assim fazendo, Platão as teria privado de
todo status ontológico, de sorte que as realidades sensíveis –
por se transformarem continuamente – não podem ser
apreendidas pela razão enquanto conceitos. Quanto ao
verdadeiro ser, este reside no reino das Ideias, ou das
essências inteligíveis, que são divinas, porque inascíveis,
imperecíveis, imutáveis, eternas. Assim, conclui Safouan, todo
o problema do platonismo consiste em saber como é possível
51
situar o verdadeiro ser acima do mundo sensível e, portanto,
fora de nós, reivindicando ao mesmo tempo – em contraste
com a incognoscibilidade da coisa-em-si kantiana – a
possibilidade mesma de conhecê-lo. Por conseguinte, a
distinção entre a aparência e a realidade que, na perspectiva
idealista, é assimilada à distinção entre o que pertence ao
sujeito e o que reside fora do sujeito, ou do alcance de seu
conhecimento, já se acharia enunciada em Platão. Todavia, ela
se exprime aqui sob a modalidade de uma separação entre as
mutações do mundo sensível – que encerram uma aparência de
ser – e o ser verdadeiro (Cf. ibid., p. 23-24).
Ora, na minha perspectiva, o que está em jogo, tanto em
Platão quanto em Kant, não é – pelo menos em primeiro lugar
– a cognoscibilidade ou a incognoscibilidade de uma dessas
duas esferas, mas, sobretudo, o espaço por onde possam
articular-se, melhor, entrelaçar-se, entressachar-se, imbricar-se,
ou entre-mear-se, o inteligível e o sensível. Refiro-me,
evidentemente, ao vínculo, ao meio ou ao entre-dois – Lacan
diria a letra ou o real – pelo qual se efetua, ou não para de se
efetuar, a significação e, consequentemente, a descarga da
tensão que todo desejo encerra. É neste sentido que Roland
Sublon afirma que a alma platônica e o esquema kantiano já se
revelam como uma construção que tenta conjugar o idêntico e
o diferente. De resto, é a manipulação da fita unilateral de
Moebius que permite mostrar uma estrutura de borda, onde
um registro não cessa de passar para o outro, ou pelo outro, no
topos mesmo de uma linha sem ponto (Cf. SUBLON, 2004, p.
34).
Mas o objetivo que Moustapha Safouan realmente visa
alcançar parece ser este: em Freud – que não questiona nem a
realidade nem a veracidade da percepção – assiste-se a uma
reviravolta radical, na medida em que o princípio do erro é
colocado não no objeto, mas no próprio sujeito. Um sujeito –
convém lembrar – ao qual o inventor da psicanálise atribui
uma tendência originária, primordial, para a alucinação. Eis a
52
razão pela qual a concepção freudiana da percepção estaria
mais próxima daquela de Agostinho que daquelas de Platão,
Berkeley e Kant. É o que deixa claramente pressupor o
analista, ao explicar:
Porque, a partir do momento em que ele é submisso a essa
tendência, e à necessidade de uma função secundária que dela
resulta, o sujeito é suscetível não somente, como diz
Agostinho, de julgar como verdadeiro aquilo que é falso (com
o risco para o eu de intervir demasiadamente cedo), mas
também de julgar como falso aquilo que é verdadeiro (com o
risco para o eu de intervir demasiadamente tarde) –
(SAFOUAN, 1979, p. 25).
Sem embargo, todo desejo é, por natureza, alucinatório,
porquanto ele traz consigo uma carga de tensão que quer
incondicionalmente, imperiosamente, ser descarregada,
aplacada, apaziguada. A própria distorção da realidade, que
aparece ora de uma maneira ora de outra, já poderia ser a
expressão inconsciente de uma tentativa do sujeito para
deslocar a angústia, que acompanha todo desejo. É paradoxal,
portanto – para retornarmos à questão da fiabilidade ou não
fiabilidade dos sentidos – o fato de que não se pode conceber a
busca da verdade, ou daquilo que se considera verdade, sem
pensar ao mesmo tempo na ilusão, na aparência, no engano,
na mentira, na dúvida.
A DÚVIDA E A VOZ DO “MESTRE INTERIOR”
Com efeito, já no Contra os Acadêmicos, faz-se delinear a
questão que nos diálogos posteriores – A vida feliz, Solilóquios,
O livre-arbítrio – e, mais particularmente, nos tratados
redigidos a partir de 399 – A Trindade e A Cidade de Deus –
Agostinho explicitará como sendo a relação intrínseca entre o
engano e a certeza, a razão e a hesitação, a dúvida e a
existência. Deste modo, na Trindade e, mais especificamente,
53
na Cidade de Deus, a dúvida será surpreendentemente
apresentada como a instância a partir da qual o sábio poderá
finalmente afirmar: “Se me engano, então eu existo”, “Si enim
fallor, sum” (AGOSTINHO, 2000, p. 564). Mas, como eu
insinuei logo acima, essa questão se faz de certo modo
presente já no Contra os Acadêmicos e, mais precisamente, no
Livro III, onde Agostinho enfatiza que seria um absurdo
afirmar: “O sábio não sabe por que vive, não sabe de que
modo vive, não sabe se vive e, enfim – não se poderia dizer algo
de mais errôneo, delirante e insano – que o sábio existe e, ao
mesmo tempo, ignora a sapiência” (AGOSTINHO, 2006, p.
155, grifos meus).
Difícil não é deduzir que a passagem sublinhada – não
sabe se vive – foi a que deu ensejo para que se detectasse, já no
Contra os Acadêmicos, um antecedente daquilo que, no século
XVII, Descartes se apropriaria ao elaborar a sua teoria do
“Cogito, ergo sum”. No diálogo seguinte, A vida feliz, essa
questão será retomada e, nos Solilóquios, ela se tornará ainda
mais explícita, na medida em que se trata aqui de um diálogo
que Agostinho estabelece consigo mesmo ou, mais
exatamente, entre si mesmo e a Razão. É a voz do “mestre
interior” que indaga sobre o existir, o viver e o conhecer. A Razão
lança esta interrogação: “Tu, que queres conhecer-te, sabes que
existes?” A: “Eu o sei”. R: “Como o sabes?” A: “Não o sei”. R:
“Tu te sentes simples ou múltiplo?” A: “Não o sei”. R: “Sabes
que és movido?” A: “Não o sei”. R: “Sabes que pensas?” A:
“Eu o sei”. R: “Logo, é verdade que pensas”. A: “É verdade”
(Ibid., p. 533). Como se vê, o sujeito pode duvidar da maneira
como sabe que existe, pode duvidar se é simples ou múltiplo,
móvel ou fixo, mas não pode duvidar que existe, que pensa,
que sabe, que conhece. Ele está, portanto, seguro que se sabe
existente, vivente, pensante.
A questão da dúvida como um componente essencial do
conhecimento, ou da busca da verdade, encontrou a sua
formulação emblemática no tratado da Trindade, onde
54
Agostinho, além de fazer uma espécie de balanço da filosofia
pré-socrática, reitera o seu método fundamental do diálogo da
alma consigo mesma. Assim, nesta passagem, o leitor poderá
constatar não somente a dinâmica da introspecção agostiniana,
mas também a apropriação ou, mais exatamente, o plágio
direto e deslavado que Descartes sobre ela operou nas
Meditações:
Mas porque se trata da natureza do espírito, retiremos da
nossa consideração todos os conhecimentos que nos provêm
do exterior, por intermédio dos sentidos do corpo, e
consideremos com mais diligência o que já havíamos
estabelecido, isto é, que todos os espíritos se conhecem a si
mesmos com certeza. Os homens duvidaram se deviam
atribuir a faculdade de viver, de recordar, de entender, de
querer, de pensar, de saber, de julgar, ao ar, ou ao fogo, ou ao
cérebro, ou ao sangue, ou aos átomos, ou a um quinto
elemento de natureza corpórea ignorada, além dos quatros
elementos conhecidos. Ou também se a estrutura e a
constituição de nosso corpo eram capazes de realizar todas
essas operações. Uns se esforçaram por defender tal opinião,
outros tal outra. Todavia, quem poderia duvidar que vive, que
recorda, que compreende, que quer, que pensa, que sabe, que
julga? Porque, mesmo se duvida, vive; se duvida, recorda-se
de onde provém a sua dúvida; se duvida, compreende que
duvida; se duvida, quer estar certo; se duvida, pensa; se
duvida, sabe que não sabe; se duvida, julga que não deve dar
o seu assentimento temerariamente. Portanto, quem duvida
de outras coisas não deve duvidar de todas estas, porque, se
não existissem, não poderia duvidar de nenhuma coisa
(AGOSTINHO, 1998, p. 320).
Essa mesma ideia retornará na Cidade de Deus, livro que
o teólogo africano compôs no tempo em que ainda redigia A
Trindade e, mais precisamente, entre 413 e 426. Ei-la, pois,
reformulada e condensada:
Com respeito a essas verdades, não temo as objeções dos
Acadêmicos. Eles dizem: “Supões que te enganas?” Eu replico:
55
“Se me engano, então eu existo (Si enim fallor, sum)”. Quem
não existe não pode enganar-se; portanto, se me engano,
existo. E porque existo, se me engano, como posso enganar-me
pensando que existo, quando é certo que existo porque me
engano? Logo, já que eu devo existir porque me engano,
então, mesmo quando me engano, não há dúvida de que eu
não me engano no conhecimento de que existo. Segue-se
também que eu não me engano enquanto conheço que me
conheço. Assim como conheço que existo, assim também
conheço que conheço (AGOSTINHO, 2000, p. 564).
Depois dessas considerações, urge, portanto, mais uma
vez reiterar: o paradoxo fundamental da construção da
verdade efetuada pelo “mestre interior” consiste justamente
em que dela a dúvida não pode ser excluída. Afinal de contas,
seria possível pensar a verdade sem a mentira, o lógico sem o
ilógico, o racional sem o irracional, a vontade de verdade sem
a vontade de engano, de aparência, de ilusão? Isto quer dizer
que a dúvida é radicalmente inerente à busca da verdade, cuja
realização só pode dar-se através da linguagem que, por
natureza, é incompleta, dispersa, fragmentária, lacunar. Neste
sentido, o texto – enquanto espaço através do qual a
multiplicidade de significantes não cessa de se desdobrar e de
se repetir – já é sintomático da impossibilidade mesma de se
lançar a última palavra, a última interpretação, a última
significação. Assim, o que está em jogo em Agostinho e,
finalmente, em todo pensador é a tentativa mesma de se
inscrever, de se dizer e de se significar o desejo na sua eterna,
sempre renovada e sempre recomeçada satisfação–insatisfação...
REFERÊNCIAS
AGOSTINHO. Tutti i dialoghi. Milano: Bompiani, 2006.
_______. La città di Dio. Roma: Città Nuova, 2000.
_______. La Trinità. Roma: Città Nuova, 1998.
56
DESCARTES, René. Les méditations. In Oeuvres philosophiques, 3 v.,
Tome II. Paris: F. Alquié, 1999.
LACAN, Jacques. Le Séminaire, Livre I, Les écrits techniques de Freud.
Paris: Seuil, 1975.
MARROU, Henri-Irénée. Saint Augustin et la fin de la culture antique.
Paris: De Boccard, 1958.
NIETZSCHE, Friedrich. Jenseits vont Gut und Böse. In Kritische
Studienausgabe, 15 v. Berlin/New York: Walter de Gruyter, 1988.
SAFOUAN, Moustapha. L’échec du principe du plaisir. Paris: Seuil, 1979.
SUBLON, Roland. L’éthique ou la question du sujet. Strasbourg: Le
Portique, 2004.
57
Capítulo 4
TOMÁS DE AQUINO: FILOSOFIA E PEDAGOGIA
Jean Lauand
INTRODUÇÃO
Tomás de Aquino (1224[5] – 1274) é, sem dúvida, o mais
importante pensador medieval. Sua filosofia – indissociável da
teologia, em sua época – tem importantes projeções
pedagógicas, também para o educador de hoje, para além do
interesse meramente histórico. Neste estudo, destacaremos
três aspectos, de especial atualidade, do pensamento
tomasiano: a valorização do mundo material; a afirmação da
primazia da virtude da prudentia; e sua perspectiva negativa em
filosofia.
A vida de Tomás de Aquino está centrada no século XIII.
Desde o século anterior – um século de renascimento cultural,
após um longo período de aridez intelectual – já se
estabeleciam as condições que possibilitariam as profundas
inovações trazidas pelo pensamento do Aquinate.
De fato, com a queda do Império Romano no Ocidente
(consumada em 476) e consequente instalação de reinos
bárbaros no espaço geográfico da extinta Roma, a primeira
Idade Média encontrava-se em condições precárias de cultura
e educação. O esplendor da cultura clássica foi substituído
pela “idade das trevas”: tribos bárbaras, não só analfabetas,
58
mas (até há pouco) ágrafas, são a nova realidade dominante na
Europa.
Do ponto de vista cultural e pedagógico, alguns autores,
como Josef Pieper, preferem estabelecer o ano 529 como marco
inicial da Idade Média. Nesse ano, ocorrem dois fatos
emblemáticos: o imperador Justiniano (o império romano no
Oriente permanecerá até 1453) fecha a Academia de Atenas: já
não haverá lugar para a cultura pagã. E São Bento funda o
mosteiro de Monte Cassino: não por acaso, os primeiros
séculos medievais são, na História da Educação, chamados de
“Idade Beneditina”.
Os mosteiros beneditinos serão, em meio à desolação
cultural da primeira Idade Média, o refúgio onde se alojará e
conservará o pouco conhecimento que restou do fim da
Antiguidade, graças a educadores como Boécio e Cassiodoro.
Boécio, o “último romano”, um dos mais importantes
nomes da história da educação, foi encarregado pelo rei
Teodorico de organizar a cultura no reino ostrogodo.
Conhecedor profundo da ciência e da filosofia gregas, Boécio
empreende um projeto pedagógico realista: uma cultura de
resumos. Ele sabe que o esplendor das culturas grega e
romana desapareceu e que a nova realidade são os ostrogodos,
incapazes de ascenderem às alturas do mundo clássico. E
empreende, na corte do rei, uma pedagogia de traduções e
conteúdos mínimos: a imponente geometria de Euclides, a
aritmética, a astronomia... são reduzidas a livrinhos super
elementares e sumaríssimos. Embora suas ambições para a
filosofia fossem muito maiores, sua trágica morte (em 525,
quatro anos antes do aparecimento da ordem beneditina)
deixou o Ocidente sem traduções de Platão e com muito pouco
de Aristóteles.
Boécio, uma inteligência superior, tinha talento para
muito mais do que para resumos e traduções, mas, como
grande educador, optou pela tarefa exigida por sua época: o
trabalho obscuro e pouco original de elaboração de sementes
59
secas, que pudessem um dia, em futuro longínquo, germinar,
florescer e frutificar.
Cassiodoro, também um culto romano, colega de Boécio
na corte de Teodorico, percebeu que não havia condições de
cultivo do saber na tumultuada corte do reino bárbaro e, em
555, funda o mosteiro de Vivarium, marco importante na
história da educação. Curiosamente, os bárbaros, em geral,
respeitavam o espaço sagrado do mosteiro e Vivarium tornase um paradigma para a Europa: a partir de então, o mosteiro
será não só um lugar de oração, mas também de cultura: de
estudo e cópia de livros e de ensino elementar.
Nos séculos XII e XIII, ocorrem mudanças significativas:
intensifica-se a urbanização e muda também o centro de
gravidade da educação: das escolas monásticas para as escolas
catedrais e as nascentes universidades. Surgem as ordens
mendicantes, os dominicanos (à qual Tomás se filiará) e os
franciscanos; renascem as ciências e redescobre-se Aristóteles
(inicialmente por meio de traduções do árabe na Espanha
reconquistada) etc.
Se, na primeira Idade Média, o pensamento estivera
praticamente limitado aos livros de Sentenças, compilação de
pensamentos dos santos padres, e à preservação com pouco
desenvolvimento daquela “cultura de resumos”, legada por
Boécio, Cassiodoro ou Isidoro de Sevilha; agora, com o
renascimento cultural do século XII, já podem ser elaboradas
as Sumas, grandiosas sínteses pessoais, como a Suma Teológica
de Tomás.
Nesse ambiente de efervescência intelectual é que se
desenvolve, contra a corrente, o pensamento de Tomás, um
dos primeiros membros da ordem dominicana e um dos
primeiros grandes professores da Universidade de Paris,
ambas fundadas em 1215.
Os três pontos do pensamento de Tomás que aqui
destacaremos, por seu interesse pedagógico, estão, na verdade,
interligados em torno do conceito central de Criação. Porque o
60
mundo é criação, o corpo, a matéria são essenciais ao ser que
Deus deu ao homem. Tomás assume corajosamente o ser
corporal do homem em todas as suas dimensões, que incluem,
evidentemente, o conhecimento, a aprendizagem e a educação.
Por ser criado, por ter recebido esse ser corpóreo, acentua-se o
caráter negativo da filosofia e da teologia: nosso conhecimento
(e nossa linguagem) não consegue abarcar Deus nem as coisas,
que foram criadas pelo Logos, a Inteligência divina. Assim, se a
realidade é mistério para o homem, suas decisões de ação, que
ainda por cima estão inseridas na concretude do “aqui e
agora”, não podem ser diretamente guiadas por certezas
abstratas, mas pela virtude pessoal do discernimento da
decisão certa: a prudentia.
O HOMEM COMO INTRÍNSECA UNIÃO ESPÍRITO-MATÉRIA
No centro da filosofia da educação de Tomás, encontrase a tese fundamental de sua antropologia: anima forma
corporis, a profunda unidade, no homem, entre espírito e
matéria: a alma é forma substancial, em intrínseca união com a
matéria.
Essa tese, originariamente aristotélica, não era, como se
sabe, bem vista nos meios teológicos da época: era considerada
perigosa para um cristianismo que não valorizava a matéria e
o corpo; a doutrina teológica dominante pretendia uma
concepção demasiadamente espiritualista do homem: o
homem possuiria três almas e a alma verdadeiramente
importante seria a espiritual (e não as duas corpóreas:
sensitiva e vegetativa) e a condição carnal era considerada
antes um estorvo para a elevação do espírito.
Contra essas antropologias “angelistas”, Tomás corajosa e decididamente - afirma o homem total, com a
intrínseca união espírito-matéria, pois a alma é forma: coprincípio ordenado para a intrínseca união com a matéria.
Quando Tomás diz: “É evidente que o homem não é só a alma,
61
mas um composto de alma e de corpo” (I, 75, 4) esse “é
evidente”, na verdade, refere-se à verdade das coisas e não às
opiniões teológicas de seu tempo...
Esse “materialismo” de Tomás está presente informando todo seu pensamento, por exemplo: quando discute
o jejum excessivo nas questões de Quodlibet, dirá que o jejum é
sem dúvida pecado (absque dubio peccat) quando debilita a
natureza a ponto de impedir as ações devidas: que o pregador
pregue, que o professor ensine, que o cantor cante..., que o
marido tenha potência sexual para atender sua esposa! Aquele
que assim se abstém de comer ou de dormir, oferece a Deus
um holocausto que é fruto de um roubo12.
Tomás aceita tão completamente o corpo como
integrante essencial da realidade do ser humano que esta
união se projeta até na operação espiritual que é o
conhecimento intelectual: “A alma necessita do corpo para
conseguir o seu fim, na medida em que é pelo corpo que
adquire a perfeição no conhecimento e na virtude” (C. G. 3,
144).
E contra aquela tradição teológica que afirmava a
iluminação imediata da inteligência humana por Deus (para o
Aquinate Deus nos deu sua luz, dando-nos o intelecto), Tomás
afirma que só podemos chegar às ideias mais abstratas e às
considerações mais espirituais a partir da realidade sensível,
material, concreta: “O intelecto humano, que está acoplado ao
corpo, tem por objeto próprio a natureza das coisas existentes
corporalmente na matéria. E, mediante a natureza das coisas
Et ideo huiusmodi sunt adhibenda cum quadam mensura rationis: ut scilicet
concupiscentia devitetur, et natura non extinguatur; secundum illud Ad Rom., XII, 1:
“exhibeatis corpora vestra hostiam viventem; et postea subdit: rationabile obsequium
vestrum. Si vero aliquis in tantum virtutem naturae debilitet per ieiunia et vigilias, et
alia huiusmodi, quod non sufficiat debita opera exequi; puta praedicator praedicare,
doctor docere, cantor cantare, et sic de aliis; absque dubio peccat; sicut etiam peccaret
vir qui nimia abstinentia se impotentem redderet ad debitum uxori reddendum. unde
Hieronymus dicit: “De rapina holocaustum offert qui vel ciborum nimia egestate vel
somni penuria immoderate corpus affligit; et iterum rationalis hominis dignitatem
amittit qui ieiunium caritati, vigilias sensus integritati praefert. (Quodl. 5, q. 9, a. 2, c).
12
62
visíveis, ascende a algum conhecimento das invisíveis” (I, 84,
7). Nesta afirmação resume-se a própria estrutura ontológica
do homem. E, insistamos, mesmo as realidades mais
espirituais só são alcançadas, por nós, através do sensível:
“Ora - prossegue Tomás -, tudo o que nesta vida conhecemos,
é conhecido por comparação com as coisas sensíveis naturais”.
Esse voltar-se para o concreto, para o sensível, marca
profundamente não só a pedagogia, mas é mesmo uma clave
de interpretação de todo o pensamento de Tomás de Aquino.
Outro exemplo: a autoridade de Agostinho havia
estabelecido (como no De Trinitate, sobretudo no livro XV) a
memória como a primeira realidade do espírito, da qual
procedem o pensar e o querer: é portanto um reflexo de Deus
Pai, do qual procedem o Verbo e o Espírito Santo.
O jovem Tomás do Comentário às Sentenças ainda fala de
três potências espirituais: memória, inteligência e vontade.
Mas, na Summa e no De Veritate, rompe com essa visão,
situando a memória como uma faculdade sensível. Por
exemplo, quando na Suma explica que a memória é parte da
Prudência, afirma: “A prudência aplica o conhecimento
universal aos casos particulares, dos quais se ocupam os
sentidos. Daí que a prudência requer muito da parte sensitiva,
na qual se inclui a memória” (I-II, 49, 1 ad 1).
Para além de todas as distinções (é evidente que há uma
dimensão da memória que é intelectual - lembrar de um
teorema - etc.) e tendo em conta que no homem tudo está
integrado pela alma..., a memória é fundamentalmente
sensorial.
O sensorial perpassa a pedagogia de Tomás (como em
ad 2 de II-II, 49,1) ao apontar as leis fundamentais da memória,
diz que para nos lembrarmos devemos estabelecer
semelhanças (similitudines) adequadas para o que se quer
recordar. Mas, afirma, não semelhanças usuais, pois
guardamos melhor o invulgar. E, assim, prossegue o Aquinate,
é necessário encontrar semelhanças, metáforas ou imagens,
63
pois as realidades espirituais facilmente se esvaem se
estão “amarradas” a alguma semelhança corpórea
quibusdam similitudinibus corporalis quasi alligentur). E
conclui, porque o conhecimento humano é mais forte
relação ao sensível.
não
(nisi
isto,
com
A PRIMAZIA DA VIRTUDE DA PRUDENTIA
É difícil subestimar a importância da virtude da
prudência, a principal das virtudes cardeais (prudência,
justiça, fortaleza e temperança), no pensamento de Tomás: não
é que ela seja a primeira inter pares, mas é principal em uma
ordem superior, é a mãe das virtudes, genitrix virtutum (In III
Sent., d 33, q 2, a 5, c) e a guia das virtudes, auriga virtutum (In
IV Sent., d 17, q 2, a 2, dco).
Por mais destacada, porém, que seja a importância
histórica do Tratado da Prudência de Tomás, seu interesse
transcende o âmbito da história das ideias e instala-se superadas as naturais barreiras de linguagem dos 750 anos
que nos separam do Aquinate - no diálogo direto com o
homem do nosso tempo, como rica contribuição para alguns
de seus mais urgentes problemas existenciais.
Além do mais, a doutrina sobre a prudência tem o
condão de expressar, de modo privilegiado, as diretrizes
fundamentais de todo o filosofar de Tomás.
Para bem avaliar o significado e o alcance do Tratado da
Prudência é necessário, antes de qualquer coisa, atentar para o
fato de que prudência é uma daquelas tantas palavras
fundamentais que sofreram desastrosas transformações
semânticas com o passar do tempo: aquela palavra, que
originalmente designava uma qualidade positiva, esvazia-se
de seu sentido inicial ou passa até a designar uma qualidade
negativa.
“Prudência” já não designa hoje a grande virtude, mas
sim a conhecida cautela (um tanto oportunista, ambígua e
64
egoísta) ao tomar (ou ao não tomar...) decisões. Se hoje a
palavra prudência tornou-se aquela egoísta cautela da indecisão
“em cima do muro”, em Tomás, ao contrário, ela expressa
exatamente o oposto da indecisão: é a arte de decidir-se
corretamente, isto é, com base não em interesses oportunistas,
não em sentimentos piegas, não em impulsos, não em temores,
não em preconceitos etc., mas, unicamente, com base na
realidade: em virtude do límpido conhecimento do ser. É este
conhecimento do ser que é significado pela palavra ratio na
definição de prudentia: recta ratio agibilium, “reta razão aplicada
ao agir”, como repete, uma e outra vez, Tomás.
Prudência é ver a realidade e, com base nessa visão,
tomar a decisão certa. Por isso, como repete Tomás, não há
nenhuma virtude moral sem a prudência, e mais: “sem a
prudência, as demais virtudes, quanto maiores fossem, mais
dano causariam” (In III Sent. d 33, q 2, a 5, sc 3). Com as
alterações semânticas, porém, tornou-se intraduzível, para o
homem de nosso tempo, uma sentença de Tomás como: “a
prudentia é necessariamente corajosa e justa”13.
Sem esse referencial, tomamos nossas decisões
fundamentados em quê? Quando não há a simplicitas, a
simplicidade da prudência que se volta para a realidade como
único ponto decisivo na decisão, ela acaba sendo tomada,
como dizíamos, com base em diversos outros fatores: por
preconceitos, por razões interesseiras, por impulso egoísta,
pela opinião coletiva, pelo “politicamente correto”, por inveja
ou por qualquer outro vício...
Mas este ver a realidade é somente uma parte da
prudência; a outra parte, ainda mais decisiva (literalmente) é
transformar a realidade vista em decisão de ação, em
comando: de nada adianta saber o que é bom, se não há a
decisão de realizar este bem...
13
Nec prudentia vera est quae iusta et fortis non est (I-II, 65, 1).
65
O nosso tempo, que se esqueceu até do verdadeiro
significado da clássica prudentia, atenta contra ela de diversos
modos: em sua dimensão cognoscitiva (a capacidade de ver o
real, por exemplo, aumentando o ruído - exterior e interior –
que nos impede de “ouvir” a realidade) e em sua dimensão
prescritiva, no ato de comandar: o medo de enfrentar o peso
da decisão, que tende a paralisar os imprudentes (pois,
insistamos, a prudência toma corajosamente a decisão boa!).
A grande tentação da imprudência (sempre no sentido
clássico) é a de delegar a outras instâncias o peso da decisão
que, para ser boa, depende só da visão da realidade. Há
diversas formas dessa abdicação: do abuso de reuniões
desnecessárias à delegação das decisões a terapeutas,
comissões, analistas e gurus, passando por toda sorte de
consultas esotéricas.
Uma das mais perigosas formas de renúncia a enfrentar
a realidade (ou seja, a renúncia à prudentia) é trocar essa fina
sensibilidade de discernir o que, naquela situação concreta, a
realidade exige por critérios operacionais rígidos, como num
“Manual de escoteiro moral” ou, no campo do direito, num
estreito legalismo à margem da justiça. É também o caso do
radicalismo adotado por certas propostas religiosas. Tal como
o “Ministério do Vício e da Virtude” do antigo regime Taliban,
algumas comunidades cristãs - em vez de afirmar o direito (e o
dever) do fiel de discernir o que é bom em cada situação
pessoal concreta - simplificam grosseiramente: em caso de
dúvida, é pecado e pronto!
O Tratado da Prudência de Tomás é o reconhecimento de
que a direção da vida é competência da pessoa e o caráter
dramático da prudência se manifesta claramente quando
Tomás mostra que não há “receitas” de bem agir, não há
critérios comportamentais operacionalizáveis, porque - e esta é
outra constante no Tratado - a prudência versa sobre ações
contingentes, situadas no “aqui e agora”.
66
É que a prudência é virtude da inteligência, mas da
inteligência do concreto: a prudência não é a inteligência que
versa sobre teoremas ou princípios abstratos e genéricos, não!;
ela olha para o “tabuleiro de xadrez” da situação “aqui e
agora”, sobre a qual se dão nossas decisões concretas, e sabe
discernir o “lance” certo, moralmente bom. E o critério para
esse discernimento do bem é: a realidade! Saber discernir, no
emaranhado de mil possibilidades que esta situação me
apresenta (que devo dizer a este aluno?, compro ou não
compro?, caso-me ou não?, devo responder a este e-mail? etc.),
os bons meios concretos que me podem levar a um bom
resultado, à plenitude da minha vida, minha realização
enquanto homem. E para isto é necessário ver a realidade
concretamente. De nada adiantam os bons princípios
abstratos, sem a prudentia que os aplica - como diz Tomás - ao
“outro pólo”: o da realidade (que significa “amar o próximo”
nesta situação concreta?).
A condição humana é tal que - muitas vezes - não
dispomos de regras operacionais concretas: sim, há um certo e
um errado objetivos, um “to be or not to be” pendente de nossas
decisões, mas não há regra operacional. Tal como para o bom
lance no xadrez, há até critérios gerais objetivos... mas, não
operacionais concretos!
Por mais que nosso tempo insista em querer eliminar a
verdade objetiva, no fundo sabemos que há certo e “errados”
objetivos e que a decisão do agir é um problema de ratio, de
recta ratio... Quando, diante de uma ação, perguntamos “por
quê?”, estamos perguntando é pela razão (reason, raison...): “Por
que razão você fez isto?”. E o mesmo ocorre quando, diante de
uma ação, dizemos: “É, você tem razão...”, “está coberto de
razão”, etc. E para uma ação que é um grave mal moral,
dizemos: “Que absurdo!” (falta razão).
Isto não quer dizer que a pessoa tenha sempre uma
justificativa racional pronta, consciente para cada ato. A
prudência decide bem, mas com a espontaneidade da virtude.
67
Aliás, segundo Tomás, a função da virtude (como a de todo
hábito em geral) é precisamente a de permitir realizar o ato
com facilidade, “espontaneamente”, com certo “automatismo”
que não tira a liberdade, antes pelo contrário... (quem objetaria
a espontaneidade adquirida - após árduos esforços - dos
hábitos para extrair acordes do piano, falar uma língua
estrangeira ou andar de bicicleta?).
Trata-se, portanto, de uma “inteligência” moral, da
insubornável fidelidade ao real, que aprende da experiência e,
portanto, como víamos, requer a memória como virtude
associada: a memória fiel ao ser. No artigo dedicado à virtude
da memoria, Tomás observa que não pode o homem reger-se
por verdades necessárias, mas somente pelo que acontece in
pluribus (geralmente).
Note-se que esta é também a razão da insegurança em
tantas decisões humanas: a prudentia traz consigo aquele
enfrentamento do peso da incerteza, que tende a paralisar os
imprudentes.
É dessa dramática imprudência da indecisão que falam
alguns clássicos da literatura: do “to be or not to be...” de Hamlet
aos dilemas kafkianos (o remorso impõe-se a qualquer
decisão), passando pelo Grande Inquisidor de Dostoiévski, que
descreve “o homem esmagado sob essa carga terrível: a
liberdade de escolher” (DOSTOIÉVSKI, s.d., p. 226) e
apresenta a massa que abdicou da prudência e se deixa
escravizar, preferindo “até mesmo a morte à liberdade de
discernir entre o bem e o mal” (Ibidem, p. 225). E, assim, os
subjugados declaram de bom grado: “Reduzi-nos à servidão,
contanto que nos alimenteis” (Ibidem, p. 224).
É interessante observar que, desde a tenra infância, o
drama da decisão era-nos proposto sob diversas formas.
Éramos advertidos de que a vida - fortuna velut luna... - era
uma ciranda na qual “vamos todos cirandar”, e que junto com
juras de amor eterno vinham anéis de vidro:
68
O anel que tu me deste
era vidro e se quebrou.
O amor que tu me tinhas
era pouco e se acabou.
E a inveja e a eterna insatisfação humana eram
ludicamente desmascaradas: a galinha do vizinho é que bota
ovo amarelinho (e ainda por cima: bota um, dois,..., dez!).
E aprendíamos que a prudência só vem com a
experiência: “enganei um bobo, na casca do ovo...”.
E mais: na ingenuidade da infância, assumíamos nossa
incapacidade de realizar as escolhas fundamentais (como a de
ter que decidir quem é que ia se encarregar da triste missão de
jogar no gol...) e as confiávamos claramente à cega sorte (“lá
em cima do piano tem um copo de veneno...” ou “minha mãe
mandou escolher este daqui...”, ou ainda o “bem-me-quer”,
“uni, duni, tê” etc.).
Hoje, adultos, não adotamos mais esse critério (que, pelo
menos, tinha a vantagem de sinceramente reconhecer a
incapacidade de decidir). Nós pretendemos não necessitar de
uma virtude (toda a profunda antropologia das virtudes
cardeais nem sequer está mais em nosso campo de visão...),
pois presumimos dispor de recursos técnicos ou científicos que
permitam tornar dispensável o âmbito moral, a virtude
cardeal da prudência. Mas, não por acaso, “cardeal” vem da
palavra latina cardus, gonzo, eixo em torno do qual se abre a
porta (a porta da realização humana, do to be). Abdicar da
Prudentia, a cardeal das cardeais, significa perder o eixo, o
gonzo, tornar-se des-engonçado existencialmente! Abdicar da
prudência é abdicar da realidade e confiarmos a um Ersatz como ao Grande Inquisidor - as decisões fundamentais da
existência...
69
A PRUDENTIA NO PENSAMENTO “NEGATIVO” DE TOMÁS
Neste tópico procuraremos mostrar como a doutrina da
prudência tem um caráter revelador de todo o posicionamento
filosófico-teológico de Tomás.
Esse posicionamento é o de uma theologia negativa e de
uma philosophia negativa. Precisamente pela ignorância desse
decisivo caráter “negativo” no pensamento de Tomás é que ele
tem sido frequentemente mal compreendido, até pelos
tomistas. Aliás, o filosofar de Tomás é tal que é incompatível
com um “tomismo”14, com um “sistema” filosófico ou com um
racionalismo (e tantas vezes Tomás tem sido injustiçado com o
rótulo de racionalista).
Examinemos três instâncias desse caráter negativo no
pensamento de Tomás.
No que diz respeito ao conhecimento, Tomás assume
uma philosophia negativa. Para a descrição desse
posicionamento, recorremos à incomparável análise de Josef
Pieper, em Unaustrinkbares Licht:
Limitamo-nos a falar apenas da philosophia negativa - embora
Tomás tenha formulado também os princípios de uma
theologia negativa. Certamente este traço também não aparece
com clareza nas interpretações usuais; frequentemente é até
ocultado. Será raro encontrar menção do fato de a discussão
sobre Deus da Summa Theologica15 começar com a sentença:
‘Não podemos saber o que Deus é, mas sim, o que Ele não é’.
Não pude encontrar um só compêndio de filosofia tomista, no
Josef Pieper, talvez o melhor intérprete de Tomás em nosso tempo, afirma: “Não
pode haver um ‘tomismo’ porque a grandiosa afirmação que representa a obra de S.
Tomás é grande demais para isso (...). S. Tomás nega-se a escolher algo; empreende o
imponente projeto de ‘escolher’ tudo (...). A grandeza e a atualidade de Tomás
consistem precisamente em que não se lhe pode aplicar um ‘ismo’, isto é, não pode
haver propriamente um ‘tomismo’ (‘propriamente’, isto é: não pode haver enquanto
se entenda por ‘tomismo’ uma especial direção doutrinária caracterizada por
asserções e determinações polêmicas, um sistema escolar transmissível de princípios
doutrinais)” (Thomas von Aquin: Leben und Werk. München: DTV, 1981, p. 27).
15 Quia de Deo scire non possumus quid sit sed quid non sit, non possumus considerare de Deo
quomodo sit, sed potius quomodo non sit - Summa Theologica I, 3 prologus.
14
70
qual se tenha dado espaço àquele pensamento, expresso por
Tomás em seu Comentário ao De Trinitate de Boécio16: o de que
há três graus do conhecimento humano de Deus. Deles, o mais
fraco é o que reconhece Deus na obra da criação; o segundo é
o que O reconhece refletido nos seres espirituais e o estágio
superior reconhece-O como o Desconhecido: tamquam ignotum!
E tampouco encontra-se aquela sentença das Quaestiones
disputatae: ‘Este é o máximo grau de conhecimento humano de
Deus: saber que não O conhecemos’, quod (homo) sciat se Deum
nescire17. E, quanto ao elemento negativo da philosophia de
Tomás, encontramos aquela sentença sobre o filósofo, cuja
dedicação ao conhecimento não é capaz sequer de esgotar a
essência de uma única mosca. Sentença que, embora esteja
escrita em tom quase coloquial, num comentário ao Symbolum
Apostolicum18, guarda uma relação muito íntima com diversas
outras afirmações semelhantes. Algumas delas são
espantosamente ‘negativas’ como, por exemplo, a seguinte:
Rerum essentiae sunt nobis ignotae; ‘as essências das coisas nos
são desconhecidas’19. E esta formulação não é, de modo
algum, tão incomum e extraordinária, quanto poderia parecer
à primeira vista. Seria facilmente possível equipará-la (a partir
da Summa Theologica, da Summa contra Gentes, dos Comentários
a Aristóteles, das Quaestiones disputatae) a uma dúzia de frases
semelhantes: Principia essentialia rerum sunt nobis ignota20;
formae substantiales per se ipsas sunt ignotae21; differentiae
essentiales sunt nobis ignotae22. Todas elas afirmam que os
‘princípios da essência’, as ‘formas substanciais’, as ‘diferenças
essenciais’ das coisas, não são conhecidas.
Esse caráter “negativo” informa também seu modo de
fazer teologia, teologia essencialmente bíblica. Contra as
rationes necessariae de um Anselmo, contra a pretensão de
deduzir logicamente as verdades da fé, Tomás afirma o
mistério para o homem, contraponto da liberdade de Deus:
I, 2 ad 1.
Quaest. Disp. de potentia Dei, 7, 5 ad 14.
18 Cap. I.
19 Quaest. Disp. de veritate 10, 1.
20 In De Anima 1, 1, 15.
21 Quaest. disp. de spiritualibus criaturis, 11 ad 3.
22 Quaest. Disp. de veritate 4, I ad 8.
16
17
71
“Não há nenhum argumento de razão, naquelas coisas que são
de fé23“.
E na questão: “Se Deus teria se encarnado se não tivesse
havido o pecado do homem”, Tomás recolhe como objeções os
argumentos tradicionais na Escolástica: “Sim, a Encarnação
necessariamente ocorreria, pois a perfeição pressupõe a união
do primeiro - Deus - com o último, o homem”; ou: “Seria
absurdo supor que o pecado tivesse trazido para o homem a
vantagem da Encarnação e que, portanto, necessariamente,
teria havido Encarnação, mesmo sem o pecado”... Tomás, em
sua resposta, refuta categoricamente essas objeções,
afirmando: “A verdade sobre esta questão só pode conhecê-la
Aquele que nasceu e se entregou porque quis (In III Sent. d 1, q
1, a 3, c.)”24.
Nesse quadro “negativo”, pode-se compreender melhor
o significado da prudentia em Tomás: porque não conhecemos
completamente as coisas, não podemos ter a certeza
matemática nem critérios operacionais para discernir o bem;
para a boa decisão moral, precisamos das (frágeis e incertas)
luzes da prudentia: ter a memória do passado, examinar as
circunstâncias (e as circunstâncias como fonte de moralidade
detonam qualquer tentativa de espartilhar a conduta em
“manuais de escoteiro” morais), recorrer ao conselho (não por
acaso, com a supressão da prudentia na pregação da Igreja
contemporânea, “conselho” deixou de significar aconselhar-se
a si mesmo e passou só a significar conselho dado por outro),
etc.
E é que também no que se refere à prudentia, estão, como
pano de fundo, os dois elementos-chave de Tomás: mistério e
liberdade. Afirmar a prudentia é afirmar que cada pessoa é a
protagonista de sua vida, só ela é responsável, em suas
decisões livres, por encontrar os meios de atingir seu fim: a
In III Sent. d 1, q 1, a 2, c.
Este exemplo está em Josef Pieper. Scholastik. München: DTV, 1978. O capitulo XI é
indispensável para este tema.
23
24
72
sua realização. Esses meios não são determináveis “a priori”;
pertencem, pelo contrário, ao âmbito do contingente, do
particular, do incerto, do futuro e, necessariamente, a prudentia
se faz acompanhar da insegurança, da necessária insegurança
que acompanha toda vida autenticamente humana. Afinal,
para Tomás, o que o conceito de pessoa acrescenta à essência
humana é precisamente a individualidade concreta: “alma,
carne e osso, são configuradores do homem (sunt de ratione
hominis); mas esta alma, esta carne e estes ossos são
configuradores deste homem (sunt de ratione huius hominis) e
assim ‘pessoa’ acrescenta à configuração da essência os
princípios individuais” (I, 29, 2 ad 3).
Qualquer atentado contra a prudentia tem como
pressuposto a despersonalização, a falta de confiança na
pessoa, considerada sempre “menor de idade” e incapaz de
decidir e, portanto, devendo transferir a direção de sua vida
para outra instância: a igreja, o estado etc. Em qualquer caso,
isso é sempre muito perigoso. Como é perigoso que a
educação não se lembre dessa virtude...
REFERÊNCIAS
LAUAND, Jean (org.) Cultura e Educação na Idade Média. São Paulo:
Martins Fontes, 1998.
_______. “A mística da cozinha: de Heráclito a Adélia Prado”. International
Studies on Law and Education. São Paulo: Cemoroc-Feusp, No. 7, jan-abr
2011, pp. 55-68. Ed. on line: http://www.hottopos.com/isle7/55-68Jean.pdf
_______. “Fingir para Germinar: Educação e Antropologia - I”. Revista
Internacional d’Humanitats. São Paulo: Cemoroc-Feusp, No. 20, setn-dez
2010, pp. 29-34. Ed. on line: http://www.hottopos.com/rih20/jean.pdf
PIEPER, Josef “Luz Inabarcável - o Elemento Negativo na Filosofia de Tomás
de Aquino” (trad. G. Greggersen; rev. téc.: Jean Lauand). Convenit. São
Paulo:
Mandruvá,
No.
1.
Ed.
on
line:
http://www.hottopos.com/convenit/jp1.htm.
73
TOMÁS DE AQUINO. A Prudência (trad. e estudos introdutórios Jean
Lauand). São Paulo: Martins Fontes, 2005.
_______. Sobre o ensino e os sete pecados capitais (trad. e estudos
introdutórios Jean Lauand). São Paulo: Martins Fontes, 2004.
_______. Verdade e conhecimento (trad. e estudos introdutórios Jean
Lauand e M. B. Sproviero). São Paulo: Martins Fontes, 1999.
74
Capítulo 5
BOAVENTURA E A FILOSOFIA: O ENSINO UNIVERSITÁRIO
Eduardo Vieira da Cruz
Em 1273, Boaventura faz uma série de conferências na
Universidade de Paris, onde adverte os presentes sobre os
perigos que o estudo da filosofia poderia fazê-los correr25.
Compreender os motivos que o levam a tal gesto é
compreender, ao mesmo tempo, o contexto histórico-doutrinal
em que se insere, o lugar que a filosofia ocupa no pensamento
do doutor seráfico, assim como a função que o estudo da
filosofia desempenha na construção do saber universitário de
então.
Comecemos por esse último aspecto. Como, atualmente,
o estudo do pensamento medieval não goza de grande
25 Trata-se de sua última obra, as Collationes in Hexaemeron (Conferências sobre os seis
dias da Criação). A collatio (conferência) é, ao lado da homilia e do sermão, uma das
formas da praedicatio (pregação) medieval. Há dois tipos de collatio: a monástica e a
universitária. Enquanto a primeira é um abade ou um eminente religioso que a
pronuncia, na collatio universitária cabe a um mestre em teologia a tarefa de
desenvolver um conteúdo mais doutrinal, perante uma audiência composta de
mestres, licenciados, bacharéis e estudantes inscritos na faculdade (cf. POIREL, 2002,
p. 1138 e LIBERA, 1997, p. 10). Em outras duas séries de conferências, Boaventura
aponta o caráter problemático da filosofia – e daqueles que a propagam – para a
compreensão das verdades reveladas: nas Collationes de decem praeceptis (Conferências
sobre os dez mandamentos), proferidas em 1267; e nas Collationes de septem donis
spiritus sancti (Conferências sobre os sete dons do Espírito Santo), realizadas no ano
seguinte. Os três textos encontram-se no quinto volume das Opera Omnia de
Boaventura (1882-1902). Os dois primeiros foram objeto de traduções francesas
(BOAVENTURA, 1991 e 1992, respectivamente).
75
popularidade entre os estudantes de filosofia, é aconselhável
relembrar algumas particularidades do ensino universitário
deste período. O que se convencionou chamar de
Universidade26 – e que se distingue, mais do que se costuma
acreditar, daquilo que entendemos hoje por esse termo –
constituía-se por quatro Faculdades, cuja importância, à
primeira vista, estabelecia uma hierarquia pedagógica, reflexo
das distinções de prestígio. Havia três Faculdades que
encarnavam os estudos superiores: Direito (canônico e civil),
Medicina e Teologia. Embora seja legítimo, por comodidade
didática, reuni-las em uma mesma categoria, a scientia relativa
a cada Faculdade não era por isso menos hierarquizada – a
teologia, nesse aspecto, reinando absoluta. Entretanto, o que
interessa à reflexão que aqui propomos não são as relações
mais ou menos harmoniosas entre essas Faculdades, mas a
relação comum em que se encontravam face à Faculdade de
Artes27, responsável pelo ensino de disciplinas preparatórias e,
desse ponto de vista, inferiores às que se ministravam nas
outras28. Nesse sentido, parece-nos que o papel da Faculdade
de Artes comportava certa ambiguidade, na medida em que
essa inferioridade pode ser também, ou principalmente,
entendida como anterioridade necessária. Com efeito, ela era
passagem obrigatória no percurso estudantil daquele que
ambicionasse ingressar em uma das outras três Faculdades.
Na Idade Média, o termo universitas evolui, a partir do seu sentido clássico de
totalidade ou conjunto, e assume o valor de um termo jurídico, significando uma
corporação ou comunidade com autonomia para, por exemplo, constituir estatutos
próprios ou conferir graus acadêmicos. Aparece pela primeira vez em 1221, em um
texto parisiense, na expressão “universitas magistrorum et scolarium”, para designar a
comunidade de mestres e estudantes (cf. IMBACH, 2006, p. 1420). Para se adquirir
uma noção geral da natureza e do funcionamento das universidades medievais, ver
Verger, 1973.
27 O vocábulo ars (arte), quando usado no plural artes, significa as artes liberais
(BLAISE, 1998). Com relação aos termos medievais, utilizamos, sempre que possível, o
Lexicon de A. Blaise (1998) e, no que concerne especificamente a Boaventura, o Lexique
de J. G. Bougerol (1969).
28 Em todas as quatro Faculdades, a trajetória estudantil findava pela obtenção da
licença de ensino (licentia docendi).
26
76
Desse modo, embora a teologia significasse um saber situado
além daqueles veiculados pelos artistae29, sua superioridade
não a resguardava do fato de que, em função da estrutura
universitária, o estudante tinha acesso a ela apenas quando já
se encontrava formado, em seus hábitos de pensamento, pela
destreza no exercício das disciplinas do trivium e do
quadrivium.
Mas é preciso circunscrever melhor o problema. As artes
liberais – base do ensino no sistema educativo antigo e, depois,
medieval – compunham-se, efetivamente, do trivium
(gramática, retórica e dialética) e do quadrivium (aritmética,
geometria, música e astronomia). É a Boécio (480-525 d.C.),
inventor do termo quadrivium30, que se deve esta repartição,
que reúne, de um lado, as ciências relativas à expressão do
conhecimento, ou seja, as artes da linguagem e, de outro, as
ciências “matemáticas”. Séculos depois, a ênfase dada a cada
disciplina varia. O estudo da retórica será pouco a pouco
relegado a um plano secundário. É possível, já no século XI,
com Béranger de Tours, detectar o emprego do termo
“dialética” como significando o “uso do pensamento racional”.
Contudo, é apenas no segundo terço do século XII, com a
redescoberta do pensamento de Aristóteles pelo ocidente
cristão – nas traduções de Boécio dos Primeiros Analíticos, dos
Tópicos e das Refutações Sofísticas (sem esquecer a tradução
contemporânea dos Segundos Analíticos por Jacques de Veneza)
–, que a dialética assume uma importância inigualável,
extrapolando os limites das artes e qualificando-se como o
método por excelência do pensamento (Cf. CHENU, 1957, p.
20ss; LEMOINE, 2006; SOLÈRE, 2006). Ao fim do século, a
constatação se impõe: “A dialética ganha em autonomia: de
simples instrumento (dialectica utens), ela se torna meio de
conhecimento (dialectia docens)”(CESALLI, 2006, p. 411).
Assim eram denominados os mestres da Faculdade de Artes.
Já o termo trivium é posterior, sendo forjado na época carolíngia (cf. LEMOINE,
2006, p. 95).
29
30
77
Assim, a “destreza no exercício das disciplinas do
trivium e do quadrivium” significa algo mais, diferente do que
dizíamos há pouco. O século XIII conhece um novo estudante
de Teologia, alguém cujo pensamento tem na dialética como
que uma segunda natureza, alguém para quem só há de caber
um único epíteto a Aristóteles, este mesmo pelo qual o
estagirita passará, efetivamente, a ser designado: O Filósofo.
COMO SE TORNAR UM MESTRE EM TEOLOGIA31
De fato, essa destreza – não as consequências – era
condição sine qua non para a pretensão a uma carreira escolar.
Embora encontremos algumas pequenas discrepâncias na
historiografia, é consenso que tanto na Faculdade de Artes
quanto na de Teologia os estudos eram longos e intensos,
podendo perfazer, em alguns casos, dez anos na de Artes e
outros quinze na de Teologia. Onde quer que esteja a verdade
dos fatos, o que nos importa saber é que, uma vez apto a
ingressar nos estudos de teologia, o postulante devia obter a
aceitação de um mestre actu regens, isto é, um mestre que, além
do título em teologia, pertencesse aos quadros ativos da
Universidade. Vinha então o que se poderia chamar de
aspecto passivo da trajetória recém-iniciada. Este consistia no
acompanhamento (auditio) dos cursos do mestre durante um
período de aproximadamente seis anos, ao final dos quais, se
bem sucedido, o estudante obtinha o título de bacharel bíblico.
Isto o credenciava a desenvolver a segunda parte de sua
formação, em que se dedicava, durante um ou dois anos, à
prática que estava na base da pedagogia medieval e,
sobretudo, escolástica: a lectio. Cabia ao novo bacharel explicar
– evitando, contudo, os problemas de interpretação ou de
Para aqueles que desejam aprofundar-se no tema da pedagogia medieval sob o
ponto de vista técnico-metodológico, sugerimos a leitura do artigo de Glorieux, 1968.
31
78
doutrina – dois livros por ano, de sua escolha: um do Novo e
outro do Antigo Testamento.
Após esta fase, adquiria o grau de bacharel sentenciário
e, enquanto tal, dedicava-se por mais dois anos à tarefa para a
qual se preparara: a lectura. Tratava-se da leitura e explicação
dos quatro livros das Sententiae de Pedro Lombardo. Redigido
em torno de 1155-57, este texto de caráter enciclopédico –
reunindo, segundo a técnica dialética, passagens bíblicas e
patrísticas em aparente afrontamento, para, em seguida,
reduzir as diferenças através de uma solução argumentada –
se tornou o manual de base do ensino de teologia. Adotá-lo
como objeto de um curso regular implicava em já possuir uma
erudição considerável e uma disposição ainda maior para
preencher as lacunas, nessa mesma erudição, que sua leitura,
somada à tarefa de sua explicação, tornava evidente ao
bacharel. Dois anos de curso sobre as Sententiae
proporcionavam a ele duas coisas: primeiramente, tornar-se
efetivamente um bacharel formado e, nessa condição,
prosseguir sua atividade docente. Em segundo lugar, esta
atividade o levava a multiplicar as pesquisas sobre as
Sententiae, permitindo um acúmulo de notas que serviria como
matéria prima para a redação do seu Comentário das Sentenças
de Pedro Lombardo, obra cuja realização constituía uma das
exigências para a obtenção da licença de ensino (licentia
docendi) em Teologia32.
Apesar desse verdadeiro parcours du combattant, o
bacharel formado ainda deverá esperar mais quatro anos antes
de se tornar mestre. Nesse período, acompanhará seu mestre
nas disputationes, atividade pedagógica que está na origem de
um gênero literário característico da escolástica: as Quaestiones
No final do século XII, já se encontram exemplares de Comentários das Sentenças de
Pedro Lombardo, mas é no século XIII que a produção desses comentários se generaliza,
tornando-se o gênero literário mais difundido neste século (cf. ROBERT, 1950, p. 40ss).
Para o aprofundamento do tema acerca do funcionamento das universidades
medievais, ver principalmente Weijers, 1996 e Maierù, 1994.
32
79
disputatae. Uma vez apto a desempenhar todas as funções
constituintes da disputatio, inclusive a exercida pelo mestre, o
bacharel recebe do Chanceler, em uma ocasião solene, sua
Licentia Docendi. Doravante, exercerá a tríade que resume a
atividade universitária do mestre em teologia: legere, disputare,
praedicare33.
A RECEPÇÃO DO ARISTOTELISMO GRECO-ÁRABE
Durante a primeira parte da Idade Média, assistimos ao
processo de adequação34, com maior ou menor sucesso, do
neoplatonismo aos dogmas cristãos, resultando em um corpus
teórico cujos paradigmas fundamentais, uma vez
estabelecidos, permitiram uma coerência conceitual na
abordagem de certo número de questões teológicas. Essa
relativa estabilidade nas relações filosófico-teológicas parecia,
ao menos sob o olhar panorâmico de longa duração, demorar
mais do que a História costuma tolerar. Com o advento dos
textos aristotélicos, é todo um equilíbrio que se encontra em
xeque. Como vimos, o último terço do século XII conheceu um
desenvolvimento pedagógico-metodológico sem precedentes,
onde o estudo da dialética exerceu um papel central. A
redescoberta dos libri naturales (Física, Metafísica, Da alma, etc.)
de Aristóteles representará algo similar para o século XIII35.
Mas esse acontecimento esconde outro: a rica tradição grecoLecionar, disputar, pregar. A tradução mais correta para disputatio seria, de acordo
com Blaise (1998), o termo discussão. Preferimos, contudo, traduzir por disputa para
manter o aspecto agonístico que caracterizava esta atividade, principalmente na sua
forma “quodlibética”. De fato, enquanto nas questões disputadas, em suas duas formas,
privada (privata ou in scholis) ou pública (publica ou ordinaria), há um único tema em
discussão, normalmente escolhido pelo mestre, nas quaestiones de quodlibet os assuntos
eram livres, variados e propostos por qualquer um dos presentes. Cf. Solère, 2006, p.
1304-1305; Ong-Van-Cung, 1998, p. 7-9 e Desbiens, 2009, p. 16-21. Este último está
disponível na internet (ver referências bibliográficas).
34 Talvez o termo seja exagerado e devêssemos substituí-lo por combinação.
35 Com respeito à cronologia da recepção do corpus peripatético no ocidente cristão,
ver os dois artigos de R. Gauthier, ambos publicados em 1982.
33
80
árabe do comentário. Pode-se dizer que, ao emergir da noite
dos tempos, Aristóteles já não é mais tão somente aristotélico.
Envoltos, camada sobre camada, por comentários, adendos,
interpretações, interpolações, seus textos se tornam
inseparáveis de tudo o que deles se disse; eles trazem consigo
séculos de indagações, dúvidas, hesitações, recuos e
convicções, toda a concordância e a divergência – de Temistius
a Averróis – de que o gênero humano é capaz. É preciso
compreender que a recepção de Aristóteles significa, ao
mesmo tempo, a recepção da tradição interpretativa de seus
comentadores gregos e árabes. E essa dupla recepção ainda
guarda outra significação: com a organização e o
desenvolvimento das Universidades, o corpus peripatético se
torna objeto de uma sistematização – a partir da codificação
dos gêneros literários – que determinará as perspectivas do
ensino nos séculos XIII e XIV.
Entretanto, já nos primeiros anos do século XIII,
aparecem as primeiras restrições em relação ao pensamento
aristotélico (Cf. BIANCHI, 1999, p. 89-128; ELDERS, 1988, p.
360-361; MANDONNET, 1911, p. 16-22). Tanto a proibição
parisiense do ensino dos libri naturales, em 1210 e em 1215 (Cf.
LIBERA, 2003, p. 27), quanto a consolidação do dogma da
criação ex tempore pelo concílio de Latrão IV, em 121536,
testemunham as dificuldades inerentes à inserção do
aristotelismo greco-árabe no ocidente cristão. Embora essas
36 Opondo-se à tese aristotélica da eternidade do mundo, este concílio estabelece que o
começo temporal do mundo deva ser definido como artigo de fé. O texto não deixa
margem a dúvidas: “Firmiter credimus et simpliciter confitemur, quod unus solus est verus
Deus, aeternus, (...) unum universorum principium: (...) qui sua omnipotenti virtute simul ab
initio temporis utramque de nihilo condidit creaturam, spiritualem et corporalem”. [“Nós
acreditamos firmemente e professamos absolutamente que há apenas um único Deus,
eterno, (...) princípio único de todas as coisas, (...) que, por sua virtude onipotente,
criou do nada e no começo do tempo a criatura espiritual e a corporal”] (tradução
nossa). Concilium Laterense IV, 1215, De Trinitate, sacramentis, missione canonica, etc.,
cap. 1, De fide catholica in: Denzinger, Enchiridion Symbolorum, n. 800, apud MICHON,
2004, p. 353.
81
contrariedades – e restrições subsequentes37 – tenham
inegavelmente obtido êxito em retardar a difusão, não foram
capazes, todavia, de impedir que as ideias de Aristóteles e as
de seus comentadores circulassem, cada vez mais, no interior
da Universidade de Paris38, ao longo do segundo quarto do
século XIII. De fato, certos mestres em teologia – de Alexandre
de Halès a Alberto Magno – contribuíram, de maneira
decisiva, para a superação da resistência de seus pares,
trazendo para suas próprias reflexões algumas problemáticas
originadas pela leitura do corpus peripatético. Graças a esse
estudo sistemático, estabelece-se um conjunto de temas e de
argumentações a partir dos textos de Aristóteles –
comportando remissões e comparações às fontes greco-latinas
e greco-árabes – sobre o qual se edificarão o debate e o ensino
universitários da segunda metade do século39. Mas dessa
efervescência conceitual, presente tanto na Faculdade de
Artes40 quanto na de Teologia41, emergem dois problemas que
estarão, mais tarde, implicados nas condenações promulgadas
pelo Bispo de Paris, Étienne Tempier, em 1270 e 127742, e na
gênese do estatuto da Faculdade de Artes, adotado em 1° de
37 Confirmação da proibição de Aristóteles, em 1231, por Gregório IX, e interdição de
Aristóteles em Toulouse, em 1245. Cf. Aquino, 1997, p. 382-383.
38 Restringimo-nos à Universidade de Paris em razão da carreira de Boaventura ter se
desenvolvido nesta instituição, mas é evidente que a assimilação do aristotelismo
greco-árabe é um fenômeno do ocidente latino e não apenas parisiense. Cf. Wéber,
1991, p. 2-12.
39 A esse respeito, ver Michon, 2004, p. 41-47 e Libera, 2003, p. 177-186.
40 Em 19 de março de 1255, a Faculdade de Artes incluía em seu programa oficial o
ensino dos libri naturales de Aristóteles (MICHAUD-QUANTIN, 1971, p. 9). Sobre o
desenvolvimento e a evolução da Faculdade de Artes, em especial a partir dos anos
1250, os trabalhos de referência são: Weijers e Holtz, 1997; Weijers, 2002 e Glorieux,
1971.
41 Cf. Bazàn, 1985, p. 13-149. Para uma comparação entre as disputationes na Faculdade
de Artes e na de Teologia, ver Weijers, 2009.
42 Com respeito às condenações, ver os trabalhos fundamentais de Hissete, 1977 e de
Piché, 1999. Com relação à crise na Universidade de Paris, na década de 1270, cf.
Libera, 2003, p. 191-220.
82
abril de 127243: a tese da eternidade do mundo, atribuída a
Aristóteles44, e a tese da unidade do intelecto possível (dito
material) em todos os homens, atribuída a Averróis45. Como
veremos mais adiante, Boaventura não as poupará de suas
críticas.
BOAVENTURA E A FILOSOFIA
Como o doutor seráfico considera a filosofia? Qual o seu
estatuto perante outros tipos de conhecimento? Qual a sua
43 “O estatuto de 1272 inicialmente proíbe os mestres e bacharéis da Faculdade de
Artes de determinar ou de disputar as questões ‘puramente teológicas’. Em seguida,
fornece com precisão as disposições que concernem à maneira de se conduzir diante
das questões que pertencem tanto ao domínio da fé quanto ao da filosofia. (...) o
estatuto acrescenta que se ao dar uma aula sobre um texto ou disputar uma questão,
mestres e bacharéis encontrarem passagens ou argumentos filosóficos que ‘parecem
em certa medida destruir a fé’, eles devem se ater a adotar uma dessas três soluções:
dar uma refutação cabal desses textos ou argumentos; declará-los ‘falsos
absolutamente [simpliciter] e totalmente errados’; passar por eles em silêncio,
recusando-se a explicá-los ou a discuti-los” (BIANCHI, 2008, p. 98-99). Sobre o debate
historiográfico acerca da constituição e das consequências do estatuto de 1272,
consultar principalmente Bianchi, 1999, p. 165-201; Putallaz e Imbach, 1997, p. 128-134
e Pluta, 2002, p. 563-585.
44 Com relação a estes acontecimentos sob a perspectiva dos debates sobre a
eternidade do mundo, cf. Michon, 2004, p. 35-47. Cyrille Michon tem razão em
remeter o leitor aos três trabalhos a seguir: a exposição mais detalhada do problema
feita por Dales, 1990, p. 50-85; e os artigos de Brown, 1991 e de Long, 1998 (sobretudo
p. 52-67), que tratam dessas discussões na Universidade de Oxford. Para o contexto
parisiense, indicamos a obra clássica de Mandonnet, 1911, p. 23-39.
45 Com relação à história dessa questão e de seus desdobramentos filosóficos e
teológicos, assim como das restrições dogmático-coercitivas, ver o excepcional
trabalho de Libera, 2004. Esse comentário exaustivo do De Unitate Intellectus Contra
Averroistas, de Tomás de Aquino, não se limita ao que parece propor. Ao longo de
suas mais de 500 páginas, A. de Libera analisa todos os autores implicados no
problema – tenham ou não sido do conhecimento do próprio Tomás – dos
comentadores greco-árabes aos autores latinos, cujas posições permitiram a certa
vertente historiográfica, da qual Libera discorda, a invenção da expressão “averroismo
latino”. O ideal é a leitura integral do texto, mas se a ocasião não se apresentar,
indicamos ao leitor as seguintes passagens: p. 13-61; 73-77; 81-103; 108-127; 138-141;
163-173; 189-200 e, principalmente, p. 343-525. Aconselhamos, igualmente, um texto
mais acessível, do mesmo autor (LIBERA, 1997, p. 9-73), assim como Bianchi, 1996, 4593.
83
natureza? Em um opúsculo, cujo título – De reductione artium
ad theologiam –, lhe foi atribuído séculos depois46, Boaventura
expõe, ainda que sucintamente, sua concepção sobre o
conhecimento, suas diversas formas e as conexões que
estabelecem entre si (BOAVENTURA, 1971). Mas, para
compreender o que é dito, é preciso partir de certas
considerações que nem sempre se encontram suficientemente
explícitas no texto.
O pensamento de Boaventura pode ser resumido da
seguinte maneira: Deus cria tudo o que há do nada (creatio de
nihilo)47 e se manifesta em sua criação48. Assim, as criaturas
carregam as marcas de Deus. Enquanto ser, o que existe se
define por sua essência; mas, como criatura, é signo que
remete a Deus49. Se tudo o que existe guarda em sua própria
substância a marca que reluz, por que razão essa profusão de
vestígios da ação divina, presente na natureza, não nos é
visível? É porque não se trata da invisibilidade em si, mas para
nós. Com efeito, a alma humana tem uma única natureza,
Embora tradicionalmente conhecido sob esse título, o conjunto de seus manuscritos
(total de 34) apresenta 12 em que não há título algum e apenas 3, datados do século
XV, adotam o nome em questão (MICHAUD-QUANTIN, 1971, p. 7).
47 Cf. Boaventura, 1967, p. 54-57 (c. 1, n. 1 e 2). Nas obras de Boaventura inserimos
também, entre parêntesis, a referência tradicionalmente empregada quando se trata de
autores medievais, para que o leitor a localize independentemente da edição
consultada. No presente exemplo, sabemos, pela bibliografia, que se trata do
Breviloquium, parte II; e pela referência entre parêntesis, que se trata do capítulo 1,
números 1 e 2.
48 “Primum principium fecit mundum istum sensibilem ad declarandum se ipsum.” [“Le
premier principe a fait ce monde sensibile pour se manifester luimême”(BOAVENTURA, 1967, p. 118-119 (c. 11, n. 2)]. ”O primeiro princípio fez o
mundo sensível para manifestar a si mesmo.” No caso do homem, Deus manifestou a
sua potência ao fazê-lo a partir de naturezas distantes entre si, como é o caso do corpo
e da alma no gênero da substância (uma corporal, outra espiritual) [cf. ibid., p. 112-113
(c. 10, n. 3)]; manifestou sua sabedoria ao criá-lo com um corpo harmonizado à alma
[cf. ibid., p. 112-113 (c. 10, n. 4)]; e manifestou sua bondade e benevolência ao criá-lo
sem mácula ou culpa e sem nenhum castigo nem miséria [cf. ibid., p. 114-115 (c. 10, n.
5)].
49 Existem quatro tipos de signos, revelando os graus de proximidade e de
distanciamento no modo como cada criatura representa o Criador: a sombra, o
vestígio, a imagem e a semelhança (Cf. GILSON, 1953, p. 170-182).
46
84
embora se defina de fato por dois estados: antes e depois do
pecado original. Desse modo, a capacidade da alma deve ser
avaliada em função do estado em que ela se encontra.
Primitivamente, em seu estado de inocência, Adão
conhecia através de espécies inatas, assim como é o caso dos
anjos50. Isso significa que ele conhecia os modelos pelos quais
Deus criou todas as coisas. De fato, a natureza da alma
humana é como um espelho cuja perfeição é comparável à do
anjo51. Por outro lado, Deus é potência, bondade e luz. A face
de Deus é a fonte de toda luz. Nesse sentido, Deus é chamado
de Pai das luzes52. Ao criar a alma, Deus a ilumina em
intensidade máxima e esta – já que espelho – torna-se reflexo
divino, passando a ser, ela mesma, capaz de iluminar. Como a
verdade é a luz da alma, a luz divina lhe transmite o
conhecimento das razões eternas. Em Deus, a ideia é o
conhecimento e o modelo do que é criado. Na alma, o reflexo
da ideia – ou seja, a espécie – se torna fundamento, condição e
medida da inteligibilidade máxima possível, constituindo o
campo do humanamente verdadeiro53.
“Anima Adae habuit species innatas, ut etiam Angelus”[BOAVENTURA, 1885, p. 50 (II,
d. 1, p. 2, a. 3, q. 2, concl.)]: “A alma de Adão tinha espécies inatas, como o Anjo
também [as tem]”(tradução nossa).
51 “Et sic ante lapsum homo perfecta habuit naturalia”[BOAVENTURA, 1967, p. 122 (c. 11,
n. 6)]. “E assim, o homem tinha uma natureza perfeita, antes da queda”(tradução
nossa).
52 Cf. Boaventura, 1966, p. 84-85 (prol. n. 2); 1971, p. 48-49 (prol. n. 1); 1994, p. 20-21
(prol. n. 1).
53 Com efeito, a inteligibilidade em si identifica-se com a inteligibilidade divina; a
inteligibilidade propriamente humana define-se pelos limites do conhecimento de
Adão no estado de inocência (por exemplo, Adão conhece perfeitamente todo o
campo do criado, mas não conhece de maneira imediata e direta a essência divina,
pois não vê Deus face a face; se tal fosse o caso, o pecado teria sido impossível) [cf.
BOAVENTURA, 1885, p. 544-545 (II, d. 23, a. 2, q. 3, concl.)]; em contrapartida, a
inteligibilidade para nós, isto é, após a queda, limita-se, por um lado, ao conhecimento
abstrativo a partir das coisas sensíveis e, por outro, ao saber divino contido nas
Escrituras e acessível a nós pelo duplo concurso da fé e do estudo do texto sagrado em
seu sentido não literal ou espiritual (qualquer outro tipo de conhecimento implica
uma ação divina, seja pela graça, seja pela iluminação da alma do bem-aventurado,
após a morte, no estado de glória). Cf. Boaventura, 1967, p. 127 (c. 12, n. 5) e 1971, p.
60-61 (p. 1, n. 5); Gilson, 1953, p. 347-355.
50
85
Para Adão, o mundo era então pleno de inteligibilidade,
não apenas ao nível do conhecimento das essências das coisas,
mas, sobretudo, na compreensão da comunhão da criatura ao
Criador, expressa na visibilidade inequívoca do mundo como
vestígio de Deus. Percorria com facilidade toda a escala dos
signos – passando por sua própria alma, imagem e semelhança
de Deus – em direção à fonte de tudo e para onde tudo o que é
da ordem do espiritual anseia retornar54. No entanto, o pecado
original afetou a transparência que assegurava a limpidez do
reflexo, tornando opaca a superfície da alma55 e parecendo
varrer do mundo os vestígios da arte divina56.
A queda de Adão é também a nossa. A nossa alma ainda
é imagem de Deus, mas está deformada pelo pecado.
Doravante, as razões eternas estão além de qualquer
compreensão. Existe, em algum lugar, escondida pela nossa
cegueira, a verdade que salva, ou só nos resta então suportar a
existência, reféns do medo e da superstição? Não, para
Boaventura ainda há esperança, porque Deus não nos
abandonou. Longe disso. A vinda de Cristo é a prova. Restanos a luz reparadora, a iluminação que salva: a luz das
Sagradas Escrituras57. Contudo, ela está escondida sob o
manto das palavras em seu sentido literal. E tal como estamos
cegos aos vestígios de Deus, somos como analfabetos face aos
significados que se furtam à leitura. Reaprender a ler, tornar54 Todas as criaturas são vestígios, mas apenas as criaturas inteligentes ou espíritos
racionais são imagens e somente as criaturas deiformes – isto é, o anjo, o homem no
estado de inocência e a alma do bem-aventurado no estado de glória – são
semelhanças de Deus. “Quasi per quosdam scalares gradus intellectus humanus natus est
gradatim ascendere in summum principium, quod est Deus” [“Comme par les degrés d’une
échelle, l’intelligence humaine est capable de s’élever graduellement jusqu’au principe
souverain, qui est Dieu”] (BOAVENTURA, 1967, p. 122-123 [c. 12, n. 1]). ”Como pelos
degraus de uma escada, a inteligência humana é capaz de elevar-se gradualmente até
o princípio soberano, que é Deus” (tradução nossa).
55 Sobre a alma no estado de miséria (in statu miseriae), entendida como espelho
obscurecido pelo pecado, ver Boaventura, 1885, p. 545 (II, d. 23, a. 2, q. 3, concl.).
56 Cf. Boaventura, 1967, p. 124-125 (c. 12, n. 4).
57 Cf. Boaventura, 1971, p. 48-49 e 60-61 (prol., n. 1 e p. 1, n. 5).
86
se capaz de descobrir os significados por trás dos signos que
os escondem, reconquistar a sabedoria que as ciências teimam,
em vão, substituir: essa é a tarefa que se impõe. A partir da
condição humana em seu estado de pecado, como inventar os
meios para se alcançar a iluminação que salva? A questão que
Boaventura se coloca no De reductione artium ad theologiam e
que repete até na última de suas Collationes é se a filosofia tem
e qual seria o seu papel no caminho da reparação.
No seu De reductione artium ad theologiam, Boaventura
propõe uma classificação dos saberes, onde inicia de maneira
clássica, referindo-se ao Didascalicon de Hugo de São Vitor,
como se fosse estabelecer, a exemplo do que fora tradicional
no século XII, uma lista das artes e scientiae de seu tempo. Com
efeito, o doutor seráfico divide o conhecimento próprio às artes
mechanicas – isto é, às técnicas inventadas pelo homem para
compensar as deficiências inerentes ao corpo – em sete tipos,
acompanhando assim a divisão anteriormente estabelecida por
Hugo. Mas, as semelhanças entre as duas classificações
terminam sem demora, logo suplantadas pelas diferenças de
abordagens. Ao contrário de seus predecessores que se
interessavam pela repartição criteriosa das artes e scientae
existentes de maneira a formar um quadro coerente, quase
escolar, Boaventura se interroga, sobretudo, pelas condições
necessárias à existência de cada disciplina. Em outras palavras,
que modo cognitivo está implicado na atividade formadora de
tal ars ou tal scientia?
Mas, essa orientação já estava de certa maneira presente
no Prólogo do De reductione. Assim como em outras de suas
obras58, Boaventura lembra Jacó e o tema da fonte de toda
perfeição e excelência que caracteriza o dom: a figura do Pai
das luzes (1971, p. 48-49). A identificação de Deus à luz
incriada que ilumina é correlata àquela que une luz e
58
Cf. Boaventura, 1966, p. 84-85 (prol. n. 2) e 1994, p. 20-21 (prol. n. 1).
87
conhecimento59. Disso resulta que Boaventura distribui os
saberes e os modos de conhecimento envolvidos conforme
uma escala de iluminações. A primeira, relativa ao
conhecimento implicado na produção de bens para suprir as
deficiências do corpo, é chamada de luz exterior e se divide,
como já dissemos, em sete, formando as sete artes mechanicas
[Ibid., p. 50-55 (P. 1, n. 2)]. A segunda se refere ao
conhecimento das coisas sensíveis e, nesse sentido, é chamada
de inferior [Ibid., 54-57 (P. 1, n. 3)]60. A terceira nos permite
alcançar o domínio das verdades inteligíveis e diz respeito ao
conhecimento filosófico. Ela é chamada de interior porque a
investigação filosófica busca as causas íntimas, utilizando os
princípios inatos das ciências e da verdade natural. Ela
comporta por sua vez uma tripla subdivisão, correlata da
divisão da filosofia em racional, natural e moral, ocupando-se
a primeira da verdade do discurso, a segunda da verdade das
coisas e a última da verdade da conduta [Ibid., p. 56-61 (P. 1, n.
4)]. A quarta é a das Sagradas Escrituras e sua iluminação nos
aproxima do que nosso estado de miseria impede de alcançar: a
59 Não se trata, evidentemente, da luz corporal. Ao contrário do que nos sugere o
senso comum, Boaventura – a exemplo de Agostinho – pensa, com efeito, que se
podemos dizer habitualmente que o sol ilumina, é porque a natureza da linguagem
nos permite predicar metaforicamente. Na verdade, só Deus é luz no sentido próprio e
absoluto. A criatura espiritual, anjo ou alma humana, visto que é ontologicamente
dependente do Criador, só é relativamente a Deus e, portanto, é luz no sentido
próprio, mas não absoluto. Assim, entre a luz incriada e as luzes criadas há uma
analogia de proporção, ou seja, estas se distribuem em graus de acordo com a maior
ou menor proximidade em relação a Deus. O sol, por sua vez, não é luz no sentido
próprio, mas apenas metaforicamente. O sol é luz segundo uma atribuição
fundamentada em uma analogia de proporcionalidade, uma vez que a luz corporal,
apesar de radicalmente diferente da luz espiritual, ilumina os corpos assim como
Deus ilumina as naturezas espirituais. Em vez de hierarquia de graus, temos uma
semelhança de relação ou função (Cf. GILSON, 1953, p. 221-223). Com relação à luz
física, sua criação, sua natureza e seu papel enquanto forma substancial comum a
todos os corpos [cf. BOAVENTURA, 1885, p. 312-313; 317-318; 320-321 (II, d. 13, a. 1, q.
1, concl.; a. 2, q. 1, concl.; a. 2, q. 2, concl.)].
60 Sobre o conhecimento sensível e do caráter ativo inerente ao tema da sensação,
segundo Boaventura, em oposição à passividade que lhe deve ser atribuída de acordo
com Tomás de Aquino, ver Wéber, 1974, p. 52-60, assim como o texto clássico de
Gilson, 1953, p. 275-291.
88
verdade que salva [Ibid., p. 60-63 (P. 1, n. 5)]. Assim, essas
quatro luzes cobrem a totalidade do conhecimento humano.
Mas, como a iluminação do conhecimento filosófico divide-se
em três, a classificação final de Boaventura estabelece seis
iluminações [Ibid., p. 62-63 (P. 1, n. 6)].
Embora cada uma das iluminações e seus respectivos
conhecimentos
não
pareçam
estar
necessariamente
interconectados, Boaventura considera que, na verdade, cada
uma delas representa uma etapa e, enquanto tal, prepara-nos
para a seguinte. Mas, essa complementaridade – expressão de
uma ordem e de um sentido mais profundos – não nos é
evidente, em razão do pecado original. Por isso, o estudo das
Escrituras é fundamental. Entretanto, não adianta saber as
passagens de cor, não basta conhecer a intimidade das
palavras, pois de certo modo a letra é muda. É preciso ir além,
tornar-se capaz de ler o texto através do seu sentido literal,
para apreendê-lo em seu triplo sentido espiritual: o alegórico
nos ensina em que acreditar; o moral, o modo correto de viver;
o anagógico, a recuperar o que nos liga a Deus. Ao termo
desse processo, constata-se que todos os outros conhecimentos
já se encontram de alguma forma contidos no texto sagrado.
Desse modo, cada um deles só exprime o seu verdadeiro
sentido quando entendemos que ele espera, desde a noite dos
tempos, pelo olhar espiritual capaz de reconhecê-lo61.
Por outro lado, o estudo das Escrituras requer, da parte
do leitor, o domínio dos outros saberes, em especial o da
filosofia. Mas, o aliado pode se transformar em traidor se não
compreende a sua verdadeira razão de ser, colocando-se então
como fim em vez de meio, recusando-se a prosseguir nessa
jornada que ultrapassa os limites de sua própria
61 Cf. Boaventura, 1971, p. 60-63, 84-85 (P. 1, n. 5 e 7; P. 2, n. 26). Em relação a como os
cinco conhecimentos já se encontram incluídos nas Sagradas Escrituras, ver, na mesma
obra: sobre o conhecimento sensível, p. 64-69 (P. 2, n. 8-10); sobre o técnico, p. 68-73 (P.
2, n. 11-14); sobre o da filosofia racional, p. 72-77 (P. 2, n. 15-18); sobre o da filosofia
natural, p. 76-81 (P. 2, n. 19-22); sobre o da filosofia moral, p. 80-85 (P. 2, n. 23-25).
89
inteligibilidade, negando-se a continuar a experiência que
substituiria as inquietações do filósofo pelo êxtase místico.
Talvez isso explique o posicionamento adotado por
Boaventura em seus últimos anos de vida. A partir dos anos
1260, o doutor seráfico parece se preocupar menos com a
filosofia do que com esse papel de recusa que ela poderia
desempenhar. Ao invés de etapa, a filosofia assumiria ares de
obstáculo. Mas de que forma a passividade da recusa adquire
contornos de ameaça? Esse é o problema que ainda nos resta
tratar.
BOAVENTURA CONTRA A FILOSOFIA?
Como vimos, a recepção do aristotelismo greco-árabe
significa um avanço sem precedentes na história do
pensamento medieval. A exploração sistemática desse
conjunto de saberes transforma tanto as modestas concepções
filosóficas, até então veiculadas pelo quadrivium, quanto a
maneira como se percebe a natureza e a conduta humanas,
implicadas nas doutrinas religiosas. Desde o ano de 1240, os
novos textos de Aristóteles são objeto de análises e sínteses
que integram os cursos dos mestres em artes. Esta prática é
finalmente institucionalizada, em 1255, com a inclusão de toda
a obra do estagirita no programa regular da Faculdade de
Artes. Por outro lado, a declaração de Alberto Magno, em
1254, de que, ao empreender o seu conjunto de paráfrases
explicativas sobre a filosofia de Aristóteles, tinha o objetivo de
torná-la inteligível aos latinos, testemunha, por si só, o
enfraquecimento da resistência ao aristotelismo, no interior da
própria Faculdade de Teologia (WÉBER, 1991, p. 3 e 10-11).
Entretanto, no meio da década de 1260, surge uma
polêmica, envolvendo mestres em teologia e em artes. A
historiografia pouco conhece sobre os bastidores da
controvérsia de Paris, mas esta parece estar ligada a dois
fenômenos subsequentes: primeiro, a mudança do corpus sobre
90
o qual o mestre em artes se debruça cotidianamente resulta em
tal proximidade e compreensão dos problemas filosóficos que
não há por que não o reconhecer enquanto filósofo. Em
segundo lugar, seu novo estatuto significa também – e não há
por que ser diferente – a possibilidade de adotar uma vida
filosófica autônoma e de aspirar a uma beatitude própria,
como a descrita no fim da Ética a Nicômaco, que a seus olhos
suplantaria a visão beatífica (cf. MICHON, 2004, p. 95-97).
Embora não seja possível determinar as verdadeiras razões do
conflito, os textos mostram que duas teses presentes nesse
corpus estão diretamente implicadas nos acontecimentos que
antecederam e, em certa medida, determinaram as
condenações e restrições que se multiplicam a partir de 1270.
Na década de 1260, as duas teses em questão, a saber, a da
eternidade do mundo e a do intelecto único para todos os
homens, são objeto de duras críticas, por parte de Boaventura,
desde suas Collationes de decem praeceptis, proferidas em 1267.
Na verdade, a crítica não se dirige somente às teses, mas
também – ou sobretudo – àqueles que as divulgam em sala de
aula ou em disputationes e sophismata62.
É interessante notar que Boaventura não se preocupa
exatamente em refutá-las através de uma argumentação bem
fundamentada, mas visa principalmente denunciá-las pelo que
“são”: erros da filosofia. A posição de Boaventura pode ser
resumida da seguinte forma: a filosofia é certamente útil para
auxiliar na resolução de certas questões de fé, mas deve ser
elevada pela fé, uma vez que, se permanecer em seu próprio
nível, arrastará inevitavelmente ao erro aquele que dela faz
uso. Com efeito, não existe verdade de fé que seja
perfeitamente compreensível ao infiel, assim como não há
62 Sobre a história dos sophismata e de sua similaridade com as disputationes, cf. Libera,
2006.
91
filósofo que não incorra em erro se não contar com o auxílio da
luz da fé63.
Mas, estas teses ou erros Boaventura os conhece há
muitos anos. No seu Comentário das Sentenças de Pedro
Lombardo, escrito nos anos 1250-52, ele os estuda para melhor
refutá-los. Sua argumentação é filosófica e fundamenta-se em
considerações sobre o infinito. Dos seis argumentos
apresentados, quatro remetem diretamente a Aristóteles (arg.
1, 2, 3 e 5)64. Entre estes, um é especialmente importante para o
entendimento da correlação entre as duas teses e de suas
consequências, muitas vezes inaceitáveis, para a organização
das crenças inerentes à espiritualidade cristã do período.
Trata-se do argumento de número 5, onde Boaventura se
inspira na objeção aristotélica relativa ao infinito em ato [Física
63 Esta é uma convicção que o acompanha desde 1250: “Necesse est enim, philosophantem
in aliquem errorem labi, nisi adiuvetur per radium fidei.” (“Com efeito, aquele que filosofa
cai necessariamente em algum erro, exceto se ajudado pelo raio [de luz] da fé”)
[tradução nossa]. Boaventura, 1885, p. 448 (II, d. 18, a. 2, q. 1, ad 6).
64 O primeiro afirma que é impossível acrescentar ao infinito [Do céu I, 12, 283a 9-10].
Assim, se o mundo fosse eterno, a duração do passado seria igualmente infinita e,
consequentemente, o número de revoluções do sol também. Mas, a cada revolução
solar correspondem doze lunares, o que leva à conclusão absurda de um infinito
maior que outro. O segundo argumento começa com a proposição: “É impossível que
os infinitos sejam ordenados” [Física VIII, 5, 256a 17-19]. Com efeito, toda ordem
decorre do primeiro princípio em direção a um intermediário. Objeta-se, no entanto,
que essa regra não se aplicaria a todo tipo de ordenação – logo não diria respeito à
ordem temporal dos dias, em anterior e posterior – mas apenas ao caso da ordem
causal. Mas, o animal é engendrado pelo animal segundo a ordem da causa, havendo
então a necessidade de um primeiro princípio. E, como não há revolução do céu sem
que ocorra uma geração de um animal por outro animal, é preciso admitir uma
primeira revolução para salvaguardar a ordem da geração animal. O terceiro
argumento fundamenta-se na impossibilidade de se atravessar os infinitos [Metafísica
XI, 10, 1066a 35]. Bem, se o mundo não teve início, o passado deveria atravessar sua
duração infinita para que o hoje lhe seja contíguo. Além disso, um evento passado
infinitamente distante do presente, mas anterior a outro evento passado também
infinitamente distante do presente, recoloca o problema da impossibilidade de haver
diferenças de grandeza entre dois infinitos. Portanto, a rigor, os dois eventos em
questão não podem ser entre si nem anterior nem posterior, o que os torna
simultâneos. E, nesse caso, é a própria noção de tempo que entra em colapso. [Cf.
BOAVENTURA, 1885, p. 20-21 (II, d. 1, p. 1, a. 1, q. 2, sc 1, 2, 3) e MICHON, 2004, p.
59-61].
92
III, 5, 206a 8] e afirma que é impossível a existência simultânea
de um número infinito de realidades [Física III, 5, 204a 20-25;
Metafísica XI, 10, 1066b 11]. Admitamos a eternidade do
mundo. Como, de certo modo, todas as coisas existem para o
homem, os homens sempre habitaram o mundo. Isso significa
que as sucessivas gerações humanas são também infinitamente
numerosas e que o número de homens que existiram é
igualmente infinito. Mas, não se trata aqui do infinito atual,
pois o homem é um ser corruptível e sua vida tem uma
duração finita. Todavia, cada homem possui uma alma
racional. Visto que esta última é uma forma incorruptível, é
preciso admitir a existência atual de um número infinito de
almas racionais, o que é impossível. Logo, existem três
consequências possíveis: o mundo foi criado do nada e no
tempo, havendo assim um primeiro princípio, isto é um
primeiro dia, um primeiro homem, etc.; o mundo é eterno,
existiram infinitos homens, mas só há um número finito de
almas que habitam sucessiva e alternadamente a infinidade de
corpos corruptíveis; ou, então, o mundo é eterno, infinitos
homens já o habitaram, porém há somente uma única alma
racional para todos os homens. A segunda hipótese instaura a
circulação das almas e é um erro filosófico refutável através do
próprio Aristóteles. Mas, a última consegue ser um erro
filosófico ainda pior, mais absurdo, mais incompreensível,
pelo fato de seu autor, Averróis, pretender havê-la encontrado
nos textos aristotélicos.
Nesse mesmo livro, mais à frente, Boaventura se
interroga sobre a unidade ou a pluralidade da alma humana
(racional) segundo o modo da substância. Nessa questão,
critica a posição de que a alma humana, enquanto intelecto, é
uma única em todos os homens, não somente com relação ao
intelecto agente, mas também no que concerne o intelecto
possível. Assinala a origem averroísta da posição e critica a
tentativa do Comentador (Averróis) de impô-la a Aristóteles,
como se ela estivesse presente no De anima e fosse
93
necessariamente complementar à afirmação do estagirita a
propósito da eternidade do mundo e do número infinito de
homens que nos precederam. Termina sua conclusão com um
duplo repúdio à posição averroísta: por ser falsa do ponto de
vista da razão e por seu caráter herético. Com efeito, se a alma
racional é única, nossa individualidade desaparece
inevitavelmente com a morte, o que impede a imortalidade
pessoal e a retribuição do mérito65.
Mas, no final dos anos 1260, o contexto mudou
inteiramente. Não é tempo para análises e minúcias, é tempo
de ir direto ao essencial. O ambiente universitário está
tomado, para usar uma expressão de A. de Libera (1997, p. 19),
por uma “urgência teológica”. Em 1267, Boaventura previne os
estudantes e mestres em Artes contra os erros dos filósofos,
mas sem citar nomes. É evidente que não os ignora. Os textos
do Comentário das Sentenças o atestam. É como se isso não
tivesse tanta importância, visto que a sedução exercida pelos
textos aristotélicos e os de seus comentadores conduziria o
leitor, cedo ou tarde, aos erros e à heresia. A investigação
filosófica sem a luz da fé é presunçosa e inconsequente.
Agrada-nos tanto com a limpidez dos raciocínios lógicos que
nos esquecemos de polir o espelho da alma no estudo do texto
sagrado. Boaventura não argumenta mais, mas denuncia.
Afirmar a unicidade do intelecto equivale a negar a verdade
da fé, a salvação das almas, a obediência aos mandamentos e a
aceitar que o pior homem será salvo e ao melhor caberá a
danação (cf. BOAVENTURA, 1992, p. 72). Boaventura previne,
denuncia, mas também adverte. Referindo-se à Universidade,
afirma daquele que concebe, sustenta e reproduz as duas teses
de que tratávamos a pouco, que ele comete um grave erro e
que, por isso, “tanto o autor, quanto o defensor e o imitador
65 Cf. Boaventura, 1885, p. 446-447 (II, d. 18, a. 2, q. 1, concl.). Sobre a individuação em
Averróis, as origens de sua concepção da alma e o problema que a sua tese da unidade
do intelecto material (possível) representou para a promessa cristã da salvação
pessoal, na segunda metade do século XIII, ver Cruz, 2008, p. 318-353.
94
estão, todos, proibidos aqui”(Ibid., p. 72). Em 1268, retoma o
problema, ainda sem citar nomes, num tom menos enfático,
mas com a escolha da imagem certa, aquela que toca a quem
escuta e reforça a autoridade de quem a profere: a tese da
unidade do intelecto postula a identidade substancial da alma
de Cristo e da alma de Judas [cf. BOAVENTURA, 1891, p. 497
(coll. 8, n. 16)]. Não se pode imaginar maior injustiça.
Já em 1273, na última de suas Collationes, Boaventura
reencontra as duas teses, mas desta vez, não denuncia nem
comove: argumenta. Retoma o raciocínio empregado no
Comentário e aponta as possíveis consequências de um mundo
eterno: infinidade de almas, almas corruptíveis, transmigração
de almas de corpo em corpo, ou então a unidade do intelecto
em todos. Mas, diferentemente de 1267 e 1268, ele afirma, sem
hesitação, mais enfaticamente que há vinte anos, que a tese da
eternidade do mundo é genuinamente aristotélica e que a da
unicidade do intelecto é o erro atribuído ao Filósofo
(Aristóteles) segundo a interpretação do Comentador
(Averróis)[Cf. BOAVENTURA, 1991, p. 213 (coll. 6, n. 4)].
Mas, é apenas no fim dessas conferências que
Boaventura parece revelar a natureza de sua relação à filosofia.
Para ele, não se chega a compreender toda a riqueza das
Escrituras sem proceder a um estudo sério, ordenado e
assíduo. É preciso então abordar os dois Testamentos antes de
passar aos trabalhos da Patrística, às sumas e aos filósofos.
Primeiro, deve-se conhecer bem o texto das Escrituras. O
estudo da Patrística ajuda nesse trabalho, mas nela
encontramos temas difíceis que exigem o auxílio das sumas e
dos filósofos. Nas sumas não é difícil se perder, então é melhor
se restringir às opiniões mais comuns. Mas, no estudo dos
filósofos, a prudência é boa companhia. Embora
indispensável, a filosofia constitui o maior perigo, porque a
beleza dos discursos dos filósofos pode nos tirar o gosto pela
95
leitura das Escrituras. A prudência aconselha, então, a
restringir seu estudo ao estritamente necessário66.
Por tudo o que vimos, podemos concluir que a relação
do doutor seráfico com a filosofia é tão complexa quanto
ambígua. Ora etapa, ora obstáculo, parece-nos que a filosofia
tem nessa oscilação uma das principais características do seu
estatuto no pensamento de Boaventura. E embora nós, pósmodernos, pós-morte de Deus, tenhamos pouco em comum
com suas aspirações, acreditamos que, ao menos em um
ponto, Boaventura tenha sido atemporal: a filosofia realmente
nos seduz.
REFERÊNCIAS
AQUINO, T. L’Unité de l’intellect contre les averroïstes, suivi des Textes
contre Averroès antérieurs à 1270 (Texte latin. Traduction, introduction,
bibliographie, chronologie, notes et index par Alain de Libera). Paris :
Flammarion, 1997.
_______. Questions disputées sur la vérité. Question X. L’esprit (De
mente)(Texte latin de l’édition Léonine. Introduction, traduction, notes et
postface par Kim Sang Ong-Van-Cung). Paris: Vrin, 1998.
BAKKER, P. J. J. M. (ed.) Chemins de la pensée médiévale. Mélanges
Zénon Kaluza. Turnhout: Brepols, 2002.
BAZÀN, B. C. [et al.] Les Questions disputées et les questions
quodlibétiques dans les facultés de théologie, de droit et de médecine.
Turnhout: Brepols, 1985.
BIANCHI, L. Pour une histoire de la “double vérité”. Paris: Vrin, 2008.
_______. Censure et liberté intellectuelle à l’Université de Paris (XIIIe-XIVe
siècle). Paris: Les Belles Lettres, 1999.
66
Cf. Boaventura, Collationes in Hexaemeron, 1891, p. 421-422 (coll. 19, n. 6-15).
96
_______. “Censure, liberté et progrès intellectuel à l’université de Paris au
XIIIe siècle”, Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge 63
(1996), 45-93.
BLAISE, A. Lexicon Latinitatis Medii Aevi. Turnhout: Brepols, 1998.
BOAVENTURA. Opera Omnia. Ad Claras Aquas: éd. Collegii S.
Bonaventurae (Quaracchi), 1882-1902. 10 vol.
_______. Commentaria in Quatuor Libros Sententiarum Petri Lombardi. in:
Opera Omnia, vol. I, 1882; vol. II, 1885; vol. III, 1887 e vol. IV, 1889 (cada um
dos 4 livros está num volume).
_______.Collationes in Hexaemeron. In: Opera Omnia, vol. V, 1891, p. 327454.
_______.Collationes de septem donis Spiritus Sancti. In: Opera Omnia, vol.
V, 1891, p. 455-503.
_______.Collationes de decem praeceptis. In: Opera Omnia, vol. V, 1891, p.
505-532.
_______.Les six jours de la Création (traduction, introduction et notes de M.
Ozilou)(L’Œuvre de saint Bonaventure). Paris: Desclée/Cerf, 1991.
_______.Les Dix Commandements (traduction, introduction et notes de M.
Ozilou)(L’Œuvre de saint Bonaventure). Paris: Desclée/Cerf, 1992.
_______.Les six lumières de la connaissance humaine. De reductione
artium ad theologiam (éd. bilingue; introduction, traduction et notes par
Pierre Michaud-Quantin). Paris: Éditions Franciscaines, 1971.
_______.Breviloquium. Prologue (éd. bilingue; introduction générale,
introduction au prologue et notes par Jacques-Guy Bougerol). Paris: Éditions
Franciscaines, 1966.
_______.Breviloquium. partie 2. Le monde créature de Dieu (éd. bilingue;
introduction et notes par Trophime Mouiren). Paris: Editions Franciscaines,
1967.
_______. Itinéraire de l’esprit vers Dieu (éd. bilingue; introduction,
traduction et notes par Henry Duméry). Paris: Éditions Franciscaines, 1994.
97
BOUGEROL, J. G. Lexique Saint Bonaventure. Paris: Éditions Franciscaines,
1969.
BROWN, S. F. “The Eternity of the World Discussion at Early Oxford”,
Miscellanea Medievalia, 21/1 (1991), 259-280.
CESALLI, L. “Dialectique” in: GAUVARD, C., LIBERA, A., ZINK, M. (dir.),
2006.
CHENU, M.-D. La Théologie comme science au XIIIe siècle. Paris: Vrin,
1957.
CRUZ, E. V. La question de la matière, source de conflit entre les doctrines
au XIIIe siècle. Tese de doutorado em filosofia defendida na Université Paris
IV – Sorbonne, 2008, 2 vol., 487 p.
DALES, R. C. Medieval Discussions on the Eternity of the World. New
York: Brill, 1990.
DESBIENS, J.-P. Du Maître. De Veritate, q. XI (traduction du texte de SaintThomas d’Aquin, De Magistro. Thèse de licence de philosophie, 1958.
Source : revue Cahiers de Cap-Rouge, vol. 2, n° 2, 1974, p. 13-73.).
Disponível, desde fevereiro de 2009, em http://classiques.uqac.ca/.
ELDERS, L. “Saint Thomas d’Aquin et Aristote”, Revue thomiste 88 (1988),
357-376.
GAUTHIER, R. “Notes sur les débuts [1225-1240] du premier ‘Averroïsme’“,
Revue des sciences philosophiques et théologiques, 66 (1982), 321-373.
_______. “Le traité ‘De anima et de potenciis eius’“, Revue des sciences
philosophiques et théologiques, 66 (1982), 3-55.
GAUVARD, C., LIBERA, A., ZINK, M. (dir.) Dictionnaire du Moyen Âge.
Paris: Quadrige/PUF, 2006.
GILSON, E. La Philosophie de Saint Bonaventure. Paris: Vrin, 1953.
GLORIEUX, P. “L’enseignement au Moyen Âge. Techniques et méthodes en
usage à la Faculté de Théologie de Paris au XIIIe siècle”, Archives d’histoire
doctrinale et littéraire du Moyen Âge 35 (1968), 65-186.
_______.La Faculté des arts et ses maîtres au XIIIe siècle. Paris: Vrin, 1971.
98
HISSETTE, R. Enquête sur les 219 articles condamnés à Paris le 7 mars
1277. Louvain/Paris: Publications Universitaires/Vander-Oyez, 1977.
IMBACH, R. “Université” in: GAUVARD, C., LIBERA, A., ZINK, M. (dir.),
2006.
LEMOINE, M. “Arts Libéraux” in: GAUVARD, C., LIBERA, A., ZINK, M.
(dir.), 2006.
LIBERA, A. L’Unité de l’intellect. Commentaire du De unitate intellectus
contra averroistas de Thomas d’Aquin. Paris: Vrin, 2004.
_______. Raison et Foi. Archéologie d’une crise d’Albert le Grand à JeanPaul II. Paris: Seuil, 2003.
_______. “Introduction” in: AQUINO, 1997, p. 9-73.
_______. “Sophismata” in: GAUVARD, C., LIBERA, A., ZINK, M. (dir.),
2006.
LOMBARDO, P. Sententiae in IV Libris
Aquas/Romae: Collegii S. Bonaventurae, 1971.
distinctae.
Ad
Claras
LONG, R. J. “The First Debate on the Eternity of the World”, Recherches de
théologie et philosophie médiévales, 65/1 (1998),52-96.
MAIERÙ, A. University Training in Medieval Europe. Leyden: Brill, 1994.
MANDONNET, P. Siger de Brabant et l’averroïsme latin au XIIIe siècle (I.
Partie. Etude critique). Louvain: Institut Supérieur de Philosophie de
L’Université, 1911.
MICHAUD-QUANTIN, P. “Introduction” in: BOAVENTURA, 1971, p. 5-37.
MICHON, C. Thomas d’Aquin et la controverse sur l’éternité du monde.
Traités sur L’Éternité du monde de Bonaventure, Thomas d’Aquin,
Peckham, Boèce de Dacie, Henri de Gand et Guillaume d’Ockham
(Traduction, présentation et notes par Cyrille Michon, avec la collaboration
d’Olivier Boulnois et de Nathanaël Dupré La Tour). Paris: GF Flammarion,
2004.
ONG-VAN-CUNG, K. S. “Introduction” in: AQUINO, 1998, p. 7-15.
99
PICHÉ, D. La condamnation parisienne de 1277. Texte latin, traduction,
introduction et commentaire. Paris: Vrin, 1999.
PLUTA, O. “Persecution and the Art of Writing. The Parisian Statute of
April 1, 1272, and Its Philosophical Consequences” in: BAKKER, P. J. J. M.
(ed.), 2002, p. 563-585.
POIREL, D. “Prédication” in: GAUVARD, C., LIBERA, A., ZINK, M. (dir.),
2006.
PUTALLAZ, F.-X.e IMBACH, R. Profession: philosophe. Siger de Brabant.
Paris: Cerf, 1997.
ROBERT, P. Genèse et Formation de la Philosophie Scolastique. Lyon:
Presses Universitaires de Lyon, 1950.
SOLÈRE, J.-L. “Scolastique” in: GAUVARD, C., LIBERA, A., ZINK, M. (dir.),
2006.
WÉBER, E.-H. Dialogue et dissentions entre saint Bonaventure et saint
Thomas d’Aquin à Paris (1252-1273). Paris: Vrin, 1974.
_______.La personne humaine au XIIIe siècle. L’avènement chez les
maîtres parisiens de l’acception moderne de l’homme. Paris: Vrin, 1991.
VERGER, J. Les universités au moyen âge. Paris: PUF, 1973.
WEIJERS, O. Le Maniement du Savoir. Pratiques intellectuelles à l’époque
des premières universités (XIIIe-XIVe siècles). Turnhout: Brepols, 1996.
_______.La ‘disputatio’ dans les Facultés des arts au Moyen âge. Turnhout:
Brepols, 2002.
_______.Quaeritur utrum. Recherches sur la ‘disputatio’ dans les
universités médiévales (Studia Artistarum. Études sur la Faculté des arts
dans les universités médiévales, 20). Turnhout: Brepols, 2009.
WEIJERS, O., HOLTZ, L. (éd.). L’Enseignement des disciplines à la Faculté
des arts. Paris et Oxford, XIIIe et XIVe siècles (Studia Artistarum. Études
sur la Faculté des arts dans les universités médiévales, 4). Turnhout: Brepols,
1997.
100
Capítulo 6
MONTAIGNE: CETICISMO E EDUCAÇÃO
Celso Martins Azar Filho
Os Ensaios sempre foram vistos pela tradição como
contendo ideias importantes sobre a educação67: com efeito,
um de seus temas mais constantes. E como Montaigne, a maior
parte dos grandes humanistas preocupou-se em propor uma
teoria pedagógica68. Trata-se de um dos motivos dominantes
da cultura renascentista, com o qual a organização sóciopolítica e a ciência constituem questões solidárias e
interdependentes.
Para avaliar a ambiência histórica de tal interesse, devese atentar para o quanto foi inaugural a época de transição
entre o Medievo e Modernidade, e contemplar a revolução
cultural sem precedentes que o período atravessa: uma
ruptura radical que ocasiona tanto dúvida e prudência com
relação a toda espécie de conhecimento e visão estabelecida do
funcionamento e disposição do mundo, da sociedade e do
Porque a educação constitui um tema central para compreender a filosofia
renascentista, boa parte do que aqui se lê já foi dito em meus escritos publicados: tento
fazer aqui uma espécie de resumo dos pontos mais importantes relativos ao tema, mas
gostaria de reenviar àqueles com relação a explicações que não pude detalhar aqui por
falta de espaço. A edição dos Ensaios utilizada como referência é a de Pierre Villey
(2004), e as citações desta obra serão daqui em diante marcadas pela abreviatura ‘E.’.
As traduções são de minha responsabilidade.
68 Há mesmo quem afirme (TERDJMAN, 1986, p. 77) que o ideal educativo
reivindicado por nossa sociedade contemporânea teria se originado em grande parte
na Renascença.
67
101
corpo, da alma ou da mente humanas, quanto reclama novas
construções teóricas. Devemos partir daqui também para
compreender como o ensaísta pode ter sido, além de um
pedagogo, também um cético69, embora não se trate aí apenas
de uma resposta a condições históricas determinadas, porém
de algo que orienta sua obra; até o ponto em que, para melhor
compreender seu ceticismo, precisamos nos voltar para sua
pedagogia, e vice-versa. Pois temos aqui uma questão de
método que fazendo parte essencial do projeto filosófico
montaigniano, reflui sobre a própria forma do texto: além de
destruir ou negar, no mesmo passo aí se afirma e constrói. É
preciso não apenas indicar o que deve ou não ser feito, que
não somente se discurse sobre um pretenso conhecimento já
adquirido e comprovado, mas que o dito sirva de veículo
pedagógico para o saber em causa. Que a linguagem mesma,
apontando para além de si, sirva como gesto liberador abrindo
tanto quanto mostrando as possibilidades e preparando o
caminho, bem como também para ele: no ensaio, método e
verdade, meios e fins, estão ligados. E se nos Ensaios, os
conceitos além de polissêmicos, se estruturam em rede, de
forma relacional se “entredefinindo” e modelando segundo as
circunstâncias, formas e objetivos da meditação em curso, é
porque se experimenta assim refletir o curso das coisas em sua
experimentação por leitores e autor, ou a própria dinâmica do
que chamamos realidade em seus múltiplos aspectos de
representação, isto é, de construção. Ética, política, estética,
fisiologia, história, psicologia, poesia, etc. – as “humanidades”,
se pudermos evitar a separação estanque, então inexistente,
entre ciências humanas e naturais – envolvem cada uma todas
as outras em um discurso que tem o homem, não como centro,
mas como ideal que se delineia pela busca do verdadeiro
69 Lembremos que, se Montaigne pode ser considerado, sem grandes ressalvas, um
humanista ou um cético, com relação à sua filosofia, como é comum acontecer com as
obras dos grandes pensadores, as comparações, venham de onde vierem, nunca serão
completamente válidas.
102
conhecimento: aquele capaz de reunir virtude e felicidade.
Mesmo se este saber só possa se oferecer como probabilidade e
nunca como algo dado, pois somente por meio de um esforço
de formação simultâneo de si mesmo e do aluno/leitor
segundo uma perspectiva que considera experiência,
compreensão e comunicação como interdependentes pode ser
realizado: e por isso a centralidade do problema educacional.
Quando Montaigne expõe suas ideias acerca da
sabedoria, da verdadeira cultura e da autêntica virtude, o faz,
como é comum em seu tempo, sob a forma de princípios
pedagógicos. Todavia, o ensaísta não quis criar uma filosofia
da educação como tal ou uma teoria pedagógica em si mesma.
Nos Ensaios, o conhecimento do homem é mais importante que
sua formação, esta advindo daquele: “Os outros formam o
homem; eu o recito” (E. III, 2, 804). E poder-se-ia resumir em
uma frase toda a intenção montaigniana neste sentido: educar
pela filosofia (E. I, 26, 158 e seq.). O ensaísta não é um
pedagogo, como também não é especialista em nenhum
domínio, e não se cansa de dizê-lo: “Meu ofício e minha arte é
viver” (E. II, 6, 379). Isto, aliás, talvez forme a exigência central
de suas convicções sobre a educação: evitar, em primeiro
lugar, o constrangimento e a limitação de qualquer
especialização e/ou saber determinado e estático. Sempre
tomando como base as singularidades individuais em sua
permanente evolução, Montaigne busca a formação do homem
como um todo; não de um guerreiro, de um teórico, de um
diplomata, de um artista ou de um príncipe, mas de todos
estes juntos em uma só personalidade, segundo o ideal do
homem universal70 renascentista. Ao contrário, porém, da
aspiração enciclopédica humanista característica da época, a
ênfase deve ser posta na liberdade, na ideia de uma educação
liberal que prepara o indivíduo para o mundo, seja este um
70
Como ilustração apenas, veja-se o clássico de Burckhardt, 1991, p. 115 e seq.
103
campo de batalha, um palco, um baile, um julgamento ou uma
biblioteca.
A censura aos especialistas nos Ensaios possui um alvo
bastante concreto: a estrutura social do século XVI não
permitindo a realização plena do modelo do homem cultivado
em todos os sentidos, a estratificação social reproduz-se na
esfera da atividade intelectual (AUERBACH, 1987, p. 271). De
um lado, o volume de trabalho requerido pela redescoberta da
herança antiga cria um novo tipo de especialista: o humanista
– e, em relação à Idade Média, começa a prevalecer a
especialização no trabalho científico. Porém, por outro lado, o
crescente bem-estar de um número paulatinamente maior de
pessoas pertencentes à aristocracia e à burguesia urbana, em
paralelo a uma maior difusão de conhecimentos elementares
(fruto do próprio movimento humanista), favorece a formação
de uma nova camada “culta” que, embora exigindo uma
maior participação na vida espiritual, necessita de um saber de
gênero diferente da erudição especializada.
Notemos, entretanto, que Montaigne não ataca a
especialização, o pedantismo, ou o saber puramente livresco
em nome desta camada emergente ou em defesa de seu
programa ideológico. Mesmo ocupando um lugar de destaque
na constituição de sua ideologia – o modelo do honnête homme,
que atingirá pleno florescimento sob o absolutismo francês do
século XVIII –, o ensaísta não faz parte desta classe, mas de
sua pré-história. Mesmo porque algumas características
essenciais de sua obra – o empirismo, a concretude da
expressão de suas observações e impressões, a proximidade da
realidade mundana e popular, a aparente desordem da
composição, a mistura de estilos, etc. –, não encontrariam boa
acolhida na atmosfera cultural do honnête homme.
104
Todavia, se a camada culta especializa-se, a nobreza
francesa permanece em sua maior parte ignorante71. E o
ensaísta – que em função de sua posição, de seus encargos
diplomáticos e das viagens feitas também por escolha pessoal
pela Europa, pôde observar e conviver com o conjunto da
nobreza da época – julga-a inculta repetidas vezes: “e esses aos
quais a minha condição mais ordinariamente me reúne, são
pessoas que, na maior parte, cuidam pouco da cultura da
alma” (E. II, 17, 658). E isso lhe parecerá tanto mais claro por
sua própria educação clássica, incomum em seu meio, e pelo
seu conhecimento pessoal da civilidade dos nobres italianos
como exceção.
A cultura, o cultivo da alma, opõe-se à especialização ou
à limitação e ao estreitamento do campo de atividades de um
homem (seja seu ramo de trabalho intelectual ou não), e assim
também ao militarismo que distinguia a aristocracia francesa
de então72. Entretanto, o programa educativo montaigniano
dirige-se à nobreza, como é comum na literatura pedagógica
renascentista. Daqui já um primeiro paradoxo: Montaigne, que
foi educado entre os camponeses de sua Gasconha natal,
forjará uma educação para os infantes nobres73. Mas, o ideal
educativo dos Ensaios, bem como suas concepções de honnête e
de honnête homme, não são aristocráticos no sentido meramente
classista da palavra: o decisivo aí, tal como para os humanistas
em geral, é o aperfeiçoamento das qualidades morais do
indivíduo, as quais não estão necessariamente ligadas ao seu
nível social – e muito frequentemente o ensaísta tomará como
71 Schonberger, 1975, p. 495; Villey, 2004, p. 145. Para outro testemunho da época, que
Montaigne conheceu bem, ver Castiglione, 1991, p. 81.
72 A continuação mesma da última citação, como muitas outras passagens, refere-se a
isto: et ceux ausquels ma condition me mesle plus ordinairement, sont, pour la pluspart, gens
qui ont peu de soing de la culture de l’ame, et ausquels on ne propose pour toute beatitude que
l’honneur, et pour toute perfection que la vaillance.
73 Cf. Nakam, 1993, p. 77. Os detalhes da educação primorosa que em seguida recebeu
Montaigne, como sua alfabetização em latim ou os instrumentos musicais com que era
despertado, são por demais conhecidos para que nos alonguemos sobre eles. Acerca
disto pode-se consultar Trinquet (1972) e Frame (1965), entre outros.
105
modelos de conduta os camponeses (E. II, 17, 660, por
exemplo).
Além da especialização, o dogmatismo é o outro grande
inimigo de uma boa educação (E. III, 11, 1030). Contudo, se até
mesmo os céticos têm seus “dogmas” (E. II, 12, 502), o que se
recusa aqui não são exatamente princípios metodológicos ou
definições estritas em si mesmas, mas em geral uma maneira
de pensar que impeça a pesquisa contínua que deve ser toda
ciência e toda filosofia. A má educação nos Ensaios é
principalmente definida como aquela que toma como matéria
um conhecimento baseado em princípios ou definições préestabelecidos e inquestionáveis para meramente fixá-los pela
memória, conteúdo vazio sem aplicação prática. Para inverter
tal tendência, Montaigne não vai apenas preconizar uma
educação voltada para prática: a própria educação clássica
então em voga regurgita de preceitos acerca do valor de um
saber prático. O que se vai recomendar e empreender nos
Ensaios é uma verdadeira revolução pedagógica em que
prática e teoria nunca se separam.
A pedagogia renascentista é determinada pela
admiração do mundo greco-romano enquanto experiência
humana exemplar: a Antiguidade é tomada então como
modelo. Nisto, o que costumamos chamar hoje de
“humanismo”, desempenhou um papel fundamental. Um
humanista74 é um homem ocupado com os studia humanitatis, as
quais incluíam grammatica, rhetorica, poetica, historia e
philosophia moralis (na forma em que tais designativos eram
então entendidos), sempre caminhando a par da renovação da
compreensão da Antiguidade; um estudioso das maneiras de
usar a linguagem e de viver – e das implicações entre uma
coisa e outra. No alto Renascimento – sob o impacto fascinante
da redescoberta da verdadeira amplitude e profundidade do
O termo ‘humanista’ foi cunhado em fins do século XV para designar um professor
e um estudante das ‘humanidades’: Cf. Kristeller, 1992, p. 113; Garin, 1995, p. 28 e 41.
74
106
saber antigo – muitas vezes serão confundidas sabedoria,
eloquência e mera repetição dos autores antigos. O colégio em
que Montaigne estudou a partir dos seis anos era dedicado à
tarefa de ensinar o latim; visava-se a assimilação do estilo e do
espírito dos antigos. Para tanto, a técnica pedagógica central
envolvia o uso de cadernos de anotações conhecidos como
“livros de lugares-comuns”, nos quais o vasto corpo da
literatura antiga era gradualmente posto à disposição, filtrada
e organizadamente. O lugar-comum, espécie de provérbio útil,
servindo como guia de conduta e referencial retórico,
constituía-se como fio condutor, tanto para a escrita, como
para a vida.
É uma hipótese plausível a de que o ensaísta tenha
composto os Ensaios com a ajuda de seus próprios cadernos de
lugares-comuns (cf. VILLEY, 1933). No entanto, seu autor
emprega suas anotações menos como recurso mnemônico do
que como instrumento de uma filosofia na qual pensamento e
ação, arte e vida, ética e estética não cessam de interagir. O
ensaísta subverte a noção de lugar-comum em virtude de uma
maneira de argumentar que lhe era peculiar trabalhando com
a justaposição de oposições, arguindo “de ambos os lados” ou
“em ambos os sentidos” – in utramque partem75. O resultado
final é a transformação, no ensaio, deste instrumento do
ceticismo acadêmico no de um ceticismo ainda mais radical, e
que possibilita a Montaigne reformular o programa humanista
de educação. A principal serventia do modo in utramque
partem de raciocínio consistia em ensinar a aplicar normas
relativas à conduta humana em situações particulares.
Metamorfoseando-o, Montaigne irá, em vez de construir
lugares-comuns, destruí-los, para observar e expor seus
mecanismos de formação. Em síntese, o ensaísta transforma
um instrumento de estabelecimento e exploração de verdades
75 Sobre os loci communes e o modo de argumentação in utramque partem, sua origem
aristotélica, sua história, sua voga na Renascença, sua assimilação e transformação por
Montaigne, ver Schiffman, 1984, p. 163.
107
em uma maneira de procurar a verdade. O movimento de
crítica e aprofundamento simultâneos que perfaz o ensaio
remodela o ceticismo para fazer deste um instrumento de
pesquisa. Note-se que a própria concepção do ensaio já trazia
em si o ensejo de um refazer constante em vistas de seu
aperfeiçoamento contínuo, a composição dos Ensaios tendo se
realizado segundo um processo de “aluvionamento” (segundo
a expressão consagrada pela crítica), ou seja, de adições e
remanejamentos ao longo dos 20 anos em que foi escrito. Já
aqui encontramos o exemplo fundamental de como o ensaísta
procura tornar concreto seu saber, fazendo com que forma e
conteúdo se relacionem sempre muito intimamente para unir a
teoria à prática. Através de uma autocrítica constante, que traz
para o movimento da escrita o tempo vivido, fazendo de seu
próprio texto o lugar e o instrumento do aprimoramento de
suas ideias76.
Pois que se trata de criar uma educação que seja voltada
para a prática (que por meio desta e para esta se realize,
portanto), isto exige criar formas de arrancar seus atores da
alienação em que se encontram mergulhados com relação
tanto ao seu verdadeiro papel social, como quanto àquele que
deveria ser o seu papel como educadores e pesquisadores – o
que deve acontecer paralelamente à busca de uma nova forma
de propor os fins e os meios de seus esforços.
Já o título de um dos grandes textos dos Ensaios
versando sobre este assunto – o capítulo Du pedantisme (I, 25) –
é importante para entender como uma disposição cética com
relação às formas da educação então tradicional se impôs para
que se pudesse cunhar uma nova pedagogia: no francês
Nos dois grandes ensaios sobre a educação – E. I, 25 e 26 –, temos dois bons
exemplos de como o ensaio é um método que se experimenta sem cessar colocando
em questão seus procedimentos no mesmo passo em que caminha em direção ao
aprofundamento de suas noções diretoras (no caso, relativas à pedagogia): p. 136 e
148. Método de pesquisa e estilo literário, filosofia e retórica, enfim, ética, estética e
política, aí se combinam, e com finalidades bem claras e definidas, como veremos.
76
108
médio, a denominação ‘pedante’ significava preceptor, mestreescola, pedagogo, em suma, professor77; se a língua francesa
retém hoje apenas, como no português, o sentido pejorativo do
termo, esta acepção começa a tomar forma no Renascimento –
e no texto em questão podemos ver como isto aconteceu: pela
reprovação do saber afastado da vida e das preocupações e
necessidades cotidianas, e daí negligente com relação à sua
dimensão moral ou à sua utilidade no aprimoramento da
pessoa humana (LOGAN, 1975, p. 615-622; VINCENT, 1997).
Atente-se para o fato de que Montaigne ataca, assim, tanto a
educação escolástica, quanto certas tendências da pedagogia
humanista (seu “gramaticismo”, por exemplo, mas
especialmente o recomendar uma educação descuidada das
particularidades das suas aplicações, das situações e de seus
receptores).
Os humanistas criaram o conceito de uma espécie de
nobreza, de aristocracia do espírito para a qual o “vulgar”
deixa de ser uma questão de nível social e de nascimento para
tornar-se uma pecha da ignorância e da incultura. Não se trata
mais apenas do reconhecimento, comum na Antiguidade e na
Idade Média, e renovado nos séculos XIII e XIV (quando a
burguesia citadina retoma por conta própria, com fins de
legitimação de seu novo status, o ideal cavalheiresco), de que a
nobreza da alma não é um privilégio de nascimento, porém
apanágio daqueles que agem nobremente (CURTIUS, 1991, p.
296; BAURMANN, 1939, p. 55). Trata-se, ao contrário, de uma
valorização da boa educação que, tendo também raízes
antigas, não encontra paralelo de igual intensidade na Idade
Média78. Todo inculto chama-se agora, para os humanistas
franceses, vulgaire, seja qual for sua classe social. Concorrem
77 O termo é emprestado, primeiro sob a forma pedante (1558), do italiano pedante, de
origem grega. Em Montaigne, encontramos a primeira ocorrência de pédantisme (1580).
Cf. Greimas e Keane, 1992; Dauzat, Dubois e Mitterand, 1971; Rey, 1992; Huguet, 2010.
78 Muito embora não seja algo de inaudito no medievo: veja-se o exemplo do Romance
da Rosa.
109
para isso a prosperidade da pré-burguesia emergente e,
notadamente, a projeção dos humanistas e sua importância
política79 nas cortes renascentistas – fatos que devem ser
justificados pela formação de uma nova ideologia acerca da
noção de nobreza. Assistimos no Renascimento a um novo
arranjo das ciências e dos saberes, e – claro – das classes sociais
e seus ideais80.
Logo no início de Do pedantismo, Montaigne cita um
provérbio medieval que também se encontra em Rabelais
(Gargântua, XXXIX): “magis magnos clericos non sunt magis
magnos sapientes”. Traduzindo: “os maiores letrados não são os
maiores sábios”. Notemos a ambiguidade do termo clericos que
pode significar tanto clérigos, monges, como eruditos,
letrados, sabedores; este duplo sentido é medieval (BLAISE,
1994) – embora a palavra seja de origem grega (ERNOUT e
MEILLET, 1994) – e foi preservado pela língua francesa –
mantendo até mesmo um caráter irônico no francês moderno
(clerc). Ora, a ciência foi, ao longo da Idade Média, e era então
ainda na maior parte, afazer do clero, de onde também saem,
em primeiro lugar, os homens ocupados com o ensino
(CHATEAU, 1971, p. 122, n. 4). Logo, não é de surpreender
aquela identificação linguística; e aqui temos mais um
elemento da crítica social montaigniana. Mas o que mais
importa aí é a determinação da diferença, corriqueira nos
Ensaios, entre erudição e sabedoria, onde o sçavant (que se
pode traduzir por ‘erudito’ ou, mais diretamente, ‘sabedor’)
não se confunde com o sage, o ‘sábio’. Toda a filosofia
montaigniana é um esforço de compreensão e expressão
simultâneos do que seja a sabedoria – conceito fundamental
79 Cf. Kristeller, 1992, p. 123. Note-se, de novo, que especialmente na França acontece
uma espécie de identificação ideológica entre escritores burgueses e círculos
aristocráticos: cf. Auerbach, 1987; Elias, 1990, vol. 1, p. 87.
80 A importância que assume então o problema educacional na literatura humanista
pode ser explicada como um dos sintomas da transição sofrida pelo sistema de valores
nas sociedades renascentistas, marcadamente no século XVI: cf. Elias, 1990, vol.1, p. 91
e 94.
110
para a filosofia do Renascimento (RICE, 1958) –,
frequentemente através da marcação de suas diferenças com
relação à pura e simples cultura livresca que não conduz, por
si só, a agir ou a pensar melhor. Este afastamento de um saber,
agora percebido como presunçoso, debilitante e estéril, corre
em paralelo à tentativa de obter um conhecimento que
aproxime da virtude, do bem-viver, da felicidade. Vejamos um
exemplo deste ensaio mesmo:
Embora pudéssemos ser sabedores pelo saber de outrem, ao
menos sábios não podemos ser senão pela nossa própria
sabedoria. “Detesto o sábio que não é sábio para si mesmo”.
Como Ennius também diz: Não sabe nada que preste o sábio
cuja ciência não lhe aproveita, se ele é avarento, gabola,
efeminado, mais mole que uma ovelhinha. Pois adquirir a
sapiência não basta: é preciso usufruir dela. Dionísio zombava
dos gramáticos que têm o cuidado de se indagarem dos males
de Ulisses e ignoram os próprios; dos músicos que afinam
suas flautas e não afinam seus costumes; dos oradores que
estudam para dizer a justiça, não para fazê-la. Se nossa alma
não se movimenta melhor, se nosso julgamento não se faz
mais são, tanto se me daria que meu colegial tivesse passado o
tempo a jogar pelota: ao menos o corpo tornar-se-ia mais ágil
(E. I, 25, 138).
E aqui lemos o sentido básico da investida contra o
pedantismo, na qual se visa, ao mesmo tempo, uma concepção
da ciência e uma da educação, que são inseparáveis e
igualmente falsas (CHATEAU, 1971, p. 124-125), ambas fruto
de uma confusão do verdadeiro conhecimento com o
enciclopedismo, o vão eruditismo e a ostentação de cultura
inútil. E boa parte da ciência, como da educação, medieval,
renascentista e de todos os tempos, tem sua parcela de culpa
nisto. Ao contrário, no pensamento montaigniano e na própria
ideia de ensaio, é evidente a importância do cultivo do espírito
crítico, da capacidade de avaliar, pesar, apreciar a ciência – e o
ensaísta diria mesmo ‘degustar’ (por exemplo, E. I, 25, 150).
111
Uma postura passiva perante o saber, apenas armazenadora
dos pensamentos e juízos de outrem, ainda que fossem dos
mais excelentes espíritos, torna-os nocivos: é preciso julgar por
e para si mesmo os julgamentos alheios e fazer assim nosso
seu saber.
Nós sabemos dizer: Cícero diz assim; eis a moral de Platão;
estas são as palavras mesmas de Aristóteles. Mas nós, que
dizemos nós mesmos? Que julgamos? Que fazemos? Um
papagaio faria tão bem quanto nós. [...] Conheço alguém que
quando pergunto o que ele sabe, ele me pede um livro para aí
o mostrar; e não ousaria dizer que tem o traseiro sarnento,
sem ir imediatamente estudar em seu léxico, o que é sarnento,
e o que é traseiro. Tomamos em nossa guarda as opiniões e o
saber de outrem, e é tudo. É preciso torná-los nossos. [...] De
que nos serve ter a pança cheia de comida se não a digerimos?
Se ela não se transforma em nós? Se ela não nos faz crescer e
fortifica? [...] Tanto nos deixamos levar nos braços de outros,
que aniquilamos nossas forças (E. I, 25, 137).
Assim acontece que amiúde uma alma rica dos mais
variados conhecimentos nem por isso torne-se mais viva ou
desperta, e que um espírito grosseiro e vulgar possa alojar em
si, sem se emendar, os discursos e os julgamentos dos mais
excelentes espíritos (E. I, 25, 134). Como disse uma princesa81 a
Montaigne, os cérebros destes homens encolhem-se e
amesquinham-se para dar lugar ao saber que não lhes
pertence verdadeiramente. Nosso autor vai contrapor a esta
forma equivocada outra que lhe é diametralmente oposta,
respondendo à princesa com as seguintes palavras: “Mas outra
Notemos a referência constante à nobreza. “A primeira de nossas princesas” seria,
segundo Villey (Ed. dos Ensaios, pg. 1240), Catarina de Bourbon, irmã de Henrique de
Navarra. É interessante como o ensaísta com frequência refere-se e endereça-se às
mulheres em meio a desenvolvimentos relativos à educação (aqui, na dedicatória do
De l’institution des enfans e no maior e talvez o mais cético dos ensaios, a Apologia de
Raimond Sebond). Com isso, aliás, opondo-se tacitamente ao preconceito contra as
mulheres bem instruídas (criticado na página 140 do mesmo Du pedantisme).
81
112
coisa acontece: pois nossa alma tanto mais se alarga quanto
mais se enche” (E. I, 25, 134).
Assim podemos nos aplicar à ciência, tanto de maneira
que esta nos seja formadora e enobrecedora, quanto de modo
deformador e prejudicial: mas mesmo que haja uma forma
errada de se ocupar da ciência e do conhecimento em geral
cujas consequências são nocivas, o estudo e a cultura não são o
mal em si (como poderia parecer significar a opinião da
princesa).
[...] e creio que vale mais dizer que o mal provém da maneira
ruim com que eles se aplicam às ciências; e que, pelo modo
como somos instruídos, não é de maravilhar se nem os
estudantes nem os mestres se tornem mais capazes, embora se
façam mais doutos. A dizer a verdade, o cuidado e as
despesas de nossos pais não visa senão a nos mobiliar a cabeça
de ciência; do julgamento e da virtude, poucas notícias.
Apregoai de um passante ao nosso povo: ‘Olha o homem
sabedor!’ E de um outro: ‘Olha o homem bom!’ Não faltará
quem torne os olhos e seu respeito para o primeiro. Seria
preciso um terceiro pregão: ‘Olha os cabeças pesadas!’
Gostamos de perguntar: ‘Sabe ele grego ou latim ? Escreve em
verso ou em prosa?’ Mas se tornou melhor ou mais avisado,
que era o principal, isso fica para trás. Seria preciso se
perguntar quem sabe melhor e não quem sabe mais.
Esforçamo-nos unicamente para encher a memória, e
deixamos o entendimento e a consciência vazios (E. I, 25, 136).
Se Montaigne ataca a ciência (termo que, como é comum na
época, significa o saber em geral), não é para se recusar a ela,
mas para compreendê-la melhor: em diversos pontos dos
Ensaios, e também no Do Pedantismo, Montaigne testemunhará
a favor das ciências e de seu valor. À busca do verdadeiro
conhecimento serve o ensaio, experimentando e educando
nosso julgamento82. Aperfeiçoar-se na conduta e no julgar são
O “julgamento” (jugement) constitui, na filosofia montaigniana, a instância
intelectual superior, que avalia e decide com base na razão e na sensação realizando
sua síntese, ou combinando suas operações e dados, no juízo. Ele estabelece uma
82
113
tarefas interdependentes e ligadas pela noção de sabedoria. E
isto não se consegue empregando apenas a memória: não se
trata, como está dito na última citação, de “mobiliar a cabeça”,
mas de se formar corretamente, ou melhor, de forjar: “Prefiro
forjar minha alma que mobiliá-la”(E. III, 3, 819).
Melhor uma “cabeça bem feita que bem cheia” (E. I, 26,
150). Precisamente esta distinção confundiu os leitores dos
Ensaios: pois qual a diferença entre a douta ignorância que
serve de travesseiro suave, doce e saudável para repousar uma
cabeça bem-feita (E. III, 13, 1073) e a ignorância pura e
simples? A melhor resposta vem de outro cético (ou que pelo
menos foi julgado também frequentemente como tal), Diderot:
“A ignorância e a despreocupação são dois travesseiros muito
doces: mas para julgá-los como tais é preciso ter a cabeça tão
bem feita quanto Montaigne” (apud P. Villey na edição dos
Ensaios tomada aqui como referência, p. 1199).
Tratamos de uma educação que visa o talento: “Um
homem erudito não é erudito em tudo; mas o homem de
talento é em tudo capaz, e mesmo em ignorar” (E. III, 2, 806).
Daí a recusa montaigniana em assumir uma postura
professoral: ele próprio está preocupado em aprender – os
Ensaios perfazem a história de seu aprendizado –, e é seguindo
o seu caminho que ele lança luz sobre o nosso. Porque neste
campo, no domínio da filosofia moral, tal como a estuda o
ensaísta, pensamento e ação são inseparáveis na letra, como no
espírito; na escrita, como na vida. Julgar é agir. Como, porém,
chegar à condição de bem agir? O que é aquele “saber melhor”
mencionado acima – este saber que nos permite, inclusive,
bem ignorar – e de que maneira se alcança tal conhecimento?
Esta questão está em jogo no bojo da concepção de uma
espécie de critério formal, sempre local e contingente, não necessariamente engajado
em normas ou referido a valores obrigatórios, e que por isso não entra em contradição
com a dúvida contínua inerente ao ensaio. “O julgamento é um utensílio para todos os
propósitos e em tudo se intromete. Por este motivo, nos ensaios que dele aqui faço,
emprego toda sorte de ocasião” (E. I, 50, 301).
114
filosofia ensaística, quer dizer, entendida como busca
constante de sua possibilidade. À ciência, ou ao conhecimento
puro e simples dos fatos e letras, deve-se juntar o ensaio do
senso83, isto é, a experimentação do julgamento ou do bomsenso – que só se pode constituir no ensaio da ação (E. I, 25,
142). E ainda:
Ora, o saber não deve ser pregado na alma, mas deve ser
incorporado a esta; não deve regá-la, deve tingi-la; e, se não a
muda, nem melhora seu estado imperfeito, mais vale
certamente que o deixemos onde está. É um gládio perigoso,
que embaraça e fere o dono, quando empunhado por mão
fraca e que não lhe sabe manejar, “de sorte que fora melhor
nada ter aprendido84.
Bem pensar e bem fazer: tal deve ser o fruto do
verdadeiro conhecimento (E. I, 25, 141). O crucial para tanto é
a maneira de travar contato com a ciência, de lidar e de se
relacionar com o conhecimento: o ensaísta enfatiza, sobretudo,
a inter-relação entre o método pedagógico correto, a situação e
a natureza do aluno (E. I, 25, 142-143).
A Renascença, vimos, retoma o saber greco-romano, e
este prescreve em geral subordinação à medida natural. Não
se trata de crer que a educação tem pouco valor, tendência cuja
radicalização por motivos religiosos levara anteriormente até a
condenação de todo ensinamento e de toda cultura “humana”
(GARIN, 1995, p. 45 e seq.; CHATEAU, 1971, p. 134). Muito
diversa é a motivação da corrente anti-intelectualista que
atravessa o humanismo desde Petrarca – e que, em Montaigne,
83 L’essay du sens (E. I, 25, 140). Note-se como, neste trecho mesmo, o ensaísta joga com
o duplo sentido francês de sens: senso e sentido.
84 E. I, 25, 140. Atenção aqui para a equiparação, frequente nos Ensaios do processo de
conhecimento ao processo digestivo. Note-se que incorporar não significa lá aceitar,
mas transformar. É importante marcar a maneira pela qual a linguagem ensaística
serve não só de veículo às ideias montaignianas, porém as exprime em si mesma,
através de seus termos, ritmos, imagens, etc. Desta forma, à análise conceitual
“descarnada”, escolástica, vêm juntar-se poderosos instrumentos literários de
expressão.
115
entre outros, emprega o arsenal argumentativo do ceticismo
antigo em seu favor –, a qual tem por fundamento a exigência
de que todo aprendizado deva ser justificado por sua
contribuição para a melhora do caráter do aprendiz85.
Portanto, é precisamente uma diretriz educativa que assim se
impõe com o fim de otimizar o próprio processo pedagógico,
de acordo com os objetivos então acreditados essenciais. Por
outro lado, o intento de seguir a natureza não serve mais
apenas de suporte ideológico à manutenção de uma hierarquia
social cristalizada: os humanistas pensavam no homem como
construtor de si mesmo e de seu destino. A boa educação é
aquela que considera a natureza individual de seus sujeitos e
as ocasiões, e a estas se adapta para tentar transformá-las
segundo suas interações. Uma das características da sabedoria
montaigniana é facultar ao homem o reconhecimento de sua
própria condição; ou o saber que para cada homem há um
afazer e conhecimento apropriado à sua disposição pessoal e
às oportunidades que se lhe oferecem. Neste sentido, também
um camponês, se sabe e faz o que lhe é devido, será
considerado sábio. E se os nobres devem ser educados, isto
não significa esquecer o lugar que lhes cabe: a guerra e o
governo, não as letras, devem ser suas principais ocupações.
Não há aqui contradição: o combate humanista contra o
conceito de nobreza hereditária e a ligação ideológica de raça e
85 Logan, 1975, p. 621. É bem verdade que tal crítica do saber deita suas raízes na Idade
Média e permanece paralela à revalorização da cultura no Renascimento Carolíngio
como uma espécie de exigência de medida que seria inerente ao verdadeiro
conhecimento (GARIN, 1995, 57-58); mas é verdade também que aí o fim moral
consiste basicamente na salvação e na fé que devem, não somente orientar o saber,
porém dominá-lo (GILSON, 1986, p. 41). Note-se ainda que os humanistas são
normalmente cristãos e por vezes atacam o saber e a cultura em geral com disposição,
senão idêntica, vizinha à medieval. A originalidade montaigniana, aliás, é
precisamente não recusar o saber como um todo, de maneira obscurantista, mas
desenvolver suas dúvidas pelo raciocínio cuidadoso, chegando, com método, a
algumas dificuldades filosóficas cruciais: isto o torna, segundo Popkin (1979, p. 53-54)
diferente dos outros céticos do século XVI, e mais importante do que qualquer um
deles.
116
virtude não impedem que os Ensaios, e o Renascimento como
um todo, continuem bastante sensíveis a tais ideias (cf. E. III, 5,
850-851; BAURMANN, 1939, p. 58). Igualmente, mesmo que a
identificação de virtude e coragem guerreira seja recusada, o
humanismo fará concessões à virtude bélica. E Montaigne
chegará a dizer, no final de Do Pedantismo, que “o estudo das
ciências amolece e efemina as coragens mais do que as
endurece e viriliza” (E. I, 25, 143); e termina por relatar a
opinião dos nobres do séquito de Charles VIII – então
conquistador sem esforço de Nápoles e de boa parte da
Toscana, berço do Renascimento – os quais culparam
precisamente o refinamento da nobreza italiana (que o
ensaísta, vimos, tinha em alta conta) por sua fatídica derrota.
Mas há aqui também uma ironia evidente dirigida contra seus
compatriotas. É preciso repetir: não estamos frente a uma pura
e simples recusa da educação ou da ciência, mas lemos a
crítica de uma formação mal feita conjugada com
recomendações acerca da maneira correta de educar, maneira
esta que deve estar intimamente relacionada à natureza e
condição do aluno.
Mas há mais que isso: que se insista que a compreensão
correta, não só da pedagogia, mas da filosofia ensaística,
depende de se perceber como seu lado prático efetivamente se
articula em função de sua elaboração teórica e/ou vice-versa.
Montaigne tenta fazer já no seu texto justamente aquilo que ele
recomenda: sua busca do saber pretende ter um efeito prático
sobre autor e leitores, ou seja, à pedagogia deve se seguir um
resultado ético e sócio-político. Para estimular os nobres à
verdadeira cultura, o ensaísta vai atacar aquela apenas
aparente, inútil e prejudicial, e mostrar que há uma filosofia
que lhes seria benéfica. Ao invés de tentar fazer do nobre um
filósofo (como por vezes parecem pretender os humanistas),
Montaigne vai apresentar a filosofia à corte (BOUCHARD,
2007, p. 65). E com isso ainda – e agora seguindo os
humanistas – faz da nobreza um ideal para todos os homens.
117
Logo, não se trata de uma espécie de casuística da educação,
porém de uma, digamos, especialização de sua aplicação. Seria
um erro reduzir todo alcance e fim da mensagem
montaigniana à classe aristocrática. O objeto da filosofia
ensaística é o homem, e seu objetivo mais lato, sua formação.
Montaigne procura através de exemplos e situações
particulares atingir o universal. Daí o interesse, não por uma
classe ou grupo determinados, mas por cada caso singular –
que se expressa já no fato do ensaísta pretender através de si
mesmo, no auto-retrato que são os Ensaios, retratar a condição
humana86.
O esforço para definir o que é saber e educar bem se
refere tanto às classes sociais como à natureza dos indivíduos:
ora, uma e outra coisa estão ligadas no imaginário da época. A
resposta de Montaigne é fazer uma crítica de tal injunção
conectada com o exame do saber. Por exemplo: se não
requeremos muita ciência das mulheres e dos nobres, não é
porque toda ciência seja nociva ou inútil, mas porque esta
nossa ciência o é, reflexo de uma situação sócio-política
perversa (E. I, 25, 140-141). A separação entre teoria e prática
espelha uma divisão social que atribui o trabalho intelectual a
certas classes (clérigos, humanistas, professores). O pedante é
resultado desta divisão. O que Montaigne percebe muito bem
é que esta divisão é apenas aparente, dado que jamais poderia
se constituir realmente: os caminhos pelos quais teoria e
prática se unem podem até escapar ao senso comum, mas
jamais à realidade de sua integração necessária. Assim este
saber inútil se encaixa em uma situação em que a nobreza está
mais preocupada em defender seus interesses familiares ou
partidários do que a França; e em que os professores estão
mais preocupados com sua difícil sobrevivência do que com
seus alunos ou com o verdadeiro saber. O pedante é então
Veja-se o começo do ensaio Du Repentir (III, 2) que serviu de modelo a Auerbach
(1987, cap. 12) em sua famosa análise do método montaigniano.
86
118
uma espécie de parasita social, porque o pedantismo tornou-se
uma espécie de doença social (PANICHI, 2007, p. 890) que não
toca apenas a uma classe determinada: de um lado, temos o
pedante em pessoa, aquele que professa um conhecimento
sem valor e sem sentido, de outro a atitude pedante do nobre
que crê que o status por si só (e nisto se visa também a noblesse
de robe, pré-burguesia emergente, a qual Montaigne pertencia)
confere um saber inspirado cuja prova se encontra, seja pelo
nascimento, seja pelo triunfo social, em um momento em que
tais coisas, como hoje talvez, tornaram-se muito próximas.
REFERÊNCIAS
AUERBACH, E. Mimesis. São Paulo: Perspectiva, 1987.
BAURMANN, W. Vertu – Die Bedeutungen des Wortes in der
französischen Renaissance. Romanische Studien, Berlin, nº 51, 1939.
BLAISE, A. Lexicon Latinitatis Medii Aevi. Turnhout: Brepols, 1994.
BOUCHARD, M. «Pour une philosophie “illustre”. L’honnesteté cardinale
des Essais de Montaigne». Tangence, n° 84, 2007, p. 63-86.
BURCKHARDT, J. A Cultura do Renascimento na Itália. Trad. de S.
Tellaroli. São Paulo: Schwarcz, 1991.
CASTIGLIONE, B. Le Livre du Courtisan. Trad. de A. Pons (seguindo a
versão de Gabriel Chapuis de 1580). Paris: Flammarion, 1991.
CHATEAU, J. Montaigne Psychologue et Pédagogue. Paris: Vrin, 1971.
CURTIUS, E. R. La littérature européenne et le Moyen Âge latin. Trad. de J.
Bréjoux. Paris: PUF, 1991.
DAUZAT, A., DUBOIS, J. e MITTERAND, H. Nouveau Dictionnaire
Étymologique et Historique. Paris: Larousse, 1971.
ELIAS, Norbert. O Processo Civilizador. Rio de Janeiro: Zahar, 1990.
119
ERNOUT e MEILLET. Dictionnaire Etymologique de la Langue Latine.
Paris: Klincksieck, 1994.
FRAME, D. M. Montaigne, A Biography. New York: Harcourt, Brace and
World inc., 1965.
FRIEDRICH, H. Montaigne. Trad. De R. Rovini. Paris: Gallimard, 1984.
GARIN, E. L’éducation de l’homme moderne (1400-1600). Trad. de J.
Humbert. Paris: Fayard, 1995.
GILSON, É. La philosophie au Moyen Age. Paris: Payot, 1986.
GREIMAS, A.J. e KEANE, T.M. Dictionnaire du moyen français. Paris:
Larousse, 1992.
HUGUET, E. Dictionnaire de la langue française du seizième siècle.
Genebra: Slatkine, 2010.
KRISTELLER, P. O. «Humanism». In SCHMITT, C.B. (Ed.). The Cambridge
History of Renaissance Philosophy. Cambridge: Cambridge University
Press, 1992.
LOGAN, G.M. «The relation of Montaigne to Renaissance Humanism».
Journal of the History of Ideas, vol. XXXVI, out.-dez. 1975.
MONTAIGNE, M. de. Les Essais. Ed de P. Villey. Paris: PUF, 2004.
NAKAM, G. Montaigne et son temps. Paris: Gallimard, 1993.
PANICHI, N. «Pédantisme». In P. Desan (Dir.), Dictionnaire de Michel de
Montaigne. Paris: Honoré Champion, 2007.
POPKIN, R. The history of scepticism from Erasmus to Spinoza. California:
University of California Press, 1979.
RABELAIS, F. Oeuvres Complètes. Paris: Gallimard, 1994.
REY, A. (Dir.) Dictionnaire Historique de la Langue Française. Paris: Le
Robert, 1992.
RICE Jr., E. F. The Renaissance Idea of Wisdom. Cambridge, Harvard
University Press, 1958.
120
SCHIFFMAN, Z. S. «Montaigne and the rise of skepticism in early modern
Europe: a reappraisal», Journal of the History of Ideas, vol. XLV, nº 4, oct.déc. 1984.
SCHONBERGER, V. L. La conception de l’honneste homme chez
Montaigne. Revue de l’Université d’Ottawa, vol. 45, n. 4, 1975.
TERDJMAN, E. «Montaigne, précurseur des sciences de l’homme a travers
ses propositions éducatives». Bulletin de la Societé des Amis de
Montaigne, Paris, 7a série, nº 5-6, 1986.
TRINQUET, R. La jeunesse de Montaigne. Paris: Nizet, 1972.
VILLEY, P. Les sources & l’évolution des Essais de Montaigne. Paris:
Hachette, 1933.
VINCENT, H. Éducation
L’Harmattan, 1997.
et
scepticisme
chez
Montaigne.
Paris:
121
Capítulo 7
DESCARTES, MÉTODO E CONHECIMENTO
Ethel Menezes Rocha*
Os primeiros esforços de Descartes foram dedicados,
juntamente com o filósofo da natureza Isaac Beeckman, a
problemas de matemática, musicologia, cinemática e
hidrostática. Como resultado, no final de 1618, Descartes
completa seu primeiro livro (que só será publicado em 1650),
Compedium Musicae, que dedica a Beeckman. O trabalho inicial
de Descartes em matemática, como era o caso de um modo
geral nas matemáticas, não é formulado sob a estrutura lógica
silogística aprendida com seus professores escolásticos. Além
do fato de, no século dezessete, as matemáticas de um modo
geral não utilizarem a lógica silogística, o que só ocorre no
século dezenove, quando a lógica passa a ser considerada o
núcleo das matemáticas, Descartes considerava a lógica formal
inadequada para as ciências. Na Parte II do Discurso sobre o
Método, no Prefácio à edição francesa dos Princípios da Filosofia,
nas Regras para a Direção do Espírito e mesmo em seu último
escrito A Procura da Verdade, Descartes expressamente se opõe
aos dois objetivos centrais da teoria aristotélica referente à
lógica: tanto à ideia aristotélica de fornecer uma explicação
sistemática de silogismos demonstrativos, quanto à ideia de
fornecer uma teoria normativa do pensamento, isto é, à ideia
de que é tarefa da filosofia fornecer um conjunto de regras
*
Pesquisadora do CNPq e PRONEX/CNPQ/FAPERJ.
122
para pensar corretamente. Descartes sustenta que inferência é
algo que os homens, por serem criaturas racionais, fazem
naturalmente e de modo correto, considerando, portanto,
vazia e inútil a constituição de um conjunto de regras externas
que regulariam o acesso à verdade. Em suas palavras: “Além
disso, as cadeias com as quais os dialéticos87 supõem regular a
razão humana [para alcançar o conhecimento das coisas] me
parecem de pouca utilidade...”(Regra II)88. Mais ainda,
segundo ele, a lógica formal silogística quase sempre constitui
um obstáculo ao exercício da função natural da razão,
impedindo-a de funcionar do modo que lhe é próprio, isto é,
como afirma no Prefácio dos os Princípios, “... a lógica dos
escolásticos corrompe o bom senso no lugar de ampliá-lo”.
Que sua crítica ao formalismo da lógica silogística se baseia na
essência da razão e seu funcionamento natural fica claro, por
exemplo, na obra Regras para Direção do Espírito, quando
Descartes opõe o fato de a razão trabalhar quando se empenha
em perceber claramente uma inferência com o fato dela entrar
de férias quando dispensa essa operação e segue cegamente
preceitos formais. Em suas palavras:
Alguns espantar-se-ão, talvez, que neste lugar em que
procuramos os meios de nos tornarmos mais aptos para
deduzir as verdades umas das outras, omitamos todos os
preceitos dos Dialéticos, com os quais julgam eles governar a
razão. Eles prescrevem certas formas de raciocínio nas quais
as conclusões se seguem com tal necessidade irresistível que
se a razão nelas confia, embora de certa maneira entre de
férias dispensando considerar clara e atentamente uma
inferência particular, pode, todavia, concluir por vezes algo de
acertado meramente em virtude da forma (Regra X).
Mesmo em seu último escrito, A Procura da Verdade,
provavelmente escrito em 1641, mas só publicado após sua
87
88
“Dialética” é o termo utilizado por Descartes para se referir à lógica escolástica.
Ver também Discurso sobre o Método, Parte II, AT VI:17.
123
morte, Descartes mantém sua oposição à lógica formal em
favor do uso natural da razão e a tese de que esta é
corrompida por aquela. Nesse texto, Eudoxus, personagem
que no diálogo veicula as teses cartesianas, afirma:
Todos esses pontos foram afirmados e desenvolvidos não por
meio da lógica, ou de uma regra ou modelo de argumento,
mas apenas pela luz da razão e bom senso. Quando essa luz
opera por si mesma, é menos provável que erre do que
quando se esforça ansiosamente para seguir as inúmeras e
diferentes regras, invenções do engenho e ócio humanos, que
servem mais para corrompê-la do que para torná-la mais
perfeita (AT X: 521).
Em alternativa ao modelo lógico silogístico formal,
Descartes adota em seus trabalhos em matemática o que
tipicamente no século dezessete considera-se o modelo
matemático de raciocínio: prova de teoremas a partir de
axiomas, definições e postulados.
Seu trabalho em geometria e álgebra, juntamente com
um conjunto de três sonhos na noite de 10 de novembro de
161989, o convencem de seu dever de estender a clareza dessas
ciências às outras ciências, sobretudo à filosofia, já que,
segundo ele, os princípios que fundam todas as outras ciências
derivam da filosofia. A noite do sonho foi, portanto, uma noite
de descoberta da sua missão: reformar as ciências. Em
oposição a formular um conjunto de regras externas ao
pensamento que o module, essa reforma envolve a
sistematização em regras das “primeiras sementes depositadas
pela natureza nos espírito humano” que consistem, portanto,
no modo como naturalmente pensamos. Como fica claro na
Regra VI das Regras, a sistematização desses modos naturais
O conteúdo dessa série de três sonhos é narrado por Adrienne Baillet, biógrafo de
Descartes, em seu livro La vie de M. Des-Cartes (Paris: Horthemels, 1691). O que
ainda restou do texto original, está publicado em AT X, 213 [C. Adam e P. Tannery
(orgs.), Oeuvres de Descartes (Paris: Vrin/CNRS, 1964-76)].
89
124
de pensar que seria uma disciplina contendo “os primeiros
rudimentos da razão humana” e que deveria “se estender à
descoberta de verdades em qualquer que seja o campo
teórico”, é a matemática universal. Essa disciplina, entretanto,
não consiste nas matemáticas particulares como a aritmética e
a geometria, que são apenas exemplos de como o método é
aplicado, mas sim em uma ciência mais universal que expressa
a própria natureza da razão. O método universal não é uma
generalização das matemáticas particulares, mas a expressão
em regras da natureza do pensamento, cuja clareza se
manifesta nas matemáticas particulares, e deve se aplicar a
todo tipo de conhecimento. Há uma identidade entre o
método – a matemática universal – e a razão, e não entre o
método e as matemáticas. Nas palavras de Descartes (Regra
IV),
esses pensamentos me fizeram desviar dos estudos
particulares de aritmética e geometria para uma investigação
geral das matemáticas [...] Quando considerei o assunto mais
de perto percebi que a única preocupação da matemática é
com questões de ordem e medida [...] Isso me fez perceber que
deve haver uma ciência geral que explique tudo que pode ser
questionado acerca de ordem e medida [...] e essa ciência deve
ser chamada mathesis universalis (AT X: 378).
Assim, o raciocínio matemático (e, como vimos, não a
lógica silogística) é um exemplo de raciocínio que, segundo
Descartes, deve ser adotado pelas outras ciências, em
particular a filosofia, na medida em que na matemática os
princípios inatos do método são naturalmente aplicados.
Apesar disso, como veremos, embora compartilhasse do
encantamento com o ideal geométrico com muitos filósofos tais como Espinosa, Hobbes, Russell e Platão – Descartes, com
base em uma distinção entre o método matemático sintético e
o método matemático analítico, não assume para a
investigação da verdade de um modo geral um modelo
125
dedutivista de ciência, isto é, um modelo que envolva um
sistema formal baseado em axiomas e definições.
As declarações oficiais de Descartes acerca do método
para investigação da verdade estão nas Regras para Direção do
Espírito (principalmente entre as Regras II e VIII) e, mais tarde,
em seu sumário no Discurso sobre o Método (principalmente
Parte II). Em termos gerais as regras do método para conhecer
são: a) só aceitar como verdadeiro o que é indubitável; b)
analisar o máximo possível os problemas em partes mais
simples; c) mover-se do simples para o mais complexo e d)
rever e verificar completamente as conclusões a que chegar.
Visto que é através da razão que se dá o conhecimento, nas
Regras Descartes examina a natureza da razão e como esta
funciona. Nesse exame, fica claro que as operações cognitivas
da razão são as operações da intuição e dedução que
consistem “nas vias mais certas para o conhecimento” e “as
únicas em que devemos confiar na aquisição de nosso
conhecimento” (Regra VIII). A razão adquire conhecimento
através das operações da intuição e da dedução, portanto,
porque estas são as operações que consistem em seu
funcionamento natural.
Em algumas passagens das Regras, Descartes descreve o
que entende por intuição e dedução. Por exemplo, na Regra
III, ele afirma:
Por intuição [...] designo a concepção de uma mente clara e
atenta que é tão fácil e distinta que não há espaço para dúvida
acerca do que por ela compreendemos [...] e [por] dedução [...]
a inferência de alguma coisa que segue-se necessariamente de
alguma outra proposição que é conhecida com certeza [...]
visto serem inferidas de princípios verdadeiros e conhecidos
através de um movimento contínuo e ininterrupto do
pensamento no qual cada proposição individual é claramente
intuída.
126
Isto é, a princípio, a operação da intuição é o ato pelo
qual o intelecto apreende o objeto simples que lhe é
imediatamente dado e, por isso mesmo, o produto dessa
operação é uma evidência. E a operação da dedução, por sua
vez, que também resulta em um produto evidente, é um ato
complexo que supõe uma sequência intuitiva de atos
intuitivos.
Segundo Descartes, portanto, a natureza da razão se
expressa pelas operações da intuição e dedução conjuntamente
e não apenas pela intuição, na medida em que o conhecimento
não é apenas do simples e imediatamente dado, mas sim de
um corpo sistemático. As duas operações se complementam,
formando um único processo “graças a um tipo de movimento
do pensamento que considera por intuição cada objeto em
particular, ao mesmo tempo em que vai passando aos outros”
(Regra XI). A intuição apreende dados evidentes e a dedução
conecta dados evidentes por meio de elos evidentes. A
dedução, portanto, além de depender da memória que permite
reter os dados a conectar, depende da intuição para ter os
dados e para estabelecer os elos de conexão. Sendo assim,
dedução no sentido introduzido por Descartes é a operação
cognitiva que, ao contrário da intuição, envolve a memória e
que permite um tipo de movimento da razão de inferência de
uma coisa a partir de outra. Como veremos, entretanto,
Descartes admite que mesmo na operação da intuição ocorre
um tipo de inferência, uma inferência direta, que
diferentemente da dedução, não exige a memória.
O fato do método, segundo Descartes, ser a expressão do
modo como naturalmente a razão funciona, explica por que
Descartes, na Regra IV, afirma que “o método não pode ir tão
longe a ponto de nos ensinar a realizar as operações da
intuição e dedução”. Se a razão conhece apenas através da
intuição e dedução, não pode aprender um conjunto de regras
acerca de como intuir ou deduzir a não ser já intuindo e/ou
deduzindo. Sendo assim, o modo como se aprende o método é
127
aplicando-o. As regras do método cartesiano não são
meramente normativas no sentido de serem formuladas
independentemente de sua aplicação, mas, ao contrário, são
constitutivas do método de tal modo que não é possível
compreendê-las independentemente de segui-las. As
Meditações satisfazem estritamente as regras do método:
através da dúvida, e ao longo das meditações seguintes, busca
algo simples (cogito), movendo-se para o mais complexo,
incluindo revisões e verificações das teses avançadas a partir
disso. Sendo assim, o conteúdo das Meditações torna o método
manifesto e o exame desse conteúdo envolve o conhecimento
das regras do método que, por sua vez, envolvem a aplicação
do próprio método. Sendo assim, a leitura das Meditações,
além de resultar no conhecimento acerca das teses ali
defendidas, resulta no conhecimento e na aplicação do próprio
método. Portanto, embora não se possa ensinar a intuir e
deduzir, o exame do procedimento de Descartes das
Meditações pode nos levar a compreender essas operações.
Ainda que nas Meditações Descartes tenha abandonado a
terminologia introduzida nas Regras para designar as
operações cognitivas (intuição e dedução), o modo como
Descartes responde a uma objeção que consta no conjunto das
Segundas Objeções às Meditações, recolhidas por Mersenne,
torna explícito que o argumento do Cogito tem um caráter
intuitivo e que este é oposto ao silogismo:
Mas, quando percebemos que somos coisas pensantes, trata-se
de uma primeira noção que não é extraída de nenhum
silogismo; e quando alguém diz “Penso, logo sou ou existo”, ele
não concluiu sua existência de seu pensamento por meio de
um silogismo, mas reconhece ser evidente por uma intuição
simples da mente.
Em outras palavras, segundo Descartes, o argumento do
Cogito é uma verdade primitiva, isto é, uma verdade adquirida
por uma intuição simples da mente, pois “... se a deduzisse
128
por meio de silogismo, deveria antes conhecer esta premissa
maior: Tudo que pensa é ou existe”. Apesar de, segundo essa
resposta, o argumento do Cogito não supor o conhecimento da
premissa maior, Descartes parece admitir um tipo de relação
entre esta premissa e a verdade da proposição “Penso, logo
existo”, como fica claro pelo que se segue na resposta: “Mas ao
contrário, esta [a premissa maior “Tudo que pensa é ou
existe”] lhe é ensinada por ele experimentar em seu próprio
caso que não é possível que ele pense sem existir” (AT VII:
140). Descartes, entretanto, não explica nessa resposta como
isso ocorre.
É em Conversações com Burman, com base em uma
distinção entre conhecimento implícito e conhecimento
explícito que Descartes explica a relação entre o princípio
primitivo “penso, logo existo” e o princípio universal “tudo
que pensa é”, e essa explicação permite um passo adiante na
compreensão do que Descartes entende pela operação da
intuição. A tese defendida nesse texto é a de que, embora o
conhecimento do cogito dependa da verdade da noção de que
“Tudo que pensa é”, não depende, entretanto, de seu
conhecimento explícito. Assim, a verdade da instância (Eu
penso, logo existo) não independe da verdade do princípio
universal (Tudo que pensa é), mas o conhecimento explícito da
verdade desse princípio não é necessário para o
reconhecimento da indubitabilidade da instância.
Ao
contrário, como diz Descartes a Burman, é a experiência
interna da evidência da instância “Eu penso, logo existo” que
permite tornar explícito a verdade e, portanto, tornar
conhecida a verdade do princípio geral “Tudo que pensa é”.
Em seus termos:
Antes da conclusão “estou pensando, logo existo”, a maior
“tudo aquilo que pensa, existe” pode ser conhecida pois é uma
realidade anterior à minha inferência, e minha inferência
depende dela […] Mas não se segue que eu sempre esteja
129
expressa e explicitamente consciente dessa anterioridade, ou
que eu a conheça antes da minha inferência (AT V: 147).
Em outras palavras, Descartes introduz aqui uma
distinção entre o conhecimento implícito de certas noções
comuns e universais em cuja verdade não se pensa a não ser
no momento em que pensamos em suas instâncias
particulares. Embora tenhamos um conhecimento implícito
dessas noções comuns e universais, esse conhecimento só é
tornado explícito e, nesse sentido, é tornado de fato um
conhecimento, no momento em que a verdade da instância é
experimentada ou intuída. Em suas palavras, imediatamente
a seguir, na mesma passagem acima citada: “Não presto
atenção [...] à noção geral ‘tudo aquilo que pensa existe’ [...] em
vez disso, é nas instâncias particulares que as encontramos.”
Essa afirmação de que o princípio universal é conhecido
quando temos a experiência internamente da verdade de uma
(ou mais) de suas instâncias é ainda confirmada na resposta
que Descartes dá a um novo conjunto de objeções feitas por
Gassendi (publicado juntamente com suas objeções originais,
em 1644, em um volume intitulado Disquisitio Metaphysica sive
Dubitationes et Instantiae) após este ter lido as respostas de
Descartes ao primeiro conjunto de suas objeções. Diz
Descartes:
o autor afirma que quando digo “Estou pensando logo existo”
pressuponho a premissa maior “Tudo que pensa existe” [...] O
erro mais importante que nosso crítico faz aqui é supor que o
conhecimento de proposições particulares deve sempre ser
extraído de proposições universais, seguindo a mesma ordem
do silogismo.
Imediatamente antes dessa passagem, nessa mesma
resposta, Descartes afirma:
Quanto ao princípios comuns e axiomas, [...] os homens que
são criaturas dos sentidos, como todos somos em um nível
130
pré-filosófico, não pensam neles ou prestam atenção a eles. Ao
contrário, visto que estão em nós desde o nascimento com
tamanha clareza, e visto que os experimentamos em nós
mesmos, negligenciamo-los e só pensamos neles de modo
confuso e nunca em abstrato ou separadamente das coisas
materiais e instâncias particulares.
Podemos dizer, portanto, que no que diz respeito ao
estabelecimento do princípio que fundamenta a metafísica
segundo Descartes, a operação cognitiva da intuição não só me
permite perceber imediatamente a verdade da proposição
“penso, logo existo”, independentemente de qualquer outro
conhecimento explícito, mas, além disso, permite conhecer a
verdade do princípio universal e comum, de cuja verdade sua
verdade é dependente, através de um movimento interno na
razão de explicitação de noções comuns.
Parece ser possível então, a partir da explicação do
argumento do Cogito, inferir que, segundo Descartes, há um
movimento interno da razão ainda no momento de sua
operação mais simples, a intuição, em que noções comuns e
primeiros princípios são explicitados a partir da consciência da
verdade de alguma proposição. Esse movimento interno da
razão, através do qual os princípios e as noções comuns são
explicitados, consiste num tipo de inferência, uma inferência
direta, nos termos de Descartes, na medida em que consiste
em um movimento da mente que vai da compreensão
implícita de noções simples e princípios universais para a
apreensão filosófica intuitiva de certas proposições
particulares e destas de volta para a compreensão, agora
explícita, do que a condiciona. Apesar de consistir em uma
inferência, entretanto, esse movimento não se confunde nem
com o que na tradição silogística chama-se de dedução lógica,
nem com a dedução considerada por Descartes como uma das
operações fundamentais da razão. Por um lado, trata-se de
uma inferência pré-discursiva e, portanto, uma inferência não
silogística. Por outro lado, na medida em que ocorre no
131
interior do ato de intuir que, por uma atenção cuidadosa
explicita princípios e noções implícitas na apreensão da
verdade de proposições particulares, essa inferência não
consiste em uma dedução, mas antes numa preparação de
dados que poderão ou não ser conectados com outros em uma
dedução. Assim, o processo pelo qual a razão compreende
noções primitivas e primeiros princípios com base no
conhecimento de particulares revela, em parte, a natureza da
razão, na medida em que revela um movimento interno à
razão, isto é, um movimento interno à operação da intuição,
cujo produto evidente é condição para que se realize a outra
operação cognitiva natural da razão, a dedução.
Segundo Descartes, exceto pela limitação da razão
humana, todos os objetos de dedução podem ser objetos de
intuição. Sendo assim, embora as duas operações não sejam
idênticas, porque a intuição tem uma natureza tal que
instantaneamente apreende seu objeto e a dedução consiste em
um processo que envolve a memória, na medida em que a
diferença entre elas tem como base apenas a limitação da
mente humana que não pode perceber verdades complexas de
uma só vez, a compreensão da operação da intuição lança
alguma luz para a compreensão da dedução. A dedução no
sentido cartesiano é a operação cognitiva que, como a intuição,
produz evidências mas que, diferentemente da intuição, infere
essas evidências a partir de evidências (alcançadas por
intuição) e por elos também evidentes (apreendidos também
por intuição). Parece plausível, portanto, afirmar que segundo
Descartes, no ato cognitivo podem operar dois tipos de
inferência que, nos termos de Descartes na Regra VI (AT X:
387) consistiriam em uma dedução “direta” ou “indireta”: a
inferência direta, operada no ato da intuição de verdades
particulares para a explicitação de princípios e noções comuns,
e a inferência indireta, operada pela dedução que consiste em
um movimento contínuo e ininterrupto do pensamento de
uma intuição para outra.
132
Na Regra VII, Descartes ocupa-se com a explicação do
que ele entende pela operação cognitiva da inferência indireta,
isto é, a dedução, operação necessária visto que admitimos
“como certas as verdades que, como dissemos acima, não são
deduzidas imediatamente a partir de primeiros princípios
evidentes”. Se a ciência não se constitui apenas de verdades
simples, mas sim de um complexo articulado de verdades
simples, cabe à operação de inferir indiretamente, isto é,
deduzir, a função de expandir o conhecimento. A dedução é a
inferência indireta em oposição à dedução direta realizada na
intuição e pode ser chamada também de “enumeração”ou
“indução” (Regra XI, AT X: 408). Na dedução, o intelecto, que
não pode apreender ao mesmo tempo todo o conteúdo, com
auxílio da memória, retém as partes individuais da
enumeração, permitindo combiná-las todas depois em um
todo. A dedução, portanto, segundo Descartes, é o meio pelo
qual a partir das noções comuns e primeiros princípios
fazemos composição de modo a alcançarmos verdades mais
complexas. Assim, pode-se afirmar que Descartes concebe que
por intuição descobrimos as conexões simples entre noções
comuns e princípios, seja entre eles mesmos, seja entre
instâncias dos princípios e eles, e que por dedução (que,
diferentemente da dedução silogística depende de conteúdos
conhecidos já que depende da intuição de verdades e de elos
conectivos) descobrimos as conexões mais complexas entre
verdades, expandindo assim o conhecimento.
Paralelamente ao método da matemática universal de
descoberta de novos conteúdos de conhecimento, Descartes
expressamente se preocupa com o modo adequado para expor
os conteúdos de conhecimento. Com essa preocupação em
mente, Descartes retoma, em suas Respostas às Segundas
Objeções, a questão da justificação ou explicitação dos axiomas
e princípios universais, quando faz distinção entre as
exposições de conteúdos via análise e síntese. É interessante
notar que, ao longo de sua obra, Descartes experimenta
133
diferentes métodos de exposição de sua doutrina. Ele se serve
da narrativa autobiográfica no Discurso, da fábula no Mundo,
da exposição em forma de diálogo em A Procura da Verdade, do
formato de texto didático (ao menos intencionalmente) nos
Princípios da Filosofia e, ao menos aparentemente, de uma
adaptação das disputas escolásticas nas Objeções e Respostas
publicadas juntamente com as Meditações Metafísicas. No caso
específico das Meditações, entretanto, o método da descoberta
via intuição-dedução exposto nas Regras e resumido no
Discurso, se expressa segundo um novo aspecto: a ordem
analítica de exposição de conhecimento. Como veremos, a
disciplina que contém os “rudimentos da razão humana”, isto
é, a matemática universal apresentada nas Regras, visto
sistematizar o modo como naturalmente os homens pensam,
de certa forma antecipa o método analítico de exposição de
conhecimento e é nesse sentido que é possível então afirmar
que a via analítica, segundo Descartes é um método de
exposição e de descoberta de conteúdos cognitivos.
Em resposta aos autores das Segundas Objeções, que o
instam a apresentar sua doutrina segundo o modelo
geométrico, isto é, partindo de definições, axiomas e
postulados, Descartes apresenta alguns de seus argumentos
segundo esse método dos geômetras, mas não sem antes
introduzir uma discussão geral onde apresenta uma distinção
interna ao método matemático: a ordem e a maneira de
demonstrar conteúdos. A ordem, diz Descartes, consiste na
organização da exposição de tal modo que aquilo que é
apresentado antes pode ser conhecido sem recurso às
proposições que se seguem e que estas que se seguem devem
ser conhecidas apenas por recurso às que a precedem. Nos
termos de Descartes “consiste apenas em que as coisas
propostas em primeiro devem ser conhecidas sem a ajuda das
seguintes, e que as seguintes devem ser dispostas de tal forma
que sejam demonstradas só pelas coisas que as precedem”.
134
Essa foi a ordem seguida nas Meditações, como afirma o
próprio Descartes no Resumo das Meditações:
tendo procurado nada escrever nesse tratado de que não
tivesse demonstrações muito exatas, vi-me obrigado a seguir
uma ordem semelhante àquela de que se servem os
geômetras, a saber, adiantar todas as coisas das quais depende
a proposição que se busca, antes de concluir algo dela.
Visto que tanto a via sintética quanto a analítica são
“aquelas de que se servem os geômetras”, ambas estão,
portanto, de acordo com essa ordem, a ordem das razões. No
que diz respeito à ordem, portanto, não há distinção entre a
via sintética e a via analítica. Entretanto, ao prosseguir,
Descartes explica que é quanto ao modo como demonstram
que a via analítica e a via sintética se distinguem.
A via sintética de exposição parte de uma longa série de
definições, axiomas, postulados, teoremas e problemas,
movendo-se em uma cadeia contínua de raciocínios e
demonstrações para provar teoremas, demonstrando assim o
que está contido nas conclusões. A via analítica, por outro
lado, não supõe nada como previamente dado. Ela começa de
um problema que vai sendo analisado em questões mais
simples até que alguma verdade mais simples e evidente seja
percebida, a partir da qual é possível solucionar o problema.
Na via sintética, portanto, o ponto de partida são as coisas
consideradas como primeiras na cadeia de raciocínio e estas
são assim consideradas expressamente por definições, axiomas
e postulados. Essa via, segundo Descartes, convém à
Geometria, na medida em que as primeiras noções supostas, a
partir das quais se demonstram as proposições geométricas,
estão de acordo com o que é dado aos sentidos, sendo portanto
facilmente aceitas como axiomas por todos. O interlocutor é
levado a assentir porque percebe como cada passo se segue do
que foi dado anteriormente.
135
A via sintética de exposição, entretanto, não convém às
questões da Metafísica. A principal dificuldade resulta do fato
de que não é possível conceber as primeiras noções da
metafísica como axiomas, pois, ainda que por sua própria
natureza sejam noções muito claras, elas não acordam com o
que recebemos dos sentidos. Visto que em metafísica os
diferentes autores discordam mesmo quanto às proposições
mais básicas (tais como se o mundo é criado ou não, se há
espaço vazio, etc.) e visto que as primeiras noções são distintas
(e muitas vezes opostas) do que nos fornecem os sentidos, fazse necessária a via analítica para que cada um possa alcançar
por ele mesmo os primeiros princípios. Sendo assim, um
primeiro aspecto em que a via analítica e a via sintética de
demonstração são distintas é o fato de que, na primeira e não
na segunda, as primeiras noções e princípios são justificados e
explicitados. O método analítico, em oposição ao sintético, não
considera coisa alguma como previamente dada.
Uma
exposição segundo esse método começa por um problema
particular e o divide em questões mais simples até chegar a
alguma verdade evidente. Nessa via, o interlocutor só se
convence se ele próprio tem insights das primeiras noções e
princípios de tal modo que “a análise mostra o verdadeiro
caminho pelo qual uma coisa foi metodicamente descoberta
[...] de sorte que [...] o leitor [...] não entenderá menos
perfeitamente a coisa assim demonstrada e não a tornará
menos sua do que se ele próprio a houvesse descoberto”. Visto
que nas Meditações o conhecimento é obtido não apenas por
intuição do simples, mas também por dedução do mais
complexo, e visto que Descartes, nas Respostas às Segundas
Objeções afirma que nas Meditações seguiu apenas a via
analítica, é necessário admitir que a via analítica envolve as
operações da intuição e da dedução.
Descartes acreditava que com seu método analítico tinha
reconstituído o método secreto dos matemáticos gregos da
antiguidade. Apesar de não esclarecer em que medida seu
136
método é uma variação ou generalização do método dos
antigos matemáticos, Descartes deixa claro que a semelhança
entre os dois métodos diz respeito à própria natureza da
operação cognitiva da mente humana, como fica claro, por
exemplo, na Regra IV das Regras para direção do Espírito, onde
ele afirma:
Com efeito, a mente humana tem não sei quê de divino, em
que as primeiras sementes dos pensamentos úteis foram
lançadas de tal modo que, muitas vezes, ainda que descuradas
e abafadas por estudos feitos indiretamente, produzem um
fruto espontâneo. É o que experimentamos, nas ciências mais
fáceis, a Aritmética e a Geometria: de fato, vemos bastante
bem que os antigos Geômetras utilizaram uma espécie de
análise que estendiam à solução de todos os problemas, ainda
que não a tenham transmitido à posteridade. E agora floresce
um gênero de Aritmética, que se chama Álgebra, que permite
fazer para os números o que os Antigos faziam para as
figuras. Estas duas coisas não passam de frutos espontâneos
dos princípios naturais do nosso método.
Descartes, portanto, em algum aspecto importante se
filia à tradição analítica de matemáticos como o grego Pappus.
Pappus de Alexandria, cuja descrição do método de análise
dos gregos antigos é considerada a mais “completa e
informativa” (BATTISTI, 2010) e a “única explícita e extensiva”
(HINTIKKA,1978), a esse respeito afirma:
A análise é o caminho que parte do que é buscado – como se
tivesse sido admitido – e através de seus concomitantes, em
sua ordem, segue até algo suposto na síntese. Pois na análise
supomos como já tendo sido feito aquilo que é buscado, e nos
perguntamos de que resulta, e de novo o que é o antecedente
desse último, até que em nosso caminho de trás para frente
possamos lançar luz sobre algo já conhecido e o primeiro na
ordem [...] Na síntese, por outro lado, supomos como já tendo
sido feito o que foi alcançado por último na análise, e
ordenando em sua ordem natural como consequente o que
antes era antecedente, e relacionando-os uns aos outros, ao
137
final chegamos à construção da coisa buscada (PAPPUS, 18761877, in HINTIKKA, 1978, p. 76).
Uma primeira coisa a ser notada é que, na descrição de
Pappus, a síntese aparece como uma complementação da
análise e que a análise não faria sentido se não fosse seguida
pela síntese, na busca de conhecimento. Pode-se dizer,
portanto, que o método descrito por Pappus é um método
analítico-sintético. Mas, se é assim, não caberia buscar a
semelhança entre o método de Descartes e a dos matemáticos
antigos considerando o método em sua totalidade já que, como
vimos, Descartes pretende, nas Meditações, ter seguido
somente a via analítica.
Admitindo então que na descrição de Pappus não há um
método de análise, e sim um método composto de análise e
síntese para a descoberta e exposição do conhecimento e que
para Descartes o método de descoberta e de exposição é
apenas analítico, talvez seja possível encontrar a semelhança
entre os dois métodos voltando-se para o aspecto direcional da
análise e da síntese. Aparentemente, tanto para Pappus quanto
para Descartes as duas vias seguem direções inversas, sendo a
síntese um raciocínio direto, linear ascendente, e a análise um
raciocínio de direção oposta. Apesar disso, ao menos à
primeira vista, no caso de Descartes, esse não parece ser de
fato o caso se considerarmos, por exemplo, o texto das
Respostas às Segundas Objeções, onde Descartes apresenta sua
argumentação exposta nas Meditações transformada para a via
sintética. Apesar de uma seguir a via sintética e, a outra, a
analítica, percebe-se que as principais linhas da argumentação
são as mesmas e na mesma direção. Tanto a prova da
existência de Deus quanto a distinção real entre corpo e alma
seguem nessas respostas exatamente a mesma ordem das
Meditações: a partir da ideia de Deus, existente em nós,
Descartes mostra que Deus existe e a partir do conhecimento
138
de que a alma pode existir independentemente da existência
do corpo mostra que a alma é distinta do corpo.
Seguindo a linha interpretativa exposta em Hintikka e
Remes (1974) e em Hintikka (1978) parece mais plausível
afirmar que a semelhança entre o método moderno de análise
e a via analítica do método analítico-sintético utilizado pelos
matemáticos gregos na antiguidade reside no aspecto de
intercalações e interdependências entre os elementos
conhecidos com relação ao todo do conhecimento almejado: a
conexão entre os objetos geométricos que são partes de uma
figura, no caso da geometria, e a conexão entre proposições
simples verdadeiras e verdades mais complexas, no caso da
filosofia.
Segundo Hintikka, o aspecto mais importante do
método antigo recuperado por Descartes e seus
contemporâneos é a ideia de que a análise é uma análise de
configuração e não de provas. Isto é, na geometria dos gregos
antigos, o início e o final da análise eram objetos geométricos e
não verdades geométricas. Os passos da análise, portanto,
eram de um objeto geométrico para a construção de outro ou
outros. Esses passos de um objeto para outro eram mediados
por sua interdependência num contexto do todo da
configuração da figura cujos elementos eram objetos
construídos. As construções auxiliares de objetos teriam,
portanto, um papel fundamental: seriam elas as responsáveis
pela explicitação das intercalações e interdependências das
partes da figura relevantes para a resolução do problema.
Assim, a análise de uma figura geométrica mostraria ou
explicitaria as inter-relações entre diferentes objetos
geométricos na figura. Ainda segundo Hintikka, os
predecessores de Descartes gradativamente introduziram o
uso de métodos algébricos para a expressar as
interdependências entre os objetos de uma figura geométrica
de tal modo que coube a Descartes a geometria analítica
propriamente dita, na qual qualquer dependência entre
139
quaisquer objetos geométricos pode ser algebricamente
representada bem como a matematização da física, segundo o
que os diferentes fatores de uma configuração física podem,
por análise, ser expressos matematicamente. Segundo
Hintikka, portanto, “o método de Descartes pode ser
considerado como o resultado desse tipo de extensão do
método de análise das configurações geométricas para todo
complexo de elementos interdependentes”. Assim, a
semelhança entre o método cartesiano de análise e a via
analítica do método de Pappus parece residir no fato de que a
análise é uma análise de configurações e inter-relações. Se,
como vimos acima, é pelas operações da intuição e da dedução
que, segundo Descartes, a razão naturalmente chega a
verdades descobrindo suas conexões diretas ou indiretas,
então o método analítico de Descartes é aquele segundo o qual
por intuição e por dedução obtemos uma verdade particular e
“lançamos os olhos sobre tudo o que ela contem”(Resposta às
Segundas Objeções).
Para concluir, gostaria de lembrar ainda três pontos que
parecem relevantes para a questão da educação segundo a
filosofia de Descartes. Primeiro, que no sistema cartesiano, a
via analítica é mais adequada ao ensino. Apesar disso,
Descartes mostra que essa via não é eficaz em todos os casos.
Depois que, para o sistema cartesiano, o conhecimento
depende mais do desenvolvimento das operações cognitivas
do que da aquisição de conteúdos cognitivos. Apesar disso,
em consequência do que, como vimos, ele considera
problemático na lógica silogística, Descartes distingue sua
busca por tornar o raciocínio mais perspicaz dos preceitos da
lógica silogística. Em terceiro lugar, que nos sistema cartesiano
a erudição não é sinônimo de educação.
Nas Respostas às Segundas Objeções, Descartes
expressamente afirma que a via analítica é a “mais verdadeira
e a mais própria ao ensino”, mas não a recomenda a qualquer
um. A via analítica, em princípio, é a via mais adequada na
140
medida em que, como vimos, “mostra o verdadeiro caminho
pelo qual uma coisa foi metodicamente descoberta”. Ao
permitir que o leitor lance os olhos sobre tudo o que está
envolvido em um determinado conhecimento, permite que ele
compreenda “perfeitamente a coisa assim demonstrada” e a
torne sua como “se ele próprio a tivesse descoberto (Respostas
às Segundas Objeções). Apesar disso, Descartes faz uma
ressalva: essa via não é adequada para um leitor desatento ou
preguiçoso, já que não oferece uma cadeia ininterrupta de
raciocínio. Embora Descartes caracterize a operação cognitiva
da dedução como “movimento ininterrupto e contínuo do
pensamento”, como vimos, esse movimento depende dos
resultados obtidos por intuição. Intuição e dedução são
complementares. E se, como vimos, a intuição consiste não só
na consciência imediata da verdade de um conteúdo, mas
também na consciência de uma rede de noções simples e
primeiros princípios imediatamente apreendidos a partir dela,
a exposição do conhecimento pela via analítica não pode se
limitar a uma cadeia linear de raciocínios. Sendo assim, essa
via “não é capaz de convencer os leitores teimosos e pouco
atentos”. Para estes, a via sintética é a mais adequada, pois
envolve apenas um raciocínio linear, conseguindo assim
“arrancar o consentimento do leitor, por mais obstinado e
opiniático que seja”, embora “não dê inteira satisfação aos
espíritos que desejam aprender porque não ensina o método
pelo qual a coisa foi descoberta” (Repostas às Segundas
Objeções).
Além disso, Descartes considera a importância de
desenvolver as operações cognitivas e sua relação com a
aquisição de conteúdos cognitivos. Na Regra IX, Descartes
afirma que “é preciso dirigir toda a acuidade do espírito para
as coisas menos importantes e mais fáceis e nelas nos determos
tempo suficiente até nos habituarmos a ver a verdade por
intuição de uma maneira distinta e clara” e, na Regra X, afirma
que
141
para que o espírito se tome perspicaz, deve exercitar-se em
procurar o que já por outros foi encontrado, e em percorrer
metodicamente até mesmo os mais insignificantes ofícios e
artes dos homens, mas sobretudo os que manifestam ou
supõem ordem.
Isto, segundo Descartes, é possível e necessário para o
conhecimento cultivar as operações cognitivas e este cultivo se
dá cultivando a perspicácia, ao intuir cada coisa em particular,
e a sagacidade, ao deduzir com arte umas das outras.
Descartes explicita o que entende por cultivo da intuição
através de uma analogia com os artesãos que, segundo ele,
adquirem a capacidade de distinguir com precisão coisas
muito delicadas e pequenas porque são acostumados a fixar o
olhar em um único ponto. Do mesmo modo, diz ele, visto que
a atenção voltada para muitas coisas ao mesmo tempo é
sempre confusa, tornar nossas mentes mais claras e, nesse
sentido, propícias ao conhecimento, depende de dedicarmos
nossa atenção para o mais simples e fácil. E, para explicar o
cultivo da dedução, Descartes sugere que se considere
atentamente as artes mais simples, especialmente aquelas onde
a ordem prevalece, como a tecelagem, cujas linhas se
entrelaçam em infinitos padrões, ou os jogos que envolvem
aritmética, porque são atividades onde “nada permanece
escondido e que correspondem inteiramente à capacidade do
conhecimento humano”. Note-se que, apesar da ênfase no
refinamento das operações cognitivas, Descartes pretende
ainda assim observar uma certa distância com relação à lógica
silogística. Diz ele ainda, na Regra X:
Alguns espantar-se-ão, talvez, que neste lugar em que
procuramos os meios de nos tornarmos mais aptos para
deduzir as verdades umas das outras, omitamos todos os
preceitos dos Dialéticos, com os quais julgam eles governar a
razão, prescrevendo-lhe certas formas de raciocínio [...] é
sobretudo para evitar que nossa razão entre de férias quando
142
investigamos a verdade de alguma coisa, que rejeitamos estas
formas lógicas como contrárias ao nosso objetivo.
E por fim, ao distinguir educação de erudição, Descarte
parece sugerir que, no que diz respeito à educação, a
quantidade de conteúdos aprendidos, escritos ou pensados
não é relevante. Em carta a Voetius, de maio de 164390,
Descartes afirma:
Digo “educação” e não “erudição”. Pois se no significado do
termo “erudição” você pretende incluir tudo o que é
aprendido dos livros, independentemente da qualidade, de
bom grado concordo que você é o homem mais erudito de
todos... Por “educado” quero dizer o homem que apurou sua
inteligência e caráter por estudo e cultivo cuidadosos. Estou
convencido que se adquire essa educação não pela leitura
indiscriminada de qualquer livro, mas pela leitura frequente e
repetida apenas do melhor, pela discussão com os já
educados, quando se tem oportunidade e, finalmente, pela
contínua contemplação das virtudes e busca da verdade.
REFERÊNCIAS
BATTISITI, Cesar. “O Método de Análise Cartesiano e o seu Fundamento”.
In: Scientiæ Studia, São Paulo, v. 8, n. 4, p. 571-96, 2010.
BEHBOUD, Ali. “Greek Geometrical Analysis”. In: Centaurus, v. 37, p. 5286, 1994.
DESCARTES, R. Adam, C. and Tannery, P (ed.). Oeuvres de Descartes (rev.
edn., 12 vols. Paris: Vrin/CNRS, 1964-76).
HINTIKKA, J. e REMES, U. The method of analysis. Dordretch: Publishing
Company, 1974.
90 AT VIIIB 25-194.
Carta resposta de Descartes a dois escritos de Voetius
(Confraternitas Mariana – 1642 e Admiranda Methodus – 1643), onde este ataca
violentamente as teses de Descartes. Antes disso, Voetius garantiu a condenação
formal da filosofia cartesiana na Universidade de Utrecht, da qual era reitor.
143
HINTIKKA, J., “A discourse on Descartes’ method” in Hooker, M.,
Descartes: critical and interpretive essays. Baltmore: The Johns Hopkins
University Press, 1978, pp. 74-88.
144
Capítulo 8
LOCKE, O CONHECIMENTO E A EDUCAÇÃO
Gustavo Araújo Batista
CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS
Neste capítulo, nós nos encarregaremos de elaborar uma
explanação pontual sobre algumas categorias pelas quais o
filósofo inglês John Locke (1632-1704) estrutura o seu
pensamento filosófico-educacional, razão pela qual se torna
imperativa a necessidade de explicitar de que maneira teria
sido feito o desenvolvimento de tais categorias, pois a
compreensão da sua articulação é de fundamental importância
para se compreender melhor a forma e o conteúdo dos quais
este eminente pensador ter-se-ia servido, à guisa de conferir
maior consistência, coerência e coesão, tanto à sua teoria
filosófica, em geral, quanto à sua proposta pedagógica, em
particular.
Outrossim, aqui foram selecionados alguns dos
conceitos-chave presentes na obra Ensaio sobre o Entendimento
Humano91 (1690), obra capital da epistemologia lockeana, a
qual, por sua vez, constitui a síntese magna de suas
elucubrações acerca da origem, dos fundamentos, dos
princípios, dos limites, da extensão, da possibilidade, da
validade e da finalidade do conhecimento em geral e, em
particular, do conhecimento filosófico-científico, sob a
91
Denominada, doravante, Ensaio.
145
perspectiva empirista. De igual modo, foram extraídas
algumas categorias da sua principal obra pedagógica, qual
seja: Alguns Pensamentos sobre Educação92 (1692/3), que
estabelece critérios para a educação dos filhos das classes
nobiliárquicas de sua época.
Para facilitar a exposição das categorias escolhidas, que
foram destacadas conforme a sua capacidade de fornecer uma
percepção sumária e esquemática da epistemologia e da
pedagogia arquitetadas por Locke, aqui faremos algumas
subdivisões, apostando, igualmente, que isso propiciará um
vislumbrar mais claro e distinto do ideário utilizado pelo
pensador britânico para compor o seu legado intelectual.
DA CATEGORIA EPISTEMOLÓGICA EXPERIÊNCIA
Entendendo-se por categorias epistemológicas os
elementos que fundamentam o pensamento acerca de questões
sobre o conhecimento. A epistemologia que se encontra em
Locke permite enquadrar tais elementos na corrente filosófica
conhecida como ‘empirismo’93 que, sumariamente, defende a
tese de que a origem, o fundamento, a extensão, as condições
de possibilidade e de validade do conhecimento estão
determinados a partir da experiência. Consequentemente, o
empirismo refuta todo e qualquer tipo de conhecimento que
não tenha a experiência como sua pedra de toque, ou seja, sua
base. Sendo assim, a categoria experiência é a primeira que
Denominada, doravante, Pensamentos.
A palavra ‘Empirismo’ deriva da palavra grega
(empeiria ou empiria),
que significa ‘experiência’. Estabelecendo o primado da experiência, “o empirismo é a
afirmação de que o conhecimento humano está confinado dentro das fronteiras da
experiência e que para lá destas fronteiras o que existe são unicamente problemas
insolúveis ou sonhos arbitrários” (ABBAGNANO e VISALBERGHI, 1981, p. 418).
Trata-se, pois, de um movimento filosófico que tem entre as suas finalidades
emancipar epistemologicamente o ser humano, isto é, dar-lhe inteira, total, completa e
plena autoridade e responsabilidade sobre as questões que dizem respeito ao
conhecimento.
92
93
146
deve ser abordada, à guisa de explicitação da epistemologia
lockeana.
De acordo com a seguinte citação, extraída do Ensaio,
tem-se o que Locke entende por experiência:
Suponhamos então que a mente seja, como se diz, um papel
em branco, vazio de todos os caracteres, sem quaisquer ideias.
Como chega a recebê-las? De onde obtém esta prodigiosa
abundância de ideias, que a activa e ilimitada fantasia do
homem nele pintou, com uma variedade quase infinita? De
onde tira todos os materiais da razão e do conhecimento? A
isto respondo com uma só palavra: da EXPERIÊNCIA. Aí está
o fundamento de todo o nosso conhecimento; em última
instância daí deriva todo ele. São as observações que fazemos
sobre os objectos exteriores e sensíveis ou sobre as operações
internas da nossa mente, de que nos apercebemos e sobre as
quais nós próprios reflectimos, que fornecem à nossa mente a
matéria de todos os seus pensamentos. Estas são as duas
fontes de conhecimento, de onde brotam todas as ideias que
temos ou podemos naturalmente ter (LOCKE, 2005, p. 106107, grifos do autor).
Experiência é, segundo tal perspectiva, tanto a
observação do contato feito entre os sentidos e os objetos
externos à mente (observação tal que pode ser resumidamente
denominada ‘sensação’ ou ‘experiência externa’) quanto a
observação que a mente faz das suas próprias atividades a
partir dos dados fornecidos pela sensação (observação que,
por seu turno, pode ser sumariamente reconhecida como
‘reflexão’ ou ‘experiência interna’).
A educação, pensada a partir de tal ótica, não será outra
coisa senão uma atividade por meio da qual se colocará o
indivíduo em condições de realizar, por si próprio, mas não
sem orientação, suas experiências, razão pela qual a experiência
constitui, portanto, uma categoria imprescindível não somente
para se compreender o que Locke pensa acerca do
conhecimento, mas também para se apropriar do seu
pensamento pedagógico, haja vista que ela tem primazia no
147
processo educativo, pelo fato de que a sua ausência
simplesmente inviabilizaria a existência da atividade
pedagógica, porquanto a educação está orientada para o
conhecimento que, por sua vez, não será possível, conforme o
empirismo, se não houver o concurso da experiência.
DA CATEGORIA EPISTEMOLÓGICA MENTE
Em se tratando da categoria mente, Locke elabora uma
concepção sobre ela de maneira extensiva. Ele se serve de
algumas metáforas para defini-la, dentre as quais a mais
conhecida é a da tabula rasa94. As outras metáforas das quais
se tem notícia são: a) a folha de papel em branco; b) o quarto
escuro; e c) o armário vedado contra a luz, com pequenas
aberturas, pelas quais imagens das coisas visíveis no exterior
podem entrar. Conforme testemunha Yolton,
a expressão tabula rasa [távola vazia] aparece nos primeiros
Ensaios sobre a lei da natureza, de Locke, onde diz que os
“recém-nascidos são simplesmente rasae tabulae [távolas
vazias]” (p. 137). Também usou a frase no Rascunho B do
Ensaio: “Parecendo-me provável, pois, que não existe noção,
ideia ou conhecimento de qualquer coisa originalmente na
alma, mas que no início ela é perfeitamente rasa tabula,
inteiramente vazia, mas capaz de receber aquelas noções ou
ideias que são os objetos apropriados do nosso entendimento”
(Drafts, org. Nidditch e Rogers, § 12, p. 128). No próprio
Ensaio, inicia o seu programa de aquisição de ideias dizendo:
Suponhamos, pois, que a mente é, como dissemos, uma folha
de papel em branco, desprovida de todos os caracteres, sem
quaisquer ideias (2.1.2). Uma outra passagem refere-se à mente
94 Távola rasa, ou seja, mesa vazia. Tal metáfora não é originalmente lockeana, já que
pertence ao jargão filosófico desde Aristóteles (384-322 a.C.), que, provavelmente,
empregou-a, pela primeira vez, na história do pensamento filosófico ocidental. O
sentido de tal metáfora é afirmar que a mente é, em princípio, uma instância
desprovida de todo e qualquer conteúdo, razão pela qual não se lhe deve imputar
como inato o que quer que seja, a não ser, obviamente, as suas faculdades ou
capacidades, que são as suas formas, porém, não os seus conteúdos, adquiridos, pois,
somente pelas duas vias supracitadas, a saber: a sensação e a reflexão.
148
como um quarto escuro: “sensação e reflexão”, diz ele, são “as
janelas pelas quais a luz é introduzida nesse quarto escuro. Pois
parece-me que o entendimento [isto é, uma das principais
operações da mente] não difere muito de um armário
totalmente vedado contra a luz, com apenas algumas
pequenas aberturas que permitem a entrada de imagens
visíveis externas, ou ideias de coisas existentes do lado de fora”
(YOLTON, 1996, p. 271-272).
Por tais metáforas, conclui-se que Locke tinha como
escopo fazer entender que a mente não é, em sua origem,
dotada de elementos inatos, afirmação fundamental em sua
argumentação contra o ‘inatismo’, sobretudo o de matriz
cartesiana95. Ao atacar dessa forma o racionalismo, o antiinatismo defendido por Locke constitui, sob a perspectiva
dialética adotada nesta pesquisa, uma antítese que procurava
abalar até aos últimos fundamentos a tese racionalista,
apresentando argumentos que advogam a veracidade dessa
antítese empirista. Os três primeiros capítulos do Ensaio são
destinados a destruir a tese de que existem princípios inatos,
sejam eles teóricos ou práticos. Os argumentos apresentados
para tal vão no sentido de que é possível, apenas pelo simples
emprego das faculdades mentais do ser humano, que lhe são
naturais, chegar ao conhecimento da verdade sem a
intermediação de ideias inatas, motivo pelo qual não há
necessidade de, tampouco razoabilidade em, admiti-las, sendo
até mesmo um absurdo fazê-lo. A seguinte citação exemplifica
como Locke refuta os argumentos dos racionalistas:
De facto, nem as crianças nem os idiotas têm delas o menor
conhecimento. E tanto bastará para destruir o consenso
universal exigido pelas verdades inatas. Efectivamente,
95 O inatismo (também conhecido como racionalismo) cartesiano leva tal epíteto por
causa de seu fundador, René Descartes (1596-1650), cujo nome, em latim, é Renatus
Cartesius. De acordo com ele, a mente é dotada de três tipos de ideias, a saber: ideias
inatas, ideias adventícias e ideias fictícias: “Mas dessas ideias umas me parecem
inatas, outras adventícias, outras feitas por mim” (DESCARTES, 1993, p. 13-14).
149
afigura-se-me quase uma contradição dizer que há verdades
impressas na alma que podem não ser conhecidas: imprimir,
neste caso, se significa alguma coisa, significa precisamente
tornar conhecido; pois a impressão, no espírito, de verdades
que o espírito ignore, dificilmente terá algum sentido. E assim,
se as crianças e os idiotas têm alma (ou espírito), com os tais
princípios nela impressos terão forçosamente de se aperceber
deles, e de conhecer e aceitar, necessariamente, a sua verdade.
Ora, como tal não acontece, é evidente que não existem
impressões desse gênero (LOCKE, 2005, p. 33, grifo do autor).
Outra observação tecida por Locke no que se refere ao
argumento racionalista ainda em questão é aquela que, se tal
argumento fosse válido, então nada de novo se aprenderia, o
que Locke nega, pois “algo de que éramos ignorantes se
aprende de facto” (LOCKE, 2005, p. 45). Desse modo, Locke
defende que a mente procede gradualmente, partindo da
percepção das ideias, bem como de seus nomes, até chegar às
conexões que estabelecem entre si. Exemplificando sua
argumentação, Locke novamente recorre ao comportamento
da mente da criança, cujo raciocínio procede de elementos
mais simples e particulares para, posteriormente, chegar a
questões mais complexas e gerais:
Assim, por exemplo, uma criança rapidamente concordará
com que “uma maçã não é o fogo”, depois de ter aprendido no
convívio familiar as distintas ideias dessas duas diferentes
coisas, e de ter aprendido também que as palavras maçã e fogo
servem para designar; mas só muito mais tarde, por certo, a
mesma criança verá a verdade da seguinte afirmação: “É
impossível que a mesma coisa seja e não seja”. E isso porque,
sendo embora as suas palavras igualmente fáceis de aprender,
já o mesmo se não passa com o seu significado, mais amplo e
abstracto do que aquelas coisas sensíveis de que a criança teve
experiência directa muito antes de aprender o seu exacto
sentido; na verdade, a aquisição dessas ideias gerais requer
muito mais tempo. E até que tal se verifique, será debalde que
tentaremos fazer compreender a uma criança qualquer
proposição formada com ideias desse género; todavia, à
medida que as for apreendendo, e que apreender os seus
150
nomes, logo dará o seu assentimento tão facilmente a essas
proposições como às anteriores; e tanto a umas como a outras,
pelo mesmo motivo: por verificar que as ideias que tinha na
cabeça concordam ou discordam, consoante as palavras que as
designam são afirmadas ou negadas umas das outras
(LOCKE, 2005, p. 46, grifos do autor).
Depois de empenhar-se em discorrer acerca da sua
repugnância em admitir princípios especulativos inatos, Locke
dedicar-se-á, em sequência, a argumentar contra a existência
de princípios inatos práticos (ou morais). Ele não negou a
evidência, tampouco a validade, dos princípios teóricos,
apesar de negar-lhes o inatismo; em relação às máximas
(princípios) morais, verificar-se-á que o procedimento adotado
será o mesmo, haja vista que, assim como para com os
princípios teoréticos, “as máximas morais requerem a
aplicação do entendimento para poder descobrir-se a certeza
das verdades que encerram” (LOCKE, 2005, p. 53).
DA CATEGORIA EPISTEMOLÓGICA ENTENDIMENTO
O entendimento é, segundo Locke, a principal faculdade
mental, uma vez que ele é responsável pela elevação do
gênero humano em relação aos demais seres terrenos, motivo
pelo qual dedica o seu Ensaio à tarefa de investigar essa
capacidade mental, com o intuito de desvelar o seu poder, o
seu alicerce, o seu limite e a sua extensão. Assim se expressa
na Introdução de sua referida obra:
Uma vez que é o Entendimento que eleva o homem acima dos
outros seres sensíveis, lhe dá as vantagens de que goza e lhe
permite o domínio que sobre eles tem – certamente que o seu
estudo é merecedor de todo o interesse e digno da maior
aplicação. O entendimento, tal como os olhos, embora nos
permita ver e compreender todas as coisas, não se apercebe a
si próprio; e é preciso muita arte e esforço para colocá-lo à
distância que lhe permita constituir-se um objecto para si
151
mesmo. Mas, quaisquer que sejam as dificuldades que barrem
o caminho desta investigação, e haja o que houver capaz de
nos ocultar teimosamente a nós próprios, estou certo de que
toda a luz com que pudermos iluminar os nossos próprios
espíritos, todo o conhecimento que obtivermos sobre o nosso
próprio entendimento, nos dará a maior alegria e nos
permitirá ainda grandes progressos no conhecimento das
restantes coisas (LOCKE, 2005, p. 21, grifo do autor).
Sendo o entendimento a faculdade mais nobre do ser
humano (pela qual o mesmo conduz-se a si próprio), é preciso,
portanto, discipliná-lo para que faça jus a tal atributo, a fim de
que conduza as demais faculdades mentais corretamente,
levando o indivíduo à senda da virtude, uma vez que, quando
mal orientado, o entendimento produz o danoso efeito de uma
conduta imprópria para o ser humano, qual seja, um
comportamento repleto de vícios. Assim, a proposta
pedagógica lockeana consiste em fazer com que o
entendimento humano seja educado de forma a buscar o
conhecimento para a virtude, sem a qual o homem não se
tornaria senhor de si mesmo. Logo no começo de sua obra
intitulada Sobre a Conduta do Entendimento, Locke não poupa
esforços no sentido de argumentar acerca da supremacia que o
entendimento exerce sobre a vontade humana que, por mais
rebelde que seja, acaba seguindo-o em última instância,
motivo pelo qual a educação do entendimento requer tanto
cuidado:
O último recurso ao qual um homem tem a recorrer na
conduta de si mesmo é seu entendimento, o qual nós
distinguimos entre as faculdades da mente e damos o
supremo comando da vontade como o de um agente, embora
a verdade seja que o homem que é o agente determina a si
mesmo para esta ou aquela ação voluntária sobre algum
conhecimento precedente, ou aparência de conhecimento, no
entendimento. Nenhum homem nunca se posicionou sobre
qualquer coisa exceto sobre alguma visão ou outra coisa que
lhe servisse de razão para aquilo que faz; e quaisquer
152
faculdades que ele empregue, o entendimento, com tal luz que
tenha, bem ou mal informado, constantemente lidera; e
através daquela luz, verdadeira ou falsa, todos seus poderes
operativos são dirigidos. A própria vontade, por mais
absoluta e incontrolável no que quer que possa ser pensado,
nunca falha em sua obediência aos ditados do entendimento.
Os templos têm as suas imagens sacras, e nós vemos que
influência elas sempre têm tido sobre uma grande parte da
humanidade. Mas em verdade as ideias e imagens nas mentes
dos homens são os poderes invisíveis que constantemente os
governam, aos quais eles todos universalmente tributam uma
pronta submissão. É, portanto, da mais alta preocupação que
grande cuidado deveria ser tomado acerca do entendimento,
para conduzi-lo correto na busca do conhecimento e nos
julgamentos que ele faça (LOCKE, 1996, p. 167, tradução
nossa).
DA CATEGORIA EPISTEMOLÓGICA RAZÃO
Ao tratar da categoria razão, Locke incumbe-se de
precisar os diferentes significados que tal palavra possui.
Devido, pois, à polissemia de tal vocábulo, o filósofo inglês
esmera-se em dar-lhe um significado mais exato, a fim de, com
isso, conferir maior inteligibilidade a seus escritos. No
Capítulo XVII do IV Livro do seu Ensaio, assim se expressa:
A palavra razão tem diferentes significados na língua inglesa.
Às vezes, aplica-se a princípios verdadeiros e claros; outras
vezes, a deduções claras e justas desses princípios; e outras,
aplica-se à causa, e particularmente à causa final. Mas
considerá-la-ei aqui com um significado diferente de todos
estes, e esse significa a faculdade do homem pela qual se supõe que
ele se distingue dos animais e os ultrapassa em muito (LOCKE,
2005, p. 929, grifos nossos).
Através do supracitado significado dado à palavra
‘razão’, nota-se que Locke não a distingue rigorosamente
daquilo que concebe como ‘entendimento’, motivo pelo qual
podem ser tratados, sob a sua perspectiva, como sinônimos,
153
haja vista que ambos (entendimento e razão) são as faculdades
mentais responsáveis pela diferenciação e pela elevação da
natureza humana em relação aos demais seres presentes no
mundo sensível. Todavia, poder-se-ia fazer uma objeção a
Locke no tocante ao fato de que, sendo a razão e o
entendimento sinônimos, que motivo haveria, então, para se
falar de uma e de outro?
Em resposta a tal objeção que lhe pudesse ser feita, esta
citação, extraída do mesmo capítulo ao qual se fez menção no
final do parágrafo anterior, lança luzes no que diz respeito à
necessidade da parte de Locke em explicitar a importância da
atividade racional, uma vez que, através dela, torna-se
possível ao ser humano ter o seu conhecimento ampliado e o
seu assentimento organizado, o que o entendimento sozinho
não conseguiria. Consequentemente, entendimento e razão
seriam, assim, quase sinônimos, uma vez que, embora a ambos
se deva o fato do ser humano ser superior aos demais seres
terrestres, é a razão a faculdade que coroa o entendimento,
conferindo-lhe a magnitude que se lhe tributa e auxiliando as
demais faculdades mentais. A presente citação faz-se útil para
um melhor esclarecimento quanto ao papel desempenhado
pela razão:
Se o conhecimento geral, como se mostrou, consiste numa
percepção de acordo ou desacordo das nossas próprias ideias,
e o conhecimento da existência de todas as coisas fora de nós
(com a única excepção de Deus, cuja existência todo o homem
pode certamente conhecer e demonstrar a si próprio a partir
da sua própria existência96) unicamente se obtém pelos
sentidos – então, que lugar fica para o exercício de qualquer
outra faculdade que não seja a percepção exterior e a percepção
interior? Que necessidade há de razão? Muita: tanto para o
desenvolvimento do nosso conhecimento como para regular o
96 Note-se aqui a aproximação de Locke com Descartes, para o qual a certeza da
existência de Deus pode ser deduzida a partir da certeza da existência que o indivíduo
tem de si mesmo.
154
nosso assentimento, porque tem que ver tanto com o
conhecimento como com a opinião, e é necessária para auxiliar
todas as nossas outras faculdades intelectuais, e na verdade
contém duas delas, a saber: sagacidade e ilação (LOCKE, 2005,
p. 929, grifos do autor).
Além de sua importância em âmbito gnosiológico, Locke
confere à razão a tarefa de tornar o ser humano virtuoso, uma
vez que somente um comportamento racional seria compatível
com uma conduta virtuosa e vice-versa, ou seja, razão e
virtude precisam caminhar pari passu, haja vista que somente
assim o ser humano seria liberto de suas inclinações97, as
quais, via de regra, rebaixam-no à pura animalidade;
consequentemente, pensar aqui a educação significa afirmar
tratar-se de uma atividade cujo encargo supremo é consolidar,
por intermédio de hábitos, a obediência à razão, posto ser isso
a única maneira de estabelecer a virtude, finalidade máxima
de todo o processo educacional e conditio sine qua non para a
emancipação humana do nível da simples bestialidade.
DA CATEGORIA EPISTEMOLÓGICA IDEIA
A ideia é a categoria fundamental da qual Locke utilizase para designar todo e qualquer conteúdo que se encontre na
97 Aqui tomadas como sinônimas de ‘tendências’, tratam-se, segundo Abbagano (que
também admite a sinonímica desses termos), em seu verbete TENDÊNCIA, de “todo
impulso habitual e constante para a ação. Nisso a [tendência] distingue-se do impulso
[...], que é a ação súbita e temporária” (ABBAGNANO, 2003, p. 948, grifo do autor). O
termo ‘inclinação’ é de extrema relevância para o pensamento lockeano,
principalmente em se tratando de compreender a finalidade mais importante da
educação, que é, para Locke, a virtude, que consiste no hábito de ser racional, ainda
que os desejos e inclinações se oponham a tal, conforme se verifica na Seção 33 dos
seus Pensamentos: “Como a resistência do corpo repousa principalmente em ser capaz
de suportar privações, assim também o é em relação à mente. E o grande princípio e
fundação de toda virtude e valor está colocado nisto, que um homem seja capaz de
negar-se a si mesmo os seus próprios desejos, contrariar suas próprias inclinações, e
puramente seguir aquilo que a razão ordena como o melhor, apesar do apetite
inclinar-se para o outro caminho” (LOCKE, 1996, p. 25, grifos do autor; tradução
nossa).
155
mente, ou seja, a ideia é a matéria-prima com a qual a mente
constrói o pensamento; destarte: “Se todo o homem tem por si
mesmo consciência de que pensa e se aquilo a que o seu
espírito se aplica, quando pensa, são as ideias que aí estão, não
há dúvida de que os homens têm no seu espírito várias ideias”
(LOCKE, 2005, p.105, grifo do autor).
Em outra passagem do Ensaio, Locke apresenta uma
concepção mais precisa daquilo que denomina ‘ideia’: “Chamo
ideia a tudo aquilo que a mente percebe em si mesma, tudo o
que é objecto imediato de percepção, de pensamento ou de
entendimento” (LOCKE, 2005, p. 156). Ao investigar a origem
das ideias, sem as quais não pode haver objeto da percepção,
do pensamento ou do entendimento, Locke argumenta que, no
tocante à sua origem, existe, a rigor, uma só fonte que origina
as ideias, qual seja: a experiência; esta, por sua vez, bifurca-se
em: sensação (experiência externa) e reflexão (experiência
interna)98.
DA CATEGORIA EPISTEMOLÓGICA CONHECIMENTO
Depois de ser passada em revista a categoria ideia, tornase momento oportuno discorrer acerca da categoria
conhecimento, porquanto se trata de uma das peças mais
importantes para se montar o curioso quebra-cabeça que
constitui o pensamento filosófico e pedagógico lockeano;
afinal, todos e quaisquer esforços envidados por Locke em seu
Ensaio convergem para um só fim: tratar da problemática do
conhecimento (que, por sua vez, conflui para a problemática
educacional). Assim sendo, faz-se necessário apresentar a
definição saída da pena do próprio filósofo sobre o que ele
entende por conhecimento:
“Estas duas fontes, isto é, as coisas externas materiais, como objectos de
SENSAÇÃO, e as operações internas da nossa mente, como objectos da REFLEXÃO,
são, para mim, os únicos princípios de onde todas as nossas ideias originariamente
procedem” (LOCKE, 2005, p. 108, grifos do autor).
98
156
Parece-me que o conhecimento não é outra coisa senão a
percepção da conexão e do acordo, ou do desacordo e da oposição em
quaisquer das nossas ideias. É só nisto que ele consiste. Onde
esta percepção estiver, há conhecimento, e onde não estiver,
nós não poderemos chegar ao conhecimento, embora
possamos imaginar, conjecturar ou acreditar (LOCKE, 2005, p.
719, grifos do autor).
Conforme essa passagem, Locke, além de distinguir o
conhecimento da imaginação, da conjectura e da crença,
define-o principiando pela categoria percepção, a qual já foi
abordada pelo presente estudo; em seguida, o filósofo recorre
a outros quatro termos (conexão ou acordo, desacordo ou
oposição), tratando os dois primeiros como sinônimos entre si,
bem como os dois últimos. Apesar de não se preocupar em
defini-los, ele, por um lado, trata de explicitar de quais tipos
podem ser, ocupando-se, por outro lado, de definir tal
tipologia, constituindo-os, assim, em categorias do seu
pensamento.
Além de sugerir a sua própria definição de
conhecimento, Locke também se empenha em examinar outras
acepções desse termo. Assim, antes de expor os graus de
conhecimento defendidos por ele, eis que o mesmo se dedica a
explanar sobre outras formas pelas quais o conhecimento é
concebido; são elas: conhecimento atual e conhecimento habitual.
Conhecimento atual é a categoria pela qual Locke designa “a
percepção presente que o espírito tem do acordo ou do
desacordo de algumas das suas ideias ou da relação que elas
têm umas com as outras” (LOCKE, 2005, p. 725), isto é, trata-se
do conhecimento que consiste na percepção que a mente tem
em um dado momento atual ou presente de sua atividade. Em
relação ao conhecimento habitual, tem-se que tal categoria
expressa, segundo Locke, aquele conhecimento que ocorre
quando
157
um homem conhece uma proposição quando esta proposição
esteve uma vez presente no seu espírito e ele percebeu
evidentemente o acordo ou o desacordo das ideias de que ela
é composta e a fixou de tal maneira na sua memória que,
todas as vezes que volte a reflectir sobre esta proposição, e a
vê-la sempre sob o seu verdadeiro ponto de vista, sem dúvida,
nem hesitação, lhe dá o seu assentimento, e está seguro da
verdade que ela contém. É o que se pode chamar, segundo a
minha opinião, conhecimento habitual (LOCKE, 2005, p. 725,
grifos do autor).
Assim sendo, nota-se que o conhecimento habitual é o
conhecimento que consiste no registro que a mente faz através
da memorização da percepção, ou seja, é o conhecimento que é
franqueado à mente através da sua faculdade mnemônica, o
que leva à conclusão de que, sem a memória, não seria
possível falar em tal acepção de conhecimento.
Prosseguindo em sua tarefa de discorrer acerca do
conhecimento, Locke expõe que o mesmo possui três graus,
que são por ele designados pelas seguintes categorias:
conhecimento intuitivo (ou, simplesmente, intuição), conhecimento
demonstrativo (ou, simplesmente, demonstração) e conhecimento
sensitivo.
Em se tratando do conhecimento intuitivo, tem-se a
declarar que tal grau de conhecimento ocorre, conforme
Locke, nas seguintes circunstâncias:
Se reflectirmos sobre a nossa maneira de pensar, veremos que
algumas vezes o espírito se apercebe do acordo ou desacordo
de duas ideias imediatamente por elas próprias sem a intervenção
de uma outra, o que, eu penso, se pode chamar conhecimento
intuitivo (LOCKE, 2005, p. 729, grifos do autor).
Em se considerando o conhecimento demonstrativo,
percebe-se que se trata do grau de conhecimento no qual a
mente percebe mediatamente a conexão ou a desconexão entre
duas ou mais ideias, ou seja, em se percebendo o acordo ou o
desacordo entre duas ou mais ideias, há o intermédio de uma
158
ideia ou até mesmo mais de uma. Tal grau de conhecimento
ocorre devido à insuficiência da mente em sempre perceber o
acordo ou o desacordo entre as suas ideias de forma imediata.
Assim sendo,
quando o espírito não pode juntar as suas ideias para perceber
o seu acordo ou desacordo, por meio de uma imediata
comparação, e por assim dizer justapondo-as ou aplicando-as
umas às outras, é então obrigado a servir-se da intervenção de
outras ideias (uma ou mais, conforme o caso) para descobrir o
acordo ou o desacordo que procura; e isto é o que chamamos
demonstração (LOCKE, 2005, p. 730-731, grifos do autor).
Considerando-se o conhecimento sensitivo, tem-se que se
trata de uma categoria que expressa o grau de conhecimento
que consiste na percepção da existência particular de objetos
externos, percepção essa que se encontra entre a certeza
imediata da intuição e a probabilidade mediata da
demonstração, sendo, pois, diferente de ambas. Ao se referir
ao conhecimento sensitivo, Locke fá-lo nos seguintes termos:
Na realidade, o espírito tem ainda da existência particular dos
seres finitos fora de nós uma outra percepção, que indo para
além da simples probabilidade, mas não atingindo
perfeitamente nenhum dos precedentes graus de certeza,
passa sob o nome de conhecimento. [...] É por isso que, julgo eu,
podemos acrescentar às duas espécies anteriores de
conhecimento também a que diz respeito à existência de
objectos particulares exteriores, em virtude desta percepção e
conhecimento que temos da entrada das ideias que nos vêm
destes objectos, e, assim, podemos admitir estes três graus de
conhecimento, a saber: o intuitivo, o demonstrativo e o sensitivo,
em cada um dos quais há diferentes graus e meios de
evidência e de certeza (LOCKE, 2005, p. 738-739, grifos do
autor).
À luz dessa citação, verifica-se que, no que tange ao fato
de estar mais próximo da certeza (estado em que a percepção
torna-se conhecimento indubitável) e da evidência (estado em
159
que a percepção torna-se conhecimento claro e distinto), o
conhecimento sensitivo encontra-se entre o conhecimento
intuitivo e o conhecimento demonstrativo, pois sendo o
conhecimento sensitivo, por um lado, inferior à intuição (pelo
fato de não possuir os mesmos níveis de certeza e de evidência
que ela), é, por outro lado, superior à demonstração
(considerando-se que se encontra em um patamar no qual a
sua certeza e a sua evidência são superiores àquelas que se
fazem presentes na demonstração).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste capítulo, apontamos algumas das mais relevantes
categorias epistemológicas do pensamento de John Locke,
selecionadas com o intuito de prover uma concepção
panorâmica e introdutória em relação ao pensamento deste
egrégio filósofo empirista que, por sua vez, apresenta ideias
acerca da educação iluminadas por suas ideias acerca do
conhecimento.
Em suma, ao discorrer sobre a experiência, a mente, o
entendimento, a razão e a ideia, Locke elabora a sua concepção
de conhecimento de maneira a estabelecer uma hierarquia
entre os seus três modos, de acordo com o seu grau de certeza
mais ou menos imediata, hierarquia essa que poderia ser
expressa nestes termos: no supremo patamar, a intuição, cuja
certeza é incontestável, por ser imediatamente evidente; no
patamar intermediário, o conhecimento sensitivo, cuja
característica é ser mais incerto que a intuição e menos
duvidoso que a demonstração, não sendo mais tão imediato
quanto a intuição, nem carecendo de tantas provas quanto a
demonstração; no ínfimo patamar, a demonstração, cuja
certeza é a menos imediata em relação aos demais (intuição e
conhecimento sensitivo), já que se trata do tipo de
conhecimento que mais necessita de provas, dele fazendo o
tipo de conhecimento que não é imediatamente evidente.
160
Por ser um dos principais teóricos do empirismo
britânico, Locke advoga em todo o processo de construção do
conhecimento o primado da experiência, porquanto sem ela
não há ideias e, sem elas, não há conteúdos mentais, o que, ipso
facto, paralisa toda e qualquer atividade mental e, portanto,
todo o conhecimento. Por este motivo e em decorrência de tal
perspectiva, é impossível conceber a educação prescindindo
da experiência, por tratar-se de uma atividade por meio da
qual o corpo e a mente do ser humano devem ser
disciplinados para conhecer e agir, nunca se perdendo de
vista, é claro, a virtude, elemento indispensável para a
formação do ser humano, o qual é materializado por Locke em
seus escritos sobre educação na figura do gentil-homem, cuja
nobreza de caráter e de conduta apenas terá a virtude por
prova inconteste. Assim, a superioridade humana só poderá
ser garantida ou legitimada se houver um comportamento
racional o bastante para demonstrar a sua capacidade de
superar os obstáculos impostos por suas inclinações
animalescas, ou seja, em Locke, pode-se admitir que, em se
tratando de educação: Nulla salus ex virtute99!
REFERÊNCIAS
ABBAGNANO, N. e VISALBERGHI, A. História da Pedagogia. Lisboa:
Livros Horizonte, 1981.
ABBAGNANO, N. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
DESCARTES, R. Meditationes De Prima Philosophia: Meditatio Tertia.
Campinas: IFCH-UNICAMP: 1993.
LOCKE, J. Some Thoughts Concerning Education and Of the Conduct of
the Understanding. Indianapolis, Indiana, USA: Hackett Publishing
Company, Inc, 1996.
99
Fora da virtude não há salvação.
161
_______. Ensaio sobre o Entendimento Humano. Lisboa: Fundação
Calouste-Gulbenkian, 2005. 2 vols.
YOLTON, J. W. Dicionário Locke. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1996.
162
Capítulo 9
KANT E A TAREFA DA EDUCAÇÃO
Vera Cristina de Andrade Bueno
I – INTRODUÇÃO
Embora não seja um dos fatos mais discutidos pelos
comentadores de sua filosofia, Immanuel Kant (1724-1804) foi
um filósofo que, ao longo de sua vida, ocupou-se, ora de
forma mais explícita ora de forma menos explícita, com
questões e temas ligados à educação. Em geral, ele é mais
lembrado por sua preocupação inicial com questões ligadas à
ciência e à metafísica, o que o levou à elaboração de suas obras
pré-críticas e críticas. Mas, diferentemente de muitos filósofos
que o antecederam, Kant foi professor durante toda a sua vida
e viveu do ensino que praticava, seja como tutor nas casas das
famílias abastadas (1748-1754), seja como Privatdozent - título
que se dava àqueles que ensinavam nas universidades, mas
cujo ensino era pago diretamente pelos alunos que
frequentavam os cursos e não pela Universidade – seja,
finalmente, como Professor da Universidade de Königsberg, o
que aconteceu a partir de 1770. Além de ter sido professor
durante toda a sua vida, Kant ministrou quatro cursos sobre
pedagogia, o que o levou a tratar explicitamente de temas
ligados à educação. As anotações feitas para esses cursos
foram dadas a T. Rink, seu amigo e ex-aluno, para que ele as
editasse e publicasse, o que foi feito em 1803, um ano antes da
163
morte do filósofo, com o título Über Pedagogik100. Kant ainda
escreveu outros textos nos quais explicita suas posições a
respeito da educação. Num deles, em que apresenta sua
proposta para seus cursos de inverno de 1765 e 1766, faz uma
crítica da educação dada aos jovens101; em outros dois,
publicados em 1766 e 1767, refere-se, elogiando, à educação
dada no Instituto Philantropinium102. Em suas obras críticas de
filosofia prática, aborda temas que vão influenciar
profundamente sua concepção de educação: o de liberdade e o
de autonomia103.
Segundo Foley Rhys Davids, o fato de a educação ter
tido um destaque especial no ensino universitário na época de
Kant, razão pela qual foram introduzidos na universidade os
cursos de pedagogia, se deve à atenção crescente dada à
questão dos direitos humanos e à crença no valor do indivíduo
e da criança, temas que ganharam força no final do século
XVIII. No que concerne aos direitos da criança, é incontestável
a influência de Rousseau. Este chamou a atenção para a
Über Pedagogik. In: Kant´s gesammelte Schriften, Königlich Preussichen Akademie der
Wissenschaften, Berlin-Leipzig, 1923, Ak, 9: 441-499. As letras Ak indicam o volume e
a página da edição da Academia de Ciências de Berlim. Em português, Sobre a
pedagogia. Tradução para a língua portuguesa de Franscisco Cock Fontanella.
Piracicaba: Editora UNIMEP, 2006. Daqui em diante, SP.
101 Nachricht von der Einrichtung seiner Vorlesungen in dem Winterhalbenjahre von 17651766. Ak, 2:306-307. Há uma tradução desse texto para a língua inglesa com o título
“M. Immanuel Kant´s announcement of the programme of his lectures for de winter
semester 1765-1766”. In: Theoretical Philosophy. Cambridge: Cambridege University
Press, 1992, p. 291-2.
102 “Essays regarding the Philanthropinum”. In: Anthropology, History and Education.
Cambridge: Cambridge University Press, 2007, p. 98-104; Ak, 2:447-452. O Instituto
Philantropinium, fundado por Johann Bernhard Basedow, em 1774, em Dessau, tem
uma concepção educacional fortemente influenciada por Rousseau.
103 Dentre essas obras, as mais fundamentais são: a Fundamentação da metafísica dos
costumes, tradução de Guido Antônio de Almeida. Edição bilíngüe. São Paulo:
Discurso editorial e Editora Barcarolla Ltda, 2009, daqui em diante, FMC; Crítica da
razão prática, tradução de Valério Rohden. Edição bilíngüe. São Paulo: Martins Fontes,
2003, daqui em diante, CRPr; Crítica da faculdade do juízo, tradução de Valério Rohden.
Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1993, daqui em diante, CFJ; A Metafísica dos
costumes, tradução de Edson Bini, São Paulo: Edipro, 2003.
100
164
necessidade de se levar em conta o que a criança é em si
mesma enquanto criança, deixando provisoriamente de lado o
homem no qual ela vai se tornar. Mesmo que não se possa
negar que a criança seja um ser em constante mudança, ela
tem seu modo próprio de ser, diferente daquele do adulto. Na
formação da criança, valores antigos como o individualismo,
os privilégios, as convenções tinham de ser ultrapassados para
que a sua natureza racional e supra-sensível pudesse ser
resgatada. Esse resgate é possível em função das disposições
naturais do ser racional, que trazem consigo o sentido moral
que precisa ser incentivado pelo exemplo e pela educação104.
II – A INFLUÊNCIA DE ROUSSEAU NA FILOSOFIA PRÁTICA
KANTIANA
E
A
IMPORTÂNCIA
DESSA
FILOSOFIA
PARA
A
EDUCAÇÃO
A leitura das obras de Rousseau foi de suma importância
para a formação da filosofia prática kantiana e é nessa filosofia
que Kant vai buscar os fundamentos determinantes para sua
concepção de educação105. No entanto, se, no que concerne à
filosofia prática, Kant procede de uma forma inteiramente a
priori, ou seja, levando em conta o que vale universal e
necessariamente
para
todos
os
seres
racionais,
104 Ver: Kant and Education. Source: Introduction to Kant on Education (Ueber
Pedagogik), trans. Annete Churton, introduction by C.A. Foley Rhys Davids (Boston:
DC. Heath and Co., 1900).
105 A respeito da influência recebida de Rousseau, Kant diz o seguinte: “Sou um
investigador por inclinação. Tenho uma sede insaciável (consuming) de conhecimento
[...]. Houve um tempo em que acreditei que isso constituía a honra da humanidade e
desprezava as pessoas que não sabiam nada. Rousseau me corrigiu nisso. Esse
preconceito ao qual estava preso desapareceu. Aprendi a honrar a humanidade e eu
me acharia mais inútil dos trabalhadores comuns, se não acreditasse que essa minha
atitude pode dar valor a todas as outras ao estabelecer os direitos da humanidade”
(Ak, 20:44, apud Allen Wood, “General introduction” in: Practical Philosophy.
Cambridge: Cambridge University Press, 1996, p.xvii). Kant refletiu intensamente
sobre a moralidade por volta da metade dos anos sessenta, do século XVIII, época em
que leu Sobre o contrato social e o Emílio.
165
independentemente da situação de cada um deles, no que
concerne à sua preocupação com a educação, e na aplicação a
ela do que é válido universal e necessariamente, Kant vai
proceder empiricamente. Nessa ótica, Kant vê a educação
consistindo no aperfeiçoamento da raça humana. A educação,
para Kant, tem de levar em conta o aperfeiçoamento da
espécie com todas as suas subespécies, a saber, todas as raças e
não apenas o indivíduo em seu contexto mais restrito. “O
destino final da raça humana é o aperfeiçoamento moral [...]
Como, então, poderemos lutar por esse aperfeiçoamento e de
onde ele pode ser esperado? De nenhuma outra parte a não ser
da educação”106.
Mas, o que entende Kant por “raça” e por
“aperfeiçoamento moral”? O conceito de raça, como dito acima,
tem a ver com o de espécie humana; por sua vez, Kant
conceitua a espécie humana como aquilo que no ser humano é
infalivelmente hereditário: “As propriedades que pertencem
essencialmente à espécie humana em si mesma, e que são
comuns a todos os seres humanos, são, na verdade, enquanto
tais infalivelmente hereditárias”107. Os conceitos de raça e de
espécie humana trazem consigo o conceito de alguma coisa
que é submetida a uma regularidade, a saber, a uma lei. Se,
para Kant, o conceito de natureza implica uma submissão à lei,
o conceito de natureza humana pode ser visto, nesse caso,
como sendo análogo, do ponto de vista filosófico, aos de raça e
de espécie humana108.
O conceito de aperfeiçoamento moral, ou de moralidade,
tem a ver com a razão humana e, em especial, com a razão que
106 Moralphilosophie Collins, Ak, 27:470-1, apud Robert Louden, Anthropology, History
and Education. Cambridge: Cambridge University Press, 2007, p. 15.
107 “Determination of the concept of human race”. In: Anthropology History and
Education. Cambridge: Cambridge University Press, 2007, p. 153-154; Ak, 8: 99-100.
108 O conceito de raça e de espécie, como contendo aquilo que é invariavelmente
hereditário, tem uma conotação empírica, mas está relacionado àquele de natureza,
que tem uma conotação mais filosófica. Na FMC Kant afirma que “toda coisa na
natureza atua segundo leis” (p. 183; Ak, B36; 4:412).
166
se relaciona imediatamente com a vontade, a razão prática.
Esse conceito, segundo Kant, leva-nos a pressupor a ideia de
liberdade109. A ideia de liberdade foi sendo paulatinamente
formada; ela é decorrente da filosofia crítica kantiana, que
investiga a possibilidade de certos conceitos e ideias. Em sua
filosofia crítica, Kant justifica a possibilidade de pensarmos a
liberdade sem o risco de contradição em relação ao
determinismo da natureza física, pois ela é uma ideia que
pertence ao domínio do pensamento, que concerne ao suprasensível110. Não há na modernidade, segundo Kant, uma
concepção de moralidade que tome a liberdade como uma
ideia, isto é, como um tipo de representação que possibilita ao
ser humano determinar suas escolhas em função da lei da
razão111, e que faça, por sua vez, dessa mesma lei uma
máxima112 para sua vida independentemente de outras
influências que ele possa sofrer113.
A razão, tomada de um modo geral, é a faculdade pela
qual o ser humano procura princípios e conceitos suficientes
para justificar a possibilidade de certos fatos. Do ponto de
109 Kant estabelece a distinção entre conceito e ideia da seguinte maneira: conceito é
uma representação universal por meio da qual podemos pensar as coisas e também
conhecê-las. A ideia é uma representação por meio da qual podemos apenas pensar
certas coisas, mas não podemos conhecê-las. Para haver conhecimento de um objeto é
preciso que tenhamos experiência sensível desse objeto. A ideia é um conceito cujo
objeto representado não pode ser encontrado na experiência. Nesse sentido, não
podemos encontrar a liberdade na experiência. A respeito da distinção entre conceito
e ideia, ver de I. Kant, Prolegômenos, §40. Tradução para a língua portuguesa de Tânia
Maria Bernkopf. São Paulo: Coleção Os pensadores. Editora Abril Cultural, 1974. Ak,
4:328.
110 Crítica da razão pura, tradução de Manuela Pinto dos Santos e Alexandre Fradique
Morujão. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1994, A532/B560. As letras A e B
referem-se, respectivamente, à primeira e a segunda edição da obra. Daqui em diante,
a referência à obra será feita com as iniciais CRP, seguidas das letras A e B.
111 CRPr, p. 331; A, 168; Ak, 5:94.
112 Segundo Bittner, “máximas são regras de vida: elas expressam que tipo de ser
humano quero ser [...]. Elas contêm o sentido de minha vida; [...] Nesse sentido, como
regra de vida, está sua procurada universalidade (Allgemeinheit). [...] [A máxima é o]
princípio determinante de uma vida”. “Máximas”. In: Studia kantiana 5 (2003):14-15.
113 CRPr, p. 97-103; A, 51-54; Ak, 5: 29-30.
167
vista meramente lógico, a razão é a faculdade por meio da
qual, de proposições mais gerais, inferimos proposições menos
gerais, ou que, inversamente, das menos gerais, buscamos
aquelas mais gerais. Do ponto de vista prático, ou seja, do
ponto de vista da determinação da vontade, ela é a faculdade
dos princípios em função dos quais podemos realizar coisas as
quais, sem esses princípios, não poderiam ser realizadas. Os
princípios da razão pura se manifestam a nós como deveres114.
O dever determinado pela própria razão é a autonomia115.
Nesse sentido, ao afirmar que o fim da educação é o
aperfeiçoamento moral da raça humana, Kant está propondo
que o fim da educação seja ensinar àqueles que pertencem à
raça humana, em especial as crianças e os jovens, a fazerem
uso de sua liberdade e autonomia.
A concepção de razão prática significa uma ampliação
do uso da razão, pois por meio dessa concepção, Kant acabou
se dando conta de que a razão humana não tem apenas uma
função cognitiva, como se costuma admitir. E é justamente a
concepção prática da razão que dá a Kant a possibilidade de
considerar a educação como aperfeiçoamento moral. O papel
final da educação é levar o ser humano a reconhecer o valor de
sua vida como ser racional. O reconhecimento desse valor
contribui para a formação do seu caráter. O caráter do ser
humano é formado não só pelos princípios que ele adota, mas
também pelo propósito que faz para mantê-los. O caráter é,
segundo Kant, “uma consequente maneira de pensar prática
segundo máximas imutáveis”116. Isso quer dizer que o caráter
não concerne apenas à escolha dos princípios, mas também à
FMC, p. 115-119; Ak, 4:397-98.
CRPr, p. 139; A, 72; Ak, 5:42.
116 CRPr, p. 535; A, 271; Ak, 5:152.
114
115
168
proposta de se ater a eles. Ele é um modo consequente de
pensar e de agir117.
Em função dos conceitos de razão prática, de vontade e
de liberdade, o fim almejado para a educação não é o
treinamento mecânico, como muitas vezes acontece, mas a
prática do pensamento. O projeto de educação até então
adotado, segundo Kant, é o da disciplina, da cultura e da
civilização. Para ele, a moralização ainda não faz parte do
projeto educacional vigente. E, no entanto, enquanto não se
levar em conta a prática da moralização, a educação não estará
atendendo à realização dos fins últimos dos homens. Parece
que a educação vigente leva em conta apenas o interesse dos
Estados, pois a “felicidade dos estados cresce na medida da
infelicidade dos homens”. Como os homens poderão ser
felizes se aquilo que têm de mais digno não é levado em
conta? É verdade que a felicidade para os seres racionais
depende em grande parte do cumprimento de leis, mas não se
trata de qualquer lei. As leis dos Estados não são
suficientemente abrangentes para que os homens vislumbrem
sua felicidade apenas pelo cumprimento delas. Não é que elas
não devam ser cumpridas. Mas, além delas, são necessárias
também as condições para que os indivíduos possam seguir a
lei da razão pura, a lei que eles mesmos se dão, por meio de
suas máximas, fundadas na ideia de liberdade. Se essas
condições são suprimidas, se não houver a preocupação com a
ideia de liberdade, eles não poderão nem ao menos almejar a
felicidade, pois o que há de mais valioso no ser humano não
foi levado em conta. Nesse sentido, o processo da educação
não deve priorizar o ser humano como cidadão pertencendo a
um Estado, ou mesmo o indivíduo pertencendo a uma família,
mas sim o ser racional que está acima das distinções de país e
de família. Kant entende que a tarefa da educação é ajudar o
Kant se refere ao modo de pensar consequente no §40 da Crítica da faculdade do juízo.
Tradução de Valério Rohden. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1993, p. 140-141;
B, 158; Ak, 5:294.
117
169
ser humano a se tornar não apenas um cidadão (Burger), mas
também, e principalmente, um cidadão do mundo
(Weltburger). Ele parece adotar, em relação à educação, uma
posição análoga a que adota em relação à filosofia: a
valorização de uma concepção cósmica de educação, assim
como valoriza a concepção cósmica de filosofia118.
III – O PAPEL DA HISTÓRIA DA NATUREZA HUMANA E A
EDUCAÇÃO
Porém, o desenvolvimento do ser humano não é visto
apenas como resultante dos progressos provenientes do uso
razão. O desenvolvimento é visto também como resultante do
papel que a natureza desempenha em relação a ele. Se
levarmos em conta o que Kant propõe em seu primeiro ensaio
sobre a história humana, Ideia de uma história universal de um
ponto de vista cosmopolita, publicada em 1784119, veremos o
quanto o progresso da humanidade depende de uma
superação das dificuldades postas pela natureza. Essas
dificuldades são vistas com uma finalidade. É como se, por
meio delas, a natureza contribuísse para o desenvolvimento
do ser humano, pois é pela superação das dificuldades que
encontra que o ser humano se desenvolve e se aperfeiçoa120.
Assim, o desenvolvimento inicial do ser humano no decorrer
118 Lógica. Tradução de Guido Antonio de Almeida. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro,
2003, p. 42. Ak, 16:24; CRP, A838/B866.
119 A palavra Ideia que aparece no título deve ser entendida em seu uso regulativo
(CRP, A644-45/B672-73). Uma ideia em seu uso regulativo não vale para o
conhecimento de objeto algum, mas vale para nos orientar numa maneira de lidar com
certos dados. Nesse texto, Kant não está atribuindo valor cognitivo ao seu conteúdo,
mas apenas oferecendo um modo possível de se lidar com a história da humanidade
de um ponto de vista filosófico. Cf. Lewis White Beck, Kant Selections. New York:
Macmillan Publishing Company, 1988, p. 413.
120 Essa concepção de uma natureza que contribui para o desenvolvimento da espécie
humana, ou seja, a concepção teleológica da natureza, é tratada também,
especialmente, no §83 da “Metodologia da faculdade do juízo teleológico”, da Crítica
da faculdade do juízo, p. 270-274; B, 388-395; Ak, 5:430-434.
170
da história não é o resultado de uma deliberação intencional,
mas sim o resultado de uma natureza que o estimula a
desenvolver suas potencialidades até que ele se dê conta do
poder que tem, poder que é inteiramente diferente daquele da
natureza121.
A “Quarta proposição” da Ideia tem como enunciado:
“O homem quer a concórdia, mas a natureza sabe mais o que é
melhor para a espécie: ela quer a discórdia”122. É só a partir da
decisão do indivíduo de enfrentar e superar os antagonismos
da natureza, e, em especial, os da própria natureza humana,
que ele vai conseguir progredir em sua espécie.
Pelo fato de pertencer à natureza e pela necessidade de
superar essa mesma natureza, o ser humano precisa de outro
ser humano. Isso porque ele é dependente da natureza na qual
está inserido e a qual lhe impõe obstáculos, mas ele também é
dependente de outros seres humanos, não apenas enquanto
seres naturais, mas enquanto seres que já superaram algumas
dificuldades e já estão num grau de racionalidade mais
desenvolvido. Sem outros seres de sua espécie, o ser humano
não sobreviveria nos primeiros anos de sua vida.
Os animais, logo que começam a sentir alguma força, usam-na
com regularidade, isto é, de tal maneira que não prejudicam a
si mesmos. [...] Mas o homem tem necessidade da própria
razão. Não tem instinto e precisa formar por si mesmo o
projeto de sua própria conduta. Entretanto, por ele não ter a
capacidade imediata de o realizar, [...] outros devem fazê-lo
por ele123.
A proposta kantiana para a educação tem, portanto,
como pano de fundo uma concepção segundo a qual a
Os textos em que Kant trata do conceito do sublime vão nessa direção. Ver
especialmente o §28 da CFJ, p.106, B102; Ak, 5:260.
122 Ideia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita. Tradução de Rodrigo
Neves e Ricardo Terra. São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 9.
123 Sobre a pedagogia, p.11; Ak, 9:441.
121
171
natureza desempenha inicialmente um papel preponderante
na vida humana, não só como natureza física, mas também
como natureza especificamente humana, a qual traz em germe
todo o potencial que a razão humana representa. A natureza
física é trazida à baila por conta de um modelo de
interpretação kantiano da história, segundo o qual a natureza
tem como fim o aperfeiçoamento do ser humano. Mas, para
que a natureza atinja seu fim, outros seres humanos, em
função do desenvolvimento que conseguiram atingir,
precisam ser atuantes.
Nesse sentido, Kant chama a atenção para a ideia de que,
para cada etapa do desenvolvimento humano, além da
natureza física, está envolvida também toda a espécie humana.
Ou seja, o grau de aperfeiçoamento que o ser humano atingiu
não é apenas o resultado de seu progresso e empenho pessoal,
mas daquele de toda raça humana.
De fato, os conhecimentos dependem da educação e esta, por
sua vez, depende daqueles. Por isso a educação não poderia
dar um passo à frente a não ser pouco a pouco, e somente
pode surgir um conceito da arte de educar na medida em que
cada geração transmite suas experiências e seus
conhecimentos à geração que lhe segue124.
IV. AS PRÁTICAS A SEREM DESENVOLVIDAS NA EDUCAÇÃO
Segundo Kant, se podemos pensar na educação como
uma arte, seu procedimento teria de se orientar por quatro
práticas que nada mais fariam do que desabrochar
gradativamente “os germens que residem no ser humano”: a
da disciplina, a da cultura, a da civilidade e a da moralidade. No
entanto, ainda que essa divisão esteja presente em Sobre a
pedagogia, ela não é mantida com muito rigor no decorrer do
texto. O que foi tratado como pertencendo a uma prática é
124
SP, p. 20; Ak, 9:446.
172
retomado como pertencendo também à outra. Podemos dizer,
levando em conta a preocupação principal de Kant, que nessa
obra a divisão principal é estabelecida entre educação física e
educação moral. Isso quer dizer que certos aspectos da cultura
e mesmo da civilização acabam fazendo parte da educação
física e deixando para a prática da moral aquilo que tem a ver
mais
diretamente
com
o
desenvolvimento
da
autodeterminação e da formação do caráter da criança. Assim,
as três primeiras práticas caem sob a rubrica da educação física
e vão levar em conta os elementos corporais, intelectuais e
emocionais da criança. A passagem de uma prática para a
outra tem a ver com a passagem de uma atitude mais
receptiva para uma mais ativa e autônoma.
A prática da disciplina leva em conta principalmente a
natureza animal do ser humano. Segundo Kant, a educação
deve impedir que o que há nele de animal não o prejudique
quando criança tanto em sua vida individual quanto em sua
vida social. Para isso, no entanto, “seria melhor usar poucos
instrumentos e deixar que as crianças aprendam muitas coisas
por si mesmas; dessa forma aprenderiam mais
eficazmente”125. Aqui, já estaria presente, ainda de forma
embrionária nesse primeiro estágio da educação, a ideia de
liberdade. Na medida em que se pressupõe livre, é possível
para o educador estabelecer uma relação com a criança em que
ela perceba seus limites, sem que com isso se sinta oprimida.
“É preciso, diz Kant, sobretudo cuidar para que a disciplina
não trate as crianças como escravos, mas sim que faça que elas
sintam sempre a sua liberdade, mas de modo a não ofender a
dos demais: daí que devam encontrar resistência”126. Ou seja,
há de se pôr limites à vontade da criança, mas esse limite deve
vir de uma forma que faça sentido para ela e que venha da
forma mais natural possível: o limite de sua liberdade está no
125
126
SP, p.46; Ak, 9:462.
SP, p.50; Ak, 9:464.
173
respeito à liberdade dos demais. Esse limite é algo que ela tem
de sentir como uma resistência à sua vontade.
A prática da cultura é aquela na qual o ser humano não é
visto principalmente em função de sua natureza animal, mas
sim em função de sua natureza humana. Aqui, Kant insiste,
mais uma vez, para que se preste atenção à natureza e ao que
ela pode oferecer em favor do ser humano. Por meio da
educação física, a criança é levada a se exercitar por si mesma
para que tenha força, habilidade, rapidez e segurança, o que,
por sua vez, a ajudará a lidar com situações da natureza que
lhe são desfavoráveis. No desenvolvimento físico, os jogos
desempenham um papel fundamental, pois eles “além de
desenvolver a habilidade, provocam exercício dos sentidos;
por exemplo, o exercício da visão, ao julgar com exatidão a
distância, a grandeza e a proporção, ao descobrir posições dos
lugares do céu com a ajuda do Sol, e assim por diante”127. Os
jogos também mostram para a criança um pouco da vida em
sociedade, pois, por meio deles é possível o exercício de não se
ser inoportuno para com os outros e nem tampouco tirar
vantagem deles. É preciso, por parte dos adultos, “não
prejudicá-la em nada, não inspirar noções de comportamento
que servirão apenas para torná-la acanhada e tímida, ou que,
ao contrário, lhe sugiram o desejo de se fazer prevalecer”128.
A prática da civilidade promove habilidades que
possibilitam ao ser humano atingir os fins que ele quer para si.
Kant dá como exemplo de habilidade o saber ler e escrever, ter
condições de praticar alguma arte, como tocar algum
instrumento. A prática da civilidade forma mais diretamente o
indivíduo para a vida em sociedade. O indivíduo deve ser
querido e influente em sua vida social. Isso requer dele o
hábito da gentileza e da prudência.
127
128
SP, p.55-56; Ak, 9:467.
SP, p. 58; Ak, 9:469.
174
O último estágio da prática educacional é a da
moralidade. Essa prática tem a ver com as escolhas que o ser
humano faz. Nesse estágio do processo educacional, o foco
não é a habilidade para se alcançar fins, mas a educação para
que o homem possa escolher fins que possam ser considerados
bons. Fins bons, diz Kant, são aqueles “necessariamente
aprovados por todos e podem ser, ao mesmo tempo, os fins de
cada um”129. Um fim aprovado por todos tem de ter origem
naquilo que todos os seres racionais têm em comum: a razão
humana. Um fim bom é um fim determinado pela razão, sem a
influência de nada sensível. Ter a vontade determinada pela
razão pura significa recusar a influência que os sentidos têm
sobre essa mesma vontade, o que gera desprazer. Pela prática
da moralização vai sendo dada à criança a oportunidade para
que ela saiba lidar com o desprazer em vista de um bem
maior. Essa prática possibilita que a criança comece a
reconhecer que o desprazer inicial acaba resultando num
sentimento positivo de auto-satisfação, uma vez que ela agiu
de acordo com um fim bom. Essa prática indica o caminho da
autodeterminação e da autonomia, pois ser autônomo é fazer
da lei da razão a sua máxima. Kant diz o seguinte a respeito
do papel das máximas para o ser humano:
A cultura da moral deve-se fundar sobre máximas, não sobre
a disciplina. Esta impede os defeitos; aquelas formam a
maneira de pensar. É preciso proceder de tal forma que a
criança se acostume a agir segundo máximas e não segundo
certos motivos. A disciplina não gera senão um hábito, que
desaparece com os anos. É necessário que a criança aprenda a
agir segundo certas máximas, cuja equidade ela própria
distinga. Vê-se facilmente ser difícil desenvolver tal coisa nas
crianças, e que por isso a cultura moral requer muitos
conhecimentos por parte dos pais e mestres130.
129
130
SP, p.21; Ak, 9:450.
SP, p. 75; Ak, 9:480.
175
A dificuldade que Kant vê no processo de moralização
reside no fato de que não basta que a criança, o jovem e o
adulto sigam as leis da razão pura. É preciso que eles as sigam
porque escolheram segui-las por elas mesmas e não por
alguma recompensa que possam usufruir ou por alguma
punição que possam sofrer. Embora Kant entenda que, em
certas ocasiões, a criança deva ser punida, quando, por
exemplo, mente, a educação moral consiste em fazer com que
a criança aprenda gradativamente a respeitar a lei pela lei, o
que na verdade representa o respeito pela razão pura. Seguir a
lei gera, naquele que a segue, o sentimento de
autocontentamento, resultante do fato de se ter feito o que
devia ser feito. Esse sentimento, no entanto, não pode ser visto
como algo análogo à felicidade, pois ele tem de acompanhar
necessariamente a consciência da virtude131.
Assim, toda prática da moralização envolve a adoção de
máximas que determinam o que queremos ser. A adoção de
uma máxima pressupõe que o ser humano seja capaz de
pensar por si mesmo e decidir o que ele quer fazer de si.
Talvez possamos dizer que a educação consiste na passagem
da inteira dependência de um ser humano, a criança, em
relação a outro ser humano, o adulto, até a sua independência
em relação a esse. Daí Kant ter como o objetivo da educação o
incentivo à prática da autonomia e da autodeterminação.
V – A TÍTULO DE CONCLUSÃO
Pelo tratamento que dá às questões levantadas pelos
pensadores da modernidade; pelo fato de ter sido professor
durante toda a sua vida; e, especialmente, pelos conceitos que
formou no decorrer de sua filosofia crítica, conceitos de razão,
de natureza humana, de história, de progresso, e
especialmente, aqueles de liberdade e de autonomia, que
131
CRPr, p. 417; A,211; Ak, 5:117. Virtude para Kant é seguir a lei da razão.
176
possibilitam que a razão humana seja considerada de uma
forma ampliada, Kant foi um filósofo que contribuiu para o
reconhecimento do valor e da dignidade que os homens
podem alcançar por serem racionais. Esses valores, por tudo
aquilo que trazem consigo, dizem respeito à educação humana
e ao fim mais importante que ela visa atingir: a formação do
caráter e a prática da virtude.
REFERÊNCIAS
BITTNER, R. “Máximas”. Studia Kantiana 5 (2003):17-25.
FOLEY RHYS DAVIDS, C.A. Kant and Education. Source: Introduction to
Kant on Education (Ueber Pedagogik), trans. Annete Churton, (Boston: DC.
Heath and Co., 1900).
KANT, I. “M. Immanuel Kant´s announcement of the programme of his
lectures for de winter semester 1765-1766”. In Theoretical Philosophy.
Cambridge: Cambridge University Press, 1992
_______. “Essays regarding the Philanthropinum” (1776). In Anthropology,
History and Education. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
_______. Crítica da razão pura (A1781; B1787). Tradução de Manuela Pinto
dos Santos e Alexandre Fradique Morujão. Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian, 1994.
_______. Prolegômenos (1783). Tradução de Tânia Maria Bernkopf.
Paulo: Coleção Os pensadores. Editora Abril Cultural, 1974. AA, 4:328.
São
_______. Ideia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita
(1784). Tradução de Rodrigo Neves e Ricardo Terra. São Paulo: Martins
Fontes, 2004.
_______. Fundamentação da metafísica dos costumes (1785). Tradução de
Guido Antônio de Almeida. São Paulo: Discurso Editorial e Editora
Barcarolla Ltda, 2009.
177
_______. “Determination of the concept of human race” (1785). In
Anthropology History and Education. Cambridge: Cambridge University
Press, 2007, p. 153-154; 8: 99-100.
_______. Crítica da razão prática (1788). Tradução de Valério Rohden. São
Paulo: Martins Fontes, 2003.
_______. Crítica da faculdade do juízo (1790). Tradução de Valério Rohden.
Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1993.
_______. Metafísica dos costumes (1797), tradução de Edson Bini, São Paulo:
Edipro, 2003.
_______. Lógica. Tradução de Guido Antonio de Almeida. Rio de Janeiro:
Tempo Brasileiro, 2003.
_______. Sobre a pedagogia (1803). Tradução para a língua portuguesa de
Franscisco Cock Fontanella. Piracicaba: Editora UNIMEP, 2006.
LOUDEN, R. Anthropology, History
Cambridge University Press, 2007.
WHITE BECK, L.
Company, 1988.
and
Education.
Cambridge:
Kant Selections. New York: Macmillan Publishing
WOOD, A. “General introduction” in: Practical Philosophy. Cambridge:
Cambridge University Press, 1996.
178
Capítulo 10
ROUSSEAU: A EDUCAÇÃO DOS SENTIMENTOS
E DAS VIRTUDES
Ericson Falabretti
Para formar um homem raro o que devemos fazer?
Muito sem dúvida: impedir que nada seja feito.
Rousseau
Rousseau abre o Emílio reafirmando um princípio da sua
filosofia sobre a relação entre cultura e natureza: “Tudo é certo
em saindo das mãos do Autor das coisas, tudo degenera nas
mãos do homem” (1992, p. 9). Degenerar, como a sequência do
texto indica, significa mudar, transformar, desfigurar, moldar
e, também podemos dizer, educar. Todavia, a educação, como
a saída do estado de natureza em direção ao estado social, se
impõe ao indivíduo e à espécie como uma das consequências
de uma cadeia de relações historicamente estabelecidas: “... e o
gênero humano, se não mudasse de vida, pereceria”
(ROUSSEAU, 1978a, p. 31). No Discurso sobre a Desigualdade e
no Contrato Social, a degeneração está antecipada nas próprias
coisas e é colocada em curso pela associação entre os
obstáculos à manutenção da vida e a capacidade própria da
natureza humana em realizar progressos psicológicos e morais
como reposta a esses obstáculos. No entanto, isso não significa
dizer que a sociedade já estava presente no estado de natureza
ou, mesmo, que no comportamento do homem natural já
encontramos hábitos e disposições típicas do homem social;
179
mas, tão somente, enuncia a ideia de que a natureza carrega
em si a possibilidade de uma condição não natural.
Como na obra política, a educação pública e doméstica,
nascida das mãos dos homens, é necessária para a
continuidade da vida, pois a criança não educada –
abandonada somente aos ensinamentos espontâneos da
natureza – jamais chegaria a ser um homem:
Nascemos fracos, precisamos de força, nascemos desprovidos
de tudo, temos necessidade de assistência, nascemos
estúpidos precisamos de juízo. Tudo o que não temos ao
nascer e de que precisamos adultos, é-nos dado pela educação
(ROUSSEAU, 1992, p. 10).
Educar esse ser fraco e incompleto, na perspectiva de
Rousseau, pode significar preservar e, ao mesmo tempo,
transformar. A diferença entre a boa e a má educação, entre a
boa e a má política, está na combinação desses dois princípios,
na intervenção, seja coletiva ou individual, que coloca em
curso um processo ambíguo com finalidades antitéticas:
mudar para conservar ou para desfigurar. Mas conservar
exatamente o quê? Mudar para qual direção? Na perspectiva
rousseauniana, não apenas a vida, mas certo estilo ou
princípio de vida precisa ser conservado e orientado para o
seu fim.
Para suprir a necessidade de continuidade de vida não é
preciso transformar o homem retirando-o do seu curso
natural. Seja na política ou na educação, tudo deve começar
pela compreensão da natureza e pelo entendimento do
homem: “Nosso verdadeiro estudo é o da condição humana”
(ROUSSEAU, 1992, p. 16). O pacto social deve garantir os
direitos naturais – liberdade e igualdade – e a educação deve
permitir que a criança passe à condição de homem, realizando
as virtudes que estão previamente dadas na sua natureza.
Desse modo, Rousseau, no Emílio, retoma o sentido de
perfectibilidade como abertura e potência, conceito chave da
180
antropologia e da teoria da história construída no Discurso
sobre a Desigualdade. O estudo da antropologia deve guiar a
educação e a política, pois é fundamental conhecer os homens
para educá-los e para determinar os seus direitos. No Segundo
Discurso, Rousseau estabeleceu que no homem, somente no
homem, podemos encontrar a liberdade e a perfectibilidade,
marcas essenciais da natureza humana. Diferente dos animais,
o homem pode se desviar do caminho traçado pela natureza
ou pelo hábito, responder livremente, por exemplo, diante de
uma situação qualquer e escolher um comportamento inédito
e inesperado. Enquanto o animal age por instinto, o homem
age por vontade, pode aprender com o meio e modificar o seu
comportamento, desviando-se do caminho traçado pela
natureza. Essa potência inventiva e adaptativa, exclusiva da
natureza humana, é o que em Rousseau podemos denominar
perfectibilidade: “É a faculdade que, com o auxílio das
circunstâncias, desenvolve sucessivamente todas as outras e se
encontra em nós, tanto na espécie quanto no indivíduo”
(ROUSSEAU, 1978c, p. 243). Desse modo, para educar um
homem, é preciso conhecer a natureza humana e entender até
onde ele pode progredir sem deixar o seu centro natural, isto
é, mudar de acordo com o que já está previamente dado como
possibilidade, realizar a face virtuosa da sua perfectibilidade.
Assim, a educação proposta por Rousseau não objetiva a
invenção ou a transformação do homem em função de um
modelo social ou metafísico; ao contrário, a boa educação deve
permitir que o homem amadureça – tal como ocorre com as
plantas - conforme a inclinação e as leis da sua própria ordem
genuína. Nesse sentido, é preciso harmonizar o tempo da
educação à lógica da própria natureza: “Observai a natureza e
segui o caminho que ela vos indica” (ROUSSEAU, 1992, p. 22).
No Livro I do Emílio, Rousseau apresenta como deve ser
a educação de uma criança na sua primeira fase da vida, do
nascimento aos dois anos de idade, e estabelece um princípio
para guiar todo o processo de educação pensado para o
181
Emílio132 até a fase adulta: a liberdade. Rousseau quer atacar
os preconceitos, os medos, as superstições e manias colocadas
em prática na educação tradicional: “Trata-se de impedi-la de
morrer que de fazê-la viver” (ROUSSEAU, 1992, p. 16). Com
receio de acidentes e de uma morte prematura - como aquelas
provocadas por quedas – ou incomodados pelo exercício
ingênuo da liberdade infantil, o costume das mães e dos
médicos era enfaixar as crianças como se fossem múmias. Na
perspectiva de Rousseau, estamos diante de uma prática usual
que fornece um importante elemento significativo do sentido
da educação, não apenas para o corpo como, também, para o
espírito: a dependência. Por isso, o maior problema, desde o
início, não está em descobrir os cuidados mais importantes
que devem ser dedicados à criança, para isso basta seguir a
natureza e deixar a criança livre, nesse caso, literalmente solta.
Nessa primeira fase, mais do que as crianças, são os pais, as
amas, os médicos, os preceptores que devem ser vigiados e
combatidos, isto é, educados. A criança é frágil e os cuidados
para garantir a sua vida são aqueles solicitados pelo próprio
corpo. A alimentação, por exemplo, não deve estragar o
paladar, enfraquecer o físico e, por isso mesmo, deve ser a
mais natural possível. Rousseau, falando principalmente para
as mulheres nobres e burguesas, discute como as mulheres
fundam o vínculo inicial com seus filhos, não recusando o
primeiro ato que faz de uma mulher uma verdadeira mãe: a
amamentação. E, nessa mesma direção, totalmente diferente
dos preceitos da época, é a liberdade do corpo, dos
movimentos que deve ser preservada e garantida para que o
desenvolvimento físico e motor não sejam comprometidos:
Toda a nossa sabedoria consiste em preconceitos servis; todos
os nossos usos não são senão sujeição, embaraço e
constrangimento. O homem civil nasce, vive e morre na
Utilizamos a palavra Emílio, em itálico, para designar a obra de Rousseau, e Emílio,
sem itálico, para as referências ao personagem da obra. [Nota do organizador].
132
182
escravidão; ao nascer, envolvem-no em um cueiro; ao morrer,
encerram-no em um caixão; enquanto conserva sua figura
humana está acorrentado às nossas instituições (ROUSSEAU,
1992, p. 17).
Esses preceitos de uma má-educação, antes de serem
descritos no Emílio, encontram a sua expressão política no
Discurso Sobre as Ciências e as Artes. Na sua primeira obra,
Rousseau critica o sistema de educação responsável por
perverter o espírito e enfraquecer o corpo e, o mais
importante, constata que esse processo de corrupção é uma
imposição das relações de poder – hábitos, instituições
políticas e sociais – historicamente estabelecidas. Em nossa
sociedade, a educação, enquanto um fenômeno de cultura,
atende somente à cultura e à sociedade, não ao homem:
“Vossos filhos ignoram a própria língua, mas falarão outras
que em lugar algum se usam: saberão compor versos que
dificilmente compreenderão; sem saber distinguir o erro da
verdade...” (ROUSSEAU, 1978d, p. 347).
No caso do homem social, a educação está intimamente
associada ao processo histórico de relações de dependência e
alienação. Educar, no contexto da história factual descrita no
primeiro Discurso, significa valorativamente conduzir mal,
degenerar para transformar contra a natureza. Semelhante ao
papel desempenhado pelas letras e pelas artes, a educação faz
com que os homens amem a sua condição de escravos. Cria,
para tanto, a uniformidade do gosto, o conformismo estético e
molda a conduta moral no decoro e nas regras de polidez: “Se
a cultura das ciências é prejudicial às qualidades guerreiras,
ainda o é mais às qualidades morais. Já desde os primeiros
anos, uma educação insensata orna nosso espírito e corrompe
nosso julgamento” (ROUSSEAU, 1978d, p. 347). Na avaliação
de Rousseau, essa má condução se realiza integralmente como
um processo de desnaturação, que faz com que os homens
adquiram a condição de civilizados: viver em função da
183
aparência, do reconhecimento público. Portanto, como está
descrito no Discurso sobre as ciências e as artes, a educação assim
como as ciências e as letras, sempre servindo aos interesses do
poder político, suplantam a natureza para instaurar e
conservar os homens obedientes a uma ordem e condição
artificiais: “Temos físicos, geômetras, químicos, astrônomos,
poetas, músicos, pintores; não temos mais cidadãos ou, se nos
restam alguns deles dispersos pelos nossos campos
abandonados, lá perecem indigentes e desprezados”
(ROUSSEAU, 1978d, p. 348).
Como resposta a esse processo de alienação, ao desprezo
pelas virtudes e pelo cidadão, encontramos em Rousseau as
alternativas da obra política e da educação articuladas em
torno de duas perspectivas que já adiantamos: a transformação
e a preservação.
Com o Contrato Social, temos a formação de uma ordem
civil que oferece aos homens a condição de viverem em
sociedade conservando, do ponto de vista do direito político,
as mesmas relações que dispunham no estado de natureza. No
entanto, paradoxalmente, para realizar o pacto social os
homens devem ser desnaturados. Para formar uma sociedade
de homens livres, sob o governo da vontade geral, não servem
nem os selvagens e, muito menos, os homens policiados
acostumados ao gosto da servidão. É fundamental romper
radicalmente com o estado de natureza – transformar as
condições de vida - para que o pacto social possa garantir –
preservar – os direitos naturais. Assim, é a própria condição
do cidadão - autônomo sem ser selvagem - juntamente com os
princípios do direito político, que determinam como deve ser a
educação no interior de um estado legítimo: desnaturar o
homem para preservar os seus direitos.
Aquele que, na ordem civil, deseja conservar a primazia da
natureza, não sabe o que quer. Sempre em contradição
consigo mesmo, hesitando entre as suas inclinações e os seus
184
deveres, nunca será nem homem nem cidadão; não será bom
nem para si nem para outrem. Será um dos homens de nossos
dias, um francês, um inglês, um burguês; não será nada
(ROUSSEAU, 1992, p. 13).
Essa lógica ambígua do pensamento rousseauniano –
transformar para preservar - não parece nada estranha, seja no
interior do Contrato Social ou mesmo como resultado de uma
sociedade corrompida. Nesse último caso, a nossa própria
experiência testemunha os prejuízos à liberdade que resultam
do nosso sistema educacional. Nesse aspecto, como já
indicamos na análise acerca do Discurso sobre as Ciências e as
Artes, a educação forma o homem sempre em função dos
interesses da sociedade politicamente estabelecida: “Tais
foram os antigos persas, nação singular no seio da qual se
apreendia a virtude, como entre nós se aprende a ciência”
(ROUSSEAU, 1978d, p. 338). Na dimensão do Contrato Social,
podemos dizer, a desnaturação é necessária e boa. Já para a
sociedade de fato – constituída historicamente – ela é
instrumento do poder – de dominação – e se caracteriza como
meio de degeneração: “Se nossas ciências são inúteis no objeto
que se propõem, são ainda mais perigosas pelos efeitos que
produzem” (ROUSSEAU, 1978d, p. 343).
Mas, então, podemos nos perguntar: fora do Contrato
Social estamos condenados a uma educação alienante? Na
sociedade forjada historicamente é possível uma boa educação
que respeite a condição essencial do homem, a sua autonomia?
Ainda mais: quando a possibilidade de uma boa educação, no
interior dessa sociedade ilegítima, também deve desnaturar?
De imediato, podemos dizer sim para as duas primeiras
questões. Primeiro, porque não há espaço na sociedade para
que o homem se comporte conforme os seus impulsos
naturais. Isso significaria a ruína do homem e, ainda, do
próprio liame social. Depois, a ordem social supõe um homem
social, não tem sentido lógico pensar em constituir uma
185
sociedade para selvagens ou, ainda, educar um homem para
ser um selvagem. Mas, então, como desnaturar o homem sem
fazê-lo perder a sua autonomia? Esse, sem dúvida alguma, é o
problema fundamental com que a obra Emílio se depara. Como
educar o Emílio para o mundo e, ainda, conservá-lo livre?
O caminho indicado por Rousseau supõe uma opção
pela educação doméstica ou privada. Primeiro, é preciso
considerar que a educação pública, no sentido que
encontramos na República de Platão, somente seria indicada se
ainda pudéssemos contar com cidadãos e com pátria, mas
essas palavras, como diz Rousseau (1992, p. 14), “devem ser
riscadas das línguas modernas”. Depois – retomando a mesma
perspectiva crítica construída no primeiro Discurso – todas as
instituições educacionais abertas ou públicas, sempre
colaborando com o espírito de sociabilidade da modernidade,
“somente servem para fazer homens de duas caras, parecendo
sempre tudo subordinar aos outros e não subordinando nada
senão a si mesmos” (ROUSSEAU,1992, p. 14).
Mas, então, em que consiste essa educação doméstica? E
como, de modo geral, ela pode responder positivamente às
exigências de autonomia e transparência numa sociedade que
recusa essas condições aos seus cidadãos?
O
princípio
geral
da
educação
doméstica,
completamente contrário à direção formativa da educação
pública, está orientado para a conservação da liberdade e da
autonomia natural como modelo do homem a ser formado: “O
homem deve ser educado para si mesmo” (ROUSSEAU, 1992,
p. 23). O que significa isso? Ao enunciar esse princípio – “ser
educado para si mesmo” – Rousseau, nesse caso, não estaria
reproduzindo os valores e as orientações de uma educação
individualista, muito próxima, por exemplo, ao modelo de
educação burguesa? Toda nossa educação aberta –
institucional - está fundada na realização de um projeto de
vida individual, porém sem qualquer fundamento com a nossa
subjetividade, com a realização de um homem autônomo, pois
186
esse projeto está estruturado em um arquétipo exterior, em um
modelo de homem construído pela sociedade. Desde a
infância, somos educados para sermos professores, médicos,
engenheiros, políticos ou, até mesmo, para sermos nada. O
que importa nesse processo massificante é ser capaz de
atender ao chamado pré-determinado dos pais ou da
sociedade e, desse modo, constituir uma carreira, ou, ainda,
realizar um projeto que, em última instância, se sobrepõe à
nossa condição existencial originária e aos nossos verdadeiros
interesses. Ao criticar a educação, Rousseau (nós podemos
generalizar a sua análise) identifica uma crise que se revela
moral. Esse projeto individualista que conduz a educação
significa, entre outras coisas, desaparecimento da virtude e da
vontade originária do sujeito. A opção por essa educação
pública burguesa, individualista e massificante, é a opção pela
não virtude e, além disso, pela supressão de uma vida guiada
pela própria vontade:
Na ordem social onde todos os lugares estão marcados, cada
um deve ser educado para o seu. Se um indivíduo, formado
para o seu, dele sai, para nada mais serve. A educação só é útil
na medida em que a carreira acorde com a vocação dos pais;
em qualquer outro caso ela é nociva ao aluno, nem que seja
apenas em virtude dos preceitos que lhe dá. No Egito, onde o
filho era obrigado a abraçar a profissão do pai, a educação
tinha, pelo menos, um fim certo. Mas entre nós, quando
somente as situações existem e os homens mudam sem cessar
de estado, ninguém sabe se, educando o filho para o seu, não
trabalha contra ele (ROUSSEAU, 1992, p. 15).
No sentido contrário desse processo dominante, ser
educado para si mesmo significa, na perspectiva
rousseauniana da educação doméstica, atender ao chamado da
natureza: apreender a viver, isto é, apreender a guiar a vida
em função daquelas virtudes reconhecidas no homem antes do
processo de corrupção e degeneração suplantá-las. No Emílio,
Rousseau pensa a educação a partir de virtudes
187
complementares e inseparáveis presentes no homem natural:
resignação,
autodeterminação,
transparência
e
reconhecimento. Primeiro, ser virtuosamente instruído –
educado – é verdadeiramente apreender a viver. Nesse
sentido, antes de ser formado para seguir uma determinada
profissão, antes de apreender as virtudes cívicas, Emílio, como
todo aluno, deve conhecer a sua própria natureza – o corpo e o
espírito – e os deveres e sentimentos necessários para se
conservar na condição de homem:
Na ordem natural, sendo os homens todos iguais, sua vocação
comum é o estado de homem (...) Que se destine meu aluno à
carreira militar, à eclesiástica ou à advocacia pouco importa.
Antes da vocação dos pais, a natureza chama-o para a vida
humana. Viver é o ofício que lhe quero ensinar (ROUSSEAU,
1992, p. 15).
Na
perspectiva
da
pedagogia
rousseauniana,
apreendemos a viver quando não saímos do curso na natureza
e, sobretudo, quando elevamos a autodeterminação ao seu
grau mais extremo: a nossa felicidade independe de tudo o
que nos é estranho. É preciso considerar que fora do estado de
natureza ou do contrato social quase não há possibilidade de
autodeterminação, ou somos educados para reproduzir o
mesmo estilo de vida – agradar aos outros – e, nesse caso,
integramos o “rebanho chamado sociedade” ou, ao contrário,
resistimos à corrupção e nos tornamos anômalos em relação
aos homens em sociedade. Aí está o grande problema a ser
enfrentado pelo preceptor do Emílio: como se conservar,
apreender a viver – ser chamado a si mesmo – e, ao mesmo
tempo, viver em sociedade e interagir com os homens? Emílio
viverá numa sociedade real, obedecerá às leis do Estado e,
inevitavelmente, se entregará ao convívio social. Apreender a
aceitar que a vida é dolorosa, triste e solitária é seu primeiro
desafio, é o passo inicial para ser educado como homem e a
viver em si mesmo:
188
O destino do homem é sofrer em qualquer época. O próprio
cuidado da sua conservação está ligado à dor. Felizes os que
só conhecem na infância os males físicos, males bem menos
cruéis, bem menos dolorosos do que os outros e que bem mais
raramente do que eles nos fazem renunciar à vida! Ninguém
se mata com dores de gota; somente as da alma suscitam o
desespero. Temos dó da sorte da infância, mas é da nossa que
deveríamos ter. Nossos maiores males vêm de nós mesmos
(ROUSSEAU, 1992, p. 23).
Depois de ser educado para aprender a sofrer, para
aceitar que mesmo sendo bom dificilmente será feliz, um
desafio ainda maior será saber viver entre os homens sociáveis
sem, contudo, reconhecer-se neles. O Emílio deve ser solidário
e, ao mesmo tempo, independente. Nesse sentido, se ele
precisa ser educado para suportar as agruras da vida, também
deve evitar sucumbir aos maiores vícios que nascem do
próprio sujeito e, de certa forma, não deixam de ter relação
direta com a miserabilidade da vida: o medo da morte e da
dor. Mas quais seriam esses males descendentes diretos da
consciência da morte e do medo da dor? Na perspectiva da
pedagogia rousseauniana, o amor próprio e a indiferença estão
na origem dos vícios e das falsas virtudes sociais e devem o
seu nascimento principalmente às nossas fraquezas e aos
nossos medos. Depois de ensinar ao Emílio que o sofrimento é
inevitável, combater o amor próprio e a indiferença,
sentimentos que formam a alma e o caráter do homem social,
é, sem dúvida alguma, o principal desafio da pedagogia
rousseauniana.
No segundo Discurso e no Ensaio sobre a origem das
línguas, Rousseau concebe, no homem selvagem, dois preceitos
que governam o seu comportamento e que são anteriores à
razão; um referente à autodefesa (que interessa somente à
preservação do indivíduo) e outro definido como piedade.
Com isso, Rousseau tematiza como o comportamento do
189
homem selvagem era imediato, e ao mesmo tempo, com a
definição de piedade (atributo que confere ao homem
selvagem a disponibilidade de agir com violência somente
quando está em jogo a sua sobrevivência), procura refutar
todos aqueles filósofos, como Aristóteles, por exemplo, que
confundiram, na interpretação de Rousseau, o homem
selvagem com o homem social. A sociabilidade para Rousseau,
como já adiantamos no início desse texto, não está de modo
algum inscrita na natureza humana como pensava Aristóteles:
pois se, por um lado, a piedade conduz o homem em direção a
outro semelhante, por outro lado, o sentimento de autodefesa,
para equilibrar, insiste em afastá-lo. A piedade funciona como
uma espécie de paixão reguladora, normatizadora do
sentimento de autodefesa, impedindo, desse modo, que o
homem selvagem seja tomado por uma individualidade sem
limites, guiado unicamente por um sentimento egoísta,
suscetível de cometer atos de violência gratuitos, como no
estado de natureza que Rousseau entendeu ser aquele que
Hobbes defendia em suas obras: “Hobbes pretende que o
homem é naturalmente intrépido e não procura senão atacar e
combater” (ROUSSEAU, 1978c, p. 239). No Ensaio sobre a
origem das línguas, Rousseau nos apresenta a ideia de que um
homem, para realmente entender a natureza dos seus
sentimentos e das paixões que se passam no seu interior,
precisa travar contatos com outros homens. O próprio
desenvolvimento das paixões, da piedade natural, por
exemplo, pressupõe uma relação de proximidade entre os
homens. Não é a piedade natural, descrita no segundo
Discurso e no Ensaio, aquele sentimento que - ao contrário da
piedade característica dos homens civilizados, que consiste em
separá-los - nasce no selvagem de uma relação de identidade
com o seu semelhante? Relação que o impede, sobretudo, de
ser agressivo com outro homem, não por temer vingança,
represálias ou, ainda, por algum imperativo moral que
abomine a violência. Mas, fundamentalmente, a piedade
190
natural conduz esse homem a sair de si, a se colocar no lugar
do outro e, nesse instante, a compreender, em primeiro lugar,
o significado e as consequências da violência para o outro.
Somente, então, depois de se colocar no lugar do outro, depois
de experimentar o sentimento de identidade, o homem natural
era capaz de formar a ideia do que é um ato de agressão em si
mesmo. Nesse sentido, uma das condições essenciais para que
o sujeito possa realmente conhecer os seus estados subjetivos,
formar novas ideias e sentimentos é que ele já tenha observado
e comparado estados semelhantes em outros homens.
Como nos deixamos emocionar pela piedade? Transportandonos para fora de nós mesmos, identificando-nos com o
sofredor. Só sofremos enquanto pensamos que ele sofre; não é
em nós, mas nele que sofremos. Figuremo-nos quanto de
conhecimentos adquiridos supõe tal transposição. Como
poderia eu imaginar males dos quais não formo ideia alguma?
Como poderia sofrer vendo outro sofrer, se nem soubesse que
ele sofre? Se ignoro o que existe de comum entre ele e mim?
Aquele que nunca refletiu, não pode ser clemente, justo, ou
piedoso, nem tampouco mau e vingativo. Quem nada imagina
não sente mais do que a si mesmo: encontra-se só no meio do
gênero humano (ROUSSEAU, 1978b, p. 175).
A piedade natural é, sobretudo, reconhecimento,
transparência, negação da indiferença. No homem natural o
que impera é o equilíbrio entre o amor de si e a visão do outro.
No segundo Discurso, a piedade natural se explica, conforme
as palavras de Rousseau, pela seguinte máxima: “Procure o
teu bem causando o menor mal possível e outrem”
(ROUSSEAU, 1978c, p. 254)
É a experiência da piedade natural que deve ser
preservada pela educação, esse sentimento inato e anterior a
todo ato de reflexão, capaz de espontaneamente produzir no
homem uma aversão de ver sofrer dor ou morte, qualquer
outro ser sensível, sobretudo quando se trata de um
semelhante. Desse modo, no livro IV do Emílio, Rousseau
191
retoma a piedade como sentimento moral que deve reforçar os
laços entre os homens civilizados, verdadeiro antídoto contra
o individualismo e o amor próprio, sentimentos reforçados
pelo projeto individualista da educação pública historicamente
estabelecida:
Em uma palavra, ensinai a vosso aluno a amar todos os
homens, inclusive os que os desdenham; fazei com que ele não
se coloque em nenhuma classe, mas que se encontre em todas;
falai diante dele, e com ternura, do gênero humano, com
piedade até, mas nunca com desprezo. Homem, não desonres
o homem (ROUSSEAU, 1992, p. 253).
A piedade, independente do fundamento no estado
natural, na sociedade depende de uma educação adequada
dos nossos sentimentos, seja através da razão ou da
imaginação. No Emílio, Rousseau quer dar continuidade a esse
sentimento inato, pois a piedade, agora pensada na educação
do homem social, converte-se, primeiro, na consciência de que
o sofrimento domina a vida social e, depois, produz em nós o
sentimento de vergonha da ausência de resposta. Para existir a
piedade, no contexto de fato pensado no Emílio, não se
depende de uma sociedade livre e constituída de homens
transparentes. No Emílio, ela é uma alternativa ao projeto da
vontade geral e constitui o elo natural entre as pessoas que não
realizaram nenhum pacto. É o liame mudo – não dito, não
pactuado – instituído pela própria natureza, agora reforçado
pela educação. É o sentimento que torna possível estabelecer
relações de reconhecimento numa sociedade orientada para a
indiferença. Ao atribuir à piedade essa força de aproximação e
transparência, Rousseau encontra um aspecto novo na política,
agora distinto das operações de direito. No Emílio, a piedade é
o fator mais importante de aliança entre as pessoas, o único
sentimento que torna possíveis as relações cooperativas e
benévolas entre os homens em escala individual e social. Pois
ela permite aos homens encontrar uma base segura para si
192
mesmos na vida: o reconhecimento. Não é, portanto, o direito
e, por consequência, não é o Estado que produz a justiça, mas
um sentimento que deve ser desenvolvido pela educação.
Apesar de ser inata, a piedade, fundamentalmente na
sociedade, não é espontânea, é preciso ser cultivada,
precisamos ser educados para a compaixão. Nesse sentido,
antes de tudo, é preciso discutir como a piedade opera no
homem: combatendo o amor próprio e restaurando o
equilíbrio e, finalmente, aproximando os homens.
Primeiro, a piedade natural não apenas combate os
ímpetos egoístas do amor-próprio, mas garante a continuidade
do equilíbrio pela oposição das paixões: o amor de si e a
piedade. O amor de si é uma paixão primitiva, que nunca deixa
o homem, fonte de todas as outras; visa antes de tudo garantir
a própria conservação; mas inclina-se para o outro; satisfaz-se
quando as necessidades estão saciadas. O amor de si é o
sentimento do querer, a boa intenção é a base desse amor que
não separa o ato de realizar o bem do sentimento de querer o
bem: “O que nos serve, nós o procuramos; mas o que nos quer
servir, nós o amamos. O que nos prejudica nós evitamos; mas
o que nos quer prejudicar nós o odiamos” (ROUSSEAU, 1992,
p. 236). Já o amor próprio, nascido dos nossos vícios, fonte de
conflitos, é integralmente egoísta e está na origem das paixões
“odientas e irascíveis”: a inveja e a necessidade de honra
desmedida. O amor próprio não opera com o reconhecimento,
mas com a comparação; exige sempre do outro preferência e
distinção. O amor próprio é o sentimento da aparência, da
vida social, da honra etc.
Diferente do amor próprio, a piedade está na origem de
todos os sentimentos que aproximam as pessoas. É natural,
por exemplo, que uma pessoa ajudada sinta gratidão por
quem a ajudou. A gratidão, nesse caso, é apreciação, avaliação
e valoração do outro. Quem ajuda, sente compaixão, apreende
que tem valor, assim como aquele que é ajudado:
193
reciprocidade de valoração, o amor de si se realiza na
compaixão pelo outro.
Para manter o equilíbrio entre a piedade e o amor de si é
preciso, através da educação, primeiro na criança, conservar a
sua disposição natural para a piedade: “o primeiro sentimento
de uma criança é amar a si mesma; o segundo é amar aos que
dela se aproximam” (ROUSSEAU, 1992, p. 236). Depois, no
caso do adolescente, é preciso educá-lo para o reconhecimento
do outro, ampliando a sua ideia de sofrimento: “Aos dezesseis
anos o adolescente sabe o que é sofrer [...] mal sabe, porém,
que os outros seres também sofrem” (ROUSSEAU, 1992, p.
248). Portanto, a piedade nasce da consciência da semelhança e
do sofrimento, é a saída de si mesmo; é a identificação com o
outro:
Com efeito, como nos comoveremos até a piedade, senão em
nos transportando para fora de nós mesmos e nos
identificando com o animal sofredor, abandonando, por assim
dizer, nosso ser para pegar o dele? Nós só sofremos na
medida em que julgamos que ele sofre; não em nós é nele que
sofremos (ROUSSEAU, 1992, p. 249).
No Emílio, Rousseau pensa a educação a partir de um
ponto de vista restritivo. É preciso que o progresso do Emílio
se conforme aos limites da espécie e das paixões naturais. Ser
instruído – educado - verdadeiramente é aprender a suportar
os bens e os males desta vida sem se curvar, conservando-se
autônomo. O Emílio é educado fora do Contrato Social,
cercado de pessoas egoístas, dissimuladas e corrompidas nas
suas vontades, ele deve se constituir em um ser moral que, ao
mesmo tempo, preserve a sua autonomia e se permita viver
entre essas mesmas pessoas. Quando pensamos na piedade, o
maior desafio enfrentado pelo Emílio, portanto, num sentido
contrário do cidadão que aderiu ao Contrato Social, é se
conservar e aprender a viver entre os homens como um
cidadão livre e, ao mesmo tempo, realizar o estilo de vida dos
194
homens do seu tempo - casar por exemplo – e participar
politicamente da vida de seu país.
No livro quinto do Emílio, parte final da obra, Rousseau
debate esse problema de maneira muito pontual. Após viajar
por diversas nações, aprender as línguas mais faladas na
Europa, apreciar espetáculos e obras de arte, conhecer
diferentes costumes e sistemas de governo, Emílio responde
ao seu preceptor o que aprenderá, o que fixará dessa etapa
necessária do seu processo de educação. Primeiro, responde
indicando uma espécie de inação política: “Parece-me que
para se tornar livre nada se tem que fazer; basta não deixar de
sê-lo” (ROUSSEAU, 1992, p. 570). Depois, na mesma linha,
manifestando um sentimento de letargia diante dos bens
materiais e do próprio futuro, diz ao seu mestre: “Que farei
com a minha fortuna? [...] Não me atormentarei para retê-la,
mas ficarei firmemente no meu lugar” (ROUSSEAU, 1992, p.
570). Finalmente, decepcionado com o mundo que conheceu
de perto em sua diversidade, Emílio expressa a liberdade
como conformismo, apatia, aceitação diante do próprio
destino: “Que me importa a minha condição na terra? Que me
importa onde esteja?” (ROUSSEAU, 1992, p. 570).
A esse “desinteresse extremado” - novamente é o
problema da indiferença que está em causa - nascido da
decepção com os costumes dos homens e com as sociedades e
governos, Rousseau contrapõe o apelo à consciência das leis
naturais, verdadeiros princípios de ordem e de moral que
“servem de lei positiva para o sábio” (ROUSSEAU, 1992, p.
571). Emílio realmente não encontrou essas leis em nenhuma
forma governo ou sociedade que visitou, pois elas não
dependem de convenções, mas estão, como Rousseau quer
finalmente ensinar ao Emílio, “no coração do homem livre, ele
as carrega por toda parte consigo” (ROUSSEAU, 1992, p. 571).
Um homem virtuoso, que conserva em si mesmo intactos a
paixão da piedade e o sentimento de liberdade, recusa a
inação política e o projeto de uma vida consagrada unicamente
195
aos seus interesses privados. O homem virtuoso é capaz de
reconhecer e encontrar nas leis positivas e nos costumes,
mesmo entre o caos e a injustiça, princípios de justiça e ordem:
“A simples aparência de ordem leva-o a conhecê-la e amá-la
[...] Não é verdade que não tire nenhum proveito das leis, elas
lhe dão a coragem de ser justo entre os maus [...] Não digas
portanto: que me importa onde esteja? Importa estares onde
podes cumprir teus deveres” (ROUSSEAU, 1992, p. 572).
O Emílio e o cidadão do Contrato Social, semelhante ao
selvagem, devem ser auto-suficientes e solitários; devem
cultivar o amor de si e a piedade; devem participar das
assembleias púbicas e, mesmo assim, votar com a própria
consciência, devem reconhecer, amar e reforçar na própria
pátria as virtudes cívicas que se escondem sob o espesso
manto da corrupção e da aparência.
O dilema do Emílio se converteu no drama do próprio
Rousseau. Na sua narrativa autobiográfica dos Devaneios de um
caminhante solitário, é o princípio de educação do Emílio –
piedade e resignação - e a sua condição de vida – a solidão –
que animam o texto da primeira à última página. A resignação
e a piedade – apreender a aceitar os males da vida e a amar a
humanidade – são os sentimentos de um homem livre capaz
de reconhecer a sua natureza, ainda que desfigurada pela
história e pelas convenções:
Teria amado os homens a despeito deles próprios. Cessando
de sê-lo, não puderam senão furtar-se ao meu afeto. Ei-los,
portanto, estranhos, desconhecidos, inexistentes enfim para
mim, visto que o quiseram. Mas eu, afastado de tudo e de
todos, que sou eu mesmo? (ROUSSEAU, 1986, p. 23).
Na busca do autoconhecimento – educação para si
mesmo - é impossível para o sujeito não reconhecer a oposição
de um jogo de forças que moldam o seu comportamento, a sua
disposição moral. A autonomia, nesse caso, não remete mais a
uma unidade, mas ao reconhecimento de uma divisão que
196
opõe a força das normas do instinto moral diante dos
imperativos ditados pela sociabilidade.
O rompimento como a unidade histórica, a tentativa de
resgate da unidade essencial perdida supõe uma nova
pedagogia. A autonomia, no Emílio encontra, enfim, o seu
lugar na educação dos sentimentos, no cultivo do
deslocamento do eu em direção ao outro. Na obra Emílio
Rousseau segue, de certo modo, a estrutura argumentativa do
segundo Discurso. Como o homem natural, o Emílio – o
educando – está fora do tempo, não tem pai, não tem mãe, é o
modelo universal da criança, não representa nenhuma criança
singularmente, representa a criança em essência. Nesse caso, é
a criança antes da corrupção dos costumes e da educação: é
preciso, pois, “considerar nosso aluno o homem abstrato, o
homem exposto a todos os acidentes da vida humana”
(ROUSSEAU, 1992, p. 16).
A educação rousseauniana tem como desafio preparar a
criança para viver em sociedade, cumprir os seus deveres de
cidadão e, ao mesmo tempo, conservar-se livre. Nesse sentido,
o Emílio deve ser educado para ser um sábio, no entanto,
totalmente distinto da forma corrompida do sábio, aquele com
respostas para todas as dúvidas. O Emílio tem mais perguntas
do que respostas, ele é educado com vistas ao autodomínio, à
compreensão do sentido aberto do seu tempo e da vida dos
seus semelhantes. Outro ponto, que explica essa condição de
sábio, é que o Emílio, desde a sua infância, não é visto como
aluno, mas como discípulo da natureza. O Emílio não está
diante de um professor, mas de um mestre que é, como ele
próprio, abstrato e impessoal. O professor trabalha com um
conjunto de conteúdos que precisam ser apreendidos pelo
aluno num determinado tempo. O mestre está sempre voltado
para o próprio discípulo, para a realização de uma essência: no
caso do Emílio, para a formação do homem e do cidadão. A
pedagogia rousseauniana, portanto, enquanto educação dos
sentimentos e das virtudes, procura unir o que a história
197
separou: cultura e natureza. No Emílio, Rousseau aponta para
uma pedagogia que busca o desenvolvimento de um homem
que permanece ligado ao seu centro natural para continuar a
ser, verdadeiramente, um homem.
REFERÊNCIAS
ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social. São Paulo: Abril Cultural,
1978a.
_______. Ensaio sobre a origem das línguas. São Paulo: Abril Cultural,
1978b.
_______. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre
os homens. São Paulo: Abril Cultural, 1978c.
_______. Discurso sobre as ciências e as artes. São Paulo: Abril Cultural,
1978d.
_______. Considerações sobre o governo da Polônia e sua reforma
projetada. São Paulo: Brasiliense, 1982.
_______. Os Devaneios de um caminhante solitário. Brasília: Editora da
Universidade de Brasília, 1986.
_______. Emílio ou da Educação. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1992.
_______. Carta a D’Alembert. Campinas: Editora da UNICAMP, 1993.
_______. Júlia ou a nova Heloísa. Campinas: Editoras da Universidade de
Brasília e da Unicamp, 1994.
198
Capítulo 11
HEGEL, HISTÓRIA DA FILOSOFIA E EDUCAÇÃO
Luiz Fernando Barrére Martin
Desde a publicação de suas primeiras obras, Hegel já
demonstra preocupação com o papel da história da filosofia
para a filosofia. A solução hegeliana para a relação da filosofia
com sua história trará como consequência um certo modo de
considerar o estudo da história da filosofia e, além disso, seu
ensino. Dessa perspectiva, surgem questões como a seguinte:
de que maneira se deve ler um filósofo? Qual a relevância
efetiva da história da filosofia para a filosofia? O estudo da
história da filosofia consistiria numa abdicação da própria
filosofia? Teria apenas um caráter de erudição o conhecimento
e o estudo da história da filosofia?
Questões como essas podem ser feitas quando
pretendemos debater a respeito do papel da história da
filosofia para a filosofia e, além disso, que espécie de ensino da
filosofia podemos esperar a partir dessa relação. Hegel pode
ser considerado talvez o primeiro filósofo a explicitamente se
referir a esse relacionamento da filosofia com sua história de
maneira positiva. Dessa maneira, o passado da filosofia
começa, segundo Hegel, a ter relevância para a filosofia.
O que buscamos tão somente neste estudo é voltarmos
os olhos para o ensaio de Hegel no qual aparece pela primeira
vez essa temática. Trata-se de sua primeira publicação, a saber,
o escrito Diferença entre o sistema da filosofia de Fichte e de
199
Schelling (HEGEL, 1968). Nele já se desenha de modo bastante
nítido essa exigência de relevância da história da filosofia para
a filosofia. Mas, antes de efetivamente se dedicar a expor essa
relação entre a filosofia e sua história, Hegel primeiro procura
criticar duas maneiras de compreensão desse relacionamento
existentes em sua época. Assim, o filósofo desenvolve uma
crítica ao que ele denomina de visão histórica dos sistemas
filosóficos a partir de uma dupla divisão dessa forma de
abordagem da história da filosofia.
Num primeiro momento, Hegel criticará uma forma
geral de visão histórica. Segundo o que preconiza essa visão, a
história da filosofia consistiria numa mera doxografia, ou seja,
numa história das opiniões filosóficas aparecidas no decorrer
da história. Já o segundo momento da crítica é dirigido a uma
concepção histórica que parte de uma representação da
filosofia como uma espécie de ofício (Handwerkskunst) que se
aperfeiçoa com o passar do tempo (HEGEL, 1968, p. 10).
Poderia então ser incorporada à filosofia a noção de progresso.
Com referência à visão propriamente histórica das
filosofias, é característico da mesma o distanciamento que ela
toma em relação aos sistemas filosóficos, na medida em que
por eles se interessa apenas como um conhecimento sem
importância. Ela não estabelece nenhum vínculo com os
sistemas. É como se apenas tomasse ciência de que eles
existem e isso fosse suficiente. Existem os sistemas A, B, C, D
etc. Desta perspectiva, nenhum pode ser mais interessante do
que o outro. A rigor, é indiferente para a vista histórica
interessar-se por este ou por aquele sistema. À maneira de
uma erudição vazia, ela cuida apenas de acrescentar à sua
coleção este sistema, aquele sistema, mais aquele outro, de
acordo com o ritmo descompassado de sua curiosidade. A
visão histórica, portanto, não passa de um acumular de
conhecimentos mumificados. Nas palavras de Hegel, trata-se
de uma “curiosidade que coleciona conhecimentos” (HEGEL,
1968, p. 9). E no caso da filosofia, um conhecimento de pouco
200
valor, uma mera opinião: “ela [a visão histórica] não pode
estabelecer outra forma de relacionamento com os sistemas
filosóficos do que a seguinte: que eles são opiniões; e tais
acidentes, como opiniões, não podem nada contra ela”133. Um
conhecimento, não uma ciência (Wissenschaft), esse é o destino
da filosofia segundo a visão histórica.
É somente numa época em que a potência da vida cada
vez mais se enfraquece que a enfastiada visão histórica pode
surgir. E não há como não pensar num fenecer da vida quando
se lê a descrição hegeliana da atitude histórica. A todo
momento se associa a mesma à ideia de morte. Veja-se este
trecho: “Uma época que tem atrás de si jazendo como um
passado (morto) uma tal quantidade de sistemas filosóficos,
parece dever chegar àquela indiferença, que a vida chega, após
ter se experimentado em toda sorte de formas” (HEGEL, 1968,
p. 9). Em primeiro lugar, é significativo que Hegel utilize o
verbo liegen para se referir aos sistemas filosóficos
considerados segundo a perspectiva de uma época que adotou
a visão histórica a respeito dos mesmos: esse verbo (liegen)
pode ter o sentido de jazer, e jazer significa estar morto, o que
bem casa com a ideia que Hegel quer exprimir no trecho
supracitado. No contexto em questão, no qual se pretende
mostrar que a vida está no antípoda do que preconiza a visão
histórica, ter o verbo liegen o sentido há pouco indicado,
ressalta essa ideia de que os sistemas filosóficos do passado
são apenas objetos de curiosidade a respeito de algo que não
tem mais importância, que está morto134. Ao contrário, e é isso
Nas suas considerações sobre a noção de história da filosofia, diz Hegel a respeito
da opinião: “O que nós podemos em primeiro lugar considerar como consequência
daquilo que precede, é que em história da filosofia nós não lidamos com opiniões. Na
vida comum, é verdade, temos opiniões, isto é, ideias a respeito das coisas exteriores;
um pensa isso, o outro pensa aquilo. Mas o trabalho do espírito do universo é mais
sério; lá se encontra a universalidade. Trata-se aqui das determinações gerais do
espírito; não é questão aqui de opiniões referentes a isso ou aquilo” (HEGEL, 1990, p.
145).
134 Ainda contra a visão histórica, veja-se o seguinte comentário de Hegel: “Aquilo que
é histórico, a saber, do passado, não é mais, está morto. A tendência histórica abstrata,
133
201
que Hegel quer afirmar em contraponto à atitude histórica, “o
espírito vivo, que habita numa filosofia, requer, para se
revelar, ser gerado por um espírito de mesma família
(verwandt)” (HEGEL, 1968, p. 9). Uma filosofia não é um
conhecimento morto, objeto de uma curiosidade indiferente,
pois, como acabamos de ver, ela é dotada de vida, e para que
haja o reconhecimento daquilo que existe de vivo nela, é
preciso assumir uma outra atitude – da qual somente é capaz
um espírito que reconhece o espírito vivo de uma filosofia – no
que concerne ao relacionamento a ser estabelecido com essa
filosofia.
No que respeita ao segundo momento da crítica à visão
histórica, Hegel se dirige fundamentalmente a Reinhold.
Vejamos, agora, por que a concepção filosófica de Reinhold
pode ser considerada uma forma de atitude histórica.
Segundo a exposição hegeliana, trata-se na filosofia (de
Reinhold) de um desenvolvimento contínuo da mesma
mediante o surgimento, a cada vez, de um novo sistema
filosófico que, com maior abrangência, prolonga a tarefa que
os anteriores sistemas começaram. Cada sistema é uma visão
particular que busca realizar a tarefa que os anteriores não
conseguiram. O êxito da nova visão particular na sua tarefa de
“penetração na realidade do conhecimento humano” (HEGEL,
1968, p. 10) está vinculado ao estudo das tentativas (Versuche)
anteriores, talvez para ver o que pode ser aproveitado e o que
não pode, e onde acertaram de modo que se evite o
que se ocupa de objetos inanimados, expandiu-se bastante nos últimos tempos. É um
coração defunto que encontra sua satisfação no ocupar-se daquilo que está morto, de
cadáveres. O espírito vivo diz: deixai os mortos enterrar seus mortos e me siga (cf.
Mateus 8,22). Os pensamentos, as verdades, os conhecimentos que eu possuo somente
segundo a forma histórica, estão fora do meu espírito, quer dizer, mortos para mim;
meu pensamento, meu espírito não estão aí presentes, minha consciência daí está
ausente. A posse de conhecimentos puramente históricos assemelha-se à possessão
jurídica de coisas, das quais eu não sei o que fazer”. Ou ainda: “Todavia, quando uma
época trata tudo historicamente, ocupando-se sempre de um mundo que não existe
mais, vagando por entre tumbas, o espírito renuncia à sua vida própria, que consiste
em pensar a si” (HEGEL, 1990, p. 156 e p. 156-7).
202
cometimento dos mesmos erros, permitindo-se que seja
possível de outro modo realizar a tarefa da filosofia. Cada
novo sistema que busca completar a tarefa não realizada pelo
anterior seria como um acréscimo, que vem a se justapor ao
que já possuímos. O novo sistema continua o anterior na
tentativa de concluir a tarefa almejada. Diferentemente da
primeira espécie de visão histórica, existe aqui um interesse
pelas filosofias do passado, e que não se configura numa mera
curiosidade despretensiosa com relação ao que de vivo ainda
poderia haver numa filosofia qualquer. Todavia, esse
interesse, que se traduz num conhecimento das filosofias
passadas, vai somente até certo limite. Segundo Hegel, a
concepção de filosofia que funda tal espécie de ponto de vista
a respeito da filosofia e da história da filosofia é a de que a
filosofia seria uma forma de ofício que se aperfeiçoa mediante
a descoberta de novas técnicas (HEGEL, 1968, p. 10). O termo
desse processo de aperfeiçoamento seria então a invenção da
técnica que realize de uma vez por todas a tarefa primordial
da filosofia, e tudo que até então se efetuou com vistas a esse
intento deve ser considerado como “exercícios preliminares de
grandes cabeças” (HEGEL, 1968, p. 10). Diante, então, da visão
particular que resolve o problema da filosofia, o passado da
mesma não teria mais relevância. O passado era digno de
interesse enquanto não se havia ainda obtido êxito na tarefa da
filosofia. A partir do momento que se alcançou esse êxito, o
passado da filosofia mereceria, caso houvesse ainda interesse,
ser conhecido, nos termos de Hegel, apenas como “exercícios
preliminares de grandes cabeças”. As diversas filosofias
aparecidas no decurso histórico, a partir desse momento, não
são mais fonte de conhecimentos com vistas à realização da
tarefa da filosofia. Tornam-se simplesmente uma fonte de
curiosidade: um saber morto que nada mais nos diz além do
que o fato de terem um dia tentado realizar a tarefa da
filosofia.
203
Mas, contudo, a história da filosofia não é para Hegel
um arquivo do que se tornou obsoleto: “Não se trata
tampouco na filosofia nem de aperfeiçoamentos constantes
nem de visões particulares” (HEGEL, 1968, p. 10). O absoluto,
diz Hegel, e sua manifestação, a razão, são eternamente uma e
a mesma coisa. Toda razão que se dirige a si mesma e se
reconhece como tal, produz uma filosofia verdadeira e resolve
sua tarefa, que é sempre a mesma em todos os tempos135
(HEGEL, 1968, p. 10). Vemos aqui, então, Hegel afastar-se da
concepção histórica e mostrar aquilo que o distingue da
mesma, ao considerar a possibilidade de toda razão que se
dirige a si mesma e se reconhece como razão produzir uma
filosofia verdadeira. Cada filosofia, produzida pela razão
particular de uma época determinada, é o que já podemos
observar, é digna de valor, pois é uma filosofia verdadeira. O
que distingue uma filosofia da outra, sua particularidade, não
alcança a essência da mesma. É na forma do sistema que a
particularidade se expressa. O historiador que não vê a
essência de uma filosofia como algo particular não terminará
como aquele outro historiador, que diante de um sem número
de filosofias essencialmente diferentes sente-se frustrado por
não ter como assentir a qualquer uma delas. “Quem está
enredado por uma peculiaridade, vê no outro nada mais do
que peculiaridades” (HEGEL, 1968, p. 11). É o caso da atitude
histórica, tanto na sua feição mais geral, quanto na sua feição
reinholdiana, para a qual todo sistema filosófico constitui uma
peculiaridade estranha a outras peculiaridades.
Para se chegar à essência da filosofia, observa Hegel, é
preciso que a especulação filosófica se eleve a si mesma e ao
absoluto. A especulação é a própria atividade da razão sobre si
mesma, que, como manifestação do absoluto, fundamenta-se a
135 A tarefa da filosofia “consiste nisto, unificar as pressuposições, pôr o ser no não-ser
como vir-a-ser; a cisão no absoluto – como seu fenômeno; o finito no infinito – como
vida” (HEGEL, 1968, p. 16). Ou ainda: “O absoluto deve ser construído para a
consciência, [tal] é a tarefa da filosofia” (HEGEL, 1968, p. 16).
204
si mesma (HEGEL, 1968, p. 11-12). A essência racional da
filosofia está presente em toda filosofia verdadeira. Assim,
cada filosofia não pode ser tomada como essencialmente
diferente da outra. A especulação filosófica, partindo desse
pressuposto, qual seja, do reconhecimento do espírito vivente
que habita toda filosofia verdadeira (cf. HEGEL, 1968, p. 9),
não vê cada sistema como uma particularidade essencialmente
diferente de outras particularidades. A especulação “deve
encontrar a si mesma através das formas particulares”
(HEGEL, 1968, p. 12). Podemos dizer, então, que cada filosofia
assume uma forma particular e, assim, difere, no plano da
forma, das outras filosofias particulares, ao mesmo tempo que,
na sua essência, todas elas se identificam, pois são obras da
mesma razão una desdobrando-se no processo histórico e que
as reconhece como seus frutos. O espírito da filosofia pode
então encontrar a si mesmo em cada filosofia, na forma que ele
toma segundo a época na qual se originou. Segundo tal
concepção da essência da filosofia, não é sua história um
conjunto de opiniões mortas, que nada mais têm a nos dizer.
Todo sistema é digno de interesse filosófico porque expressa a
forma em que a razão se organizou numa figura com o
material fornecido por uma época particular. Interessar-se por
uma filosofia particular significa querer compreender de que
maneira o absoluto nela se exprimiu. Tal como uma autêntica
obra de arte, que se basta a si mesma, devemos interessar-nos
por ela.
Já Lukács salientava a importância filosófica que, em
Hegel, tinha a história da filosofia para a filosofia: “Ele é o
primeiro no qual a história da filosofia ultrapassou o nível da
simples enumeração dos fatos ou a crítica abstrata. Uma tal
superação já se encontra conscientemente consumada na
Diferença”136. Para Hegel, “a filosofia possui uma longa história
Lukács ainda nota que Hegel foi o primeiro a tomar a sério a questão da história da
filosofia, que para tornar mais contundente seu ponto de vista, o recurso à história da
filosofia servia para iluminar todos os aspectos possíveis do problema que o
136
205
unitária na qual ela se desenvolve, história que representa o
desdobramento da razão unitária” (LUKÁCS, 1981, p. 419420).
Também Martial Guéroult atentou para essa importância
da dimensão filosofante da história da filosofia em Hegel:
O interesse dessa primeira concepção hegeliana é o de conferir
a cada doutrina encarada nela mesma um valor em si, de se
recusar aplicar ao mundo das filosofias a noção de verdade
corrente no conhecimento comum ou na ciência dos
fenômenos. Por essa presença da razão, da verdade, da ideia
da filosofia em cada filosofia, Hegel funda a perenidade das
filosofias como objetos eternamente válidos para a filosofia e
para a história (GUEROULT, 1979, p. 443).
Dentro desse quadro, a verdade que cada filosofia
propõe não envelheceria em virtude de poder ser objeto de
estudo numa época posterior à que surgiu. Nas suas Lições
sobre a história da filosofia, Hegel assinala que o passado
filosófico encontra seu valor e significado como um momento
particular no desenvolvimento da história da filosofia. Se uma
filosofia de uma época anterior à nossa não é capaz de
responder a questionamentos que nos fazemos hoje, este fato
não significa que ela não tenha mais nada a nos dizer. Apenas
indica que o aprendizado que dela podemos extrair não deve
comportar exigências que extrapolem aquilo que seria o
esperado na sua época de surgimento (Cf. HEGEL, 1974, p.
352ss). O mundo de Platão não é o mesmo que o nosso:
Não devemos alimentar a pretensão de encontrar presentes na
filosofia antiga os problemas da nossa consciência e os
interesses do nosso mundo, visto que tais questões
concernia, além de torná-lo mais convincente, graças à argumentação a mais ampla
possível. Assim, nos escritos críticos de Iena, “na polêmica contra Schulze, ele faz uma
comparação detalhada entre o ceticismo antigo e o ceticismo moderno; na sua
exposição sobre o direito natural, ele opõe as concepções filosófico-sociais de Platão e
de Aristóteles às ideias modernas...” (LUKÁCS, 1981, p. 420).
206
pressupõem
um
determinado
desenvolvimento
do
pensamento. Desta maneira, toda a filosofia, precisamente por
ser expressão dum especial grau de desenvolvimento,
pertence ao seu tempo e está circunscrita aos seus próprios
limites (HEGEL, 1974, p. 355).
De acordo com a concepção hegeliana, o estudo da
história da filosofia torna possível que tenhamos contato com
formas de organização do pensamento filosófico que servirão
para alimentar o pensamento filosófico da atualidade. Dessa
perspectiva, o passado da filosofia não constituiria
verdadeiramente um passado, pois trata-se de nos ocuparmos
com formas de pensamento que determinaram aquilo que a
filosofia é hoje. Hegel não acredita, portanto, que o passado da
filosofia envelheça. Se há algo que envelhece é a pretensão das
diversas filosofias em ser a determinação última e absoluta do
pensamento filosófico (Cf. HEGEL, 1974, p. 351-352). A
história da filosofia é, para o filósofo, capaz de nos fazer
melhor compreender aquilo que somos hoje. Nesse sentido, o
ensino da história da filosofia é vital para que os estudantes
possam, ao tomar contato com esse passado, ter condições de
apreender a articulação do pensamento filosófico do presente
a partir do conhecimento de formas filosóficas que, segundo
Hegel, contribuíram para o que a filosofia é hoje.
REFERENCIAS
GUEROULT, M. Histoire de l’Histoire de la Philosophie, en Allemagne de
Leibniz a nos jours. Paris: Aubier, 1979.
HEGEL, G. W. F. Differenz des Fichte’schen und Schelling’schen Systems
der Philosophie. Hamburg: Felix Meiner, 1968.
_______. Leçons sur l’histoire de la philosophie, Introduction: Système et
histoire de la philosophie. vol. 1, Paris: Gallimard, 1990.
_______. Introdução à história da filosofia. Sao Paulo: Ed. Abril, 1974.
207
LUKÁCS, G. Le Jeune Hegel, sur les rapports de la dialectique et de
l’économie. vol. I. Paris: Gallimard, 1981.
208
Capítulo 12
AS CRÍTICAS DE MARX E HUME À FILOSOFIA COMO
FUNDAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO
Samuel Mendonça
INTRODUÇÃO
Embora muito se tenha produzido no Brasil sobre Marx
e a educação, nos últimos anos, Saviani (2008 e 2010),
Lombardi (2008), Sanfelice (2008), Duarte (2008 e 2010), Sousa
Junior (2010), nem por isto o autor de O Capital deixou de ser
uma referência importante para a educação. O esforço de
diversos intelectuais brasileiros e de outros países tem
evidenciado a atualidade de Marx para as questões da
educação nos tempos hodiernos. Então, a crise do capitalismo,
especialmente a de Wall Street, em 2008, revelou a atualidade
dos escritos de Marx para a compreensão da dinâmica da vida
social (HOBSBAWN, 2011).
David Hume (1999), por sua vez, tem sido fonte de
estudos em filosofia e diversas áreas do conhecimento
sistemático, especialmente em virtude dos pressupostos do
empirismo. A ciência da educação recepciona os pressupostos
do empirismo quando em relação ao pragmatismo e, embora
não se pretenda discorrer sobre autores desta corrente
educacional, é preciso reconhecer em Dewey (1985) sua maior
expressão.
209
Com efeito, a nossa preocupação, neste capítulo, gira em
torno da crítica de Marx à filosofia, que se dá por meio da
crítica à ideologia alemã, da mesma forma que a ponderação
de David Hume em relação à filosofia será objeto de
investigação. Isto posto, pretendemos argumentar que tanto a
crítica de Marx ao idealismo alemão quanto a de Hume à
filosofia e, neste caso, à metafísica, constituem-se fundamentos
da educação, na medida em que, por educação, entendemos as
possibilidades de intervenção do homem na contínua
transformação da sociedade e, neste sentido, as construções
abstrusas não parecem auxiliar neste processo. De forma
específica, formulamos a pergunta deste capítulo nos
seguintes termos: as críticas de Marx e Hume à filosofia
constituem-se elementos para a fundamentação da educação?
É preciso dizer que Marx e Hume não possuem posições
sequer próximas sobre o Estado, a Política a Economia ou a
Educação, e não é pelo fato de que faremos a aproximação
pontual quanto à questão da metafísica e da ideologia que isto
possa significar a aproximação teórica dos referidos autores.
Embora em contextos distintos, veremos que as críticas
destes pensadores às formulações abstrusas são as razões da
ausência de uma perspectiva mais efetiva na educação, na
consideração da vida humana. Embora não tenha sido este o
olhar deles, então, utilizamos de seus argumentos para
fundamentar a nossa posição de que os fundamentos da
educação devem ser repensados. Dito de outro modo, não se
encontram em Marx ou em Hume elementos da construção
que pretendem fundamentar a educação a partir da crítica da
metafísica e da ideologia e, portanto, o risco de equívocos
desta aproximação é exclusivo do autor137.
Os estudos de Marx e de Hume foram feitos em contextos distintos. Hume e Marx
foram lidos na graduação em filosofia, mas Hume foi lido enfaticamente por ocasião
do mestrado, também em filosofia, ambos pela Pontifícia Universidade Católica de
Campinas. No doutorado em educação, reli Marx, especialmente com professores do
137
210
Uma concepção de educação que tenha como ponto de
partida o ‘ideal’ de educação já evidencia – embora não se
tenha definido que ideal é este – a ausência de ações concretas,
seja quanto à concepção de educador e mesmo quanto ao
perfil do aluno que está em formação. Fala-se em ideal de
educação e este posicionamento é, muitas vezes, apolítico, no
sentido de que não inclui as vicissitudes da vida social. Por
concepção ‘ideal’ de educação concebe-se a comodidade:
afinal, que ações concretas são reivindicadas a partir de um
ideal de educação? Ações ideais, ou seja, mais uma vez a
ausência das contradições sociais, dado que, no plano ideal,
elas são equacionadas e equacionáveis. Não queremos com
isto afirmar que não se pode ter ideal por educação. O que
argumentamos é que o ideal que não aponta para o mundo
humano e material certamente será insuficiente para
equacionar os problemas determinados e concretos da
educação.
Enquanto o filósofo escocês terá a metafísica como alvo,
Marx, por outro lado, terá Hegel como o seu principal foco de
crítica. Com estes elementos propedêuticos, que dizem
respeito à concepção de homem e de mundo, isto é, a partir da
definição de conhecimento que considera a experiência o seu
leitmotiv, para o primeiro autor, e também considerando a
concepção de trabalho para Marx, então, a nossa concepção de
educação será apresentada no contexto da práxis social.
Do ponto de vista formal, investigaremos os termos
crítica e superação em Descartes (1983) e em Kant (1999),
justamente com o propósito de oferecer ao leitor elementos de
nossa compreensão daquilo que julgamos ser o essencial para
a fundamentação da educação, isto é, a noção de crítica.
Podemos afirmar que o racionalismo de Descartes é superado
pelo empirismo de Hume. Kant ‘acorda’ do sono dogmático
consagrado Departamento de História, Filosofia e Educação da Universidade Estadual
de Campinas.
211
com Hume. O autor das três críticas influencia Hegel que, por
sua vez, é o maior alvo de Marx. Estas conexões evidenciam a
interlocução entre os autores selecionados neste capítulo. Em
seguida, faremos a análise minuciosa de Hume (1999) quanto à
sua crítica à filosofia abstrusa e, posteriormente, junto da
crítica de Marx à Ideologia Alemã, obra de 1845[6], dissecaremos
a questão da origem das ideias de Hume, assim, teremos
elementos para fundamentar a educação sem rodeios e a partir
da vivência humana. O exame de elementos da Ideologia Alemã
evidenciará a concepção de educação de Marx que deve partir
da práxis social. Com estes elementos, exploraremos o
conceito de trabalho ao longo da história do pensamento, de
forma propedêutica, porquanto trata-se de tema central do
pensamento marxiano, de modo a constituir mais um aspecto
daquilo que nomeamos fundamentos da educação.
Em sentido lato, entendemos o educador como um
sujeito dotado de valores e hábitos, que busca transformar a
vida social e elabora o seu sentido na história por meio do
trabalho. Não existe papel do educador a priori, mas, se
existem desafios para fundamentar a educação a partir da
crítica do idealismo e da metafísica, por certo dentre esses
desafios podemos incluir o de compreender a contribuição dos
clássicos para a fundamentação da educação. Como construir
fundamentos da educação sem a contribuição dos clássicos do
pensamento, neste caso, Marx e Hume?
É preciso considerar que os escritos de Marx sobre a
educação não se circunscrevem no âmbito de práticas
pedagógicas, no entanto, mesmo que ele não tenha publicado
escritos específicos sobre a educação, é possível derivar
elementos que estão presentes na educação, seja na
perspectiva de fundamentos, de política ou, mais
especificamente, de concepção de educação. Ora, não é por
acaso que a recente obra de Sousa Junior (2010) explicita, em
seu primeiro capítulo: “como e por que as formulações
212
marxianas podem ser consideradas uma contribuição
importante para o pensamento educacional” (p. 20).
A nossa expectativa não é a de inovação das ideias de
Marx ou de Hume em torno da educação, mas, antes, de
apontar para perspectivas que coloquem em relevo a crítica da
metafísica e da ideologia como base para a construção de
fundamentos da educação para os tempos hodiernos.
CONSIDERAÇÕES SOBRE CRÍTICA E SUPERAÇÃO NA BUSCA DE
FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO
É necessário explicar o que entendemos por superação e
crítica. Os pensadores da Ilustração, como Kant, por exemplo,
já falavam de superação, da mesma forma que o racionalista
francês Descartes138 tratava da necessidade de vencer-se a si
mesmo. Com o propósito de alcançar o primeiro objetivo, isto
é, a elucidação dos termos crítica e superação, examinaremos
as concepções de Descartes e Kant com o propósito de
construir elementos que fundamentem a educação. A crítica
sugere a autocrítica que reivindica a superação, então, em se
tratando daquilo que é essencial para a educação, eis o nosso
primeiro desafio.
Não se trata de revisitar o conceito de superação tal
como já foi pensado no século XVII, mas de considerar os
paradoxos existentes na vida humana e de explicitar a
Descartes, na obra Discurso do Método, especialmente na terceira parte, quando trata
das máximas da moral provisória, anuncia a necessidade de uma espécie de
superação. Ele chama a atenção para o vencer-se a si mesmo, mas em relação à
fortuna. “[...] acostumar-me a crer que nada há que esteja inteiramente em nosso
poder, exceto os nossos pensamentos, de sorte que, depois de termos feito o melhor
possível no tocante às coisas que nos são exteriores, tudo em que deixamos de nos sair
bem é, em relação a nós, absolutamente impossível” (DESCARTES, 1983, p. 43). A
superação anunciada aqui, mesmo indiretamente, não está de acordo com a que
vemos em Marx. Antes, diz respeito à tentativa de buscar na razão a plenitude do
conhecimento, desconsiderando inclusive as conquistas externas e os bens materiais.
Em Marx, a perspectiva de superação parte exatamente das condições materiais como
balizas da transformação social.
138
213
necessidade dela para a possibilidade da crítica. Dito de outro
modo, devemos enfatizar a natureza do próprio homem na
tentativa da sua superação, na medida em que não existe uma
essência do humano em Marx e nem tampouco em Hume, mas
o homem é o resultado das relações sociais vividas na história
a partir do trabalho ou o produto da experiência sensível.
Saviani (2010) reforça o que temos elaborado ao longo destas
reflexões, isto é, o que distingue o ser humano de outras
espécies é fundamentalmente o trabalho:
No caso dos seres humanos, sua atividade vital, que é o
trabalho, distingue-se daquelas de outras espécies vivas por
ser uma atividade consciente que se objetiva em produtos que
passam a ter funções definidas pela prática social. Por meio do
trabalho, o ser humano incorpora, de forma historicamente
universalizadora, a natureza ao campo dos fenômenos sociais.
Neste processo, as necessidades humanas ampliam-se,
ultrapassando o nível das necessidades de sobrevivência e
surgindo necessidades propriamente sociais (p. 426).
Por conseguinte, se o processo de humanização aponta o
trabalho como propulsor do homem, então, elaboramos a
possibilidade de crítica do sujeito que trabalha; afinal, Marx
concebe o trabalho consciente – e não o trabalho alienado –
como base da transformação social. Por trabalho consciente
não entendemos a abstração do conceito de trabalho, mas sua
experiência na práxis social.
Quais as razões que justificam a escolha de Descartes e
Kant para a análise da superação e crítica neste capítulo que
tem Marx e Hume como referenciais teóricos? Embora já
tenhamos tratado de algumas relações entre os autores, por
ocasião da introdução, vale reforçar que Kant influenciou
Hegel no que se refere à crítica do conhecimento; todavia,
Hegel passou a fundamentar a sua crítica a partir da dialética,
inserindo a perspectiva da história em sua filosofia, mas, ainda
assim, trabalhou com a noção do absoluto, alvo preciso de
214
Marx. Desde 1844, com a obra Crítica da Filosofia do Direito de
Hegel, é notável o reconhecimento de Marx a Hegel, mesmo
que tenhamos esta observação a partir da crítica do primeiro
em relação ao segundo. Descartes foi uma das referências
importantes de Kant na construção da filosofia do sujeito,
visto ter construído as bases do racionalismo, escola filosófica
do século XVII, que estabelecia a razão humana como fonte e
método para a construção do conhecimento. Kant vai além de
Descartes, considerando também a experiência como base do
conhecimento e foi Hume o autor que despertou Kant do sono
dogmático; afinal, “embora todo o nosso conhecimento
comece com a experiência, nem por isto todo ele se origina
justamente da experiência” (KANT, 1999, p. 53). Este excerto
da Crítica da Razão Pura evidencia a síntese que Kant promove
a partir do racionalismo e do empirismo.
Portanto, temos Descartes como precursor de Kant –
embora Leibniz também tenha influenciado o filósofo das três
críticas – e Kant como precursor de Hegel. Hegel, por sua vez,
foi o principal alvo de Marx na crítica à ideologia alemã;
assim, justificamos a escolha desses pensadores para o
tratamento dos termos superação e crítica. Há outros elementos
que justificam a escolha desses autores: Descartes e Kant, pelo
fato de serem filósofos idealistas; Marx e Hume, em virtude da
crítica ao idealismo.
A superação sugerida pelos pensadores racionalistas
dizia respeito a uma concepção de homem e de mundo
balizada no contexto da transição da Idade Média para a
Moderna. Anteriormente, a verdade era tida como revelada
por Deus, e a Igreja Católica determinava a ordem do mundo.
Superação, naquele contexto, dizia respeito à tentativa dos
pensadores em serem protagonistas do conhecimento e não
mais se submeterem à aceitação da autoridade divina na esfera
cognitiva. A emergência da ciência moderna, as grandes
navegações e outras inovações produziram um momento de
incertezas. Lembremos, por exemplo, das vidas de Giordano
215
Bruno e Galileu Galilei e suas dificuldades na defesa de ideias
que contrariavam os interesses da época. Descartes foi mais
prudente, na medida em que inovou na construção de uma
nova forma de conceber o mundo, o racionalismo, indicando o
homem e a razão como elementos que marcariam a
humanidade ocidental. Entretanto, com a condenação de
Galileu, em 1633, Descartes renunciou à publicação de sua
obra intitulada Tratado do Mundo e da Luz, em que também
aderia à tese do movimento da terra.
O contexto dos séculos XVI e XVII, no campo filosófico e
científico, teve a superação como grande inspiração destes
pensadores, superação essa que buscava a coerência, a certeza
ou, em outros termos, o método científico como único a prover
segurança para o conhecimento. A este propósito, conviria,
para uma maior elucidação, servirmo-nos das afirmações de
Pessanha:
A superação das incertezas não poderia resultar de correções
parciais que tentassem aproveitar as ruínas da visão de
mundo medieval. Não era possível utilizar as ‘velhas
muralhas que haviam sido construídas para outros fins’. Ao
contrário, era preciso começar tudo de novo, encontrar novo
ponto de partida e demarcar novo itinerário que conduzisse,
com segurança, a certezas científicas universais. As múltiplas
opiniões eram caminhos vários e inseguros que não levavam a
qualquer meta definitiva e estável. Era necessário, portanto,
que se encontrasse não um caminho – mais um ao lado de
tantos outros –, porém o caminho certo, aquele que se
impusesse a todos os demais como único legítimo, porque o
único capaz de escapar ao labirinto das incertezas e das
estéreis construções meramente verbais, para conduzir afinal à
descoberta de verdades permanentes, irretorquíveis, fecundas.
Era preciso achar a via – o hódos dos gregos – que levasse à
meta ambicionada: precisava-se achar o método para a ciência
(1983, p. IX).
Observamos, pois, que superação para os racionalistas
indica, conforme as observações de Pessanha, a construção do
216
conhecimento seguro e verdadeiro, de cunho científico,
atrelado necessariamente à construção de um método. No
entanto, em que medida a compreensão da crítica aqui
anunciada aproxima-se da proposta por Kant na Crítica da
Razão Pura e mais, em que medida o conceito de crítica pode
efetivamente contribuir para a construção de fundamentos da
educação?
Kant critica o racionalismo e o empirismo na formulação
da sua filosofia crítica. No prefácio à segunda edição da Crítica
da Razão Pura, de abril de 1787, o filósofo afirma que:
a crítica não é contraposta ao procedimento dogmático da razão
no seu conhecimento puro como ciência (pois esta tem que ser
sempre dogmática, isto é, provando rigorosamente a partir de
princípios seguros a priori), mas sim um dogmatismo, isto é, à
pretensão de progredir apenas com um conhecimento puro a
partir de conceitos (o filosófico) segundo princípios há tempo
usados pela razão, sem se indagar contudo de que modo e
com que direito chegou a eles. Dogmatismo é, portanto, o
procedimento dogmático da razão pura sem uma crítica
precedente da sua própria capacidade (KANT, 1999, p. 47).
Observamos a evidente crítica ao dogmatismo da razão,
porém, não há contraposição entre a crítica e o procedimento
dogmático da razão, mas sim há contraposição entre a crítica e
o dogmatismo. Kant assinala os riscos de se assumir um
posicionamento sem a cuidadosa crítica da razão. Ainda no
contexto idealista, Hegel também irá por este caminho e é
neste sentido que Marx (2007) critica Hegel e os idealistas
alemães. Veremos, a seguir, a concepção de filosofia de Hume.
A CRÍTICA DE DAVID HUME À FILOSOFIA ABSTRUSA139
David Hume (1771-1776) é considerado a maior
expressão do empirismo e a sua segunda seção, Origem das
139
Parte destas reflexões foi examinada em meu Projeto e Monografia Jurídica (2009).
217
Ideias, da obra, Investigação acerca do Entendimento Humano,
evidencia algumas de suas principais concepções dentro dessa
corrente da teoria do conhecimento clássica. Cabe observar,
também, que sua obra acabou por influenciar correntes
importantes do pensamento moderno, com destaque para o
positivismo, pondo em relevo a necessidade de
fundamentação de um conhecimento seguro, objetivo e
científico e, neste sentido, fundado nos sentidos humanos.
Embora Marx critique os empiristas, é nítida a influência deles
no pensamento do filósofo de Os Manuscritos.
Hume estava convencido de que a ciência da natureza
humana era mais importante do que qualquer outra ciência,
justamente em virtude de que qualquer investigação científica
depende, necessariamente, da natureza do homem. Neste
sentido, pensamos a partir do filósofo que, se
compreendermos as relações entre as ideias, ou ainda, se
conseguirmos atingir com propriedade a elucidação do
conhecimento humano, então teremos alguns dos elementos
necessários para o conhecimento em física ou em outras
ciências. Em outros termos, na perspectiva do filósofo, será
possível estabelecer uma teoria do conhecimento quando
desvendarmos a ciência da natureza humana. Ora, a
construção de fundamentos da educação se coloca exatamente
neste contexto, na medida em que o que se pretende é a
construção de balizas seguras para possibilitar a
transformação social.
Esta ciência da natureza humana evidencia um tipo de
filosofia que Hume denomina filosofia da natureza humana.
Uma filosofia que se pauta na experiência sensível do homem
e não na especulação sobre as ideias, base fundamental para a
compreensão da educação. Ele insere na investigação
filosófica, então, um aspecto que não era usual para a filosofia
na sua época, a saber, o caráter pragmático da filosofia. A
seguir, apresentaremos os argumentos sobre os quais Hume
sustenta este novo filosofar.
218
A contribuição de David Hume quanto a uma definição
de filosofia aponta para elementos que influenciaram a
modernidade no que diz respeito à construção do
conhecimento. Evidentemente, não é nosso propósito neste
capítulo aprofundar esta influência, mas não poderíamos
deixar de explicitar quais os fundamentos que balizam a
estruturação do conhecimento deste autor, a ponto de
influenciar escolas filosóficas como o positivismo e o
materialismo histórico de Marx, por exemplo.
O positivismo140, em virtude da sua base teórica,
sustenta-se na ideia de que a ciência positiva é aquela que
parte da natureza humana. Que natureza é essa? A que será
explicitada por Hume, ou seja, aquela que considera a
experiência sensível como condição do conhecimento. A
perspectiva de Marx141 também trabalha com esta perspectiva
de conhecimento pragmático, na medida em que critica o
conhecimento metafísico e afirma que o conhecimento deve
ser necessariamente condição de mudança do mundo, fazendo
das relações econômicas o fundamento das relações humanas
e sociais.
140 “Este termo foi utilizado pela primeira vez por Saint-Simon, para designar o
método exato das ciências e sua extensão para a filosofia. [...] Foi adotado por Augusto
Comte para a sua filosofia e, graças a ele, passou a designar uma grande corrente
filosófica que, na segunda metade do século XIX, teve numerosíssimas e variadas
manifestações. A característica do positivismo é a romantização da ciência, sua
devoção como único guia da vida individual e social do homem, único conhecimento,
única moral, única religião possível” (ABBAGNANO, 1999, p. 776), e ainda: “Doutrina
que rejeita a metafísica e fundamenta o conhecimento nos fatos” (CUVILLIER, 1969, p.
124).
141 “Engels designou o cânon de interpretação histórica proposta por Marx, mais
precisamente o que consiste em atribuir aos fatores econômicos entre os quais:
técnicas de trabalho e de produção, relações de trabalho e de produção, peso
preponderante na determinação dos acontecimentos históricos. O pressuposto deste
cânon é o ponto de vista antropológico, defendido por Marx, segundo o qual a
personalidade humana é constituída intrinsecamente (em sua própria natureza) por
relações de trabalho e de produção de que o homem participa para prover às suas
necessidades” (ABBAGNANO, 1999, p. 652).
219
Retomando a questão da filosofia em Hume, trata-se de
conceito fundamental para o entendimento da sua teoria da
origem das ideias, afinal, a metafísica ou especulação que tem
como fundamento a causalidade ou outros princípios
racionais, não evidencia elementos aceitáveis em uma
investigação filosófico/educacional, pelo menos no que se
refere à proposta por Hume. A base de sua filosofia é
pragmática e seu fundamento está na ação humana.
Hume (1972) afirma existirem duas espécies de filosofia,
que ele denomina filosofia da ação e filosofia racional. A filosofia
da ação considera o homem como um ser sensível e, portanto,
enfatiza o sentimento como base das vivências. A ação
humana está na própria vida. Esta perspectiva filosófica não
requer elementos teóricos de explicação conceitual, mas está
centrada no apetite sensorial. O que se pode reconhecer neste
tipo de filosofia é que a natureza humana é voltada para a
vivência humana, que se baseia nos hábitos.
Por outro lado, uma outra categoria de filosofia descreve
o homem como um ser racional e enfatiza o entendimento dos
hábitos e não os próprios hábitos como principal elemento de
descrição do homem, ou seja, o homem é um ser que
compreende e racionaliza o mundo. Para essa espécie de
filosofia, a natureza humana é especulativa e o seu propósito é
encontrar os princípios que fundamentam nosso entendimento
do homem. O grande propósito dessa filosofia, portanto, é o
de conseguir aprovação; em outros termos, os filósofos dessa
espécie esperam a aprovação de outros filósofos, contribuindo
assim para o entendimento do futuro.
Com essas duas espécies de filosofia, que ele classifica de
filosofia fácil e filosofia abstrusa, ressalta que a primeira é de
preferência da humanidade, pois diz respeito à vivência do
homem. Hume evidencia a sua opção e, mais do que isto, a sua
marca na história. A opção pela filosofia fácil ou filosofia da
ação, embora não exclua a filosofia racional, fundamenta-se na
própria natureza humana, ou seja, nos costumes e
220
sentimentos. Observamos aqui uma crítica à filosofia racional
ou, mais precisamente, à metafísica.
O filósofo desconfia da filosofia racional afirmando que:
A um filósofo profundo é fácil cair em erro nos seus
raciocínios sutis: e um erro gera necessariamente outro,
enquanto ele continua a deduzir as suas consequências e não
recua diante de nenhuma conclusão, por mais insólita que
pareça e por mais que contradiga a opinião popular. Mas o
filósofo que não tem outro propósito senão representar o
senso comum da humanidade com cores mais belas e mais
atraentes, quando porventura cai em erro, não dá outro passo
mais longe; e, renovando o seu apelo ao senso comum e aos
sentimentos naturais, volta ao caminho certo e assim se
resguarda contra toda ilusão perigosa (HUME, 1972, p. 130)142.
Por outro lado, uma filosofia só baseada na ação, na
vivência, sem o cuidadoso entendimento, estaria também
sujeita a erros ou, no mínimo, ao seu não entendimento, o que
equivale a um problema. Neste sentido, ele defende a
necessidade da razão como método de compreensão da
natureza humana. Hume não defende a utilização da razão
como fonte do conhecimento, mas exatamente como recurso,
como instrumento; a fonte do conhecimento reside na
sensibilidade e nos sentimentos humanos.
Portanto, o filósofo escocês defende uma filosofia
intermediária, que nomeia de raciocínio exato, como o modelo
adequado de percepção da natureza humana. Diz ele:
Lê-se no original: “It is easy for a profound philosopher to commit mistake in his
subtitle reasoning’s; and one mistake is the necessary parent of another, while he
pushes on his consequences, and is not deterred from embracing any conclusion, by
its unusual appearance, or its contradiction to popular opinion. But a philosopher,
who purposes only to represent the common sense of mankind in more beautiful and
more engaging colors, if by accident he falls into error, goes no farther; but renewing
his appeal to common sense, and the natural sentiments of the mind, returns into the
right path, and secures himself from any dangerous illusions” (HUME, 1999, p. 88).
142
221
Supõe-se que o tipo mais perfeito se encontre no meio
caminho entre estes dois extremos, dando provas de igual
capacidade e gosto pelos livros, pela sociedade e pelos
negócios; mostrando na conversa esse discernimento e
delicadeza que decorrem das belas-letras; e, nos negócios, essa
probidade e exatidão que são o resultado natural de uma justa
filosofia (HUME, 1972, p. 130)143.
A filosofia de David Hume rechaça elementos
metafísicos como base de fundamentação de quaisquer
pesquisas, inclusive para o foco deste capítulo, a educação, em
virtude da ausência de dados sensíveis, contrariando uma
perspectiva empírica. Distancia-se, também, por outro lado, da
sensação sem o devido entendimento, culminando neste
modelo de filosofia que parte do sensível para estabelecer as
conexões por meio do entendimento. Em outros termos, o que
o filósofo escocês critica na filosofia racional não é a lógica, o
rigor do pensamento, mas as relações de pensamento
estabelecidas pelos conceitos abstratos, que geram outros
conceitos, e assim por diante. A lógica é um instrumento chave
da filosofia deste autor, na legitimação do conhecimento
experimental e, também, na produção do conhecimento
educacional de qualquer natureza.
A filosofia adequada para a fundamentação do
conhecimento humano, em David Hume, e coerente para
fundamentar a educação, é a filosofia exata, que não distancia
o homem da sua natureza sensorial. A este respeito, ele
recomenda:
Cultiva a sua paixão pela ciência, diz ela, mas que tua ciência
seja humana e tenha aplicação direta à ação e à sociedade.
Quanto ao pensamento abstruso e às investigações profundas,
No original se lê: “The most perfect character is supposed to lie between those
extremes; retaining an equal ability and taste for books, company, and business;
preserving in conversation that discernment and delicacy which arise from polite
letters; and in business, that probity and accuracy which are the natural result of a just
philosophy” (HUME, 1999, p. 89).
143
222
eu os proíbo e os castigarei severamente com a cismadora
melancolia que eles provocam, com a interminável incerteza
de que nunca te poderá livrar, e com a fria acolhida que terão
tuas pretensas descobertas quando as quiseres comunicar. Seja
filósofo, mas, em meio de toda a tua filosofia, não te esqueças
de ser homem (HUME, 1972, p. 130)144.
Partindo destes elementos de fundamentação de filosofia
de David Hume, passaremos a analisar a crítica de Marx à
ideologia alemã, da mesma forma que a exposição de aspectos
da origem das ideias, ponto central do pensamento de Hume.
A CRÍTICA À IDEOLOGIA ALEMÃ DE MARX E A ORIGEM DAS IDEIAS
DE HUME
Após a crítica de Hume quanto à filosofia abstrusa, que,
em última análise, refere-se à crítica da metafísica,
examinaremos, na mesma perspectiva, a crítica de Marx (18181883) ao idealismo alemão, no sentido de continuar a
construção de subsídios para a fundamentação da educação;
afinal, que concepção de educação pode ser pensada sem a
mediação do homem e das transformações sociais? É nesta
direção que justificamos a escolha de Marx e Hume, dado que,
embora em contextos distintos, criticam construções nebulosas
e abstrusas. Em que pese o fato de que Marx critique os
empiristas, pretendemos evidenciar que, ao menos do ponto
de vista deste aspecto singular, isto é, da crítica à metafísica,
sua argumentação se aproxima da de Hume. Então, tanto o
empirismo como o materialismo, neste sentido, servem de
fundamentos para a educação nos termos que temos pensado.
No original, se lê: “Indulge your passion for science, says she, but let your science
be human, and such as may have a direct reference to action and society. Abstruse
thought and profound researches I prohibit, and will severely punish, by the pensive
melancholy which they introduce, by the endless uncertainty in which they involve
you, and by the cold reception which your pretended discoveries will meet with,
when communicated. Be a philosopher; but, amidst all your philosophy, be still a
man” (HUME, 1999, p. 90).
144
223
Nunca é demais reafirmar que não se trata de considerar Marx
um empirista ou Hume um materialista, mas de perceber que
os dois referenciais teóricos partem da crítica de fundamentos
ideológicos e provenientes da imaginação. Suas perspectivas
partem do homem e da vivência social. Marx (2007) assevera:
Bem ao contrário do que acontece com a filosofia alemã, que
desce do céu para a terra, aqui se sobre da terra para o céu.
Quer dizer, não se parte daquilo que os homens dizem,
imaginam, ou engendram mentalmente, tampouco do homem
dito, pensado, imaginado ou engendrado mentalmente para
daí chegar ao homem de carne e osso; parte-se dos homens
realmente ativos e de seu processo de vida real para daí
chegar ao desenvolvimento dos reflexos ideológicos e aos ecos
desse processo de vida (p. 48).
Ora, a construção de Marx revela a ênfase dada à
dimensão humana. Veremos que é o trabalho, a partir dos
meios de produção, que baliza o desenvolvimento do homem.
Construções idealistas e metafísicas, isto é, aquelas que
descem prontas do céu para a terra, não descrevem os
conflitos humanos, não partem da vida humana, mas de
suposições e abstrações que, em muitos casos, são incapazes
de revelar as vicissitudes das contradições da vida em
sociedade.
As construções ideológicas nascem das atividades
humanas, então, por certo, Marx não concorda com ideologia
que tenha a abstração como fonte, mas direciona a construção
ideológica que tenha o seu nascedouro na vida do homem, em
específico nas contradições da sociedade. Da mesma forma
que Hume argumenta que as ideias nascem das experiências,
Marx (2007) afirma que “também as formações nebulosas que
se condensam no cérebro dos homens são sublimações
necessárias de seu processo material de vida, processo
empiricamente registrável e ligado a condições materiais” (p.
49).
224
Neste sentido, a crítica de Marx ao idealismo alemão se
fundamenta, principalmente, na falta de autenticidade do
homem - ou mesmo na ausência de autonomia - seja no
contexto da moral, da religião, da metafísica ou de outra
ideologia. Se a construção parte de perspectiva deslocada da
vivência humana, portanto, não será útil ao humano. A
educação que não tenha o humano como centro será, por certo,
insuficiente para equacionar as contradições da sociedade.
Então, como fundamento da educação, argumentamos que a
crítica ao idealismo se trata de baliza fundamental, da mesma
forma que a crítica à metafísica de Hume.
Marx defende o desenvolvimento do homem na história,
isto é, sua produção material e suas relações materiais
transformam a realidade. O pensamento do homem é o
resultado dessas relações. É neste sentido que ele critica o
posicionamento de Hegel, que tem a consciência como base da
construção da história, e principalmente os supostos críticos
de Hegel, dado que, segundo Marx (2007), não conseguiram
investigar os pressupostos gerais-filosóficos, mantendo-se
dependentes do filósofo da Fenomenologia. O pensador de O
Capital argumenta que
a crítica alemã até em seus mais novos esforços não
abandonou o terreno da filosofia. Bem longe de investigar
seus pressupostos gerais-filosóficos, o conjunto de suas
perguntas inclusive cresceu sobre o chão de um único e
determinado sistema filosófico, o hegeliano. Não apenas em
suas respostas, já nas perguntas jazia uma mistificação. Essa
dependência de Hegel é o motivo pelo qual nenhum desses
novos críticos sequer tentou uma crítica abrangente do
sistema hegeliano, por mais que todos eles afirmem ter
superado Hegel (MARX, 2007, p. 39).
O autor de Os Manuscritos enfatiza a necessidade da
transformação do homem para a construção de suas bases
teóricas, então, a partir do distanciamento do idealismo, o
materialismo histórico se desenvolve. Argumenta Marx (2007)
225
que a vida determina a consciência e não o contrário e, por
consciência, ele compreende a vivência do sujeito no mundo e
não uma abstração.
Ora, como construir subsídios para a educação a partir
da crítica ao idealismo apresentada por Marx? Parece-nos que
a concepção de educação deva ser dinâmica o suficiente para
expressar a experiência humana, em suas contradições, e mais,
não servem de fundamento para a educação elementos que
não estejam vinculados essencialmente à atividade material do
homem. As premissas que sustentam a concepção de homem,
para Marx, a partir da caracterização da transformação social,
definem este sujeito na história, nas contradições da vida
material. Em outros termos, a história não se resume em
abstração ou a um discurso metafórico, antes, diz respeito à
vivência social. De forma precisa, Marx, da mesma forma que
Hume, rechaça a especulação, apontando para a dimensão
material da vida, todavia, critica também os empiristas145 e
reafirmamos que a aproximação pontual destes autores, no
que se refere à crítica da metafísica, não faz deles ‘partidários’
de uma mesma ideologia. Vejamos como Marx define estas
condições:
Suas premissas são os homens, mas não tomados em algum
isolamento ou rigidez fantástica qualquer, mas sim em um
processo de desenvolvimento real e empiricamente
registrável, sob a ação de determinadas condições. E tão logo
se expõe esse processo ativo de vida, a história deixa de ser
uma coleção de fatos mortos, como continua sendo mesmo
entre os empiristas abstratos, ou uma imaginária de sujeitos
imaginários, como é para os idealistas. Ali onde termina a
Em que pese o fato de que Marx critique os empiristas abstratos, entre os quais
Hume é partidário, em contraposição aos empiristas materialistas, dentre os quais
podemos citar Hobbes e Bacon, por exemplo, no sentido de que os primeiros negam
que a natureza corresponda à origem da experiência, mesmo assim, no que se refere à
crítica específica da filosofia de Hume, percebemos o ponto de diálogo segundo o qual
justifica a nossa aproximação entre estes dois clássicos da filosofia (BACKES, 2007, p.
49).
145
226
especulação, quer dizer na vida real, começa também a ciência
real e positiva, portanto, a representação da ação prática, do
processo prático de desenvolvimento dos homens (MARX,
2007, p. 49).
A compreensão do homem em sua historicidade revela o
principal alvo de Marx, isto é, as construções abstratas. Como
vimos, Hume também apresenta esta crítica ao tratar da
filosofia abstrusa e, também, quando trata da questão da
origem das ideias, o filósofo escocês é ainda mais enfático ao
dizer que há diferença nas percepções da mente, por exemplo,
quando tratamos de alguma impressão dos sentidos, como a
sensação de calor, ou quando nos lembramos desta sensação.
Em outros termos, considera que a primeira esfera de
percepções (sensações) é mais forte do que a segunda
(memória). As sensações mais fortes (dos sentidos primários)
são sempre mais vivas do que a mera lembrança delas. Por
exemplo, se um indivíduo entra em contato com o fogo, ele
sentirá a dor da queimadura do calor de forma incomparável,
mais intensa, do que aquele que lê sobre a queimadura. Neste
sentido, estabelece uma prioridade em termos da origem das
ideias, ou seja, a sua teoria do conhecimento se fundamenta na
experiência. Isto não significa que a razão não tenha o seu
papel na teoria do conhecimento de Hume, porém, este papel
é secundário. Ou seja, a razão não é fonte do conhecimento,
mas instrumento de entendimento deste conhecimento. Isto
não significa que desconsideraremos a razão para a
fundamentação da educação, mas a crítica de Hume é
relevante, na medida em que reivindica a conexão entre o que
se pensa com o que se tem no mundo fenomênico.
A razão é importante como faculdade de transpor,
combinar, aumentar ou diminuir o material fornecido pela
experiência, no que diz respeito à construção de ideias, mas
não pode, segundo ele, servir de base para a construção do
227
conhecimento, pois, o que fundamenta o conhecimento é
efetivamente a experiência sensível.
Segundo o filósofo escocês, há uma diferença
significativa entre a imaginação e a vivência, e ele evidencia a
supremacia da segunda em relação à primeira, dizendo que:
o mais vivo pensamento é ainda inferior à mais embotada das
sensações. Podemos observar que uma distinção semelhante
vale para todas as demais percepções da mente. Um homem
presa de um acesso de cólera é atuado de maneira diversa
daquele que apenas pensa nessa emoção. Se me disserem que
tal ou tal pessoa está enamorada, eu compreenderei facilmente
o que isso significa, e farei uma ideia justa da sua situação,
mas nunca poderei confundir essa ideia com as agitações e
desordens reais da paixão (HUME, 1972, p. 134)146.
Isto posto, consideramos como fundamento da teoria de
Hume, portanto, a tese segundo a qual a origem das ideias
reside nas sensações. Para sustentar a afirmação de que as
ideias são inferiores às sensações, ele apresenta dois
argumentos. O primeiro diz respeito a qualquer ideia
complexa. Ele entende por ideia complexa a que não é simples,
ou seja, a que tem em sua estruturação abstrações ou ainda
aglutinação de conceitos sem uma base sensível
correspondente. Por exemplo, a expressão Deus existe é para o
autor uma ideia complexa, na medida em que não se pode
oferecer uma comprovação simples e objetiva para o vocábulo
Deus, tratando-se de uma abstração. Diz que esta ideia
complexa de Deus, como qualquer outra ideia complexa, tem
sua origem na experiência. Pode parecer estranho este
146 Lê-se no original: “The most lively thought is still inferior to the dullest sensation.
We may observe a like distinction to run through all the other perceptions of the
mind. A man, in a fit of anger, is actuated in a very different manner from one who
only thinks of that emotion. If you tell me, that any person is in love, I easily
understand your meaning, and form a just conception of his situation: but never can
mistake that conception for the real disorders and agitations of the passion” (HUME,
1999, p. 96).
228
argumento num primeiro momento, mas se observarmos mais
de perto e de forma criteriosa, concluiremos que Deus existe,
de fato, como ideia e, neste sentido, resta investigar a sua
origem que, segundo o pensador, reside tão somente na
experiência humana. Ou seja, temos clareza dos conceitos de
bondade e de sabedoria formulados com base na experiência
no universo humano. Para formar a ideia de Deus, basta
aumentar em grau infinito estes conceitos e chegaremos à ideia
de um ser infinitamente bondoso e sábio. Isto é, Deus é o
resultado da nossa faculdade de aumentar a experiência
vivida e uma criação do homem, não sendo, para Hume,
objeto da ciência e, portanto, deve ser deixado de lado por não
oferecer elementos objetivos e pragmáticos para a sua
formulação. A respeito da proposição de que a origem das
ideias reside na experiência sensível, provoca o autor:
Os que desejam negar que esta proposição seja
universalmente verdadeira e mostrar que ela comporta
exceções, só têm um método, aliás, bastante fácil, de refutá-la:
basta apresentarem uma ideia que, em sua opinião, não derive
desta fonte. Caberá então a nós, se quisermos sustentar a
nossa doutrina, apontar a impressão ou percepção viva que
lhe corresponde (HUME, 1972, p. 135)147.
Essa provocação evidencia uma perspectiva aberta ao
diálogo e fortalece a teoria do autor, na medida em que não
parte de uma perspectiva dogmática, fechada, mas abre espaço
para a interlocução e possibilidade de revisão de seus
argumentos.
O segundo argumento apresentado por Hume para
sustentar a tese de que todas as ideias complexas têm origem
No original se lê: “Those who would assert, that this position is not universally true
nor without exception, have only one, and that easy method of refuting it; by
producing that idea, which, in their opinion, is not derived from this source. It will
then be incumbent on us, if we would maintain our doctrine, to produce the
impression or lively perception, which corresponds to it” (HUME, 1999, p. 98).
147
229
nas ideias simples e que, por sua vez, toda ideia simples tem
origem em uma experiência sensível, assegura que uma pessoa
privada de um dos órgãos dos sentidos não consegue ter ideia
correspondente à experiência advinda daquele órgão. Um
surdo, por exemplo, que tenha nascido surdo, não tem ideia
dos sons, ou ainda um cego de nascença não consegue saber a
diferença entre as cores. Considerando o argumento válido,
então parece possível afirmar que a sua teoria tem uma base
de sustentação forte, pelo menos no que diz respeito ao que ela
se propõe demonstrar, ou seja, a origem das ideias está nas
sensações e a ausência de um dos sentidos interrompe a
possibilidade de sensação daquele sentido e, portanto, de
formação de quaisquer conhecimentos derivados dele. Quais
as implicações desta teoria para fundamentar a educação? É
preciso partir da experiência dos sentidos para pensar e
repensar a educação. É também fundamental que possamos
nos valer da possibilidade de construir fundamentos que
sejam efetivamente necessários à vida humana.
Hume insere um elemento contraditório à sua teoria
logo após a construção destes dois argumentos. Para a nossa
reflexão, trata-se de uma estratégia para fortalecer a sua teoria
e não para contradizê-la. Este fenômeno contraditório talvez
prove, “não ser de todo impossível que uma ideia surja sem a
correspondente impressão” (HUME, 1972, p. 135).
Admitindo que uma pessoa possa inserir uma
tonalidade de azul em um feixe que apresenta ausência da
quaisquer tons, em uma sequência lógica do mais forte para o
mais fraco, de um espectro luminoso de cor azul, sem ter tido
a experiência anterior desta tonalidade específica, parece
configurar uma contradição à teoria segundo a qual a
experiência é fonte das ideias. O autor formula:
Coloquem-se diante dele todos os diferentes matizes de azul,
menos esse, em ordem gradualmente descendente do mais
carregado ao mais claro; é evidente que ele perceberá um
230
vazio no lugar onde falta esse matiz e sentirá uma distância
maior entre as cores contíguas nesse lugar do que em todos os
outros. Pergunto agora se lhe será possível suprir essa falha
com a sua imaginação e formar por si mesmo a ideia desse
matiz particular, embora nunca lhe tenha sido apresentado
pelos sentidos. Creio que poucos negarão essa possibilidade; e
isso servirá talvez como prova de que as ideias simples não
derivam sempre e em todos os casos das correspondentes
impressões; se bem que este exemplo seja tão singular, que
mal merece nos detenhamos nele e alteremos, por sua causa, o
nosso princípio geral (HUME, 1972, p. 136)148.
Em que medida esse elemento contraditório rechaça a
teoria de Hume? Percebemos que o autor coloca um exemplo
singular e, mesmo assim, para que a pessoa insira a tonalidade
que está faltando na sequência de cores, ela parte de
tonalidades mais fracas e mais fortes dos dois lados do
espectro, e é capaz de preencher a lacuna em virtude destas
experiências sensíveis dadas, ou seja, o elemento contraditório,
neste sentido, parece fortalecer a teoria do autor de que as
ideias têm origem na experiência sensível. Se imaginássemos
um exemplo diferente em que uma pessoa não experimentou
um tom específico de uma cor específica indefinida, esta
pessoa conseguiria preencher a lacuna com o tom que está
faltando, se não apresentássemos os tons anteriores e
posteriores? Parece que a resposta é não, ou seja, o que faz
com que a pessoa preencha este matiz não é a imaginação ou
148 Conforme o original: “Let all the different shades of that color, except that single
one, be placed before him, descending gradually from the deepest to the lightest; it is
plain, that he will perceive a blank, where that shade is wanting, and will be sensible,
that there is a greater distance in that place between the contiguous colors than in any
other. Now I ask, whether it be possible for him, from his own imagination, to supply
this deficiency, and raise up to himself the idea of that particular shade, trough it had
never been conveyed to him by his senses? I believe there are few but will be of
opinion that he can: and this may serve as a proof, that the simple ideas are not
always, in every instance, derived from the correspondent impressions; though this
instance is so singular, that it is scarcely worth our observing, and does not merit, that
for it alone we should alter our general maxim” (HUME, 1999, p. 99).
231
outro elemento, mas justamente a experiência anterior
advinda da experiência sensível.
Este argumento do elemento contraditório é muito
interessante para que possamos repensar a educação; afinal,
partimos das concepções de educação que temos para
diagnosticar as ações necessárias ao aprimoramento da
educação, contudo, o que concebemos partindo do que já
temos são ideias fantasiosas e distantes da realidade
educacional stricto sensu. Neste sentido, a pergunta
fundamental que devemos fazer, para fundamentar a
educação a partir de outras balizas, não é aquela que questiona
sobre o que é a educação, mas, devemos colocar em relevo
para quê concebemos a educação. Se a educação não busca a
sua teleologia, então, qual é o seu sentido?
Logo, percebemos que Hume sustenta a sua teoria
mesmo considerando a possibilidade de críticas. E o desafio
está dado: se alguém acredita que a experiência sensível não é
fonte das ideias, então, deverá apresentar um exemplo de ideia
que tenha vindo de outra fonte. O mesmo raciocínio deve ser
formulado no contexto da educação, isto é, se alguém não está
satisfeito com a educação como temos nos tempos atuais,
então, deve buscar as alternativas que sejam as balizas de uma
nova educação.
Entendemos que tanto o exemplo do elemento
contraditório, como, igualmente, a fundamentação da origem
das ideias de Hume, apresentados de forma breve neste
capítulo, aproximam-se da crítica de Marx à ideologia alemã,
na medida em que as fantasias, a imaginação e as ideias
abstrusas são preteridas.
A preocupação de Marx, neste contexto, é com a
especulação e, por esta razão, a filosofia é o seu alvo. Aliás, ele
é enfático ao dizer que
essas abstrações não têm em si, separadas da história real,
nenhum valor. Elas podem servir apenas para facilitar o
232
ordenamento do material histórico, para indicar a sucessão de
seus diferentes estratos. Mas não oferecem, de maneira
alguma, como a filosofia o faz, receita ou esquema através dos
quais as épocas históricas possam ser apoiadas e
compreendidas (MARX, 2007, p. 50).
A concepção de filosofia que Marx critica é a hegeliana,
enciclopédica, construída a partir de princípios universais.
Marx defende que a filosofia deva ser capaz de transformar a
realidade e não apenas interpretá-la. Ora, a fundamentação da
educação parte destas balizas, quais sejam, (i) a crítica como
procedimento a ser utilizado por todos os sujeitos dispostos a
repensar a educação, (ii) a compreensão do homem na sua
dinâmica social, (iii) a percepção do conhecimento como
constructo do homem, a partir das relações sociais e (iv) as
condições materiais como base da concepção de homem e de
mundo. É neste contexto que investigaremos, a seguir, a
importância do trabalho para Marx. Para o êxito desta análise,
situaremos, de forma propedêutica, a questão do trabalho ao
longo da história do pensamento e identificaremos a
caracterização do trabalho para o filósofo de O Capital.
A QUESTÃO DO TRABALHO
Evidente que a concepção de trabalho exaustivamente
analisada, dissecada e esquadrinhada por Marx em Formações
Econômicas Pré-capitalistas e também em outros escritos referese a um momento histórico distinto do nosso. As necessidades
do operário do século XIX são as mesmas do operário dos
tempos atuais? Qual a importância de se pensar a distinção
entre trabalho mecânico e trabalho intelectual? Enfim, as
críticas de Marx e Hume à filosofia constituem-se de
elementos para a fundamentação da educação? Temos
observado, ao longo destas reflexões, que as críticas de Marx e
Hume à filosofia podem se constituir em fundamentos da
educação, todavia, a noção de trabalho também é importante
233
neste processo. Não se pretende discutir as relações de
trabalho, embora tratemos também delas, mas examinar as
correlações deste conceito com a construção de fundamentos
para a educação.
A noção de trabalho não tem seu nascedouro com o
desenvolvimento do capitalismo. Seja como maldição divina
no contexto da Bíblia Sagrada, ou no sentido de transformar
intencionalmente a realidade e, portanto, tendo como premissa
a relação entre o homem e a natureza, a noção de trabalho
remete ao período antigo. A distinção entre trabalho manual e
atividade intelectual remonta à filosofia clássica e, somente a
partir do século XV, o trabalho manual passa a ser também
reconhecido (ABBAGNANO, 1999, p. 964). Os pensadores
modernos divergiam quanto à importância do trabalho
manual, tendo Bacon ascendência ao experimentalismo, mas
Descartes não considerava o trabalho manual, dada a sua
compreensão de que é a razão humana a fonte e procedimento
do conhecimento; por outro lado, Leibniz foi uma exceção,
dado que “insistia na importância do trabalho dos artesãos,
dos agricultores, dos marinheiros, dos comerciantes, dos
músicos, não só em proveito da ciência, mas também da vida e
da civilização” (ABBAGNANO, 1999, p. 965).
A partir do romantismo, começou-se a estabelecer a
relação entre o trabalho e a natureza do homem. É curioso
notar que a formulação que será objeto de críticas de Marx tem
o seu nascedouro na formulação de Hegel, na medida em que
o filósofo da Fenomenologia, em virtude de sua ênfase na
questão da história, inseria o trabalho como mediador entre o
homem e o mundo. O homem se humaniza na satisfação de
suas necessidades e isto se dá pelo trabalho. Observamos o
terreno fértil segundo o qual Marx irá se desenvolver
posteriormente. Com efeito, Hegel considerava que o bárbaro
era preguiçoso e, portanto, o trabalho vinculava-se à dimensão
da civilização. De todo modo, a formulação hegeliana de
trabalho, que inclui a percepção de que este leva à substituição
234
do homem pela máquina, foi aceita por Marx como um
presente. O autor de O Capital, no entanto, divergia de Hegel
no sentido de estabelecer a distinção natural e material do
trabalho, enquanto o filósofo idealista atribuía-lhe caráter
espiritual. Crítico da metafísica, como já observamos no item
anterior, Marx assevera que os homens distinguem-se dos
animais pela capacidade de construção de seus bens materiais.
O homem não é homem por ser da espécie dos hominídeos,
mas porque transforma a sua vida. Aliás, na última tese contra
Feuerbach, diz Marx: “os filósofos se limitaram a interpretar o
mundo diferentemente, cabe transformá-lo” (MARX, 1978, p.
53). Evidente que a concepção de homem está presente nesta
tese e, portanto, a noção de trabalho é a espinha dorsal desta
concepção. Ora, se a noção de trabalho é fundamental para a
antropologia marxiana, então, a concepção de educação de
Marx, necessariamente, inclui a noção de trabalho.
Embora a obra A Ideologia Alemã diga respeito à crítica da
filosofia em sentido geral, o conceito de trabalho também é
nela examinado. Marx acentua ainda mais a noção de trabalho,
ao enfatizar que o homem não se humaniza individualmente,
mas exatamente na coletividade, isto é, é preciso o outro
homem para que, por meio do trabalho, nas relações sociais,
desenvolva-se a própria dimensão da consciência. Este
posicionamento se sustenta quanto ao trabalho não alienado,
dado que o trabalho alienado refere-se ao distanciamento do
homem como sujeito, tendo acepção de objeto ou de
mercadoria. Com efeito, problematizamos: é o trabalho que
humaniza o homem ou o homem que, por meio do trabalho, se
humaniza? A ênfase de Marx deixa esta lacuna e, em que pese
o fato de que o problema possa parecer linguístico, é preciso
reconhecer que a ênfase do pensador de Os Manuscritos está no
homem, em última instância, e não no trabalho, dado que não
há trabalho em si, mas o trabalho existe em virtude do homem.
Neste sentido, haveria uma essência do homem para Marx?
Esta questão é complexa e evidencia que a crítica a Hegel
235
parece não resolver o problema anunciado por Marx; afinal, é
o homem o sujeito do mundo.
Com efeito, a noção de trabalho é aquela segundo a qual
o homem pode transformar a sociedade; na perspectiva
marxiana, então, a fundamentação da educação deve indicar
mais este aspecto, isto é, o trabalho na perspectiva de
transformação social.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como pudemos perceber, embora Marx não tenha
escritos específicos sobre educação, na consideração do ensino
ou da prática pedagógica, e embora Hume tenha sido utilizado
neste capítulo para fortalecer a crítica de Marx à filosofia,
considerando a influência que este recebeu dos empiristas, há
muitas contribuições que podem fundamentar a educação a
partir da crítica desses autores à filosofia.
De forma precisa, a discussão do conceito de crítica
realizada a partir de Descartes e Kant, da mesma forma que a
argumentação de Hume quanto à filosofia e de Marx quanto à
ideologia, constituíram-se de bases teóricas que propiciaram a
construção de resposta à pergunta deste capítulo, qual seja: as
críticas de Marx e Hume à filosofia constituem-se elementos
para a fundamentação da educação? Observamos que sim, e
estes elementos podem ser aqui retomados: (i) a crítica como
procedimento a ser utilizado por todos os sujeitos dispostos a
repensar a educação, (ii) a compreensão do homem na sua
dinâmica social, (iii) a percepção do conhecimento como
constructo do homem, a partir das relações sociais, (iv) as
condições materiais como base da concepção de homem e do
mundo e, por fim, (v) a noção de trabalho como fundamental
para a humanização do homem.
Por derradeiro, essas reflexões não pretendem inserir
Marx e Hume como interlocutores de problemas sociais ou
educacionais e, como já dissemos, a responsabilidade pela
236
imprecisão ou mesmo pela ousadia de aproximar Marx e
Hume deu-se exclusivamente em virtude de que muito já se
produziu sobre Marx e a educação e não faria sentido
apresentar um capítulo no contexto da obra Filosofia e
Educação: aproximações e convergências, sem que se apontasse
para alguma possibilidade de originalidade.
REFERÊNCIAS
BACKES, Marcelo. Notas. MARX, Karl. A ideologia alemã: crítica da
novíssima filosofia alemã em seus representantes Feuerbach, B. Bauer e
Stirner, e do socialismo alemão em seus diferentes profetas. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2007.
DESCARTES, René. Discurso do Método. 3. ed. São Paulo: Abril Cultural,
1983.
DEWEY, John. Essays on Education and Politics [1915]. Illinois: Southern
Illinois University Press, 1985.
DUARTE, Newton. Por que é necessário uma análise crítica marxista do
construtivismo? In LOMBARDI, José Claudinei; SAVIANI, Dermeval (orgs.)
Marxismo e Educação: debates contemporâneos. 2.ed. Campinas: Autores
Associados, 2008.
GUARDIAN. Eric. Hobsbawm: a conversation about Marx, student riots,
the new Left, and the Milibands. In Guardian. Disponível em
http://www.guardian.co.uk/books/2011/jan/16/eric-hobsbawm-tristramhunt-marx, acesso em 20/01/2011.
HOBSBAWN, Eric. Introdução. In MARX, Karl. Formações econômicas e
pré-capitalistas. 5.ed. São Paulo: Paz e Terra, 1986.
HUME, David. An Enquiry concerning Human Understanding. New York:
Oxford, 1999. HUME, David. Investigação acerca do entendimento
humano. São Paulo: Abril Cultural, 1972.
KANT, Immanuel. Crítica da Razão Pura. São Paulo: Abril Cultural, 1999.
237
LOMBARDI, José Claudinei; SAVIANI, Dermeval (orgs.) Marxismo e
Educação: debates contemporâneos. 2.ed. Campinas: Autores Associados,
2008.
LOMBARDI, José Claudinei. Educação, ensino e formação profissional em
Marx e Engels. In LOMBARDI, José Claudinei; SAVIANI, Dermeval (orgs.)
Marxismo e Educação: debates contemporâneos. 2.ed. Campinas: Autores
Associados, 2008.
LÖWY, Michael. As aventuras de Karl Marx contra o Barão de
Münchhausen: marxismo e positivismo na sociologia do conhecimento.
São Paulo: Busca Vida, 1987.
MARX, Karl. Formações econômicas e pré-capitalistas. 5.ed. São Paulo: Paz
e Terra, 1986.
_______. A ideologia alemã: crítica da novíssima filosofia alemã em seus
representantes Feuerbach, B. Bauer e Stirner, e do socialismo alemão em
seus diferentes profetas. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007.
_______. Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. Rio de Janeiro: Boitempo,
2010.
MENDONÇA, Samuel. Projeto e Monografia Jurídica. 4.ed. Campinas:
Millenniun, 2009.
SANFELICE, José Luís. Dialética e pesquisa em educação. In LOMBARDI,
José Claudinei; SAVIANI, Dermeval (orgs.) Marxismo e Educação: debates
contemporâneos. 2.ed. Campinas: Autores Associados, 2008.
SAVIANI, Dermeval. Educação socialista, pedagogia histórico-crítica e os
desafios da sociedade de classes. In LOMBARDI, José Claudinei; SAVIANI,
Dermeval (orgs.) Marxismo e Educação: debates contemporâneos. 2.ed.
Campinas: Autores Associados, 2008.
SAVIANI, Dermeval; DUARTE, Newton. A formação humana na
perspectiva histórico-ontológica. In Revista Brasileira de Educação, v. 15, n.
45, set./dez. 2010.
SOUSA JUNIOR, Justino de. Marx e a crítica da educação: da expansão
liberal democrática à crise regressivo-destrutiva do capital. Aparecida, SP:
Ideias e Letras, 2010.
238
TRAGTENBERG, Maurício. Burocracia e Ideologia. São Paulo: Ática, 1980.
239
Capítulo 13
GOTTLOB FREGE E O ENSINO DA MATEMÁTICA
Lafayette de Moraes
Carlos Roberto Teixeira Alves
Gottlob Frege estava mergulhado no turbilhão
amedrontador que envolveu a matemática no final do século
XIX e começo do século XX, sendo arrastado pelas ondas e
também ajudando a girar os ventos da mudança. Queria-se
encontrar uma pátria para a matemática; afinal, ela era ou não
uma ciência?
Nessa época, Frege era professor na Universidade de
Jena, desde maio de 1874 (O’CONNOR e ROBERTSON, 2002),
onde começou como Privatdozen, um professor privado, pago
fora da folha oficial de salário da universidade. Ele tinha uma
vida reclusa em Jena, com mínimo contato com colegas e
mesmo com seus alunos, trabalhando com persistência, mas
de modo ausente de alarde. Não participava de congressos,
não fazia críticas a trabalhos externos, apenas cumpria a rotina
de seu serviço de professor, consumindo suas horas vagas em
seus projetos misteriosos. Seu único contato mais frequente,
que o punha a par de tudo o que ocorria no mundo da
matemática fora dos muros de Jena, era o filósofo Rudolf
Eucken, que viria a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura em
1908.
De sua residência reclusa de Jena não dava para ouvir
todo o estardalhaço que o mundo da matemática estava
240
sofrendo com as grandes transformações do ponto de vista
filosófico. Mas Eucken deve ter falado muito disso a Frege.
Este, por sua vez, devagar e em silêncio, tecia as páginas
significativas que iriam dar rumo ao esforço de grandes
matemáticos e filósofos para situar a matemática em um lugar
entre as ciências e orientar os métodos de didática da
matemática que culminariam na Matemática Moderna, que se
aprende hoje nos colégios, e faz dela uma linguagem
verdadeiramente universal, a mesma em todo lugar e
aprendida do mesmo modo, segundo as mesmas ideias, por
todos os alunos do mundo.
A CARREIRA EM JENA
Friedrich Ludwig Gottlob Frege nasceu em Wismar, no
estado de Mecklenburg, na Pomerânia, à época sob controle da
Suécia e que atualmente faz parte da Alemanha (O’CONNOR
e ROBERTSON, 2002), no ano da Primavera dos Povos, em
1848, quando os ventos da democracia obrigavam as velhas
monarquias europeias a adotarem constituições mais liberais.
Parece que a mãe de Frege, Auguste Bialloblotzky, era de
origem polonesa e que seu pai, Alexander Frege, mesmo
sendo de origem alemã, não era ainda assim de Wismar, mas
estava ali na época do nascimento de Frege a serviço, como
diretor de uma escola para garotas, direção que seria mais
tarde assumida por Auguste após a morte de Alexander, em
1866 (SLUGA, 1980, p. 41).
Frege ingressou na Universidade de Jena em 1869, uma
instituição pequena, mas que já tinha renome. Frege escolheu a
matemática, mas também cursou química e filosofia. Sua
capacidade foi logo notada por seu professor Ernst Abbe,
grande matemático. O apadrinhamento de Abbe foi
importante para a estabilidade da carreira de Frege dentro de
Jena (SLUGA, 1980, p. 41). O doutorado de Frege foi na
Universidade de Göttingen, em 1873, com a dissertação Über
241
eine geometrische Darstellung der imaginären Gebilde in der Ebene,
a respeito das leis que fundamentam parte da geometria
(O’CONNOR e Robertson, 2002). Na época, a prova de
habilitação para se ascender a um cargo de professor dentro
das universidades alemãs passava pela apresentação de uma
tese de habilitação. O cargo de Privatdozen veio com a tese de
habilitação Echnungsmethoden, die sich auf eine Erweitung des
Grössenbegriffes gründen, que tratava dos grupos abelianos149.
Em 1879, quando publicou o primeiro volume de sua grande
obra, o Begriffsschrift, eine der arithmetischen nachgebildete
Formelsprache des reinen Denkens (Notação conceitual, uma
linguagem formal modelada sobre a aritmética, para o
pensamento puro), conseguiu, por recomendação de Abbe, o
cargo definitivo de ausserplanmässinger Professor (SLUGA, 1980,
p. 42).
O DEBATE FILOSÓFICO EM TORNO DA MATEMÁTICA
Havia, no século XIX, uma tendência histórica para se
acreditar que o pensamento humano era naturalista. De fato,
de meados do séc. XVIII até o início do século XIX, ocorreu um
grande avanço nas pesquisas das ciências naturais, como a
biologia e a medicina, a partir da observação dos corpos que a
natureza fornecia. A tecnologia desse tempo, a energia motriz
do vapor, a teoria sobre os fluidos e sobre os gases, a
metalurgia, a química, tudo tirava seus resultados de uma
ciência experimental baseada na observação dos fenômenos
naturais. Seria uma consequência fácil situar todo pensamento
humano dentro de uma esfera naturalista. Mas, no caso da
matemática, as coisas não eram tão fáceis assim.
Um grupo abeliano é um grupo dentro do qual a relação entre os números permite a
comutação deles. Em geral, dizemos que é abeliano o grupo G de números onde a
149
relação * entre x e y, com {x, y} ∈ G, tal que x*y = y*x. Por exemplo, o grupo adição e o
grupo multiplicação são grupos abelianos, pois a + b = b + a e a · b = b · a.
242
Enquanto Frege mantinha-se isolado na pequena Jena,
um debate poderoso em torno da caracterização da ciência
alimentava os esforços de filósofos e cientistas em Paris, centro
intelectual do tempo. A pergunta fundamental era: a
matemática é ou não é uma ciência empírica?
Se a matemática fosse um tipo de geometria, bem, é
notável que a geometria de Euclides é muito empírica, baseada
em nossa observação natural do universo. Por exemplo, a
primeira definição do livro I dos Elementos de Euclides é a
definição de ponto: ponto é aquilo que não tem partes. Euclides
introduz a ideia de parte sem defini-la, porque o que concebe
como parte é uma divisão em porções menores, uma noção
meramente naturalista, baseada na observação cotidiana. Por
outro lado, na época de Frege, os matemáticos János Boilay
(húngaro) e Nikolai Lobatchevsky (russo) haviam inventado
novas geometrias, nas quais os postulados euclidianos do
paralelismo (base fundamental da geometria euclidiana) não
valiam e que – ao menos na época, antes da relatividade de
Einstein – era notável que essas novas geometrias não eram
naturais, mas puramente conceituais.
Se a matemática, então, fosse uma aritmética, bem, a
aritmética parecia ser bastante empírica também, pois
começava com a contagem dos objetos e os números naturais
pareciam ser fruto dessa contagem. No entanto, havia novas e
curiosas aritméticas, como a soma de números reais e números
imaginários. Os números imaginários eram puramente
conceituais, pois tinham como unidade o número √1. Mas
havia aritméticas muito boas e elegantes para esses números
imaginários, como os quatérnions de Hamilton.
Reduzir a matemática à geometria ou à aritmética
resultava no mesmo problema: a matemática era uma ciência
empírica ou era uma convenção linguística? Em termos
filosóficos, o que era a matemática: um realismo ou um
nominalismo?
243
Frege, nesse ponto, foi categórico: todos tinham dúvidas
em classificar a matemática porque ela ainda carecia de rigor
nas suas definições fundamentais. Ele disse:
Com a matemática eu comecei. Pareceu-me a necessidade
mais urgente melhorar os fundamentos dessa ciência. [...] A
imperfeição lógica da linguagem era um obstáculo para tais
investigações. Eu sugeri um remédio em meu Begriffsschrift.
Então, vim da matemática para a lógica (FREGE in SLUGA,
1980, p. 42).
O trabalho de Frege, então, foi tornar rigorosos os
fundamentos da matemática e, assim, facilitar sua
compreensão e estudo.
O RIGOR LÓGICO COMO TENDÊNCIA
Frege não era o único que pensava em um rigor para a
matemática, na época. Essa já era uma tendência em muitos
círculos, e ninguém foi tão bom nisso quanto foram os
matemáticos italianos. Um dos melhores matemáticos desse
grupo era Giuseppe Peano, da Universidade de Turim. Sua
habilidade era encontrar erros nas definições padrões, ou seja,
Peano tinha a incrível faculdade de estabelecer com rigor as
definições corretas de qualquer problema de matemática.
Peano começou em Turim uma escola de ‘rigorosistas’, que
enfatizavam a necessidade de estabelecer com clareza e com
um mínimo de linguagem as bases de todo problema.
Peano começou, então, na década de 1880, seu projeto de
reduzir a matemática toda à aritmética. Para isso, seria
necessário estabelecer os fundamentos da aritmética. Foi o que
Peano fez, lançando seus cinco axiomas, os Axiomas de Peano.
As notícias sobre Peano começaram a correr pelos
círculos matemáticos da Europa. Mas, a fama do Grupo de
Peano (que incluía os matemáticos Giovanni Vailati, Cesare
Burali-Forti, Mario Pieri e Gino Fano) veio com o Congresso
244
Internacional de Filosofia de Paris, que abriu em 1º de agosto
de 1900. O matemático e filósofo inglês Bertrand Russell
estava no Congresso e ficou impressionado com a sagacidade
da equipe de Peano. Sempre os argumentos do grupo de
Peano eram os mais concisos e os mais exatos, tinham um
rigor invejável, seus argumentos eram inferidos de modo
elegante e simples, e eles sempre encontravam com extrema
facilidade os erros nos argumentos dos adversários, como
também conseguiam estabelecer o argumento preciso para
vencerem todas as questões. Russell reconheceu que a força do
Grupo de Peano estava na notação matemática rigorosa que
haviam criado. Russell, em sua autobiografia, tomou aquilo
como uma revelação: o caminho estava na lógica, o problema
se resolvia todo na lógica. O grande projeto então seria reduzir
a matemática a uma lógica rigorosa e eficaz. Russell passaria a
buscar os manuais e textos que tratasse de uma aplicação
efetiva de um rigor lógico sobre a matemática. E, assim,
acabou por saber do trabalho de Frege.
Não vamos entrar aqui no mérito de Russell, de como ele
encontrou aquela antinomia perniciosa que atrapalhou
severamente o projeto de Frege. Não há espaço aqui para
expormos toda a teoria matemática por trás do Paradoxo do
Barbeiro de Sevilha. Nem é esse o tema deste trabalho. Aqui
vamos nos ocupar da grande contribuição de Frege para o
ensino da matemática, a partir da concepção de uma
linguagem matemática rigorosa.
O LOGICISMO
Frege conhecia o trabalho de Peano desde antes do
Congresso de Paris de 1900. Percebeu no projeto de Peano que
a matemática estava sendo reduzida a uma aritmética, o que
era bom, pois eliminava toda geometria e afastava as
concepções muito vagas de Euclides. A redução da Aritmética
a cinco pequenos axiomas e a redução da matemática a essa
245
aritmética enxuta estava exatamente no rumo pretendido por
Frege. Uma simbologia rígida, precisa, bem definida e
facilmente manipulada segundo regras claras de inferência. A
isso poderia ser reduzida a matemática. Esse projeto ficou
conhecido como tese logicista ou logicismo.
O logicismo foi enunciado pela primeira vez por Frege e,
depois, redescoberto independentemente por Russell, que com
Whitehead escreveu o Principia Mathematica, com o objetivo de
efetivar o logicismo (BARKER, 1969, p. 107). Em linhas gerais,
essa tese logicista ensinava que havia uma relação entre a
aritmética, juntamente com todo o restante do edifício
matemático, e a lógica. Mas não poderia ser a lógica de
Aristóteles. Seria necessária uma lógica mais ampla,
extremamente formalizada (isto é, baseada em símbolos) e
rigorosa (com definições precisas). O projeto, então, exigia que
todos os símbolos não-lógicos da Teoria dos Números fossem
definidos com rigor, de modo que não se pudesse confundir
dois símbolos ou ter uma interpretação ambígua de qualquer
deles. Assim, seria necessário definir rigorosamente aquelas
expressões usadas por Peano, como sucessor imediato, zero, etc.,
que não têm a natureza lógica das conexões, como a soma (+)
ou o produto (x). Em outras palavras, seria necessário criar
uma lógica que fornecesse definições de onde se pudesse
deduzir todos os Axiomas de Peano (BARKER, 1969, p. 107108).
Desse modo, Frege pretendeu uma matemática toda
baseada em uma teoria dos números, cujo cerne seria uma
teoria dos números naturais, segundo os Axiomas de Peano.
Conhecer e estudar matemática passava por um aprendizado
da ideia e da natureza do que é um número.
246
O APRENDIZADO DA MATEMÁTICA A PARTIR DA IDEIA DE
NÚMERO
Frege preocupou-se com o ensino da matemática,
porque ele sabia do esforço genial que muitos matemáticos
faziam para subirem de nível a partir de um conhecimento
historicamente precário e confuso das noções básicas da
matemática. Ele criticou o modo displicente e presunçoso com
que se trata a noção básica de toda matemática, a noção de
número inteiro:
Tanto é o conceito de número inteiro positivo tomado como
livre de qualquer dificuldade, que se imagina possível tratá-lo
de maneira cientificamente completa e adequada a crianças,
cada uma delas podendo conhecê-lo precisamente sem
maiores reflexões e sem se familiarizar como que outros
pensaram a seu respeito. Falta, portanto, frequentemente
aquele primeiro pré-requisito da aprendizagem: o saber do
não saber (FREGE, 1980, p. 200).
Só é possível ensinar direito a partir de um aprendizado
bem feito. O ensino da matemática, para Frege, não pode ser
confundida com uma ‘genealogia dos processos primitivos até
os modernos algoritmos’. Não se pode ‘imaginar’ as fases
primitivas da matemática e querer ensinar crianças fazendo
uma analogia entre essas hipotéticas fases primitivas e as
idades das crianças (FREGE, 1980, p. 202):
O que dizer então daqueles que, ao invés de prosseguir este
trabalho onde ele não aparece ainda realizado, o
menosprezam, se dirigem ao quarto das crianças ou se
transportam para as mais antigas fases conhecidas de
desenvolvimento da humanidade, a fim de lá descobrir, como
J. S. Mill, algo como uma aritmética de pãezinhos e pedrinhas!
Falta apenas atribuir ao sabor do pão um significado
particular para o conceito de número150.
Frege está se referindo à seguinte passagem da obra de Mill (as sílabas em itálico
são de Mill) [MILL, 1974, p. 256]: “A expressão ‘duas pedrinhas e uma pedrinha’ e a
150
247
Ensinar matemática, então, não é ensinar uma História
dos processos matemáticos, mas ensinar as definições
fundamentais de modo claro, para se evitar confusões e
ambiguidades posteriores que viriam de uma interpretação
psicológica do que seria a natureza dos números. Frege
escreveu:
De resto, também em manuais de matemática aparecem
expressões psicológicas. Quando alguém se sente na obrigação
de fornecer uma definição sem ser capaz de fazê-lo, procura
ao menos descrever a maneira como pode chegar ao objeto ou
conceito em questão (FREGE, 1980, p. 203).
Um exemplo típico disso pode ser visto nestas gravuras
que seguem, tiradas de um livro didático elementar, típico
manual de ensino inicial de aritmética para crianças, usado nas
escolas norte-americanas nos meados do século XIX.
expressão ‘ três pedrinhas’, representam o mesmo estado físico. Eles são nomes dos
mesmos objetos, mas desses objetos em dois estados diferentes: embora denotem as
mesmas coisas, sua conotação é diferente”. Mill retorna ao problemas das pedrinhas
mais adiante e diz que cada nome de número denota um fenômeno físico e conota
uma propriedade física desse fenômeno (MILL, 1974, p. 256), e acrescenta (MILL,
1974, p. 611): “Que coisa é, então, que é conotado pelo nome de um
número? Naturalmente, alguma propriedade pertencente ao aglomerado de coisas
que chamamos pelo nome, e essa propriedade é a maneira característica de que a
aglomeração é composta, e pode ser separada de parte.”
248
249
Figura 1 e 2 – Livro didático de matemática de meados de século XIX, EUA
(First book in arithmetic de Milton Browning Goff [1831-1890], fonte:
http://digital.library.pitt.edu/n/nietz/, acessado em jul/2011). As crianças
aprendem aqui, na página 1 do livro, que os números são quantidades de
coisas. Na página 11 do livro as crianças aprendem uma analogia entre a
linguagem natural e a simbologia matemática, levando para dentro da
aritmética as ambigüidades da compreensão da linguagem natural. Ainda
mais: os alunos são convidados a entender que uma operação entre
números é uma operação entre quantidades.
250
Note como os números são meramente uma contagem
de coisas (depois o aluno aprende a somar ‘quantidades’ de
um mesmo objeto como as contas de um ábaco).
Frege critica severamente esse modo empirista de
encarar a Teoria dos Números. Uma verdadeira aritmética deve
ser livre de interpretações segundo ‘pontos de vista’. Ela
deverá ser analítica, ser óbvia e limitada a um único modo de
ser descrita. Ele escreveu:
A maioria dos matemáticos em investigações desta natureza
contentam-se em satisfazer suas necessidades imediatas. Se
uma definição presta-se de bom grado às demonstrações, se
em nenhum momento esbarra-se em contradições, se conexões
entre temas aparentemente distantes entre si deixam-se
perceber, e se deste modo resulta uma ordem e regularidade
superiores, costuma-se então considerar a definição
suficientemente estabelecida, indagando-se pouco por sua
legitimidade lógica. Este procedimento tem, em todo caso, o
mérito de não facilitar o desvio completo com respeito aos
fins. Também eu sou de opinião que as diferenças devem ser
confirmadas por sua fecundidade, pela possibilidade de com
elas serem conduzidas demonstrações. Mas deve-se atentar
bem ao fato de que o rigor de uma demonstração permanece
ilusório, ainda que a cadeia de raciocínio não tenha lacunas,
enquanto
as
definições
apenas
justificarem-se
retrospectivamente, por não se ter esbarrado em nenhuma
contradição. Portanto, tem-se sempre obtido de fato apenas
uma certeza empírica, e deve-se estar sempre preparado para
encontrar por fim ainda uma contradição que faça
desmoronar todo o edifício. Por isso acreditei dever remontar
aos fundamentos lógicos gerais um pouco mais do que a
maioria dos matemáticos talvez julgue necessário. Nesta
investigação ative-me firmemente aos seguintes princípios:
deve-se separar precisamente o psicológico do lógico, o
subjetivo do objetivo; deve-se perguntar pelo significado das
palavras no contexto da proposição, e não isoladamente; não
se deve perder de vista a distinção entre conceito e objeto.
Para obedecer ao primeiro princípio empreguei a palavra
representação sempre em sentido psicológico, e distingui as
representações dos conceitos e objetos. Se não se observa o
segundo princípio, fica-se quase obrigado a tomar como
251
significado das palavras imagens internas e atos da alma
individual, e deste modo a infringir também o primeiro.
Quanto ao terceiro ponto, não passa de ilusão pretender que
seja possível converter um conceito em objeto sem alterá-lo
(FREGE, 1980, p. 204).
Após uma longa exposição, em que critica os pontos de
vista anteriores de outros matemáticos e filósofos a respeito da
aritmética, e após apresentar o seu entendimento a respeito do
que considera ser a aritmética em si mesma, Frege conclui
assim151:
§ 87. Espero ter neste escrito tornado verossímil que as leis
aritméticas sejam juízos analíticos, e consequentemente a
priori. A aritmética seria, portanto, apenas uma lógica mais
desenvolvida, cada proposição aritmética uma lei lógica,
embora derivada. As aplicações da aritmética à explicação da
natureza seriam elaborações lógicas de fatos observados106;
calcular seria deduzir. As leis numéricas não necessitariam,
como acredita Baumann107, de confirmação prática para serem
aplicáveis ao mundo exterior; pois no mundo exterior, na
totalidade do espacial, não há conceitos, propriedades de
conceitos e números. Portanto, as leis numéricas não são
propriamente aplicáveis às coisas exteriores: não são leis da
natureza. São, porém, aplicáveis a juízos que valem para
coisas do mundo exterior: são leis das leis da natureza. Não
acertam uma conexão entre fenômenos da natureza, mas uma
conexão entre juízos; e entre estas incluem-se também as leis
da natureza (FREGE, 1980, p. 267).
Aritmética é pura linguagem, resolvida no âmbito de
uma linguagem rigorosa, sem nada de empírico a considerar.
Ensinar aritmética é ensinar os algoritmos que permitam
inferências a partir de uma quantidade discreta de símbolos.
Aritmética é manipulação de símbolos segundo leis lógicas.
151 As notas 106 e 107 que aparecem no trecho são do próprio Frege. Na nota 106, ele
acrescenta que “a própria observação já implica uma atividade lógica”. Na nota 107,
ele faz referência à obra de Baumann: “Baumann, Die Lehren von Zeit, Raum und
Mathematik, vol. II, p. 670”.
252
CONSEQUÊNCIA DO FORMALISMO DE FREGE: A DIDÁTICA DA
MATEMÁTICA MODERNA
É assumido na história da filosofia que Frege foi o
fundador da Filosofia Analítica, que via a solução dos
problemas filosóficos e científicos em uma estruturação
rigorosa da linguagem, em uma lógica forte. Russell,
Wittgenstein, Carnap e Whitehead são alguns dos outros
nomes dessa linha de pensamento. É claro que o projeto
analítico não vingou universalmente, como queriam seus
fundadores, mas ao menos vingou na matemática. O
progressivo formalismo a que foi submetida a matemática
levou ao estruturalismo da Escola de Bourbaki, na década de
1950-60. Todos os livros didáticos de matemática seriam
escritos, a partir da década de 1970, seguindo esse formalismo
rígido, começando pelos conjuntos das Teorias dos Números,
base fundamental da aritmética conforme foi a proposta de
Frege. George Steiner já escrevia, em 1958, que havia uma crise
da linguagem poético-literário, que na ciência e na matemática
o discurso preferido era o formal, simbólico e rigoroso, e
apontou como a matemática, depois do grande movimento
formalista que se iniciou no fim do século XIX, tornou-se
desprovida totalmente de empirismo (STEINER, 1988, p. 3233):
É no curso do século XVII que significativas áreas da verdade,
da realidade e da ação afastam-se da esfera da manifestação
verbal. De modo geral, é correto dizer que, até o século XVII, o
enfoque e o conteúdo predominantes nas ciências naturais
eram descritivos. A matemática tem uma longa e brilhante
história da notação simbólica; mas até mesmo a matemática
era a representação taquigráfica de proposições verbais
aplicáveis ao arcabouço da descrição linguística e
significativas no interior deste. O raciocínio matemático, com
algumas exceções que se puderam notar, estava estribado nas
condições materiais da experiência. Estas, por sua vez, eram
ordenadas e governadas pela língua. Durante o século XVII,
253
isso deixou de ser a regra geral, iniciando-se uma revolução
que transformou para sempre o relacionamento do homem
com a realidade e alterou, de modo radical, as formas de
pensar.
Com a formulação da geometria analítica e da teoria das
funções algébricas, com o desenvolvimento do cálculo por
Newton e Leibniz, a matemática deixa de ser uma notação
dependente, um instrumento do empírico. Converte-se em
uma linguagem fantasticamente fecunda, complexa e
dinâmica. E a história de tal linguagem caracteriza-se pela
progressiva intraduzibilidade. Ainda é possível verter para
equivalentes verbais, ou ao menos para estreitas
aproximações, os processos da geometria clássica e da análise
funcional clássica. Depois que a matemática se torna moderna,
contudo, e começa a demonstrar sua enorme capacidade de
concepção autônoma, tal tradução torna-se cada vez menos
possível. As grandes arquiteturas de forma e de significado
concebidas por Gauss, Cauchy, Abel, Cantor e Weirstrass
afastam-se da linguagem em um ritmo sempre crescente. Ou,
mais exatamente, exigem e desenvolvem linguagens próprias
tão articuladas e complexas como aquelas do discurso verbal.
E entre essas linguagens e as de uso comum, entre o símbolo
matemático e a palavra, as pontes ficam cada vez mais frágeis,
até por fim desmoronarem.
O grande mérito de Frege, então, foi ter iniciado a
instalar os trilhos que construiriam essa linguagem que é
típica da matemática e que a Escola de Bourbaki levaria para
dentro dos manuais escolares de matemática, conhecida como
Matemática Moderna. Há bastante crítica de pedagogos a
respeito desse formato. Aqui não é o lugar desta discussão. Só
para encerrar esse viés didático, cabe citar Maria Bicudo e
Antonio Garnica (2003, p. 55):
O texto matemático tem um estilo que o diferencia de
qualquer outro texto. Construído a partir de uma gramática
254
própria, a Lógica Matemática, e explicitado com os recursos
de uma linguagem artificial, no sentido de ser constituída por
símbolos que pretensamente dispensam semântica, o texto
matemático é apresentacional no sentido de ocultar os
caminhos de elaboração das argumentações nele expostas. Retraçar (sic) essa trajetória de construções é um dos papéis que
alunos e professores têm à frente. Para esse re-traçar sugerese, então, um trabalho hermenêutico do texto matemático para
as salas de aula.
Como professor, Frege sofria com seu novo modo de
encarar a matemática, a lógica e o ensino desse conhecimento.
Em 1922, um novo administrador da Universidade de Jena,
Max Vollert, investigou a eficiência das aulas de Frege
(MILKOV, 2001, p. 563). Muitos professores de filosofia
tinham Frege em alta conta, sabiam que ele estava ensinando
algo muito importante, a ponto de mandar seus filhos
frequentarem as aulas dele, mas ninguém entendia o que ele
estava fazendo. Ele tinha poucos alunos, pois os estudantes
tinham grande dificuldade em acompanhar seu raciocínio.
Max Vollert concordava que ele era um professor
inteligentíssimo, isso era fora de questão, por isso Frege
continuava professor em Jena. Mas Frege viveu, já em seu
tempo de professor, as dificuldades que aquele rigor impunha,
as exigências que fazia: uma mente muito preparada para
entender a manipulação e o jogo de símbolos que, por culpa
de Frege, a matemática se tornaria nos séculos XX e XXI.
REFERÊNCIAS
BARKER, S. F. Filosofia da Matemática. Rio de Janeiro: Zahar Editores,
1969.
BICUDO, Maria A. V. e GARNICA, Antonio V. M. Filosofia da Educação
Matemática. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2003.
255
FREGE, G. Os fundamentos da aritmética. In: Frege. Seleção e tradução de
Luís Henrique dos Santos. 2. ed. São Paulo: Abril Cultural, Col. Os
Pensadores, 1980.
MILKOV, N. Frege in context. British Journal for the History of Philosophy
9(3), 2001, p. 557–570.
MILL, J. S. The Collected Works of John Stuart Mill, Volume VII - A
System of Logic Ratiocinative and Inductive, Being a Connected View of
the Principles of Evidence and the Methods of Scientific Investigation
(Books I-III). ed. John M. Robson, Toronto: University of Toronto Press,
London: Routledge and Kegan Paul, 1974.
O’CONNOR, J. J. e ROBERTSON, E. F. Friedrich Ludwig Gottlob Frege,
artigo biográfico, 2002. Disponível em: http://www-history.mcs.standrews.ac.uk/Biographies/Frege.html, consultado em jul/2011.
_______. Giuseppe Peano, artigo biográfico, 2000. Disponível em:
http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Peano.html,
consultado em jul/2011.
SLUGA, H. D. Gottlob Frege (coleção The Arguments of the Philosophers)
editor: Ted Honderich, Routledge & Kegan Paul, London, Boston and
Henley, 1980.
STEINER, G. Linguagem e Silêncio – ensaios sobre a crise das palavras.
Gilda Stuart e Felipe Rajabally tradutores, Companhia das Letras, 1988.
256
Capítulo 14
NIETZSCHE: PARA UMA PEDAGOGIA DA AMIZADE
Jelson Roberto de Oliveira
Pretende-se, neste texto, mostrar como, partindo de um
diagnóstico da crise educacional e cultural de seu tempo, o
filósofo alemão Friedrich Nietzsche estabelece um novo papel
para a educação, o cultivo de si, fazendo da pedagogia uma
atividade estética. Para isso, analisa-se o papel pedagógico da
solidão como forma de cultivo de homens nobres, em
contraposição à vulgarização da cultura moderna, e chega-se à
noção de amizade como espaço experimental, único ambiente
no qual o projeto de renovação da cultura se torna factível.
FILISTEÍSMO E JORNALISMO: A VULGARIZAÇÃO DA CULTURA
MODERNA
Nietzsche tem um grande interesse pelo tema da
educação desde os seus primeiros escritos, seja porque ele
mesmo se reconhece como fruto dela, seja porque acredita que
ela desempenha um papel relevante no processo de renovação
cultural. Esse interesse explicita-se em textos como as
Considerações extemporâneas, principalmente a primeira, Sobre o
futuro dos nossos estabelecimentos de ensino, e a terceira,
Schopenhauer como educador, proferidas na Akademisches
Kunstmuseum, em Basiléia, no ano de 1872. O tom geral desses
textos de juventude não só fazem de Nietzsche um filósofo da
257
educação ou um professor preocupado com o seu papel
sociocultural mas, sobretudo, demonstram a sua inquietação
teórica com a crise educacional e cultural de seu tempo,
marcado, segundo ele, pelo “filisteísmo cultural” ou pela
“cultura jornalística”, que conduziram a sociedade moderna às
raias da banalização. Se a reflexão nietzschiana nesse
momento doa à Filosofia um papel importante, ela também
parte de um diagnóstico: “todo filosofar é restringido a uma
aparência de erudição” (FT, 2)152 sem que seja cumprida a sua
exigência maior, que é “viver filosoficamente” (FT, 2). O
filisteísmo cultural, termo do qual Nietzsche reivindica a
autoria, se contrapõe, portanto, “aos filhos das musas, aos
artistas, aos autênticos homens da cultura” (Co. Ext. I, 2), que
seriam os responsáveis pela separação entre vida e
pensamento, tornando a educação um processo de
nivelamento e vulgarização da cultura.
Contra esse processo, Nietzsche esboça, com cada vez
mais força, a ideia de uma cultura superior, baseada na
Filosofia e nas Artes, e para a qual a educação teria um papel
preponderante. Distanciando-se do espírito utilitário que
tomara conta do ambiente educacional e levara ao
enfraquecimento da cultura, como resultado nefasto do projeto
de universalização da educação pela via da intervenção do
Estado, cujo crescimento foi amplamente favorecido pelo
projeto iluminista, Nietzsche tenta retomar uma espécie de
erudição aristocrática que não se deixa render pela utilidade,
152 Nesse capítulo, usaremos as siglas convencionais para citação dos escritos de
Nietzsche: FT (A Filosofia na época trágica dos gregos); Co. Ext. I (Primeira Consideração
Extemporânea – Sobre o futuro dos nossos estabelecimentos de ensino); Co. Ext. III (Terceira
Consideração Extemporânea – Schopenhauer como Educador); HH (Humano, Demasiado
Humano); A (Aurora); GC (A Gaia Ciência); KSA (Sämtliche Werke. Kritische
Studienausgabe - edição crítica em 15 volumes, organizada por Giorgio Colli e Mazzino
Montinari – a sigla será seguida do número do volume, número do fragmento, ano de
escrita e página da edição); BM (Além de Bem e Mal); CW (O Caso Wagner); EH (Ecce
Homo); CI (Crepúsculo dos Ídolos). Seguindo as letras, para as obras publicadas,
constarão os números arábicos referentes ao número do aforismo da obra.
258
mas se beneficia da aristocracia espiritual predefinida pela
própria natureza. De um lado, Nietzsche expõe um
diagnóstico contundente que aponta os resultados maléficos
da extensão da educação e da cultura para todos; de outro, ele
evidencia a urgência de que a Filosofia e as Artes sejam
retomadas como experiências existenciais. A Filosofia é a
estratégia contra a divisão do trabalho científico que passou a
marcar a educação como um ensinar por disciplinas,
atomizando e fragmentando o saber. O exemplo contrário é a
cultura clássica, na qual a Filosofia garantia a unidade entre
conhecimento e vida, cultura e natureza. A mera erudição
jamais seria capaz de ver e tratar os verdadeiros problemas da
cultura, os mais profundos. Só uma educação aristocrática,
baseada na Filosofia, que valorizasse e promovesse a liberdade
espiritual em alto grau, poderia oferecer alguma saída para a
crise cultural. Para isso, o saber deveria ser despido de sua
erudição esvaziada e deveria ser vivido como experiência
vital. É como vida que o conhecimento retomaria o seu caráter
transformador e efetivo, dirigindo-se para o estabelecimento
de castas intelectuais que realizariam assim a tarefa da
educação.
É claro que as ideias de Nietzsche podem soar bastantes
esdrúxulas para um tempo, como o nosso, no qual a educação
é anunciada como direito de todos e dever do Estado. O
filósofo alemão é bastante conhecido pelo uso frequente de
uma linguagem dura e intensa para compensar a solidez com
que os valores estão impregnados na sociedade. Ele acredita
que sua luta pela renovação da cultura precisa interferir e
desacomodar e, para isso, o modo de expressão de sua
filosofia também vai se fazendo cada vez mais cortante,
incisivo e perigoso. O que talvez seja evidente em seus textos
sobre a educação, entretanto, seja o diagnóstico (mesmo que
discordemos de sua receita), que é também uma denúncia que
faz ver o quanto, por detrás dos discursos oficiais que tentam
garantir educação para o maior número de pessoas possível,
259
esconde-se um processo de empobrecimento da cultura. Em
outras palavras: as políticas governamentais de promoção da
educação prezam pela quantidade e bem pouco pela
qualidade; o que é para todos acaba sendo desqualificado,
fraco e nivelado. Enquanto se entretém o povo com pouco, a
velha elite (que nem sempre é uma elite espiritual) acaba por
se alojar em núcleos educacionais de razoável qualidade, lugar
a partir de onde implementa sua estratégia de domínio. Ao
denunciar esse modelo, Nietzsche também explicita como essa
elite econômica ainda não é uma elite cultural e que a ideia de
uma “aristocracia espiritual” nada tem a ver com esse tipo de
sistema social de dominação pela via do poder político ou das
benesses econômicas. O modo de pensar nietzschiano sempre
se manteve avesso a essa hipótese. Sua preocupação é com a
mediocridade cultural promovida por esses grupos políticos e
econômicos que se mantém num status quo ainda de forma
grosseira, ao qual chamam de verdadeira cultura ou de cultura
nacional. Isso não passaria de uma mentira erudita.
SOBRE O PRESENTE DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
O nivelamento cultural diagnosticado por Nietzsche, no
seu tempo, seria resultado do fato de que a cultura perdera
sua relação com a natureza e a vida, no sentido de que se
tornara meramente um acúmulo de informações a serviço do
estado ou do mercado e reduzira-se a formar profissionais,
funcionários e técnicos, e não verdadeiros homens livres.
Faltam os guias espirituais e sobram os mestres sem vocação,
os meros funcionários do saber e “filisteus da cultura” (Co.
Ext. III, 3). Como mero eruditismo, a sabedoria se tornou
simples acúmulo utilitarista de saberes desconectados e
estéreis. Nietzsche, ao valorizar a Filosofia e as Artes (ao invés
do historicismo e do jornalismo dominantes), pretende
resgatar o verdadeiro papel da educação: educar é ensinar o
além-do-homem, no sentido de promover a criação e a
260
superação de si; é despertar os sentidos para elevação da
cultura; é afirmar a tragicidade da vida e preparar para lidar
com ela; é educar para o raro, o excepcional e o superior.
Para que isso seja possível, o filósofo mostra a urgência
de um novo modelo educacional, uma nova academia, que se
dedique à formação dos mestres cultivados na solidão e
experimentados em relações amistosas, cuja efetividade não
pode se dar em todos os homens, mas naqueles que a natureza
dotou dessas possibilidades. A educação não é mera instrução
ou atividade de repasse de informações, mas uma espécie de
estética de si, na qual os indivíduos são auto-formados a partir
das vivências mais próprias.
A reflexão de Nietzsche parte de uma constatação: a
educação ocorre pelo esforço e pela disciplina e exige boa dose
de rigor, aspereza e severidade, como antídotos “à indolência,
o comodismo, em suma, esta propensão à preguiça” (Co. Ext.
III, 1), que age na maioria dos indivíduos: “Ao ser perguntado
que natureza encontrou nos homens em todos os lugares, o
viajante que viu muitos países e povos e vários continentes
respondeu: eles tem uma propensão à preguiça” (Co. Ext. III,
1). No geral, os homens, afirma Nietzsche, se deixam levar
pelos costumes e pelas opiniões, temendo “os aborrecimentos
que lhes seriam impostos por uma honestidade e uma nudez
absolutas” (Co. Ext. III, 1). Viver com “modos emprestados e
opiniões postiças” (Co. Ext. III, 1) é viver segundo o rebanho,
sem coragem de se tornar aquilo que se é, esquecendo-se que
“todo homem é um milagre irrepetível” (Co. Ext. III, 1), que o
homem é “novo e incrível como todas as obras da natureza e
de maneira nenhuma tedioso” (Co. Ext. III, 1). Por preguiça o
homem deixa a si mesmo em reserva, despoja-se de seu gênio,
vive “fora do seu eixo”, alimentando-se de “opiniões
recebidas” e “fantasias frouxas”, matando o tempo e
ocupando-se com banalidades.
“Viver segundo a nossa própria lei e conforme a nossa
própria medida” (Co. Ext. III, 1) passa a ser o papel reservado
261
a cada indivíduo humano e por ele passa a verdadeira
educação. Todo processo educativo não é outro senão aquele
que cria a emancipação do rebanho, a coragem de desprenderse, de assumir a responsabilidade pela própria existência, de
não jurar obediência a não ser a si mesmo: “ninguém pode
construir no teu lugar a ponte que te seria preciso tu mesmo
transpor no fluxo da vida – ninguém, exceto tu” (Co. Ext. III,
1). A educação é essa “empresa penosa e perigosa de cavar em
si mesmo e descer à força, pelo caminho mais curto, aos poços
do próprio ser” (Co. Ext. III, 1). As metáforas arquitetônicas da
escavação e da construção de pontes servem de símbolo para a
transposição (como superação) e a escada (como
aprofundamento). Superar a si mesmo é lidar com o fluxo do
rio heraclitiano que escorre sob os nossos pés como sinal da
vida que não cessa e que exige algum tipo de arte como
atividade estética de dar forma e figuração estética ao que não
se deixa fixar. É descer ao oco de si mesmo para revisitar as
opções próprias, a se “despojar setenta vezes das sete peles”
(Co. Ext. III, 1) que recobrem, como invólucro, o homem em
sociedade. Trata-se de um risco de ferimento tão grave “que
nenhum médico poderia curá-lo” (Co. Ext. III, 1).
EDUCAÇÃO COMO LIBERTAÇÃO E O PAPEL EMANCIPATÓRIO DA
ARTE
Para esse processo perigoso e arriscado, Nietzsche
requisita a educação:
Teus verdadeiros educadores, aqueles que te formarão, te
revelam o que são verdadeiramente o sentido original e a
substância fundamental da tua essência, algo que resiste
absolutamente a qualquer educação e a qualquer formação,
qualquer coisa em todo caso de difícil acesso, como um feixe
compacto e rígido: teus educadores não podem ser outra coisa
senão teus libertadores (Co. Ext. III, 1).
262
Como processo de libertação, a educação não leva ao
homem o que ele não tem, mas desvela nele aquilo que ele tem
e que fora negado pela pressão do rebanho que tenta reduzir o
que é próprio ao nível do que é comum e vulgar. É esse próprio
que resiste à educação, que quer nivelar e tornar igual e que se
torna, por isso mesmo, o motivo central de outro modo de
pensar e educação, como uma atividade artística de libertar o
homem em si mesmo, de alforriar esse seu próprio, como o seu
essencial, recusando tudo o que é artificial ou artefato: “E eis aí
o segredo de toda formação, ela não procura os membros
artificiais, os narizes de cera, os olhos de cristal grosso” (Co.
Ext. III, 1). Esse tipo de educação constrói uma imagem falsa e
degenerada do homem e faz de toda a cultura uma peça de
horrores, tédio e cansaço.
Ao contrário, aquela outra educação é somente libertação,
extirpação de todas as ervas daninhas, dos dejetos, dos vermes
que querem atacar as tenras sementes das plantas, ela é efusão
de luz e calor, o murmúrio amistoso da chuva noturna; ela é
imitação e adoração da natureza, no que esta tem de maternal
e misterioso, ela consuma a natureza quando, conjurando os
acessos impiedosos e cruéis, os faz levar a bom termo, quando
lança o véu sobre suas intenções de madrasta e as
manifestações de sua triste cegueira (Co. Ext. III, 1).
É como libertação que a educação se torna uma espécie
de jardinagem, que retira as ervas daninhas sem anular o que é
próprio, mas, ao contrário, consumando o que é natural.
Nietzsche reconhece, na tradição educativa do Ocidente,
justamente, a tentativa vã de anular aquilo que é natural e
humano, demasiado humano. Esse modelo educativo não só não
alcançou esse objetivo, como também levou o homem ao
adoecimento e ao enfraquecimento. Ao pensar num novo
modelo de educação e ao associá-la a uma atividade estética,
Nietzsche destaca o papel de canalizar artisticamente os
aspectos negativos, impiedosos e cruéis, levando-os “a bom
263
termo”. Ao invés de anular, canalizar, portanto: a educação é
um exercício de jardinagem, que liberta no homem a sua
natureza própria, favorecendo o seu crescimento como forma
de disponibilizar mais material para a sua arte. Crescidas, as
plantas podem ser moldadas com mais criatividade e engenho.
Nessa tarefa, Nietzsche é radicalmente anti-platônico, se
pensarmos na posição do filósofo grego, por exemplo, no livro
X da República, para quem os poetas (e os artistas em geral)
não teriam lugar na sociedade ideal porque eles afastam o
homem da verdade, agem sobre a componente irracional da
alma e levariam o homem a assumir comportamentos
desmedidos e imorais. A arte deveria ser condenada porque
suscita as paixões que deveriam ser abafadas, encanta e ilude a
alma, libertando-a da dor, não porque a elimina, mas porque a
esconde e faz esquecer. A arte comunica o erro, sendo uma
forma de magia sobrenatural. Não só Nietzsche, ao contrário
de Platão, valoriza a arte no processo educativo, mas,
sobretudo, a valoriza justamente por aquilo que ela tem de
condenável para Platão: o entusiasmo e a embriaguez. A força
emancipatória da arte estaria ligada, em Nietzsche, a essa
capacidade de escapar dos freios racionais153 que são, em si
mesmos, rédeas de nivelamento que padronizam os
comportamentos e vulgarizam e anulam as verdades mais
próprias de cada ser.
Ora, é preciso notar que tanto a referência a Homero
como educador de toda a Grécia, como a censura ao
No Íon, Platão escreve: “Assim também a Musa: só a Musa forma os inspirados, e
por meio desses constitui uma cadeia de outros, tomados pela inspiração divina.
Todos os bons poetas épicos, não pela sua arte, mas porque possuídos e inspirados
pela divindade, exprimem todos aqueles belos cantos seus, assim como os bons poetas
mélicos; e, como aqueles agitados por furor coribântico, dançam, tendo perdido todo
freio racional, assim os mélicos, perdido todo o freio racional, compõem aquelas suas
belas poesias. Apenas alcançam uma harmonia e um ritmo, agitam-se todos por um
furor báquico possuídos pela divindade; e como bacantes que chegam a rios de mel e
leite, quando são possuídos pela divindade, tendo então perdido toda a razão, assim a
alma dos poetas mélicos – o que eles mesmos contam” (PLATÃO, Íon, 533e-504a.)
153
264
tratamento que ele conferia aos deuses e heróis, tem por trás
de si uma tradição muito anterior a Platão. Xenófanes já
reconhecia que, “desde o início, todos aprenderam seguindo
Homero” (1996, p. 70, Frag. 10), reconhecimento que não o
impede de criticar o conteúdo de tais ensinamentos: “Tudo aos
deuses atribuíram Homero e Hesíodo, tudo quanto entre os
homens merece repulsa e censura, roubo, adultério e fraude
mútua” (1996, p. 70, Frag. 11). Heráclito, por sua vez, censura
Homero em termos ainda mais ásperos: “Homero merecia ser
expulso dos certames e açoitado, e Arquíloco igualmente”
(1996, p. 89, Frag. 42). Diógenes Laércio também relata que
Heráclito costumava dizer que “Homero merecia ser afastado
dos concursos a pauladas, como também Arquíloco”. Segundo
o mesmo Diógenes Laércio, Xenófanes “escreveu versos
épicos, elegias e jambos contra Hesíodo e Homero e se fez
censor de suas afirmações sobre os deuses” (IX, 18). Sexto
Empírico dá uma versão de versos atribuídos a Xenófanes: “Os
deuses são acusados por Homero e Hesíodo de tudo o que
entre nós é vergonhoso e repreensível e vemo-los cometer
roubo, adultério e empregar entre eles a mentira”. No geral,
esses depoimentos dão conta da importância da poesia para a
educação grega mas, ao mesmo tempo, testemunham a
mudança de concepção que atinge seu auge na condenação
dirigida por Platão à poesia e ao poder inebriante da palavra,
segundo ele a maior representante do pensamento do vulgo,
dos que não pensam, dos oportunistas e demagogos. Cultura
essa que repousava em grande parte sobre as palavras dos
poetas, que gozavam de um imenso prestígio e que eram
frequentemente utilizadas para nortear a vida e a ação política
dos cidadãos. A condição dessa crítica, obviamente, tem a ver
com o processo de laicização da palavra, que perde
gradativamente seu tom de sacralidade na pólis grega. Se antes
a palavra poética era inquestionável, o projeto socrático
pretende levar os jovens a não admitir as palavras que lhes são
transmitidas sem submetê-las ao exame da razão.
265
A razão, para Platão, é o que estimula o homem a resistir
aos impulsos irracionais da alma, mantendo “a calma em meio
aos infortúnios” e entendendo que “não vale a pena levar
muito a sério nenhuma das coisas humanas” (PLATÃO, A
República, 604c). Entendendo a razão como “a nossa melhor
parte”, Platão não vê outro caminho para a educação senão a
sua afirmação e, consequentemente, a negação da arte:
Seria justo, então, pegá-lo [o artista-poeta] e colocá-lo numa
posição correspondente à do pintor, pois, criando obras que,
confrontadas com a verdade, têm pouco valor, assemelha-se a
ele e, relacionando-se com outra parte da alma, a que é como
ele, mas não com a melhor, por aí também se iguala a ele. E
assim, já teríamos motivo justo para não acolhê-lo numa
cidade que deve ser governada por boas leis, pois ele desperta
e nutre essa parte da alma, tornando-a forte, destrói a razão,
como quando numa cidade alguém, passando o poder para
mãos dos maus, entrega-lhes a cidade e causa a morte dos
mais bem educados (PLATÃO, A República, 605b).
O texto Platônico também remete, de alguma forma, à
metáfora da jardinagem usada por Nietzsche: “Ela [ a imitação
poética] os nutre e irriga, quando devia deixar que secassem, e
dá-lhes o comando sobre nós, quando devia fazê-los
submissos a nós para que nos tornemos melhores e mais
felizes e não piores e mais infelizes” (PLATÃO, A República,
606d). Obviamente, entre Platão e Nietzsche está
Schopenhauer, que já tinha resgatado os artistas do limbo ao
qual foram condenados por Platão e para quem ela deveria ser
considerada como o único conhecimento verdadeiro, porque
conduz à intuição e à exposição das Ideias e da própria
Vontade, como coisa-em-si do mundo. A posição de Nietzsche
é bastante próxima a essa de Schopenhauer, portanto – não à
toa é no texto sobre Schopenhauer como educador que essas
ideias de valorização da arte para a educação aparecem. Ao
contrário de Platão, portanto, para quem a educação deveria
“deixar que secassem” a “impulsividade e os apetites da
266
alma” (PLATÃO, A República, 606d) consideradas contrárias à
razão, em Nietzsche a educação deveria conjurar “os acessos
impiedosos e cruéis” e os “levar a bom termo”. Ou seja, ao
invés da anulação proposta por Platão (deixar secar), os
apetites da alma deveriam ser canalizados (podados,
preparados, na forma do cultivo de um horto) de forma
artística. A arte teria, então, em Nietzsche, a função educativa
da jardinagem que evoca o “terrível esforço, o tremendo dever
de me educar a mim próprio” (Co. Ext. III, 2) que Nietzsche
vislumbra no papel do educador que, no limite, é equivalente
à profissão do jardineiro, e para o que Schopenhauer seria o
exemplo perfeito. Schopenhauer é, confessa Nietzsche, o
mestre, “o educador filósofo” que poderia “não somente
descobrir a força central, mas também impedir que ela agisse
de maneira destrutiva com relação às outras forças” (Co. Ext.
III, 2). É tarefa dos educadores buscar a harmonização artística
das forças: “eu imaginava que sua tarefa educativa consistiria
principalmente em transformar todo homem num sistema
solar e planetário que me revelasse a vida, e em descobrir a lei
de sua mecânica superior” (Co. Ext. III, 2).
Para Nietzsche, ao contrário, os educadores alimentaram
um “ódio hereditário do que é natural” (Co. Ext. III, 2) que
condenou a alma moderna a “ser estéril e sem alegria” (Co.
Ext. III, 2). No tempo das doenças e das epidemias, Nietzsche
reconhece a urgência de educadores como médicos da cultura:
“Jamais tivemos tanta necessidade de educadores morais e
jamais foi tão pouco provável encontrá-los; nas épocas em que
os médicos são mais necessários, na ocasião das grandes
epidemias, é então que eles estão também mais expostos ao
perigo” (Co. Ext. III, 2). A urgência dos verdadeiros mestres
espirituais é equivalente à sua raridade: o verdadeiro
educador não é aquele que permanece, conforme Kant,
“atrelado à Universidade”, submetido aos governantes,
salvando “as aparências de uma fé religiosa”, suportando
“viver entre colegas e estudantes” segundo o modelo do
267
sistema educacional do iluminismo, que fez da Filosofia uma
mera “filosofia de professores” (Co. Ext. III, 2).
O filósofo, como verdadeiro renovador da cultura,
deveria tomar as rédeas, portanto, do processo educativo. O
filósofo deveria ser, sobretudo, um filósofo da educação e não
reduzir a sua tarefa de educador ao atendimento das
necessidades do Estado: “Então, como vê o filósofo a cultura
de nossa época? Completamente diferente, é preciso confessar,
de todos estes professores de filosofia satisfeitos com o Estado
em que vivem” (Co. Ext. III, 3). A solidão e o aprofundamento
no que lhe é próprio fazem o verdadeiro filósofo educador ver
com outros olhos a cultura de seu tempo e apontar nela o que
há de equivocado e doentio. Seu diagnóstico é contundente:
Quando ele pensa na pressa geral, no crescimento vertiginoso
da queda, no desaparecimento de todo recolhimento, de toda
simplicidade, ele parece quase discernir os sintomas de uma
extirpação e de um desenraizamento completos da cultura. As
águas da religião estão em refluxo e deixam atrás de si
pântanos e poças; as nações se opõem novamente com a maior
hostilidade e desejam se quebrar totalmente. As ciências,
praticadas sem medida e abandonadas ao mais cego laissezfaire, se retalham e dissolvem tudo em que se acredita
firmemente; as classes cultas e os Estados civilizados são
arrastados por uma corrente de dinheiro gigantesca e
desprezível. Jamais o mundo foi mais mundano, mais pobre
de amor e de bondade. As classes cultas não são mais os faróis
ou os asilos em meio a todo esse turbilhão de espírito secular.
A cada dia, elas se tornam mais inquietas, mais vazias de
amor e pensamento. Tudo está a serviço da barbárie que vem
vindo, tudo, aí incluídas a arte e a ciência desta época. O
homem culto degenerou até se tornar o maior inimigo da
cultura, por ele quer negar com mentiras a doença geral e é
um estorvo para os médicos (Co. Ext. III, 3).
A falta de “amor e de pensamento” é equivalente
simbólico da falta de amizade e de solidão não apenas como
sintoma, mas como causa da epidemia que obteve da educação
268
o seu aval. Quando “tudo na terra é determinado
exclusivamente pelas forças mais grosseiras e mais malignas,
pelo egoísmo dos proprietários e pelos déspotas militares”
(Co. Ext. III, 3), o filósofo educador, como médico da cultura,
faz-se urgente e, ao mesmo tempo, é ameaçado pelo doente.
Há risco de contaminação quando se quer negar a doença.
Cabe ao filósofo educador erguer mais uma vez a “imagem do
homem”: “no meio destes perigos da nossa época, quem então
doravante consagrará seus serviços de sentinela e cavalheiro à
ideia de humanidade, ao tesouro do templo sagrado e intangível
que as várias gerações pouco a pouco acumularam?” (Co. Ext.
III, 3). Nietzsche fala aqui da herança cultural que forma
aquilo que ele chama, então, de humanidade. Contra ela haveria
o risco da animalidade: o desvio da imagem do homem faz
com que a cultura caia “na animalidade, ou seja, numa rigidez
mecânica” (Co. Ext. III, 3). Note-se que a animalidade não é
contraposta à humanidade, mas ao mecanicismo racional, ao
pensamento científico dominante, ao tecnicismo do progresso
e do pensar por disciplinas de forma fragmentada. Quem
animaliza o homem, portanto, é o sistema educacional que
tenta enquadrá-lo nos seus rígidos esquemas de
aperfeiçoamento e não aquele que o capacita para lidar com
sua animalidade – ou mesmo com suas próprias
monstruosidades.
VIVER FILOSOFICAMENTE: A MELHOR FORMA DE ENSINAR
Por isso, no lugar de um modelo educativo de
transmissão de saber segundo valores, costumes e uma
mentalidade mercantil e estatal, Nietzsche pretende uma
educação filosófica que ocorra pelo exemplo de vida. Se ele
sabe que a Filosofia é o único conhecimento capaz de conduzir
o homem para a plena liberdade de si mesmo (e não as
ciências fragmentárias e os conhecimentos tecnicistas), ele
também sabe que ela precisa ser antes vivida. O erro maior do
269
modelo tradicional é que ele ensina o que não vive. O maior
desafio da Filosofia é ensinar o que antes é vivido ou, melhor
ainda, ensinar pela própria vida, educar pela forma de viver.
É isso o que Nietzsche elogia em Schopenhauer, seu mestre:
Estimo tanto mais um filósofo quanto mais ele está em
condições de servir de exemplo. Ninguém duvida, por
exemplo, de que ele pudesse arrastar no seu cortejo povos
inteiros [...]. Mas o exemplo deve ser dado pela vida real e não
unicamente pelos livros; deve portanto ser dado, como
ensinavam os filósofos da Grécia, pela expressão do rosto,
pela vestimenta, pelo regime alimentar, pelos costumes, mais
ainda do que pelas palavras e sobretudo mais do que pela
escrita. Como estamos longe ainda, na Alemanha, desta
corajosa visibilidade de uma vida filosófica! (Co. Ext. III, 3)
A Filosofia é antes, para Nietzsche, “vida filosófica que
integra todas as “coisas humanas” e “mais próximas”. A
Filosofia não passaria, então, de uma “doutrina das coisas
mais próximas” (KSA 8, 40 [16], de 1879, p. 581), ou até mesmo
de uma espécie de “dieta pessoal” que “busca meu ar, minha
altura, meu clima, minha espécie de saúde, pelo rodeio de
minha mente” (A, 553). Como vida, a Filosofia exige atenção
para tudo o que fora negligenciado pela tradição – e não
apenas negligenciado, mas justamente contra o que toda a
tradição educativa, na esteira de Platão, empenhou-se: regime
alimentar, lugar e clima, repouso, enfim, tudo o que diz
respeito à vida é de interesse filosófico, porque toda filosofia
(ou todo o pensamento em geral) não é mais do que um
sintoma e um efeito da própria vida.
Perguntar-me-ão porque é que contei todas estas coisas
pequenas e, segundo o juízo tradicional, indiferentes; causarei
assim dano a mim próprio, e tanto mais quando estou
destinado a representar grandes missões. Resposta: estas
pequenas coisas – alimentação, lugar, clima, recreação, toda a
casuística do egoísmo – são muito mais importantes do que
tudo quanto se concebeu e até agora se considerou
270
importante. É aqui justamente que importa começar, aprende
de novo. O que a humanidade até agora teve em séria
consideração não são sequer realidades, são simples
imaginações; em termos mais estritos, mentiras provenientes
dos instintos maus de naturezas doentes, perniciosas no
sentido mais profundo – todos os conceitos de ‘Deus’, ‘alma’,
‘virtude’, ‘pecado’, ‘além’, ‘verdade’, ‘vida eterna’... Mas foi
neles que se procurou a grandeza da natureza humana, a sua
‘divindade’... Todas as questões da política, da organização
social, da educação, foram de cima ao fundo totalmente
falsificadas porque se tomaram como grandes homens os
homens mais perniciosos – porque se ensinou a desprezar as
coisas ‘pequenas’, ou seja, as preocupações fundamentais da
vida... [...] O necessário não é apenas para se suportar, menos
ainda para se ocultar – todo o idealismo é mentira perante o
necessário -, mas para o amar... (EH, Porque sou tão sagaz, § 1).
É preciso “aprender de novo” a valorizar a vida como
assunto filosófico e educativo, buscar a natureza humana
como algo digno e grandioso, negar os idealismos em nome da
valorização das coisas humanas, transformar a educação numa
experiência vital. Compreendendo a vida como o assunto da
filosofia, Nietzsche considera as grandes verdades descobertas
pela Filosofia e ensinadas pela educação como meras ilusões
imagéticas, cujo resultado não foi outro senão o adoecimento
do próprio homem, cansado e entediado consigo mesmo de tal
forma que se tornou um animal preguiçoso, preferindo o
conforto da ignorância ou a segurança mentirosa dos conceitos
do que o trabalho rigoroso e arriscado da verdadeira cultura.
As próprias instituições educativas, portanto, teriam se
rendido a essa preguiça cultural. No tempo em que a preguiça
e a ignorância viram epidemia, Nietzsche dirige um novo
convite para a cultura: “nos educar contra o nosso tempo” (Co.
Ext. III, 3), tornar-se um extemporâneo a partir da vivência
mais própria de tudo o que o tempo favorece de mais seu,
porque a superação do tempo presente é uma “vantagem de
conhecer verdadeiramente este tempo”, ou seja, é do
271
diagnóstico corajoso do tempo vivido que nasce a
possibilidade de sua superação.
Para esse projeto, os modos tradicionais de organização
do sistema educativo e os tradicionais estabelecimentos de
ensino já não são suficientes: “Como frequentemente se fica
satisfeito com este amálgama de espíritos bicórneos e
instituições envelhecidas que tem o nome de liceu!” (Co. Ext.
III, 2), ironiza Nietzsche. Resta então, a pergunta: onde e como
esse projeto teria alguma efetividade?
A PEDAGOGIA DA SOLIDÃO: O CULTIVO DE SI COMO META DA
EDUCAÇÃO
Ainda no texto de 1872, Nietzsche dá uma pista: a
solidão e a amizade. Se a marca do filisteu da cultura é a busca
por notoriedade e aplauso da massa (como aprovação do seu
tempo e não, justamente, como negação), o verdadeiro
educador deve fugir disso. “É triste [escreve o filósofo] vê-lo [o
filisteu] à caça do menor traço de notoriedade para si; e seu
triunfo estrepitoso, muito estrepitoso, quando ele foi
finalmente lido, tem algo de doloroso e comovedor” (Co. Ext.
III, 3). Vivendo com medo de perder seus preciosos bens e
honras, o filósofo já não pode mais “assumir sua atitude pura
e verdadeiramente antiga com relação à filosofia” (Co. Ext. III,
3), ou seja, já não pode mais vivê-la. Vive aqui e acolá, o
filósofo, sentindo-se o mais solitário dos homens na medida
em que assume a Filosofia como sua forma de vida. Viver
filosoficamente é, sobretudo, viver solitariamente, o mais das
vezes “desenganado na sua afanosa procura de homens
totalmente confiáveis e compassivos” (Co. Ext. III, 3).
Nietzsche reconhece esse traço de verdade no seu mestre
Schopenhauer: “Ele era verdadeiramente um solitário;
realmente, nenhum amigo com a mesma disposição de
temperamento se moveu para consolá-lo” (Co. Ext. III, 3). A
solidão radical é a característica mais própria do filósofo
272
educador, porque é nela que ele experimenta a si próprio. A
solidão tem um papel profilático e higiênico, porque ajuda a
limpar da sujeira que acumulamos na vida social. Ela é a
premissa, a condição e a garantia da liberdade espiritual. Por
isso ela se torna tão perigosa e a sociedade, em geral, ergue-se
contra ela, nas mais variadas formas:
Em todo lugar onde houve poderosas sociedades, governos,
religiões, opiniões públicas, em suma, em todo lugar onde
houve tirania, execrou-se o filósofo solitário, pois a filosofia
oferece ao homem um asilo onde nenhum tirano pode
penetrar, a caverna da interioridade, o labirinto do coração: e
isto deixa enfurecido os tiranos (Co. Ext. III, 3).
A solidão, como condição, é o caminho para a elevação e
é ela que conduz para a mais radical das libertações, aquela
que forma o campo próprio no qual nenhum poder exterior
pode penetrar. O labirinto abriga a alma do filósofo como
quem guarda um monstro perigoso. É nela que o filósofo põe
“a salvo sua liberdade no fundo de si próprio” (Co. Ext. III, 3)
e nisso torna-se perigoso.
Não à toa toda a moral e a cultura foram, para Nietzsche,
uma tentativa de anular a solidão, de tornar o homem um
animal de rebanho, a serviço do que a educação se tornou um
processo
de
domesticação,
de
adestramento,
de
enfraquecimento. A solidão é a fuga da “coerção social”, do
“cerceamento e confinamento na paz da comunidade” (GM, I, 11). A
educação, na medida em que é tarefa de adestramento,
contribuiu para o enfraquecimento do ser humano:
Chamar a domesticação de um animal seu ‘melhoramento’
soa, para nós, quase como uma piada. Quem sabe o que
acontece nos adestramentos em geral duvida de que a besta
seja aí mesmo ‘melhorada’. Ela é enfraquecida, tornam-na
menos nociva, ela se transforma em uma besta doentia através
do afeto depressivo do medo, através do sofrimento, através
273
das chagas, através da fome (CI, Os ‘melhoradores’ da
humanidade, 2).
Domado e enjaulado, o homem enfraqueceu-se e tornouse uma besta ainda mais doentia, ainda mais perigosa e
ameaçadora. O monstro não é, nesse caso, o que o homem é,
mas o que ele se torna depois do adestramento. A cultura,
segundo Nietzsche, “não teve uma vez mais nenhum outro
meio de torná-lo inofensivo, fraco, senão adoecê-lo – esta foi a
luta com o ‘grande número’” (CI, Os ‘melhoradores’ da
humanidade, 2). Como processo de adestramento, a educação
exigiu a anulação do indivíduo e de tudo o que lhe é próprio.
Não raro, os filósofos educadores solitários acabam, por não se
deixarem adestrar, mal-compreendidos:
Eles sabem, esses solitários e livres de espírito, que parecerão
constantemente em qualquer circunstância, diferentes daquilo
que eles próprios pensam de si; embora só queiram a verdade
e a honestidade, se tece em torno deles uma rede de malentendidos; e a violência do seu desejo não poderá impedir,
apesar de tudo, que emane de sua ação uma bruma de
opiniões falsas, de acomodações, de meias-verdades, de
silêncios complacentes, de interpretações errôneas (Co. Ext.
III, 3).
Não raro esses homens, assim incompreendidos, tomam
semblantes terríveis e “é possível que se autodestruam por
serem o que são” (Co. Ext. III, 3), ou seja, por recusarem o
processo de padronização exigido pela cultura. É por isso que
é preciso construir um espaço no qual esses homens
grandiosos possam deixar fluir as energias que, do contrário,
podem levar à destruição. Esse espaço não é outro senão a
amizade. O valor pedagógico da solidão, portanto, está
intimamente ligado à amizade como espaço de disputa e luta
entre iguais: “Justamente estes solitários têm necessidade de
amor, têm necessidade de companheiros com os quais possam
se mostrar abertos e francos, tal como o são para si mesmos, e
274
em presença de quem cessaria a tensão do silêncio e da
dissimulação” (Co. Ext. III, 3). Só na amizade, portanto,
haveria lugar para a verdade absoluta do que é próprio a cada
indivíduo.
COMUNIDADE DE SOLITÁRIOS
Só entre amigos ele pode se mostrar sem dissimulação.
Na amizade, os indivíduos mostram-se “abertos e francos”
como se estivessem em frente a si mesmos. O amigo é outra
forma de eu, um terceiro com o qual o próprio eu pode
dialogar. É o amigo, como uma necessidade, que faz suportar
a solidão. É na amizade que Nietzsche vislumbra a
possibilidade de experimentação desse seu projeto educativo:
o amigo resgata o eu de sua profundidade avassaladora,
aquela que deixa surgir o perigo da dissolução do próprio eu,
que transforma cada indivíduo numa “erupção vulcânica”:
“Retirem deles estes amigos, e vocês provocarão um perigo
maior ainda” (Co. Ext. III, 3), adverte o filósofo que viveu em
solidão, tendo inventado para si mesmo os espíritos livres
como figuração dos amigos impossíveis:
Foi assim que há tempos, quando necessitei, inventei para
mim os “espíritos livres”, aos quais é dedicado este livro
melancólico-brioso que tem o título de Humano, Demasiado
Humano: não existem esses “espíritos livres”, nunca existiram
– mas naquele tempo, como disse, eu precisava deles como
companhia, para manter a alma alegre em meio a muitos
males (doença, solidão, exílio, acedia, inatividade): como
valentes confrades fantasmas, com os quais proseamos e
rimos, quando disso temos vontade, e que mandamos para o
inferno, quando se tornam entediantes – uma compreensão
para os amigos que faltam (HH, Prólogo, 2).
A amizade, de um lado, “mantém a alma alegre” no
meio da solidão, que é penosa e dolorida, mas necessária como
condição da elevação do espírito. Como terapêutica, a amizade
275
integra também a possibilidade da disputa e da querela, da
infidelidade e do rompimento – formas de fugir do escuro
radical de si mesmo que não é outro senão o próprio fosso da
loucura ou da morte. Nietzsche, no texto de 1872, fala desse
sentimento citando o escritor alemão Heinrich Von Kleist, que
se suicidara em meio a profunda tristeza e amargura,
juntamente com sua amiga Henriette Fogel, que havia
desenvolvido um câncer que lhe retirara todas as expectativas
de uma vida feliz:
Heinrich Von Kleist morreu por causa desta ausência de amor,
e o mais terrível remédio que se pode aplicar aos homens
excepcionais é fazê-los recolher-se tão profundamente a si
mesmos; cada uma de suas fugidas para o mundo exterior
tomaria a forma de uma erupção vulcânica (Co. Ext. III, 3).
De um lado, há o reconhecimento, portanto, do grande
perigo da solidão na radical opção por si mesmo; e, de outro, a
necessidade da amizade como forma de vida vitoriosa que
ajude a suportar esse perigo do isolamento. O modelo
schopenhauriano é assumido por Nietzsche: a vida feliz é a
vida heroica, “o modelo daquele que luta com enormes
dificuldades por aqui e que de uma maneira ou de outra
aproveita a todos e que acaba por vencer” (SHOPENHAUER
apud NIETZSCHE [Co. Ext. III, 3]). É na capacidade de
enfrentar fadigas e pesares, insucessos e ingratidões que se
vislumbra a capacidade de entender a vida mesma como uma
tensão e, mesmo aí, desejá-la ardentemente e ter a capacidade
de torná-la Filosofia, matéria e assunto filosófico. A vida
alimenta a Filosofia com “questões insólitas”, que devem ser
tematizadas por todos os que não querem simplesmente
passar pela vida e por toda cultura que se queira superior:
“Por que é que vivo? Que lição devo aprender com a vida?
Como me tornei o que sou e por que devo eu sofrer por ser
assim?” (Co. Ext. III, 3). Perguntas para as quais o teatro
276
público dos homens vulgares emite rapidamente respostas que
soam cômicas ao homem de exceção.
O heroísmo é a arma pela qual o verdadeiro educador
educa: porque nele os obstáculos da vida se apresentam como
condição para o crescimento e para a elevação. O papel da
educação e da cultura em geral não seria outro que fazer
nascer em nós o artista e o filósofo, como processos de
elevação: “A humanidade deve constantemente trabalhar para
engendrar os grandes homens – eis aí a sua tarefa, e nenhuma
outra” (Co. Ext. III, 6). A educação deveria cultivar num
jovem, afirma Nietzsche, a compreensão de si mesmo
sobretudo como uma obra carente da natureza, mas ao mesmo
tempo como um testemunho das intenções maiores e mais
maravilhosas desta artista: ela malogrou, dever-se-ia dizer;
mas quero honrar sua grande intenção colocando-me a seu
serviço, a fim de que mais uma vez tenha mais sucesso (Co.
Ext. III, 6).
É assim que a cultura deveria se colocar a serviço da
natureza: “filha do conhecimento de si, e da insatisfação de si,
de todo indivíduo” (Co. Ext. III, 6), a cultura vivencia o
indivíduo e assume seu expediente artístico.
Ora, é na amizade, mais uma vez, como forma superior
de amor, que o homem se vê a si mesmo:
É difícil levar alguém a este estado de conhecimento impávido
de si, porque é impossível ensinar o amor; pois é no amor que
a alma adquire, não somente uma visão clara, analítica e
desdenhosa de si, mas também este desejo de olhar acima de
si e buscar com todas as suas forças um eu superior, ainda
oculto não sei onde. Assim, somente aquele que prendeu seu
coração a algum grande homem recebe deste fato a primeira
consagração da cultura (Co. Ext. III, 6).
É na amizade e no amor aos homens superiores que a
cultura adquire capacidade para elevação. O filósofo
277
educador, portanto, torna-se o amigo, um desejável objeto de
amizade e de veneração. Na amizade, como relação com
interpares escolhidos entre os grandes homens, a verdadeira
educação seria factível,
de modo que os homens com os quais vivemos pareçam um
campo onde jazem os esboços das mais preciosas esculturas,
onde tudo nos grita: ‘Venham, nos ajudem, cheguem-se a nós,
aproximem o que se harmoniza, nossa aspiração para devir
integralmente é imensa’ (Co. Ext. III, 6).
A metáfora estética é usada novamente para inferir o
sentido de crescimento possibilitado nas relações amicais.
Num tempo em que a cultura como um todo se torna maléfica
aos indivíduos nobres e na qual o Estado e todas as demais
instituições concorrem para o seu desaparecimento, é na
amizade entre espíritos livres que a educação alcançaria o seu
papel. Só aí a educação poderia recuperar o seu desejado
estado de comoção (cf. Co. Ext. III, 8) e os riscos de cataclismo
que envolvem todo grande empreendimento cultural.
Nietzsche, inspirado por Diógenes, escreve sobre a filosofia
universitária: “é exatamente isto que seria preciso escrever
como epitáfio na tumba da filosofia universitária: ‘Ela não
comoveu ninguém’” (Co. Ext. III, 8). Como uma “velha
alcoviteira”, a Filosofia não desperta mais o desejo de filósofos
“tão pouco viris”, não os comove mais. Como amigos, os
grandes homens são também os amigos da sabedoria e tem
como tarefa a reconstituição de sua jovialidade:
Se é assim que ocorre na nossa época, então, a dignidade da
filosofia é esmagada; parece como se ela mesma se tenha
tornado algo ridículo e indiferente: de modo que todos os seus
verdadeiros amigos têm o dever de testemunhar contra esta
confusão, ou pelo menos mostrar que somente são ridículos e
indiferentes estes falsos servidores e estes indignos
representantes da filosofia. Mais ainda, eles próprios provam
278
com suas ações que o amor da verdade é uma coisa terrível e
poderosa (Co. Ext. III, 8).
De um lado, então, a amizade seleciona os exemplos
raros de homens superiores que são os únicos verdadeiros
educadores; e, de outro, é do seu exemplo que nasce a
amizade da sabedoria que caracteriza a própria Filosofia como
tarefa amorosa num tempo em que ela, velha, já não desperta
mais o tesão dos seus admiradores. É por esses dois motivos
que a amizade merece grande destaque na obra de Nietzsche
e, em termos pedagógicos, abre a possibilidade de efetivação
desses desafios educativos apontados pelo autor no seu
diagnóstico. É preciso, então, voltar à pergunta sobre a
efetividade desse projeto: de que forma a amizade se constitui
como espaço pedagógico para Nietzsche?
AMIZADE EXPERIMENTAL
A amizade é tida por Nietzsche como uma espécie de
reunião de solitários numa “espécie de claustro para ‘espíritos
livres’” (KSB 5, p. 188). Se a solidão e a extemporaneidade são
as marcas do filósofo educador nos escritos do chamado
primeiro período, no segundo período a solidão é a condição
para a liberdade do espírito e possibilita ao homem um
excesso de alegria consigo mesmo que o leva em direção aos
amigos, fazendo da amizade não só um lugar de celebração
dos espíritos livres, mas, sobretudo, um espaço de partilha da
alegria.
Numa carta a Erwin Rohde, datada de 15 de dezembro
de 1870, Nietzsche escreve: “Eu não suportarei por muito
tempo a atmosfera das universidades. Assim, um dia ou outro,
nós romperemos esse jugo: para mim esta é uma coisa decidida.
E nós fundaremos então uma nova Academia grega”. A nova
Academia é uma alternativa à vida nas universidades, cuja
instituição não desperta mais o interesse do jovem professor,
279
tamanha a sua descrença em relação à possibilidade de que a
educação de sua época favoreça a elevação da cultura. Além
disso, como Academia grega, a nova experiência teria como
marca fundamental justamente a amizade, como uma
comunidade de iguais que se autoeducassem a si mesmos,
numa perspectiva aristocrática. O que Nietzsche vislumbra é
um tipo de “centro espiritual”154, no qual se pudessem
livremente produzir e em que se favorecessem “as inclinações
que temos para criar no domínio da arte e da literatura” (Co.
Ext. I, 1). Como escreve Nietzsche, em carta a Rohde, de 15 de
dezembro de 1870,
lá nos instruiremos mutuamente, nossos livros não serão mais
do que anzóis para ganhar companheiros para a nossa
comunidade
claustro-artística
[klösterlich-künsterliche
Genossenschaft].
Nós
viveremos,
trabalharemos,
nos
alegraremos uns aos outros – esta é, talvez, a única forma de
trabalhar por todo o mundo (KSB, 3, p. 166).
Aos poucos, Nietzsche entende que esse tipo de
comunidade filosófica pode contribuir muito mais para a
renovação da cultura do que os velhos estabelecimentos de
ensino de seu tempo. E foram várias as experiências das quais
ele participara desde a juventude: a Germânia, a Franconia, a
expectativa em relação a Bayreuth (tão marcante no que tange
à amizade com Richard Wagner, que envolvia também o nome
de Schopenhauer) e, depois disso, os dias idílicos de Sorrento,
logo após o rompimento com o músico. Foi na experiência de
Sorrento que Nietzsche pôde vislumbrar com mais força o
papel pedagógico da amizade: nessa pequena colônia, ao pé
do mediterrâneo italiano, Nietzsche, Malwida von
Meysenbug, Paul Brenner e Paul Rée fundaram um claustro
natural para leituras, debates e longos passeios, que foram
154 Carta a Carl von Gersdorff, de 16 de fevereiro de 1868, e a Paul Deussen, de 2 de
junho do mesmo ano.
280
fundamentais para a elaboração de Humano, demasiado humano,
o livro que marca a conquista de um pensamento próprio de
Nietzsche.
Numa carta enviada a Reinhardt von Seydlitz (KSB 5, p.
188), Nietzsche demonstra todo o seu entusiasmo com essa
experiência:
Este será um tipo de claustro para “espíritos livres” [...] Por
que eu te relato isso? Oh, você pode adivinhar meu desejo
secreto: - nós ficaremos cerca de um ano em Sorrento. Eu
voltarei em seguida a Basileia, a menos que eu não edifique
meu claustro em estilo superior, quero dizer, “a escola de
educadores” (onde esses se eduquem a si mesmos).
Nietzsche encontra, em Sorrento, a chance de efetivar o
seu desejo de fundar a sua “escola para educadores” (KSA 8,
23 [136], de 1876-1877, p. 261), um lugar no qual a vida
pudesse servir de fonte para o conhecimento (GC, 324),
fazendo com que um “punhado de certos homens” (HundertMänner-Schaar) fosse capaz de renovar a cultura a partir da
afirmação de um “estilo” de vida baseada na liberdade de
espírito e na partilha da alegria: “Educar os educadores! Mas os
primeiros educadores devem educar-se a si mesmos! E para isso eu
escrevo” (KSA 8, 5 [25], de 1875, p. 46]). A experiência
comunitária de seleção de espíritos livres, através dos laços
amicais, torna-se uma escola de educadores porque nela uns
educam os outros pela vida e pela capacidade de transformar
o próprio pensamento em algo vivo – justamente o oposto
daquilo que se pratica nos estabelecimentos de ensino
modernos.
Num fragmento intitulado Escola de Educadores,
Nietzsche enumera as diferentes personalidades que deveriam
fazer parte dessa experiência e possibilitar uma educação
recíproca, coletiva e transdisciplinar: “o médico, o físico, o
economista, o historiador da cultura, o especialista da história
da Igreja, o especialista dos gregos e o especialista do Estado”
281
(KSA 9, 4[5], de 1875, p. 40). O desejo de Nietzsche parte da
constatação de que nos estabelecimentos tradicionais “os
educadores, eles mesmos não são educados” (KSA 9, 23[136],
de 1876-1877, p. 452). Contra a cultura filisteísta e jornalística
de seu tempo, a única possibilidade vislumbrada por
Nietzsche é o recolhimento, numa espécie de vita contemplativa
(GC, 329), na qual homens superiores pudessem experimentar
a si mesmo através dos laços de amizade. É por ela que se
pratica a vida como arte e a solidão como atividade artística:
enquanto arte de viver, a amizade para Nietzsche recupera o
ideal epicurista do Jardim: “viver amigavelmente em comum
na maior simplicidade” (KSA 8, 17 [50], de 1876, p. 305). A
simplicidade é o antídoto contra a pressa, o barulho e o
excesso da vida moderna: “Nós viveremos na maior
simplicidade”, escreve Nietzsche a Carl von Gersdorff (KSB 5,
p. 163), pois ele sabe que “para uma liberação intransigente do
espírito se preferirá a vida mais simples” (KSA 8, 23[157], de
1876-1877, p. 462).
Se a exigência do filósofo é que a educação se dê como
experiência e não apenas como ensino-aprendizado, é só nesse
tipo de comunidade de amigos que esse modelo se torna
factível. Educando os educadores, a amizade faria deles um
“bom cimento” (KSA 7, 29 [26], de 1873, p. 634) para uma nova
cultura. Como reunião de homens raros, inicialmente pensada
a partir dos ideais românticos e metafísicos dos primeiros
escritos, pouco a pouco vai sendo pensado como um espaço
prático, um lugar experimental que reunisse “homens num
grande centro para engendrar homens melhores” (KSA 9, 3
[75], de 1875, p. 36). É primeiro educando a si mesmos que
esses homens raros poderiam contribuir para o crescimento
cultural de todos. Trata-se de uma forma de consagração da
vida ao conhecimento. Só os amigos podem fornecer a base
para a boa educação e, por isso, Nietzsche chega a escrever
como sexto mandamento do espírito livre: “Farás com que
teus filhos sejam educados por teus amigos” (KSA 8, 19[77], de
282
1876, p. 348). O curioso fragmento esclarece o papel dado por
Nietzsche para a amizade: o verdadeiro educador é o amigo e
só ele pode ensinar o teu filho porque ele é igual a você.
Assim, a amizade se torna o espaço pedagógico
fundamental, porque ela possibilita o verdadeiro crescimento
individual, criando laços relacionais mais intensos e
verdadeiros, não mais baseados somente na compaixão
(ajudar o outro), mas no trabalho artístico sobre si mesmo no
sentido de se embelezar para o amigo. Na solidão da vida
contemplativa, os pares agem na igualdade de condições e isso
contribui para que um se apresente ao outro da melhor forma
possível:
Fica sem resposta a questão de saber se somos mais úteis ao
outro indo a seu encontro e ajudando-o – o que pode suceder
de modo apenas superficial, quando não é uma interferência e
remodelação tirânica -, ou fazendo de si mesmo algo que o
outro vê com deleite, como um belo, tranquilo jardim fechado,
que tem muros altos para as tempestades e a poeira da
estrada, mas também um portão hospitaleiro (A, 174).
No fim, é como “pequenos Estados experimentais” (A, 453)
que as relações de amizade estabelecem as possibilidades de
vivências próprias e de cultivo artístico de si mesmo entre
iguais. Ao contrário do que ocorre na cultura doentia, na
amizade “os indivíduos se tratam como iguais” (BM, 259) e
vinculam-se pela via da resistência, da simplicidade, da
coragem e da alegria que consolidam o caráter de uma
“aristocracia sã” (BM, 259)155. É como espaço de expressão de
força, imposição de estilo e disciplina do caráter, que a
amizade se torna espaço pedagógico experimental de
favorecimento da cultura. Mais uma vez, Nietzsche recorre à
metáfora da jardinagem para falar do cultivo de plantas raras:
Sobre a amizade como possibilidade de efetividade de uma “ética” em Nietzsche,
ver meu livro Para uma ética da amizade em Friedrich Nietzsche (Rio de Janeiro: 7Letras,
2011).
155
283
Por que não conseguiríamos sucesso com o homem do mesmo
modo como os chineses com uma árvore – de modo que de
um lado haja rosas e do outro peras? Esses processos naturais
de seleção do homem, por exemplo, que até então foram
praticados com lentidão e imperícia extremas, poderiam estar
nas mãos dos próprios homens; e a velha infâmia das raças,
das lutas sociais, dos ardores nacionalistas e dos ciúmes
pessoais, poderia, portanto, ser reduzida a curtos períodos de
tempo – tudo ao menos de modo experimental. – Continentes
inteiros se dedicariam desde então a essa experimentação consciente!
(KSA 9, 11 [276], de 1881, p. 547).
Na amizade, o homem conquista a plena liberdade e
autonomia porque nela a experimentação possibilita que ele se
torne rei de si mesmo: “o melhor que fazemos nesse
interregno, é ser o máximo possível nossos próprios reges
[reis] e fundar pequenos estados experimentais. Nós somos
experimentos: sejamo-lo de bom grado” (A, 453). Como
experimento, o homem precisa decidir-se por isso e aproveitar
as relações como forma de cultivo de si. A educação, como
tarefa artística, cumpre a regra necessária então: “Uma coisa é
necessária. – ‘Dar estilo’ a seu caráter – uma arte grande e rara”
(GC, 290). E é só na amizade que esse projeto se torna efetivo e
nela vislumbramos a urgência de que a educação comece
sendo uma pedagogia da solidão e se torne também uma
pedagogia da amizade.
REFERÊNCIAS
LAÊRTIOS, D. Vidas e doutrinas dos filósofos ilustres. 2. ed. Brasília:
Editora da Universidade de Brasília, 2008.
NIETZSCHE, Friedrich. Além do Bem e do Mal. Prelúdio a uma Filosofia
do Futuro. São Paulo: Cia. das Letras, 2. ed., 2002.
284
_______. Assim Falou Zaratustra. Um livro para todos e para ninguém. 15ª
ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006.
_______. Aurora. Reflexões sobre os preconceitos morais. São Paulo: Cia.
das Letras, 2004.
_______. A Gaia Ciência. São Paulo: Cia. das Letras, 2002.
_______. Crepúsculo dos Ídolos (ou como filosofar com o martelo). Rio de
Janeiro: Relume Dumará, 2ª ed., 2000.
_______. Ecce Homo. Como alguém se torna o que é. São Paulo: Companhia
das Letras, 1995. 2ª ed.; 3ª reimpressão.
_______. Escritos sobre educação. Rio de Janeiro: Ed. PUC Rio; São Paulo:
Loyola, 2007.
_______. A Filosofia na Idade Trágica dos Gregos. Lisboa: Edições 70, 1995.
_______. Fragmentos Finais. Brasília: Ed. Universidade de Brasília, São
Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2002.
_______. Genealogia da Moral. Uma polêmica. São Paulo: Cia. das Letras,
2002.
_______. Humano, Demasiado Humano. Um livro para espíritos livres. São
Paulo: Cia. das Letras, 2000.
_______. Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe (KSA). Herausgegeben
von Giorgio Colli und Mazzino Montinari. München/Berlin/New York:
DTV/Walter de Gruyter & Co., 1988.
_______. Sämtliche Briefe. Kritische Studienausgabe (KSB). Herausgegeben
von Giorgio Colli und Mazzino Montinari. München/Berlin/New York:
DTV/Walter de Gruyter & Co., 1986.
PLATÃO. Diálogos. Volumes XII-XIII. Leis e Epínomis. Belém: Editora da
Universidade Federal do Pará, 1980.
_______. A República. Ou sobre a justiça, diálogo político. São Paulo:
Martins Fontes, 2006.
285
PRÉ-SOCRÁTICOS. Fragmentos, doxografia e comentários. São Paulo:
Abril Cultural, 1996.
286
Capítulo 15
FREUD E O IMPOSSÍVEL OFÍCIO DA EDUCAÇÃO
Fátima Caropreso
Só pode ser educador quem é capaz de compreender,
por empatia, a alma infantil e nós adultos não
compreendemos as crianças porque deixamos de
compreender nossa própria infância (FREUD, 1913, p.
191).
No prólogo ao livro de August Aichhorn (1925), Freud
diz considerar o educar, assim como o governar e o curar,
como ofícios impossíveis. Ele não expõe, nesse prólogo, as
razões que o levaram a considerar a educação uma tarefa
impossível; no entanto, podemos inferir algumas dessas razões
a partir das hipóteses elaboradas, ao longo de sua obra, para
explicar o desenvolvimento do psiquismo. Nesse texto, vamos
tentar extrair do pensamento freudiano reflexões que parecem
significativas para a questão da educação. Em vão
procuraríamos em Freud dicas positivas acerca da tarefa de
educar. Sua maior contribuição, nesse campo, parece consistir
em desfazer ilusões acerca do poder da educação e do controle
que a mesma pode exercer sobre o desenvolvimento do
indivíduo.
287
O INSTINTO DE AUTO-PRESERVAÇÃO É O MOTOR DE TODA
APRENDIZAGEM
A prematuração do ser humano ao nascer, e o
consequente estado de desamparo em que se encontra em seus
primeiros anos de vida, é o motor de todo o desenvolvimento
psíquico. Esse desamparo é o que leva o indivíduo a abrir mão
das suas formas primárias imediatas de satisfação; a conhecer
o mundo e perceber que sua sobrevivência depende de um
outro ser humano; e, consequentemente, a se identificar com
os valores morais e demais normas culturais que lhes são
transmitidas, em grande parte, por esse outro.
Desde o Projeto de uma psicologia (1895/1950), Freud
defendeu, como uma das premissas fundamentais de sua
teoria, a hipótese de que o funcionamento psíquico é
governado pela tendência a manter o nível de excitação o mais
baixo possível, isto é, por uma tendência para evitar o
desprazer. Os estímulos provenientes do mundo externo, em
princípio, poderiam ser descarregados pela via reflexa;
contudo, aqueles que se originam no próprio corpo, dando
origem às necessidades vitais, ao menos em parte, não
poderiam ser descarregados por tal via. Tais estímulos
imporiam a exigência de que uma ação específica fosse
executada, como a obtenção de alimento no caso da fome.
Freud formula a hipótese de que, em um momento inicial,
todo funcionamento psíquico trabalharia no sentido da busca
da descarga da excitação da forma mais direta possível, ou
seja, todos os processos mentais seriam regidos pelo “princípio
do prazer”, como Freud o denomina em Formulações sobre os
dois princípios do funcionamento psíquico (1911). No entanto, o
desprazer resultante desse modo de funcionamento primário
faria com que, ao menos parte do mesmo, fosse inibido, dando
origem a um modo de funcionamento secundário, no qual o
princípio de prazer seria substituído pelo “princípio de
realidade”. Nesse segundo tipo de funcionamento, o mundo
externo seria levado em consideração na busca da satisfação e,
288
portanto, certo nível de desprazer passaria a ter que ser
tolerado, em detrimento da descarga imediata da excitação. A
partir de então, tornar-se-ia possível e necessário conhecer o
mundo, e esse conhecimento, segundo Freud, teria como meta
última propiciar a satisfação de uma necessidade. Assim, seria
o instinto de sobrevivência que impulsionaria o indivíduo ao
pensamento e ao conhecimento do mundo externo. Freud
recusa, portanto, a ideia de um impulso autônomo para o
conhecimento. Em Sobre as teorias sexuais das crianças (1908), ele
afirma – referindo-se à curiosidade sexual, mas podemos
estender isso para a curiosidade em geral – que o desejo da
criança pelo conhecimento “não desperta espontaneamente,
incitado talvez por alguma necessidade inata de estabelecer as
causas; ele surge sob o estímulo do instinto de autopreservação” (FREUD, 1908a, p. 212).
A partir do momento em que o princípio de realidade é
instaurado, a dependência do indivíduo em relação a um
outro pode ser percebida, e as imposições desse outro, o qual é
veículo das normas culturais, se impõem ao sujeito como
condições para obter o seu amor e cuidado e, portanto, como
condições para a própria sobrevivência. O educador teria o
papel de representar os interesses da cultura e do princípio de
realidade nesse processo e, assim, auxiliar o Eu em sua tarefa
de dominar o princípio do prazer. Em Formulações sobre os dois
princípios do acontecimento psíquico, Freud observa:
A educação pode ser descrita, sem mais vacilações, como
incitação a vencer o princípio do prazer e substituí-lo pelo
princípio de realidade; portanto, quer acudir em auxílio
daquele processo de desenvolvimento em que o eu se vê
envolvido, e para este fim se serve das recompensas de amor
por parte do educador (FREUD, 1911, p. 228-229).
As medidas educativas visariam exigir da criança
tolerância a certa quantia de desprazer resultante da renúncia
à satisfação imediata das exigências pulsionais, apresentando
289
como recompensa a tal sacrifício o amor daquele que educa.
Essa renúncia exigida, no entanto, muitas vezes seria ocasião
de conflitos e sofrimento psíquico. Nesse embate entre
natureza e cultura – e na submissão da natureza à cultura – é
que se daria o desenvolvimento do indivíduo, de acordo com
o pensamento freudiano. Freud, contudo, chama a atenção
para o fato de que a natureza não deve e não pode ser
esquecida. Na verdade, a natureza impõe limites
intransponíveis a esse processo de subordinação do indivíduo
à cultura. Essa parece ser uma das principais contribuições do
seu pensamento para a educação.
A AÇÃO DA NATUREZA SOBRE O DESENVOLVIMENTO CULTURAL
DO INDIVÍDUO
Uma das constatações fundamentais de Freud, como se
sabe, foi a presença da sexualidade na infância e a importância
da mesma para o desenvolvimento do ser humano. De acordo
com a teoria freudiana, as pulsões sexuais manifestar-se-iam,
nos primeiros anos de vida, de forma plural, ou seja, elas não
estariam organizadas e subordinadas a uma atividade sexual e
a um objeto específicos, como na sexualidade adulta. Ao
contrário, uma série de pulsões distintas – de “pulsões
parciais”, como são denominadas pelo autor – se
manifestariam e buscariam a satisfação de forma
independente entre si156. Freud caracteriza a sexualidade
infantil como “auto-erótica”, uma vez que as pulsões sexuais
parciais encontrariam satisfação no próprio corpo, sendo
independentes, portanto, de um objeto externo. Dos destinos
dessas pulsões parciais dependeriam, em grande medida, as
características da personalidade de uma pessoa, assim como
sua capacidade intelectual.
Essas pulsões parciais, segundo Freud, podem ser ditas “perversas”, no sentido de
que elas não estão direcionadas para a sexualidade genital.
156
290
No desenvolvimento sexual infantil, parte das pulsões
parciais acabaria se submetendo à sexualidade genital. Outra
parte das mesmas poderia se fixar em determinados tipos de
atividades e, por consequência, não prosseguir o
desenvolvimento em direção à sexualidade genital. Essa
inibição do desenvolvimento criaria a predisposição à neurose
e à perversão. Quanto maior a parcela pulsional que se fixasse
nas atividades sexuais pré-genitais157, mais precária seria a
organização genital do indivíduo e menor seria a parcela de
pulsão sexual disponível para a sublimação. Em Moral sexual
civilizada e doença nervosa moderna (1908), Freud observa:
Durante esse desenvolvimento, uma parte da excitação sexual
trazida pelo próprio corpo é inibida como sendo inútil para a
função reprodutiva e, nos casos favoráveis, é conduzida à
sublimação. As forças que podem ser empregadas nas
atividades culturais são, portanto, em grande medida, obtidas
através da sufocação daqueles que são conhecidos como os
elementos perversos da excitação sexual (FREUD, 1908b, p.
188-189).
A sublimação é definida por Freud como “a capacidade
de trocar sua meta sexual originária por outra não sexual, mas
que é psiquicamente relacionada à primeira” (FREUD, 1908b,
p. 187). Da capacidade de sublimação do indivíduo,
dependeria seu potencial para a busca do conhecimento, para
o trabalho, para as produções artísticas e culturais em geral,
enfim, seria a partir da sublimação que se erigiria a cultura.
Portanto, pode-se dizer que seria, em grande medida, sobre ela
que a educação deveria se apoiar para a inserção do indivíduo
na cultura. A educação deveria, dessa forma, criar condições
favoráveis para a sublimação. Como diz Millot (1987, p. 53),
deveria “orientar para fins culturais as pulsões parciais que
157 Consequentemente, maior seria a propensão para ocorrer uma regressão libidinal,
que poderia conduzir a uma neurose ou perversão sexual.
291
não se fundem na corrente genital, ou seja, favorecer a
sublimação”.
No entanto, esse processo de desenvolvimento pulsional
do indivíduo não seria determinado apenas pelas influências
externas que atuassem sobre ele, pois, segundo Freud, os
fatores constitucionais exerceriam um papel fundamental
nesse processo. A intensidade constitucional das pulsões
sexuais, em particular, seria fator de grande importância no
curso do desenvolvimento. No mesmo texto de 1908,
anteriormente mencionado, Freud afirma:
A intensidade originária da pulsão sexual provavelmente
varia em cada indivíduo; certamente, a proporção daquela que
é apta para a sublimação varia. Parece-nos que é a constituição
inata de cada indivíduo que decide, em primeira instância,
quanto da pulsão sexual será possível sublimar e fazer uso.
Em adição a isso, os efeitos da experiência e as influências
intelectuais sobre seu aparelho mental conseguirão produzir a
sublimação de uma porção maior das pulsões sexuais
(FREUD, 1908b, p. 187-188).
Nessa passagem, fica claro que, embora Freud atribua
aos fatores constitucionais o peso maior na determinação da
capacidade do indivíduo para a sublimação, ele reconhece que
esta é também influenciada pelas experiências e pelas
influências intelectuais que atuam sobre a criança. Tendo isso
em vista, podemos dizer que a educação deveria ter como um
de seus objetivos, como dissemos anteriormente, criar
condições propícias à sublimação, fornecendo à criança
alternativas que lhe permitissem canalizar a pulsão sexual
disponível para fins culturais desejados. No entanto, a
educação não poderia perder de vista os limites
constitucionais e as diferenças constitucionais entre os
indivíduos. Ainda nesse texto de 1908, Freud argumenta que a
experiência ensina que, para a maioria das pessoas, há um
limite além do qual sua constituição não pode cumprir as
292
demandas da civilização. Por isso, diz ele, é uma injustiça
social que os padrões da civilização demandem de cada um a
mesma conduta. Ao não levar em consideração a disposição
constitucional do indivíduo e ao impor os mesmos padrões de
conduta a todos os indivíduos, a sociedade estaria
favorecendo o surgimento de patologias psíquicas. No
entanto, certo nível de restrição ao desenvolvimento pulsional
é necessário para a existência da cultura.
O PAPEL DA REPRESSÃO NO DESENVOLVIMENTO DO INDIVÍDUO
Freud reconhece que certo nível de repressão pulsional e
redirecionamento das pulsões sexuais para fins culturais é
condição necessária para a própria existência da cultura. Esse
processo, inclusive, seria em parte organicamente
determinado. No texto Três ensaios para uma teoria da
sexualidade (1905), a necessidade da suposição de uma
repressão orgânica atuando sobre as pulsões é enfatizada.
Contudo, Freud aponta que uma repressão excessiva da
sexualidade pode ter um efeito nocivo para o
desenvolvimento da criança, ao favorecer a inibição de seu
desenvolvimento. Nesse caso, a severidade da educação
estaria contribuindo para estancar, ao menos parcialmente, um
processo que, se não tivesse se deparado com tal obstáculo,
poderia ter seguido seu curso rumo à maturidade sexual, à
sublimação, enfim, rumo a um desenvolvimento favorável. A
sufocação intensa das pulsões sexuais – um dos piores erros da
educação de seu tempo – dilapidaria as forças que, caso
contrário, poderiam, a partir de seu desenvolvimento, ser
empregadas no trabalho cultural, argumenta Freud. Em O
interesse pela psicanálise (1913), ele observa:
Quando os educadores tiverem se familiarizado com os
resultados da psicanálise acharão mais fácil se reconciliar com
certas fases do desenvolvimento infantil e, entre outras coisas,
293
não correrão o risco de superestimar as moções pulsionais
socialmente inúteis ou perversas que aflorem na criança. Eles
deixarão de tentar uma sufocação violenta dessas moções
quando perceberem que tais intervenções frequentemente
produzem resultados não menos indesejados que a própria
má conduta que a educação teme deixar passar na criança
(FREUD, 1913, p. 192).
Freud acrescenta, em seguida, que a sufocação violenta
de uma pulsão não a extingue, nem permite dominá-la, mas
produz uma repressão em virtude da qual é estabelecida a
inclinação para a contração de uma neurose posteriormente.
Essa predisposição à neurose se deveria ao fato de que os
impulsos relacionados às atividades reprimidas continuariam
ativos no inconsciente, podendo voltar a se manifestar de
forma indireta a partir dos sintomas neuróticos. Ao mesmo
tempo, quanto maior a parcela pulsional impedida de
prosseguir o seu desenvolvimento, mais frágil será a
organização subsequente e menor será a parcela pulsional apta
para a sublimação. Assim, uma das contribuições da
psicanálise freudiana para a educação consiste em mostrar
quantas contribuições valiosas para a formação do caráter
prestam as pulsões associais e perversas nas crianças quando
não são submetidas à repressão, mas sim afastadas de suas
metas originais e dirigidas para outras a partir do processo da
sublimação.
Para Freud, as virtudes de uma pessoa se desenvolvem
como formações reativas e sublimações sobre o terreno das
pulsões parciais. Assim, segundo ele, “a educação deveria ter
um cuidado extremo em não cegar essas preciosas fontes de
força e se limitar a promover os processos pelos quais essas
energias podem ser guiadas até o bom caminho” (FREUD,
1913, p. 192). Como comenta Millot (1987), Freud não solicita
ao educador que se abstenha, mas apenas que não ultrapasse
os seus direitos e sua função por uma repressão excessiva da
294
vida sexual infantil, o que se chocará com os próprios fins da
educação ao comprometer o desenvolvimento da criança.
Freud considera, como dissemos no início deste capítulo,
que é a partir do instinto de auto-preservação que o desejo de
conhecer desperta na criança. É necessário conhecer o mundo,
em primeiro lugar, para se defender de possíveis perigos e,
assim, garantir a sobrevivência. No entanto, Freud insiste em
que há um acontecimento específico na vida da criança que,
justamente por representar para a mesma uma ameaça
imaginária à sua sobrevivência, desperta de forma especial a
curiosidade infantil: o nascimento dos irmãos ou a percepção
da possibilidade de que novas crianças possam surgir para lhe
retirar a atenção e os cuidados dos pais. Tal situação
despertaria na criança a curiosidade sexual relacionada,
principalmente, à origem dos bebês. Essa curiosidade seria,
segundo o autor, a base da curiosidade em geral, o que o leva
a defender que ela não deve ser reprimida, pois, nesse caso,
correr-se-ia o risco de produzir na criança uma inibição do
desejo de conhecer e da capacidade de reflexão em geral.
No texto O esclarecimento sexual das crianças (1907), Freud
argumenta que não há justificativa para recusar às crianças
esclarecimentos sobre a vida sexual. Segundo ele, fazer
mistério sobre a sexualidade somente privaria a criança de
obter um ganho intelectual de atividades para as quais ela
estaria psiquicamente preparada. Dessa forma, diz ele: “Se o
propósito dos educadores é sufocar o poder da criança de
pensamento independente tão cedo quanto possível, em favor
da “bondade”, que eles prezam tanto, eles não podem iniciar
isso melhor do que as enganando em matéria sexual” (FREUD,
1907, p. 136-137). Se as crianças não têm suas dúvidas
esclarecidas – e ele insiste que respostas fantasiosas, tais como
a que os bebês são trazidos pela cegonha, não satisfazem, na
maior parte das vezes, a curiosidade infantil –, elas continuam
se atormentando com o problema e tentando encontrar
soluções para os mesmos em segredo.
295
Em Sobre as teorias sexuais da criança (1908), Freud volta a
dizer que, ao receberem respostas míticas, as crianças muitas
vezes não acreditam, a princípio, nas informações dos adultos
e percebem que há algo proibido que estes querem lhes
ocultar. Essa situação pode ser a primeira ocasião de um
conflito psíquico, diz ele, pois algumas opiniões – pelas quais
elas sentem predileção pulsional, mas que não são “corretas”
para os grandes – entram em oposição a outras sustentadas
pela autoridade dos adultos, mas que não as agradam. A
partir desse conflito, poderia resultar uma dissociação
psíquica, de forma que
o conjunto de pontos de vista que estão comprometidos com
serem “bons”, mas também com a suspensão da reflexão, se
torna dominante e consciente; enquanto o outro conjunto,
para o qual o trabalho investigativo da criança teria,
entretanto, conseguido novas evidências, mas que não são
para serem levadas em conta, tornam-se os pontos de vista
sufocados e inconscientes (FREUD, 1908, p. 214).
Assim, estaria sendo tolhida a capacidade da criança
para a reflexão e o pensamento livre e, ao mesmo tempo,
estaria sendo fortalecida a suspensão do juízo diante de um
conhecimento que vem de pessoas que possuem “autoridade”,
mas que não lhes parece verdadeiro. Em outras palavras, a
capacidade de raciocínio da criança estaria sendo inibida em
detrimento da sua capacidade de crença no que lhe parece
irracional. Em Análise da fobia de um menino de cinco anos (1909,
p. 85), Freud diz: “a criança não mente sem razão e, em geral,
inclina-se mais que os adultos para o amor à verdade”.
Podemos dizer que, ao ocultar-lhes a verdade e substituí-la
por repostas fantasiosas, o adulto estaria introduzindo a
mentira na vida da criança, para a qual ela não se inclina,
inicialmente, mas à qual pode acabar cedendo, diante da
“autoridade” que a ela vem associada. Ainda no texto sobre
as teorias sexuais infantis, Freud comenta em relação à
296
curiosidade sexual infantil: “Esse especular e duvidar,
contudo, torna-se o protótipo de todo o trabalho intelectual
posterior direcionado para a solução de problemas e o
primeiro fracasso tem um efeito paralisante sobre todo o
futuro da criança” (FREUD, 1908, p. 219).
Nos textos desse período, Freud defende que é
necessário fornecer à criança um esclarecimento gradual sobre
a vida sexual e que a escola deveria se incumbir dessa tarefa.
A escola deveria introduzir nos ensinamentos sobre o mundo
animal a questão da reprodução e de seu significado e, ao
mesmo tempo, insistir que os seres humanos compartilham
com os animais superiores todo o essencial de sua
organização. A sexualidade, diz ele, “desde o início deve ser
tratada como qualquer outra coisa digna de ser conhecida”
(FREUD, 1907, p. 138).
Então, ao não satisfazer ou reprimir a curiosidade sexual
infantil e passar a ideia de que há algo de errado em relação à
sexualidade, o adulto estaria criando uma situação
desfavorável ao desenvolvimento da sexualidade, o qual, em
condições favoráveis, poderia, dependendo dos fatores
constitucionais envolvidos, conduzir à maturidade sexual e ao
fortalecimento da capacidade de sublimação. Em Análise
terminável e interminável (1937), contudo, Freud afirma ter
superestimado anteriormente o valor profilático do
esclarecimento sexual da criança. Ele diz ter concluído que,
muitas vezes, as crianças não abrem mão de suas próprias
teorias sexuais, mesmo recebendo esclarecimentos, e mantém
suas fantasias sexuais próprias de maneira a perpetuar uma
cisão psíquica com potencial patogênico.
Na etapa final de sua obra, Freud atribui uma ênfase
ainda maior aos determinantes constitucionais no
desenvolvimento psíquico e propõe que não só a intensidade
das pulsões sexuais tem um papel crucial nesse
desenvolvimento, mas também a intensidade da pulsão de
morte, ou da agressividade. Assim, os limites impostos à
297
educação pelos fatores constitucionais tiveram
importância acentuada nessa etapa da teoria do autor.
sua
CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com o pensamento freudiano, a educação,
como representante do princípio de realidade, das normas e
exigências culturais, não poderia ser exercida sem o
reconhecimento dos limites impostos a cada indivíduo pela
sua própria natureza, isto é, pela sua constituição, assim como
sem a consideração dos desejos, da realidade psíquica da
criança. Em algumas ocasiões, Freud defende que apenas o
adulto analisado e que “reencontrou sua própria infância”
seria capaz de compreender o psiquismo infantil e, portanto,
só ele estaria apto para educar. No entanto, Freud reconhece
os limites da educação e a dificuldade ou mesmo
impossibilidade de se definir especificamente onde e como o
educador deveria intervir. Apesar de encontrarmos nos textos
freudianos algumas dicas acerca de como o educador não
deveria agir, muito pouco ele diz a respeito de como
positivamente o educador deveria atuar. As próprias
premissas de sua teoria impedem o estabelecimento de uma
proposta positiva que permitisse guiar a educação. No texto
sobre o pequeno Hans, Freud afirma:
Que a educação da criança possa exercer uma poderosa
influência, favorável ou desfavorável, sobre a predisposição
patológica [...] é, pelo menos, muito provável, mas parece
inteiramente problemático saber a que deve aspirar a
educação e onde esta tem que intervir (FREUD, 1909, p. 117).
A contribuição de Freud para a educação parece
consistir em esclarecer os fundamentos sobre os quais a
capacidade intelectual do indivíduo emerge e os mecanismos
pelos quais a sua personalidade e a sua inserção na cultura se
desenvolvem. Ao elucidar os limites que a constituição
298
individual e que a realidade psíquica colocam às tentativas de
modelar o indivíduo de acordo com certos padrões, e ao
insistir na impossibilidade de estabelecer regras fixas que
permitam conduzir a tarefa de educar de forma segura e
adequada, Freud contribui para desfazer certas ilusões a
respeito da educação. Nesse sentido, podemos dizer que a sua
contribuição para essa área é, sobretudo, crítica e indireta.
REFERÊNCIAS
FREUD, S. (1895/1950) Projeto de uma Psicologia. In: Notas a “Projeto de
uma Psicologia”(Gabbi Jr., O.F.). Rio de Janeiro: Imago, 2003.
_______. (1905). Tres ensayos de teoria sexual. Sigmund Freud Obras
Completas, vol.7, p. 109-222. Buenos Aires: Amorrortu editores, 1998.
_______. (1907). The sexual enlightenment of children. The Standard Edition
of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, vol. 9, p. 128-139.
London: The Hogarth Press, 1975.
_______. (1908a) On the sexual theories of children. The Standard Edition of
the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, vol. 9, p. 203-226. London:
The Hogarth Press, 1975.
_______. (1908b) ‘Civilized’ Sexual Morality and Modern Nervous Illness.
The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, vol.
9, p. 178- 203. London: The Hogarth Press, 1975.
_______. (1909). Análisis de la fobia de un niño de cinco años. Sigmund
Freud Obras Completas, vol.10, p. 119-194. Buenos Aires: Amorrortu editores,
1998.
_______. (1911). Formulaciones sobre los dos principios del acaecer
psíquico. Sigmund Freud Obras Completas, vol.12, p. 217-232. Buenos Aires:
Amorrortu editores, 1998.
_______. (1913). El interés por el psicoanálisis. Sigmund Freud Obras
Completas, vol.13, p. 166-192. Buenos Aires: Amorrortu editores, 1998.
299
_______. (1925). Prólogo a August Aichhorn, Verwahrloste Jugend . Sigmund
Freud Obras Completas, vol.19, p. 296-298. Buenos Aires: Amorrortu editores,
1998.
_______. (1937). Análisis terminable e interminable. Sigmund Freud Obras
Completas, vol.23, p. 211-270. Buenos Aires: Amorrortu editores, 1998.
MILLOT, C. Freud Antipedagogo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1987.
300
Capítulo 16
EDUCAÇÃO, VIDA E COTIDIANO: UMA LEITURA A PARTIR
DA PRAGMÁTICA DE LUDWIG WITTGENSTEIN
Bortolo Valle
O modelo epistemológico ocidental, que ilustra a
racionalidade educativa moderna, nasce, também, das
convicções que alimentaram os ideais do Racionalismo francês
e do Empirismo inglês. Por um lado, o sujeito soberano da
razão, por outro, as leis matemáticas que governam a
natureza. Descartes e Bacon partilharam, por vias distintas, de
um otimismo sedutor: a verdade evidente se nos impõe. A
razão retamente conduzida e o uso do procedimento
metodológico adequado foram tomados como condição
necessária ao desenvolvimento e progresso humano em todas
as suas dimensões. Em linhas gerais, a Educação moderna
ilustrou-se sob o signo de uma racionalidade cognitivoinstrumental.
Os séculos XIX e XX, ao mesmo tempo em que se
tornaram receptores dos produtos gestados por aquela
racionalidade, viram emergir instâncias de crítica à razão
instrumental. Todo progresso neles contidos é, de alguma
forma, resultado da conjugação de categorias educativas que
reivindicavam a autonomia do sujeito e sua capacidade de
interferência na natureza. Estes séculos são também, por sua
vez, reveladores do potencial de risco presente naquele tipo de
racionalidade ordenada e hierarquizada, mais próxima das leis
301
de mercado do que propriamente do homem emancipado.
Estes dois últimos séculos foram, como consequência, palco de
uma mudança na racionalidade educativa. Neles, o ideal
positivado foi sendo substituído por um ideal dialógico: o
mundo da consciência e dos fatos foi cedendo lugar ao mundo
da linguagem. A virada linguística158 constitui um dos
fenômenos decisivos de tal crítica. A substituição lenta, porém
gradual, de uma racionalidade instrumental por uma
racionalidade dialógica imprimiu uma reorientação nos
fundamentos do processo educativo humano.
Dentre as características do giro linguístico, esta reflexão
pretende olhar para as contribuições daquilo que se
denominou “virada linguística pragmática”, que tem em
Ludwig Wittgenstein um de seus maiores representantes. De
maneira singular, o filósofo de Viena, centralizando sua
preocupação sobre a linguagem e seu uso, substitui o sujeito
desprendido da sociedade moderna pelo sujeito engajado das
comunidades
contemporâneas.
Lá
Descartes,
aqui
Wittgenstein. Lá a autonomia da razão, aqui um sujeito
constituído pelo contexto. Lá a subjetividade, aqui a
intersubjetividade. Apresentar os traços característicos dessa
nova racionalidade é o objetivo deste capítulo. A concepção
pragmática da linguagem, conforme o Wittgenstein tardio, não
deixa de ser uma referência importante nos atuais debates
sobre os fundamentos da Educação.
Com a publicação das Investigações Filosóficas,
Wittgenstein reforma sua concepção de linguagem defendida
inicialmente no Tractatus Logico-Philosophicus. A linguagem
deixa de ser um instrumento de comunicação do
“A virada linguística (...) foi um passo definitivo para sepultar a herança platônica,
cartesiana e kantiana, de que há um intelecto com uma capacidade de inteligibilidade
(ascese platônica), um sujeito com uma mente cognitiva com capacidade de produzir
por si só o pensamento (conhecimento calcado na certeza cuja fonte é o cogito
cartesiano, entendido como substância sem extensão, mental), e um ser dotado de
uma razão cujos princípios puros, a priori, armam uma rede para toda e qualquer
apreensão racional do mundo (intelectualismo kantiano)” (ARAÚJO, 2004, p. 107).
158
302
conhecimento e passa a ser a condição de sua possibilidade e
constituição. Parece, então, que a linguagem de matriz
objetivista, designativa e instrumentalista perde seu lugar de
preferência, abrindo espaço para a recuperação do dinamismo
da linguagem ordinária na elaboração de nossas proposições.
Wittgenstein parece estar ciente de que o ideal de exatidão da
linguagem é um entre tantos mitos filosóficos. Esta postura
inovadora imprime, há seu tempo, novos rumos também à
árdua tarefa de fundamentação da Educação.
Admitindo-se que a linguagem expressa um mundo sem
nenhum vínculo com situações concretas de uso, ela é
destituída de qualquer sentido, conforme podemos perceber
nas anotações do parágrafo 88 das Investigações, quando o
autor argumenta em a favor das necessárias condições de uso:
“o ideal de exatidão não é unívoco, não sabemos como o
devemos conceber, a não ser que tu próprio determines o que
é que receberá esse nome; mas vai-te ser difícil fazer uma
determinação destas; uma que te satisfaça” (WITTGENSTEIN,
1995b, § 88).
Aqui, o filósofo se mostra convencido de que é
impossível determinar a significação das palavras sem a
necessária consideração do contexto sócio-prático em que são
utilizadas. O autor tem convicção, também, de que a
linguagem é sempre ambígua, uma vez que suas expressões
não são possuidoras de uma significação definitiva. Toda
pretensão de uma exatidão linguística faz cair numa ilusão
metafísica. Esta mudança de direção exige reconsiderar toda a
pretensão do isomorfismo (a linguagem igual ao mundo). A
partir dela também podemos recolher um material que
permite rever as estruturas basilares de um discurso educativo
específico, aquele produzido pelas bases positivas que
pretendiam inserir a educação numa concepção científica do
mundo.
Apresentaremos, a seguir, alguns conceitos-chave,
emanados de Investigações Filosóficas, com o objetivo de
303
visualizar possibilidades inovadoras e alternativas à educação
de matriz científica. As noções de jogos de linguagem,
seguimento de regra e formas de vida permitem um alargamento
das bases epistemológicas que sustentam a educação.
O CENÁRIO DA PRAGMÁTICA: WITTGENSTEIN REPENSANDO
WITTGENSTEIN
Na obra que marca a segunda fase do pensamento de
Wittgenstein – as Investigações Filosóficas – efetiva-se
definitivamente a denominada virada linguístico-pragmática.
Wittgenstein e Pierce159 compõem as referências mais
significativas da opção pelo critério de uso na elaboração dos
significados. A virada linguística representou a tarefa de
substituição do primado da consciência pelo da linguagem;
deu possibilidade de falar sobre o mundo, mostrando que as
questões de verdade poderiam assumir outra perspectiva,
aquela do signo da linguagem ao invés daquele da
interioridade. Os critérios de verdade deveriam ser reunidos
no âmbito da linguagem.
O movimento percorre um histórico que se desdobra
primeiramente de uma proximidade com a sintaxe, passando,
em seguida, pelos desafios da semântica, culminando na
pragmática. A tarefa de análise da linguagem se inicia
fundamentada na convicção de que seria possível a separação
entre o significado da palavra e as situações em que a mesma
se encontra. A preocupação dos filósofos não se resumia, no
entanto, a este exercício de distinção; pretendiam de igual
maneira compor uma força tarefa que assumisse o
compromisso de clarificar a linguagem, livrando-a de todos os
elementos estranhos capazes de torná-la fonte de confusões.
Não podemos deixar de considerar o empreendimento de
159 Charles Sanders Peirce é um dos fundadores da Semiótica. No conjunto de sua
obra, pode-se perceber o direcionamento pragmático impresso a considerações sobre a
lógica simbólica e a metodologia científica.
304
Frege160, especialmente devotado aos alicerces da matemática e
à construção de uma linguagem formal, uma Begriffschrift, ou
seja, uma escrita do conceito. A este respeito, Frege esclarece:
deve-se separar do conteúdo de uma frase a parte que se pode
apenas aceitar como verdadeira ou falsa. Chamo essa parte de
pensamento expresso pela frase [...] É apenas essa parte do
conteúdo que diz respeito à lógica. Chamo qualquer outra
coisa que mascare o conteúdo de uma frase de coloração de
um pensamento (FREGE, s/d, p. 198).
É sobre esta influência fregeana que também o Tractatus,
para a conclusão de seu propósito, deveria ser orientado. O
objetivo de seu autor, na ótica de D´Agostini (2003, p. 208), era
“de manter-se no puro nível da análise lógico-linguística, sem
pôr em jogo o problema da realidade, do conhecimento ou do
mundo”. O Tractatus, então, é parte do conjunto daquelas
obras que tentaram banir a linguagem ordinária do cenário de
possibilidades de significação do mundo. É clara a influência
de Frege sobre Wittgenstein. A linguagem formal cumpriria,
assim, o propósito de uma representação clara do dizível.
No Tractatus, a concepção de linguagem se mostra numa
teoria figurativa da proposição, constituindo um retrato lógico
da realidade. Em um empreendimento que recorda Kant,
Wittgenstein parte do factum da linguagem para determinar os
limites do que possa ser expresso, sem dúvida, um fato
inquestionável que a linguagem, assim como o pensamento,
constitui a natureza universal e privada dos seres humanos.
Os limites do pensado serão traçados na linguagem, e tudo
aquilo que porventura esteja situado no outro lado da
linguagem inteligível identifica-se com o sem sentido e com o
ininteligível. O pensado corresponde à totalidade das
proposições genuínas e a ciência natural se faz referir pela
160 Matemático e filósofo germânico, nascido em Wismar, Mecklenburg-West, na
Pomerania. É considerado o fundador da moderna lógica matemática e uma das
principais influências sofridas por Wittgenstein.
305
totalidade das proposições verdadeiras (VALLE, 2003, p. 5960).
Aquele banimento, contudo, não duraria para sempre. A
recuperação da linguagem ordinária começa a aparecer nos
textos de Wittgenstein que datam da década de 1940. A força
expressiva dos significados cede lugar à força dos enunciados.
Nesse contexto, uma nova possibilidade se afirmaria com o
abandono das pretensões de uma linguagem formal capaz de
captar a essência do mundo. O contexto social e a situação
diária se apresentam como desafios diante do restrito espaço
da proposição lógica a espelhar o mundo. Como nota
D’Agostini (2003, p. 207):
Ian Hacking, no texto de 1975, de título Linguaggio e filosofia
(Linguagem e Filosofia), propõe uma rápida reconstrução,
distinguindo uma primeira fase de “apogeu dos significados”,
que coincidiria com o trabalho de Frege, de Russell, do
primeiro Wittgenstein e de outros pensadores analíticos,
aproximadamente até os anos cinquenta, depois uma segunda
fase de “apogeu dos enunciados”, típica do trintênio entre o
segundo pós-guerra e a metade dos anos setenta.
O eixo fundamental da virada pragmática pode ser
localizado na possibilidade de se falar sobre o mundo a partir
da linguagem ordinária, ou comum, vivenciada não mais a
partir daquela forma cristalina e artificial conforme desejada
por Frege e Wittgenstein no Tractatus.
Num primeiro
momento, da virada linguística, pretendia-se um encaixe
perfeito entre as formulações da ciência e da filosofia com a
sintaxe lógica ideal e universal. Agora, nesse tempo de
perspectiva pragmática, há todo um interesse pela linguagem
comum, do cotidiano, cuja análise não precisa necessariamente
estar fixada numa proximidade com uma forma lógica
objetiva, mas possuir relação possível e aceita no mundo.
306
O centro da linguagem não é mais a proposição assertórica. O
mundo é visto como a síntese de possíveis fatos, para uma
comunidade linguística, para uma comunidade de
interpretação, cujos membros têm condições de entender-se
entre si, acerca de algo no mundo. Esse salto da semântica
para a pragmática introduz uma diferença entre o “real”
representado em proposições veritativas e o “verdadeiro”
como resultado do posicionamento da discussão quanto à
pretensão de validez de uma asserção interpretada pelos
interlocutores, na qual se leva em conta sua validade
epistêmica para uma comunidade (ARAÚJO, 2004, p. 109).
O trabalho analítico deixou de ser uma busca incessante
da lógica pelo significado ideal. O trabalho assume agora a
função de clarear a linguagem a partir da própria linguagem. A
linguagem ultrapassa a simples função isomórfica desde uma
explicação, oportunizada pela flexibilização das possibilidades
da ação na fala. Nesse sentido, à filosofia ainda cabe o
exercício de clarificação conceitual. Ela prossegue em sua
função terapêutica, não mais no sentido de atingir uma
linguagem perfeita, mas naquele de clarear os conceitos a
partir da linguagem ordinária. Portanto, o desenvolvimento
da chamada reflexão filosófica sobre a questão da linguagem,
no âmbito analítico, pode ser interpretada como segue:
Nos anos cinquenta a oitenta, com base em diversos critérios:
a) com a abertura da análise à linguagem comum; b) como
virada do referencialismo; c) como passagem de uma visão
normativa da lógica e da análise a uma visão heurística e
‘construcionista’ de uma e de outra. As três ‘passagens’
(embora nem sempre se tratasse de um efetivo
desenvolvimento) documentam complexivamente uma
abertura a âmbito de indagação, como as ‘formas de vida’ ou
as ‘intenções’, abertura que se revela afim, em muitos
aspectos, da investigação fenomenológico-hermenêutica de
abertura, além dos confins do transcendentalismo e do
objetivismo científico (D’AGOSTINI, 2003, p. 216).
307
No contexto da pragmática, conforme pensada nas
Investigações Filosóficas, as questões concernentes à linguagem
se distanciarão das pretensões de certeza em relação ao
mundo. Os problemas deverão ser dissolvidos pelas
comunidades culturais na troca de informações. A proposta
presente em Investigações Filosóficas denuncia o limite filosófico
presente no Tractatus. Nela se apresenta a variedade dos
modos de significação da linguagem corrente. A equivalência
entre significado e verdade, obtida pela apresentação das
condições de sua verdade, é substituída por uma equivalência
expressa na significação e no uso: ou seja, a significação é o
uso. O rigorismo do Tractatus não é abandonado, mas perde
seu status de superioridade, tornando-se mais um entre os
tantos exercícios de significação no uso.
INVESTIGAÇÕES FILOSÓFICAS
No Tractatus, Wittgenstein tinha como objetivo resolver
os problemas da Filosofia que, segundo ele, resultavam da má
compreensão da lógica de nossa linguagem. Ao final de seu
escrito, estava o filósofo tão satisfeito e tinha o forte
convencimento de ter chegado a um ponto de certeza
definitiva e intocável. Desse modo, assim escreve no prefácio:
“Por outro lado, a verdade dos pensamentos aqui comunicados
parece-me intocável e definitiva. Portanto, é minha opinião
que, no essencial, resolvi de vez os problemas”
(WITTGENSTEIN, 1995a, p. 28).
No entanto, em Investigações Filosóficas, Wittgenstein
reconhece os limites daquilo que havia exposto no Tractatus,
de tal forma que tinha a intenção de ver esta sua nova obra
publicada junto com a primeira. Seu desejo repousava na
necessidade de mostrar que esta só poderia ser entendida à luz
daquela. Nas Investigações, é evidente o esforço para corrigir os
limites antes não percebidos no Tractatus (por isso a obra era
intocável e definitiva). Podemos considerar, então, que entre
308
uma obra e outra não existe uma ruptura quanto à temática de
fundo, qual seja, a intenção clarificadora de nossas
proposições da linguagem. Wittgenstein continua tentando
responder à mesma pergunta: como se pode falar sobre o
mundo?
De súbito, pareceu-me então que devia publicar
conjuntamente a minha velha com a minha nova maneira de
pensar: que esta só podia ser verdadeiramente iluminada pelo
contraste e contra o campo de fundo daquela. Desde que há 16
anos comecei de novo a ocupar-me de Filosofia, tive que
reconhecer erros graves no que escrevi no meu primeiro livro
(WITTGENSTEIN, 1995b, p. 166).
Wittgenstein, ao tentar uma resposta à sua pergunta, não
estava simplesmente abandonando sua antiga forma de
pensar, pelo contrário, estava, a partir de uma autocrítica,
reformulando as conclusões do Tractatus e ampliando a análise
da linguagem. Se, no Tractatus, a análise se dava por meio da
sintaxe, nas Investigações, a tarefa migra para a pragmática. De
acordo com a apresentação sistemática que faz nas
Investigações Filosóficas, o primeiro ponto de enfrentamento
com o Tractatus a ser reformulado neste momento é o
necessário abandono da busca pelo simples. A esse respeito, diz
o filósofo:
Mas quais são as partes constituintes simples de que a
realidade se compõe? – quais são as partes constituintes
simples de uma cadeira? – os pedaços de madeira de cuja
reunião ela resulta? Ou as moléculas, ou os átomos?
(WITTGENSTEIN, 1995b, § 47).
No Tractatus, a realidade complexa poderia ser reduzida
às suas partes simples, identificadas como fato atômico e este
poderia ser espelhado pela linguagem, mostrando seu valor de
verdade. A esse respeito, escreve Stegmüller (1977, p. 432):
309
Entre as críticas diretas figura a rejeição que Wittgenstein faz
do absolutismo e do atomismo contidos no Tractatus. O
absolutismo vem expresso na tese de que o mundo, como fato,
é divisível em fatos mais simples de um e apenas um modo; o
atomismo consiste na assertiva de que esta divisão conduz aos
fatos mais simples (os fatos atômicos elementares), em cuja
formação aparecem novamente coisas atômicas, isto é,
indivíduos e atributos indecomponíveis. As duas teses agora
são abandonadas.
Assim, vemos que não mais se defende a conexão direta
do nome com o fato atômico, a isomorfia linguagem-mundo.
Agora, para cada objeto nomeado existem diversas
possibilidades de estados de coisa e, mesmo que o objeto ou o
portador do nome desaparecesse, ainda assim teríamos a
possibilidade de compreender a proposição. Se disser “Piaget
morreu”, por mais que o portador do nome não mais exista,
isso não quer dizer que tudo que eu sei sobre o professor suíço
tenha desaparecido junto com o ‘objeto’. Diz Wittgenstein
(1995b, § 80):
Eu digo: ‘Ali está uma cadeira’. E se eu me deslocar para ir
buscar e ela de repente desaparecer da minha vista? – ‘Então
não era uma cadeira, era uma ilusão qualquer’. – Mas alguns
segundos mais tarde vemos de novo a cadeira, podemos tocarlhe, etc. – ‘Então é porque a cadeira afinal lá estava, e o seu
desaparecimento foi uma ilusão qualquer’. – Mas supõe que,
passado algum tempo, desaparece outra vez – ou parece
desaparecer. O que é que devemos dizer? Dispões de regras
para esses casos, que estipulem se se pode ainda chamar a esta
coisa ‘cadeira’? Mas sente-se a sua falta ao usarmos a palavra
‘cadeira’? Devemos dizer que, de facto, não associamos
qualquer sentido a esta palavra, uma vez que não estamos
munidos de regras para todas as possibilidades do seu
emprego?
Assim, mesmo que a cadeira, referida na citação,
desapareça aos nossos olhos, continuamos sabendo de sua
existência e sobre ela podemos fazer referências. São variados
310
os aspectos sobre um mesmo objeto. Estes aspectos
determinam o contexto de uso, o contexto de fala. Tal contexto
se apresenta na indicação do filósofo na força da regra:
Uma regra é como um sinal postado a meio do caminho. –
Não deixa ele também qualquer dúvida em aberto sobre o
caminho que eu tenho que seguir? Mostra a direção que eu
tenho que seguir quando passo por ele, se pela estrada, pelo
campo ou a corta-mato? Como se determina o sentido em que
eu devo segui-lo? Na direcção, por exemplo, do dedo
indicador da mão nele desenhada, ou na direcção oposta? – E
se em vez de um sinal postado a meio do caminho estiver uma
cadeia cerrada de sinais, ou traços de giz que se cruzam no
chão? – Há apenas neste caso uma interpretação? – Bom, então
afinal posso dizer que o sinal não deixa qualquer dúvida em
aberto. Ou melhor: às vezes deixa uma dúvida em aberto,
outras vezes não. E isto já não é uma proposição filosófica,
mas uma proposição empírica (WITTGENSTEIN, 1995b, § 85).
A pragmática, portanto, inscreve um novo quadro capaz
de produzir um significativo abalo nas pretensões do
Tractatus. Qual a arquitetônica dos recursos para a formação
do significado que emerge das Investigações? Já no primeiro
parágrafo, o filósofo oferece algumas pistas. Acompanhemos o
raciocínio:
Agora pensa na seguinte aplicação da linguagem: eu mando
uma pessoa às compras. Dou-lhe uma folha de papel na qual
se encontra escrito o seguinte: cinco maçãs vermelhas. […]
Mas como sabe ele onde e como deve procurar a palavra
‘vermelha’ e o que tem a fazer com a palavra ‘cinco’? […]
Todas as palavras chegam algures a um fim. - Mas qual é a
denotação da palavra ‘cinco’? – Aqui não se falou disso, mas
apenas de como a palavra cinco é usada (WITTGENSTEIN,
1995b, § 1, grifos nossos).
Segue-se disso que não precisamos mais perguntar sobre
o significado de uma palavra, antes devemos prestar atenção
ao contexto da fala, quer dizer, ao ambiente (situação,
311
momento, circunstância) em que ela está sendo utilizada. Caso
não haja compreensão, estamos habilitados a perguntar: “O
que você quis dizer com esta expressão?” Wittgenstein parece
estar convicto de que todas as palavras, quando ditas, têm
intenção de transmitir alguma informação, seja uma piada,
uma oração, uma ordem, um agradecimento, etc. Entender o
contexto em que determinada expressão foi pronunciada é
deparar-se com a multiplicidade de jogos de linguagem que a
podem produzir no cotidiano. O conceito de jogo de
linguagem e o necessário arcabouço de suas regras de suporte
tornam-se, portanto, fundamentais na determinação dos
significados.
OS JOGOS DE LINGUAGEM E O SEGUIMENTO DE REGRAS
A expressão jogo linguagem não recebe por parte do
filósofo uma definição acabada. No desenvolvimento da obra,
pode-se perceber o emprego da expressão em vários contextos.
Num primeiro momento, designa certas formas primitivas de
linguagem, por exemplo, as utilizadas pelas crianças quando
aprendem a falar. De igual maneira, também faz referência a
tudo aquilo que se convenciona chamar de ‘ato de fala’, como
comandar,
agradecer,
felicitar,
mentir
etc.
(cf.
WITTGENSTEIN, 1995b, § 23). Mas também designa a
linguagem ordinária, tomada com as atividades nas quais está
implicada. Em suma, por esta expressão Wittgenstein quer
apontar para certos sistemas linguísticos particulares, que
fazem parte das atividades nas quais as palavras assumem
sentidos particulares: construir um objeto a partir de uma
descrição, desenvolver um raciocínio, formar e testar
hipóteses, elaborar previsões.
Um jogo de linguagem, com suas regras, tem sentido tão
somente no interior de um determinado contexto. Se formos
capazes de jogar, somos capazes de entender a multiplicidade
das regras que condicionam o jogo determinado. Na base do
312
jogo, encontramos, portanto, as regras afinadas numa
gramática. Esta não garante o êxito do jogo, mas determina se
possui ou não sentido. Não basta conhecer as palavras,
devem-se conhecer seus possíveis usos. Sobre as regras de um
jogo, pode-se considerar:
Elas abrangem um número ilimitado de ocasiões, constituindo
padrões para o uso correto de expressões. Nós as invocamos
para justificar ou criticar empregos de palavras, o que significa
que elas constituem nossas razões para usar as palavras do
modo que usamos. E se, ao indagarmos por que usamos as
palavras, ambicionamos estabelecer as causas para termos
adotado certas regras, essa será uma questão irrelevante para
o significado das palavras em foco (embora possa ser
relevante para sua etimologia). O significado é o uso em
conformidade com as regras gramaticais (GLOCK, 1998, p. 360).
Sobre essa condição necessária para obtenção do
significado, Glock dispõe: “Seguir uma regra é uma expressão
verbal indicativa de realização: há uma diferença entre crer
que se está seguindo uma regra e estar de fato seguindo-a”
(GLOCK, 1998, p. 312). Pois as regras nada mais são do que
padrões definidos de correção e que não necessariamente
descrevem, por exemplo, como as pessoas se vestem, mas
definem o que é se vestir com sentido e adequadamente161.
Senão, vejamos o que diz próprio Wittgenstein ao tratar do
‘seguimento da regra’ e suas relações com os costumes:
Segundo Glock, “no ‘Tractatus’, as regras linguísticas constituem a SINTAXE
LÓGICA, um complexo sistema de cálculo, contendo normas inexoráveis ocultas por
sob a superfície da linguagem natural. Em meados da década de trinta, Wittgenstein já
se afastara dessa ideia do CÁLCULO COMO MODELO para a linguagem. Rejeitara,
em particular, a ideia de que, sendo ignoradas por nós, guiam o comportamento
linguístico e determinam aquilo que faz sentido dizer. O papel estratégico de sua
celebrada discussão acerca da atividade de seguir uma regra é esclarecer o modo
como as regras guiam o nosso comportamento e determinam o significado das
palavras” (GLOCK, 1988, p. 312).
161
313
É aquilo que chamamos ‘seguir uma regra’ algo que apenas
um homem, uma vez na vida, pudesse fazer? – E isto é
naturalmente uma nota acerca da gramática e da expressão
‘seguir uma regra’. Não pode ser que uma regra tenha sido
seguida uma única vez por um único homem. Não pode ser
que uma comunicação tenha sido feita, que uma ordem tenha
sido dada ou compreendida apenas uma vez. Seguir uma
regra, fazer uma comunicação, dar uma ordem, jogar uma
partida de xadrez, são costumes (usos, instituições).
Compreender uma proposição significa compreender uma
linguagem. Compreender uma linguagem significa dominar
uma técnica (WITTGENSTEIN, 1995b, § 199).
Logo, seguir uma regra significa muito mais do que
simplesmente praticar o jogo de linguagem correto, é antes
uma técnica aprendida em determinada forma de vida.
Mas, quantas espécies de frase existem? Porventura
asserção, pergunta e ordem? Há inúmeras de tais espécies:
inúmeras espécies diferentes de emprego do que
denominamos signos, palavras, frases. E essa variedade não é
algo fixo, dado de uma vez por todas; mas, podemos dizer,
novos tipos de linguagem, novos jogos de linguagem surgem,
outros envelhecem e são esquecidos (cf. WITTGENSTEIN,
1995b, § 23-24).
Nesse sentido, podemos dizer que na multiplicidade dos
jogos de linguagem apresenta-se também a pluralidade das
formas de vida, bem como o indispensável caráter social para
a elaboração de uma linguagem com significado. É numa
determinada interação social que adquirimos essa prática, é
por pertencermos a certa forma de vida que temos a
possibilidade de jogar. Diz Wittgenstein (1995b, § 23-24):
Dar ordens e agir de acordo com elas. Descrever um objeto a
partir do seu aspecto ou das suas medidas. Construir um
objeto a partir de uma descrição (desenho). Fazer conjecturas
sobre o acontecimento. Formar e examinar uma hipótese.
Representação dos resultados de uma experiência através de
tabelas e diagramas. Inventar uma história; lê-la.
314
Representação teatral. Cantar numa roda. Resolver advinhas.
Fazer uma piada; contá-la. Resolver um problema de
aritmética aplicada. Traduzir de uma língua para outra. Pedir,
agradecer, praguejar, cumprimentar, rezar.
Nas
Investigações
Filosóficas,
apresentam-se
as
consequências da diversidade de linguagens162. Cada uma
delas, no Wittgenstein tardio, obedece às próprias regras de
significação, e pode-se dizer que nenhuma é melhor nem mais
correta que a outra. Não existe uma hieraquia de conceitos.
Não existe um superconceito capaz de servir como base para a
derivação de outros dele dependentes. Os jogos são
independentes entre si. As expressões jogo de linguagem e
sistema linguístico particular, no entanto, não parecem ser
equivalentes na obra do autor. Um sistema linguístico
particular propicia uma abertura que nos faz adentrar no jogo.
É clara a opção preferencial do autor pela palavra jogo. A
linguagem não é um conjunto de signos coerentes e lógicos
fundados sobre princípios gerais. O jogo surge
espontaneamente, sem uma direção específica. O homem,
afirma Wittgenstein (1995a, 4.002),
possui a capacidade de construir linguagens com as quais
pode expressar qualquer sentido sem ter nenhuma noção de
como e do que significa cada palavra – tal como se fala sem se
saber como os sons individuais são produzidos.
Wittgenstein (1995b, § 70-71), ainda, entende o próprio
jogo de linguagem como um jogo. Isto se deve ao fato de ele
162 No prefácio do volume sobre Wittgenstein, na coleção “Os Pensadores” (São Paulo:
Nova Cultural, 1996, p. 13), há a seguinte consideração acerca desta época: “A
linguagem – diz o ‘segundo Wittgenstein’ – engendra ela mesma superstições das
quais é preciso desfazer-se, e a filosofia deve ter como tarefa primordial o
esclarecimento que permita neutralizar os efeitos enfeitiçadores da linguagem sobre o
pensamento. O centro deste enfeitiçamento da linguagem sobre a inteligência
encontra-se nas tentativas para se descobrir a essência da linguagem; é necessário, ao
contrário, não querer descobrir o que supostamente esteja oculto sobre a linguagem,
mas abrir os olhos para ver e desvendar como ela funciona”.
315
reconhecer que não existe um único jogo de linguagem, não
existe uma forma geral da proposição como havia defendido
no Tractatus (WITTGENSTEIN, 1995a, 6). Deve-se também à
sua intenção de mostrar as similitudes ou semelhanças de
família existentes entre os diferentes jogos de linguagem
conforme o que se pode constatar nos parágrafos 65 e 66 de
Investigações Filosóficas. Mais especificamente, no final da
proposição 66, pode-se ler: “... e o resultado dessa investigação
é o seguinte: vemos uma rede complicada de parecenças que
se cruzam e sobrepõem umas às outras. Presenças de conjunto
e de pormenor”. Nos espaços de interação não param de
surgir novos jogos de linguagem, mantendo entre si certas
semelhanças, que são chamadas ‘semelhanças de família’.
Entretanto, semelhança ou parentesco não é identidade. A
semelhança não envolve uma propriedade comum invariável.
Ao dizer que alguma coisa é semelhante a outra coisa, não
estou de forma alguma postulando identidade entre ambas.
As semelhanças podem variar dentro de um determinado jogo
de linguagem ou ainda de um jogo de linguagem para outro,
isto é, essas semelhanças podem aparecer ou desaparecer
completamente dentro de um jogo de linguagem, ou ainda
aparecer ou desaparecer na passagem de um jogo de
linguagem para outro, ao passo que a forma lógica tractariana,
enquanto essência, deveria necessariamente permanecer a
mesma em todos os contextos linguísticos (CONDÉ, 1998, p.
92).
AS SEMELHANÇAS DE FAMÍLIA, A FORMA DE VIDA E A
GRAMÁTICA
Os parentescos, presentes em todos os jogos de
linguagem, podem ser entendidos como uma complicada rede
de ações e significações que mudam de um para outro jogo.
Conscientes da existência de variados jogos, brincadeiras tais
como tabuleiro, roda, cartas, em grupo, individual etc., somos
conduzidos a reconhecer igualmente a presença dos mais
316
diversificados jogos de linguagem, que possuem em comum
apenas o fato de serem tomados como jogo, mais praticamente
como formas de agir no mundo. Tratando da questão dos
jogos, numa analogia com jogos de tabuleiro, Wittgenstein
(1995b, § 66) escreve:
Considera, por exemplo, os processos aos quais chamamos
‘jogos’. Quero com isto dizer os jogos de tabuleiro, os jogos de
cartas, os jogos de bola, os jogos de combate, etc. O que é que é
comum a todos eles? Não respondas: tem de haver alguma
coisa em comum, senão não se chamariam ‘jogos’ – mas olha,
para ver se têm alguma coisa em comum. – Porque, quando
olhares para eles não verás de facto o que todos têm em
comum, mas verás parecenças, parentescos, e em grande
quantidade. Como foi dito: não penses, olha! – Olha, por
exemplo, para os jogos de tabuleiro com seus múltiplos
parentescos. A seguir considera os jogos de cartas: encontras
aqui muitas correspondências com a primeira classe mas
desaparecem muitos aspectos comuns, outros aparecem […]
Olha para o papel que desempenham a habilidade e a sorte. E
quão diferente é a habilidade no xadrez e a habilidade no jogo
de tênis. […] E o resultado dessa investigação é o seguinte:
vemos uma rede complicada de parecenças que se cruzam e
sobrepõem umas às outras. Parecenças de conjunto e de
pormenor.
Assim, Wittgenstein mostra que não há uma essência
comum a todos os jogos fora do fato de serem tomados como
jogos. Não há nada em comum na linguagem que pudéssemos
colocar como sendo sua essência unitária e universal.
Abandonando a pretensão de essência, o filósofo pede apenas
para que focalizemos nosso olhar no modo como utilizamos a
linguagem no dia-a-dia, que prestemos atenção aos usos das
diferentes palavras e como seu emprego nos revela o caráter
de sua mutabilidade permanente; basta olhar! Certa
linguagem não é mais importante e esclarecedora que outra.
Cada uma se resolve no interior de seu jogo. Uma linguagem
científica é apenas um jogo dentre tantos outros, não detém
317
nenhuma exclusividade. Uma formulação da física quântica,
uma afirmação moral ou ainda um aceno de mão e um jogo de
amarelinha são incomensuráveis. Seu sentido está no próprio
jogo que as produz. Como não ter presente a imagem da velha
cidade indicada pelo autor na passagem seguinte?
A nossa linguagem pode ser vista como uma cidade antiga:
um labirinto de travessas e largos, casas antigas e modernas, e
casas com reconstruções de diversas épocas; tudo isto rodeado
de uma multiplicidade de novos bairros periféricos com ruas
regulares e as casas todas uniformizadas (WITTGENSTEIN,
1995b, § 18).
Os jogos de linguagem pedem somente a presença dos
falantes inseridos numa forma de vida. Com estes termos
(jogos de linguagem e formas de vida), buscava o filósofo, por
um lado, demonstrar a ligação existente entre as palavras e as
proposições por meio da intenção dos falantes. De outro,
desejava mostrar, de uma maneira mais geral e profunda, que
os atos de jogar fazem parte da história natural do homem. O
jogo de linguagem, portanto, é uma atividade afinada com
uma forma de vida partilhada por parceiros linguísticos. Sua
identidade é produzida pela inserção no contexto cultural e
social, na adoção de opiniões e crenças comuns a um tipo
determinado de atividades precisas.
Aqui estão presentes dois aspectos. Conforme o primeiro
deles, nossa história natural, ou atividade humana, ressalta a
dimensão biológica e cultural presente nas formas de vida,
pois, segundo Spaniol, a forma de vida envolve não apenas
uma dimensão biológica, mas principalmente cultural. Isso é
atestado pelos jogos de linguagem. Muito mais complexo, o
segundo aspecto diz respeito ao problema da fundamentação.
Vimos que a noção de jogo de linguagem nega qualquer forma
de essência ou fundamento último. A forma de vida constitui
o lugar no interior do qual a linguagem se assenta (CONDÉ,
1998, p. 104).
318
Por meio da noção de forma de vida, Wittgenstein faz
deslocar a força da significação em direção àquela da
compreensão. Parece, portanto, que a força motriz das
Investigações se assenta numa antropologia filosófica que
substitui a base lógica desejada no Tractatus. Participar de
uma forma de vida é se adaptar a uma determinada maneira
de compreender o mundo, de agir e de se relacionar. É
poder não só entender o que é dito, mas também entender
as ambiguidades possíveis de determinados enunciados; é
participar de uma comunidade cultural.
Uma pessoa que chegue a uma terra desconhecida aprenderá
algumas vezes a língua dos seus habitantes através de
explicações ostensivas, que estes lhe darão; e muitas vezes terá
de adivinhar a interpretação destas explicações; e algumas
vezes adivinhará corretamente, outras vezes incorretamente
(WITTGENSTEIN, 1995b, § 32).
Devemos entender, por exemplo, que participar de uma
forma de vida não é só conhecer a língua de determinado país,
mas é compreender o modo como aquela comunidade vive.
Podemos conhecer as palavras, conhecer as regras gramaticais
de determinada língua, porém, se não nos são próximas as
circunstâncias do cotidiano daqueles que a praticam, teremos
sérias dificuldades para saber o que pretendem expressar.
Assim,
saber do significado envolve saber a que objeto alguém se
refere numa dada ocasião de uso, se é gíria ou não, se é um
segmento incompleto de uma fala, se a prosódia importa ou
não, etc. Saber disso é simplesmente saber como usar e,
geralmente quem sabe usar, sabe o significado (ARAÚJO,
2004, p. 111).
Resulta desse posicionamento o fato de saber que os
significados não podem ser entendidos de maneira privada,
eles são decorrência de processos intersubjetivos. Enquanto
319
ferramenta, a linguagem pede que se compreenda o contexto e
a dinâmica de sua utilização. Se nossa intenção é pregar,
usamos o martelo; caso queiramos parafusar, o instrumento
adequado é a chave de fenda, e assim por diante. Esse é
também o procedimento que deriva de um jogo de linguagem.
Quando queremos rezar, contar uma piada, declamar um
poema, fazer uma operação matemática, emitir um juízo ou
um som que signifique dor etc. dispomos de modos
específicos para a ação. Não podemos simplesmente admitir a
possibilidade de martelar usando a chave de fenda? Evidente
e, talvez, cheguemos ao resultado esperado, porém, as
dificuldades serão manifestas.
Ao utilizarmos a ferramenta indicada para cada
operação, nossas chances de êxito aumentam. Diz
Wittgenstein no parágrafo 1 das Investigações filosóficas: “todas
as palavras chegam algures a um fim”; ou seja, todas as
palavras transmitem alguma informação, mas se praticarmos o
jogo adequado veremos nosso esforço traduzido em sucesso.
Seguimos o filósofo em mais uma indicação esclarecedora:
A religião ensina que a alma pode subsistir quando o corpo se
desintegra. Compreendo eu então o que a religião ensina? –
Claro que compreendo, eu posso ter dessa ideia diversas
imagens visuais. Já se fizeram pinturas sobre estes temas. E
por que seriam estas pinturas apenas uma reprodução
imperfeita do pensamento expresso em palavras? Por que não
podem desempenhar a mesma função da doutrina expressa em
palavras? E o essencial é a função (WITTGENSTEIN, 1995b,
parte II, IV-4).
Parece existir uma espécie de constância no
comportamento humano alicerçado sobre as regras; ela seria
responsável por certa estabilidade em nossas relações. É por
isso que podemos falar de uma uniformidade natural nos
comportamentos de reação. As regras de convivência que
herdamos nos mantêm numa regularidade que fixa traços de
320
nossa cultura específica. Estas regras não são dadas a priori,
não são produtos de uma mente alçada por sobre o mundo.
Elas não são exclusivas de um cogito isolado. Não estão no
interior de um eu desengajado. Por isso, como indicamos
acima, elas não podem ser cumpridas em instância privada. As
regras também não compõem uma espécie de condição prévia
das coisas. Aliás, se poderia afirmar que são elas que
apresentam as condições em que as expressões e o mundo
adquirem sentido. O sentido ou sua carência emergem de uma
atividade social em constante transformação. O filósofo
esclarece:
O médico pergunta: ‘Como é que ele se sente?’ A enfermeira
responde: ‘Ele está a gemer’. Um relato acerca do
comportamento. Mas tem que necessariamente existir para
ambos a questão de saber se este gemer é realmente genuíno,
realmente a expressão de qualquer coisa? Não poderiam, por
exemplo, tirar a seguinte conclusão ‘Se está a gemer, temos
que lhe dar mais analgésico’ sem ter que ocultar um termo
médico? Não é o essencial a função que para eles desempenha
a descrição do comportamento? ‘Mas, então, eles adotam
justamente um pressuposto tácito’. Mas o processo do nosso
jogo de linguagem assenta, então, sempre num pressuposto
tácito (WITTGENSTEIN, 1995b, parte II, V-4).
Estaríamos em condições de afirmar que o uso da
linguagem no espaço de um jogo não pode ser feito
indiscriminadamente. Nossos jogos são determinados por
regras, ou seja, por sua gramática e é por isso que vivenciamos
certa constância em nossas relações. Não podemos duvidar
que o ato de gemer, como expresso na citação acima,
signifique ‘ter dores’. Gemer pressupõe dor e, portanto,
podemos tomar medidas curativas. Não faz sentido perguntar
pelo significado do gemer, ou de cada uma das palavras.
Perguntar-se sobre o que o interlocutor quis dizer com
determinada expressão é não entender o jogo. O não domínio
321
do jogo revela falta de familiarização com determinada
atividade. Resta então, ensinar o jogo:
A forma de vida na qual concordam todos os utentes de uma
linguagem é uma forma de vida onde seguir regras se tornou
uma espécie de segunda natureza não redutível a quaisquer
explicações mentalistas, na medida em que estas incorreriam
sempre num vício de circularidade, já que a possibilidade da
sua ocorrência pressupõe como um dado primitivo
precisamente aquilo que elas pretendem explicar e
fundamentar. Pôr em questão, como diz Pears, a autoridade
que me leva a chamar de vermelho à cor de uma dada flor é
auto-excluir-me do jogo de linguagem de descrever as cores
das coisas (ZILHÃO, 1993, p. 175).
A prática de um jogo não é uma disposição herdada
naturalmente. É preciso aprender a jogar; é preciso dominar
suas regras. Assim, essa espécie de adestramento inicial torna
possível nossa participação no ambiente em que estamos. É
necessário, portanto, certo tipo de adestramento não
intencional. De fato, temos um caráter de não intencionalidade
em tal situação. Para ilustrar, o autor das Investigações remete
ao exemplo do livro Confissões com que abre as Investigações
Filosóficas, para criticar o modus operandi destacado por Santo
Agostinho para descrever um sistema de comunicação.
Santo Agostinho descreve, poderíamos dizer, um sistema de
comunicação; só que nem tudo aquilo que chamamos de
linguagem é este sistema. E isto é o que se tem que dizer em
todos aqueles casos em que se põe a questão ‘Pode-se usar
esta descrição ou não?’ A resposta então é: ‘Sim, pode usar-se,
mas apenas para este domínio estritamente circunscrito
[linguagem primitiva], não para a totalidade que tinhas a
pretensão de descrever’ (WITTGENSTEIN, 1995b, § 1).
Wittgenstein continua mostrando que essa ‘linguagem
primitiva’ descreve uma forma de comunicação, mas ela não
322
abarca todas as nuances e toda a complexidade de nossa
linguagem.
É isso mesmo que é notável na intenção, nos processos da
consciência, que para eles [um povo que não conhece o jogo
de xadrez] a existência do costume, da técnica, não é
necessária; que é, por exemplo, pensável que num mundo, no
qual não existem jogos, duas pessoas joguem uma partida de
xadrez, ou também só o princípio de uma partida de xadrez e
depois sejam interrompidas. Mas o jogo de xadrez não é
definido pelas suas regras? E como é que estão estas regras
presentes no espírito daquele que têm a intenção de jogar
xadrez? Seguir uma regra é análogo a obedecer a uma ordem.
É-se para isso adestrado e reage-se de uma determinada
maneira. Mas se, quer à ordem quer ao adestramento, uma
pessoa reage de uma maneira, outra pessoa de outra maneira,
etc.? Quem é que tem razão? (WITTGENSTEIN, 1995b, § 205).
Assim, podemos dizer que sempre temos a intenção de
usar determinado jogo de linguagem. Este não é usado de
forma automática; se entendemos as regras, sabemos usálas. E é só pelo fato de termos consciência das regras é que
somos capazes de perceber quando ela é violada. É por isso
que a adequação da regra ao contexto é de responsabilidade
daquele que fala.
A variação dos critérios de julgamento é o domínio da
significação conceitual; tal é um dos mais esclarecedores
resultados da terapia filosófica. Daí também fica claro que, do
ponto de vista da pragmática filosófica, a diferença categorial
entre o substantivo mesa e o adjetivo vermelho torna-se
operatória somente após a introdução de associações
convencionais e elementares que têm a função não de conectar
o pensamento com a realidade que lhe é exterior, mas de
tornar possível o pensamento significativo assim como a
significação da realidade. O conteúdo está para o pensamento
assim como este para a realidade, a saber, são duas condições
de possibilidade, e estas são geradas por associações
convencionais e elementares que introduzem a função
323
transcendental no interior da empeiria (MORENO, 2005, p.
388).
Que distância desde as pretensões do Tractatus! Não
sendo mais a isomorfia mundo-linguagem o objetivo a ser
alcançado pela análise, um número mais expressivo de fatores
é reivindicado na composição do significado de nossas
expressões. Os elementos lógicos e os dados sensíveis
constituem apenas parte do amplo conjunto de tantos outros
jogos possíveis. Uma determinada palavra pode ter um
número indefinido de emprego, e o problema filosófico mais
expressivo mostra-se no exercício de vigilância do uso das
regras nas paisagens da gramática de um jogo, tanto em sua
superficialidade quanto em sua profundidade.
Porque os problemas, que devem desaparecer, são malentendidos gramaticais, isto é, provêm de uma interpretação
errônea do emprego ou da gramática de nossa linguagem,
também o trabalho filosófico toma a forma de uma
consideração gramatical. E, à medida que a gramática designa
as regras do emprego de uma palavra, ou também, o
complexo das regras que constituem uma linguagem, ela é
“anterior” ao uso concreto das palavras e da linguagem das
situações particulares da vida (SPANIOL, 1989, p. 111).
Neste sentido, Wittgenstein (1995b, § 664) afirma:
No uso de uma palavra podia distinguir-se uma ‘gramática de
superfície’ de uma ‘gramática profunda’. Aquilo que no uso
de uma palavra é imediatamente registrado por nós é o seu
modo de aplicação na construção da frase, por assim dizer a
parte do seu uso que se pode captar com o ouvido. – E agora
compara a gramática profunda da palavra ‘intencionar’ com
aquilo que a sua gramática de superfície nos deixaria
conjecturar. Não é de admirar que se ache difícil saber-se onde
se está.
324
A gramática superficial é aquela que subjaz à estrutura
de uma frase. É a gramática, por exemplo, aprendida na
escola, indicando o valor gramatical de cada palavra numa
frase (sujeito, predicado etc.). A gramática profunda, por sua
vez, subjaz como condição de possibilidade. Numa metáfora,
tomando como exemplo um rio, poderíamos dizer que a
gramática superficial equivaleria às suas margens em
constante mudança, e a gramática profunda seria equivalente
ao seu leito. Wittgenstein (1995b, § 665) esclarece:
Imagina que uma pessoa, com a expressão facial de dor,
aponta para a sua cara e diz: ‘Abracadabra!’. – Nós fazemoslhe a pergunta: ‘O que é que queres dizer?’ E a sua resposta é:
‘Quero dizer que tenho dores de dentes’. O teu pensamento
imediato é: como é que, com aquela palavra, se pode ‘querer
dizer dores de dentes’? Ou o que significa, então, com aquela
palavra, quer dizer dores de dentes? E, no entanto, num outro
contexto, terias afirmado que a atividade mental de querer
dizer isto e aquilo é, justamente, o que é mais importante no
uso da linguagem. Mas como é então? Não posso dizer com a
expressão ‘abracadabra’ quero eu dizer dores de dentes? Com
certeza; mas isto é uma definição, não é uma descrição do que
se passa em mim ao pronunciá-la.
Compreender a gramática profunda é entender como se
vive em determinada forma de vida; é conhecer os contextos
nos quais é possível proferir uma determinada palavra, mas é
também a exigência para que se possa dar um
encaminhamento adequado na solução de um problema. Sim,
a filosofia preserva ainda, nas Investigações, sua função
terapêutica.
De fato, à terapia não concerne propor distinções funcionais
entre níveis de sentido, mas exclusivamente combater
confusões
conceituais.
Esse
combate
é
travado,
indistintamente, em qualquer nível de elaboração do sentido,
sendo que a própria distinção resulta do combate. Durante o
processo terapêutico, vemos que há diferentes formas de se
325
introduzir normas na linguagem – o uso nominal das
palavras, as provas e demonstrações matemáticas e lógicas
(MORENO, 2005, p. 301).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Das análises depreendidas que se estendem dos jogos
de linguagem, passando pela noção de seguimento de regras,
semelhanças de família, forma de vida e chegando às noções
de gramáticas superfical e profunda, podemos recolher ideias
matrizes que nos permitem três linhas de raciocínio. A
primeira nos conduz ao reconhecimento da renovação
produzida por Wittgenstein sobre suas primeiras convicções.
As Investigações efetuaram uma modificação definitiva no
modelo de isomorfismo pretendido no Tractatus. A linguagem
formal não abarca a totalidade de nossas expressões. Não cabe
dizer que aquela linguagem tenha se tornado invalidada,
caberia, antes, afirmar que é apenas uma entre tantas outras
possibilidades de dizer o mundo. Se o Tractatus sustentou a
positividade da Verdade Jurídica, as Investigações, por seu
turno, permitem o rompimento das amarras que mantêm
cativa a Ontologia. A escola, como espaço privilegiado para a
educação formal, não pode ser o local de uma linguagem
engessada.
Uma segunda linha de raciocínio permite-nos afirmar
que a mudança constatada imprimiria um sentimento de
desassossego nas pretensões de uma concepção científica do
mundo, conforme os auspícios do Círculo de Viena. A utopia
de uma ciência unificada sob a égide de uma linguagem
formalizada e do recurso à verificação empírica elitiza apenas
um procedimento – o bom procedimento – em detrimento da
pluralidade dos demais recursos de nossa linguagem. Além
disso, o modelo matemático melhor adaptado às ciências duras,
não poderia ser transposto com tanta facilidade para as
ciências humanas, jurídicas e sociais. A noção de jogo de
326
lingagem coloca-nos frente à pluralidade das linguagens,
sendo nenhuma delas suficiente. A escola, como lugar de
ciência, é também lugar da vida. Uma cientificização do
mundo e da linguagem estaria a serviço do progresso, mas por
outra via, seria o palco da morte do espírito.
A terceira linha de reflexão, resultado das duas
anteriores, é aquela que nos oferece condições para uma crítica
às pretensões de elencar os elementos formais como melhor
critério para a elaboração de nossos currículos. A educação é
uma forma de vida. Nela, os jogos de linguagem se sucedem.
Não há primado entre os jogos, uma vez que não existe uma
linguagem melhor que a outra. Não há uma hierarquia entre
eles. Um jogo não possui autoridade sobre outro. A pretensão
de verdade se limita à regra do jogo.
Finalmente, a concepção pragmática de linguagem,
defendida por Wittgenstein, desenha um contexto
epistemológico desafiador. A Educação não se sustenta sobre
uma linguagem única, universal, com pretensão de
exclusividade. A comunidade educativa não pensa na verdade
teoricamente, ela vê a verdade que pratica. Mais do que lutar
por uma verdade definida, a base educativa que emerge das
reflexões do autor sugere atenção ao contexto intersubjetivo
experimentado por seus protagonistas.
É posssível afirmar que a Educação é ela mesma um jogo
de linguagem. Por extensão, suas partes contitutivas podem
ser entendidas como jogos dentro de jogos. A verdade, mais
do que dependente de um estatuto privilegiado conferido
tanto ao Sujeito quanto ao Objeto, é encontrada em suas regras
constituintes. Existe uma variedade de jogos de linguagem na
Educação e seu sentido é determinado pela diferença de suas
regras. Cada jogo é independente. Nada existe de comum
entre as regras a não ser a semelhança de família. Talvez
Wittgenstein, com a renovação, seja alento para um incursão
mais aberta sobre as questões de partes significativas do
discurso educativo numa sociedade de contornos complexos
327
como esta de nossos tempos. É fundamental uma modificação
na maneira de olhar a Educação. O olho não pode modificar o
objeto, tem de modificar a si mesmo.
REFERÊNCIAS
ARAÚJO, Inês Lacerda. Do signo ao discurso: introdução à filosofia da
linguagem. São Paulo: Parábola, 2004.
CONDÉ, Mauro Lúcio Leitão. Wittgenstein: linguagem e mundo. São
Paulo: Annablume, 1998.
D’AGOSTINI, Franca. Analíticos e Continentais. São Leopoldo: Unisinos,
2003.
FREGE, Gottlob. Posthumous Writings. Chicago: University of Chicago
Press, s/d.
GLOCK, Hans. Dicionário Wittgenstein. São Paulo: Jorge Zahar, 1998.
MORENO, Arley. Introdução a uma pragmática filosófica. São Paulo:
Unicamp, 2005.
SPANIOL, Werner. Filosofia e método no segundo Wittgenstein. São
Paulo: Loyola, 1989.
STEGMÜLLER, Wolfgang. Filosofia contemporânea. São Paulo: EPU, 1977.
TREVISAN, Luiz Amarildo; TOMAZETTI, Elisete Medianeira e ROSSATTO,
Noeli Dutra (Orgs.). Diferença, cultura e educação. Porto Alegre: Sulina
2010.
VALLE, Bortolo. Wittgenstein: a forma do silêncio e a forma da palavra.
Curitiba: Champagnat, 2003.
WITTGENSTEIN, Ludwig.
Calouste Gulbenkian, 1995a.
Tractatus
Logico-Philosophicus.
Lisboa:
_______. Investigações Filosóficas. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1995b.
328
ZILHÃO, Antonio. Linguagem da filosofia e filosofia da linguagem:
estudos sobre Wittgenstein. Lisboa: Colibri, 1993.
329
Capítulo 17
GASTON BACHELARD: ESPÍRITO DE ESCOLA E SOCIEDADE
Fábio Ferreira de Almeida
O pensamento de Gaston Bachelard é, antes de tudo,
uma filosofia de rigor. Sua obra é fruto, no sentido mais
próprio do termo, de um trabalho; trabalho exigente, um
vigoroso esforço. Para o pensamento, tal como ele nos é
apresentado pela filosofia bachelardiana, o cansaço, não sendo
eventual, é revigorante. O espírito se constitui efetivamente,
enfim, nestes momentos em que se retoma.
Pode-se afirmar que isso é sem dúvida correto para sua
epistemologia, que elogia, como deixa explícito o capítulo III
de Le rationalisme appliqué, os “trabalhadores da prova”, estes
que constituem o cerne da chamada “cidade científica”.
Entretanto, também a poesia não prescinde deste trabalho e,
tanto quanto a ciência, radica no rigor e num dolorido esforço
sua fonte. Conhecer o real, a natureza, bem como conceber
imagens que cantem o mundo, com efeito, é tarefa exigente
cujo resultado se realiza de fato como obra. Em Bachelard,
contudo, a fineza de percepção, seja da ciência seja da poesia,
reside num seu idealismo que, naturalmente, se configura de
uma maneira muito particular. É este idealismo que gostaria
de tomar como ponto de partida para análise do papel da
educação na obra do filósofo.
Esta análise não depende de se admitir e nem quer
considerar, como afirma Michel Fabre, que Bachelard faz do
330
problema da educação o tema central de sua obra (FABRE,
1995, p. 2). Já de saída, haveria de se perguntar se há, de fato,
um tema que mereça, em detrimento dos demais, ser elevado a
tal posição. O problema da educação e o tema da formação, no
entanto, constituem um dos mais fecundos campos de reflexão
abertos pela filosofia de Bachelard e, partindo daquele
idealismo, é que se poderá mostrar de que maneira a escola se
apresenta como um “espaço” de construção do espírito; espaço
de abertura, dinamismo e, por que não dizê-lo, espaço também
de transgressão. Neste momento, então, aparece o terceiro
elemento que a análise a seguir pretende destacar e parece não
ser precipitado supor que o leitor minimamente familiarizado
com a obra do filósofo já o esteja aguardando deste o título,
que remete, com efeito, à famosa divisa com que Bachelard
encerra o livro La formation de l’esprit scientifique: a sociedade, a
sociedade confrontada com a escola ou, parafraseando o
enunciado da “tese filosófica” desta mesma obra, a escola que
se forma contra a Sociedade163. Idealismo, formação e
sociedade: eis, portanto, os elementos que, como pretendemos
apresentar, devem balizar a reflexão acerca da educação a
partir da obra do filósofo do novo espírito científico.
IDEALISMO E LEITURA
Se, como vimos, rigor e precisão, marcas facilmente
reconhecíveis no trabalho do cientista, pertencem igualmente à
atividade poética, a leitura não é exclusividade desta, como se
poderia imediatamente pensar: ela caracteriza da mesma
forma o pensamento científico. E é esta leitura que melhor
caracteriza o idealismo bachelardiano. Em Idéalisme discursif,
texto emblemático a este respeito, publicado inicialmente na
Cf. Bachelard (1970a, p. 23): “Eis então a tese filosófica que vamos defender: o
espírito científico deve se formar contra a Natureza, contra o que é, em nós e fora de
nós, o impulso e a instrução da Natureza, contra o arrebatamento natural, contra o
fato colorido e variado”.
163
331
revista Recherches philosophiques, em 1934, e retomado na
coletânea póstuma intitulada Etudes, encontramos valiosas
indicações para se compreender o significado desta afirmação.
O que Bachelard coloca em jogo aí é o problema geral da
objetividade exigida pela racionalidade científica frente à
realidade do mundo, frente à natureza. Esta questão será
marcante em Le nouvel esprit scientifique e, de fato, o nãocartesianismo da ciência moderna introduz nas fundações da
certeza este elemento desestabilizador que é o discurso, a
comunicação, o diálogo. “O pensamento”, escreve Bachelard,
“começa por um diálogo sem precisão em que sujeito e objeto
se comunicam mal, pois são ambos diversidades
desencontradas”. E continua: “É tão difícil reconhecer-se como
sujeito puro e distinto, quanto isolar centros absolutos de
objetivação” (BACHELARD, 1970b, p. 86). Idealismo discursivo,
como bem sugere Georges Canguilhem, em sua Apresentação
da coletânea de 1970 (p. 8-9), prepara os espíritos para que
recebam as lições do novo espírito científico. Mais do que uma
leitura da atividade científica, então, o que a epistemologia
bachelardiana parece empreender é o esforço em mostrar que
a ciência ela mesma se constitui como uma leitura do real e,
com isso, se define, no sentido mais próprio do termo, como
theoria164.
Se o real imediato é um simples pretexto de pensamento
científico e não mais um objeto de conhecimento, será
necessário passar do como da descrição ao comentário teórico.
Vale mencionar aqui o conhecido artigo de 1963, “Perspectives sur l’histoire des
sciences”, publicado como último capítulo de seus Études d’histoire de la pensée
scientifique, em que Alexandre Koyré afirma, em resposta a Henry Guerlac, que o
acusava de idealista: “De fato, acredito que (e se nisso há idealismo, estou pronto a
assumir o opróbrio de ser um idealista e suportar as críticas e reprimendas de meu
amigo Guerlac) que a ciência, a de nossa época bem como a dos gregos, é
essencialmente theoria, busca da verdade, e que por isso ela tem e sempre teve uma
vida própria, uma história imanente, e que somente em função de seus próprios
problemas, de sua própria história, é que ela pode ser compreendida por seus
historiadores” (KOYRÉ, 2007, p. 398-399).
164
332
Esta explicação prolixa espanta o filósofo que quer sempre que
toda explicação se limite a desdobrar o complexo, a mostrar o
simples no composto. Ora, o verdadeiro pensamento científico
é
metafisicamente
indutivo.
Como
mostraremos
insistentemente, ele lê o complexo no simples, ele diz a lei que
corresponde ao fato, a regra que corresponde ao exemplo
(BACHELARD, 1937, p. 6).
Em sentido epistemológico, então, leitura é teoria. A
imagem do comentário é, a este respeito, significativa e parece
ser precisamente por esta via que se compreende o caráter
histórico que distingue a epistemologia bachelardiana. Vale a
pena aqui recorrer novamente a Canguilhem, que em seu
conhecido artigo L’objet de l’histoire des sciences, de 1966, afirma
que “o objeto em história das ciências nada tem em comum
com o objeto da ciência” (CANGUILHEM, 1975, p. 17). De
fato, quando a história se dirige à ciência, ela tem em vista
aquilo que surge a partir do discurso que ela constrói; a
história se dirige, em suma, a estes objetos que surgem do
trabalho que o cientista empreende sobre aqueles objetos
primeiros, naturais, que, sobretudo na era do novo espírito
científico, não são mais que “pré-textos”. A história das
ciências, ressalta ainda Canguilhem, não toma o discurso
científico do mesmo modo que este toma, para constituir-se, o
objeto natural. É precisamente aí, neste discurso construído,
que a história empreende, por sua vez, sua leitura das crises,
identifica a tensão e as regras de julgamento, as normas e a
normalização levadas a cabo, enfim, tudo aquilo que constitui
a ciência desde seu próprio interior. É no sentido desta leitura
que o epistemólogo pode afirmar que “o verdadeiro
pensamento científico é metafisicamente indutivo”. Aqui, à
imagem galileana do livro, cuja leitura se torna possível uma
vez dominada a linguagem matemática com que se pode
representar o real, substitui-se a imagem da leitura pela qual,
por assim dizer, se elimina a distância que separa o olho e o
texto, leitor e autor ou, enfim, sujeito e objeto: sem impor sua
333
obra às cores e à diversidade da Natureza, a razão científica,
ao elaborar-se a si mesma, constrói ao mesmo tempo seus
objetos – objetiva-se, portanto – e é deste “lugar” que ela olha
o exterior. Este parece ser o sentido do comentário teórico.
Além disso, é preciso lembrar que a indução possui
agora um sentido muito nítido, correlato do sentido do “vetor
epistemológico” de que nos fala Le nouvel esprit scientifique
(BACHELARD, 1937, p. 4): ela vai do racional ao real e não o
inverso, do real ao geral como queria, por exemplo, a ciência
de Descartes e de Galileu, fundamentando a imagem do livro.
O primado da leitura não elimina, portanto, o caráter
essencialmente teórico da ciência, mas por não mais precisar
da Natureza, isto é, por causa da cisão entre o conhecimento
comum e o conhecimento científico (que é o que marca, em
suma, a objetividade que inaugura a era do novo espírito
científico quando (a teoria einsteiniana da Relatividade vem
deformar os conceitos primordiais que se considerava até
então imóveis) [BACHELARD, 1937, p. 7] a theoria não
pretende mais dizer matematicamente o como da Natureza,
mas construir matematicamente o dado; não mais um modelo,
uma representação, mas o próprio existente, o fenômeno
mesmo. Daí porque “o mundo, doravante, surge como o pólo
de uma objetivação, o espírito como o pólo de uma
espiritualização” (BACHELARD, 1970b, p. 94). Tal objetivação
e espiritualização, bem se vê, não se opõem, elas estão em
diálogo, são complementares. E não é precisamente isso que,
assim como a leitura, confere ao pensamento científico uma
dinâmica própria? Este diálogo, enfim, essa discursividade é o
cerne mesmo do idealismo bachelardiano.
O idealismo discursivo, que coordena e subordina as ideias,
começa envolto em lentidão e dificuldades. Mas seu
inacabamento lhe promete um porvir, a consciência de sua
fraqueza primeira é uma promessa de vigor. O espírito
dinamizado toma consciência de si em sua retificação. Diante
do real devolvido à objetividade, o espírito consegue pensar a
334
objetividade, isto é, consegue se desligar de si mesmo, de seu
próprio pensamento. Diante da realidade organizada, o
espírito assume uma estrutura. Ele adquire o hábito da
idealização (BACHELARD, 1970b, p. 91).
Este hábito da idealização é a démarche mesma da leitura,
é como teoria que o espírito lê o complexo no simples, que ele
pode dizer a lei que corresponde ao fato. Esta é a dinâmica que
dá vida e vigor e que, deste modo, reinaugura o espírito
científico. O novo espírito científico, então, tem por metafísica
o idealismo e por método a indução. Mas trata-se, com efeito,
aqui de um idealismo discursivo que permite ao sujeito
eliminar suas singularidades, permitindo-lhe tornar-se um
objeto para si próprio (ver BACHELARD, 1970b, p. 92) e, a
partir desta crise, o estatuto ontológico do real assume este
curioso privilégio: o da provisoriedade, do inacabamento.
Neste sentido é que a indução coloca o fracasso (l’échec) no
horizonte do pensamento científico e, assim fazendo, garante a
ele vitalidade e juventude.
O artigo Idéalisme discursif se encerra com uma fórmula,
muitas vezes lembrada, que reflete bem o que foi dito até aqui:
“eu sou o limite de minhas ilusões perdidas” (BACHELARD,
1970b, p. 97). Esta fórmula, que o próprio Bachelard destaca
com itálico, já se insinua no “paradoxo pedagógico”, que o
filósofo enxerga na base da cultura e que enuncia da seguinte
maneira: “a objetividade de uma ideia será tanto mais clara,
tanto mais distinta quanto mais ela se mostrar sobre um fundo
de erros cada vez mais profundos e mais diversos”
(BACHELARD, 1970b, p. 89). O que sobressai daí é o papel
que o erro assume na epistemologia bachelardiana, papel que
deve ser imediatamente reconhecido como pedagógico,
evitando assim o equívoco insistente de compreendê-lo
propedeuticamente. E o que significa este papel pedagógico
do erro? Ora, não significa que se aprende com o erro, no
sentido em que podemos imaginar um moralista se precipitar
335
em afirmar, mas que é no erro que melhor se pensa, que o erro
é como que o elemento mesmo da reflexão. Uma passagem do
último capítulo de Le nouvel esprit scientifique ilustra bem isso:
O espírito científico é essencialmente uma retificação do saber,
um alargamento dos quadros do conhecimento. Ele julga seu
passado histórico condenando-o. Sua estrutura é a consciência
de seus erros históricos. Cientificamente, pensa-se o
verdadeiro como retificação histórica de um longo erro, pensase a experiência como retificação de uma ilusão comum e
primeira. Toda a vida intelectual da ciência atua
dialeticamente nesta diferencial do conhecimento, na fronteira
do desconhecido. A própria essência da reflexão, é
compreender que não se compreendia (BACHELARD, 1937, p.
173-4).
Este é o sentido propriamente pedagógico do erro: ele
ensina a viver, viver nesta fronteira, às vezes larga, mas quase
sempre muito tênue, entre a certeza e a dúvida; ele ensina o
gosto do risco, que não é mais que o gosto de abstração, o
gosto pelo esforço do comentário teórico, pela leitura. Assim,
pensar significa retificação, leitura significa invenção e, com
isto, abertura e alargamento das possibilidades de conhecer.
Este paradoxo pedagógico é que amedronta o pedagogo de
primeira hora, esse ingênuo servidor da sociedade, pois, não
alcançando o registro da ideia, se contenta com ilusões
perenes. Para ele, ler é receber solenemente o texto e não dizêlo. Somente quando a ideia de que “para ter sucesso é preciso
errar” (BACHELARD, 1937, p. 173)165 deixar de constituir um
paradoxo é que a cultura – e aí é possível enxergar Bachelard
como um crítico da cultura, no sentido mesmo nietzschiano do
termo – terá alcançado sua maioridade. A formação, tal como a
entende Bachelard, é um encaminhar-se do espírito para esta
maioridade.
165
“Il faut errer pour aboutir”.
336
FORMAÇÃO DO ESPÍRITO E REFORMA DA RAZÃO
O livro de 1938, La formation de l’esprit scientifique, se
anuncia como uma psicanálise do conhecimento objetivo. “A
psicanálise na epistemologia?”, esta pergunta é o título do
capítulo IV do famoso ensaio que Dominique Lecourt dedica
ao pensamento de Bachelard, Bachelard ou le jour et la nuit.
Lecourt tem total razão ao identificar na noção de obstáculo
epistemológico o “ponto de inserção” da psicanálise na
epistemologia, tal como Bachelard a concebe166. Tal inserção se
liga, muito claramente, ao caráter essencialmente histórico da
epistemologia bachelardiana, mas também àquele idealismo
ao qual se submete a busca científica de maior objetividade. É,
portanto, em nome da objetividade que se deve empreender a
análise do conhecimento e tal análise é histórica na medida em
que parte sempre necessariamente do presente da ciência em
questão para interrogar seu passado; é da atualidade que se
pode julgar, analisar e, por fim, curar o espírito das seduções
às quais está exposto em sua humana existência, isto é, na
medida em que é no mundo e junto às coisas. No primeiro
capítulo da obra de 1938, intitulado precisamente La notion
d’obstacle épistémologique, Bachelard esclarece, logo nas
primeiras linhas, como deve ser entendida a noção de
obstáculo epistemológico:
Quando se buscam as condições psicológicas dos progressos
da ciência, chega-se facilmente à convicção de que é em termos
de obstáculos que é preciso colocar o problema do conhecimento
científico. E não se trata de considerar obstáculos externos,
como a complexidade e a fugacidade dos fenômenos, nem de
incriminar a fragilidade dos sentidos e do espírito humano: é
no próprio ato íntimo de conhecer que aparecem, por uma
espécie de necessidade funcional, lentidões e abalos. É aí que
Lecourt (1974, p. 125). O estudo de Lecourt mereceria uma leitura mais cuidadosa
que não pode ser feita aqui. Suas hipóteses acerca do pensamento de Bachelard são,
quase todas, muito precisas e lúcidas.
166
337
mostraremos causas de estagnação e até de regressão, é aí que
descobriremos causas de inércia que denominaremos
obstáculos epistemológicos (BACHELARD, 1970a, p. 13).
O problema do conhecimento, portanto, só poderá ser
bem considerado se se perceber que ele não diz respeito à
Natureza, mas exclusivamente à razão. O erro assume com
isso a positividade de que antes falávamos e também um
importante papel pedagógico, pois ele ocorre apenas no
íntimo, no âmago do ato de conhecer. O fracasso da
experiência é, portanto, um fracasso da razão. Os obstáculos
surgem precisamente nos momentos em que este esforço de
abstração declina, em que o ímpeto indutivo é retido, quando
a vigilância esmorece diante dos apelos sedutores da unidade
do sujeito. É por isso que se deve, como ressalta Bachelard, em
Le rationalisme appliqué, separar muito claramente “o caráter
absoluto das censuras” da “relatividade da vigilância”. Tal
distinção reafirma aquela separação entre conhecimento
comum e conhecimento científico, entre a opinião (que é fruto
da vontade do sujeito que se crê muito bem constituído e certo
do mundo que o cerca) e o pensamento (que é intelectualmente
construído segundo valores de racionalidade e por constante
aprimoramento). Com efeito, “só se penetra verdadeiramente
na filosofia racional quando se compreende que se
compreende, quando se pode denunciar seguramente os erros
e as falsas compreensões” (BACHELARD, 1994, p. 77). E
poucas linhas mais à frente, nesta mesma obra, quase dez anos
depois da publicação de La formation de l’esprit scientifique,
Bachelard reafirma sua psicanálise do conhecimento objetivo:
A psicanálise do conhecimento objetivo e do conhecimento
racional trabalha neste nível esclarecendo as relações entre a
teoria e a experiência, entre a forma e a matéria, entre o
rigoroso e o aproximativo, entre o certo e o provável – todas
as dialéticas que demandam censuras especiais para que não
se passe sem precaução de um termo a outro (BACHELARD,
1994, p. 79).
338
Como se vê, a psicanálise do conhecimento objetivo, do
conhecimento racional tem também, e talvez mesmo acima de
tudo, um papel pedagógico. A formação do espírito, como
constante reforma da razão, ao mesmo tempo em que estimula
o dinamismo da experiência, o esforço intenso do pensamento,
na medida enfim que aprofunda e amplia a teoria, preserva às
vivências seu caráter próprio e, assim, resguarda o sentimento
do mundo e o caráter subjetivo que escapa a toda medida e a
toda objetividade. O aparecimento de La psychanalise du feu no
mesmo ano de La formation de l’esprit scientifique parece apontar
para isso. Esta “unidade contraditória”, segundo a expressão
de Lecourt (1974, p. 146), este “irritante problema da
dualidade da obra de Bachelard” se esclarece muito
naturalmente na medida em que se compreende sua démarche
psicanalítica e pedagógica. É o que indica a citação a Paul
Éluard, epígrafe que abre esta outra psicanálise: “Não se deve
ver a realidade tal como eu sou”167.
A psicanálise parece estar para o pensamento de
Bachelard, da mesma forma que a crítica está para o
pensamento de Kant, o que se confirma, a nosso ver, pela
seguinte passagem deste seu La psychanalyse du feu:
Longe de maravilhar-se, o pensamento objetivo deve ironizar.
Sem esta malévola vigilância, jamais tomaremos uma atitude
verdadeiramente objetiva. Se o que interessa é examinar
homens, iguais, irmãos, a simpatia é a base do método. Mas
diante deste mundo inerte, que não vive nossa vida, que não
padece nenhuma de nossas penas e que não exalta nenhuma
de nossas alegrias, devemos refrear todas as expansões,
devemos coibir nossa pessoa. Os eixos da poesia e da ciência
são, a princípio, inversos. Tudo o que a filosofia pode esperar
é tornar a poesia e a ciência complementares, uni-las como
dois contrários bem feitos. É, portanto, necessário contrapor
ao espírito poético expansivo, o espírito científico taciturno
167
“Il ne faut pas voir la réalité telle que je suis”.
339
para o qual a prévia antipatia é uma saudável precaução
(BACHELARD, 1999 , p. 12).
A atitude verdadeiramente objetiva, a antipatia do
racionalista, depende, portanto, destes limites bem
estabelecidos. Mas o mundo jamais cessa de seduzir a razão e
o pensamento comum – dos homens, nossos irmãos, nossos
iguais – não se contenta com o que não lhe serve e repele o que
a opinião julga ser a origem de penas e percalços. Aqui é
preciso lembrar, no entanto, que a opinião não pensa, que ela
julga mal e que, por um tribunal assim constituído, instaura-se
a barbárie por falta ou por má educação. O que Bachelard
entende por “formação” é fundamentalmente “reforma”,
reforma da razão, reforma do espírito, e isto se dá dentro de
limites bem estabelecidos pelo pensamento científico que é –
eis aí uma lição importante de pedagogia – excludente,
excelente, arrogante e... contrário à Sociedade.
ESPÍRITO DE ESCOLA E SOCIEDADE
Para Bruno Duborgel, que encontra na obra de Bachelard
“os eixos principais de uma renovação do pensamento e do
ato pedagógico”, se os métodos se multiplicam, falta espírito
pedagógico à escola. Ainda que muito consciente de que não
há na obra do filósofo nenhum tratado de pedagogia, o que
Duborgel nos apresenta em seu artigo L’éveil de l’être aux
croisées du connaître é, então, este “novo espírito pedagógico”
que passa necessariamente por “um novo equilíbrio do pensar
e do sonhar” e, em sua opinião, deste equilíbrio a obra
bachelardiana, se não fornece nenhum método, nenhuma
teoria, oferece um testemunho de incontestável riqueza (ver
DUBORGEL, 1975). O que chamamos aqui de “espírito de
escola” é, entretanto, algo bastante distinto deste novo espírito
pedagógico. Na verdade, o que gostaríamos de propor como
conclusão é que o espírito de escola é o próprio espírito da
340
ciência contemporânea, e que se há um “espírito pedagógico”
a ciência não representa apenas uma parte dele. É o que,
segundo nos parece, sobressai, por exemplo, do último
parágrafo do artigo de 1951, L’actualité de l’histoire des sciences,
que nos permitiremos transcrever integralmente:
A história das ciências, meditada nos valores de progresso e
nas resistências dos obstáculos epistemológicos, nos oferece
verdadeiramente o homem integral. Se essa história tem uma
atualidade manifesta, é precisamente porque, com efeito,
sente-se que ela representa um dos traços profundos do
destino do homem. A ciência tornou-se parte integrante da
condição humana. Ela tornou-se? Ela já não o era quando o
homem compreendeu o interesse da pesquisa desinteressada?
Ela não era, desde a Antiguidade, uma verdadeira ação social
do homem solitário? Não há pensamento científico que seja
verdadeiramente egoísta. Se o pensamento científico fosse
primitivamente egoísta, ele assim teria permanecido. Seu
destino era outro. Sua história é uma história de
especialização progressiva. A ciência é, atualmente,
inteiramente socializada. Há alguns séculos a história das
ciências tornou-se a história de uma cidade científica. A
cidade científica, no período contemporâneo, tem uma
coerência racional e técnica que afasta toda volta atrás. O
historiador das ciências, caminhando ao longo de um passado
obscuro, deve ajudar os espíritos a se conscientizarem do
valor
profundamente
humano
da
ciência
atual
(BACHELARD, 1972, p. 151-2).
O que interessa à escola, o que deve, por assim dizer,
animar a escola, é então isso que anima a cidade científica, ou
seja, a consciência clara do destino do homem. E se nos for
permitido dizê-lo assim, esta consciência é propriamente
consciência histórica. Mas o que isso significa? Ora, significa
consciência da atualidade, que é o que impede todo recuo na
história, toda regressão, e o que impele, enfim, o espírito rumo
à superação do próprio espírito. Contrariamente ao que pode
parecer à primeira vista, a especialização assinala aquele
progresso permanente, assinala também a socialização
341
profunda e crescente do pensamento científico, seu valor
profundamente humano.
É este valor que, num registro completamente diferente,
ressoa também da obra poética, dos devaneios de leitura.
Temos aí um aspecto comum à epistemologia e à filosofia
literária, ligação que pode ser bem percebida no importante
artigo de 1936, Le surrationalisme. Este “surracionalismo”,
Bachelard o esclarece como sendo “uma razão experimental
suscetível de organizar surracionalmente o real, como o sonho
experimental de Tristan Tzara organiza surrealisticamente a
liberdade poética” (BACHELARD, 1972, p. 7-8). É este valor
profundamente humano da literatura, isto é, a integralidade
que o homem encontra – ou reencontra – também na poesia,
que é retomado, por exemplo, na obra inaugural da série da
década de 40, L’eau et les rêves, na qual lemos que
a imaginação não é, como sugere a etimologia, a faculdade de
formar imagens da realidade; ela é a faculdade de formar
imagens que ultrapassam a realidade, que cantam a realidade.
É uma faculdade de sobre-humanidade. O homem é um
homem à medida em que é um além do homem [surhomme]
(BACHELARD, 1942, p. 23).
E a obra imediatamente posterior, L’air et les songes, já se
abre com a afirmação de que a imaginação é a faculdade de
“deformar as imagens fornecidas pela percepção, é sobretudo a
faculdade de nos liberar das imagens primeiras, de mudar as
imagens”. E logo em seguida: “Graças ao imaginário, a
imaginação é essencialmente aberta, evasiva. Ela é, no
psiquismo humano, a própria experiência de abertura, a
própria experiência de novidade” (BACHELARD, 1998, p. 5-6).
Não é esta mesma experiência fundamental de abertura e de
novidade que nos apresenta a ciência contemporânea em sua
coerência racional e técnica, e também por seu caráter
socializado? Assim, tanto a ciência como a literatura, tanto a
racionalidade objetiva quanto o devaneio poético, tanto a
342
reflexão como a leitura exigem o homem integral e este, bem
se pode adivinhar, repele todo humanismo ingênuo e passivo.
Somente neste sentido é que o pensamento da ciência e da
poesia se firma como pensamento que possibilita a experiência
da dignidade propriamente dita do homem. Podemos afirmar,
então, que o pensamento que encontra o “homem integral”
pensa contra o humanismo.
Este pensamento do contra – a ciência e a literatura –,
pensamento de uma escola permanente, é o que resulta da
inversão com a qual Bachelard encerra seu livro sobre A
formação do espírito científico e para a qual temos acenado desde
o título. A passagem é bastante conhecida:
A ciência só existe por uma Escola permanente. É esta escola
que a ciência deve fundar. Então, os interesses sociais serão
definitivamente invertidos: a Sociedade será feita para Escola
e não a Escola para a Sociedade (BACHELARD, 1970a, p. 252).
Compreender esta inversão e seu significado para a
educação, para escola, passa evidentemente pela pergunta
acerca destes “interesses sociais”. Que interesses são esses?
Diríamos que são precisamente os interesses da vida, dos
valores correntes da vida que, em nossa época, sobretudo,
reduzem-se ao sucesso, ao êxito, à prosperidade e à vitória. O
que a escola deve ensinar, o que se exige da escola, seu papel,
tornou-se este: preparar para a vida ou, talvez devêssemos
dizer antes, facilitar a vida, torná-la mais confortável. E não é
isso uma forma de avareza? Feita para a sociedade, a escola
forma o homem avaro. O que embota o espírito de escola é o
que poderíamos chamar de uma pedagogia realista que, no
mesmo estilo do obstáculo realista, do “complexo de
Arpagon”, deve ser psicanalisada. “Do ponto de vista
psicanalítico e nos excesso de ingenuidade, todos os realistas
são avaros. Reciprocamente, e agora sem reserva, todos os
avaros são realistas” (BACHELARD, 1970a, p. 131-2). Com
343
efeito, o “espírito de escola” depende de uma “psicanálise do
sentimento de posse”168.
Contrariamente a esta pedagogia detestável, o interesse
a que a escola deve servir é o interesse do espírito e é neste
sentido – socializado e generoso – que se deve compreender a
injunção de que a Sociedade deve ser feita para a Escola. A
dinâmica do espírito deve orientar a vida, é pelo espírito que
se vive e diríamos mesmo que só assim o homem constrói
verdadeiramente o mundo: pela dinâmica dos valores que são
fatalmente imobilizados pelo que serve à vida. O espírito
coloca tais valores em movimento, em tensão. O espírito é que
faz vibrar os valores. Para retomar a fórmula de uma das
últimas obras de Bachelard, do período em que toda esta
dinâmica se concentra na noção de poética (última fase
necessariamente), digamos por fim que o homem integral é
um “ser não fixado”169. Por isso, a Escola é permanente.
REFERÊNCIAS
BACHELARD, G. Le nouvel esprit scientifique. Paris: Felix Alcan, 1937.
_______. L’eau et les rêves. Paris: José Corti, 1942.
_______. La formation de l’esprit scientifique. Paris: J. Vrin, 1970a.
_______. “Idéalisme discursif”. In: BACHELARD, G. Études. Paris: J. Vrin,
1970b.
_______. L’engagement rationaliste. Paris: PUF, 1972.
Bachelard (1970a, p. 131). Em francês: “sentiment d’avoir”.
Trata-se de La poétique de l’espace (Paris: PUF, 1998), no capítulo IX intitulado La
dialectique du dehors et du dedans. Penso que vale a pena citar a passagem inteira:
“Assim, o ser em espiral, que se designa do exterior como um centro bem
determinado, jamais alcançará seu centro. O ser do homem é um ser não-fixado. Toda
expressão o desfixa. No reino da imaginação, mal uma expressão é enunciada e o ser
tem necessidade de outra expressão, o ser deve ser o ser de outra expressão” (p. 193).
168
169
344
_______. Le rationalisme appliqué. Paris: PUF, 1994.
_______. L’air et les songes. Paris: José Corti, 1998.
_______. La psychanalyse du feu. Paris: Gallimard/Folio, 1999.
CANGUILHEM. G. Etudes d’histoire de la pensée scientifique. Paris: J.
Vrin, 1975.
DUBORGEL, B. “L’éveil de l’être aux croisées du connaître. Elements
bachelardiens pour un nouvel esprit pédagogique”. In: Revue française de
pédagogie. Vol. 31, 1975, pp. 83-95.
FABRE, M. Bachelard éducateur. Paris: PUF, 1995.
KOYRÉ, A. Études d’histoire et de la pensée scientifique. Paris: Gallimard,
2007.
LECOURT, D. Bachelard ou le jour et la nuit. Paris: Grasset, 1974.
345
Capítulo 18
FOUCAULT, A EDUCAÇÃO E AS RESISTÊNCIAS
AGONIZANDO A MÁQUINA PANÓPTICA
Gilmar José De Toni
Como a proposta deste trabalho é um abordagem sobre
Foucault e a educação, sabemos que podemos partir de vários
textos deste autor para tal discussão. Por escolha nossa,
partiremos de uma perspectiva que pode ser encontrada no
segundo eixo de suas investigações, muito explorada por
pesquisadores do campo educacional, conhecido como o eixo
genealógico. Nele, Foucault trata sobre o poder, suas
estratégias e as formas de saber, e a publicação de Vigiar e
Punir, em 1975, inaugura esse eixo de investigação. Por isso,
pensaremos sobre o sistema educacional em Foucault a partir
de alguns conceitos essenciais presentes nesta obra, tais como:
a disciplina e sua principal máquina, o panóptico170.
Foucault utilizou esses conceitos para mostrar o
funcionamento da sociedade ocidental, principalmente a partir
do final do século XVIII, e também para mostrar como o
indivíduo Moderno é produzido a partir da contribuição dessa
forma arquitetônica. Utilizaremos essa ideia do panóptico
como o modelo que, segundo ele, distribui as relações de
forças ou de poder com suas estratégias e que servem para
caracterizar nossa sociedade como disciplinar, que é onde se
170
Sobre o Panóptico e a disciplina, ver o livro Vigiar e punir: nascimento da prisão.
346
localiza o arquivo do saber com suas técnicas que captam o
indivíduo e seu comportamento.
Tendo em vista que o panóptico e a disciplina são as
duas principais formas que se desenvolvem na estrutura da
sociedade ocidental, pelo menos nos últimos três séculos,
através da fórmula “ver sem ser visto”, que gera o poder para
o observador, e, também a partir da demonstração de Foucault
em seus últimos escritos em que aponta a “crise das
instituições disciplinares”171, o fracasso de algumas ou a
tentativa de abolição de outras, queremos aqui, para pensar a
escola e o sistema educacional, problematizar esta fórmula do
“ver sem ser visto”, que foi a fórmula por excelência para que
se produzissem as relações de poder-saber nos “microdiagramas”172 que se encontram em nossa sociedade. Ou seja,
queremos mostrar que talvez esta fórmula funcione não
somente para quem observa, mas também para as
multiplicidades
constantemente
vigiadas,
e
que,
possivelmente, pode ser este um dos motivos que levaram
essas estruturas à derrocada – não à crise generalizada – pois,
o que as coloca em crise são os novos mecanismos da
“sociedade de controle”173 que surgem depois da Segunda
Guerra Mundial; no entanto, o fato de que o indivíduo
observado também observa pode estar, há muito tempo,
contribuindo para o fracasso de algumas delas.
Foucault aponta a crise das instituições disciplinares em uma entrevista com o
título “A sociedade disciplinar em crise”, que se encontra no livro Ditos e Escritos IV
da tradução brasileira.
172 Para se entender ou conhecer melhor o conceito de diagrama, ver o livro Foucault
de Deleuze, no capítulo: “Do arquivo ao diagrama”, onde Deleuze apresenta cada
formação ou período histórico apresentados por Foucault como formações
diagramáticas, em que cada uma dessas formações estabelece suas próprias relações
de forças ou de poder. Utilizo aqui o conceito de micro-diagrama para mostrar que
cada instituição disciplinar da sociedade ocidental, seja ela a escola, o hospital, a
prisão, etc. é um pequeno diagrama contido em um diagrama maior que é o todo da
sociedade.
173 Sobre a sociedade de controle ver o livro de Deleuze Conversações, no capítulo,
“Post-scriptum sobre as sociedades de controle”.
171
347
Considerando que, em tais instituições, a produção de
saber, pelo menos aqueles que estão relacionados com o
controle do corpo, é efeito do poder que se estabelece entre os
indivíduos, como afirma Foucault, de alto a baixo, de um lado
a outro e de forma transversal, isso significa dizer que essas
estruturas produzem poder e saber tanto para quem observa
como para quem está sendo observado. Ou seja, podemos ter
uma ideia de uma fórmula que é um “encontro de olhares”, ou
melhor, algo que constitui uma situação de “ser visto e ver”,
pois todos sabem que estão sendo vistos, mas também todos
têm a noção de que veem também e que influenciam a partir
deste ver. Obviamente, esta forma de ver não é a mesma de
quem vigia, mas o fato de que o observado sabe que está
sendo visto, é prova de que ele sabe como a estrutura
funciona, e, por isso mesmo, quem está sendo observado
consegue, de certa forma, manipular a estrutura.
Com isso querendo dizer que, se pensarmos como as
relações de forças ou de poder são exercidas entre os
indivíduos, segundo Foucault, perceberemos que essas
relações funcionam movimentando-se tanto de um lado como
do outro, de alto para baixo e vice-versa e, também, que elas se
cruzam em uma transversalidade, ou como em uma meada
onde os pontos e os nós dessas relações se encontram em
determinado momento, considerando que não há centralidade
do poder, ou um ponto fixo de onde ele emana. Então, a partir
dessa fórmula, podemos talvez tentar demonstrar alguns
motivos que levaram as estruturas da disciplina a apresentar
seu fracasso, que é o caso da prisão, já no começo do século
XIX, e de algumas outras estruturas que entraram em crise no
decorrer do século XX.
O que estamos tentando dizer aqui é que o sujeito, que
está constantemente sob observação, também tem a visão da
instituição em que está inserido, e, por isso mesmo, influencia
diretamente na organização dessa instituição e na maneira de
seu funcionamento, ao mesmo tempo em que produz um tipo
348
de autonomia no seu interior e se auto produz. É ele, de certa
maneira, que determina o funcionamento do espaço em que
está, seja na escola, na prisão, no orfanato, na fábrica, assim
como em outras instituições disciplinares. Salvo, talvez,
algumas que envolvem a saúde e o poder médico, mas,
mesmo essas estão sujeitas às mudanças provocadas pelos
sujeitos que as frequentam mais que pelo próprio poder
médico.
Claro que, se falarmos do hospital, sabemos que o poder
médico está presente em toda a estrutura dessa instituição,
principalmente quando se trata da relação do poder médico
sobre os pacientes, pelo fato de que ele detém o saber médico,
pois é ele que tem o conhecimento necessário para o
internamento, o isolamento, o tratamento, o diagnóstico e a
cura, e também, é o médico que tem o papel de indicar as
regras técnicas para o funcionamento de tais instituições.
Contudo, devemos lembrar que parte da influência no
funcionamento da máquina hospitalar está nas mãos do
público que a utiliza, pois esse público se movimenta, reclama
e interdita os centros de saúde, porque produz resistência
contra a forma como este modelo atua com a população, por
que esse público sabe como ele funciona, se bem ou mal, e
exige constantemente sua adequação e readequação, a partir
de medidas políticas e administrativas a favor ou contra certos
modos de funcionamento da máquina-hospital.
Já na escola, percebe-se uma certa emancipação do aluno
frente à estrutura disciplinar; pois, em certos aspectos, estas
estruturas já não dão mais conta de fazer efetivamente o
controle e a formação do aluno. Ainda resta saber se as escolas
estão preparadas para educar com as novas formas que a
sociedade atual de controle impõe, considerando que os
alunos, em parte, utilizam aparelhos da sociedade de controle,
enquanto certas escolas, ou quase sua maioria, ainda vivem
com os mecanismos, métodos e técnicas da disciplina. E o fato
dos alunos usarem certos aparelhos em sala representa, por
349
um lado, que eles sabem que podem obter os conteúdos que os
professores estão ministrando de forma mais rápida, por outro
lado, pode simplesmente representar uma forma de resistência
a esse modelo de educação. Se a crise ou decadência da
estrutura disciplinar, como o próprio Foucault já apontava, é
um fato real na atualidade, nos colocamos a pensar se
realmente as instituições pedagógicas estão conseguindo
desenvolver seu papel como estruturas com projetos e
modelos para educar com eficiência, tendo em vista os novos
instrumentos tecnológicos utilizados pelos alunos, mas que, no
entanto, as escolas não os têm e muito menos os professores.
Por isso, estamos dizendo que já não faz mais tanto
sentido dizer ou utilizar o argumento de que somente o aluno
está sendo vigiado, regulado, dominado ou que somente ele
está sob o controle de alguém, ou seja, do aparelho ou da
máquina educacional. Isso se dá justamente porque ele, o
aluno, sabe muito bem como estas estruturas funcionam, com
todos os seus programas disciplinares, suas regras de
condutas, formas de exame/prova, controle das ausências e
presenças, das políticas educacionais ou a própria política
estatal enquanto mantenedora do sistema educacional, entre
tantas outras formas de controle. Isso porque, tanto o aluno
como os pais – bem como todo o conjunto de profissionais que
fazem parte do sistema educacional: professores, psicólogos,
coordenadores pedagógicos, diretores, assistente social,
associações de pais e mestres, sindicatos, etc. – todos sabem
como funciona o aparelho político direcionado à instituição
escolar.
O estudante vê ou percebe o descaso do aparelho
político ou dos próprios políticos com relação à educação.
Porém, não queremos aqui entrar em tais problemas, pois a
maioria desses problemas é conhecida por todos. Enfim,
somente para apontar algumas lacunas que ficam em aberto
pelas administrações políticas, poderíamos citar como
exemplo a falta de verba para as escolas e as consequências
350
que isso gera, tais como: escolas sucateadas; sem segurança (o
que torna a escola, em certos locais, um ponto de venda de
todo o tipo de entorpecente mais do que um local de
educação); escolas sem materiais para os educadores
incentivarem os alunos; baixo incentivo para o transporte dos
estudantes e a falta de uma alimentação adequada; falta de
incentivo para os professores como: salários, planos de saúde
tanto física quanto psicológica adequada para tais
profissionais; falta de um plano de carreira com estímulos; o
excesso de hora/atividade semanal. Tais problemas provocam
stress e outros tipos de enfermidades tanto psíquicas quanto
somáticas em todos os que estão ligados a esse aparelho.
Todo esse conjunto de desmotivações é maior que as
motivações e faz com que a qualidade da educação caia a
níveis baixíssimos. Essa mesma desmotivação contribui para
que a estrutura disciplinar não possa cumprir com o seu papel
de fomentadora de um indivíduo capaz de produzir
conhecimentos no nível esperado. E isso também leva ao
desmascaramento e desmantelamento desta máquina
disciplinar, e faz com que aquele que estava somente sendo
visto sem ver, há muito tempo também veja. Esse “ser visto e
ver” ao mesmo tempo demonstra que o aparelho educacional,
há muito, não está totalmente sob o controle de quem pensa
estar controlando, mas, quem está sendo controlado também
controla. E nesse ponto, não podemos deixar de pensar no
aparelho prisão, pois nele, podemos dizer que, há muito
tempo, quem controla, em grande parte, são as organizações
criminosas, e o controlam de tal maneira que fazem essa
estrutura funcionar a seu favor.
Esse aspecto de controle que estamos pensando, também
a partir do vigiado/observado, se dá pelo fato de que, no
momento em que este indivíduo sabe como funciona tal
aparelho no qual está inserido, passa a utilizar todos os tipos
de artifícios e formas de persuasão para atingir seus objetivos
e fazer tal aparelho funcionar a seu favor, e a partir disso,
351
parte da sua aprendizagem já não fica mais sob o encargo do
sistema de educação escolar, mas o indivíduo se torna
autônomo e ao mesmo tempo resistente ao modelo
educacional. Se falarmos da escola no Brasil, por exemplo,
onde o Estado quer diminuir custos que incidem diretamente
na qualidade da educação e formação do sujeito, e que, no
entanto, este indivíduo sabe que não passa de um mero banco
de dados ou de um “punhado” de números para o Estado, e
que, este mesmo Estado, não o quer retido em uma
determinada série por reprovações, portanto, o aluno aprende
somente a porcentagem que a prova/exame, ou a escola, exige
de sua aprendizagem para que ele não fique retido na mesma
série.
Portanto, o aluno se torna autônomo porque o restante
da sua formação já não se dará mais de forma direta e efetiva
pela instituição educacional, mas se dará por conta do próprio
aluno, ou seja, ele aprende aquilo que quer aprender por si
mesmo, sem a influência de um mestre/professor. Na
sociedade atual, ele desenvolve outras maneiras para adquirir
conhecimento, que irá contribuir para a sua própria formação
enquanto sujeito, a partir da utilização de mecanismos e
instrumentos que não são mais aqueles proporcionados pelo
professor/mestre, e nem pelas regras estabelecidas pelo
sistema educacional/escolar.
E ao falar que o aluno produz resistência ao modelo
escolar não estamos dizendo que ele desrespeita esse modelo.
O estudante, dentro de certo limite, respeita as regras do
sistema educacional, limite este que se estende até o ponto em
que ele percebe que o aparelho em que está inserido não está
preocupado efetivamente com ele, como afirmam os discursos
institucionalizados. Portanto, a partir daí, quando percebe esse
descaso ou abandono, percebe que há uma falha do “olho do
poder”, ou que este olho não está lá onde supostamente
deveria estar; por conseguinte, percebe, também, que não está
mais totalmente sob o domínio deste aparelho. No entanto,
352
ainda se vê preso a ele, que ainda, apesar de todo o descaso,
quer lhe ditar normas. Nesse instante, ele se rebela contra o
aparelho, e aí se torna um resistente. Contudo, a partir daí, o
aparelho deveria mudar ou estar constantemente em
transformação, em reformas, em rupturas com certos valores e
práticas para poder gerir seu projeto com mais eficiência, e, no
caso do aluno, ele sabe que isso não ocorre com o aparelho
educacional, então, o aluno irá se auto construir, e esse auto
construir-se, agora, é construir-se do jeito que ele quer, sem a
influência do modelo escolar.
Essa autoconstrução se dá por outros instrumentos,
outras máquinas que encontramos na atualidade, que fazem
parte da sociedade de controle ou da comunicação, e que
fazem parte da vida cotidiana de cada um, estamos falando
dos novos sistemas tecnológicos como: a televisão, a
informática e seus computadores, a internet, filmes, vídeos,
jogos; todas as influências que são exercidas pelo marketing e
toda uma série de outros artifícios que estão presentes no
cotidiano da vida de cada indivíduo. Então, enquanto a escola
trabalha com a ideia de que os alunos estão sob seu domínio,
pode-se perceber que eles não estão somente sob esse domínio,
mas que estão exercendo certo tipo de domínio, pelo simples
fato de que não dependem totalmente desta instituição para
fundamentar aquilo que eles querem ser, pois buscam novos
caminhos nessas alternativas para sua formação e aquisição de
conhecimentos novos.
É neste aceitar ou receber e impor certo domínio – não
somente na estrutura disciplinar da escola, mas em qualquer
outra também – que se desenvolvem as resistências ao modelo
das instituições que tentam ser constituídas, pois há quanto
tempo não é mais ou não é somente a força do Estado que
domina ou mantém certo controle sobre o sistema
penitenciário? E isso por acaso seria diferente com a escola?
Ou com a fábrica? Ou seja, desde o início do sistema fabril, não
são os operários, que estando ligados diretamente ao “chão da
353
fábrica”, desenvolvem cotidianamente todo o tipo de técnicas
ou de pequenas “gambiarras” para facilitar ou aprimorar a
eficiência das máquinas e dos produtos?
Entre as estruturas da disciplina, conforme entende
Foucault, a nosso ver, talvez a escola esteja entre as primeiras
das instituições, depois das prisões, em que o indivíduo está,
há muito tempo, colocando em “xeque”, testando sua
funcionalidade, não necessariamente para ver o seu fim, mas,
pelo menos, para provocar nela certa desestruturação na sua
forma de agir sobre os indivíduos e seus corpos, pois, ao sair
da família, o primeiro contato que o indivíduo terá, será com a
creche/escola, que é uma estrutura disciplinar que tem as
mesmas características de “vigilância e normalização”174 que a
família. Porém, suas relações se estendem de forma bem mais
ampla, e, em alguns casos, mais fechada e, em outras, mais
abertas do que a família. Contudo, se a escola não consegue
desenvolver já na criança certo anseio em fazer com que ela
permaneça dentro do seu espaço, em certo momento, quando
ela, depois de passar por vários anos atrelados nesse modelo, o
indivíduo passa a perceber que pode se rebelar contra esse
aparelho para alterá-lo, e ele o fará, mesmo sabendo que isso
implica em sua formação ou educação.
O fato de a escola ensinar ao indivíduo a desenvolver
outro tipo de conhecimento diferente daquele que aprende em
sua família faz com que ele aprenda, desde cedo, certo
conhecimento de como funciona automaticamente essa
estrutura com toda sua rede de relações de força e de podersaber. Aí ele percebe que não está mais em casa, mas que está
na escola, e passa a comparar as formas de funcionamento das
estruturas e percebe que elas são semelhantes em certos
aspectos; portanto, começa a agir para descobrir todo o
funcionamento das engrenagens deste aparelho e, ao mesmo
174 Sobre a vigilância e normalização, ver o livro Vigiar e Punir, de Michel Foucault,
onde ele dedica um capítulo para mostrar como se fundamenta esse sistema do século
XVII em diante, mas, principalmente, a partir do final do século XVIII.
354
tempo, passa a colocar em xeque a estrutura educacional pela
resistência ativa e constante nos espaços da escola. Este xeque
dado pelo aluno acontece em todas as instâncias e em toda a
rotina escolar, pois no momento em que ele percebe que
simplesmente faz parte de um conjunto de números para
quem governa, ele instaura sua resistência.
Portanto, nessa resistência já está implícita a ideia ou o
desejo de mudanças, mutações ou rupturas de algo que ele
não deseja mais, e, consequentemente, já estão presentes, neste
momento, as relações de forças que passam a atuar em formas
variadas de resistências, e, como afirma Foucault, elas podem
acontecer de forma silenciosa ou a partir de agitações ou
movimentos, seja onde for, em instituições ou em qualquer
forma da organização da sociedade, e emerge de forma plural
devido ao aspecto relacional das correlações de poder. Como
mostra Foucault, em suas manifestações, as resistências
são casos únicos: possíveis, necessárias, improváveis,
espontâneas, selvagens, solitárias, planejadas, arrastadas,
violentas, irreconciliáveis, prontas ao compromisso,
interessadas ou fadadas ao sacrifício; por definição, não
podem existir a não ser no campo estratégico das relações de
poder. Mas isso não quer dizer que sejam apenas subproduto
das mesmas, sua marca em negativo, formando, por oposição
à dominação essencial, um reverso inteiramente passivo,
fadado à infinita derrota. As resistências não se reduzem a uns
poucos princípios heterogêneos; mas não é por isso que sejam
ilusão, ou promessa necessariamente desrespeitada. Elas são o
outro termo nas relações de poder; inscrevem-se nestas
relações como interlocutor irredutível (FOUCAULT, 1999, p.
91-92).
Por conseguinte, nessas resistências aos modelos
institucionalizados da escola, uma das primeiras coisas que é
colocada em xeque é o modelo de exame/prova, pois aí o
próprio aluno percebe que ele precisa somente uma
porcentagem muito baixa de aproveitamento escolar, e, nessa
355
porcentagem, ele sabe que ainda pode influenciar no final da
soma total para não ficar retido na mesma série. Ou seja, os
professores/educadores, os coordenadores pedagógicos, os
diretores, os psicólogos, a escola, o sistema educacional e o
próprio Estado, são neste momento postos à prova, e todos
devem fazer “malabarismo” para poder passar esse aluno
adiante. É neste ponto que o aluno vence o Estado e toda a
cadeia que está abaixo dele dentro da instituição educacional,
pois aí deverão ser criados infinitos artifícios dentro dessa
estrutura de vigilância/normalização e dominação/controle –
pois a avaliação se multiplicará em mil facetas diferentes
como: provas, trabalhos, recuperação, exame final, conselhos
de classes, etc. – para poder, no final das contas, ou no final do
ano letivo, encaminhar o aluno para a série subsequente.
Ainda, em contrapartida, todos os indivíduos que estão
sob vigilância e também aqueles que vigiam, em qualquer
instituição, seja ela de curar, de educar, de punir ou de
produzir, acabam entrando e contribuindo ao mesmo tempo
para o desenvolvimento ou para o aparecimento de
manifestações de certos distúrbios emocionais, físicos,
psicológicos e profissionais, ou a própria estrutura propicia
esses fatores, pois todos estão ligados direta e cotidianamente
a essas redes que envolvem todos os aspectos do ser humano.
Esses são aspectos que exigem um custo para a saúde tanto
dos profissionais que trabalham nas instituições bem como
daqueles que nelas estão inseridos. Ou seja, há um conjunto de
enfermidades provocadas principalmente nos profissionais
que atuam nessas estruturas, e que são necessários anos de
tratamento ou até mesmo o afastamento permanente.
Portanto, isso também se torna um fator que produz certa
desmotivação para que novos agentes se profissionalizem para
trabalhar nessas estruturas, pois elas produzem certo
descrédito na população externa por conta disso.
Contudo, se pensarmos o fracasso da prisão que há
muito tempo foi detectado, como o fracasso de um tipo de
356
estrutura disciplinar/panóptica, podemos perceber, no
entanto, que em outras estruturas, só foi possível detectar
certas ineficiências mais tardiamente. Se entramos no meio de
uma crise generalizada de todas as instituições disciplinares, é
porque uma série delas, foi talvez, como diz Deleuze,
“gerenciando sua agonia” com um pouco mais de cautela, mas
que, na atualidade, todas enfrentam uma série de dificuldades
para serem geridas, e, ao se perceber essa agonia, percebe-se
que elas demonstram certo fracasso em alguns aspectos de seu
funcionamento.
Se Foucault, ao apontar o começo do século XIX como o
momento em que já havia sido detectado o fracasso da prisão,
que foi denunciada na época como o grande fracasso da justiça
penal, pelo fato de não diminuir os crimes e as reincidências,
por conseguinte, também se pode dizer que aí já se inicia o
primeiro grande fracasso do modelo da disciplina. Nas
palavras de Foucault:
desde o começo a prisão deveria ser um instrumento tão
aperfeiçoado quanto a escola, a caserna ou o hospital, e agir
com precisão sobre os indivíduos. O fracasso foi imediato e
registrado quase ao mesmo tempo que o próprio projeto.
Desde 1820 se constata que a prisão, longe de transformar os
criminosos em gente honesta, serve apenas para fabricar
novos criminosos ou para afundá-los ainda mais na
criminalidade (FOUCAULT, 2001, p. 131-132).
Contudo, a prisão continua enraizando-se em nossa
sociedade, mostrando que o seu fracasso é acompanhado pela
sua manutenção.
Com isso, podemos dizer que o panóptico, como uma
grande máquina, assim como qualquer outra máquina, fornece
elementos para que todos aprendam e saibam como elas
funcionam. Assim também como todos aprendem e sabem
como funcionam o direito penal e suas leis, a política, a
educação, a produção, a punição, a correção, etc., claro que
357
não se sabe por inteiro, mas pelo menos todos têm uma noção
que abrange todo o campo social e o funcionamento de toda a
“máquina seja ela concreta ou abstrata”175. Portanto, sabe-se
que ao longo da história da humanidade, sempre se
produziram e aperfeiçoaram formas variadas de máquinas, e
todas essas máquinas sempre estiveram presentes na formação
da subjetividade dos indivíduos; mas, ao mesmo tempo,
sempre a humanidade esteve tentando encontrar meios de
fuga de certos tipos de máquinas. E para melhor fugir delas, é
necessário conhecê-las.
Nesta fuga ou nesta mutação de certos aparelhos ou
máquinas, podemos dizer, também, que o homem sempre está
em pleno desenvolvimento de suas atividades para produzir
formas de resistências, e, cada vez que isso ocorre, há uma
mudança também em sua subjetividade. Deleuze, ao tratar
sobre quais são as nossas verdades hoje, se pergunta:
Que poderes é preciso enfrentar e quais são as nossas
possibilidades de resistência hoje, quando não podemos nos
contentar em dizer que as velhas lutas não valem mais? E será,
acima de tudo, que não estamos assistindo, participando da
‘produção de uma nova subjetividade’? As mutações do
capitalismo não encontram um ‘adversário’ inesperado na
Entendemos aqui por máquinas concretas e abstratas a própria figura do panóptico
como descreve Deleuze eu seu livro sobre Foucault, no capítulo “Um novo
cartógrafo”. Neste capítulo, ele define o panoptismo como uma máquina que tem
essas duas características, ou seja, ela é concreta porque funciona como uma estrutura
arquitetônica com sua forma do visível, que são as instituições como a escola, a
fábrica, o hospital, a prisão, etc. que são destinadas para o fechamento e isolamento,
que tem por objetivo agir sobre o comportamento dos indivíduos para transformá-los.
Ela é abstrata porque produz ou faz produzir no se interior as formas do enunciável,
que são as formas discursivas, como por exemplo, o direito penal no caso da prisão,
um discurso pedagógico no caso da escola, um discurso psiquiátrico no caso do
hospital psiquiátrico, e, desta maneira, são articuladas formas discursivas ou
enunciáveis em todas as instituições panópticas. Então, a partir disso, utilizamos o
conceito de máquina concreta para todas as formas de aparelhos, e de máquinas
abstratas para todas as formas discursivas que fazem parte da sociedade como um
todo, seja ela voltada para o campo da política, para o sistema jurídico, educacional ou
para o discurso médico, psiquiátrico, etc.
175
358
lenta emergência de um Si como foco de resistência? Cada vez
que há uma mutação social, não há um movimento de
reconversão subjetiva, com suas ambiguidades, mas também
seus potenciais? (DELEUZE, 1988, p. 123).
Se isto é verdade, os motivos que nos levam a essa fuga
ao longo da história são muitos e variados. Podem ser para
fugir da dominação física, subjetiva ou intelectual; da dor ou
do sofrimento; das condições políticas ou culturais; da
opressão, da servidão ou da escravidão; da repressão ou da
guerra. Pois, de uma forma ou de outra, essas fugas existem e
são formas de lutas, de resistências e de produção de novas
subjetividades. E nelas nos encontramos com todo tipo de
máquinas que nos colocam em tais condições. E, a todo
instante, estamos tentando nos livrar delas. E essas tentativas
se dão nas lutas, nas fugas que nos levam, ou em que nos
deixamos ser levados, para outras condições, que são, ou
podem ser nossa ida ao encontro de outros tipos de máquinas,
que nós aceitamos e queremos, dependendo de nossas
condições históricas.
Portanto, nesse jogo histórico, as máquinas estão
presentes, pois podemos querer sair de uma máquina de
opressão ou de dominação política – Nazismo/Fascismo, por
exemplo – e procurar outra em que possamos exercitar nossa
liberdade e construir nossa subjetividade. Ou, se hoje tentamos
uma fuga do Capitalismo, é também para fugir da opressão,
da exclusão ou das formas de dominação deste modelo; do
trabalho exaustivo nesta grande máquina na qual somos as
principais engrenagens, ou talvez, simplesmente, para
podermos exercitar nossa preguiça, pois como dizia o poeta e
escritor Mario Quintana, “a preguiça é a mãe do progresso. Se
o homem não tivesse preguiça de caminhar, não teria
inventado a roda” (QUINTANA, 2000, p. 19), e a roda, se não
é, por excelência, a mãe de todas as máquinas, é pelo menos a
359
engrenagem principal do progresso tecnológico em toda a
nossa história.
Assim, do mesmo modo que tentamos fugir de certos
agenciamentos concretos, também fugimos das grandes
máquinas abstratas como a política. Pois, em determinado
momento, se buscou uma fuga do feudalismo, das
monarquias, do Stalinismo, do Fascismo, do Nazismo, ou se
tenta sair das “garras” do capitalismo na atualidade,
considerando também que todos esses sistemas foram ou são
grandes formações diagramáticas com suas próprias relações
de forças ou de poder que agem para capturar os indivíduos.
Não estamos de forma alguma dizendo aqui que
estamos ou devemos estar em guerra com as máquinas e que
devemos nos desfazer delas. Pelo contrário, buscamos a fuga
sim, de algo que tenta nos dominar, pois queremos sair, sim,
de máquinas que nos causam sofrimentos e procuramos
desenvolver outras que nos proporcionem maior conforto,
prazer e segurança. Pois, como já afirmamos, as máquinas,
sejam elas abstratas ou concretas, estão presentes em todo o
nosso processo civilizatório, e, como afirma Félix Guattari,
na verdade, não tem sentido o homem querer desviar-se das
máquinas já que, afinal das contas, elas não são nada mais do
que formas hiperdesenvolvidas e hiperconcentradas de certos
aspectos de sua própria subjetividade – e estes aspectos, digase de passagem, não são daqueles que o polarizam em
relações de dominação e de poder (GUATTARI, 2001 in
PARENTE, 2001, p. 177).
Partindo, então, desta ideia de que há fugas ou
resistências a certas máquinas por diversos motivos, assim
como se fugiu das máquinas do suplício pelo sofrimento, pela
dor e pela humilhação, a tentativa de fuga da máquina
panóptica/disciplinar não é diferente, os motivos sim é que
podem sê-lo. E, por acaso foi diferente com a aristocracia
grega, romana e com toda a nobreza feudal e monárquica que
360
sempre tiveram horror a todo tipo de instrumento tecnológico,
como o arado, a enxada ou os instrumentos de tear, etc., por
estes estarem associados ao trabalho de subsistência? No
entanto, todos os tipos de instrumentos técnicos sempre
estiveram ligados ao desenvolvimento social e ao diagrama de
cada época. Na reflexão de Deleuze referente a certas
máquinas e equipamentos, ele mostra o seguinte:
Que é preciso que os instrumentos, é preciso que as máquinas
materiais tenham sido primeiramente selecionadas por um
diagrama, assumidas por agenciamentos. Os historiadores
deparam frequentemente com essa exigência: as armas
chamadas hoplíticas são tomadas nos agenciamentos da
falange; o estribo é selecionado pelo diagrama do feudalismo;
o pau escavador, a enxada e o arado não formam um
progresso linear, mas remetem respectivamente às máquinas
coletivas que variam com a densidade da população e o tempo
de pousio. Foucault mostra, a esse respeito, como o fuzil só
existe enquanto instrumento em ‘um maquinário cujo
princípio não é mais a massa imóvel, mas uma geometria de
segmentos divisíveis e componíveis’. A tecnologia é então
social antes de ser técnica. Ao lado dos altos-fornos ou da
máquina a vapor, o panoptismo foi pouco celebrado... Mas
seria injusto confrontar os processos disciplinares com
invenções como a máquina a vapor... Eles são muito menos e,
entretanto, de certo modo, são muito mais (DELEUZE, 1988, p.
49).
Com isso, podemos tomar como exemplo o camponês,
que ao longo da história sempre foi aperfeiçoando seus
instrumentos de trabalho para garantir com mais eficácia as
necessidades de subsistência do grupo social ao qual pertencia
ou, simplesmente, para se livrar dos trabalhos exaustivos.
Assim como faz o operário dentro da sociedade industrial.
Como afirmamos acima, ele sempre está inventando novas
técnicas ou “gambiarras” com objetivos semelhantes. Ou seja,
o que são essas grandes máquinas disciplinares de tratamento
psíquico-mental, de produção, de trabalho, de corrigir, de
361
educar, de punir senão máquinas que desenvolvem técnicas
que têm sua ligação imediata com um campo social, que, em
determinado momento da história da nossa sociedade, sentiu
sua necessidade de implantação? “E se as técnicas, no sentido
estrito da palavra, são tomadas nos agenciamentos, é porque
os próprios agenciamentos, com suas técnicas, são
selecionados pelo diagrama” (DELEUZE, 1988, p. 49), e aí, no
diagrama da disciplina, essas máquinas tiveram sua
necessidade de implantação em dado momento histórico.
A partir disso, queremos dizer também que o diagrama
da disciplina, caracterizado pelo aparelho panóptico como
uma grande máquina de produção de subjetividade, aparece
como uma necessidade de um dado momento no campo
social. Se pensarmos a sociedade do século XVII, por exemplo,
que vai internar o louco, porque ainda não o reconhecia como
louco, e, como Foucault mostra, esse internamento será uma
contribuição para a “experiência da loucura”, que terá como
auxílio, o modo de “exílio” e o modelo do leproso. Tudo isso
somente se faz, de certa forma, porque houve um medo social
do insano, portanto, se usam os leprosários como uma
máquina que serviu para depósito da loucura, isto é, naquele
momento, houve essa necessidade social do internamento do
insano. O que hoje nós assistimos, vai no sentido contrário, ou
seja, vivemos uma tentativa de se livrar dessa máquina de
presa psíquica, pois já não se tem tanto medo da loucura como
um mal que deve ser separado do quadro social. Como diz
Foucault, na entrevista com o título “Poder e Saber”:
Viveu-se, durante séculos, com a ideia de que, se não os
internássemos em primeiro lugar, isso seria perigoso para a
sociedade; em segundo, isso seria perigoso para eles próprios.
Dizia-se que era preciso protegê-los contra eles próprios
internando-os, que a ordem social arriscava ser
comprometida. Ora, assiste-se, hoje, a uma espécie de abertura
geral dos hospitais psiquiátricos – isso se tornou bastante
sistemático – e se percebe que isso não aumenta de modo
362
algum a taxa de perigo para as pessoas sensatas (FOUCAULT,
2003, p. 233-234).
Então, desde Pinel e depois Tuke, que vão liberar os
loucos de suas correntes no decorrer do século XVIII, pode-se
perceber a distância entre o momento dessa liberação dos
acorrentados para os dias atuais, em que está em pauta a
discussão para uma possível liberação de certos tipos de
loucos do hospital psiquiátrico. O que esses dois médicos
fizeram, principalmente Pinel, senão a abolição de um tipo de
instrumento, ou seja, das correntes? E, por conseguinte, põe-se
em decadência tal modelo, livrando “os loucos de suas
correntes, sem esconder o outro acorrentamento, mais eficaz,
ao qual os destinava”, como diz Deleuze (1988, p. 63). E disso
se pode dizer que, neste período – de Pinel até a atualidade – o
que é que ocorre senão uma substituição de um tipo de
máquina para colocar um outro tipo em funcionamento? Claro
que com objetivos diversos e variados, ou como o próprio
Foucault afirma, no livro História da Loucura, no capítulo
“Nascimento do Asilo”, que é “impossível saber ao certo
aquilo que Pinel tinha a intenção de fazer quando decidiu a
liberação dos alienados” (FOUCAULT, 2000, p. 467), mas, para
Foucault, isso não importava nessa ambiguidade que marca a
obra de Pinel e o sentido que ela terá no mundo moderno.
De qualquer forma, a liberação das correntes ou a ideia
de uma não internação de determinados tipos de loucos na
atual sociedade, representa, nada mais ou nada menos, do que
uma fuga conseguida, no caso de Pinel em relação às
correntes, e uma tentativa de fuga ou de abolição desta
máquina atual que é o hospital psiquiátrico, que, por sua vez,
não deixa de ser uma grande máquina como qualquer outra,
assim como é a escola, a prisão, a fábrica, etc., de que, na sua
maioria, sempre se tenta uma fuga, pois nem todos gostam ou
querem estar ligados a elas cotidianamente.
363
Da mesma forma como houve a necessidade da
implantação da grande máquina que é o hospital psiquiátrico,
para separar o insano dos espaços sociais, ocorreu com a
máquina prisão, pois Foucault, ao observar que o final do
século XVIII foi responsável pelo rompimento com uma série
de ilegalidades que eram toleradas no Antigo Regime, também
mostrará, que na passagem deste século para o XIX,
reaparecem vários novos ilegalismos que poderiam ter
acabado, mas que se tornam ameaças por reatarem novas
relações no espaço social. Portanto, há aí, neste momento
histórico, uma necessidade da instalação da máquina prisão,
considerando que ela será e terá o papel fundamental de
gerenciar as ilegalidades permitidas, pois quando Foucault diz
que a prisão cria a delinquência, que ela “fabrica uma
categoria de indivíduos que entram num circuito junto com
ela: a prisão não corrige; ela chama incessantemente os
mesmos” (FOUCAULT, 1997, p. 43), está afirmando que ela
também ajuda a controlar as outras ilegalidades por se
relacionar com elas.
Por conseguinte, pode-se dizer que essas ilegalidades
permitidas talvez sejam alguns dos motivos que levam os
criminosos à reincidência; também podemos dizer que é por aí
que esse aparelho fracassa, porque não consegue punir
adequadamente e nem reeducar como deveria, conforme o
projeto inicial ao qual a prisão se propôs, como afirma Michel
Foucault. Entretanto, não é somente este aparelho que é
reincidente. Sabemos, há tempos, que o hospital psiquiátrico
também tem um alto índice de reincidência, e isso demonstra
que ele também não consegue atingir seu objetivo que é o de
curar, mas simplesmente tratar a loucura. Obviamente que no
caso do hospital psiquiátrico, isto não tem relação somente
com suas técnicas e sua estrutura, mas também com a própria
psiquiatria, pois até onde se sabe, ela não tem nenhuma
fórmula para curar a loucura.
364
Estamos apontando aqui – sem um aprofundamento
maior, por uma economia de espaço e também porque não é
nosso objetivo neste capítulo – que se pode pensar as formas
de reincidências em várias instituições disciplinares. Só para
frisar esta questão, podemos dizer, de certa forma, que a
própria escola também tem suas formas de reincidências, ou
seja, todo o sistema educacional, do qual fazemos parte ainda
hoje, também está longe de produzir uma escola que seja
voltada para a formação integral da criança, com métodos
criativos que tornem o espaço escolar um atrativo para elas de
maneira tal que as faça ter vontade ou desejo de ir e
permanecer dentro de sua estrutura. E, se há reincidências nas
prisões, é porque elas conseguem arrastar o delinquente para o
seu interior e manipulá-lo no momento em que está fora delas,
ato esse que talvez a escola não conseguiu ou não consiga
fazer ainda hoje.
Contudo, a escola que tem a mesma característica que as
outras estruturas disciplinares, tem esse alto índice de
reincidências, mas, também sabemos, que grande parte das
reincidências ocorre ao longo da vida dos indivíduos, já com a
prisão, a reincidência é quase imediata. Se pensarmos uma
criança ou um adolescente, por exemplo, quando abandona a
escola, desde a primeira vez que o faz, acaba entrando e
saindo dela diversas vezes, e, geralmente, não acaba sua
formação em tempo hábil, e vai reincidir novamente na escola,
quando já está na fase adulta. E, neste caso, se pensarmos no
Brasil, podemos observar esse aspecto da reincidência nos
diversos programas do Estado voltados para a formação de
jovens e adultos, como uma forma de reintegração desses
indivíduos ao sistema educacional e depois profissional.
Isso ocorre porque os próprios indivíduos sentem a
necessidade de uma formação ou uma qualificação mais
adequada, que é uma exigência de outra estrutura disciplinar
que é a fábrica, porque esta exige uma qualificação que, por
sua vez, faz gerir ou sustentar outra estrutura disciplinar que é
365
a família. Enfim, isso tudo demonstra alguns aspectos da razão
pela qual Foucault aponta o fracasso e a crise dos sistemas
disciplinares, pois ele percebeu que essas estruturas não
respondem, não correspondem, não funcionam como
deveriam, ou, simplesmente, porque estão sendo substituídas
por novas estruturas sociais conforme o modelo de sociedade
no qual estamos entrando desde as primeiras décadas do
século XX, ou seja, a sociedade de controle ou das
comunicações.
Finalmente, disso se segue que, o fato de Foucault
afirmar que o modelo panóptico/disciplinar está em crise ou
em decadência, seja talvez porque o indivíduo não se verga
para o modelo ou instituição que tenta se impor sobre ele, ao
contrário, esse indivíduo usa sua resistência e sua esperteza
para colocar em xeque o modelo que tenta dobrá-lo. Portanto,
a disciplina panóptica, seja ela no modelo da prisão, da escola,
da fábrica, do hospital, do hospital psiquiátrico, etc., está, em
certos aspectos, dominando ainda. Mas lá, quando ela nasceu,
nasceram junto com ela seus focos de resistência com suas
estratégias de confronto, que formularam suas próprias
relações de força que começaram a conduzi-la ao seu fim, e,
como percebemos na atualidade, a sociedade de controle da
qual fala Deleuze, veio para dar o golpe de misericórdia nesse
modelo de estrutura de fechamento e de isolamento.
REFERÊNCIAS
DELEUZE, Gilles. Conversações. (1972 – 1990). Rio de Janeiro: Editora 34,
1992.
_______. Foucault. São Paulo: Editora Brasiliense, 1988.
FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade: curso no Collège de France
(1975-1976). São Paulo: Martins Fontes, 2000.
366
_______. Estratégia, poder–saber. Rio de Janeiro: Forense Universitária,
2003.
_______. História da loucura na idade clássica. São Paulo: Editora
Perspectiva, 2000.
_______. História da sexualidade I: a vontade de saber. Rio de Janeiro:
Edições Graal, 1999.
_______. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Edições Graal, 2001.
_______. Resumo dos cursos do Collège de France (1970-1982). Rio de
Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1997.
_______. Vigiar e punir: nascimento da prisão. 25º ed. Petrópolis: Vozes,
2002.
GUATTARI, Félix. Da produção da subjetividade. In: PARENTE, André
(org.) Imagem-máquina: A era das tecnologias do virtual. Rio de Janeiro:
Ed. 34, 2001.
QUINTANA, Mario. A preguiça como método de trabalho. São Paulo: Ed.
O Globo, 2000.
367
Capítulo 19
REFLEXÕES A PARTIR DO TEXTO
“RACIONALIDADE E REALISMO” DE JOHN SEARLE
Kleber Bez Birollo Candiotto
Neste capítulo, procuramos mostrar como Searle analisa
os pressupostos da metafísica ocidental para descrever
aspectos da universidade tradicional; e, ao mesmo tempo,
explica os propósitos do pós-modernismo no âmbito das
universidades. Sua análise surge da intenção de entender os
debates nas universidades americanas e sobre as propostas de
mudança de ensino. Concentrou-se, portanto, na compreensão
dos pressupostos filosóficos da concepção tradicional do
ensino superior e as consequências educativas da sua aceitação
ou da sua não aceitação.
Iniciemos localizando o contexto do filósofo e sua obra.
John Searle (1931-) é conhecido principalmente por suas
contribuições em Filosofia da Linguagem e Filosofia da Mente.
Em suas publicações sobre Filosofia da Mente, Searle procurou
resgatar questões como consciência, intencionalidade e causação
mental como partes integrantes do mundo. Segundo ele, a
visão científica do mundo predominante no século XX
desconsiderou estas questões devido à sua ontologia subjetiva,
incorrendo em explicações insatisfatórias sobre as possíveis
relações entre mente e cérebro (SEARLE, 2000).
Devido à ontologia da subjetividade, os modelos que
têm como pressuposto a distinção entre observação e coisa
368
observada, que são os modelos da ciência positivista e
neopositivista, não contemplam a subjetividade, pois têm
como finalidade abordar somente os aspectos objetivos da
realidade. Searle entende que essa postura científica possui
uma visão reducionista de mundo.
De acordo com o modelo de como a realidade deve ser e
de como é representada, parece difícil abordar algo
irredutivelmente subjetivo no universo. Assim, a visão
científica do mundo, ao eliminar toda referência à
subjetividade ontológica, não possibilita definir, por exemplo,
a mente e a consciência.
Entre seus principais desdobramentos, essa visão
científica, de acordo com a compreensão de Searle (2000),
promoveu o desenvolvimento do materialismo que rejeita
qualquer referência à subjetividade e, por consequência, reduz
as explicações da mente aos correlatos neuronais do cérebro. O
materialismo rejeita a subjetividade porque procura descrever
a mente como uma entidade ontologicamente objetiva, não
reconhecendo sua ontologia subjetiva.
Para Searle, então, o materialismo se caracteriza pelo seu
aspecto reducionista, entendendo que a realidade é formada
exclusivamente por entidades físicas ou materiais. Dessa
forma, segundo Searle (1997), o materialismo não consegue
explicar os fenômenos mentais em geral e a consciência em
particular. Sua estratégia explicativa é incoerente, uma vez que
a redução de suas explicações elimina o que é “essencial sobre
a mente e a consciência: a subjetividade” (SEARLE, 2000, p.
58).
Descartes excluiu a consciência como objeto da ciência
(SEARLE, 1984, p.19-20 e 1997, p. 126). Consequentemente, a
mente (res cogitans) foi excluída das ciências naturais, as quais
se ocuparam unicamente da matéria (res extensa). A separação
entre matéria e mente produziu significativos avanços, a partir
do século XVII, em ciências como física, química e biologia. No
entanto, a partir do século XIX, com o advento da pretensão de
369
fundar uma psicologia científica, os pressupostos
metodológicos das ciências naturais permaneceram atrelados a
tal pretensão.
A suposição de que o mental e o físico são dois reinos
distintos é, para Searle (1997, p. 148), um preconceito
filosófico, sendo, portanto, um erro conceitual. Este é o
principal obstáculo que impede um estudo adequado da
mente, com explicações causais da consciência em todas as
suas formas e variações.
As soluções apresentadas para o problema da relação
mente-corpo, de forma geral, acabaram negando a existência
ou enfraquecendo conceitualmente uma ou outra destas
entidades. Contudo, devido aos êxitos das ciências físicas, os
fenômenos mentais foram ou minimizados ou ajustados às
explicações materiais (SEARLE, 1997, p. 42).
Segundo Searle, é possível identificar também no
próprio dualismo uma implícita redução da compreensão da
consciência, pelo fato de ser mais fácil afirmar que a mente é
simplesmente algo diferente do corpo, ao invés de procurar
uma definição do que é mental176.
Não se obtém a compreensão da consciência mediante o
reducionismo objetivo, mas só se alcança na complexidade do
subjetivo. Assim, as reduções explicativas aplicadas no âmbito
das ciências causais não são adequadas para abordar a mente e
a consciência. Isso se deve às características da subjetividade
inerentes aos fenômenos mentais que são sempre de primeira
176A
origem da dificuldade argumentativa do dualismo pode ser representada pela
argumentação inicial de Descartes na ideia do Cogito. A esse respeito, é importante a
reflexão de TEIXEIRA (2000, p. 29): “A partir de sua filosofia (o cartesianismo), a
questão da separação entre matéria e pensamento torna-se um problema filosófico. O
cartesianismo formula e institui esse problema específico, a partir de uma
demonstração filosófica na qual Descartes supõe que podemos deduzir, numa cadeia
de raciocínios coerentes, que corpo e alma são duas substâncias distintas, e que suas
propriedades são incompatíveis. Descartes estabelece uma cadeia de raciocínios
dedutivos a partir do Cogito. Embora nunca tenha dito o que é pensar e muito menos o
que é existir, Descartes toma como certeza primeira, basilar, a proposição Penso, logo
existo.”
370
pessoa, como, por exemplo, a dor é sempre a dor de alguém e
somente esta pessoa sabe onde e quanto está doendo.
A visão científica do mundo, com seus aspectos
reducionistas ou dicotômicos, define também a concepção do
espaço onde a pesquisa é realizada, a saber, a universidade.
Searle apresenta estas influências em seu artigo Rationality and
Realism, What is at Stake? [Racionalidade e Realismo, o que está
em jogo?], publicado em 1993. Ao elaborar o referido texto, o
autor teve por objetivo refletir sobre a forma com que as
universidades norte-americanas estavam desenvolvendo seus
programas de pesquisa e analisar seus pressupostos
epistemológicos e ontológicos. Searle focou sua reflexão na
postura do ensino superior em relação à pesquisa. As
discussões sobre os objetivos do ensino superior, segundo
Searle, levam ao desenvolvimento de duas formas distintas de
universidade: a universidade tradicional e a universidade do pósmodernismo177. Entretanto, o autor explica que tais formas de
universidade existem enquanto distintas subculturas
universitárias. Para Searle (1993, p. 3),
em algumas das disciplinas das humanidades e das ciências
sociais, e mesmo em algumas escolas profissionais,
desenvolvem-se agora duas subculturas universitárias mais
ou menos distintas, poderia quase dizer-se duas
universidades diferentes. A distinção entre as duas
subculturas atravessa fronteiras e não está claramente
marcada. Mas existe.
Para o autor, a existência de duas distintas subculturas
universitárias não constitui diretamente algo inviável, visto
que pode oportunizar um fator válido, que é o debate sobre os
177 O termo é usado pelo próprio Searle, porém o autor deixa claro que esse conceito
não está bem definido, e nem bem coerente. O uso do termo é estabelecido a partir da
ideia de que seriam aceitos pelos próprios partidários desse tipo de universidade
(SEARLE, 1993, p. 2).
371
temas filosóficos centrais, tais como a missão da universidade
ou suas bases epistêmicas, metafísicas ou políticas. Entretanto,
não há esse debate entre a universidade tradicional e a
universidade do pós-modernismo. E se é realizado, ao menos não
é explícito. É possível que haja muitos debates sobre questões
específicas, tais como quotas para raças ou políticas do Estado
para a Universidade, porém há pouca discussão sobre os
pressupostos da universidade tradicional e de suas
alternativas.
Sobre as características principais entre a universidade
tradicional e o discurso do pós-modernismo, Searle (1993, p. 4)
afirma que
a universidade tradicional reclama o amor ao conhecimento
pelo seu próprio valor e pelas suas aplicações práticas, e
procura ser apolítica ou pelo menos politicamente neutra; a
universidade do pós-modernismo pensa que todo o discurso é
em qualquer caso político e procura usar a universidade para
fins políticos benéficos e não repressivos.
Searle procura esclarecer a formação da tradição
intelectual ocidental, a partir dos seguintes aspectos:
concepção de realidade, relações entre a realidade e o
pensamento, relações entre a realidade e a linguagem.
Inicialmente, esta concepção de realidade é o que define a
própria tradição e determina simultaneamente noções como
verdade, realidade, conhecimento, razão, racionalidade, lógica,
justificação e demonstração. O conjunto destas noções é
denominado por Searle de metafísica ocidental, constituindo a
concepção ocidental de ciência que tem o objetivo de
alcançar um conjunto de frases verdadeiras, idealmente sob a
forma de teorias precisas, frases essas que são verdadeiras
porque correspondem, pelo menos aproximadamente, a uma
realidade que tem uma existência independente (SEARLE,
1993, p. 5).
372
Quando Searle menciona “existência independente”,
remete-se à sua reflexão sobre realismo externo, a tese de que
há um mundo real independente de nós [...]. ‘Realismo’
porque afirma a existência do mundo real, e ‘externo’ para
distingui-lo de outros tipos de realismo – por exemplo, o
realismo dos objetos matemáticos [...] ou dos fatos éticos
(SEARLE, 2000, p. 22).
O realismo externo é a base para outras compreensões
filosóficas como a teoria da verdade como correspondência e a
teoria referencial do pensamento e da linguagem.
Segundo a perspectiva do realismo externo, existe um
mundo independente da vontade humana. Porém, só é
possível expressar os fatos contando com um conjunto de
conceitos já existentes, ou seja, utilizando uma linguagem. Os
fatos independem totalmente dos conceitos utilizados para
expressá-los, pois a sua existência é o pressuposto para sua
expressão. Para que seja possível expressá-los, deve haver
antes a existência de mentes, conceitos e linguagens, o que
permite um mesmo fato possuir variadas formas de expressão,
em diferentes linguagens.
Embora possa haver diversas formas para expressá-lo, o
fato como tal é o mesmo e, por isso, independe de suas
expressões. A distância entre a Terra e a Lua, por exemplo,
pode ser expressa sob diferentes formas: quilômetros, pés ou
metros, mas a existência desta distância é real, é a mesma,
independentemente da representação humana.
O realismo externo não é compreendido como uma
teoria, mas é a condição necessária para as elaborações e os
desenvolvimentos das teorias178. A concepção da tradição da
metafísica ocidental, portanto, tem como base os pressupostos
do realismo externo.
178
Mais detalhes em Faigenbaum (2001, p. 173-177) e Searle (2000, p. 28-43).
373
A tradição da metafísica ocidental, segundo Searle (1993,
p. 3), não se define como linear, unificada, tanto em seu
pretérito como em seu presente. O conhecimento medieval é
um exemplo típico da inexistência de uma linearidade na
tradição da metafísica ocidental, pois os pressupostos de
conhecimentos baseados na Revelação tornaram-se obsoletos
perante os resultados da ciência moderna, especialmente com
o advento do heliocentrismo.
Quando se menciona algo sobre a metafísica ocidental,
remete-se inevitavelmente a um ponto específico de sua
história e a um teórico específico daquele período. Toda vez
que, por exemplo, se fala de dualismo corpo-mente,
inevitavelmente, é lembrado o francês René Descartes, do
século XVII, como seu teórico. Decorre, então, um dos
princípios centrais da metafísica ocidental em sua atualidade: há
uma dificuldade em alcançar a precisão e a objetividade, pois
qualquer explicação culmina em uma teoria específica, de
acordo com o modo de ser de um determinado tempo e
espaço. Vale destacar que toda teoria tem seu autor e quando
se emprega uma teoria, inevitavelmente se remete a seu autor.
A ideia de teoria é fundamental na construção da metafísica
ocidental.
Com a elaboração de uma teoria é possível produzir as
construções intelectuais sistemáticas, um aspecto fundamental
da tradição ocidental que teve e tem como propósito descrever
e explicar a realidade em todas as suas divisões, chamadas de
áreas.
É claro que as construções intelectuais tomaram um
rumo específico no ocidente com a ideia de experiências
sistemáticas, iniciadas na Europa, a partir da Renascença, com
pensadores como Guilherme de Ockham e Giordano Bruno, e
organizadas no período moderno com autores como Francis
Bacon, Galileu Galilei e John Locke. A ideia de experiências
sistemáticas oportunizou as construções teóricas da realidade,
amparadas na perspectiva do realismo externo.
374
Além da ideia de teoria como construção intelectual
sistemática a partir das experiências sistemáticas, há outra
característica da metafísica ocidental: a sua qualidade
autocrítica, o que não lhe possibilita uma tradição unificada.
“A ideia de uma crítica consistiu sempre em submeter
qualquer crença aos mais rigorosos padrões de racionalidade,
justificação e verdade” (SEARLE, 1993, p. 6).
Searle questiona o hábito mais comum da crítica da
metafísica ocidental, que é julgar todas as crenças, todos os
conceitos ou todos os pressupostos sob a ótica da
racionalidade, da lógica e da justificação. Com esse objetivo, a
própria racionalidade, a própria lógica e a própria justificação
podem se tornar uma crença, submetendo-se também à crítica.
Para Searle, a autocrítica é uma característica tão
complexa da metafísica ocidental que se transforma em
autodestrutiva. Da crítica renascentista aos dogmas medievais,
passando pela crítica iluminista aos princípios da causalidade,
culmina na crítica pós-moderna da crença na racionalidade e
até na crença da crença.
A intenção neste texto é analisar algumas características
essenciais da metafísica ocidental que se articulam na pesquisa
acadêmica contemporânea. Algumas dessas questões têm
vínculos consistentes com a educação contemporânea, como
pode ser verificado no seguinte questionamento de Searle
(1993, p. 8):
Ora, o que aceitamos exatamente quando somos
‘logocêntricos’, isto é, quando aceitamos o ideal grego de
‘logos’ ou razão, e com que ficamos comprometidos quando
nos entregamos ao pensamento ‘linear’, isto é, quando
tentamos pensar direito? Se pudermos compreender as
respostas a estas questões, saberemos pelo menos qualquer
coisa sobre o que está em jogo nos debates atuais no ensino
superior.
375
Para encontrar respostas ao questionamento destacado
acima pelo autor, deve-se partir da compreensão de alguns
princípios básicos da metafísica ocidental. No âmbito da
metafísica ocidental, uma teoria de verdade predominou entre
as tantas pensadas por vários autores: a teoria da verdade como
correspondência. Atacar essa teoria de verdade é colocar em
causa toda a tradição da metafísica ocidental, porque qualquer
de seus princípios básicos tem como referência esta teoria da
verdade.
Searle (1993, p. 8) destaca o realismo como primeiro
princípio básico da metafísica ocidental, pois sustenta que a
realidade existe independentemente das representações
humanas. A realidade é representada, em suas mais variadas
áreas, a partir do pensamento e da linguagem, mas aquela
realidade existe com ou sem este pensamento e esta
linguagem; existe de maneira autônoma.
Entretanto, as representações humanas da linguagem e
do pensamento levam à existência de outras áreas da realidade
que são efetivamente construções sociais. Partes da realidade
como a propriedade, o governo, o casamento e até mesmo a
educação têm a sua existência a partir da criação e sustentação
pelo comportamento cooperativo humano. Essa realidade é
chamada de realidade social179 e as partes dessa realidade são
nomeadas pelo autor de fatos institucionais180.
179 Realidade social é constituída a partir da organização e manutenção dos fatos
institucionais, que são partes do mundo real, fatos objetivos do mundo, fatos que
somente existem devido ao acordo humano. Nesse sentido, há coisas que existem
somente porque cremos que existem. Há também o que Searle chama de fatos brutos,
que são os fatos que não necessitam das instituições humanas para existirem.
Contudo, para enunciar um fato bruto, o homem necessita da instituição da
linguagem. Porém, é distinto o fato enunciado do enunciado do mesmo. A partir,
portanto, da instituição da linguagem é que se estrutura a realidade social. Ver Searle
(1997b, p. 21-27 e 196-202) e (2000, p. 105-108).
180 Fato institucional é uma subclasse especial de fatos sociais que se constituem a
partir das instituições humanas. Um fato social é qualquer fato que se relacione à
intencionalidade coletiva, de acordo com a conduta coletiva. São fatos institucionais a
compra e venda pelo dinheiro, o matrimônio, a propriedade, a escola ou a
universidade, etc. Ver Searle (1997b, p. 21-27).
376
Existe uma realidade que independe de qualquer
representação humana, mas a partir da instituição da
linguagem, que é um fato que existe somente pelos acordos
humanos (fatos institucionais), tal realidade pode ser
representada. O vocabulário ou sistema de representações,
pelo qual é possível formular verdades, é uma criação
humana; “e as motivações que nos levam a investigar tais
matérias são características contingentes da psicologia
humana” (SEARLE, 1993, p. 9).
Para melhor entender a questão da linguagem, vejam-se
os seguintes princípios básicos da metafísica ocidental, tal
como os compreende Searle:
1. Um conjunto de características verbais é a condição
para elaborar qualquer afirmação decorrente de um conjunto
de motivações que levam o indivíduo à pesquisa e à
investigação: este seria um primeiro princípio básico da
linguagem. No entanto, a parte do mundo representada
independe das categorias verbais e das motivações da
pesquisa para existir. Segundo Searle (2000, p. 22-23), esta
existência independente das representações e motivações
humanas (realismo externo), e constitui a base das ciências
naturais.
2. Um segundo princípio básico da metafísica ocidental,
no âmbito da linguagem, é estabelecer uma comunicação entre
indivíduos sobre objetos e estados de coisas do mundo que
existem independentemente da linguagem. Portanto, a
linguagem possui, segundo Searle, um caráter comunicativo e
um caráter referencial. O caráter comunicativo contempla a
possibilidade do indivíduo de expressar seus próprios
pensamentos, ideias ou conclusões para outro indivíduo. Já o
caráter referencial da linguagem é a possibilidade de, entre
indivíduos, referirem-se a objetos e estados de coisas cuja
existência independe deles e da própria linguagem. Quando
377
há a comunicação oportunizada pela linguagem, há a intenção
de que o ouvinte reconheça o significado do orador, ou seja,
que o compreenda. O que une essa possibilidade é o ato de
fala181, que possui grande variedade de usos de linguagem.
3. A linguagem tem a função de representação da
realidade: eis o terceiro princípio básico da metafísica
ocidental que tem relação com a questão linguagem. As
afirmações procuram descrever como são as coisas do mundo
mediante uma linguagem que o represente, pois, caso
contrário, temos uma afirmação falsa. Portanto, a validade ou
falsidade de uma afirmação é uma questão de precisão na
representação, ou seja, uma afirmação é verdadeira se, e
somente se, a afirmação corresponde aos fatos. O critério para
verificação de verdade ou falsidade de uma afirmação passa a
ser basicamente a partir da teoria da correspondência,
formando o que Searle chama de Pano de Fundo da metafísica
ocidental. A metafísica ocidental tem uma preocupação
direcionada à verdade e seus três princípios básicos, até aqui
analisados, possuem uma relação de interdependência, pois
na sua maior parte, o mundo existe independentemente da
linguagem (princípio 1) e uma das funções da linguagem é
representar como são as coisas no mundo (princípio 2). Um
aspecto crucial no qual a realidade e a linguagem entram em
contato é marcado pela noção de verdade. Em geral, as
afirmações são verdadeiras na medida em que representam
com precisão uma característica qualquer da realidade que
existe independentemente da afirmação (princípio 3)
(SEARLE, 1993 p. 13).
4. A metafísica ocidental caracteriza o conhecimento
como algo peculiarmente objetivo. Esse é o seu quarto
princípio básico. A validade de uma afirmação, como já
O conceito de ato de fala ocupa a primeira fase dos trabalhos escritos de Searle. Uma
apresentação sintética desta noção pode ser encontrada em Searle (2000, p. 133-140).
181
378
apresentado, é uma questão de representação precisa de uma
realidade independente. A subjetividade não tem nenhum
mérito na construção do conhecimento ou ao menos na sua
validade. Sobre esse quarto princípio, o autor ressalta a
distância tomada entre o pesquisador e sua pesquisa. Esse
distanciamento é decorrente do critério da importância da
pesquisa, ou seja, esta é relevante se descrever com precisão
uma realidade cuja existência é independente do sujeito
pesquisador. A pesquisa sobre essa realidade baseia-se nos
critérios de verdade por correspondência. Naturalmente, o
conhecimento é representado pela linguagem e quem faz as
representações são os investigadores particulares, com sua
subjetividade. Assim, a verdade por correspondência
eliminaria qualquer ato de sentimentalismo, visto que o
conhecimento de algum fato é possível apenas sob o aspecto
objetivo. A intenção de Searle não é afirmar que há uma
incoerência na metafísica tradicional, por destacar o
conhecimento objetivo como o único válido. A possibilidade
de não existir uma verdade objetiva supõe um relativismo, ou
seja, uma falta de conexão essencial tanto com a verdade
quanto com a falsidade. O conhecimento, no entanto, que está
em pauta nessa discussão (o conhecimento objetivo como o
único válido), enquadra-se nos pressupostos da metafísica
ocidental.
5. Um quinto princípio da metafísica ocidental é o
caráter formal da lógica e da racionalidade que a sustenta.
Tradicionalmente, segundo Searle, fazendo clara referência a
Kant, a razão divide-se em teórica e prática, sugerindo o que é
razoável acreditar e o que é razoável fazer, respectivamente. A
metafísica ocidental, por sua vez, preocupa-se intensamente
com o emprego da racionalidade da lógica, da justificação, da
demonstração, etc., a partir de uma concepção que lhe é
própria, para estabelecer a validade do conhecimento.
Entretanto, a concepção desses itens empregados, por si
379
mesma, é insuficiente para estabelecer em que acreditar e o
que fazer. A racionalidade possui um caráter representativo e
convencional, pois a avaliação de uma afirmação (ou seja, a
verificação da verdade a partir da racionalidade contida na
afirmação) é realizada a partir de um conjunto de modos de
proceder, de métodos ou de padrões fornecidos pela
racionalidade no confronto ou comparação com outras
afirmações. A lógica vem a ser, nesta perspectiva, um
mecanismo que comprova e apresenta uma estrutura de
pressupostos já aceitos. Dessa forma, a lógica pode levar ao
convencimento da verdade de uma afirmação, porém, por si
mesma, não diz aquilo em que acreditar, mas permite verificar
se a afirmação é verdadeira ou falsa. Searle não tenta refutar a
lógica e a racionalidade, mas procura esclarecer em que elas se
sustentam e quais suas funções na tradição da metafísica
ocidental. Para ele,
a lógica e a racionalidade fornecem padrões de demonstração,
validade e razoabilidade; mas os padrões só operam sobre um
conjunto previamente dado de axiomas, pressupostos, fins e
objetivos. A racionalidade, enquanto tal, não faz afirmações
substantivas (SEARLE, 1993, p. 14).
Os cinco princípios básicos da metafísica ocidental,
apresentados acima, têm por consequência o último desses
princípios, a saber, a elaboração de um conjunto de critérios
para avaliar produtos intelectuais.
Dados um mundo real, uma linguagem pública para falar
acerca dele e as concepções de verdade, conhecimento,
racionalidade, etc., implícitos na metafísica ocidental, haverá
um conjunto complexo, mas não arbitrário, de critérios para
ajuizar os méritos relativos de afirmações, teorias, explicações,
interpretações e outros tipos de considerações (SEARLE, 1993,
p. 15).
380
Qualquer afirmação, teoria, explicação, etc., para obter
relevância, é necessário que se submeta a avaliações a partir de
critérios definidos de maneiras objetiva e intersubjetiva. Um
critério é objetivo quando sua aplicação for desprovida da
sensibilidade das pessoas, considerando a interpretação, a
crítica ou a admiração desnecessárias. Estão submetidas a esse
critério as ciências naturais, quando formulam teorias como,
por exemplo, a lei da gravidade ou a estrutura da molécula.
Há também critérios da avaliação de uma produção
intelectual que são considerados intersubjetivos, pois se
reportam a características amplamente partilhadas da
sensibilidade humana. Atualmente, a aplicação dos critérios
intersubjetivos é direcionada a áreas chamadas de ciências
humanas. Áreas como as da História e da Educação exigem a
prática da interpretação, a discussão, a crítica, etc. Nestes
termos, a intersubjetividade é central à atividade intelectual.
Dados os dois tipos de critérios de avaliação intelectual,
o objetivo e o intersubjetivo, Searle explica que não existe entre
eles uma linha divisória precisa. O próprio critério objetivo,
que por vezes é considerado o único válido e preciso, devido à
sua neutralidade182, contém uma forma de intersubjetividade.
Disso não se conclui que os critérios intersubjetivos são
arbitrários ou inconsistentes e somente a objetividade é válida,
uma vez que em áreas como as da Física e da Química os
padrões são determinados de forma precisa pelos algarismos.
Pelo contrário, os critérios intersubjetivos devem conter, de
acordo com os princípios da metafísica ocidental, uma
racionalidade e uma lógica para que não sejam permitidas
conclusões aleatórias decorrentes de interpretações, críticas,
etc. Aqui se encontra o princípio crucial para a concepção
tradicional de universidade e que, segundo Searle, é o mais
rejeitado pela cultura do pós-modernismo.
182 O termo neutralidade, nesse texto, está sendo usado no sentido de que quem aplica
os critérios de avaliação objetiva não tem qualquer interferência, pois o que está em
questão é algo independente do sujeito.
381
Com esses princípios básicos da metafísica ocidental é
possível desenvolver uma reflexão sobre as condições de
realização da pesquisa no ensino superior em relação a seus
critérios de avaliação. Existe, portanto, uma concepção
consistentemente formada de conhecimento, verdade, significado,
racionalidade, realidade e os critérios para avaliar as produções
intelectuais, com um entrelaçamento entre elas.
De acordo com a concepção de realismo externo, o
conhecimento, a linguagem, a verdade, a realidade, a
racionalidade e a lógica se completam. Ou seja, para a
metafísica tradicional, o conhecimento descreve uma realidade
representada por uma linguagem; seus critérios de verdade
são julgados de acordo com a correspondência entre as
proposições e a realidade representada. Por fim, a
racionalidade e a lógica são os critérios utilizados para a
avaliação do processo, que pode ser de caráter objetivo ou
intersubjetivo.
A metafísica ocidental, segundo Searle, é a base da
tradição intelectual e educativa nas universidades que se
dedicam à pesquisa, pois “o ideal acadêmico da tradição é o
do investigador imparcial entregue à indagação do
conhecimento objetivo que tenha validade universal”
(SEARLE, 1993, p. 16). Contudo, esse ideal de pesquisa
acadêmica é rechaçado pelo discurso do pós-modernismo.
O impasse entre a universidade tradicional e a universidade
do pós-modernismo está basicamente nas avaliações da
produção intelectual delas decorrentes. Esse é o centro da
reflexão de Searle em seu artigo Rationality and Realism. O
impasse surge devido ao não comprometimento, por parte da
universidade do pós-modernismo, com as pretensões de
imparcialidade e objetividade da universidade tradicional.
Torna-se claro que a aceitação da metafísica ocidental na
organização dos conteúdos e métodos do ensino superior
atinge a maior parte das disciplinas acadêmicas, inclusive as
disciplinas que dependem da representação humana como a
382
arte, a literatura, a história, etc. O objetivo da aceitação da
metafísica ocidental é aplicar os padrões de racionalidade,
conhecimento e verdade a tais disciplinas, o que é contrariado
pelo discurso da universidade do pós-modernismo.
Os ataques aos ideais tradicionais da universidade têm
uma origem que não é epistemológica, mas sim política, como
mostra Searle:
Se a relação entre a metafísica ocidental e os ideais tradicionais
da universidade é (mais ou menos) óbvia, é muito menos
óbvia (na verdade, é difícil de entender) a relação entre os
ataques à metafísica ocidental e as propostas educativas. É
pura e simplesmente um fato que, na história recente, a
rejeição da metafísica ocidental andou de mãos dadas com as
propostas de mudanças politicamente motivadas do currículo
(SEARLE, 1993, p. 17).
Segundo o autor, as motivações de transformação
política nas universidades se deparam com a metafísica
ocidental, sendo esta um obstáculo, pois é a responsável pela
estrutura tradicional de universidade. Essa estrutura organizase sob os ideais de objetividade, racionalidade e verdade da
realidade, conforme as perspectivas do realismo externo. A
forma com que a universidade tradicional direciona as
produções intelectuais traz obstáculos ao propósito de atingir
objetivos sociais mais importantes.
O que está em questão é que a produção intelectual,
quando elaborada apenas sob critérios de objetividade e
racionalidade, torna-se indiferente em relação aos objetivos
sociais e, por isso, seu trabalho atinge níveis de esterilidade, ou
seja, só tem significado no âmbito estritamente intelectual.
Uma das intenções do autor é argumentar que o ensino
superior tende a conter uma característica e uma
responsabilidade com a política. Quanto mais as
universidades conservam a tradição de transmitir aos seus
estudantes um conjunto de verdades objetivas sobre uma
383
realidade, mais o ensino superior se distancia das
transformações que levam a alcançar objetivos sociais
benéficos.
A tradição de transmissão de verdades objetivas
promove um estado conservador e elitista do ensino superior.
Aqueles valores intelectuais tradicionais são conservados e
voltados exclusivamente aos poucos que ingressam no ensino
superior, tornando-se elitista.
A rejeição à metafísica ocidental deve ser desenvolvida
por uma crítica séria e eficiente, com a intenção exclusiva de
promover transformações políticas e alcançar objetivos sociais.
A crítica da universidade do pós-modernismo deve ser analisada
com atenção, pois é a sua rejeição à metafísica ocidental que
motiva a revisão do ensino superior. Mas Searle ressalta que a
atitude mais coerente seria o contrário: mediante a
necessidade de revisar a concepção do ensino superior é que
deveria surgir a crítica à metafísica ocidental.
Searle defende a ideia de que é necessário desenvolver
uma crítica à metafísica ocidental com o propósito de romper
com os obstáculos de objetividade e racionalidade da
universidade tradicional. Portanto,
a maior consequência isolada da rejeição da metafísica
ocidental é o fato de tornar possível um abandono dos
padrões tradicionais de objetividade, verdade e racionalidade,
e o fato de abrir caminho a uma estratégia educativa na qual
um dos objetivos principais é alcançar a transformação social e
política (SEARLE, 1993, p. 18-19).
A mudança a partir da concepção da universidade do pósmodernismo, nas estruturas do ensino superior, desenvolve um
caráter de excelência acadêmica com diferentes concepções. As
universidades que se dedicam à investigação são estimuladas
a adotar critérios diferentes de valor acadêmico, critérios
oriundos de uma nova concepção de pesquisa ocorrida pela
mudança desenvolvida pela universidade do pós-modernismo.
384
A mudança desenvolvida na universidade do pósmodernismo promove um abandono do compromisso com a
verdade e com a excelência intelectual que constitui o próprio
âmago da metafísica ocidental, em favor de uma preocupação
política. Contudo, a concepção de política no novo discurso
tem um caráter de representatividade na estrutura do currículo,
principalmente porque
um dos propósitos do ensino já não é, como antes se pensava,
permitir que o estudante se torne membro de uma cultura
humana, intelectual e universal mais ampla; ao invés, o novo
objetivo é reforçar o seu orgulho como membro de um
subgrupo particular e a sua auto-identificação com esse grupo.
Por esta razão, a representatividade na estrutura do currículo,
nas leituras exigidas e na composição do corpo docente tornase crucial. Se abandonarmos o compromisso com a verdade e
com a excelência intelectual que constitui o próprio âmago da
metafísica ocidental, parece arbitrário e elitista pensar que
alguns livros são intelectualmente superiores a outros, que
algumas teorias são pura e simplesmente verdadeiras e outras
falsas, e que algumas culturas produziram produtos culturais
mais importantes que outras (SEARLE, 1993, p. 19).
A nova organização, portanto, tem um caráter partidário
com a defesa dos interesses e necessidades de grupos. O
argumento é que as mudanças estruturais da sociedade
dividida em grupos exigem novos padrões de excelência
acadêmica. A excelência acadêmica da nova organização não
tem finalidade intelectual de objetividade, nem a finalidade de
transformação social, mas de caráter moral ou político. Com
isso, a própria concepção de pesquisa, de acordo com a
subcultura universitária do pós-modernismo, sofre uma
mudança, passando da ideia de um domínio a investigar para
a ideia de que há uma causa a defender, o que, para Searle
(1993, p. 20), pode inclusive prejudicar a própria prática da
pesquisa.
385
A mudança nos novos padrões de excelência acadêmica
exige o abandono de certas características da metafísica
ocidental, como a imparcialidade decorrente do compromisso
com a objetividade e a verdade. Na concepção tradicional, por
exemplo, seria possível falar sobre ateísmo sem ser ateu, pois o
caráter acadêmico independe das atitudes morais.
O caráter de imparcialidade dos pesquisadores em sua
pesquisa não é possível no discurso da universidade do pósmodernismo, pois não há uma investigação independente da
causa moral a defender. Segundo Searle, os adeptos a essa
reforma têm por objetivo principal a defesa de uma certa
causa.
A ideia de que a resolução de alguns problemas políticos
ou sociais se desenvolva a partir da criação de uma nova
ciência para aquela área é também atacada, pois a própria
ideia de ciência é encarada como repressiva na concepção dos
reformistas do currículo das universidades. Uma nova teoria
científica, para os reformistas (ligados aos propósitos da
universidade do pós-modernismo), não pode ser a base para a
construção de uma nova orientação política, ou seja, o
desenvolvimento de uma nova orientação política não
necessita do acompanhamento de uma nova teoria científica,
pois a orientação política já está determinada.
De acordo com o que foi exposto, há uma observação a
ser destacada. Toda essa modificação do discurso tradicional
da metafísica ocidental para o discurso do pós-modernismo, no
âmbito das universidades que se dedicam à investigação, está
pautada também numa modificação de vocabulário.
Tradicionalmente, por exemplo, se referia a ideia de disciplina
acadêmica como domínio a estudar, mas com a nova orientação
política passa a ser causa a promover (SEARLE, 1993, p. 22).
A principal modificação de vocabulário destacado por
Searle é a ideia do que é ser acadêmico:
386
se a verdade e a validade objetivas não existem, tanto
podemos discutir a pessoa que apresenta o argumento e os
motivos que terá para o apresentar, como podemos discutir a
pretensa validade do argumento e a alegada verdade das suas
conclusões (SEARLE, 1993, p. 21).
A concepção de acadêmico como o investigador de uma
realidade da qual é independente passa por modificações,
sendo que o próprio sujeito se torna a referência para a
validade e aceitação da sua produção intelectual. “Antes, os
estudiosos tentavam ultrapassar as limitações dos seus
próprios preconceitos e pontos de vista. Hoje, exaltam-se estas
limitações” (SEARLE, 1993, p. 21). Não significa que a
produção intelectual não tem referências e, por isso, tende ao
relativismo. Significa que os referenciais em questão mudaram
e têm como centro o sujeito, uma vez que a avaliação e a
validação das produções intelectuais estão calcadas nos
pressupostos subjetivos.
Como foi visto, todo discurso que rejeite a metafísica
ocidental traz várias modificações na maneira de ser da
universidade. Segundo Searle, esse discurso é proveniente do
próprio meio do ensino superior, com propósitos de
transformações políticas. Para o autor, é provavelmente
impossível rejeitar por completo a tradição da metafísica
ocidental devido às suas próprias características básicas, a
começar pelo realismo externo, destacado anteriormente.
A universidade do pós-modernismo tem a característica de
refutar as bases da universidade tradicional, mas seus
argumentos183 são inconsistentes no que se refere à base
epistêmica da metafísica ocidental. Para ela, todo discurso é
um qualquer caso político, usando a universidade para fins
políticos.
183 A propósito, a própria ideia de argumento já indica que existam pressupostos
sólidos que sustente e afirme a base da verdade de uma afirmação, como apresenta
Searle (1993, p. 25).
387
Searle não tem a intenção de defender a ideia da
metafísica tradicional como plenamente válida, rejeitando a
universidade para fins políticos. O conjunto de pressupostos
da metafísica ocidental pode conter incoerências para
representar a relação entre sujeito e a realidade, porém deve
haver alternativas a serem encontradas. Alguns de seus
pressupostos, segundo Searle, não poderão jamais ser
refutados ou ignorados, como por exemplo, a ideia de que
existe um mundo independe da vontade humana (o realismo
externo).
Certamente, a tradição acarreta, em alguns casos,
exageros (e por isso que em seu conjunto não é perfeita), como
a forte ênfase na objetividade. Porém, remeter-se ao outro
extremo, o da subjetividade, em que tudo depende do sujeito,
também parece incoerente.
Searle não condena o fato de as universidades conterem
certos objetivos políticos. Mas não aceita o fato de que elas
sejam usadas com finalidades exclusivamente políticas,
rejeitando por completo a metafísica ocidental em favor de um
discurso pós-moderno. A crítica, portanto, deixada por Searle
é de que pensadores atuais que negam o realismo, dizendo
que a realidade é uma construção humana, “negaram uma das
condições da inteligibilidade das nossas práticas linguísticas
comuns sem terem fornecido uma concepção alternativa dessa
inteligibilidade” (SEARLE, 1993, p. 26).
A concepção de universidade é tema de muitas
discussões em educação, mas seus debates são mais
acentuados na esfera política. Por isso, a contribuição de Searle
está em promover a discussão sobre os temas centrais que
dizem respeito à missão da universidade mediante suas bases
epistêmicas e metafísicas.
388
REFERÊNCIAS
FAIGENBAUM, Gustavo. Conversaciones con John Searle. Buenos Aires:
Libros en Red, 2001.
SEARLE, John R.; DENNETT, Daniel Clement; CHALMERS, David John. O
mistério da consciência. São Paulo: Paz e Terra, 1998.
SEARLE, John R. A Redescoberta da Mente. São Paulo: Martins Fontes,
1997.
_______. La Construcción de la realidad social. Barcelona: Paidós, 1997b.
_______. Mente, cérebro e ciência. Lisboa: Edições 70, 1984.
_______. Mente, linguagem e sociedade: filosofia no mundo real. Rio de
Janeiro: Rocco, 2000.
_______.
Rationality and Realism, What is at Stake? Reprinted by
permission of Dædalus, Journal of the American Academy of Arts and
Sciences, from the issue entitled, “The American Research University”, Fall
1993, Vol. 122, No. 4. Tradução de Desidério Murcho. Disponível em
http://www.disputatio.com/articles/007-1.pdf.
TEIXEIRA, João de Fernandes. Mente, Cérebro e Cognição. Petrópolis:
Vozes, 2000.
389
Capítulo 20
SARTRE, EXISTENCIALISMO E EDUCAÇÃO
Daniela Ribeiro Schneider
A EDUCAÇÃO ENQUANTO FENÔMENO
Refletir acerca da relação da filosofia existencialista de
Jean-Paul Sartre (1905-1980) com a educação passa por
compreender a esta enquanto fenômeno (MARTINS e BICUDO,
1983). Para tanto, é preciso entendê-la enquanto um conjunto
de manifestações ou ocorrências articuladas entre si, que se
desvela em direção a um fim, que é exatamente o sentido do
ato educativo.
Este conjunto de ocorrências diz respeito às várias
dimensões da ação educativa, passando: a) pela relação
professor-aluno; b) pela relação entre a construção e a
transmissão de conhecimentos; c) pelo contexto e as condições
onde ocorrem o ato educativo; d) pelas políticas educacionais
na base deste contexto.
Desta forma, a educação passa por essas várias
dimensões e define seu fim: realizar processos de
transformação do homem e do mundo (FREIRE, 1983).
Verifica-se, assim, que a educação é um processo incrustado
de historicidade que vai definir os seus contornos. Isto
significa que cada época histórica construiu este fenômeno de
um modo singular, conforme as circunstâncias que o
determinaram. Com isso, conforme as condições e interesses
390
em jogo, configuram-se diferentes modelos educacionais. Isso
significa, por outro lado, que a educação serve de mediador
para o processo histórico da humanidade, na medida em que a
transmissão do saber construído pelos homens é crucial no ato
de sua humanização e da sua constituição sociocultural.
Discutiremos adiante as contribuições do Existencialismo
Moderno para compreender o fenômeno da educação em suas
diferentes dimensões e em sua historicidade. Antes, porém,
veremos quais os principais pressupostos da filosofia e
psicologia existencialistas.
A FILOSOFIA E A PSICOLOGIA EXISTENCIALISTAS DE SARTRE
A filosofia e a psicologia produzidas pelo francês JeanPaul Sartre, a partir da década de 1930, embasaram-se,
principalmente, no método fornecido pela Fenomenologia de
Husserl, na antropologia concretizada pelo Existencialismo de
Kierkegaard e no horizonte teórico e epistemológico do
Materialismo Histórico-Dialético. A síntese específica desses três
elementos denomina-se Existencialismo Moderno.
A busca de uma sistematização rigorosa para a filosofia
fez com que o alemão Husserl (1859-1938) desenvolvesse um
método para as ciências denominado Fenomenologia, cuja
proposta fundamental era o retorno ao mundo vivido, já que
as filosofias de até então sustentavam seus conhecimentos em
abstrações da realidade. O princípio central da Fenomenologia
consiste, portanto, na “volta às coisas mesmas”, ou seja, aos
fenômenos, na forma como estes ocorrem no seu contexto,
sendo o conhecimento formulado a partir da descrição da
realidade concreta, deixando de lado pressupostos e
preconceitos (DARTIGUES, 1973).
O dinamarquês Kierkegaard (1813-1855) construiu um
sistema filosófico denominado Existencialismo, cujas
concepções contrapõem-se ao Hegelianismo no fato deste
negligenciar “a insuperável opacidade da experiência vivida”
391
(SARTRE, 1987a, p. 115). Com isso, resgata a singularidade da
existência do homem, ressaltando-o como ser concreto no
mundo. Chama atenção, de outra parte, para a subjetividade
como um componente irrevogável da realidade.
O Materialismo Histórico-Dialético, desenvolvido por
Marx (1818-1883) e Engels (1820-1895), tinha também, como
ponto de partida, a crítica à filosofia de Hegel, por esta ser
uma dialética idealista, propondo a “inversão hegeliana”, ao
estabelecer como base para se conhecer a realidade a
materialidade, mantendo, no entanto, a concepção dialética. O
ponto de partida para a compreensão da realidade humana
deve ser sempre a história, pois o homem é um ser
eminentemente histórico e social.
Não se trata, como na concepção idealista da história de
procurar uma categoria em cada período, mas sim de
permanecer sempre no solo da história real; não de explicar a
práxis a partir da ideia, mas de explicar as formações
ideológicas a partir da práxis material. [...] Mostra que,
portanto, as circunstâncias fazem os homens assim como os
homens fazem as circunstâncias (MARX, 1987, p. 55-6).
A concepção dialética compreende, portanto, a realidade
como um processo histórico sempre em curso, no qual as
contradições são elementos constitutivos. Nessa perspectiva, o
homem é produto da história, ao mesmo tempo em que a
produz. Da mesma forma, a subjetividade não existe em si
mesma, já que é sempre produto das relações sociais,
ativamente apropriadas pelo sujeito.
O Existencialismo Moderno, consolidado por Sartre,
consiste na síntese desses três elementos, constituindo, assim,
uma filosofia e uma psicologia peculiares. Representa uma
superação das filosofias idealistas e das psicologias
mentalistas que delas se desdobram, bem como das filosofias
materialistas clássicas e das psicologias objetivistas
pertinentes, na medida em que não se reduz ao determinismo
392
das ideias, nem ao determinismo da matéria. (SCHNEIDER,
2011; SCHNEIDER e CASTRO, 1998).
Sendo assim, Sartre postula uma dialética entre a
dimensão da subjetividade e a dimensão da objetividade, base
de sua ontologia.
A teoria sobre o ser da realidade, em Sartre, implica a
constatação de que a materialidade, as coisas e, portanto, a
objetividade são componentes indescartáveis desta realidade e
que existem independentemente do homem ou da dimensão
subjetiva.
Por outro lado, implica a compreensão da dimensão de
subjetividade como o outro pólo da realidade, constituído pela
região da consciência, pautada pelo princípio da
intencionalidade, tomado da fenomenologia de Husserl, no
qual toda “consciência é consciência de alguma coisa”. Mostra,
com isto, a impossibilidade da subjetividade sustentar-se em si
mesma, já que necessita sempre das coisas transcendentes para
existir. Isto significa que a consciência só se sustenta por ser
relação a alguma coisa, é distância de si, é transparência, sem
opacidade, sem plenitude de si. Portanto, a subjetividade é
para-si, implicando a noção de movimento, de relação. A
consciência define-se, assim, pelo pólo de relação ao objeto que
por condição ela não é, define-se, portanto, pelo seu não-ser.
Por exemplo, quando sonho, sonho com algum objeto, pessoa,
ou situação; quando tenho raiva é de alguém, ou de uma
situação; quando penso... penso em alguma coisa. A
consciência é, portanto, o que não é, sendo assim, ela é o nada
(SARTRE, 1997).
Eis que a outra dimensão, a de objetividade, torna-se,
então, indescartável para a compreensão da realidade. Este
absoluto, constituído pelas coisas, pela materialidade,
independe da consciência para existir. É a região do Ser, que é
em-si. Ser em-si significa que o ser é opaco, fechado em si, que
não é nem passividade nem atividade, é inerente a si;
desconhece, pois, a alteridade, não mantém relação com o
393
outro (SARTRE, 1997). Porém, ainda que não tenha alteridade,
só aparece, só é reconhecido, só é organizado para uma
consciência.
Portanto, as duas regiões ontológicas que compõem a
realidade, o ser e o nada, as coisas e a consciência, o em-si e o
para-si, a objetividade e a subjetividade, mesmo sendo aspectos
da realidade irredutíveis entre si, portanto dois absolutos,
ainda assim, não se sustentam um sem o outro. São, portanto,
dois absolutos relativos. Relativos porque, o primeiro (em-si)
existe independente do segundo (consciência), mas só se
organiza, só ganha sentido pela presença deste. O segundo
(para-si) para existir depende da relação estabelecida com
aquele (com as coisas), apesar de ser distinto dele.
Sendo a consciência simplesmente a condição de
estabelecer “relação a” e a materialidade um componente
independente e indescartável da realidade, consolidam-se as
bases para a superação da filosofia da interioridade, da
psicologia do si mesmo, da noção da consciência enquanto
“caixa preta”, depósitos de conteúdos, fazendo uma crítica ao
substancialismo cartesiano e seu consequente subjetivismo.
Para tanto, basta assumir, segundo Sartre (1968), o princípio
da intencionalidade em sua radicalidade:
Hei-nos libertos da ‘vida interior’: [...] porque, no fim de
contas, tudo está fora, tudo, até nós próprios: fora, no mundo,
entre os outros. Não é em nenhum refúgio que nos
descobriremos: é na rua, na cidade, no meio da multidão,
coisa entre as coisas, homem entre os homens (SARTRE, 1968,
p. 29-31).
Temos aqui em síntese a ontologia de Sartre e seus
desdobramentos. Com ela, pode-se colocar a epistemologia no
seu devido lugar, já que se acaba com a primazia do
conhecimento. O ser existe anteriormente ao conhecimento
que dele se tenha. Sendo assim, o ser do fenômeno é
transfenomenal, escapa ao conhecimento (SARTRE, 1997).
394
Dessa forma, o conhecimento não está dado a priori, é sempre
segundo, ontologicamente falando, quer dizer, uma construção
resultante da relação da consciência com as coisas, do homem
com o mundo. Somente assim, devolvemos ao homem a sua
condição de ser sujeito: sujeito do conhecimento e, em
consequência, sujeito da sua própria história, individual e
humana (SARTRE, 2002b; SCHNEIDER, 2011).
A ontologia sartriana desdobra-se, assim, na
compreensão de uma antropologia histórica, dialética e
existencial. Sartre esclarece em sua conferência O
Existencialismo é um Humanismo que não existe uma natureza
humana, se por isso entendermos uma essência a priori e
universal de homem, na qual cada sujeito singular se
enquadraria, lógica típica da filosofia aristotélica, mantida
pelas filosofias idealistas. Há, entretanto, uma condição
humana, no sentido de um conjunto de limites que definem a
situação do homem no universo. Explica o filósofo:
As situações históricas variam: o homem pode nascer escravo
numa sociedade pagã ou senhor feudal ou proletário. O que
não muda é o fato de que para ele, é sempre necessário estar
no mundo, trabalhar, conviver com os outros e ser mortal.
Tais limites não são nem subjetivos nem objetivos; ou, mais
exatamente, têm uma face objetiva e uma face subjetiva. São
objetivos na medida em que podem ser encontrados em
qualquer lugar e são sempre reconhecíveis; são subjetivos
porque são vividos e nada são se o homem não os viver, ou
seja, se o homem não se determinar livremente na sua
existência em relação a eles (SARTRE, 1987b, p. 60).
Temos que esclarecer essa condição humana. O primeiro
aspecto é que o homem é, inelutavelmente, corpo e
consciência. O corpo é uma “coisa”, portanto, é em-si. Já a
consciência é para-si. O homem é, assim, a totalização perpétua
do em-si-para-si, uma totalização sempre em curso, pois não há
síntese final possível (SARTRE, 1997). É essa totalização que
395
definirá os contornos do eu ou da personalidade
(SCHNEIDER, 2011).
Poderíamos igualmente conceituar o ser do homem
como se faz com a consciência, escapando ao “princípio da
identidade”, característico do em-si (que define que o “ser é o
que é”), dizendo que “o homem é o que não é e não é o que é”
(SARTRE, 1997). Primeiro, ao nos reportarmos à relação
corpo/consciência, acima referida: o homem está
impossibilitado de ser simples corpo (em-si) por ser
consciência, e impossibilitado de ser simples consciência
(para-si) por ser, também, seu corpo. Daí a noção de
totalização em curso.
Concomitantemente, o homem é uma perpétua
temporalização, quer dizer, o homem está sempre no tempo. É
através do homem que o tempo vem ao mundo. Dessa forma,
o homem é seu passado (que é em-si, posto que já passou, é
fato, é coisa). Mas não se reduz a sê-lo, já que está sempre
frente a seu devir, ao seu futuro (que é nada, posto que ainda
não é). Assim, ele é essa totalização do passado, presente e
futuro.
Em relação ao vir-a-ser, enquanto característica
fundamental, poderíamos afirmar que o homem é suas
possibilidades. A possibilidade é aquilo que falta ao homem, o
que ele busca para se completar, na medida em que é um
permanente devir. Ser sua própria possibilidade é definir-se
como “evasão de si rumo a...”. Portanto, o homem é o ser que
coloca perpetuamente em questão seu ser, conforme afirma
Heidegger. Ao questionar-se, transcende a situação em que
está inserido, indo rumo a seus possíveis (SARTRE, 1997).
Essas noções deságuam na noção ontológica de liberdade,
fundamental na antropologia e psicologia sartrianas. Essa
transcendência “em direção a...”, este existir para além de sua
essência, para além de seus motivos, é o que Sartre denominou
liberdade: “o homem é livre porque não é si mesmo, mas
presença a si. O ser que é o que é não poderia ser livre. A
396
liberdade é precisamente o nada que é tendo sido no âmago
do homem e obriga a realidade humana a fazer-se em vez de
ser” (SARTRE, 1997, p. 545).
Sendo assim, o fundamental no homem é sua práxis, seu
fazer. Ao lançar-se no mundo, ele se escolhe determinado ser
que quer ser. A liberdade é exatamente a escolha de ser
realizada pelo sujeito. O homem não pode deixar de escolher;
mesmo não escolher é ainda escolher, ou seja, o homem é
condenado a ser livre. Tal condição de liberdade desemboca
na noção de responsabilidade: o sujeito é responsável por seu
ser, na medida em que é ele que escolhe seu destino.
Essas escolhas, porém, não são gratuitas, quer dizer, o
sujeito não é livre para fazer o que bem entender, ou quando
bem desejar. A escolha sempre se dá em situação, ou seja,
ocorre a partir de um contexto, tem seus contornos. O homem
deve escolher, portanto, dentro de uma estrutura de escolha
(SARTRE, 1997). Sendo assim, o homem é um ser-em-situação e
a descrição e localização desta situação é fundamental em sua
compreensão existencial (BURSTOW, 2000; SCHNEIDER,
2011).
É preciso compreender, ainda, que escolher-se é lançarse em direção a um fim, ou seja, ir em direção a um projeto-deser, conceito também fundamental na perspectiva sartriana.
O homem nada mais é do que aquilo que ele fez de si mesmo:
é esse o primeiro princípio do existencialismo. [...] De início o
homem é um projeto que se vive a si mesmo subjetivamente
ao invés de musgo, podridão ou couve-flor; nada existe antes
desse projeto (SARTRE, 1987b, p. 30).
Este projeto é livre unificação (em-si-para-si,
corpo/consciência, passado/presente) do homem em direção
a um devir. O meu projeto diz respeito ao meu ser-no-mundo
em totalidade, portanto, expressa-se em cada um dos meus
atos, gestos, palavras (SARTRE, 1997).
397
O projeto de ser é constituído pelo homem a partir de
sua história de relações. Essa constatação nos faz compreender
que, primeiro, o homem existe, surge no mundo, só depois, a
partir do seu processo de relações, é que ele se define, delineia
sua essência, seu projeto. Isso significa que, na realidade
humana, a existência precede à essência, princípio fundamental
do
existencialismo sartriano,
na
continuidade
do
existencialismo de Kierkeggard. Com esse princípio, Sartre
ressalta a centralidade do processo histórico para o homem e
também a noção da personalidade como um processo em
construção, aproximando seu existencialismo do materialismo
histórico-dialético (SCHNEIDER, 2011).
É preciso entender, ainda, que quando faço minhas
escolhas, à luz de meu projeto, não escolho só para mim, mas
também para os outros. A escolha de cada sujeito implica uma
escolha para todos os homens, pois, ao realizarmos o homem
que queremos ser, estamos abrindo uma possibilidade
humana: se eu posso ser assim ou assado, qualquer outro pode
sê-lo também. Se escolho um casamento monogâmico,
exemplo dado por Sartre (1987a), estou escolhendo este tipo de
relação não só para mim, mas para todos os outros. O
homossexual horroriza ao homem moralista porque coloca
essa opção como uma escolha humana e, portanto, possível
também para ele, moralista, e para qualquer outro (SARTRE,
2002a).
Essa situação supõe uma estrutura fundamental da
realidade humana que é nosso ser-com-o-outro, aproximandose, neste aspecto, da filosofia de Heidegger. Em Sartre, o
homem é um ser-para-si-para-o-outro. O outro é um mediador
indispensável entre mim e mim mesma. Declara o
existencialista que
a descoberta da minha intimidade desvenda-me,
simultaneamente, a existência do outro como uma liberdade
colocada na minha frente, que só pensa e só quer ou a favor ou
398
contra mim. Desse modo, descobrimos imediatamente um
mundo a que chamaremos de intersubjetividade e é nesse
mundo que o homem decide o que ele é e o que são os outros
(SARTRE, 1996, p. 59).
No existencialismo sartriano, a subjetividade não é uma
entidade em si, uma estrutura mental; ela é um processo
dialético de apropriação da objetividade, de interiorização da
exterioridade. A subjetividade só existe como subjetividade
objetivada. Quer dizer, o sujeito encontra-se inserido em
condições materiais, sociais, familiares, existenciais concretas e
é no processo de apropriação dessas condições que constitui
sua subjetividade, que imediatamente se objetiva, através de
seus atos (sua práxis), seus pensamentos, suas emoções
(SARTRE, 1987a). Sendo assim, a subjetividade sempre ocorre
como intersubjetiva (DANELON, 2010).
O homem, portanto, antes de mais nada, está inserido
em um processo de relações: com a materialidade que o cerca,
com seu corpo, com os outros, com a sociedade, com o
tempo. Em específico, as relações socioculturais concretizamse na vida das pessoas através da mediação de coletivos
específicos denominados grupos. O grupo, na perspectiva do
Existencialismo Moderno, não é somente uma reunião de
indivíduos com o mesmo objetivo, mas sim o tecimento de
pessoas à luz de um projeto comum, quer dizer, um
entrelaçamento de personalidades implicadas social, cultural,
afetiva e psicologicamente. Uma pessoa pode estar inserida em
vários grupos, sem os quais não se reconhece como sendo
quem deseja ser; ela não se define sem o grupo, assim como o
grupo não se constitui enquanto tal sem a sua participação.
Sendo assim, os grupos são o suporte existencial da vida das
pessoas. São os grupos, espontâneos ou instituídos, os
responsáveis pela construção e transmissão dos diversos tipos
de conhecimento, sejam eles científicos, religiosos, populares,
etc. Estão, portanto, na base dos processos educativos.
399
Irremediavelmente tecidos entre si, os indivíduos, os
grupos e a história humana são totalizações em curso, ou seja,
elementos em constante processo de construção-desconstruçãoreconstrução. A dialética, portanto, é a característica
constitutiva da realidade humana (SARTRE, 2002b).
SARTRE, O EXISTENCIALISMO E A EDUCAÇÃO
Conforme o modelo de educação que prevalece, decorre
a perspectiva sobre a relação professor-aluno e o papel de cada
um no processo educacional, a relação entre a construção e a
transmissão do conhecimento, as condições do ato educativo.
As concepções da filosofia fenomenológico-dialética de Sartre
são contribuições importantes para se pensar o fenômeno
educativo, dentro de certa perspectiva educacional.
Inicialmente, podemos argumentar que Sartre foi um
crítico do modelo da pedagogia tradicional. Ainda que não
tenha textos específicos sobre o tema, Sartre apoiou
ativamente o movimento dos estudantes de maio de 1968, que
criticava o sistema de educação vigente. A crítica à filosofia
idealista, bem como ao que Sartre (1968) denominou filosofia
alimentar, com a lógica da representação mental, ou da
consciência como repositório de conteúdos, faz com que o
modelo da pedagogia tradicional, centrada na autoridade do
professor, no seu papel de fonte única de transmissão do
conhecimento, que deve ser recebido passivamente pelo aluno,
ou seja, o modelo da chamada pedagogia bancária por Freire
(1983), seja questionado até suas raízes ontológicas e
antropológicas pela filosofia sartriana.
É bem por isso que certos autores, que defendem um
modelo de pedagogia tradicional, autoritária, são críticos da
filosofia de Sartre, como é o caso de Benhamida em seu
conhecido artigo O existencialismo de Sartre e a educação: a falta
de fundamentação para as relações humanas (BURSTOW, 2000).
400
A influência da fenomenologia aproxima Sartre da
chamada Pedagogia Nova ou Escolanovismo, que postula uma
educação centrada no aluno e em suas potencialidades, sendo
o professor um facilitador do processo de aprendizagem
(MARTINS e BICUDO, 1983). A concepção sartriana de uma
filosofia centrada no sujeito está em consonância com essa
perspectiva. A noção do projeto de ser em Sartre indica um
caminho para o processo educativo, no sentido do ato
pedagógico
dever
oportunizar
uma
aprendizagem
significativa, na medida em que se constitua um sentido do
aprendizado que seja incorporado ao devir do sujeito. Este é o
diferencial da proposta da Pedagogia Nova: o ato educativo
terá mais impacto se disser respeito ao campo de
possibilidades de ser do aprendiz, que se reconhece no
processo de apropriação ativa do conteúdo. Conforme discute
Danelon (2010, p. 14), “a educação não se constitui num
processo de formação ou de objetivação da subjetividade, mas
ela apresenta as ferramentas necessárias para o sujeito projetar
seu ser, a partir de suas escolhas, num futuro”.
Desta forma, esse ato pedagógico é situado no tempo e
no espaço. Como disse Santana (2011, p. 16), falando das
contribuições de Sartre à educação,
não há como pensar a educação sem a sua constituição na
situação. Neste sentido, a educação deve ser construída,
inventada, a partir da situação já constituída de significados,
que precisam ser transpostos para criar novas possibilidades
de significações.
No entanto, as críticas ao Escolanovismo, por esta
abordagem estar em consonância com a perspectiva liberal de
homem e sustentar-se numa concepção subjetivista e pouco
crítica do processo educativo, são também compartilhadas
pelas críticas ao subjetivismo na filosofia de Sartre. Por um
lado, como vimos acima, o existencialismo se coloca na direção
de uma pedagogia centrada no aluno. Mas, por outro lado, a
401
perspectiva materialista-histórica que lhe dá embasamento faz
com que Sartre, sem negar a dimensão subjetiva da realidade
humana, conceba-a de forma dialética e, com isto, se aproxime
da perspectiva da teoria histórico-cultural de Vygotski,
afastando-se, de certo modo, das filosofias e psicologias
fenomenológicas que, em sua maioria, acabam presas a um
excessivo subjetivismo.
Na teoria histórico-cultural, o pedagógico constitui-se na
relação entre o processo de desenvolvimento e a capacidade
de aprendizado, sendo que pressupõe a natureza social da
aprendizagem, ou seja, é pelo processo de interações sociais,
ocorridas em contextos específicos, a partir do processo de
mediação semiótica, que o sujeito desenvolve as funções
psicológicas superiores (ANTONIO, 2008; ZANELLA, 2001).
Neste aspecto, a perspectiva do ser-com-o-outro, enquanto
elemento fundante da psicologia existencialista, serve de
embasamento para a noção de mediação social, como aspecto
central da constituição do sujeito. Esta noção dialética, melhor
desenvolvida em Saint Genet: comediante e ator (SARTRE,
2002a) e na Crítica da Razão Dialética (SARTRE, 2002b),
descreve a historicidade do sujeito, na sua relação com os
grupos, com a cultura, com o social. Com isso, fundamenta o
processo educativo, compreendido enquanto relação dialética
entre a produção e transmissão do conhecimento por/para
sujeitos concretos e a sociedade (ANTONIO, 2008).
Aproxima-se, com isso, da educação libertária que,
segundo Freire (1979), concebe o conhecimento como parte da
realidade concreta do homem e este reconhece o seu caráter
histórico e transformador. Aqui o conceito ontológico de
liberdade, em Sartre (1997), e do homem como sendo liberdadeem-situação são fundamentos para uma pedagogia crítica, em
que o sujeito é construtor do conhecimento e, portanto, da
realidade social, em um processo mediado pelas diferentes
instituições da sociedade. Vejamos o que o próprio Freire
argumenta em seu livro Pedagogia do Oprimido:
402
A educação como prática da liberdade, ao contrário daquela
que é prática da dominação, implica na negação do homem
abstrato, isolado, solto, desligado do mundo, assim também
na negação do mundo como uma realidade ausente dos
homens. A reflexão que propõe, por ser autêntica, não é sobre
este homem abstração nem sobre este mundo sem homem,
mas sobre os homens em suas relações com o mundo.
Relações em que consciência e mundo se dão
simultaneamente. Não há uma consciência antes e um mundo
depois e vice-versa. “A consciência e o mundo, diz Sartre, se
dão ao mesmo tempo: exterior por essência à consciência, o
mundo é, por essência, relativo a ela” (FREIRE, 1987, p. 40).
A filosofia sartriana oferece, assim, substratos
ontológicos, antropológicos e psicológicos para fundamentar
uma educação crítica e libertária. Conforme argumenta
Burstow (2000, p. 116),
o quadro que Sartre apresenta fornece o que faltava.
Estabelece a base para processar relações afirmativas e, ao
mesmo tempo, para processar relações de auxílio. Além disso,
estabelece novas orientações muito importantes para a
educação. Convoca a nós educadores para despertar as
pessoas quanto à violação da liberdade em sociedade e a
meios de consertar isso por auxílios ao indivíduo em suas
espirais, isto é, em seu próprio e original emergir.
Desta forma, a educação, com base em Sartre, faz com
que compreendamos que o processo educativo é uma práxis
libertadora, desde que se compreenda que “o essencial não é o
que fizeram do homem, mas aquilo que ele faz do que fizeram
dele” (SARTRE, 2002a).
REFERÊNCIAS
ANTONIO, Rosa Maria. Teoria Histórico-Cultural e Pedagogia HistóricoCrítica: o desafio do método dialético na didática. Maringá, 2008. Obtido
403
em: http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/22906.pdf. Acessado em 10/08/2011.
BURSTOW, Bonnie. A filosofia sartreana como fundamento da educação.
Educação & Sociedade, ano XXI, nº 70, Abril/2000.
DANELON, Marcio. Intersubjetividade e Educação: o estatuto do olhar nas
relações educativas. Uma reflexão a partir da fenomenologia existencial de
Sartre. Obtido em:
http://www.anped.org.br/33encontro/app/webroot/files/file/Trabalhos
%20em%20PDF/GT17-6668--Int.pdf. 2010. Acessado em 10/08/2011.
DARTIGUES, André. O que é Fenomenologia? Rio de Janeiro: Eldorado,
1973.
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 17ª ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra,
1987.
MARTINS, Joel; BICUDO, Maria A. V. Estudos sobre Existencialismo,
Fenomenologia e Educação. São Paulo: Moraes, 1983.
MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. A Ideologia Alemã. 6ª ed. São Paulo:
Hucitec, 1987.
SANTANA, Marcos R. Esboços de uma ética da educação em Sartre.
Filosofia e Educação (Online) – Revista Digital do Paideia. Vol. 3, Nº 1,
Abril de 2011 – Setembro de 2011.
SARTRE, Jean-Paul. Situações I. Lisboa: Publicações Europa-América, 1968.
_______. Questão de Método. Coleção Os Pensadores. 3ª ed. São Paulo:
Nova Cultural, 1987a.
_______. O Existencialismo é um Humanismo. Coleção Os Pensadores. 3ª
ed. São Paulo: Nova Cultural, 1987b.
_______. O Ser e o Nada: Ensaio de ontologia fenomenológica. 2ª ed.
Petrópolis: Vozes, 1997.
_______. Saint Genet: Autor e Mártir. Petrópolis: Vozes, 2002a.
_______. Crítica da Razão Dialéctica (precedido pelo Questão de Método).
Rio de Janeiro: DP &A, 2002b.
404
SCHNEIDER, Daniela e CASTRO, Daniela. Contribuições do
Existencialismo Moderno para Psicologia Social Crítica. Cadernos de
Psicologia. Rio de Janeiro: UERJ, nº 8, Série Social e Institucional, 1998, p.
139-149.
SCHNEIDER, Daniela. Sartre e a Psicologia Clínica. Florianópolis: EdUFSC,
2011.
ZANELLA, Andréia. Vygostski: contexto, contribuição para a psicologia e
o conceito de desenvolvimento proximal. Itajaí: Ed. UNIVALI, 2001.
405
Capítulo 21
CONSIDERAÇÕES SOBRE A INFLUÊNCIA DA FILOSOFIA
GRAMSCIANA NO PENSAMENTO DE DERMEVAL SAVIANI
Célia Kapuziniak
INTRODUÇÃO
Os textos escritos sobre a teoria (ou pedagogia) históricocrítica, em geral, - pelo menos aqueles que chegaram às nossas
mãos -, relacionam o pensamento de Dermeval Saviani com a
teoria marxista, - até porque o mesmo o faz diretamente – e em
alguns casos fazem um exaustivo estudo da influência do
pensamento de Marx-Engels na construção da teoria históricocrítica. No entanto, não levam suficientemente em conta a
influência do pensamento de Gramsci, de forma específica. Em
muitos escritos, o filósofo é olimpicamente ignorado. Saviani,
segundo nossa compreensão, tem uma concepção do papel da
educação, e da escola, especificamente, na transformação da
sociedade e vice-versa, que deita suas raízes no pensamento
de Gramsci, quando reflete sobre o papel da educação na luta
de hegemonias e na transformação das relações sociais.
Inclusive, encontramos diversas citações da obra de Gramsci
em seus escritos.
Tentando contribuir para sanar esta lacuna,
procuraremos mostrar neste capítulo, ainda que não de forma
exaustiva, uma íntima relação entre os dois pensadores. Será
dedicado um espaço maior à exposição do pensamento do
406
filósofo italiano por ser, talvez, o menos conhecido do público
leitor. Já a teoria de Saviani é muito conhecida nos meios
educacionais brasileiros e não precisa, em nossa opinião, de
ampla descrição. Por este motivo, limitamo-nos a estabelecer
seus pontos de articulação.
GRAMSCI, O FILÓSOFO DA SUPERESTRUTURA
Antonio Gramsci foi um filósofo italiano que viveu entre
o final do século XIX e início do século XX. Membro do Partido
Socialista, participou da insurreição operária italiana, no final
da Primeira Guerra Mundial, e fundou, em 1921, o Partido
Comunista Italiano, do qual foi nomeado Secretário Geral, em
1924. Eleito Deputado, foi preso pelo governo fascista de
Mussolini, em 1926, e condenado a vinte anos de prisão.
Cumpriu onze anos, até sua morte184. Na prisão, escreveu
numerosas páginas, depois agrupadas, sendo que as mais
conhecidas receberam o título de Cadernos do Cárcere185.
Gramsci pensou o marxismo como uma “filosofia da práxis”.
Esta expressão, por ele usada, reflete suas intenções, mas não
pode ser entendida como procura de dissociação da teoria com
relação à ação, e especificamente a ação política. A prática,
para o nosso filósofo, é a prática da teoria, por isso discordava
do caráter dogmático do marxismo oficial, promulgado na
época pelo Partido Comunista da União Soviética e seguido
fielmente pelos partidos comunistas de outros países. Gramsci
percebeu que o idealismo neo-hegeliano, apesar de seguir um
caminho errado no aspecto idealista, poderia recuperar para o
marxismo seu caráter dialético, que estava se perdendo ao
Na verdade foi libertado antes de sua morte, mas em um estado de debilidade tal
que veio a falecer pouco depois. Sua libertação deveu-se ao medo – por parte dos
fascistas - de que, morrendo na prisão, se tornasse um mártir comunista.
185 A edição completa dos Cadernos do Cárcere começou a ser publicada pela primeira
vez no Brasil em 1999. Pode-se encontrar hoje em: GRAMSCI, Antonio. Cadernos do
Cárcere, 6 vols. Edição de Carlos Nelson Coutinho, com a colaboração de Luiz Sérgio
Henriques e Marco Aurélio Nogueira. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1999-2002.
184
407
transformar-se num simples materialismo, e um materialismo
determinista que acaba levando a um fatalismo. Sua intenção é
“de pôr em relevo como o fatalismo não é senão um
revestimento por débeis de uma vontade ativa e real” e
mostrar a futilidade do determinismo mecânico que se trata
de uma “filosofia ingênua da massa e apenas enquanto
elemento intrínseco de força [...] se torna causa de passividade,
de imbecil auto-suficiência (GRAMSCI, 1978a, p. 33).
Para ele, a concepção mecanicista (e aí pode entrar o
marxismo dogmático que está criticando) pode ser comparada
a uma religião de subalternos. Para Gramsci, a realidade
humana está enraizada, orgânica e dialeticamente, no mundo
e na cultura. O positivismo é um pseudo-subjetivismo e o
materialismo (não dialético) despersonaliza o homem,
tornando-o, por consequência, incapaz de ação.
Gramsci foi chamado de filósofo da superestrutura e
criticado por entender o Estado de uma forma distinta daquela
dos marxistas ortodoxos, e, nesta perspectiva, entender que a
educação tem uma função importante na conscientização e na
libertação das massas. Os marxistas ortodoxos entendem que
somente com a mudança da infra-estrutura, do modo de
produção, através de uma revolução, ou tomada do poder, é
possível haver mudança social. Indo na contramão, Gramsci
desenvolverá ideias sobre o conjunto da sociedade. Na
verdade, Gramsci não põe a política acima da economia, mas
entende – como para Marx – que a economia não é a simples
produção de objetos materiais, mas sim o modo pelo qual os
homens associados produzem e reproduzem não só objetos
materiais, mas suas próprias relações sociais globais. Ele
reconhece o papel determinante das relações econômicas, mas
entende que as estruturas e as superestruturas formam um
“bloco histórico”. Isto significa dizer que o conjunto das
relações sociais de produção se reflete no conjunto complexo e
contraditório das superestruturas. Um elemento essencial na
determinação da especificidade e da novidade da teoria
408
política de Gramsci é o conceito de “sociedade civil” como
portadora material da figura social da hegemonia, como esfera
de mediação entre a infraestrutura econômica e o Estado em
sentido restrito.
Por enquanto, pode-se fixar dois grandes ‘planos’
superestruturais: o que pode ser chamado de ‘sociedade civil’
(isto é, o conjunto de organismos chamados comumente de
‘privados’ e o da ‘sociedade política ou Estado’, que
correspondem à função de ‘hegemonia’ que o grupo
dominante exerce em toda a sociedade e àquela de “domínio
direto” ou de comando, que se expressa no Estado e no
governo “jurídico” (GRAMSCI, 1978c, p. 10).
O conceito de “sociedade civil” é o meio privilegiado
através do qual Gramsci enriquece, com novas determinações,
a teoria marxista do Estado. Gramsci esclarece que o
capitalismo avançado exige novas referências conceituais. A
organização social que Marx conheceu era a da sociedade
capitalista não desenvolvida, ligada à própria organização
burguesa para defesa de seus interesses. Não chegou a
conhecer – e isso determina seu pensamento a respeito da
sociedade organizada – os grandes sindicatos englobando
milhões de pessoas, os partidos políticos operários e populares
legais e de massa, os parlamentos eleitos por sufrágio
universal direto e secreto, os jornais proletários de imensa
tiragem, etc. (uma realidade contemporânea a Gramsci, sem
contar o capitalismo posterior às crises orgânicas, o fenômeno
das mídias, etc.). Por isso, Marx não poderia captar
plenamente uma dimensão essencial das relações de poder
numa sociedade capitalista desenvolvida: precisamente aquela
“trama privada” a que Gramsci se refere, que mais tarde irá
chamar de “sociedade civil”, de “aparelhos privados de
hegemonia”. Ou seja, os organismos de participação política
aos quais se adere voluntariamente e que não se caracterizam
pelo uso da repressão.
409
O Estado, considerado num sentido amplo, comporta
duas esferas principais: a sociedade política (chamada também
de “estado em sentido estrito” ou de “Estado de coerção”), que
é formada pelo conjunto dos mecanismos usados pela classe
dominante para deter o monopólio legal da repressão e da
violência, e que se identifica com os aparelhos de coerção sob
controle do sistema político-militar; e a sociedade civil, formada
pelo conjunto das organizações responsáveis pela elaboração
e/ou difusão das ideologias, compreendendo o sistema
escolar, as igrejas, os partidos políticos, os sindicatos, as
organizações profissionais, a organização material da cultura
(revistas, jornais, editoras, meios de comunicação de massas),
etc.
O ponto nevrálgico está na função que cada uma das
esferas exerce na organização da vida social, na articulação e
reprodução das relações de poder: o Estado seria o equivalente
à ditadura mais hegemonia. Ou seja, a sociedade política,
somada à sociedade civil, resultaria na hegemonia revestida de
coerção. No âmbito da sociedade civil, as classes buscam
exercer a hegemonia. Pela sociedade política, exercem sempre
uma ditadura, ou seja, uma dominação mediante a coerção. Se,
por um lado, a sociedade política sempre recebeu mais atenção
dos estudiosos, Gramsci se concentra na sociedade civil. Na
sociedade capitalista avançada, já não é possível exercer a
dominação somente através dos meios coercitivos, isto é,
mediante a sociedade política. Surge a necessidade de
conquistar o consenso ativo e organizado como base para a
dominação. Essa necessidade é gerada pela ampliação da
socialização da política. A supremacia designa o momento
sintético que unifica a hegemonia e a dominação, o consenso e
a coerção, a direção e a ditadura.
A partir desta compreensão, pode-se perceber que a
superação não poderá acontecer apenas pela via econômica e
muito menos de assalto. Em vez de prever a extinção quase
automática do Estado – como aparece em Marx-Engels e em
410
Lênin –, Gramsci vislumbra uma luta no terreno da política e
das instituições a fim de tornar possível o fim da alienação que
se expressa na existência de um Estado separado da sociedade.
A complexidade das sociedades ocidentais, de capitalismo
desenvolvido, onde há uma maior autonomia do político, não
torna possível “um assalto revolucionário ao poder”.
As crises, nas sociedades ocidentais, tornam-se mais
complexas, não se manifestando única e imediatamente como
resultado de crises econômicas, mesmo que aparentemente
catastróficas, e não impõem uma solução rápida e um choque
frontal; elas se articulam em vários níveis, englobando um
período histórico mais ou menos longo. Por isso, são
chamadas, por Gramsci, de “crise orgânica”, ou seja, uma
crise, que à diferença das “crises ocasionais” ou conjunturais,
não comporta a possibilidade de uma solução rápida por parte
das classes dominantes e significa uma progressiva
desagregação do velho “bloco histórico”. No aspecto
econômico, a crise orgânica apresenta-se como manifestação
de contradições estruturais do modo de produção; no aspecto
superestrutural, político-ideológico, aparece como crise de
hegemonia. A crise de hegemonia é a expressão política da crise
orgânica e é o tipo específico de crise revolucionária nas
sociedades mais complexas, onde existe um alto grau de
participação política organizada.
A decisão da crise é resolvida no âmbito da política, a
partir da iniciativa dos sujeitos políticos coletivos, pela sua
capacidade de fazer política, pelo envolvimento de grandes
massas na solução de seus próprios problemas, pela luta
cotidiana conquistando espaços e posições, sem perder de
vista o objetivo final de promover transformações de estrutura
que ponham fim à formação econômico-social capitalista. Isso
fica claro nestas palavras:
A compreensão crítica de si mesmo advém, portanto, através
de uma “luta de hegemonias” políticas, de direções
411
contrastantes, primeiro no campo da ética, depois no da
política, para chegar a uma elaboração superior da própria
concepção do real (GRAMSCI, 1978a, p. 29).
Na estratégia gramsciana, a conquista da hegemonia
passa pela transformação da classe dominada em classe
dominante, pois quando se vence uma batalha na guerra de
posições, esta é uma decisão permanente. E esta é uma batalha
cultural, pois é neste terreno que as classes subalternas sofrem
passivamente a hegemonia das velhas classes dominantes e
não poderão se elevar à condição de classes dirigentes. Isso
porque a direção política é também inevitavelmente direção
ideológica. Mediante a cultura, a ideologia das classes
superiores se torna a ideologia das classes dominadas. Por este
motivo, a “reforma intelectual e moral” ocupa um lugar
decisivo na reflexão gramsciana, assim como o protagonismo
atribuído aos intelectuais orgânicos.
Isso posto, advém a questão: como se dá essa luta de
hegemonias? A batalha por posições na sociedade civil?
Comecemos por advertir que, como afirma Gramsci,
toda relação de “hegemonia” é necessariamente uma relação
pedagógica, que se verifica não apenas no interior de uma
nação, entre as diversas forças que a compõem, mas em todo
campo internacional e mundial, entre conjuntos de
civilizações nacionais e continentais (GRAMSCI, 1981, p. 37).
E, para realizar essa função hegemônica, a classe
dominante recorre às chamadas instituições, entre elas e de
modo privilegiado, a escola. Para estabilizar uma relação de
dominação, e com isso as relações de produção, faz-se
indispensável a dominação das consciências, e isso se dá
mediante a ideologia. Essa dominação das consciências ocorre
por existir uma ilusória concessão de liberdade. Somente
fazendo com que a classe oprimida acredite que opta
412
livremente por essa concepção de mundo, que partilha da
mesma cosmovisão, torna-se possível a dominação ideológica.
Segundo nosso autor, “pela própria concepção do
mundo pertence-se sempre a um determinado grupo”
(GRAMSCI, 1978a, p. 22), mas só aqueles que conseguem
sistematizar sua concepção de mundo podem participar
ativamente na construção do mundo. Portanto,
criticar a própria concepção do mundo significa torná-la
unitária e coerente, e elevá-la até ao ponto a que subiu o
pensamento mundial mais avançado. Significa também,
portanto, criticar toda a Filosofia até agora existente
(GRAMSCI, 1978a, p. 22).
Podemos afirmar que nenhum grupo social vai ter a
hegemonia se não tiver uma concepção de mundo unitária e
coerente. A educação entra aqui como elemento fundamental
no processo de elevar os “simples de sua condição, para que
eles tenham acesso ao patrimônio cultural da humanidade”
(GRAMSCI, 1978a, p. 27). É preciso, por isso, “construir um
bloco intelectual-moral que torne politicamente possível um
progresso intelectual de massa e não só de escassos grupos
intelectuais” (GRAMSCI, 1978a, p. 29).
Apesar de Gramsci compreender a escola como parte
dos aparelhos do Estado e instrumento para a transmissão da
ideologia da classe dominante, não a considera somente com
função reprodutivista. Dentro dela deverá ocorrer a conquista
de posições e esta conquista será travada pelo trabalho
incansável dos intelectuais orgânicos. Para o filósofo italiano,
todos os homens são intelectuais, enquanto possuem
conhecimento intelectual, ou técnico sobre alguma coisa. Mas
alguns homens têm a função de intelectual. A história nos
mostra que
cada grupo social, nascendo sobre o terreno originário de uma
função essencial no mundo da produção econômica, cria para
413
si, ao mesmo tempo e organicamente, um ou mais grupos de
intelectuais que lhe dão homogeneidade e consciência
(GRAMSCI, 1978b, p. 343).
Existem, pois, intelectuais orgânicos das duas classes. É
imperativo que a classe oprimida crie e amplie o número dos
seus intelectuais, que ofereçam à sua classe uma nova
concepção do mundo e que tenham uma práxis diferenciada
dos intelectuais da classe dominante:
o modo de ser do novo intelectual não pode continuar a
consistir na eloquência, matriz exterior e momentânea dos
afetos e das paixões, mas no misturar-se ativamente na vida
prática,
como
construtor,
organizador,
persuasor
permanente... (GRAMSCI, 1978b, p. 347).
Dentro deste contexto, a escola ocupa papel basilar, pois
ela é “instrumento para elaborar os intelectuais de diversos
graus” (GRAMSCI, 1978b, p. 347). Para Gramsci, mede-se a
cultura de um país pela complexidade vertical de suas escolas.
Ele percebe a necessidade de criar uma larga base social para a
seleção e elaboração de altas qualificações intelectuais e assim
elevar a capacidade das massas de compreender e modificar o
mundo. As massas precisam apropriar-se do saber acumulado
pela humanidade, pois
criar uma nova cultura não significa apenas fazer
individualmente descobertas “originais”, significa também, e,
sobretudo, difundir criticamente verdades já descobertas,
“socializá-las” por assim dizer, transformá-las, portanto, em
base de ações vitais, em elemento de coordenação e de ordem
intelectual e moral (GRAMSCI, 1981, p. 13).
Trata-se de dirigir organicamente toda a massa
economicamente ativa para uma mudança, seguindo novos
esquemas. Mas esse processo não se dá nos primeiros estágios
pela massa, mas por intermédio de uma elite, “cuja concepção
414
implícita em sua atividade humana já se tenha tornado, em
uma certa medida, consciência atual coerente e sistemática e
vontade precisa e decidida” (GRAMSCI, 1981, p. 23).
Mas, por que e como se difundem, tornando-se
populares, as novas concepções do mundo? “Neste processo
de difusão (que é, simultaneamente, de substituição do velho
e, muito frequentemente, de combinação entre o novo e o
velho), influem (e como em que medida) a forma racional em
que a nova concepção é exposta e apresentada...” (GRAMSCI,
1981, p. 25) assim como a autoridade do expositor e dos
pensadores e cientistas nos quais o expositor se apoia.
O homem simples não muda de ideia de forma fácil. Ele
precisa ser convencido de maneira fulgurante e permanecer na
convicção. De aqui se deduz que o movimento cultural que
pretenda substituir o senso comum e as velhas concepções do
mundo precisa considerar duas necessidades, a saber:
1) Não se cansar jamais de repetir os próprios argumentos...;
2) trabalhar incessantemente para elevar intelectualmente
camadas populares cada vez mais vastas, isto é, para dar
personalidade ao amorfo elemento de massa, o que significa
trabalhar na criação de elites de intelectuais de novo tipo, que
surjam diretamente da massa e que permaneçam em contato
com ela para tornarem-se os seus sustentáculos. Esta segunda
necessidade, quando satisfeita, é a que realmente modifica o
“panorama ideológico” de uma época (GRAMSCI, 1981, p.
27).
Gramsci considera que “uma construção de massa”
deste porte não pode ocorrer “arbitrariamente”, em torno de
uma ideologia qualquer, pela vontade formalmente
construtiva de uma personalidade ou um grupo que se
proponha esta tarefa pelo fanatismo de suas convicções
(GRAMSCI, 1981, p. 28). A história nos mostra que as
mudanças ocorrem pelo conjunto integral da vontade coletiva
ao mudar o bloco histórico, e este se faz por um processo que
leva em conta o homem como uma série de relações. A
415
humanidade que se reflete em cada indivíduo é composta de
diversos elementos: o indivíduo, os outros homens com quem
se relaciona e a natureza. Mas estas relações não são
mecânicas, são complexas, ativas e conscientes e
correspondem a um grau maior ou menor de inteligibilidade
que delas tenha o homem individual.
Daí ser possível dizer que cada um transforma a si mesmo, se
modifica, na medida em que transforma e modifica todo o
conjunto de relações do qual ele é o ponto central... Se a
própria individualidade é o conjunto destas relações,
conquistar uma personalidade significa adquirir consciência
destas relações, modificar a própria personalidade significa
modificar o conjunto destas relações (GRAMSCI, 1981, p. 39).
Para Gramsci, o homem deve ser concebido como um
bloco histórico que combina elementos subjetivos e
individuais e elementos de massa (objetivos ou materiais), por
isso, o melhoramento ético nunca será puramente individual,
porque a síntese dos elementos constitutivos da
individualidade se realiza e desenvolve numa atividade para o
exterior, numa atividade transformadora das relações
externas. Chega a afirmar que “por isso é possível dizer que o
homem é essencialmente ‘político’, já que a atividade para
transformar e dirigir conscientemente os homens realiza a sua
‘humanidade’, a sua ‘natureza humana’” (GRAMSCI, 1981, p.
47).
Chegamos aqui no ponto, a nosso ver, nevrálgico, no que
diz respeito à educação: para nosso autor, é um fato filosófico
que, ao introduzir uma nova moral correspondente a uma
nova concepção do mundo, está sendo determinada uma
reforma filosófica total. Mas não se chega a este ponto do
processo sem passar por aquilo que Gramsci chama de catarse,
para indicar a passagem do momento puramente econômico
(ou egoísta-passional) ao momento ético-político, isto é, a
elaboração superior da estrutura em superestrutura na
416
consciência dos homens. Isto significa, também, a passagem
do “objetivo ao subjetivo” e da necessidade à liberdade”. A
estrutura da força exterior que subjuga o homem,
assimilando-o e tornando-o passivo, transforma-se em meio
de liberdade, em instrumento para criar uma nova forma
ético-política, em fonte de iniciativas (GRAMSCI, 1981, p. 53).
O filósofo concebe a dialética histórica passando pela
subjetividade. Eis aí sua grande originalidade e enorme
contribuição para uma educação transformadora. Para o autor,
o momento “catártico” é o ponto de partida de toda a filosofia
da práxis e o processo catártico coincide com a cadeia de
sínteses que resultam do desenvolvimento dialético. Aqui a
filosofia gramsciana faz uma articulação com a dialética
hegeliana e tenta alcançar a superação entre idealismo e
materialismo (tentativa fracassada por Hegel, em sua opinião).
Gramsci não teve como foco principal a educação, mas
sim a formulação de uma filosofia da práxis que propiciasse a
estreita união entre o pensamento e a ação. Esta filosofia da
práxis deveria desembocar numa reforma revolucionária da
sociedade, onde teriam lugar tanto a organização e igualdade
socialista como a liberdade cultural. A educação está inclusa
no que o autor compreende como sociedade civil e tem papel
importante na luta de hegemonias. Portanto, como já foi
afirmado, sua concepção de escola não é reprodutivista, e
embora ele não formule uma teoria pedagógica, aponta alguns
direcionamentos para a atividade educativa e como se deve
dar a conquista de espaços a partir da escola. Dito isso,
podemos afirmar que há uma forte influência de sua
elaboração filosófica no pensamento de Dermeval Saviani
quando este constrói sua pedagogia histórico-crítica.
A TEORIA HISTÓRICO-CRÍTICA
Segundo Libâneo, a pedagogia histórico-crítica foi sendo
tecida
417
na linha das sugestões das teorias marxistas que não se
satisfazendo com as teorias crítico-reprodutivistas postulam a
possibilidade de uma teoria crítica da educação que capte
criticamente a escola como instrumento coadjuvante no
projeto de transformação social (LIBÂNEO, 1991, p. 31).
Na obra Escola e democracia, Saviani, depois de descrever
as teorias da educação e seu posicionamento diante do
problema da marginalidade (ele as classifica em dois grupos:
as não críticas; e as crítico-reprodutivistas), faz alguns
questionamentos a respeito da escola:
é possível encarar a escola como uma realidade histórica, isto
é, suscetível de ser transformada intencionalmente pela ação
humana? [...] é possível articular a escola com os interesses
dominados? [...] é possível uma teoria da educação que capte
criticamente a escola como um instrumento capaz de
contribuir para a superação do problema da marginalidade?
(SAVIANI, 1997, p. 41).
Ele responde afirmativamente propondo uma nova
teoria que se imponha
a tarefa de superar tanto o poder ilusório (que caracteriza as
teorias não-críticas) como a impotência (decorrente das teorias
crítico-reprodutivistas) colocando nas mãos dos educadores
uma arma de luta capaz de permitir-lhes o exercício de um
poder real, ainda que limitado (SAVIANI, 1997, p. 41).
Para o autor, uma educação assim concebida retoma a
luta contra a seletividade, a discriminação e o rebaixamento do
ensino das camadas populares. Uma teoria crítica da educação
deve incorporar a luta contra a marginalidade, mas fazê-lo por
intermédio da escola. Isso significa oferecer aos trabalhadores
um ensino de melhor qualidade, que torne possível a
apropriação por parte desta classe de todo o saber produzido
pela humanidade. “O papel de uma teoria crítica da educação
418
é dar substância concreta a essa bandeira de luta de modo a
evitar que ela seja apropriada e articulada com os interesses
dominantes” (SAVIANI, 1997, p. 42).
Pelo exposto anteriormente acerca do pensamento de
Gramsci, já é possível ir percebendo a aproximação de Saviani.
No mesmo livro, o autor chega a afirmar que uma pedagogia
revolucionária deve identificar
as propostas burguesas como elementos de recomposição de
mecanismos hegemônicos e se (dispor) a lutar concretamente
contra a recomposição desses mecanismos de hegemonia, no
sentido de abrir espaço para as forças emergentes da
sociedade, para as forças populares, para que a escola se insira
no processo mais amplo de construção de uma nova sociedade
(SAVIANI, 1997, p. 67, grifos nossos).
Ao propor três teses que funcionam como antítese por
referência às ideias dominantes nos meios educacionais, o
autor afirma o caráter revolucionário da pedagogia da essência
e do caráter reacionário da pedagogia da existência. Nas duas
está ausente a perspectiva histórica. Falta-lhes a consciência
dos condicionantes histórico-sociais da educação. Ambas são
ingênuas e idealistas, mas a pedagogia da essência, pelo
menos, dá grande importância à transmissão de
conhecimentos, de conteúdos culturais, e isto lhe confere um
caráter revolucionário, implica o acesso das camadas
trabalhadoras ao conhecimento disponível, única forma de se
passar da igualdade formal para a igualdade real (SAVIANI,
1997, p. 74).
Para Saviani, as duas teorias são antíteses e faz-se
necessário realizar uma superação dialética, realizar uma
síntese que ultrapasse o momento antitético. Essa síntese, essa
superação será feita por uma pedagogia revolucionária que,
centrada na igualdade essencial, não somente formal, entre os
homens, procure “converter-se, articulando-se com as forças
emergentes da sociedade, em instrumento a serviço da
419
instauração de uma sociedade igualitária” (SAVIANI, 1997, p.
75). A síntese dialética está na conjugação da subjetividade
com a objetividade, do indivíduo com a sociedade e seus
determinantes históricos (o que seria realizado pela filosofia da
práxis, segundo Gramsci).
O autor compreende que uma pedagogia revolucionária
concebe a educação não como determinante principal das
transformações sociais (como o faz a pedagogia escolanovista).
Reconhece ser um elemento secundário e determinado. Mas,
não por isso incapaz de influenciar no processo de
transformação da sociedade, exatamente porque se relaciona
dialeticamente com a sociedade. O momento de superação
dialética se dá na “superação da crença, seja na autonomia,
seja na dependência absoluta da educação em face das
condições sociais vigentes” (SAVIANI, 1997, p. 76). A
importância da educação se dá pelo seu papel de transmissora
de uma certa ideologia, porque quando se esgotam os
mecanismos de recomposição de hegemonia, são acionados
outros, como os meios de comunicação de massa e as
tecnologias de ensino. “Passa-se, então, a minimizar a
importância da escola e a se falar em educação permanente,
educação informal, etc. No limite, chega-se mesmo a defender
a destruição da escola” (SAVIANI, 1997, p. 78). Mas, quem
defende a desescolarização são os já escolarizados e que têm
interesse em manter a classe trabalhadora alheia ao
conhecimento. Para o autor, é claro que uma “pedagogia
articulada com os interesses populares valorizará, pois, a
escola” (SAVIANI, 1997, p. 79).
O autor faz questão de frisar que os métodos que
defende mantêm sempre presente a vinculação entre educação
e sociedade, de tal modo, que o ponto de partida pedagógico
deve ser a prática social e esta deve ser também o ponto de
chegada, passando pela problematização, instrumentalização e
catarse. Ora, difícil não perceber o pensamento gramsciano
aqui presente. O filósofo italiano muitas vezes afirmou a
420
necessidade de fazer com que as massas criticassem sua
concepção de mundo, tornando-a unitária e coerente - para
tanto é necessário partir-se da própria prática social,
problematizando-a – e elevá-la até o ponto a que subiu o
pensamento mundial mais avançado – o que se faz com a
instrumentalização. A catarse, como foi abordado acima, é
extremamente relevante para Gramsci, porque é por meio dela
que se supera a antiga concepção de mundo e se elabora uma
nova. Como Gramsci, que entendia que o processo educativo
realizava a síntese dialética entre sujeito e sociedade, Saviani
afirma que “a educação, portanto, não transforma de modo
direto e imediato e sim de modo indireto e mediato, isto é,
agindo sobre os sujeitos da prática” (SAVIANI, 1997, p. 82).
Nos dois autores, percebe-se que o objetivo final da
educação é a transformação social, passando pela
transformação da prática social, e esta acontece pela mediação
da educação. Por isso, Saviani afirma que a compreensão da
prática social passa por uma alteração qualitativa. O que
Gramsci chama de mudança de concepção de mundo. Para o
filósofo italiano, “a própria concepção do mundo responde a
determinados
problemas
colocados
pela
realidade”
(GRAMSCI, 1981, p. 13) e criar uma nova cultura exige saber
interpretar esta realidade e substituir o senso comum com as
velhas concepções do mundo. Nesta esteira, Saviani mostra a
necessidade das camadas populares se apropriarem das
“ferramentas culturais necessárias à luta social que travam
diuturnamente para se libertar das condições de exploração
em que vivem” (SAVIANI, 1997, p. 81).
Não foi intenção, neste momento, fazer um estudo
exaustivo das implicações pedagógicas do pensamento de
Gramsci, nem tampouco esgotar as possíveis influências
filosóficas no pensamento de Dermeval Saviani. Somente nos
propusemos fazer algumas considerações que consideramos
necessárias sobre a articulação filosófica entre os dois
pensadores. Dadas as suas diferenças de contexto histórico, de
421
vivência pessoal e de perspectiva, não poderíamos realizar
aproximações excessivas, que seriam forçadas. Mas, de todo
modo, parece-nos que a influência do filósofo italiano no
pensamento de Saviani ficou bastante evidenciada. Isto não
lhe tira brilho, nem originalidade, simplesmente mostra como
caminha a construção do pensamento humano. De forma
dialética, vamos elaborando novas reflexões que buscam dar
conta de nosso tempo, sempre apoiando-nos nos ombros dos
que nos precederam.
REFERÊNCIAS
GRAMSCI, Antonio. Introdução ao Estudo da Filosofia e do Materialismo
Histórico. In: Obras Escolhidas. São Paulo: Martins Fontes, 1978a.
_______. Problemas da Vida Cultural. In: Obras Escolhidas. São Paulo:
Martins Fontes, 1978b.
_______. Os intelectuais e a organização da cultura. 2 ed. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 1978c.
_______. Concepção Dialética da História, 4 ed. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 1981.
LIBÂNEO, José Carlos. A Didática e as Tendências Pedagógicas. In
CONHOLATO, M. Conceição et al. (orgs). A Didática e a Escola de 1° grau.
São Paulo: Fundação para o Desenvolvimento da Educação, 1991.
SAVIANI, Dermeval. Educação, cidadania e transição democrática. In:
COVRE, Maria de Lourdes M. (org.) A cidadania que não temos. São Paulo:
Brasiliense, 1986.
_______. Pedagogia Histórico-crítica: primeiras aproximações. 6 ed.
Campinas: Autores Associados, 1997.
_______. Escola e Democracia. 31 ed. Campinas: Autores Associados, 1997.
422
Capítulo 22
ÉTICA E EDUCAÇÃO: UMA REFLEXÃO A PARTIR DA NOÇÃO
DE CONHECIMENTO FALÍVEL EM KARL POPPER
Paulo Eduardo de Oliveira
A trajetória intelectual de Karl Raimund Popper (19021994), embora tenha sido desenvolvida principalmente no
campo da filosofia, conserva alguns traços significativos de
natureza pedagógica. Com efeito, no período da juventude,
Karl Popper fez incursões na área da educação, em razão dos
estudos realizados no Instituto Pedagógico de Viena, com a
intenção inicial de tornar-se professor secundário de
matemática e física (POPPER, 1977). Ele estava também
profundamente interessado na reforma educacional de seu país,
em razão da visão crítica que tinha em face do sistema
educacional vigente (HACOHEN, 2000). Além disso, algumas
atitudes de Popper denotam sua própria “posição
pedagógica”: o costume de nunca usar as mesmas anotações
de aulas anteriores, mas sempre preparar material novo
(POPPER, 1977); o fato de ter imposto para si mesmo a regra
de “jamais criticar seus discípulos em público” (OLIVEIRA,
2011, p. 91), a fim de não desmotivá-los; e mesmo a
consciência de que todo intelectual (e, portanto, todo
educador) deve primar pela clareza, pela honestidade e pela
modéstia intelectuais (POPPER, 1996).
Contudo, a compreensão das relações entre a filosofia de
Popper e a educação não pode ser estabelecida a partir desses
423
poucos traços de caráter biográfico: ela depende de uma visão
mais orgânica de sua obra e, sobretudo, de seu racionalismo
crítico. As reflexões que seguem representam um esforço para
condensar, nos limites de poucas páginas, algumas indicações
que poderão permitir tal compreensão.
EDUCAÇÃO E CONHECIMENTO
Qual é o objetivo da educação? Não se pode responder
apressadamente a esta questão fundamental sem, antes,
oferecer solução a outra pergunta de igual relevo: o que é o
conhecimento? Ora, todo o processo pedagógico está
profundamente imbricado com o problema do conhecimento:
a educação é, sempre, uma forma sistematizada de trabalho
com a matéria-prima do saber humano socialmente construído
e conservado. Em decorrência, os processos pedagógicos serão
sempre o reflexo de uma determinada “teoria do
conhecimento”.
Segundo Popper (1975, p. 313-315), há, basicamente, dois
modos de se compreender o conhecimento (e, em
consequência, o processo educativo ou, como se prefere dizer
atualmente, o processo ensino-aprendizagem): 1) a “teoria do
balde mental” e 2) a “teoria do holofote”.
A “teoria do balde mental” afirma que, previamente à
formulação do que sabemos, é preciso acumular uma série de
percepções e experiências sensíveis acerca do mundo. Só
depois, então, de posse destas sensações assimiladas,
separadas e classificadas é possível formular teorias, ou seja,
explicações da realidade. Esta é a base da doutrina empirista,
cuja influência é sentida de forma profunda na tradição
científica (e pedagógica) do ocidente, a partir da Modernidade,
na esteira do pensamento de Bacon, Locke, Hume e outros
filósofos empiristas.
A “teoria do holofote”, por sua vez, advoga o papel
decisivo da observação, ao invés da simples percepção. Uma
424
observação é uma percepção, mas não é uma percepção
espontânea, senão uma percepção planejada e preparada. À nossa
solicitação para um estudante “fazer observações”, ele
perguntará, antes de mais nada: “Observar o quê?”. Por isso,
conclui Popper, “sempre uma observação é precedida por um
interesse em particular, uma indagação, ou um problema – em
suma, por algo teórico” e, por isso, “as observações são sempre
seletivas e pressupõem alguma coisa como um princípio de
seleção” (POPPER, 1975, p. 314). Neste sentido, continua
Popper (1975, p. 318), “as observações são secundárias às
hipóteses”. As observações, embora não sejam o ponto de
partida, são o segundo passo, e assim “desempenham um
papel importante como testes que uma hipótese deve
experimentar no curso do exame crítico que fizermos dela”
(POPPER, 1975, p. 318). Portanto, nossas conjecturas ou
hipóteses servem, precisamente, como holofotes a iluminar o
campo de nossas observações.
A teoria do conhecimento, na perspectiva popperiana,
portanto, não se conforma a uma visão estática e definitiva da
ciência, mas propõe uma compreensão dinâmica, antidogmática e crítica do saber científico. Para ele, “a ciência de
hoje se edifica sobre a ciência de ontem (e assim é o resultado
do holofote de ontem); e a ciência de ontem, por sua vez, se
baseia na ciência do dia anterior” (POPPER, 1975, p. 318).
Portanto, a educação não é um “encher cabeças” (balde
mental), com saberes e conhecimentos definitivos (pois não
existem conhecimentos e saberes que possam pretender ou
merecer tal designação). Ao contrário, a educação é um
processo que deve tornar as pessoas críticas diante da ciência e
do próprio conhecimento. A adoção da atitude crítica, chave
central do racionalismo crítico, como Popper designa sua
filosofia, é a principal razão do empenho pedagógico do
mestre. Mas, assumir tal atitude não é, em si, também, um fim:
trata-se de uma posição necessária para que se possa chegar ao
que realmente deve marcar a nossa história pessoal, ou seja,
425
“lutar por um mundo melhor” (POPPER, 1999, p. 17). Aqui
está um aceno para a dimensão ética da epistemologia (e da
pedagogia) de Popper.
A NATUREZA DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO
O problema central do pensamento de Popper, no que se
refere a uma relação entre sua filosofia e a educação, reside em
seu conceito de ciência. Para ele,
a ciência jamais persegue o objetivo ilusório de tornar finais
ou mesmo prováveis suas respostas. Ela avança, antes, rumo a
um objetivo remoto e, não obstante, atingível: o de sempre
descobrir problemas novos, mais profundos e mais gerais, e
de sujeitar suas respostas, sempre provisórias, a testes sempre
renovados e sempre mais rigorosos (POPPER, 1974, p. 308).
Popper entende que a verdade não pode ser facilmente
alcançada, nem de forma sistêmica nem em nível elementar.
Mesmo quando estamos na verdade, não temos condições de
sabê-lo (POPPER, 1992, p. 85). Essa posição se contrapõe à
atitude demasiado confiante na ciência, iniciada em Francis
Bacon, e cujo ápice pode ser encontrada no positivismo de
Augusto Comte, como veremos mais à frente. Com efeito,
“enquanto Bacon afirma que a ciência é capaz de chegar à
verdade, ou a fragmentos dela, Popper assevera que a ciência
não consegue fazê-lo de modo conclusivo, embora seja esse
seu único objetivo” (VALLE e OLIVEIRA, 2010, p. 47).
Na perspectiva popperiana, todo saber é provisório,
conjectural e, portanto, carente de base para legitimar
qualquer coisa, a não ser nossas próprias crenças (POPPER,
1982, p. 63). Isso porque “não pode haver nenhuma explicação
que não precise de mais uma explicação” (POPPER, 1992, p.
155). Em consequência, sua proposta epistemológica não
consiste na “obtenção de enunciados absolutamente certos,
irrevogavelmente verdadeiros” (POPPER, 1974, p. 39), mas em
426
posições provisórias, que precisam ser testadas a fim de darem
razões críticas de sua validade, validade que, contudo, jamais se
torna definitiva.
Assim, a ciência deve ser construída a partir do método da
tentativa e erro, ou seja, “o método da apresentação de
hipóteses ousadas, com o fito de submetê-las a severas críticas
que permitirão identificar os pontos em que erramos”
(POPPER, 1977, p. 94). Como se percebe, o esforço não consiste
na defesa de teorias, como notadamente a posição positivista o
faz, mas, ao contrário, na atitude ininterrupta de testá-las. Daí
o caráter permanentemente falível do conhecimento e a perene
condição de testabilidade das teorias. Os testes vencidos, as
provas nas quais as teorias se saem bem, jamais elevam o
status de uma teoria no sentido de lhe outorgar o selo de teoria
verdadeira, pois “as teorias científicas sempre se mantêm na
condição de hipóteses ou conjecturas” (POPPER, 1977, p. 88).
Contudo, a condição permanentemente conjectural das teorias
não nos desobriga da busca da verdade, porquanto, como
escreve Popper, “o que temos em mira é a verdade: testamos
as nossas teorias na esperança de eliminar as que não sejam
verdadeiras” (POPPER, 1992, p. 58).
Isso leva-nos a compreender, em síntese, que “não pode
haver, em ciência, enunciado insuscetível de teste e,
consequentemente, enunciado que não admita, em princípio,
refutação pelo falseamento de algumas das conclusões que
dele possam ser deduzidas” (POPPER, 1974, p. 49). Pode-se
concluir, portanto, que a tese central da epistemologia de
Popper está no
reconhecimento de que as nossas teorias, mesmo as mais
importantes, e até as que são realmente verdadeiras, nunca
deixam de ser suposições ou conjecturas. Se, de fato, são
verdadeiras, não o podemos saber, nem a partir da
experiência, nem de qualquer outra fonte (POPPER, 1992, p.
64).
427
Na experiência humana, segundo a interpretação
popperiana, não há outra possibilidade de construção do
conhecimento a não ser sob esta perspectiva permanente da
falibilidade. Esse único ponto já seria suficiente para
estabelecer laços teóricos significativos com o campo da
educação: por exemplo, permitiria reconhecer que nenhuma
pedagogia tem o direito de permitir que os professores se
mostrem a seus alunos como “donos da verdade”. Só isso já
seria uma verdadeira revolução pedagógica, mas vejamos
ainda outros pontos.
A CONCEPÇÃO POPPERIANA DE RACIONALISMO CRÍTICO
O racionalismo crítico é o eixo central do pensamento de
Karl Popper. As principais teses do racionalismo crítico
constituem a base para qualquer empenho de aproximação
entre suas concepções e o campo da educação. Tais teses
podem ser resumidas nos pontos que seguem.
Primeiro: nosso conhecimento progride por ensaio e
erro: não há, portanto, conhecimento que possa ser admitido
como absolutamente válido. Desse modo, uma atitude
dogmática diante da ciência (e da educação, por consequência)
é um equívoco.
Em segundo lugar, o racionalismo crítico aborda o
problema da indução. A lógica indutiva, que fundamenta as
perspectivas empirista e positivista do conhecimento,
compromete a validade do conhecimento produzido com a
sua intervenção, em razão dos problemas lógicos encerra
(POPPER, 1974, 1975, 1992). A solução de Popper consiste em
rejeitar a indução e adotar os procedimentos dedutivos, em
face da “assimetria entre falsificação e verificação” (VALLE e
OLIVEIRA, 2010, p. 101) que ele descobre e acentua. Portanto,
na concepção popperiana, o conhecimento nasce a partir de
conjecturas ousadas, nascidas de um ato livre da imaginação,
por meio de processos dedutivos.
428
Terceiro ponto: a visão crítica das teorias e a necessidade
de submetê-las a testes rigorosos. Uma vez que o
conhecimento e a ciência não são constituídos de teorias
estabelecidas de modo definitivo e absoluto, o racionalismo
crítico exige a adoção da testabilidade como recurso
metodológico fundamental. Os testes empíricos procuram
refutar as conjecturas e hipóteses (matéria prima da ciência, na
visão de Popper), eliminando as mais fracas. As teorias que
resistem aos testes empíricos são aceitas de modo provisório,
até o momento em que testes futuros, mais elaborados,
porventura as refutem. A possibilidade de refutação por novos
testes impede a afirmação da “verdade justificada” de uma
teoria: podemos, eventualmente, até ter chegado à verdade,
mas não podemos afirmá-lo em definitivo. Desse modo, o
conhecimento científico expressa não o acesso à verdade, mas
a verossimilhança de nossas teorias com aquilo que o mundo
“parece ser”. As teorias que resistem aos testes empíricos são
corroboradas e jamais justificadas, aumentando assim o seu
grau de verossimilhança.
Ponto quatro. A principal característica de uma teoria
científica é a refutabilidade ou falseabilidade: toda teoria deve
mostrar em que condições pode ser refutada ou falseada.
Teorias que se imunizam dos testes são, na visão popperiana,
elaborações pseudo-científicas. Os exemplos clássicos de
teorias pseudo-científicas, para Popper, são a psicanálise de
Freud, a psicologia individual de Adler e as teorias de Marx
(VALLE e OLIVEIRA, 2010, p. 20-23).
Em quinto lugar, tem-se a tese de que o racionalismo
crítico parte da convicção de que não podemos ter justificações
positivas para nossas crenças, mas podemos ter razões críticas
para mantê-las ou abandoná-las. Assim, compreende-se que
um dos principais avanços da epistemologia de Popper em
relação à tradição anterior, sobretudo do positivismo, é a
“transposição do problema da justificação para o problema da
crítica” (POPPER, 1992, p. 54). A atitude crítica não é apenas
429
uma nota peculiar da análise científica proposta por Popper,
mas uma marca decisiva da própria noção de racionalidade
que o filósofo defende. Com efeito, ele afirma, “o que
distingue a atitude da racionalidade é a abertura à crítica”
(POPPER, 1992, p. 60).
Sexto ponto. A admissão da impossibilidade lógica de
saber se atingimos a verdade por meio da ciência (e do
conhecimento humano, em geral) nos impede de adotar
qualquer postura dogmática. A máxima socrática, que
fundamenta esta tese, é assim traduzida por Popper: “talvez
eu esteja equivocado e você possa estar certo” (citar aqui a
Autobiografia). Daí decorre que a “honestidade” e “modéstia”
intelectuais devem ser assumidas como consequência da visão
não dogmática da ciência e da consciência da falibilidade do
conhecimento humano. Por isso, afirma Popper, “um
racionalista, mesmo quando se julgue intelectualmente
superior a outros, deverá repelir toda pretensão de
autoridade” (POPPER, 1987, p. 246).
O CARÁTER FALIBILISTA DA EPISTEMOLOGIA POPPERIANA
Os pontos analisados acima evidenciam o caráter
falibilista da filosofia de Popper. Embora sua preocupação seja
a “busca da verdade”, ele entende que a ciência é um
empreendimento, em sua própria natureza, limitado. Mas, a
impossibilidade de acesso à verdade, ou a impossibilidade de
se saber do alcance da verdade, não diminui a
responsabilidade do cientista e nem lhe permite afrouxar os
próprios valores morais. É assim que Popper não cede à
atração do ceticismo e do relativismo, construindo uma
epistemologia realista e, ao mesmo tempo, comprometida com
a ética.
Enquanto a crença dogmática na ciência permite toda
sorte de dominação de uns sobre os outros, a crença nos
limites do conhecimento científico exige uma atitude de
430
modéstia, de tolerância, de respeito pelo outro, de convivência
pacífica. Essa é a principal consequência ética da
epistemologia de Popper. A defesa da liberdade depende de
uma visão não dogmática da natureza e da ciência. Esse ponto
de inúmeros reflexos na prática pedagógica, principalmente
no que diz respeito ao que Paulo Freire denomina “pedagogia
da autonomia”.
Os limites do conhecimento humano não são devidos,
exclusivamente, à nossa imperícia e aos poucos recursos de
que dispomos. Antes, as limitações da ciência estão ligadas à
própria natureza do universo: ele não é uma realidade estática,
pronta, definida e acabada, mas algo em constante processo de
mudança, à semelhança do que Heráclito propôs. De fato, o
desenvolvimento de novas teorias, sobretudo no campo da
biologia e da física, mostra que o mundo está em contínuo
movimento, em transformação, em permanente “vir-a-ser”. E
este desenvolvimento não segue os cânones deterministas de
uma matemática e de uma lógica pré-definidas. Em muitos
casos, os desdobramentos da natureza são aleatórios, caóticos
e, portanto, imprevisíveis. Assim, não há ciência que seja
capaz de ter acesso à verdade absoluta do mundo, porque o
mundo está em movimento indeterminado, indefinido, o
mundo está aberto ao futuro e nossas previsões não
apresentam grau de confiança suficiente para podermos
adotar nossas teorias como verdades absolutas. A natureza
não cede aos estratagemas deterministas de nossa ciência.
A epistemologia de Popper torna-se, desse modo, uma
resposta à crise da ciência iniciada a partir da segunda metade
do século XIX com a desconstrução da certeza absoluta que se
devotou ao modelo moderno de cientificidade. O “fim das
certezas” (PRIGOGINE, 1996) não encontrou, na filosofia de
Popper, um caminho alternativo de “busca das certezas”
(como era a pretensão dos positivistas lógicos). Mesmo assim,
Popper não se entregou ao ceticismo nem ao relativismo. Ao
contrário, buscou uma forma de compreender a ciência e de
431
adotá-la apesar de suas contingências e de seus limites. Mas,
ao adotar uma ciência falível e indeterminista, Popper fez
corresponder uma opção moral, isto é, uma atitude ética, cujas
implicações são fundamentais para os desdobramentos
históricos e para o progresso da própria ciência e, em suma,
para a prática educativa.
A CONCEPÇÃO POSITIVISTA DE CONHECIMENTO E DE EDUCAÇÃO
O contraponto da posição de Popper, acerca da ciência, é
a doutrina positivista, na concepção original proposta por
Augusto Comte e na versão contemporânea do Positivismo
Lógico defendido pelo Círculo de Viena. A ciência, na visão
positivista, é o “estado fixo e definitivo” (COMTE, 1988, p. 4)
do desenvolvimento do conhecimento humano, resultado da
superação dos estágios teológico e metafísico que a
precederam.
A tradição positivista conferiu à ciência uma imagem
fictícia. Ao invés de mostrar suas possibilidades reais, tal
tradição atribuiu à atividade científica uma série de
características que, no decorrer da história recente da própria
ciência, se mostraram insustentáveis. A primeira e mais
significativa dessas características refere-se à noção de
verdade. Para o positivismo, o conhecimento científico, em
virtude de sua precisão matemática e do rigor metodológico
de sua construção, não apenas revela a verdade das coisas, mas
identifica-se com a própria verdade. Tal concepção, por vezes,
nos leva a usar o conceito de verdadeiro e de científico como se
fossem sinônimos.
Outra importante característica que a tradição positivista
atribui à ciência é o caráter determinista do mundo. Para os
adeptos da concepção filosófica proposta por Augusto Comte,
o mundo está pronto, acabado e definido de uma vez por
todas. Numa palavra, ele está posto (o que, em latim, se afirma
pela expressão positum, da qual deriva o conceito de
432
positivismo). Ora, se o mundo está determinado de modo
absoluto e nós conseguimos explicá-lo pelo elevado grau de
avanço de nossa ciência, então nossas explicações tornam-se a
expressão daquilo que o mundo, de fato, é. A visão
determinista assenta-se na crença de que o mundo respeita a
regularidade do universo, como se o mesmo universo fosse
obrigado a respeitar as leis da natureza e as leis científicas.
Assim, todo o nosso empenho encerra-se em “tomar todos os
fenômenos como sujeitos a leis naturais invariáveis” (COMTE,
1988, p. 7, grifo do autor). Note-se o destaque que Comte dá à
palavra leis: de fato, a natureza, para ele, obedece a certas regras
imutáveis. Esse é, em suma, o que significa o determinismo
físico.
Cabe ressaltar, ainda, outra nota que a ciência recebeu
daqueles que sustentam a crença positivista. Trata-se da
confiança irrestrita no método indutivo. Desde Francis Bacon, a
indução é a forma lógica aplicada à investigação científica. Nas
palavras de Comte:
Todos os bons espíritos repetem, desde Bacon, que somente
são reais os conhecimentos que repousam sobre fatos
observados. Essa máxima fundamental é evidentemente
incontestável, se for aplicada, como convém, ao estado viril de
nossa inteligência (COMTE, 1988, p. 5).
A indução é uma forma de raciocínio que, partindo da
verdade de premissas particulares, verificadas pela experiência,
tende a afirmar a verdade de premissas universais. Assim, se a
proposição ‘este cisne é branco’ é verdadeira, uma vez que foi
verificada inúmeras vezes pela experiência, também devemos
considerar como verdadeira a proposição ‘todos os cisnes são
brancos’. O raciocínio indutivo é resultado da visão
determinista, pois devota à natureza uma regularidade
extrema, como se ela fosse um relógio de precisão absoluta e
de movimentos eternamente repetidos, mas também na
redução da validade do conhecimento aos dados observados.
433
O que sustenta o raciocínio indutivista é, segundo Alan
Chalmers (1993), o princípio de indução, que pode ser assim
expresso: se um grande número de As, sobre uma ampla
variedade de condições, apresenta a propriedade B, então
todos os As têm a propriedade B. Trata-se, pois, de uma crença
cega de que as experiências futuras deverão se comportar
exatamente como as experiências do passado. Se assim fosse, a
verdade, para a ciência, não seria apenas um ideal longínquo,
mas uma conquista já efetivada definitivamente.
Não raras vezes, esta equivocada concepção de ciência é
conservada na forma como se concebe a educação, sobretudo
no modo como o ensino de ciências é construído. Muitos
textos didáticos apresentam uma linguagem que não consegue
esconder os jargões positivistas. De modo geral, a física
newtoniana serviu como modelo para a construção das
ciências modernas, sua visão de mundo e, por consequência,
para o ensino das ciências. Algumas de suas principais
características são fundamentais para se compreender os
traços de uma pedagogia positivista da ciência. Deve-se
considerar, pois, que a física de Newton observa as exigências
do método experimental desenvolvido por Galileu, no qual se
destacam os seguintes elementos: a materialização da ciência,
a geometrização do espaço, a matematização da natureza e a
aplicação da lógica indutiva para fins de experimentação do
mundo natural.
Não estariam os nossos “projetos pedagógicos” ainda
fortemente embebidos destes traços positivistas? Não fosse
assim, seria de perguntar qual é a razão que justifica, então, o
demasiado valor que se dá, na grade curricular, às ciências
naturais e à matemática, em detrimento das outras áreas do
conhecimento, como as artes, a filosofia e a história, por
exemplo.
434
A EDUCAÇÃO EM PERSPECTIVA FALIBILISTA
Eis algumas teses que resumem, por assim dizer, a
epistemologia popperiana e que servem de baliza para se
compreender a educação em perspectiva falibilista (POPPER,
1991):
a) O conhecimento assume muitas vezes o caráter de
expectativas. As expectativas têm, geralmente, o caráter de
hipóteses, de conhecimento provisório ou conjectural: são
incertas. Devemos, pois, encarar as nossas hipóteses de modo
crítico, evitando que se tornem dogmas. Devemos testá-las
com severidade de modo a sabermos se é ou não possível
demonstrar a sua falsidade.
b) Apesar da incerteza, ou do seu caráter hipotético,
muito de nosso conhecimento é objetivamente verdadeiro:
corresponde a fatos objetivos. De outro modo, dificilmente
poderíamos ter sobrevivido como espécie. Neste sentido,
escreve Popper, é preciso considerar que
seria um grave erro, no entanto, concluir que a incerteza de
uma teoria – isto é, o caráter conjetural e hipotético – diminui
sua pretensão de descrever a realidade. Toda assertiva a
equivale à afirmativa de que a é real. Quanto ao caráter
conjectural de a, é preciso não esquecer que, antes de mais
nada, uma conjectura pode ser verdadeira, e descrever uma
situação real; em segundo lugar, se for falsa, contraditará
alguma situação real (descrita pela sua negação verdadeira).
Além disso, se testarmos nossa conjectura, e conseguirmos
refutá-la, perceberemos claramente a existência de uma
realidade, contra a qual ela se chocou (POPPER, 1982, p. 144).
c) Deve-se por isso distinguir muito claramente entre a
verdade de uma expectativa, ou de uma hipótese, e a sua
certeza. Mais ainda, deve-se distinguir duas ideias: a ideia de
verdade e a ideia de certeza; ou, por outras palavras, entre
verdade e verdade certa. Há muita verdade em muito do
435
nosso conhecimento, mas pouca certeza. A verdade é objetiva:
consiste na correspondência aos fatos. A certeza, no entanto,
raramente é objetiva: geralmente não passa de um forte
sentimento de confiança, ou convicção, embora baseada em
conhecimento insuficiente.
A filosofia de Popper, tal como se apresenta
sinteticamente nestas teses, ajuda-nos a compreender os
limites da ciência humana, embora não precisemos deixar de
aceitar a ciência como o melhor tipo de conhecimento de que
dispomos. Basta que compreendamos a sua natureza e
estejamos conscientes disso. Em razão disso, é preciso, então,
assumir uma postura pedagógica coerente, que elimine os
ranços de dogmatismo e presunção, tão comuns nos ambientes
escolares.
PARA CONCLUIR: RACIONALIDADE CRÍTICA, ÉTICA E EDUCAÇÃO
Uma última questão: a aproximação entre racionalidade
crítica, educação e ética. Vimos, desde o início, que a resposta
para a questão “o que é educação” precisa ser construída
somente depois da resposta ao problema “o que é
conhecimento”. Da posição que se adota diante do problema
do conhecimento, nasce, necessariamente, a atitude
pedagógica. De uma visão positivista e dogmática da ciência
brota uma pedagogia dogmática; de uma visão crítica, modesta e
falibilista do conhecimento nasce uma pedagogia crítica, modesta
e falibilista.
A questão não é apenas epistemológica e pedagógica,
mas também ética. Com efeito, o racionalismo crítico é antes
uma atitude do que uma teoria: portanto, a proposta
popperiana tem uma dimensão ética fundamental, que não
pode ser desconsiderada (OLIVEIRA, 2011). De fato, como
afirma Artigas (apud OLIVEIRA, 2011, p. 94), “a ética de
Popper proporciona a chave para compreender e interpretar
adequadamente toda a sua filosofia, incluída a sua
436
epistemologia”. De fato, como temos acentuado em outros
escritos,
a filosofia de Popper não encerra, apenas, uma ética pessoal,
vivida pelo filósofo. Ela se nos apresenta como uma proposta,
um ideal de vida e, quiçá, um compromisso filosófico e
intelectual. Ela nos recorda que os intelectuais têm um papel
fundamental que não pode ser esquecido: importa que
assumam sua responsabilidade pessoal, primando pela
modéstia e pela honestidade (OLIVEIRA, 2011, p. 158).
Esta ética é capaz de abrir um horizonte totalmente novo
para a prática pedagógica. As aulas, as avaliações, as relações
professor-aluno e aluno-aluno, bem como a relação professorprofessor podem ser beneficiadas por esta abordagem. A
aprendizagem dos alunos, sobretudo, terá ganhos
significativos: poderá ser tratada não como simples “aquisição
de um saber” (que exige apenas adesão acrítica e
memorização), mas um processo crítico de construção
conjectural do conhecimento. Em suma, a pedagogia do
“aprender a aprender” e a do “aprender a ser” poderão
encontrar, no racionalismo crítico de Popper, um fundamento
filosófico e ético que lhes dê orientação.
REFERÊNCIAS
CHALMERS, A. F. O que é ciência, afinal? São Paulo: Brasiliense, 1993.
COMTE, Augusto. Curso de Filosofia Positiva. Primeira Lição, I. (Coleção
Os Pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 1988).
HACOHEN, Malachi. Karl Popper: the formative years; politics and
philosophy in interwar Vienna. Cambridge: Cambridge University Press,
2000.
OLIVEIRA, Paulo Eduardo de. O ensino de ciências numa perspectiva
falibilista. Revista Eletrônica de Ciências da Educação. Campo Largo, vol. 7,
n. 2, nov. 2008, p. 1-17.
437
_______. Da ética à ciência: uma nova leitura de Karl Popper. São Paulo:
Paulus, 2011.
POPPER, Karl. A lógica da pesquisa científica. São Paulo: Cultrix, 1974.
_______. Conhecimento objetivo: uma abordagem evolucionária. Belo
Horizonte: Ed. Itatiaia; São Paulo: EDUSP, 1975.
_______. Autobiografia intelectual. São Paulo: Cultrix; EDUSP, 1977.
_______. Conjecturas e refutações. Brasília: Ed. da UnB, 1982.
_______. A sociedade aberta e seus inimigos. Vol. 2. Belo Horizonte: Itatiaia;
São Paulo: EDUSP, 1987.
_______. Um mundo de propensões. Lisboa: Fragmentos,1991.
_______. O realismo e o objetivismo da ciência: pós-escrito à Lógica da
Pesquisa Científica. Lisboa: Dom Quixote, 1992.
_______. En busca de un mundo mejor. Barcelona: Paidós, 1996.
_______. O mito do contexto: em defesa da ciência e da racionalidade.
Lisboa: Ed. 70, 1999.
PRIGOGINE, Ilya. O fim das certezas: tempo, caos e as leis da natureza. São
Paulo: Ed. da UNESP, 1996.
VALLE, Bortolo e OLIVEIRA, Paulo Eduardo de. Introdução ao
pensamento de Karl Popper. Curitiba: Champagnat, 2010.
438
Copyright © 2012
Todos os direitos desta edição reservados ao
CÍRCULO DE ESTUDOS BANDEIRANTES
Afiliado à Pontifícia Universidade Católica do Paraná
Rua XV de Novembro, 1050 - Curitiba – Paraná
Fone: (41) 3222-5193
http://www.pucpr.br/circuloestudos/
Download