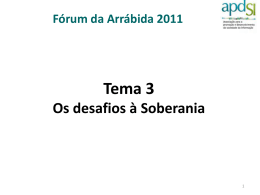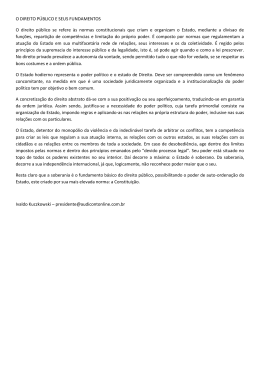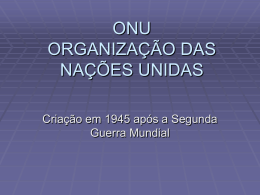TAMIRES DE LIMA DE OLIVEIRA O INSTITUTO DA INTERVENÇÃO HUMANITÁRIA E A POSSIBILIDADE DE SUA LEGITIMAÇÃO: UMA ANÁLISE A PARTIR DA DOUTRINA DA GUERRA JUSTA DE HUGO GRÓCIO Ijuí (RS) 2014 1 TAMIRES DE LIMA DE OLIVEIRA O INSTITUTO DA INTERVENÇÃO HUMANITÁRIA E A POSSIBILIDADE DE SUA LEGITIMAÇÃO: UMA ANÁLISE A PARTIR DA DOUTRINA DA GUERRA JUSTA DE HUGO GRÓCIO Monografia final do Curso de Graduação em Direito objetivando a aprovação no componente curricular Monografia. UNIJUÍ – Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. DCJS – Departamento de Ciências Jurídicas e Sociais Orientador: Dr. Gilmar Antonio Bedin Ijuí (RS) 2014 2 A violência, que domina sobretudo na guerra, tem alguma coisa que a aproxima do animal selvagem. Torna-se necessário empenhar-se com o maior cuidado para moderá-la com bondade, com receio de que, imitando por demais os animais ferozes, desaprendamos o que é ser homem. Hugo Grócio (1582-1645). 3 RESUMO O presente trabalho monográfico analisa o instituto das intervenções humanitárias e a problemática da sua legitimação, tendo como referência a doutrina da guerra justa elaborada por Hugo Grócio. O trabalho dedica-se, portanto, à análise da noção de Direito elaborada por Hugo Grócio, que traz elementos de universalização e humanidade que contribuem para o debate acerca dos Direitos humanos e do Direito humanitário. Analisa, ainda, a teoria das causas justas da guerra, que guarda relevantes fundamentos de legitimidade, bem como expõem as primeiras concepções da noção de intervenção, que é depois mais extensamente trabalhada a partir de sua contextualização histórica e principalmente normativa, abordandose questões pertinentes à mutação do conceito de soberania e à ascensão dos Direitos humanos. A conclusão a que se chega é de que a doutrina da guerra justa elaborada por Hugo Grócio encerra inúmeras contribuições para uma base ético-legitimadora das intervenções humanitárias, confirmando a hipótese proposta. Palavras-Chave: Direito das gentes. Intervenção Humanitária. Soberania. 4 ABSTRACT This monograph work analyzes the institution of humanitarian intervention and the problem of their legitimacy, with reference the doctrine of just war elaborated by Hugo Grotius. The work is dedicated, so, the analysis the notion of Law elaborated by Hugo Grotius, because brings elements of universalization and humanity contributing to debate about Human rights and Humanitarian law. Also, analyzes the theory of the just causes of war, guarding the relevant grounds of legitimacy, as well as exposes the first conceptions of the notion of intervention, which is then more widely crafted from the historical and normative context, addressing the relevant questions of the mutation of concept of sovereignty and the ascent of human rights. The conclusion reached is that the doctrine of just war elaborated by Hugo Grotius encloses numerous contributions to a basis ethical-legitimizer of the humanitarian intervention, confirming the proposed hypothesis. Keywords: Law of Nations. Humanitarian Intervention. Sovereignty. 5 SUMÁRIO INTRODUÇÃO .................................................................................................................................. 6 1 HUGO GRÓCIO E A ATUALIZAÇÃO DO DIREITO DAS GENTES ........................... 9 1.1 O Contexto Histórico................................................................................................................... 9 1.1.1 A Revolta dos Países Baixos ................................................................................................... 10 1.1.2 Intolerância religiosa e exílio ................................................................................................. 13 1.2 A laicização do Direito Natural .............................................................................................. 15 1.2.1 Três definições de Direito........................................................................................................ 16 1.2.2 A hipótese impiíssima ............................................................................................................... 17 1. 3 Direito das Gentes ..................................................................................................................... 21 1.3.1 Origens do jus gentium ............................................................................................................ 21 1.3.2 O Direito das Gentes de Hugo Grócio................................................................................... 23 2 HUGO GRÓCIO E O DIREITO DA GUERRA E DA PAZ .............................................. 26 2.1 A doutrina da Guerra Justa .................................................................................................... 26 2.1.1 Desenvolvimento do conceito de bellum justum ................................................................... 26 2.1.2 As quatro causas justas para a guerra .................................................................................. 30 2.2. Direito do pós-guerra ............................................................................................................... 32 2.3 A possibilidade de intervenção na doutrina da guerra justa grociana .......................... 34 3 O CONCEITO DE SOBERANIA E SUA RELATIVIZAÇÃO ......................................... 37 3. 1 Nascimento e mutação do conceito de soberania no plano internacional .................... 37 3.1.1 Considerações iniciais ............................................................................................................. 37 3.1.2 O conceito de soberania em Hugo Grócio ............................................................................ 38 3.1.3 Do absolutismo à relativização .............................................................................................. 39 3.2 A instituição da ONU e a relativização do principio da não-intervenção ..................... 42 3.2.1 Sobre a Organização das Nações Unidas ............................................................................. 43 3.2.2 A Carta da ONU e o princípio da não-intervenção ............................................................. 46 3.3. Direitos Humanos e Direito Humanitário ........................................................................... 47 3.3.1. Direito Internacional dos Direitos Humanos ...................................................................... 47 3.3.2 Direito Internacional Humanitário ........................................................................................ 50 4 O INSTITUTO DA INTERVENÇÃO HUMANITÁRIA E A POSSIBILIDADE DE SUA LEGITIMAÇÃO..................................................................................................................... 52 4.1 A formação do conceito de intervenção humanitária ........................................................ 52 4.1.1 A noção de intervenção a partir da Carta da ONU ............................................................. 52 4.1.2 Direito de Ingerência ou Intervenção Humanitária? .......................................................... 56 4.2 A necessidade de consentimento do Conselho de Segurança da ONU .......................... 59 4.3 Três fundamentos de legitimidade das Intervenções Humanitárias a partir da doutrina da Guerra Justa de Hugo Grócio ................................................................................ 61 4.3.1 O fundamento da proteção dos Direitos humanos ................................................................ 62 4.3.2 O fundamento da legítima defesa ........................................................................................... 63 4.3.3 O fundamento da responsabilidade ........................................................................................ 64 CONSIDERAÇÕES FINAIS ......................................................................................................... 68 REFERÊNCIAS................................................................................................................................ 72 6 INTRODUÇÃO A presente pesquisa situa-se no âmbito de estudo da filosofia do Direito internacional e em meio a um amplo contexto de complexidades volta-se para uma questão específica: a possibilidade de legitimação do instituto das intervenções humanitárias, assim compreendidas as ações internacionais perpetradas por um Estado ou grupo de Estados ou organizações internacionais no território de outros, com o objetivo de fazer cessar violações de Direitos humanos no interior de um país específico. Parte-se do pressuposto de que na atual realidade da sociedade internacional existem questões que perpassam o âmbito resolutivo dos Estados considerados singularmente. Questões que, dada sua complexidade e relevância, apenas podem ser problematizadas e resolvidas através de uma verdadeira colaboração internacional. Nesse sentido, as questões envolvendo o instituto da intervenção humanitária destacam-se com importante relevância, uma vez que dizem respeito à proteção dos Direitos mais caros da humanidade, carecendo, no entanto, de uma conceituação mais aprofundada e de fundamento de legitimidade frente à ordem jurídica internacional. Tais ações devem ser compreendidas não apenas em um sentido legal, mas também em um sentido jurídico-filosófico, capaz de oferecer bases éticas à sua legitimação, razão pela qual a investigação da filosofia de Hugo Grócio, especialmente no que tange a doutrina da guerra justa desenvolvida pelo autor se mostra oportuna. Destaque-se que Hugo Grócio é considerado um dos autores mais influentes da escola clássica do Direito internacional, tendo escrito a maioria de suas obras entre o século XVI e XVII. Seu mérito se deve, especialmente, a sua compreensão “laicizada” do Direito, uma vez que diferentemente de seus contemporâneos acreditava que o fundamento de imutabilidade e universalização do Direito residia não em uma entidade divina, mas na “sociedade dos seres dotados de razão”. É possível encontrar em Grócio os fundamentos de um Direito mais humanizado, cujas causas justas da guerra, já naquela época previam a hipótese de intervenção de um Estado para a defesa dos Direitos naturais dos cidadãos de outro, quando este fosse tirano. Isso porque, para Grócio “cada indivíduo não é somente vingador de seu próprio Direito, mas o [...] é também daquele de outrem” (GRÓCIO, 2005b, p. 981). 7 A partir destas premissas, o objetivo geral da presente monografia consubstanciou-se em analisar se os conceitos elaborados por Hugo Grócio ajudam a justificar a possibilidade de realização de intervenção humanitária, tendo por base os seguintes objetivos específicos: a) apresentar as principais contribuições teóricas de Hugo Grócio para a compreensão do Direito internacional moderno, com foco em temas pontuais de sua abordagem do problema da guerra e da paz; b) observar como a noção de intervenção humanitária tem se desenvolvido na sociedade internacional atual; c) demonstrar a aplicabilidade necessária de fundamentos clássicos do Direito internacional encontrados em Hugo Grócio à compreensão da intervenção humanitária. Deste modo, no primeiro capítulo apresentam-se alguns aspectos do contexto histórico em que se situa a gênese do pensamento de Hugo Grócio, com destaque para os principais eventos que transformaram a sociedade de seu tempo e que influenciaram suas percepções. Neste contexto, é analisado o conceito de Direito Natural que tem como principal característica a análise laicizada do autor decorrente da aplicação de sua hipótese impiíssima, abrangendo ainda o conceito de Direitos das gentes (jus gentium) desenvolvido por Grócio, que é apontado como o precursor da noção moderna de Direito Internacional. No segundo capítulo são analisadas as principais concepções da teoria de Grócio a respeito da temática da guerra, com a abordagem da doutrina da guerra justa e da argumentação feita pelo autor acerca do Direito de guerra, comentando-se brevemente ainda sobre a questão da intervenção armada na ótica da referida doutrina. No terceiro capítulo estudam-se questões intrínsecas ao ambiente em que se desenvolve a discussão a respeito das intervenções humanitárias, com abordagem dos paradigmas da soberania e da evolução de seu conceito no âmbito de desenvolvimento da relação entre os atores internacionais. Realiza-se também uma análise acerca da limitação da soberania em face da estruturação da sociedade internacional contemporânea, pautadamente na transformação decorrente da instituição da Organização das Nações Unidas - ONU e da relativização de um dos princípios basilares da soberania, a saber, o princípio da nãointervenção. Ademais, trabalha-se com as noções de Direitos Humanos e Direito Humanitário e sua relação com a temática trabalhada. 8 No quarto capítulo são apresentadas, em linhas gerais, as principais noções e desafios a respeito do fenômeno das intervenções humanitárias. Trabalha-se, em um primeiro momento, com a formação do conceito de intervenção humanitária, notadamente o desenvolvido no processo de interpretação da Carta da ONU e universalização dos Direitos Humanos e apresentam-se as modificações que este conceito sofreu e sua relação com o chamado “Direito de ingerência”. Dá-se também atenção a uma questão que tem suscitado divergência tanto na prática das intervenções humanitárias, quanto na sua compreensão doutrinária, qual seja a necessidade de consentimento do Conselho de Segurança da ONU. Finaliza-se com a abordagem dos principais fundamentos de legitimidade das intervenções humanitárias que podem ser depreendidos a partir da doutrina da guerra justa de Hugo Grócio. Por fim, da análise exposta conclui-se que os fundamentos de legitimidade deduzidos da doutrina da guerra justa de Hugo Grócio (proteção de Direitos humanos, legitima defesa e responsabilidade soberana) dizem respeito a uma legitimidade não apenas jurídica, mas notadamente ética, por que induzem à reflexão e a mudança de posturas dos Estados e da ONU (enquanto centro do consenso internacional). Isso reafirma a postura demonstrada por Grócio de que o âmbito de nascimento de todo Direito não pode ser outro senão a “sociedade dos seres dotados de razão” e, neste contexto, o Direito de intervenção humanitária deve ser pensado do ponto de vista do indivíduo que necessita de proteção, sendo a soberania estatal encarada não como um poder limitador, mas como uma responsabilidade para com a humanidade. 9 1 HUGO GRÓCIO E A ATUALIZAÇÃO DO DIREITO DAS GENTES O presente capítulo apresenta, num primeiro momento, alguns aspectos do contexto histórico em que se situa a gênese do pensamento de Hugo Grócio, com destaque para os principais eventos que transformaram a sociedade de seu tempo e que, de uma forma ou de outra, impulsionaram sua produção teórica e influenciaram suas percepções. Em seguida, é analisado o conceito de Direito natural formulado pelo autor e a novidade que este conceito representa, que conforme se constatará, reside no fato que a abordagem realizada pelo autor inicia, na opinião balizada de muitos estudiosos, o importante fenômeno da “laicização” do Direito natural. Por fim, será abordado o conceito de Direitos das gentes (jus gentium) desenvolvido pelo autor, que é apontado como o precursor da noção hodierna de Direito Internacional. 1.1 O Contexto Histórico Hugo Grócio ou Hugo de Groot (na versão holandesa de seu nome) nasceu em Delft na Holanda, no dia 10 de abril de 1582. Viveu em um período histórico marcado por intensas instabilidades políticas e religiosas, como a revolução dos Países Baixos contra o domínio da Espanha, a Guerra dos Trinta anos no Sacro Império Germânico e o início das rivalidades mercantis europeias. A sociedade da época passava por grandes transformações: o mundo medieval fundado no teocentrismo cedia espaço para um mundo moderno e laicizado, fundado nas razões de estado e nos ideais da soberania estatal (MACEDO, 2006). Na Europa da época, a guerra pela conquista de novos territórios era uma realidade recorrente. O contato com povos não cristãos, estranhos à experiência histórica europeia, começava a criar problemas jurídicos relativos à legitimidade dos meios empregados na guerra e na conquista violenta de novos territórios. O antigo fundamento da preeminência natural das instituições cristãs já não bastava para legitimar a destruição das instituições nativas. Era necessário que as novas situações pudessem ser enquadradas em regras de convivência que prescindissem à religião, a fim de que pudessem ser oponíveis a quaisquer povos e culturas (HESPANHA, s.d). 10 Deste contexto, pode-se destacar que dois fatos tiveram maior influência na vida, nas escolhas pessoais e na obra de Grócio: a Revolta dos Países Baixos, também chamada Revolta Holandesa e a disputa religiosa protestante entre arminianismo e gomarismo. A primeira porque incitou em Grócio o estudo acerca dos conflitos resultantes das relações estatais; a segunda porque faz despertar sua preocupação com o tema da intolerância religiosa e dos conflitos dela decorrentes; e ambas porque evidenciaram ao autor a importância do desenvolvimento um Direito capaz de superar as diferenças entre os povos e regular as situações de conflito entre os Estados, independentemente das suas particularidades culturais. 1.1.1 A Revolta dos Países Baixos Relata Jean Lévesque de Burigny (1754) que Grócio veio ao mundo justamente no momento em que os assuntos das Províncias Unidas estavam em maior desordem. Um ano após seu nascimento, em 1584, William, príncipe de Orange e até então o maior apoiador das Províncias Unidas, foi assassinado em Delft. Neste período o senhorio dos Países Baixos1 passou a ser exercido por Felipe II, que recebeu o trono abdicado da Holanda de seu pai Carlos V. As ordenanças contra os “hereges” foram renovadas em todo o seu rigor, e os tribunais terríveis, que agiam em nome da Inquisição, foram designados para vigiar a sua execução (SCHILLER, 1788). Durante muitos anos, as Províncias Unidas bravamente defenderam sua liberdade, tornando-se motivo de admiração para toda a Europa, porém em meados de 1558, Henrique IV, rei da França, comunicou os holandeses que e pretendia estabelecer a paz, da parte de seu trono, com a Espanha. A aristocracia holandesa, no entanto, temendo que sem a ameaça francesa, Felipe II se voltaria ainda mais feroz contra os Países Baixos, resolveu enviar ao rei da França um grupo de embaixadores holandeses, a fim de admoestá-lo a continuar a guerra e não realizar uma aliança de paz em separado. Grócio, então com quase quinze anos de idade, tinha uma forte curiosidade para conhecer a França e aproveitou a viagem dos embaixadores para acompanhar o Grande Pensionário, Barnevelt amigo de sua família (BURIGNY, 1754). 1 As províncias unidas, à época, contavam com dezessete membros: os ducados de Brabante, Limburgo, Luxemburgo e Guelders, os sete condados de Artois, Hainault, Flanders, Namur, Zutphen, Holanda e Zelândia, Antuérpia e os cinco senhorios de Friesland, Mechlin (Malines), Utrecht, Overyssel, e Groningen (SCHILLER, 1788). 11 Na ocasião, familiarizou-se com o Rei Henrique IV e com a alta corte francesa, aproveitando a oportunidade para graduar-se “Doutor em Direito” e, em retorno à Holanda, um ano depois, começou a advogar. Os estudos da lei e da poesia empregavam grande parte do seu tempo e ele dedicava-se a preparar e publicar diversas obras2. Sua genialidade era tanta e sua reputação intelectual tão difundida, que chegou a ser cogitado ‒ embora não nomeado, por conta de sua origem protestante ‒ para exercer um cargo de grande honra na França, como bibliotecário do rei Henrique IV (BURIGNY, 1754). Naquele tempo, a situação dos Estados Gerais era preocupante, pois haviam perdido a França como aliada, em vista da paz celebrada por Henrique IV com a Espanha, e corriam o risco de perder também a Inglaterra. A Holanda percebeu, então, que era necessário justificar seu pleito de uma forma que convencesse o público culto europeu, e decidiram que Grócio era a pessoa certa para realizar esta tarefa. Assim, Grócio foi convocado a produzir um trabalho que intitulou de De antiquitate reipublicae Batavae, uma obra dividida em sete capítulos, em que Grócio conta a história da Holanda, desde sua origem na República Batava nos tempos do Império Romano. No primeiro capítulo o autor explica o que é um governo aristocrático para, no segundo capítulo, contar a história da Batava antiga, cujo governo, segundo ele, era aristocrático. Explica, no terceiro capítulo, o estado da República da Batava no tempo do Império Romano. No quarto capítulo, ele investiga o governo da Batava após a queda do Império Romano. No quinto capítulo, apresenta o governo da Holanda no tempo dos Condes, explicando que o poder dos Condes era limitado por lei e os impostos sempre foram instituídos pelos Estados. No sexto capítulo, o autor demonstra que Filipe II, rei de Espanha, no esforço de mudar a forma de governo dos Países Baixos, ocasionou a guerra na qual a Holanda luta por sua liberdade. Por fim, apresenta, no último capítulo, a forma de governo que deveria ser estabelecida na Holanda, depois de livrarem-se do jugo espanhol. O trabalho foi dedicado aos Estados da Holanda e West-Friesland e recebido com grande satisfação pelos Estados Gerais, mas publicado apenas em 16 de março de 1610 (BURIGNY, 1754). 2 Sua primeira publicação foi uma reedição de uma obra intitulada Sobre o casamento de Mercúrio e Filologia, apresentada em dois livros com anexo de outros sete livros sobre as artes liberais, de autoria de Martianus Capella. Esta obra lhe rendeu inúmeros elogios, chegando a ser comparado com o historiador Erasmus. No mesmo ano, 1599, Grócio publicou outro trabalho, que posteriormente ficou conhecido em toda a Europa: uma tradução para o latim de um manuscrito sobre navegação marítima de autoria de Simon Stevin, matemático do Príncipe Maurício de Nassau. No ano seguinte, ou seja, em 1600, Grócio publicou a obra Fenômenos de Aratus, que contém o manuscrito grego sobre astronomia chamado de Tratado de Aratus, escrito mais de duzentos anos antes de Cristo (BURIGNY, 1754). 12 Mas embora Grócio já tivesse alcançado grande reconhecimento e prestígio em toda a Europa, foram outros fatos na história da Holanda que impulsionaram sua carreira. No ano de 25 de fevereiro de 1603, a serviço da Companhia Holandesa das Índias Orientais ‒ VOC (em holandês Vereenigde Oost-Indische Compagnie), o Marechal Jacob Van Heemskerck capturou a nau portuguesa Santa Catarina retendo o seu conteúdo, o que na época era considerado um ato de guerra, o que causou uma grande discussão no cenário internacional sobre se a Companhia teria ou não o Direito de reter o botim (MACEDO, 2006). Deste modo, os diretores da VOC procuraram Grócio questionando-o se poderia escrever um pedido de desculpas para os Estados em nome da Companhia. Em suma, os diretores da VOC esperavam que ele escrevesse um breve comunicado demonstrando a ilicitude da navegação de Portugal nas Índias Orientais e, para tanto, forneceram a Grócio um compêndio de documentos tratando dos procedimentos cruéis, traidores e hostis dos Portugueses nas Índias Orientais, bem como vários outros materiais que deveriam servir para justificar a captura da nau Santa Catarina. Grócio, porém, não tinha a intenção de produzir um relato histórico objetivo. Em vez disso, ele estava ansioso para cumprir os critérios de retórica forense, tal como definido pelos oradores da Roma antiga. Optou, assim, por elaborar um estudo aprofundado da "lei universal da guerra", revolucionando a lei natural e as teorias dos Direitos naturais no processo. Produziu, assim, um manuscrito de 163 páginas intitulado De jure pradae commentarius, do qual foi extraído e publicado somente o capítulo doze, chamado Mare liberum. (GRÓCIO, 2006). No Mare Liberum, Grócio (1609) defendeu a tomada holandesa do Santa Catarina com base em um conjunto de leis naturais, derivadas originalmente da vontade divina. As duas leis primárias da natureza seriam a autodefesa e a autopreservação, onde a autopreservação seria a aquisição ou retenção de qualquer coisa útil para a vida, assumindo que a natureza havia concedido os bens de sua criação a todos os seres humanos, alguns para serem usados coletivamente e outros em particular. Sob este argumento, afirmava, em síntese, que de acordo com o Direito das gentes, todos os Estados são livres para navegar e negociar nos mares de outros Estados. Afirmava, ainda, que a VOC, em certas circunstâncias, também se qualificava como um ator de pleno Direito na política internacional, autorizada, portanto, a empregar a guerra justa em defesa de seu comércio. Pode-se dizer que o Mare Liberum marcou não apenas uma etapa crucial no desenvolvimento da teoria política de Grócio, mas influenciou a disputa clássica entre mare liberum e mare clausum que durou grande parte do 13 século XVII, ganhou força no século XVIII e XIX e foi decidido apenas no século XX (ARMITAGE, 2004). Outrossim, a guerra entre a Espanha e as Províncias Unidas já perdurava por mais de quarenta anos. Os recursos da Espanha estavam tão exauridos, que ela mesma foi obrigada a solicitar um armistício. Assim, depois de uma longa negociação, uma trégua de doze anos foi acordada em 1609, e Inglaterra e França garantiram a execução do acordo. Durante as negociações, porém, outra controvérsia começou a surgir, envolvendo os seguidores do Arminianismo e do Gomarismo, sistemas teológicos dissidentes do calvinismo que ensinavam de forma diversa o tema da predestinação e do livre-arbítrio (BUTLER, 1826). 1.1.2 Intolerância religiosa e exílio Em 1608, Armínio, professor de teologia na Universidade de Leyden, ensinou que Deus havia enviado seu filho Cristo para morrer pelo perdão de todos, concedendo sua Graça divina a todos que quisessem acreditar, escolhendo ou reprovado apenas aqueles que Ele previu que iriam abraçar ou rejeitar a graça oferecida. Frente a tais declarações, Gomar, outro professor da Universidade de Leyden, calorosamente se opôs a interpretação de Armínio, afirmando que, por um decreto eterno e irreversível, Deus havia predestinado uns para a vida eterna, e outros para a condenação eterna, sem levar em conta as suas ações e que Cristo não morreu para os rejeitados. Após a morte de Armínio, a controvérsia tomou proporções maiores. Resolvidos a honrar sua memória, seus seguidores organizaram uma espécie de protesto escrito, conhecido como Remonstrance, dirigido aos Estados da Holanda, defendendo a tolerância de sua fé. Tal escrito foi elaborado por Utengobard, Ministro de Haia, provavelmente em conjunto com Grócio, que era seu amigo. Em resposta, os seguidores de Gomar elaboram um Contra-Remonstrance propondo a criação de um sínodo nacional (BURIGNY, 1754). Com a agitação da opinião pública cada vez mais crescente, os Estados da Holanda, para restaurar a tranquilidade, publicaram um edital de pacificação escrito por Grócio. Isso foi favorável para os arminianos, mas aumentou a violência dos Contra-Remonstrantes. Diante de tanta tensão, o Grande Pensionário, Barneveldt, requisitou aos magistrados das Províncias permissão para mandar as tropas em repressão aos manifestantes. Tais planos, porém, não lograram êxito, pois na mesma época Mauricio de Nassau, comandante das tropas, apoiado 14 pelo príncipe de Orange, da França, irrompeu uma conquista à força dos Estados controlados pelos arminianos e aprisionou o Grande Pensionário Oldenbarnevelt, o pensionário de Leyden, Hogerbeets e também Hugo Grócio, devido as suas manifestações em favor do arminianismo3 (BURIGNY, 1754). Relatam os historiadores que muito desrespeito e muitas arbitrariedades foram perpetrados no processo contra Grócio. No dia 19 de novembro de 1618, os Estados Gerais, por instigação do Príncipe Maurício, indicaram vinte e seis comissários para seus julgamentos, muitos deles notoriamente preconceituosos contra os arminianos e sem jurisdição sobre os holandeses. Em 18 de maio de 1619, os membros da Comissão pronunciaram sua sentença, condenando Grócio à prisão perpétua e determinando o confisco de suas propriedades e, no dia 6 de junho daquele ano, ele foi transferido da prisão em Haia para o castelo de Louvestein, situada perto de Grocum, no sul da Holanda (BUTLER, 1826). Observe-se que, durante o confinamento, a esposa de Grócio, Maria Reigesberg, foi autorizada a permanecer em cárcere com ele, desde que não deixasse a prisão. Naquele tempo havia um grande baú que era usado para trazer roupas e livros a Grócio. Era trazido de barco da cidade de Garcum até o castelo de Louvestein. Passado algum tempo, Maria percebeu que tal baú já não era mais inspecionado pelos guardas com tanta atenção, pois sabiam de seu conteúdo habitual, restringiam-se a observar-lhe apenas o peso ‒ e era comumente pesado, devido ao grande volume de livros. Então, concebeu ela um audacioso plano: com a ajuda de sua empregada e de seu motorista, Maria mandou que se fizessem furos no baú, para facilitar a entrada de ar, bem como difundiu a história de que Grócio estaria muito doente, de modo que ficaria recluso no quarto com seus livros. Assim, em determinado dia, Grócio escondeuse no baú e foi transportado em um barco, pelos próprios guardas, até a cidade de Gorcum. Lá, auxiliado por David Bazelaer, um amigo arminiano, disfarçou-se de pedreiro e seguiu rumo a Vervie, em Brabant (BUTLER, 1854). Naquele contexto, o armistício de doze anos entre a Espanha e as Províncias havia expirado e era de se esperar que a guerra fosse retomada, mas não foi. Isso porque, a Guerra 3 Para sensibilizar Amsterdam ao arminianismo, os Estados da Holanda enviaram uma delegação para os burgomestres daquela cidade, colocando Grócio como seu líder. Grócio se dirigiu a eles em um discurso argumentativo e eloquente, exortado a necessidade e a vantagem da tolerância religiosa. Argumentou que a tolerância consistia em restaurar a tranquilidade e a união, favorecendo a criação de um sínodo respeitável, capaz de restaurar a paz para a igreja. O discurso foi admirável, mas sem efeito. Nesta altura, seus amigos já tentavam o convencer de retirar-se da competição, mas Grócio estava ciente de sua convicção e optou por enfrentar os perigos vindouros (BUTLER, 1826). 15 dos Trinta Anos tinha misturado a disputa entre a Espanha e as Províncias Unidas, levando a maior parte do conflito para a Alemanha. (BUTLER, 1826). Durante o período de exílio na França, Grócio dedicou-se a escrita de sua mais famosa obra O Direito da guerra e da paz, iniciado em 1623 em Balagni e publicado em 1625, em Paris. De 1634 a 1644 Grócio viveu na França, como embaixador sueco. Posteriormente, foi enviado de volta à Suécia e de lá decidiu partir em 1645. Por um infortúnio, o navio em que viajava sofreu um naufrágio e, embora tenha sobrevivido, Grócio ficou posteriormente muito doente vindo a falecer em 26 de agosto de 1645, três anos antes de a revolta dos Países Baixos ter fim (BURIGNY, 1754). O interessante desses relatos, que não se pode deixar de mencionar, é que em meio a um cenário tão turbulento e violento e mesmo quando sua própria liberdade lhe foi retirada, Hugo Grócio foi capaz de construir um legado positivo de sua existência, transformando-se em um dos autores de maior relevância para o estudo do Direito Internacional e um marco na compreensão do Direito natural da modernidade. 1.2 A laicização do Direito Natural A ideia de que existem leis universalmente válidas, das quais decorrem Direitos aplicáveis a todos os seres humanos é recorrente na história da filosofia jurídica. Ao longo dos séculos inúmeros pensadores desenvolveram concepções que convergem para uma ideia geral de que o Direito está fundamentado na natureza ‒ seja ela humana ou divina. Dentre tais pensadores Hugo Grócio se destaca de forma bastante significativa, principalmente quando o assunto se situa em âmbito do estudo da filosofia clássica do Direito internacional. De acordo com Macedo (2006), Grócio trabalha o Direito como um Direito subjetivo, que se insere no campo do jusnaturalismo moderno. Destaca que uma das maiores diferenças entre o jusnaturalismo medieval e o moderno é justamente a noção de Direito subjetivo, pois o Direito natural medieval representa um ordenamento de deveres de caráter obrigatório, ou seja, uma limitação externa da liberdade do homem; já o Direito natural moderno confere ao homem um determinado poder em face da sociedade, poder este que não se origina na lei, mas na existência do próprio homem. Na teoria grociana, os desdobramentos do poder conferido pelo Direito natural ao sujeito de Direitos é um dos mais amplos, 16 englobando as categorias de liberdade, poderes de comando, Direitos reais de toda a sorte e Direitos pessoais. O próprio Grócio (2005a, p. 293) afirma que o Direito natural, enquanto considerado como lei, não tem como objeto somente as questões pertinentes às normas e a justiça, mas envolve também atos de virtudes morais, tais com “a temperança a coragem, a prudência, porquanto o exercício dessas virtudes, em certas circunstancias não é somente honesto, mas obrigatório”. 1.2.1 Três definições de Direito Na obra O Direito da guerra e da paz de Grócio (2005a) é possível encontrar três definições para a palavra Direito: primeiro como sinônimo de justiça, após como qualidade moral ou virtude e, por fim, como lei. A primeira definição identifica o Direito como sinônimo de justiça, como sendo “aquilo que não é injusto”, que não "repugna à natureza da sociedade dos seres dotados de razão”. Dentro desta sociedade dos seres dotados de razão, verifica-se a existência de dois tipos de Direito ‒ de um lado, tem-se um Direito de igual para igual, aquele presente na sociedade entre irmãos, amigos e aliados; de outro lado, tem-se o Direito de superioridade, como o que emerge, por exemplo, nas relações de poder entre governantes e governados. Em uma segunda definição, Grócio aborda o Direito como “uma qualidade moral ligada ao indivíduo para possuir ou fazer de modo justo alguma coisa”. Ensina o autor, que a qualidade moral, quando se expressa em um ato jurídico ou em um Direito estritamente dito toma forma de faculdade e quando corresponde a um ato de poder, manifestado por um juízo de conveniência, caracteriza-se como aptidão. Nesta distinção, a faculdade está associada à justiça expletiva, enquanto a aptidão se relaciona com a justiça atributiva e designa o mérito de uma pessoa (GRÓCIO, 2005a). A terceira definição apresenta o Direito como sinônimo de regra, expresso na palavra Lei, um jus tomado no sentido mais amplo e que indica uma regra das ações morais que obrigam a quem é honesto. De acordo com Grócio este Direito pode ser dividido em Direito voluntário ou em Direito natural. O Direito voluntário, segundo o autor, seria fruto da vontade, distinguindo-se em Direito voluntário divino e Direito voluntário humano, de acordo 17 com a fonte da qual emanasse ‒ divino, quando sua origem fosse à vontade de Deus e humano, quando sua origem residisse na vontade dos homens (GRÓCIO, 2005a). Observe-se que antes de Grócio, outros filósofos já haviam trabalhado com a distinção entre Direito humano e Direito divino. Por exemplo, Segundo Tomás de Aquino, a lei eterna é um ditame da razão prática que advém de Deus. Referida lei emana da razão divina que rege a comunidade perfeita. Por outro lado, a lei natural consistiria em uma parte da lei eterna que diria respeito especificamente ao ser humano e seria uma participação da criatura racional na lei eterna. As leis humanas derivariam dos preceitos gerais da lei natural e com esta deveriam estar em conformidade; caso a lei humana desviasse da lei de natureza, haveria uma “perversão” daquela lei. Por fim, Aquino entendia que haveria uma lei divina que tem por objetivo dirigir o homem a seu devido fim. Esta lei seria acessível aos homens por meio da revelação e estaria nas Escrituras. Aquino argumentava, ainda, que esta lei divina não era um produto da razão humana, mas teria sido revelada ao homem por meio da graça divina, para assegurar que a humanidade tenha conhecimento do que deve ser feito para que tanto sua finalidade natural quanto a sobrenatural sejam satisfeitas (PINHO, 2013, p. 82). Na teoria grociana, o diferencial reside, portanto, na separação da lei eterna em comparação aos Direitos advindos da vontade humana ou da natureza. Essa divisão feita por Grócio, que não estabelece uma hierarquia entre o Direito divino, natural e humano, mas, ao invés disso, separa o Direito natural do Direito humano inicia o rompimento com uma visão que apresentava um tratamento teológico do tema e estabelecia um vínculo entre o Direito natural e Deus (PINHO, 2013). Segundo Grócio (2005a), no âmbito da vontade humana este Direito voluntário constitui-se em Direito civil, mais amplo que civil ou mais restrito que civil, onde o Direito civil é aquele emanado do poder civil, enquanto o Direito mais restrito que o civil emana do poder de indivíduos a quem se devesse submissão, como pais ou mestres. Já o Direito mais amplo que o civil é denominado por jus gentium, isto é, aquele que recebe sua força obrigatória da vontade de todas as nações ou de grande número delas. 1.2.2 A hipótese impiíssima Ensina Macedo (2006) que, para alguns autores, a explicação de Grócio para o Direito Natural situa-se no debate escolástico entre voluntarismo e secularismo. Isso se evidencia, especialmente quando Grócio, ao defender a existência da justiça, contraargumenta as teses de Carnéades, filósofo que ensinava que o Direito nada mais era que um 18 fruto da utilidade humana, não havendo nele qualquer justiça. Considerando a tese de Carnéades insustentável, Grócio aponta dois argumentos para sustentar a sua posição contrária. Inicialmente, afirma ele que os humanos não simplesmente se deixam “arrastar pela natureza em função de suas próprias utilidades”4. Pelo contrário, a atuação humana aponta para uma espécie de sociabilidade racional, appetitus societatis por uma vivência comunitária “pacífica e organizada de acordo com os dados de sua inteligência e que os estoicos chamavam de ‘estado doméstico’”. Sociabilidade esta que, por sua vez é o fundamento de existência do Direito natural. Para ele, A natureza do homem que nos impele a buscar o comércio recíproco com nossos semelhantes, mesmo quando não nos faltasse absolutamente nada, é ela própria a mãe do Direito natural [...]. O autor da natureza quis, de fato, que tomados um por um, nós sejamos fracos e que careçamos de muitas coisas necessárias para viver comodamente, a fim de que sejamos impelidos mais ainda a cultivar a vida social. Quanto à utilidade, ela foi a causa ocasional do Direito civil, pois a associação de que falamos, ou a sujeição à uma autoridade, começaram a se estabelecer em vista de alguma vantagem. Aqueles, enfim, que baixam leis para os outros se propõem, de um modo geral, uma utilidade qualquer ao fazê-lo ou devem propô-la, como mínimo (GRÓCIO, 2005, p. 43). Outro argumento levantado por Grócio reside na capacidade humana de agir segundo princípios gerais, de formular juízos que permitam apreciar as coisas, presentes e futuras, determinando seu caráter maldoso ou benevolente. Exemplo disso é a necessidade de cumprir as próprias promessas e reparar os danos causados a outrem expressa nas regras da boa-fé e respeito à propriedade privada. Esse conjunto de características peculiares ao homem foi denominado pelo autor de “cuidado pela vida social”, sem o qual a atuação humana não pode ser considerada natural, ou seja, conforme o Direito natural. O Direito natural, desta forma, é um Direito ditado pela razão, que leva-nos a perceber se uma determinada ação é ou não conforme a natureza racional (GRÓCIO, 2005a). Em sua obra, Grócio demonstra que embora a utilidade não seja fundamento do Direito Natural, pode vir a tornar-se seu objetivo num contexto, por exemplo, de proteção de Direitos individuais. Afirma, deste modo, que não é contrário à natureza da sociedade zelar e prover seus próprios interesses, desde que o Direito do outro não seja atingido, ou seja, 4 Segundo Grócio, “de fato, o homem é um animal, mas um animal de uma natureza superior e que se distancia muito mais de todas as demais espécies de seres animados que possam entre elas se distanciar. É o que testemunham muitas ações próprias do gênero humano. Entre essas, que são próprias ao homem, encontra-se a necessidade de sociedade, isto é, de comunidade, não numa qualquer, mas pacífica e organizada de acordo com os dados de sua inteligência e que os estoicos chamavam de ‘estado doméstico’. Entendida assim de uma maneira geral, a afirmação de que a natureza impele todo animal somente para suas próprias utilidades, não procede” (GRÓCIO, 2005a, p. 36) 19 agindo-se “como efeito de um concurso comum e da reunião das forças de todos”. Para reforçar este pensamento, o jurista utiliza-se da lição de Cícero expressa na obra De Officiis: Assim, se cada um de nossos membros tivesse a faculdade de pensar, se ele julgasse estar agindo corretamente ao tirar a saúde do membro vizinho, todo o corpo se enfraqueceria e necessariamente pereceria. Assim também, se cada um de nós se apoderasse do bem dos outros e tirasse de cada um o que poderia resultar em proveito próprio, a sociedade dos homens, a vida em comum necessariamente se subverteriam. É certamente permitido aspirar em ter para si mesmo as coisas que se relacionam com o entretenimento da vida, do que vê-las serem adquiridas por outros, uma vez que a natureza não se opõe a isso. O que, porém, ela não pode tolerar é que aumentemos nossos meios de vida, nosso patrimônio, nossa riqueza, despojando delas os outros (CÍCERO Apud GRÓCIO, 2005a, p. 103). Nesse ponto Grócio se destaca entre seus contemporâneos, inaugurando sua mais famosa teoria, conhecida como hipótese impiíssima, segundo a qual a existência do Direito Natural prescinde da figura divina5. Isso porque, o filósofo sabia distinguir os estudos sobre Deus e sobre o homem entendendo que as coisas relativas ao homem e, em especial, ao Direito Natural, são como são mesmo sem a vontade permanente de um Criador (MACEDO, 2006). De fato, Grócio procura justamente no afastamento da divindade, criar a base para a imutabilidade do Direito natural, e para tanto, estabelece que, mesmo nas coisas criadas por Deus, existem algumas que não podem mais ser alteradas por ele, como também não pode ser evitado que as ações humanas se inclinem para o bem ou para o mal. Nas palavras do autor: O Direito natural é tão imutável que não pode ser mudado nem pelo próprio Deus. Por mais imenso que seja o poder de Deus, podemos dizer que há coisas que ele não abrange porque aquelas de que fazemos alusão não podem senão ser enunciadas, mas não possuem nenhum sentido que exprima uma realidade e são contraditórias entre si. Do mesmo modo, portanto, que Deus não poderia fazer com que dois mais dois não fossem quatro, de igual modo ele não pode impedir que aquilo que é essencialmente mau não seja mau [...] (GRÓCIO, 2005a, p. 81). 5 Muitos autores consideram que a hipótese impiíssima grociana não é original. Alguns sustentam que Grócio teria se inspirado em Marco Aurélio, que nas Meditações, fez afirmou: “Se, porém, eles (os deuses) não deliberaram sobre nada – o que é impiedade admitir (...) – se, pois, eles não deliberaram sobre nada do que nos concerne, então posso decidir sobre mim próprio, cabe a mim examinar os meus interesses”. Outros autores afirmam que Suárez estaria entre os precursores da formulação grociana, com base na afirmação deste que a lei residiria na relação entre intelecto e vontade na constituição da lei. Ademais, a quem diga que a hipótese impiíssima de Grócio já encontrava lugar na escolástica tardia. No entanto, uma analise mais detalhada demonstra que essas comparações muitas vezes tem sido equivocadas. No caso da citação de Marco Aurélio, o que contexto em que se insere não é de fundamentação do Direito natural, mas sim com o modo de viver filosófico. Quanto a Suarez, percebe-se que este considera impossível colocar em dúvida a existência de Deus, até porque, na época, havia forte influência da analogia entis, que era utilizada para explicar a relação de dependência ontológica entre seres criados e Deus. Por fim, a hipótese de Grócio diferencia-se da argumentação escolástica pontualmente pelo fato de o autor não estabelecer nenhuma relação de causalidade – de analogia e participação – entre a natureza divina e a natureza humana (PINHO, 2013). 20 Esta explicação, por assim dizer laicizada6 do Direito Natural, não resulta, no entanto, que na teoria grociana a figura divina deixa de ter influência. Observa-se que, no parágrafo 12 dos Prolegômenos do Direito da Guerra e da paz (2005a), Grócio sustenta que, além da natureza humana, o Direito natural tem como fonte a “livre vontade de Deus”, no sentido de que o papel de Deus teria sido o de dispor livremente para que a sociabilidade e a razão existissem na humanidade. Poderia se interpretar, ainda, que o intento do autor teria sido encontrar um fundamento seguro ao Direito Natural, fundamento este capaz de torná-lo obrigatório a todos os homens. Buscava, assim, legitimar um Direito superior à criação da sociedade humana e às diferenças religiosas, acessível a todos por meio da razão, que fosse capaz de trazer condições que pusessem fim aos conflitos político-religiosos que devastavam a Europa naquela época (HESPANHA, s.d). Assim, através do fundamento da natureza humana o Direito Natural encontra sua imutabilidade7, mas estas características apenas dizem respeito ao conteúdo, à validade e à incidência deste Direito, mas não provam a sua existência, nem garantem sua universalidade, como desejava Grócio. Para isso, o filósofo abriu mão de uma análise da prova do Direito natural, ou seja, buscou demonstrar que o Direito natural é universal porque se pode prová-lo tanto a priori, quanto a posteriori: a priori através da constatação da conveniência ou inconveniência de algo com a natureza racional e social do homem e a posteriori com a conclusão de que determinada coisa ou ato é de Direito natural porque é tida como tal em todas as nações ou entre as que são “mais civilizadas” (GRÓCIO, 2005a). O maior exemplo dessa universalidade do Direito natural encontra-se, segundo o autor, na instituição do Direito de propriedade. Enquanto a noção de propriedade não havia sido introduzida, o uso das coisas em comum era de Direito natural, existindo o Direito de se adquirir um bem, em determinados casos, até mesmo pela força, de acordo com as convenções da época. No entanto, a partir do momento que foi introduzida pelos homens a noção de propriedade foi também o próprio Direito natural lhes determinou ser crime 6 7 António Manuel Hespanha, no introito do Direito da Guerra e da Paz (In GROTIUS, 2005a, p. 17), afirma que “este papel pioneiro atribuído a Grócio na criação de um Direito internacional laicizado explica-se, não apenas pelo caráter mais claramente naturalista de seu pensamento jurídico, mas também pelo facto de Grócio ter escrito num meio mais cosmopolita, evocando questões jurídicas que surgiam num contexto europeu conturbado, onde a guerra estava presente e, com ela, os problemas da legitimidade dos meios a utilizar”. Grócio faz uso de Sêneca e Cícero para provar a existência do Direito natural. Estes filósofos fazem parte de um grupo de pensadores que explicitaram que as leis da natureza (phýsis) deveriam fundamentar as leis dos homens (nómos), tendo como fundamento teórico o uso da razão. Ensinam que a natureza possui leis imanentes que os homens devem seguir, usando a reta razão, que permite aos homens conhecer de sua necessidade da vida em sociedade (PINHO, 2013). 21 apoderar-se, arbitrariamente, daquilo que é objeto da propriedade de outrem (GRÓCIO, 2005a). Com esse exemplo, Grócio demonstra que embora nos atos prescritos pelo Direito Natural muitas vezes pareça ocorrer uma alteração, na realidade, não é o Direito natural que muda, mas é a coisa, a respeito da qual o Direito natural estatuiu que sofre a mudança, adequando-se as transformações da natureza racional da sociedade. Apresenta a partir dessas premissas, um Direito que, por estar fundamentado na própria existência humana, torna-se obrigatório e cogente à toda humanidade; Direito este que não está adstrito ao ordenamento jurídico de determinado país, ou sequer ligado a regras divinas, mas que pode ser constatado, pela simples razão humana na vida cotidiana e na história (MACEDO, 2006). 1. 3 Direito das Gentes 1.3.1 Origens do jus gentium A história nos mostra que conceito de Direito das gentes tem origem romana, remontando à organização tribal da Roma antiga em torno de um sistema denominado gentílico, que constituía o Direito das gens, pessoas que pertenciam a um mesmo clã. Nesse contexto, era possível distinguir o jus gentilicum que regia as relações entre as classes superiores e as inferiores no âmbito de uma mesma gen, que era distinto do jus gentilitatis que abrangia as leis em vigor para a classe superior dos gentis e do jus gentium que adotava um conceito completamente diverso do moderno, compreendendo tão somente a regulação das relações entre as diferentes gens, constituindo-se em um Direito intra-gentes e não intergentes. Apenas mais tarde, com a necessidade de romana de regular as relações com estrangeiros é que esse Direito começou a adquirir feições mais universalistas, com um processo de formação bastante vinculado ao do costume e, não raro, confundido com o Direito natural (MACEDO, 2010). No entanto, foi no medievo que começaram as mais relevantes discussões acerca do jus gentium, especialmente no que concerne ao problema da autonomia deste Direito. Inicialmente procurou-se resolver essa questão ao cindir o Direito natural ou o Direito das gentes em diversas espécies, seguindo uma lógica de desenvolvimento progressivo do Direito natural ao Direito positivo. No âmbito religioso a questão também foi abordada, embora com 22 menos interesse, tendo sido Tomás de Aquino ‒ de quem deriva a filosofia escolástica conhecida como tomismo ‒ quem mais se destacou no empenho de encontrar a real natureza do jus gentium. De acordo com Macedo (2010), a explicação de Tomás de Aquino é encontrada na leitura conjunta do Tratado das Leis e do Tratado da Justiça. Naquele o autor explica que a lei natural não representa apenas um dever-ser, mas um “projeto da razão”, da qual decorrem todas as demais leis; e no último demonstra os distintos modos pelos quais a lei natural “produz” os demais Direitos, culminando na diferença entre Direito positivo e Direito das gentes. O Direito das gentes, portanto, não é imediatamente natural, mas provém de preceitos naturais. Isso se deve ao fato de a lei natural produzir no homem três inclinações: uma primeira que concerne tudo aquilo que interessa para a conservação da vida; outra que o homem compartilha com os demais animais e que diz respeito à união dos sexos, à educação da prole, etc, e uma última que se apresenta propriamente racional e que se refere à tendência natural de conhecer as verdades divinas e a viver em sociedade. O Direito ou o justo natural propriamente dito procede das duas primeiras inclinações da lei natural [...] Já o Direito das gentes decorre da terceira inclinação da lei natural; ele procede não de forma absoluta, mas de modo comparativo e consecutivo. Ele não brota da essência da coisa; exige a intervenção da razão humana. Por isso, ele é considerado humano: as suas conclusões são condicionais e hipotéticas, pois dependem do arbítrio dos homens, “mesmo que esse arbítrio não seja o de um poder particular ou de uma sociedade concreta, mas, em certo sentido, o de toda a humanidade, o de todas as gentes” (MACEDO, 2010, p.16). A tese de Aquino de que o Direito das gentes não pode ser percebido, como o Direito natural, mas necessita da intervenção humana para existir se repete também no discurso de Alberico Gentili. Este autor, em sua obra O Direito da guerra (2005) define o jus gentium como uma “pequena parte do Direito divino [...] que Deus nos deixou depois do pecado” (p. 55). A respeito deste Direito, Gentili afirma que a melhor definição é encontrada em Xenofonte, que ensina que o Direito das gentes “são leis universais não escritas nem dispostas pelos homens porque nem todos puderam se reunir nem falar a mesma língua, mas sim por Deus” (p. 58). Este Direito não poderia ser aprendido pela simples leitura, mas tão somente deduzido pela própria razão natural e, consequentemente, originado no próprio Direito natural criado por Deus. Observe-se que Gentili ainda se apegava ao fundamento divino do Direito, entendendo que este era a origem das leis de Deus (Direito divino em sentido estrito) e das leis dos homens (Direito divino em sentido amplo). Afirmava que o Direito divino em sentido estrito seria concernente à relação entre homem e Deus, constituindo-se propriamente em res 23 religionis e, sendo assim, sua interpretação era encargo de teólogos, enquanto o Direito humano dizia respeito aos jurisconsultos. Deste modo, sem desconsiderar a superioridade da lei divina ou tampouco negar a relevância religião, o autor conseguia justificar a autoridade do Estado no contexto das relações políticas e ao mesmo tempo afastar a autoridade eclesiástica. Perceba-se, ainda, que quando contextualizado no âmbito do regramento da guerra o Direito das gentes gentiliano não é definido em razão dos indivíduos ou entidades a que se destina, mas sim em razão do objeto que tutela. É por isso que em seu tratado, Gentili deixa claro que sua pesquisa concerne especificamente ao ius gentium bellicum, ou seja, não diz respeito a uma ordem jurídica internacional geral, mas sim às fontes de Direito especificamente destinadas a regulamentar a guerra (PANIZZA, 2005). 1.3.2 O Direito das Gentes de Hugo Grócio A libertação definitiva do fundamento divino e natural do Direito das gentes se opera através da abordagem de Grócio, que na esteira de sua hipótese impiíssima o conceitua como um Direito pertencente à classe dos Direitos voluntários humanos, ou seja, nascido na vontade humana e não divina. Nos prolegômenos de seu De jure belli ac pacis, Grócio demonstra sua preocupação em encontrar um Direito regulador da guerra que pudesse ser válido e universal: Estou convencido [...] que existe um direito comum a todos os povos e que serve para a guerra e na guerra. Por isso tive numerosas e graves razões para me determinar a escrever sobre o assunto. Via no universo cristão uma leviandade com relação à guerra que teria deixado envergonhada as próprias nações bárbaras. Por causas fúteis ou mesmo sem motivo se recorria às armas e, quando já com elas às mãos, não se observava mais respeito algum para com o Direito divino nem para com o Direito humano, como se, pela força de um edito, o furor tivesse sido desencadeado dobre todos os crimes (GRÓCIO, 2005a, p. 51). Este “direito comum a todos os povos” mencionado por Grócio é mais tarde identificado pelo autor como jus gentium ou Direito das gentes, Direito este que o caminho para a consolidação do que hoje conhecemos como Direito Internacional. Conforme bem pondera Macedo (2010, p. 35), Para um internacionalista contemporâneo, a natureza desse Direito não constitui um problema: a sua característica de universalidade não deriva da razão natural; trata-se tão-somente de âmbito de validade espacial que cobre todos os Estados. Mas essa aparente simplicidade revela-se enganadora. A verdade é que o Direito das gentes constitui um tertius genus, um meio-termo entre o Direito natural e o Direito positivo. O conceito de Direito das gentes só se aproxima do de Direito internacional quando passa a designar mais do que uma realidade “extranacional”; não só um 24 Direito que ultrapassa as fronteiras do Estado, mas que rege as relações entre os povos. De fato, na teoria grociana, o Direito das gentes é diverso ao Direito natural em pelo menos dois aspectos basilares: com relação à sua origem e no que diz respeito à forma como é provada sua existência. Quanto à origem, Grócio afirma que tanto o Direito natural, quanto o Direito das gentes, fazem parte da compreensão do Direito como sinônimo de lex, ou seja, uma regra obrigatória de conduta. Explica que enquanto o jus gentium é um Direito da classe dos Direitos voluntários humanos, o Direito natural não seria um fruto da vontade ‒ humana ou divina ‒ mas um Direito autoevidente na natureza do homem e na natureza das coisas, surgido no contexto da sociabilidade humana. Segundo o autor, do mesmo modo que as leis de cada Estado dizem respeito à sua utilidade própria, assim também certas leis surgiram entre os Estados em virtude de seu consenso, “tendendo à utilidade não de cada associação de homens em particular, mas do vasto conjunto de todas essas associações” (GRÓCIO, 2005a, p. 44). Assim, o jus gentium grociano apresenta-se como um Direito distinguível não apenas do Direito natural, embora dele compartilhe as bases universalistas, mas distinguível também do Direito civil, pois é fruto não da convenção de um Estado, mas de um grupo de Estados e oponível a todas as suas associações. Para Macedo (2006), o termo gentes empregado por Grócio não significava simplesmente Estados, mas estava mais próxima da noção de povos, reunidos sob uma forma de organização política qualquer, ou seja, não uma coletividade abstrata, mas os próprios homens enquanto comunidade internacional. Isso implica que o Direito das gentes em Grócio constitui um meio-termo entre o Direito natural e o Direito positivo, e se aproxima do Direito internacional, como este é visto hodiernamente, apenas no sentido em que passa a designar mais do que uma realidade extranacional, ou seja, constituise, não só em um Direito que ultrapassa as fronteiras do Estado, mas que rege as relações entre os povos. Estas particularidades do Direito das gentes grociano, que tem origem na sua visão laicizada do Direito, são vistas por muitos internacionalistas como o passo inicial para as primeiras percepções de existência de uma sociedade internacional, em que os Estados relacionam-se de acordo com seus interesses, mas estes interesses são limitados por um Direito proveniente de seus consentimento mútuos (o que hoje poderíamos chamar de Direito consuetudinário). Percebe-se, portanto, que Grócio pretendia estabelecer os princípios de um 25 Direito das gentes que pudesse ser aplicado para todos os tipos de Estados, um sistema universal capaz de incluir tanto países absolutistas quanto liberais, um meio termo para a paz (MACEDO, 2006). 26 2 HUGO GRÓCIO E O DIREITO DA GUERRA E DA PAZ Este capítulo se destina a analisar as principais concepções da teoria de Hugo Grócio a respeito da temática da guerra. Para tanto, primeiramente, será abordada a doutrina da guerra justa, buscando-se na leitura grociana os fundamentos ético-jurídicos do uso da força nas relações internacionais, entendimento este que contribuirá para as discussões posteriores deste trabalho. Em sequência, seguirá uma argumentação acerca do Direito do pós-guerra, com ênfase no objetivo de manter a paz e evitar novos conflitos. Por fim, será brevemente analisada a abordagem da doutrina da guerra justa sobre a questão das intervenções. 2.1 A doutrina da Guerra Justa A investigação da temática da guerra na sociedade internacional não é algo novo. Há muitos séculos pensadores tem se debruçado sobre o tema, procurando não apenas compreender o problema, mas almejando também encontrar soluções que, se não capazes de resolvê-lo, ao menos atenuem seus males. As noções precursoras deste ideal notadamente se encontram na chamada doutrina do bellum justum (guerra justa). 2.1.1 Desenvolvimento do conceito de bellum justum O estudo da justiça da guerra, mais extensamente trabalhado pela Escola Clássica do Direito Internacional, teve suas bases na tradição cristã. Santo Ambrósio, especialmente na obra De officiis, ensina que existe justiça na guerra quando esta é empregada na defesa da nação e do lar contra agressores. Do mesmo modo Santo Agostinho nas obras De civitate dei e Contra Faustum argumenta que a guerra é justa quando ordenada por Deus para punir iniquidades, bastando para legitimar a guerra que essa seja justa e declarada por quem tenha o poder de fazê-la, sendo justa na medida em que tenha por causa a reparação de uma injustiça e guarde o fim único da paz. Mas é com Santo Thomas de Aquino que a doutrina da guerra justa ganha caráter definitivo. Na Suma Theológica, Santo Thomas estabelece que para a guerra ser justa precisa atender a, pelo menos, três condições: (a) ser declarada pelo poder do príncipe; (b) ter uma causa justa e; (c) objetivar promover o bem ou evitar o mal. Essas três condições se tornaram a base para a elaboração das várias teorias da guerra justa surgidas em sequência (MELLO, 1997). 27 No entanto, a noção do fenômeno da guerra justa, no Direito internacional, nunca foi consensual. Foi apenas no século XVI com Alberico Gentili, principalmente, que começou a se desenvolver um conceito Moderno da guerra justa, como a luta justa das armas públicas, conceito este que, no século XVII, com Hugo Grócio, veio a ser ampliado e definido como sendo o estado (status) dos que lutam pela força, afastando-se dos fundamentos religiosos de sua origem (MELLO, 1997). De fato, Gentili (2005, p. 65) em seu De iure belli libre tres afirma que “guerra é a justa contenda de armas públicas”. Para o autor, apenas as guerras movidas por soberanos, com emprego de armas públicas de ambas as partes, poderiam ser consideradas propriamente guerras justas. Tal conceito, porém, é limitado, pois não admite que outras formas de guerra existentes possam ser lícitas, senão as movidas pelo poder de uma autoridade governamental. Diferentemente, Grócio aceita a existência de três espécies de guerra justa: a guerra privada, a guerra pública e a guerra mista. Isso porque considera a guerra não apenas como um ato executivo, mas como um verdadeiro estado, uma situação que se protrai no tempo. Esta abordagem da guerra enquanto “status” faz com que o perigo do uso da força armada não seja apenas atual, mas também futuro (MACEDO, 2006). Ademais, ao aceitar a possibilidade de guerras públicas não solenes, o autor se separa da tradição medieval, que impunha que toda guerra deveria ser declarada pela autoridade competente de um príncipe. Esse entendimento medieval, deriva do entendimento de que, somente ao rei, Deus teria investido sua autoridade para o governo dos homens. Grócio, porém, firme em sua hipótese impiíssima, extraiu interpretação diversa, no sentido de que mesmo as autoridades públicas são fruto de criação humana - daí a licitude das guerras privadas (MACEDO, 2006). Na classificação grociana dos tipos de guerra justa, tem importância a diferenciação entre guerras públicas e privadas. A guerra pública, assim como no entendimento de Gentili, é conceituada por Grócio como sendo aquela realizada pela autoridade de um poder soberano, podendo ser solene, quando emana da própria autoridade, ou não solene, quando é promovida por ente público que não detém soberania como, por exemplo, pelo poder de magistrados. Já as guerras privadas, seriam legítimas na medida em que, pelo Direito de natureza, tivessem por objetivo rechaçar uma injúria sofrida, quando não houvesse um poder soberano que a autorize (GRÓCIO, 2005b). 28 Grócio ressalva que, após a instituição dos tribunais8 as guerras privadas podem ser consideradas lícitas apenas nos casos em que a via judicial esteja indisponível momentaneamente ou de modo absoluto. A indisponibilidade momentânea ocorreria nas situações em que não se pudesse esperar o aval do órgão judicial sem se expor a um perigo certo ou a um prejuízo, de modo que fosse necessário agir de imediato. Já a indisponibilidade absoluta das vias judiciais poderia ocorrer em duas situações: (a) situação de Direito, quando o individuo se encontrasse em locais em que não existissem autoridades (mar, deserto, ilhas desabitadas, lugar aonde não houver cidade); (b) situação de fato, nas circunstâncias em que a submissão ao órgão judicial não é obrigatória ‒ como, por exemplo, quando o interessado não for signatário de determinada convenção que estabeleça a jurisdição do tribunal, ou, mesmo sendo signatário, o tribunal ou corte se recusar ilegalmente a apreciar a causa da guerra (GRÓCIO, 2005b). Mas onde exatamente residiria a “justiça” da guerra? É importante relembrar que para Grócio a justiça é vista como uma das significações possíveis da palavra Direito. Por isso, quando trata desse tema, Grócio desenvolve sua teoria através de uma argumentação que vincula os atos bélicos ao Direito. Utilizando sua base jurídica laicizada o autor busca demonstrar que a guerra somente é justa na medida em que for também lícita ‒ o que só poderia ocorrer nos casos em que o emprego da força bélica não contrariasse o Direito das gentes ou os princípios basilares do Direito natural. Isso porque, para Grócio encontrar a justiça da guerra9 significava delimitar sua legalidade, ou seja, estabelecer circunstâncias e razões específicas que a autorizem: primeiramente através da delimitação do jus ad bellum, o Direito que concede a autorização para a guerra, por meio da especificação das causas que a ensejam e, segundamente, através da delimitação do jus in bellum, o Direito a ser aplicado 8 9 Hans Kelsen na obra A paz pelo Direito (2011), discutindo alternativas jurídicas para a manutenção da paz na sociedade internacional, propõe que apenas um tribunal internacional poderia dar o impulso inicial para o desenvolvimento de um Direito internacional mais centralizado, capaz de garantir mais segurança à comunidade internacional. A explicação do autor é de que quando uma ordem jurídica monopoliza o uso da força, através do controle centralizado da produção e aplicação do Direito na regulação social, de certa forma pacifica as relações entre seus membros. Mas como se verá nos próximos capítulos, quando tratar-se da temática das intervenções humanitárias, essa lógica judicial é exponencialmente abalada, especialmente quando se observa que aqueles que deveriam promover a estabilidade das relações internacionais, notadamente os Estados, são justamente os agentes das maiores violações de Direitos. De acordo com Macedo (2008, p. 9), “apesar da variação entre os autores, em síntese, a teoria da guerra justa prescreve, em relação ao jus ad bellum, que a guerra deve ser o último recurso, que ela deve ser proporcional à injúria (o dano causado deve ser inferior à calamidade), que deve ser pública e precedida de uma declaração formal e que deve ser sempre a resposta a uma agressão injusta, com probabilidade de êxito [...] Em relação ao jus in bellum, a teoria da guerra justa obriga que os meios empregados na luta devem ser proporcionais aos fins; deve distinguir-se combatentes de não combatentes, e deve tratar-se os prisioneiros de guerra com humanidade.” 29 durante a guerra, em outras palavras, as condutas permitidas quando o estado de guerra já se instalou (GRÓCIO, 2005b). No que diz respeito à sistematização do jus ad bellum e do jus in bellum, é interessante comparar o método utilizado por Gentili em seu Direito de Guerra. Aplicando a teoria das quatro causas aristotélicas ele parte do pressuposto de que a existências das coisas pode ser explicada por quatro causas: (1) causa formal ‒ define a forma ou formalidade inerente à coisa; (2) causa material ‒ define o conteúdo da coisa; (3) causa eficiente ‒ define a origem da coisa; (4) causa final ‒ define a finalidade de existência da coisa. No tocante à guerra justa, a causa formal designava as limitações impostas pelo Direito à condução da guerra; a causa material relacionava-se com as causas justas para promover a guerra; a causa eficiente designava à classificação e definição das partes envolvidas na guerra; e a causa final dizia respeito ao objetivo último da guerra, que seria o alcance da paz. A partir desta sistemática tópico-dialética10, Gentili aponta que as causas da guerra são de três ordens: (a) divinas, quando movidas no interesse da religião; (b) naturais, quando objetivam a aquisição de bens úteis ou indispensáveis à sobrevivência; e (c) humanas, em todos os outros casos em que pela violação de algum Direito humano seja necessária à beligerância11 (PANIZZA, 2005). A abordagem de Grócio é menos dialética e mais dedutiva. O autor deixa claro, já nos Prolegômenos de sua obra, que todo o esforço por ele empregado se destinava a responder a questão sobre quais seriam causas justas para a guerra, ou, em outras palavras, como uma guerra poderia ser legítima. Assim, em um primeiro momento, para explicar como o estado de guerra poderia coexistir com o Direito, o autor embasou seu argumento sob dois grupos de princípios naturais: (a) os princípios primitivos ou primeiros por natureza ‒ 10 Segundo Panizza (2005) o emprego de um método tópico-dialético de Gentili, direcionado a análise de questões tópicas e fundamentadas com argumentos prós e contra dos maiores pensadores do tema, segue a tradição hermenêutica pré-moderna, acreditava que no consenso como fundamento de legitimação e veracidade do argumento. 11 Especialmente com relação às causas divinas, fundamentadas em motivos religiosos, Gentili acreditava não haver nelas licitude. Isso porque as questões religiosas não diriam respeito propriamente à relação entre os homens, de modo que a diversidade de fé não poderia configurar ofensa ao Direito de ninguém. “A religião”, afirmava Gentili (2005, p. 100), “é para com Deus; é razão divina, não é razão humana, isto é, liame do homem com o homem; ninguém, portanto poderá sentir-se ofendido pelo fato de que alguém siga religião diversa da sua”. Esse posicionamento encerra a teoria geral da tolerância gentiliana, segundo a qual motivos religiosos não constituem causa justa para a guerra. 30 relacionados à defesa da vida e da propriedade, e (b) os princípios superiores ‒ que dizem respeito à reta razão humana e sociabilidade natural do homem racional (GRÓCIO, 2005a). Nessa lógica, os princípios primeiros da natureza estariam harmonia com o emprego da guerra, sempre que o objetivo desta fosse assegurar a conservação da vida e da propriedade útil à existência do homem. Quanto aos princípios superiores, Grócio afirmava que não vetam de todo o emprego da força, mas somente as vias de fato que se opõem a vida social, atentando contra o Direito de outrem sem justa causa. Neste sentido, até mesmo o jus gentium não se oporia totalmente à guerra, apenas estabeleceria certas formalidades legais, expressas em convenções entre as nações, para que a guerra pudesse ser empregada, estabelecendo as condutas permitidas aos beligerantes tanto no estado de guerra, quanto após seu término (GRÓCIO, 2005b). 2.1.2 As quatro causas justas para a guerra Disso decorre que as causas justas da guerra grociana são basicamente quatro: (a) a guerra é justa quando se objetiva a defesa da vida, tanto quando esta está sendo ameaçada, bem como na iminência de uma ameaça, ou seja, de modo preventivo; (b) pode-se, também, por meio das armas, recuperar um bem que foi injustamente expropriado; (c) a ação bélica serve também para se buscar o que é devido, ou seja, para ver-se cumpridos determinadas convenções ou acordos; e (d) a guerra pode licitamente ser um modo de se aplicar uma punição (GRÓCIO, 2005b). O autor afirma que as causas que levam a humanidade às guerras estão ligadas sempre a violação de Direitos12. Para ele, “não pode haver uma causa legitima da guerra senão uma afronta recebida”. Partindo da interpretação de uma frase de Agostinho de que a iniquidade da parte contrária produz guerras justas, Grócio sustenta que o termo “iniquidade” deve ser entendido como sinônimo de “injúria” e afirma que a maioria dos autores, além desta causa geral, assinalam outras três causas legítimas às guerras, quais sejam a defesa, a recuperação de pertences e a punição (GRÓCIO, 2005b). 12 Interessante observar que a teoria gentiliana também faz uso da lei natural para demonstrar que em face do Direito a guerra pode ser justa. Baseando-se em Cícero, tal qual Grócio, Gentili considerava que, sob certo aspecto, a guerra parece ser contrária à razão humana, segundo a qual os homens devem viver em sociabilidade pacífica. No entanto, observa que essa mesma razão humana prescreve que aqueles que se afastam do “consórcio” humano e violam os Direitos de outrem, sejam punidos, para que se vejam obrigados à observância dos Direitos da sociedade (GENTILI, 2005). 31 Grócio (2005a) ressalva, contudo, que esse Direito de defesa da vida, provém “da natureza que confia a cada um de nós o cuidado de nós mesmos, e não da injustiça ou do crime daquele que nos expõe ao perigo” (p. 287). Nesse sentido, afirma ainda que a morte do agressor não deve ser o objetivo da guerra. Os princípios de caridade devem orientar um agir que prime pela intimidação ou enfraquecimento do agressor e não por sua morte. Segundo ele, isso esta de acordo com o Direito natural, que considerado como lei, não se refere somente as coisas que ordena a justiça expletora, mas traz consigo os atos das outras virtudes que, em determinadas circunstâncias não são somente honestas, mas obrigatórias13. Do exposto, observa-se na teoria grociana não há uma negação do Direito à guerra, mas sim uma tentativa de fazer com que seja empregada nos limites do Direito das gentes e do Direito natural, objetivando a manutenção ou o reestabelecimento da paz. Isso se deve em grande parte ao fato de que o Direito de Grócio nasce na capacidade de sociabilidade e na razão humana constituindo-se em um Direito universal e acessível a todos os povos. O Direito à guerra justa, em última análise, é um meio de legitima defesa14, não apenas do ente público, mas de toda a humanidade em geral e o Direito das gentes traça as os limites em que esta defesa poderá ser posta em prática. Em relação ao jus ad bellum a guerra deve ser o último recurso e sempre a resposta a uma agressão injusta. Em relação ao jus in bellum, a teoria da 13 Este apelo às virtudes naturais pode ser observado em diversas passagens da obra de Grócio. Quando trata dos deveres do vencedor da guerra para com o vencido, afirma que, mesmo tendo o vencedor Direito de aplicar justa punição ao vencido, é sempre “honesto pender, tanto quanto o permitir a segurança, para o lado da clemência e da liberalidade.” (GROTIUS, 2005b). 14 É interessante observar a preocupação grociana em demonstrar que uma punição para ser “justa” precisa estar de acordo com princípios de proporcionalidade e utilidade. Tratando do tema, Grócio desenvolve uma verdadeira teoria das penas, afirmando que a respeito da punição duas coisas precisam ser consideradas: a razão por que e o fim pelo qual, ou respectivamente o merecimento proporcional da pena e a utilidade que se espera dela. A razão por que, abrange a análise dos motivos que levaram ao ilícito e as características do transgressor. Segundo Grócio (2005b), o estudo das razões que “impeliram para o mal” e a “disposição da pessoa” devem levar em consideração características como sexo, idade, educação, temperamento e circunstâncias do ato. O fim pelo qual, determina que as penas devam ser exigidas em vista de alguma utilidade, ou seja, um homem apenas pode punir seu semelhante se houver algum propósito benéfico nisso, caso contrário a pena é mera retribuição, nada mais uma vingança privada. Daí a importância de que a pena mantenha uma correspondência de grandeza com o sujeito. Nesse sentido afirma, citando Sêneca, afirma que a pena sábia é aquela que pune não por que alguém “pecou”, mas para que não se “peque” novamente, ora que o passado é irrevogável, mas o futuro pode ser prevenido. Consequentemente, para assegurar essa prevenção as penas deveria inclinar-se para uma tríplice utilidade: a emenda, o exemplo e a proteção da dignidade ofendida. Nesse contexto, a emenda é apresentada como uma lição que visa tornar melhor aquele que cometeu o ilícito, tirando-lhe, através da consequência dolorosa da pena, o desejo de cometê-lo novamente e, assim, evitando que a delinquência se torne para ele um hábito; enquanto que o exemplo tem fundamentação na certeza da punição, visando impedir que outros indivíduos instiguem-se à delinquência pela impunidade, ou seja, para que “os outros prevejam e temam o que lhes pode acontecer”. Por fim, a terceira utilidade, diz respeito à proteção da dignidade ofendida, que objetiva evitar que a impunidade exponha o ofendido a outros perigos e ofensas decorrentes do ilícito sofrido, seja pelo próprio agressor, seja por outros (GRÓCIO, 2005b). 32 guerra justa determina que devem distinguidos combates lícitos de ilícitos, que os prisioneiros e os oponentes devem, na medida do Direito, serem tratados com humanidade e que os meios empregados na guerra devem ser proporcionais ao objetivo da paz (MACEDO, 2008). 2.2 Direito do pós-guerra Ao longo dos séculos inúmeros pensadores desenvolveram concepções de que apenas o Direito é capaz de estabelecer a ordem necessária para a estabilização das relações internacionais15. O extenso trabalho que Grócio desenvolveu em sua época, ao sistematizar todas as condutas imagináveis em tempos de guerra e analisar quais seriam justas aos olhos do Direito, contribuiu para a evolução desta noção. O autor não apenas se preocupou com o desenvolvimento de uma tese acerca do jus in bellum e do jus ad bellum, mas argumentou também a respeito do que se pode chamar de jus post belum, ou seja, o Direito aplicado após o término do conflito, que visa manter a paz alcançada. Isso porque, como já mencionado, na conceituação de Grócio a guerra é um estado daqueles que lutam pelo poder, de modo que seus efeitos não se restringem apenas ao período 15 Embora não seja este o foco teórico deste trabalho, considera-se impossível falar de paz alcançada pelo Direito sem mencionar Hans Kelsen. Conhecido por sua abordagem normativista do estudo do Direito, Kelsen compreendia que a paz, quando situada no âmbito da Ciência Jurídica, não poderia ser tomada em seu sentido estrito, como ausência total de uso da força, mas no único sentido que o Direito seria capaz de concebê-la: como uma situação de violência controlada, possibilitada pelo monopólio do uso da força a órgãos legitimamente autorizados, que em sua opinião apenas poderia existir com a centralização do Direito. No âmbito internacional isso significaria eliminar o emprego da força como guerra da relação entre os Estados. O autor sabia que na sociedade internacional, marcada por sua descentralização e ausência de um órgão executivo mundial, este tipo de paz seria mais difícil de alcançar, mas acreditava não ser de todo impossível, especialmente através do reconhecimento do Direito Internacional como ordem juridicamente válida e cogente. Assim, em uma memorável obra intitulada A paz pelo Direito, o autor discute duas propostas: 1º a criação de um “Estado mundial”, composto por: um parlamento internacional, em que todas as nações do mundo, ou grande parte delas pudessem ser representadas; um tribunal internacional de jurisdição compulsória; e um órgão central executivo, capaz de impor aos Estados a observância das decisões judiciais do tribunal. 2º a responsabilização individual por violações do Direito internacional, ou seja, de indivíduos que, como membros do governo, comandam ou autorizam atos que violam o Direito internacional provocando ou recorrendo à guerra. Sabendo que um “Estado mundial” seria algo muito difícil de se alcançar, Kelsen propôs ao final da obra a criação do que chamou de “Liga” de nações-potência que contassem com um tribunal de jurisdição compulsória, com um órgão sancionador e que contemplasse a punição individual por violações ao Direito Internacional (KELSEN, 2011). Na prática, estes ideais kelsenianos influenciaram muito a institucionalização do Direito internacional - sua proposta de uma organização composta pelas nações-potência que contasse com um órgão sancionador se personalizou com a criação da ONU em 1945 que tem como órgão “sancionador” o Conselho de Segurança; já sua proposta de responsabilização individual por violação ao DI se personalizou juntamente com o ideal de um tribunal internacional de jurisdição compulsória, em 1998 com a assinatura do Estatuto de Roma que instituiu o Tribunal Penal Internacional, único tribunal permanente em matéria penal e com jurisdição sobre pessoas responsáveis por crimes de maior gravidade com alcance internacional (no Brasil promulgado pelo Decreto nº 4.388, de 25 de setembro de 2002). 33 em que se desenvolve determinada guerra, mas se protraem no tempo, fazendo necessário que haja, portanto, também um Direito do pós-guerra. Observe-se, no entanto, que é apenas nas teorias que aceitam a ideia da guerra justa que esse Direito do pós-guerra vai aparecer e, ainda assim, muitas vezes subsumido no conceito de jus in bellum. De acordo com alguns internacionalistas contemporâneos, existe uma falta de interesse dos teóricos da guerra justa em trabalhar o jus post bellum como categoria independente. O motivo desse desinteresse se deve, em grande parte, pela dificuldade que geralmente existe em determinar o momento exato em que termina uma guerra, restando dúvidas em saber em que ponto determinadas convenções e tratados deixam de fazer parte do jus in bellum e passam a integrar um Direito pós-conflito (OREND, 2008). Isso ocasiona uma das maiores críticas feitas pelo pacifismo à teoria da guerra justa, qual seja que esta é uma doutrina complacente com a guerra e não se importa em estudar o porquê esta ocorre e como evitá-la. Quando se deixa de trabalhar, ou melhor, traçar os limites do Direito que surgirá após o conflito, corre-se o risco de, ao invés de cultivar aquela paz perpetua desejada por Kant, dar ensejo a novas rivalidades. Um exemplo disso pode ser visto no Tratado de Versalhes que indicou o término oficial da Primeira Guerra Mundial. Entre outras disposições, este tratado impôs sanções à Alemanha, obrigando-a a aceitar as responsabilidades da guerra, o que incluía perda de uma parte de seu território, restrições à seu exercito e o pagamento dos “custos da guerra”. Estas disposições criaram graves dificuldades econômicas ao povo alemão e, ao invés de suscitar a paz almejada, criaram o ódio que abriu o espaço para a ascensão do nazismo, que culminou na eclosão da Segunda Guerra Mundial, uma das mais atrozes que a humanidade já presenciou (OREND, 2008). Discorrendo acerca dos aspectos que deveriam compor o Direito do pós-guerra David Rodin (2008) estuda o que chamou de questionamentos relevantes para a construção de uma “ethical theory of war”, teoria ética da guerra (p. 53). Para o autor, as questões centrais deveriam incluir as seguintes indagações: quais são as obrigações das forças de ocupação? Têm os vencedores o Direito de mudar os arranjos domésticos políticos e institucionais do vencido ou forçar uma mudança de regime? Não têm também os vencedores a obrigação de ajudar na reconstrução econômica? Têm os agressores, mesmos que vencedores, o dever de indenizar as vitimas de agressão? Como devem ser punidos os autores de uma guerra injusta? 34 Grócio, muito embora não tenha trabalhado nominalmente com a teoria do jus post bellum, traz em sua obra vários aspectos desta noção. No segundo livro de sua obra O Direito da guerra e da paz o autor traz uma gama de considerações a respeito. A respeito de como se deve buscar e aplicar a paz no pós-guerra, é interessante mencionar primeiramente a que se refere à interpretação das cláusulas paz. Segundo Grócio (2005b), sempre que surgirem dúvidas a respeito do que foi acordado, deve-se tomar o que é mais favorável no sentido mais amplo, e dar ao que é mais desfavorável um significado bem mais restrito. Nas palavras do autor, “deve-se nos tratados tomar a interpretação que torne mais possivelmente igual a condição das partes, com relação à justiça da guerra” (p. 1385-1386). Ademais, percebe-se em diversas explanações de Grócio um apelo à clemência, pois acreditava que “é dar um nobre fim à guerra sempre que o perdão faz a acomodação”. Isso se evidencia, por exemplo, nas passagens em que o autor fala dos deveres do vencedor da guerra para com o vencido. Afirma que, mesmo tendo o vencedor Direito de aplicar justa punição ao vencido, é sempre “honesto pender, tanto quanto o permitir a segurança, para o lado da clemência e da liberalidade” (p. 1412). Ademais, tratou de incluir na sua teoria da guerra justa duas exortações que, segundo ele, poderiam “servir na guerra e depois da guerra, para inspirar o cuidado pela boa-fé e pela paz”. A primeira exortação refere-se à boa-fé, expressa no respeito ao que for acordado, a fim de garantir a manutenção do acordo de paz. Já a segunda exortação, embasada nas palavras de Agostinho de que “não se deve procurar a paz para se preparar para a guerra, mas fazer a guerra para ter a paz”, expressa a necessidade de que mesmo em estado de guerra não se pode perder de vista o objetivo maior da paz (GRÓCIO, 2005b). 2.3 A possibilidade de intervenção na doutrina da guerra justa grociana Antes de partir para a abordagem intervenções humanitárias, objeto dos dois próximos capítulos, é necessário permanecer por um pouco ainda na discussão da guerra justa, pois nela não apenas começaram a se desenvolver os primeiros esboços do Direito internacional, mas também do Direito humanitário e da questão da intervenção. Conforme mencionado oportunamente, o objetivo geral desta doutrina foi o de estabelecer as causas justas, ou lícitas, para a guerra. Viu-se que Hugo Grócio, no seu Direito da Guerra e da Paz chegou a conclusão de que seriam quatro as causas de uma guerra justa: (a) a guerra é justa quando se objetiva a defesa da vida, tanto quando esta está sendo ameaçada, bem como na 35 iminência de uma ameaça, ou seja, de modo preventivo ‒ leia-se legítima defesa (b) para recuperar um bem que foi injustamente expropriado; (c) para ver-se cumpridos determinadas convenções ou acordos; e (d) como um modo de se aplicar uma punição (GRÓCIO, 2005b). Outrossim, especialmente no que diz repeito a guerra empregada como legitima defesa, Grócio se deparou com uma importante questão: é lícito a um Estado empreender a guerra na defesa do povo de outro Estado? O autor responde esta pergunta fazendo duas ponderações muito perspicazes. Reconhece que os Estados investidos em poder soberano tem autonomia sobre seus atos. Porém, justamente por estarem investidos em tal poder tem para com os seus cidadãos um dever de moralidade e justiça. E mais, este dever não fica constrito no território estatal, mas que deve ser estendido a toda a humanidade. Assim, sempre que um governo violasse o Direito natural, Grócio entendia que a intervenção externa para contê-lo seria justa, ou seja, legitima. Isso porque, nas palavras do autor, “cada indivíduo não é somente vingador de seu próprio Direito, mas [...] é também daquele de outrem” (GRÓCIO, 2005b, p. 981). Esta é a “lei de solidariedade” que, nas palavras de Mario Bettati (1996) vemos no Direito de guerra de Grócio, que é considerado o primeiro autor da modernidade a trabalhar com a hipótese de intervenção para defesa de Direitos. Na prática, porém, a intervenção somente era tida como lícita na comunidade internacional de Estados em com uma condição: a autorização do Estado que receberia a intervenção. Essa foi a realidade das intervenções por muitos séculos. De fato, cada vez mais o principio da não-intervenção se fortalecia e com ele os obstáculos da soberania. Ensina Celso D. de Albuquerque Mello (1997) que até o século XIX não haviam normas de Direito Internacional que proibissem os Estados de maltratar os seus súditos, então outros Estados passaram a reivindicar o uso da força para impedir que isto ocorresse, fato percebido, por exemplo, nas intervenções dos Estados europeus no Império Otomano para impedir o massacre de cristãos. Mas estas ações, quando não consentidas pelo Estado que sofria a intervenção eram tomadas como atos de guerra e por vezes ao invés de auxiliar acabavam por fomentar ainda mais os conflitos. Na realidade poderia ser acrescido ao raciocínio acima um caráter mais perverso da evolução das intervenções humanitárias, já que é sabido que as ordens missionárias religiosas por vários séculos mascararam, sob argumento da solidariedade, as violentas conquistas 36 territoriais aos povos não-cristãos. É neste sentido que ainda hoje há a desconfiança por parte de alguns autores em saber até que ponto, sob a bandeira da intervenção humanitária, não se estaria por permitir uma nova forma de colonialismo (MELLO, 1997). Refletindo a esse respeito é que Breno Hermann (2011, p. 147) ao trabalhar a temática da intervenção frente à soberania nacional, formula uma importante indagação, digna de ser colacionada e que, segundo ele, consiste no principal dilema da política internacional contemporânea, qual seja: “seria permissível ou mesmo desejável para um Estado intervir nos assuntos internos de outro para fazer cessar abusos de Direitos humanos?”. Para responder tal indagação é necessário que se faça uma retomada do conceito histórico de soberania e de Direitos humanos, discussão que será objeto do próximo capítulo. 37 3 O CONCEITO DE SOBERANIA E SUA RELATIVIZAÇÃO Neste capítulo serão analisadas questões intrínsecas ao ambiente em que se desenvolveu a discussão a respeito das intervenções humanitárias. Em um primeiro momento será abordado o tema da soberania, explanando-se acerca da evolução do seu conceito no âmbito de desenvolvimento da relação entre os Estados. Em seguida será analisada a limitação da soberania em face da estruturação da sociedade internacional contemporânea, pautadamente na transformação decorrente da instituição da Organização das Nações Unidas ‒ ONU e da relativização de um dos princípios basilares da soberania, a saber, o princípio da não-intervenção. Por fim, serão trabalhadas as noções de Direitos Humanos e Direito Humanitário. 3. 1 Nascimento e mutação do conceito de soberania no plano internacional 3.1.1 Considerações iniciais As primeiras noções acerca da soberania surgem com a instituição dos Estadosnação. Como bem ensina Luigi Ferrajoli (2007), o paradigma da soberania como poder supremo que não reconhece outro acima de si ‒ suprema potestas superiorem nom recognoscens ‒ remonta ao nascimento dos grandes Estados nacionais europeus e à construção moderna da ideia de um ordenamento jurídico universal. Antes da consolidação dos estados nacionais foram os teólogos espanhóis do século XVI e, destacadamente Francisco de Vitoria com a noção de communitas orbis, os responsáveis pela construção das bases do conceito moderno de Estado como sujeito soberano. Naquela época, a fundamentação do conceito de soberania embasava-se, essencialmente em três fatores: (a) o desenvolvimento do Direito das gentes; (b) a busca por uma nova legitimação às conquistas europeias dos povos livres e (c) a reformulação da doutrina cristã da guerra justa. De acordo com Vitória, o Direito das gentes se inseriria no contexto de nascimento de uma noção cosmopolita de soberania. Apontava que, muito embora a ordem mundial se configurasse como uma sociedade de repúblicas livres e independentes, igualmente soberanas, deveria estar subordinada a um único Direito, o jus jentium, que teria por objetivo vincular os Estados não somente como Direito dispositivo, mas também como Direito cogente com força de lei. Esse Direito das gentes deveria, na visão de Vitoria, advir da “autoridade do mundo 38 inteiro”, ou seja, da humanidade como pessoa moral representativa de todo gênero humano. Ademais, a necessidade de encontrar nova legitimação às violentas conquistas europeias dos povos livres, culminou na teorização de uma serie de Direitos naturais dos povos e dos Estados, que acabaram por fornecer o alicerce ideológico do caráter eurocêntrico do Direito internacional, destacando seus valores colonialistas e até mesmo incitando suas vocações belicistas. Unida a isso, a reformulação da doutrina cristã da guerra justa, redefinida como sanção jurídica a ofensas sofridas, deu o sentido de que, estando os Estados soberanos submetidos ao Direito das gentes e na falta de uma jurisdição superior para dirimir seus conflitos, estariam autorizados a utilizar a guerra para resolver suas controvérsias. Mais tarde, porém, com a consolidação dos Estados nacionais no século XVII, o modelo de soberania cosmopolita pensado por Vitoria entra em crise, dando espaço para a total secularização desta noção, destacadamente pela releitura proposta por Hugo Grócio (FERRAJOLI, 2007). Baseado na doutrina dos estoicos e livre da autoridade eclesiástica, Grócio (2005a) conseguiu separar a lei natural de suas bases teológicas e cristãs e, ao fazer isso, pôde situar o Direito à margem dos conflitos religiosos da época, retomando sua base humana e racional. Para Grócio, o homem não é um ser social em decorrência de seu próprio egoísmo, mas sim porque a natureza o fez dotado de instintos inatos de sociabilidade. Assim, a sociabilidade humana na argumentação grociana constitui a base ontológica tanto da comunidade, como do Direito e influencia também a sua teoria política. 3.1.2 O conceito de soberania em Hugo Grócio A teoria política de Grócio parte da distinção de Direito natural e Direito positivo. Para o autor, diferentemente do Direito natural, que “nos é ditado pela própria razão” e está além da vontade dos homens, o Direito positivo ou civil, é um Direito voluntário, decorrente do poder civil. Nesse sentido, o poder civil é o que esta à frente do Estado, sendo este uma união perfeita de homens livres associados para usufruir da proteção das leis e para a manutenção do bem comum. Pautado em Aristóteles, Grócio afirma que o poder civil se caracteriza por três aspectos, os quais são partes constitutivas da soberania: “a deliberação sobre os negócios comuns, o cuidado de eleger magistrados e a concessão da justiça” (p. 174). Diante disso, a soberania surge como poder supremo, que tem por objeto comum o Estado e como objeto próprio a pessoa ou coletividade a qual foi concedido o poder civil (GRÓCIO, 2005a). 39 Observe-se que ao tratar da soberania, Grócio contempla simultaneamente os conceitos de soberania interna e externa. Para ele, na medida em que o governo e a legislação dentro de cada Estado compõem a soberania interna e a soberania externa consiste na relação entre estes Estados, o mundo se configura como uma sociedade de estados soberanos. Assim, diante da ausência de um poder superior sobre todos os Estados, cada um precisaria seguir determinadas regras jurídicas nas relações com os demais, bem como nas relações para com seus súditos, regras estas advindas do Direito natural e do Direito das gentes, este último especialmente no tocante os acordos firmados internacionalmente (GRÓCIO, 2005a). Nesse sentido, a soberania em Grócio, embora ainda fosse abordada em seu paradigma absoluto, comportava algumas exceções. De fato, ao tratar de hipóteses em que os súditos poderiam promover a guerra contra os governantes do Estado, o autor elegeu sete exemplos de situações em que o poder soberano poderia ser suplantado, dentre os quais pode se destacar três, pela atualidade de sua abordagem: (a) para punir o governante que viola as leis do Estado; (b) contra o governante que se declara abertamente inimigo de seu povo; (c) quando na legislação do Estado é prevista a liberdade de resistência em determinados casos (GRÓCIO, 2005a). Observa-se com isso que Grócio acreditando no potencial de sociabilidade e racionalidade humana apostava ser possível que os Estados, ainda que detentores de um poder soberanos absoluto, pudessem através da observância do Direito e de princípios mínimos de moral alcançar um mínimo de paz e legalidade tanto nas suas relações externas. Mas o posicionamento grociano, que buscava quase que um meio termo aristotélico para o exercício da soberania, foi voz minoritária dentre os defensores da soberania absoluta, dos quais se destacarão em sequência Thomas Hobbes e Jean Bodin. 3.1.3 Do absolutismo à relativização Na teoria contratualista hobbesiana, o caráter absolutista da soberania ganha mais ferocidade, especialmente pela formulação metáfora da personalidade do Estado para designar uma fonte normativa suprema e não derivada ‒ o Estado-pessoa. De acordo com Hobbes, o Estado visto como pessoa artificial leva a entender a soberania como sendo uma essência, uma “alma artificial” e, concomitantemente, como poder absoluto. Assim, não existindo fontes normativas a ele superiores, o Estado deteria também uma soberania externa. Ocorre 40 que, essa sua soberania externa quando contraposta à igual soberania externa dos outros Estados acabaria por culminar em um estado de poder selvagem, o que Hobbes chamou de bellum omnium, guerra de todos contra todos, constituindo os Estados soberanos em verdadeiras feras ‒ “leviatãs” ‒ em permanente estado de natureza16 (FERRAJOLI, 2007). Portanto, na lição de Hobbes o recurso ao uso da força apresenta-se como instrumento legítimo na defesa dos interesses dos Estados isoladamente considerados, que se pautam a partir de uma política de poder e de uma visão de segurança individual de uns perante os outros. Nesse cenário, a única maneira de garantir a paz seria através do estabelecimento de uma política de limitação de poder que fosse capaz de restringir a tendência natural dos Estados para a expansão da conquista de territórios e de poder no sistema internacional (BEDIN, 2011b). Mas foi na Modernidade que a noção de estado soberano, ainda pautada nos moldes absolutistas, consolidou-se nas relações internacionais, especialmente no período que sucedeu ao acordo de Vestfália. Este acordo, chamado “Paz de Vestfália” ou, ainda “Tratado de Münster e Osnabrück” (cidades em que foi ratificado), consistia em um tratado assinado pelo imperador Ferdinando III com a Suécia e a França em 24 de outubro de 1648, pondo fim a Guerra dos Trinta Anos (1618-1648) que teve como cerne a discórdia religiosa entre cristãos ortodoxos e protestantes pelo domínio europeu. O resultado deste acordo, em que estiveram presentes mais de trezentos herdeiros representantes das forças políticas mais importantes da Europa, foi o reconhecimento de um novo ordenamento jurídico entre os reinos europeus, através da ideologia do Estado soberano: a chamada Razão de Estado. Em decorrência disso, o Sacro Império Romano-Germânico foi reduzido a uma mera ficção e a soberania erigida a fundamento basilar da estrutura estatal. Grande parte disso porque, atrelado ao princípio da soberania encontrava-se outro ainda mais forte, o principio da não-intervenção, elemento decisivo na garantia da paz, na medida em que representava uma barreira às hostilidades religiosas na Europa, já que as questões pertinentes à religião nacional passavam a ser da alçada privativa do soberano (SILVA, 2009). 16 Afirma Ferrajoli (2007) este estado da natureza no qual, na visão de Hobbes, encontram-se os estados nacionais em vista de sua soberania externa, acaba mais tarde por fundamentar a teoria da ausência de limites à acumulação capitalista, elaborada por John Locke, teoria esta que serviu de argumento legitimador da apropriação colonizadora das terras incultas americanas. 41 É a partir deste momento histórico que o Estado moderno se apresenta na sociedade internacional como um verdadeiro poder soberano, livre de qualquer dependência ou subordinação a outros poderes inferiores ou superiores. Nas palavras de Gilmar Bedin (2011a, p. 24), [...] no momento da Paz de Vestfália (1648) ou do Tratado de Vestfália, o Estado moderno já está fortemente amparado por sólida estrutura política, econômica e militar. Com isso, a sociedade internacional, ao contrário de uma sociedade política interna de cada nação, passa a ter uma condição que poder ser designada - segundo a terminologia de Thomas Hobbes (1988) - de estado de natureza. Esta é uma das condições definidoras da sociedade internacional clássica. A partir desta nova configuração, de predomínio dos Estados soberanos nas relações internacionais, as políticas internacionais passam a ser definidas a partir de interesses pautados em termos de poder. A guerra passa a ser vista como meio legítimo na preservação dos interesses individuais das nações “e o conceito de ‘razão de estado’ como questão central de uma política internacional que submete todos os valores éticos e jurídicos às necessidades e aos objetivos do poder” (BEDIN, 2011b, p. 102). O conceito de soberania Vestfaliano ‒ que perdurou até meados do século XIX ‒ adequava-se bastante aos moldes teorizados por Jean Bodin. Este filósofo escreveu justamente durante o momento histórico de dissolução das estruturas feudais e advento da reforma protestante e pretendia encontrar uma base em que a harmonia da comunidade política internacional pudesse ser estabelecida, vendo o poder soberano como o instrumento necessário para esse fim. Essa sua visão desviava a detenção do poder centrado na pessoa do governante para depositá-la na comunidade política, constituída em Estado individual - que era capaz de exercer a autoridade executiva e legislativa no interior de seus territórios, mas que num posicionamento internacional era incapaz de coadunar seus interesses ao das demais unidades políticas que compunham o sistema internacional (BEDIN, 2009). Ensina Ferrajoli (2007), que essa realidade absolutista das relações internacionais é resultado do caminho oposto que seguiram soberania externa e soberania interna, especialmente no período que circunda o nascimento do Estado de Direito e dos ideais de democracia, da metade do século XIX à metade do século XX: Quanto mais se limita - e, através de seus próprios limites, se autolegitima - a soberania interna, tanto mais se absolutiza e se legitima, em relação aos outros Estados e sobretudo em relação ao mundo ‘incivil’, a soberania externa. Quanto 42 mais o estado de natureza é superado internamente, tanto mais é reproduzido e desenvolvido externamente. E, quanto mais o Estado se juridiciza como ordenamento, tanto mais se afirma como entidade auto-suficiente, identificando-se com o Direito, mas ao mesmo tempo, hipostasiando-se como sujeito não-relacionado e legibus solutos (p. 35). Por fim, conforme continua Ferrajoli (2007) esse paradigma da soberania externa absolutista atinge seu apogeu e simultaneamente sua queda na primeira metade do século XX, com o advento das duas grandes guerras mundiais, que forçaram a modernidade ao desenvolvimento de um Direito internacional cogente, capaz de ultrapassar os limites do poder estatal e estabelecer normas de convivência humanitária pautadas no objetivo da manutenção da paz. É neste momento que começam a esvanecer todos os antigos pressupostos da soberania, seja no campo interno, como externo. Internamente, com o advento do estado constitucional de Direito. E externamente, frente ao desenvolvimento de um Direito internacional mais normatizado e institucionalizado, que surge como um Direito vinculador também aos Estados, através de um sistema de normas cogentes. Some-se a isso o fato de que, nesta nova sociedade, não apenas os Estados tem atuação, mas dividem espaços com novos sujeitos de Direito internacional. Desta forma as bases da noção de soberania passam a ser repropostas no plano internacional, ocasionando uma progressiva limitação desse conceito, notadamente com o desenvolvimento de organizações internacionais, dentre as quais se destaca a Organização das Nações Unidas. 3.2 A instituição da ONU e a relativização do principio da não-intervenção Viu-se no item anterior que na vigência da soberania vestfaliana, havia um controle definido acerca da tomada de decisões nos limites das fronteiras dos Estados. Naquela época, o soberano tinha total autoridade sobre os assuntos internos da nação, autoridade esta que se refletia também nas relações externas do Estado ‒ se dentro de suas fronteiras nenhum poder interno a ele poderia ser superior, também externamente nada poderia ultrapassar suas prerrogativas. O advento das novas relações internacionais e o desenvolvimento de um Direito internacional mais vinculativo e universalista, porém, abalou essa supremacia especialmente após o término da II Guerra Mundial. A dinâmica das relações internacionais no cenário do pós-guerra ocasionada pela introdução de novos atores no cenário internacional como, por exemplo, organizações não-governamentais, empresas transnacionais e organismos 43 internacionais, gerou o fortalecimento de vínculos diversos de interdependência que tornaram estas relações cada vez mais complexas, que ocasionou a necessidade de transportar para o âmbito internacional, algumas características institucionais dos Estados nacionais, como a existência de um organismo central capaz de estabilizar as relações internacionais 17 (BEDIN, 2009). 3.2.1 Sobre a Organização das Nações Unidas Foi esse contexto das relações internacionais que fez surgir a Organização das Nações Unidas - ONU18. Como organização internacional representante e garantidora dos interesses da sociedade internacional, a ONU tem como principais propósitos: manter a paz e segurança internacionais (alínea 1); desenvolver relações amistosas entre as nações, baseadas no respeito ao princípio de igualdade de Direitos e de autodeterminação dos povos (alínea 2); promover a cooperação internacional e a defesa dos Direitos humanos e liberdades fundamentais (alínea 3); ser uma instituição central de harmonização dos demais propósitos (alínea 4). No cumprimento desses objetivos é de se destacar umas das primeiras e talvez mais relevantes atuações da ONU, as operações de “descolonização”, que tem como fundamento o princípio da autodeterminação dos povos, consagrado na Carta de 1945 e objetivavam auxiliar na construção de ordem internacional vigente. Movimentos de libertação das populações oprimidas por governos autocráticas já existiam antes das Guerras Mundiais, mas com os 17 Ensina Bedin (2009) que três grandes características justificam esta complexidade: (a) as relações internacionais possuem canais múltiplos de conexão no interior da sociedade internacional, configurando-se não apenas como relações interestatais, que são os canais normais de relações entre os governos estatais, mas configuram-se também como relações transgovernamentais, estabelecidas para além dos governos dos Estados, e transnacionais, que superam os pressupostos dos Estados-nação, indo além de suas estruturas; (b) a agenda política internacional possui multiplicidade de temas que, muitas vezes, dada sua relevância, superam o distanciamento entre temas internos e externos; (c) diante dos impactos além-fronteiras resultantes dos conflitos advindos dessa complexidade internacional, a força militar perde em parte sua eficácia e dá espaço para novas formas de composição de conflitos. 18 De acordo com informações do site ONU Brasil, “o nome Nações Unidas foi concebido pelo presidente norteamericano Franklin Roosevelt e utilizado pela primeira vez na Declaração das Nações Unidas, de 1º de janeiro de 1942, quando os representantes de 26 países assumiram o compromisso de que seus governos continuariam lutando contra as potências do Eixo. A Carta das Nações Unidas foi elaborada pelos representantes de 50 países presentes à Conferência sobre Organização Internacional, que se reuniu em São Francisco de 25 de abril a 26 de junho de 1945. As Nações Unidas, entretanto, começaram a existir oficialmente em 24 de outubro de 1945, após a ratificação da Carta por China, Estados Unidos, França, Reino Unido e a ex-União Soviética, bem como pela maioria dos signatários. [...] Hoje em dia, a estrutura central da ONU fica em Nova York, com sedes também em Genebra (Suíça), Viena (Áustria), Nairóbi (Quênia), Addis Abeba (Etiópia), Bangcoc (Tailândia), Beirute (Líbano) e Santiago (Chile), além de escritórios espalhados em grande parte do mundo.” (disponível em: http://www.onu.org.br/conheca-a-onu/a-historia-da-organizacao/. Acesso em: out. 2014). 44 horrores do holocausto ganharam mais força e a maioria dos processos de descolonização ocasionou disputas ferrenhas entre as colônias em busca de libertação e metrópoles que tinham por objetivo manter seu poder, principalmente nas regiões africanas e asiáticas. Foi nestes conflitos que a Assembleia Geral da ONU e o Conselho de Segurança tiveram participação decisiva, através da instituição de comissões especiais para tratar do tema e pressionando as metrópoles para que se adequassem a nova lógica internacional (DIAS, 2007). Esta atuação da ONU resultou, ainda, na consagração da Organização como verdadeira representante de uma comunidade internacional ‒ e não apenas dos interesses das grandes potências mundiais ‒ na medida em que permitiu que nações ditas menos desenvolvidas pudessem influenciar a agenda internacional. Isso ajudou a fortalecer também a influência normativa da ONU nas soberanias estatais, uma vez que questões de Direito, especialmente de Direitos humanos, começaram a ganhar caráter cada vez mais universal (DIAS, 2007). De fato, no plano normativo, a promulgação da Carta das Nações Unidas fomentou mais ainda a crise da soberania, principalmente após o advento da Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948. Isso porque, como acertadamente ensina Ferrajoli (2007), foi a partir desses dois documentos que a soberania começou a abandonar de vez seu caráter de liberdade selvagem, subordinando-se juridicamente ao imperativo da paz e a garantia dos Direitos humanos. De fato, por um lado o veto à guerra, sancionado no preâmbulo e nos dois primeiros artigos da Carta da ONU, suprime aquele ius ad bellum que, de Vitória em diante, foi o principal atributo da soberania externa e representa, portanto, a norma constitutiva da juridicidade do novo ordenamento internacional. Por outro lado, a consagração dos Direitos humanos na Declaração de 1948 e depois nos Pactos internacionais de 196619 atribuiu a esses Direitos, antes apenas constitucionais, um valor supra-estatal, transformando-os de limites exclusivamente internos em limites agora também externos ao poder dos Estados (FERRAJOLI, 2007, p. 40). Na realidade, com o advento da Carta da ONU e dos tratados que lhe sucederam, que representaram um passo decisivo no desenvolvimento Direito internacional, a questão que se impôs na sociedade internacional é, nas palavras de Hans Kelsen (2010, p. 540) “sobre se o 19 Destaque-se o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. 45 Direito Internacional é ou não pressuposto como sendo superior20 ao Direito Nacional”. Kelsen sabiamente compreendia que apenas como ordem normativa, não como pessoa atuante, poderia o Estado ser soberano em seu verdadeiro sentido: Na medida em que por “Estado” se entende uma ordem social, especialmente uma ordem jurídica nacional, a ideia de que a ordem jurídica nacional seja a suprema autoridade jurídica pode ser expressa na afirmação de que o Estado é soberano. Essa é a maneira usual de falar de soberania. Quando, porém, está em questão o Estado como pessoa jurídica - como sujeito de obrigações, responsabilidades e Direitos nacionais e internacionais -, então o Estado não pode ser considerado soberano no sentido de suprema autoridade. Isso porque o Estado, como sujeito de obrigações, responsabilidades e Direitos, deve sempre ser tido como sujeito a uma ordem jurídica, ainda que a sua própria, isto é, a ordem jurídica nacional, o Estado não pode ser considerado suprema autoridade. [...] Por isso afirmar que o Estado é soberano significa que a ordem jurídica nacional é ordem sobre a qual não há outra ordem superior. A única ordem concebível como superior é a ordem jurídica internacional (KELSEN, 2010, pp. 539-540). Kelsen conclui afirmando o Direito Internacional, quando reconhecido como ordem jurídica válida, estabelece superioridade sobre o Direito Nacional por meio de seu princípio da efetividade, que determina a esfera e o fundamento de validade do Direito Nacional. Até porque, se o Direito Nacional fosse considerado superior ao Direito Internacional, isto faria do Estado a que pertence aquele Direito “o centro soberano do mundo do Direito” (p. 545) e isso excluiria as outras ordens jurídicas nacionais, refutando seu caráter de igualdade e sua soberania (KELSEN, 2010). Esta análise de Kelsen se torna extremamente interessante quando lida em conjunto com um dos princípios invocados na Carta da ONU, segundo o qual “a Organização é baseada no princípio da igualdade de todos os seus Membros” (art. 2º, alínea 1). Percebe-se que, em uma lógica de soberania absoluta esta igualdade não se sustenta, uma vez que cada Estado é soberano também em relação aos demais, ocasionando que as respectivas soberanias sejam reciprocamente conflitantes. Agora, se considerar-se que estes Estados estão sujeitos e limitados por um Direito internacional, válido e cogente, capaz de vinculá-los independentemente de suas soberanias, então será possível falar em igualdade e, a partir disso, em interesses comuns e em manutenção da paz. 20 Kelsen usa o termo “superior” como expressão figurativa para indicar a existência de uma ordem jurídica válida da qual se derivam os fundamentos de validade de todas as outras ordens. 46 3.2.2. A Carta da ONU e o princípio da não-intervenção Analisando-se alguns dos tratados adotados pela Assembleia Geral da ONU no decorrer dos anos, percebe-se que questões relacionadas ao ordenamento jurídico interno de cada nação passam a integrar também a “legislação” internacional21. Mas no âmbito desta progressiva limitação à soberania estatal, outro fator pode ser levantado, qual seja a relativização promovida pela Carta da ONU ao princípio da não-intervenção. No § 7º do art. 2º, que trata dos princípios adotados pelos estados membros, a Carta esclarece que Nenhum dispositivo da presente Carta autorizará as Nações Unidas a intervirem em assuntos que dependam essencialmente da jurisdição de qualquer Estado ou obrigará os Membros a submeterem tais assuntos a uma solução, nos termos da presente Carta; este princípio, porém, não prejudicará a aplicação das medidas coercitivas constantes do Capitulo VII. Observe-se que em um primeiro momento a Carta proíbe as nações unidas de intervirem nos assuntos de jurisdição doméstica de “qualquer” Estado22, ou seja, não apenas de seus membros. Alerta, todavia, que estão excluídas desta proibição as medidas coercitivas contidas no Capítulo VII que trata das ações relativas às ameaças à paz, à ruptura da paz e aos atos de agressão. Isso implica que pode o Conselho de Segurança empreender ações de execução, ainda que com o emprego da força, para manter ou restabelecer a paz e a segurança internacionais; implica também que se um Estado-membro, mesmo não sendo obrigado a submeter seus assuntos às soluções previstas na Carta, resolve utilizar a força para resolver suas controvérsias com outra nação, poderá ser objeto de intervenção, caso se constate que sua ação coloque em risco a paz internacional (DIAS, 2007). Observa-se, portanto, que na nova composição da sociedade internacional o papel da soberania estatal, de diversas formas, tem sido fortemente reestruturado pelo Direito Internacional. O interessante disto, é que representa não apenas um avanço normativo, mas 21 Nesse sentido destaque-se, entre outros: Convenção para a prevenção e a repressão do crime de genocídio (1948); Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (1965); Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (1966); Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966); Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres (1979); Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (1982); Convenção sobre os Direitos da Criança (1989); Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares (1996); Convenção Internacional para a Supressão do Financiamento do Terrorismo (1999); Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (2006). 22 A Assembleia Geral aprovou uma série de resoluções reafirmando o principio da não intervenção, das quais se pode destacar a Resolução 2131 (XX) de dezembro de 1965, sobre a inadmissibilidade da intervenção em assuntos internos e a Resolução 2625 (XXV), que traz a declaração sobre os princípios do Direito Internacional relativos a relação amistosa e cooperação entre os Estados de acordo com a Carta. 47 também sinaliza um avanço social, na medida em que se percebe que a própria “sociedade dos seres dotados de razão” tem buscado a efetivação de um maior respeito àqueles Direitos inerentes a toda a humanidade. Como muitos estudiosos têm argumentado, na nova dinâmica das relações internacionais o Estado soberano perdeu o papel de destinatário principal do Direito internacional, cedendo este protagonismo ao indivíduo ‒ “pessoa humana”. Disso decorre que a noção de soberania estatal não está mais circunscrita a um único povo em determinado território, mas no ser humano, onde quer que se encontre. 3.3. Direitos Humanos e Direito Humanitário Ao trabalhar a temática dos Direitos humanos no âmbito dos conflitos armados, Celso D. de Albuquerque Mello (1997) deparou-se com a necessidade de estabelecer a correlação entre o Direito Internacional Humanitário e o Direito Internacional dos Direitos Humanos. Afirma que muito embora a noção de Direito humanitário tenha surgido anteriormente a de Direitos humanos, o Direito Humanitário é, atualmente, um ramo do Direito Internacional dos Direitos Humanos, apresentando cada qual características próprias, mas que tem em comum o objetivo central de proteção à pessoa humana. Tomando-se por base que Mello (1997) está correto em afirmar que, do ponto de vista internacional hodierno, o Direito humanitário pertence ao ramo dos chamados Direitos humanos, é necessário abordar, ainda que brevemente no que consistem tais Direitos isoladamente analisados. 3.3.1. Direito Internacional dos Direitos Humanos A origem dos Direitos humanos não é pacífica entre os juristas. Muitas teses têm sido levantadas a esse respeito e podem ser classificadas em três categorias (MELLO, 1997, p. 13): a) “A tese da origem política” é de que tais Direitos teriam surgido de “uma vontade de protesto coletivo” vez que havia uma ameaça do arbítrio ou “riscos de despotismo”. Nesta posição estão os autores do século XVIII como James Otis (1725-1783), e Samuel Adams (1722-1803) que foram os primeiros protagonistas desde 1772 das Declarações de Direitos Americanos. Dentro desta concepção ele colocou os que alegam ser o Iluminismo como Rousseau, os que contribuíram para os Direitos do homem. b) Os Direitos do homem têm origens essencialmente religiosas. É a tese de Jellinek e Welzel. Ela se fundamenta no “pensamento protestante reformado anglo-saxão” desenvolvido no Novo Mundo, na dissidência congregacionista de Roger Williams. Defende a separação da Igreja e do Estado. 48 Afirma a liberdade de religião do indivíduo perante a “autoridade política” [...]. c) Os que defendem “uma origem meramente contingente, de natureza histórica” [...] a expressão doutrinária dos “Direitos históricos” dos colonos ingleses da América e um “momento privilegiado” da história de suas relações com a metrópole. Ademais, há aqueles que veem a origem dos Direitos humanos na escola do Direito natural do século XVII e outros que afirmam que os Direitos humanos teriam origem mais recente, tendo surgido em documentos elaborados após a Segunda Guerra Mundial. O fato é que está novamente correto Mello (1997, p. 14) ao afirmar que “o aparecimento dos Direitos do homem devido a sua complexidade não pode ser atribuído a um único fator”. De um modo geral, observa-se que são três os fundamentos que foram de maior relevância para a formação dos Direitos humanos: (a) o Direito natural; (b) as teorias contratualistas e (c) a noção de Direito subjetivo. A doutrina do Direito natural ensina que existem normas de natureza social e racional do homem, que são preexistentes ao Direito positivado. Especialmente em sua corrente moderna, o Direito natural procura suprimir o lado metafórico de sua existência e dirige sua atenção ao homem concreto e real, que passa a ser valorizado, abrindo-se, assim, as portas para uma noção mais ampla de Direito natural, os Direitos dos homens. Nesta lógica, as teorias contratualistas têm sua contribuição porque é nelas, em geral, que se consolida a noção de que reside na sociedade o fundamento do poder político. O Direito subjetivo, principalmente na conceituação dada por Hugo Grócio, contribui para o desenvolvimento da noção de Direitos humanos porque faz com que o Direito seja visto como um corpo de Direitos pertencentes ao individuo enquanto pessoa, como uma qualidade que permite que o indivíduo possua ou tenha alguma coisa legitimamente (MELLO, 1997). Outrossim, a luta pelos Direitos humanos ocorreu principalmente no âmbito interno dos Estados, quando se passou a perceber a necessidade por Direitos que protegessem o cidadão dos arbítrios do próprio Estado. O iluminismo e o renascimento contribuíram para esta noção, que culminou em importantes marcos normativos, como a Declaração da Virgínia de 1776 e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, que influenciaram o desenvolvimento da noção de Direitos fundamentais positivada na maioria das constituições dos Estados democráticos (MELLO, 1997). 49 Mas o grande debate acerca dos Direitos humanos ocorreu a pouco mais de um século, quando pelo horror das guerras viu-se a necessidade de estender a proteção do ser humano ao plano internacional. Sobre isso Mello (1996, p. 29) ensina que A internacionalização dos Direitos humanos foi um processo lento, tanto em termos de Direito Internacional Positivo, como no campo doutrinário. Os autores tiveram grande dificuldade em aceitar a subjetividade internacional do homem. Uns negavam pura e simplesmente que ela existisse, outras defendiam que o Estado era sujeito direto do DI, enquanto o indivíduo seria sujeito indireto. Admitir o homem como apenas do DI foi um longo caminho. [...] No campo do DI Positivo acreditamos que o processo de internacionalização foi estimulado pelo desenvolvimento dos meios de comunicação em massa, divulgando as violações de Direitos humanos; o que criou uma opinião pública favorável à defesa destes Direitos, vez que aquela acabava por pressionar os governos. Essa internacionalização dos Direitos humanos viu seu ápice com a Carta da ONU de 1945, que em pelo menos sete oportunidades menciona os Direitos do homem: no preâmbulo; no artigo 1º, alínea 3ª; no artigo 13, alínea 1ª, letra b; no artigo 55, letra c; no artigo 62, alínea 2; no artigo 68 e no artigo 76 letra c. Todos estes dispositivos passaram a demonstrar que os Direitos humanos não fazem mais parte da jurisdição doméstica e do domínio reservado dos Estados, mas sim de uma proteção universal. Após a Carta da ONU, inúmeros outros dispositivos proclamaram Direitos humanos: a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948; a Convenção Europeia de Direitos do Homem de 1953; o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1966; A Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969, entre outros (MELLO, 1997). Outro documento importante e que merece destaque foi a Declaração de Viena de 1993, que reconheceu que os Direitos humanos “têm origem na dignidade e valor inerente à pessoa humana e que esta é o sujeito central dos Direitos humanos e liberdades fundamentais” e que “todos os Direitos humanos são universais, indivisíveis interdependentes e interrelacionados”. Hoje, os Direitos humanos podem ser definidos como um conjunto de normas cogentes (jus cogens) que têm por objetivo estabelecer os Direitos que os seres humanos têm para o desenvolvimento de suas personalidades, bem como os mecanismos de proteção a tais Direitos. São normas caracterizadas por sua progressividade, pois marcam uma conquista do indivíduo contra o Estado, diminuindo a área de atuação da soberania, uma vez que deixam de pertencer à jurisdição doméstica e ao domínio reservado dos Estados. Constituem tanto os 50 Direitos fundamentais consagrados nas constituições quanto os dispostos em tratados (MELLO, 1997). 3.3.2 Direito Internacional Humanitário Pode-se afirmar que Direito Internacional Humanitário teve sua origem concomitante à formação dos primeiros esboços do Direito de guerra. Entretanto, é comum na doutrina internacionalista afirmar que o marco inicial de desenvolvimento de um Direito internacional humanitário ocorreu com a Convenção de Genebra de 1864, que objetivava “melhorar a sorte dos militares nos exércitos em campanha”, que foi também o marco da criação da Cruz Vermelha, pois estabelece em seu Artigo 7º que: Um uniforme e um símbolo serão adotados por hospitais, ambulâncias e retiradas. Devem ser acompanhadas em todas as ocasiões de uma bandeira nacional. Uma braçadeira deve ser entregue aos indivíduos que recebam a Condição de Neutralidade, mas esta entrega deve ser realizada por uma autoridade militar. A bandeira e a braçadeira devem apresentar uma Cruz Vermelha sobre um fundo branco (grifou-se). A este texto seguiram-se muitos outros, como a Segunda Convenção de Genebra de 1906, a Terceira Convenção de Genebra de 1929 e a Quarta Convenção de Genebra de 1949, bem como as inúmeras Convenções de Haia dos quais muitos dos concluídos antes da Segunda Guerra Mundial não estão mais em vigor, mas que contribuíram para a codificação de normas costumeiras ou, em outras palavras, para um verdadeiro jus gentium da proteção humanitária em tempos de conflitos. Observe-se que inicialmente este era um Direito bem específico, tanto que cada convenção ao estabelecer as suas normas caracterizava também os destinatários delas e a abrangência do Direito. Isso fez com que durante muito tempo se adotasse a distinção clássica entre Direito de guerra (normatizado pela convenções de Haia) e Direito humanitário (normatizado pelas Convenções de Genebra), tendência que começou a se enfraquecer especialmente a partir dos Protocolos I e II adicionais a Convenção de Genebra de 1949, que passaram a normatizar não apenas a ajuda humanitária, mas também os métodos e meios de guerra e inclusive sobre o tema da intervenção (MELLO, 1997). Deste modo, atualmente o Direito Internacional Humanitário, também trata da temática dos conflitos internacionais, tanto que conforme menciona Mello (1996, p. 188) “afirmamos [...] existir uma ironia ao se considerar que o Direito de guerra é o DIH”. Este 51 Direito humanitário pode ser afirmado hoje como verdadeiro Direito internacional e não mais meramente consuetudinário, na medida em que tem como essência a abolição do uso da força nas relações internacionais e a proteção dos Direitos fundamentais dos indivíduos em tempos de conflito e também em tempos de paz, de modo que, pelo seu fundamento, pode ser considerado um ramo do próprio Direito Internacional dos Direitos Humanos e, em decorrência, sub-ramo do Direito Internacional Positivo (MELLO, 1997). O que se percebe dessa analise, portanto, é que o cenário normativo e político da sociedade internacional contemporânea, em que vai se desenvolver a prática das intervenções humanitárias, é um cenário bastante recente e, portanto, ainda em construção. Conforme visto, há não muito tempo na história a noção que embasava as relações internacionais era a da soberania absoluta e o sujeito central do Direito internacional eram os Estados. Mas este modelo falhou. Tanto, que os horrores das guerras entre os Estados soberanos indignaram a comunidade internacional de tal modo que os poderes políticos foram forçados a repensar sua atuação para com a humanidade. O processo de universalização dos Direitos Humanos teve grande colaboração nesse cenário, que agora é desafiado a encontrar instrumentos efetivos para a proteção destes Direitos. 52 4 O INSTITUTO DA INTERVENÇÃO HUMANITÁRIA E A POSSIBILIDADE DE SUA LEGITIMAÇÃO Este capítulo objetiva apresentar em linhas gerais as principais noções e desafios a respeito do fenômeno das intervenções humanitárias. Para tanto, em um primeiro momento será trabalhada a formação do conceito de intervenção humanitária, notadamente o desenvolvido no processo de interpretação da Carta da ONU e no processo de universalização dos Direitos Humanos, apresentando as modificações que este conceito sofreu e sua relação com o chamado “Direito de ingerência”. Em sequência, será dada atenção a uma questão que tem suscitado divergência tanto na prática das intervenções humanitárias, quanto na sua compreensão doutrinária, qual seja a necessidade de consentimento do Conselho de Segurança da ONU. Por fim, serão analisados os fundamentos de legitimidade das intervenções humanitárias, compreendidos a partir de alguns pressupostos da doutrina da guerra justa de Hugo Grócio. 4.1 A formação do conceito de intervenção humanitária 4.1.1 A noção de intervenção a partir da Carta da ONU No plano do Direito Internacional, após a instituição da ONU, cabe ao Conselho de Segurança decidir pela legalidade ou legitimidade de uma intervenção armada e da cosequente ocorrência de um conflito armado (art. 39)23. As intervenções com uso da força sancionadas pelo Conselho têm, portanto, respaldo legal no Capítulo VII da Carta da ONU, que trata das ações relativas à ameaça ou ruptura da paz e segurança internacionais. Cabe ao Conselho de Segurança determinar a existência de uma ameaça à paz ou segurança internacional e adotar as medidas necessárias para saná-la. Quando considerar que as medidas 23 Carta da ONU (1945): Artigo 39. O Conselho de Segurança determinará a existência de qualquer ameaça à paz, ruptura da paz ou ato de agressão, e fará recomendações ou decidirá que medidas deverão ser tomadas de acordo com os Artigos 41 e 42, a fim de manter ou restabelecer a paz e a segurança internacionais; Artigo 41. O Conselho de Segurança decidirá sobre as medidas que, sem envolver o emprego de forças armadas, deverão ser tomadas para tornar efetivas suas decisões e poderá convidar os Membros das Nações Unidas a aplicarem tais medidas. Estas poderão incluir a interrupção completa ou parcial das relações econômicas, dos meios de comunicação ferroviários, marítimos, aéreos, postais, telegráficos, radiofônicos, ou de outra qualquer espécie e o rompimento das relações diplomáticas; Artigo 42. No caso de o Conselho de Segurança considerar que as medidas previstas no Artigo 41 seriam ou demonstraram que são inadequadas, poderá levar e efeito, por meio de forças aéreas, navais ou terrestres, a ação que julgar necessária para manter ou restabelecer a paz e a segurança internacionais. Tal ação poderá compreender demonstrações, bloqueios e outras operações, por parte das forças aéreas, navais ou terrestres dos Membros das Nações Unidas. 53 não coercitivas seriam ou demonstram que são inadequadas, o Conselho de Segurança poderá determinar o uso da força (art. 42). Entretanto, não se pode confundir o uso da força autorizado pelo Conselho de Segurança com intervenção. A respeito disso, é pertinente o entendimento de Hidelbrando Accioly (2002, p. 133), ao comentar o posicionamento do Institut de Droit International: O Institut de Droit International, em sua sessão de Santiado de Compostela (1990), como que aceitou a tese da intervenção para proteção dos Direitos humanos, mas a resolução adotada veio revestida de diversas salvaguardas. Pela resolução, os Estados, agindo individual ou coletivamente, têm o Direito de adotar em relação a outro Estado que tenha violado as suas obrigações na matéria as medidas diplomáticas, econômicas e outras admitidas pelo Direito internacional, desde que não se trate de emprego de força armada em violação da Carta das Nações Unidas. No sentido acima mencionado, o ato de intervenção caracterizar-se-ia por três elementos básicos: (a) que a imposição da vontade seja exclusiva do Estado que a pratica; (b) que ocorra entre Estados soberanos; e (c) que o motivo ensejador não se enquadre nas prerrogativas do Conselho de Segurança. Dessa interpretação decorre que as medidas tomadas pela ONU ou seus Estados membros, ainda que com caráter intervencionista e na defesa dos Direitos humanos, não poderiam ser classificadas como intervenção humanitária, e que estas estariam excluídas do âmbito de outros atores internacionais que não os Estados nacionais (ACCIOLY, 2002). Com isso, percebe-se que a Carta quis conferir legitimidade às “intervenções” realizadas pelo Conselho de Segurança, mas deixou em aberto a questão das intervenções realizadas: (a) pelos Estados-membros sem o consentimento do Conselho de Segurança; (b) pelos Estados não membros da ONU; (c) pelos outros atores de Direito internacional, notadamente as organizações internacionais. Para os partidários da intervenção humanitária, mesmo que a Carta da ONU, não faça menção expressa a respeito das intervenções com fins humanitários, este ideário pode ser encontrado implicitamente ao longo da Carta, uma vez que esta estabelece a proteção aos Direitos humanos como um de seus objetivos (DIAS, 2007). No entanto, como bem destaca Mello (1997), do ponto de vista do Direito Internacional Público, a intervenção humanitária foi no início uma prática ilícita, uma vez que este apenas conhecia o princípio da não intervenção. De fato, após a Carta de 1945, em diversas outras ocasiões a ONU se posicionou no sentido de que a intervenção era prática 54 ilícita. O princípio da não-intervenção passou a ser considerado então como norma costumeira de Direito Internacional, uma vez que tem se repetido em inúmeras manifestações da ONU e de outras organizações internacionais como, por exemplo, no artigo 3º do Protocolo II adicional às Convenções de Genebra (1978), na “Declaração sobre a Inadmissibilidade de Intervenção nos Assuntos Internos dos Estados e à proteção da sua independência e soberania” (Resolução 2131 (XX)), no capítulo IV da Carta da Organização dos Estados da América (OEA), bem como em outras convenções e resoluções internacionais, sem falar que encontra-se positivado em quase todas as constituições nacionais (MELLO, 1997). Assim, nos anos que se seguiram após 1945, período que se denominou Guerra Fria, o principio da não-intervenção predominou “soberano”, pois havia enorme resistência entre os Estados em reconhecer que a defesa dos Direitos Humanos pudesse ultrapassar suas fronteiras domésticas. Segundo Mario Bettati (1996), o problema residia principalmente na interpretação dada às expressões utilizadas na Carta, pois não se chegava a um consenso do que consistiriam os “assuntos que decorrem essencialmente da competência nacional” e o que poderia se inferir do verbo “intervir”. Frente a isso, governos militantes da não-intervenção ciosos por sua soberania adotavam uma lista tão vasta quanto possível do que seriam tais “assuntos” e consideravam “intervir” como a mínima interferência em seus atos internos; já os defensores na defesa dos Direitos fundamentais dos indivíduos, entendiam que deveria ser excluído desses “assuntos” tudo o que dissesse respeito às liberdades fundamentais e Direitos humanos, reduzindo a noção de não-intervenção ao caso de incursões violentas não autorizadas (BETTATI, 1996). Na realidade, o debate internacional a respeito deste tema foi em princípio eminentemente político. A África do Sul, por exemplo, um dos primeiros países a dar interpretação restritiva à Carta, considerou que o artigo 2º, § 7º se opunha a qualquer olhar exterior sobre suas políticas racistas, notadamente com relação ao Apartheid, posicionamento que apesar dos esforços da ONU perdurou durante mais de quatro décadas. Situação similar ocorreu no Chile nos anos de 1970 e 1980, quando após a queda do governo constitucional do presidente Salvador Allende o país entrou num longo período de atuações arbitrárias do poder militar, desde torturas à tribunais de exceção. A ONU e ONGs defensoras de Direitos humanos mobilizaram-se e, em 1974 a Assembleia Geral adotou a Resolução 3219 (XXIX) pedindo às autoridades chilenas que respeitassem os princípios contidos na Declaração 55 Universal dos Direitos do Homem. Tal resolução foi veementemente refutada pelo Chile que a considerava abusiva ao domínio reservado da ordem política do país (BETTATI, 1996). Mas foi justamente nas tentativas de resolução do problema da África do Sul que começaram a se traçar as primeiras linhas do discurso de legitimidade das intervenções humanitárias. Em 1960, pela primeira vez na história, o Conselho de Segurança reconheceu que a situação do país africano era de tal gravidade que já não ameaçava apenas as populações negras africanas, mas que se continuasse poderia ameaçar a paz e a segurança internacionais (Resolução 4300). Isso denotou uma notória evolução na interpretação dada aos conceitos de paz e segurança da Carta da ONU, que passaram a estar vinculados também às violações de Direitos humanos. E mais, a atuação da ONU ao entender que a dominação racial poderia vir a constituir uma ameaça à paz e à segurança internacionais, fomentou a discussão de que violações de Direitos humanos não são mais um assunto de interesse estritamente doméstico dos Estados, mas sim de toda a comunidade internacional (SPIELER, 2007). Deste modo, progressivamente e principalmente a partir da queda do Muro de Berlin, que marcou o término da Guerra Fria, a ONU e alguns de seus Estados-membros arrogaramse o Direito de discutir e exercer pressões políticas acerca da forma como os indivíduos eram tratados pelos governos estatais. A noção de universalização dos Direitos humanos começou a integrar as diretrizes de manutenção da ordem mundial, constituindo prescrições que os Estados devem observar tanto enquanto valores positivos ‒ o respeito à dignidade da pessoa humana em todas as suas dimensões ‒ e enquanto valores negativos ‒ a inadmissibilidade de atitudes autoritárias, intolerantes ou discriminatórias (BETTATI, 1996). No entanto, uma conceituação normativa expressa conferindo legitimidade às intervenções humanitárias jamais foi elaborada e as práticas intervencionistas sem a autorização do Conselho de Segurança ainda são condenáveis. Assim, coube a doutrina internacionalista e à prática internacional a definição do que seria intervenção humanitária. Porém, para tratar do tema é necessário adentrar em uma discussão correlata, qual seja da formação do Direito de ingerência, que na visão dos internacionalistas contemporâneos atualmente se subsume na noção de intervenção humanitária, uma vez que ambos os conceitos tem por objetivo a proteção dos Direitos Humanos quando estes estão sob ameaça, desafiando o princípio da não-intervenção. 56 4.1.2 Direito de Ingerência ou Intervenção Humanitária? Ensina Mario Bettati (1996) que a grande inovação do Pós-1945 consistia em proteger os seres humanos não enquanto membros de um grupo, ou enquanto cidadãos de um Estado, mas enquanto indivíduos, como forma de prevenir a ressurgência dos conflitos. A partir disso, iniciaram-se debates institucionais que visavam delimitar um Direito de ingerência, uma forma de incursão no domínio reservado do Estado para defender os Direitos Humanos, compatibilizando a soberania do Estado e a proteção daqueles Direitos. Segundo o autor, esta ingerência, até meados de 1968 ocorreu de forma “imaterial” porque se procedia estritamente sob a forma de exames situacionais, deliberações e eventualmente condenações políticas e judiciais, não comportando ‒ à exceção do caso de inquérito ‒ a ingerência física, de forma material, no território de outro Estado. De modo que a ingerência “material”, que transpassava as fronteiras dos Estados se limitava às ações do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), que prestava auxílio apenas na medida em que tivesse a autorização do Estado objeto da ingerência (BETTATI, 1996). Assim, a comunidade internacional passava a dar uma interpretação favorável ao artigo 2 §7 da Carta, interpretando que o termo “intervenção” suscitado significaria a simples evocação de um assunto interno, mas não a interferência física, tida como ilícita. Nas palavras de Bettati (1996, p. 49), [...] delibera-se, discute-se, condena-se, reprova-se, mas não se intervém fisicamente, materialmente, no território do Estado em causa. Não nos colocamos à cabeceira das vítimas do terror ou da catástrofe política. Concedemos-lhes auxílios morais, um apoio psíquico, jurídico, político. Entre 1948 e 1968, admitimos o Direito de vigilância democrática transfronteiriça, não admitimos o gesto salvador, socorrista, a assistência médica sem a autorização prévia das autoridades que administram o país. Bettati (1996) continua, e explica que isso ocorre porque no plano internacional o Direito humanitário era amplamente sujeito à soberania e ao princípio da não-intervenção. De forma diversa, os órgãos da ONU podiam agir sem a autorização dos Estados em questão, conquanto seu instrumento fosse o verbo, a discussão. Já o CICV e as ONGs humanitárias não, porque seu instrumento exige uma presença além-fronterias. Imperava nas ações humanitárias um princípio de neutralidade ‒ primeiramente invocado pelo CICV em nome da neutralidade profissional ‒, que impunha na prática que não poderia haver auxílio sem consentimento da autoridade soberana, fosse pela solicitação ou expressa e prévia autorização 57 do governo do país destinatário e, mesmo após o consentimento, o Direito humanitário restava condicional e subordinado à uma obrigação de discrição. Disso surgia uma questão ainda maior, de saber quem seria o destinatário da ingerência: seria o indivíduo que sofre ou a autoridade que administra o sofrimento? E, sendo a autoridade, como saber se esta não estaria inclinada a utilizar a ajuda humanitária de acordo com propósitos escusos? Assim, o princípio da neutralidade acabava tendo um duplo efeito: se por um lado funcionava como um paralisador da ingerência humanitária ‒ tanto que o CICV, no período de 1949 a 1978, não teve nenhuma atividade médica transfronteiriça ‒, por outro lado fomentava a instituição de novas formas de efetivar o Direito humanitário, através de um movimento conhecido como “sem-fronteirismo” (BETTATI, 1996). O precursor dos Movimentos de Sem-Fronteirismo (MSF) foi o Grupo de Intervenção Médico-Cirúrgica de Urgência (GIMCU), primeira estrutura criada pelo francês Bernard Kouchner a qual se seguiram diversas ONGs. Mais tarde, em 1990, os “Médicos do Mundo” reunidos com intelectuais e políticos do Ocidente e do Leste europeu adotaram uma Carta Europeia da Ação Humanitária projeto responsável por conceder a base deontológica necessária à intervenção humanitária, na qual consideram a ação humanitária parte integrante da vida política em democracia. Mas a verdadeira vitória viria apenas em 1988 com a aprovação pela Assembleia Geral da ONU da Resolução 43/131, na qual a organização finalmente admite aquilo que Kouchner já há muito afirmava: a urgência da ajuda humanitária impõe uma política de livre acesso às vitimas pelos organismos de proteção humanitária (BETTATI, 1996). Assim, nas palavras de Bettati (1996) o sem-fronteirismo iniciado pelos MSF e positivado pela Resolução 43/131 da ONU na forma de um principio de livre acesso às vítimas, foi contagioso. A partir de então não apenas ONGs de defesa dos Direitos humanos ganharam destaque, mas outros atores também aderiram à nova realidade da ingerência humanitária. Surgia, assim, um período marcado pela ascensão do conceito de Direito-dever de ingerência humanitária, que começou a construir sua legitimação pela via do Direito internacional consuetudinário. Alguns autores afirmam que esse “Direito de ingerência” não pode ser confundido com a noção de intervenção humanitária, uma vez que esta seria posta em prática por meio da 58 força armada e teria nascido das noções de intervenção propostas pelos autores clássicos do Direito Internacional, como Hugo Grócio. Esse é o posicionamento de Mello (1997) para quem a ingerência humanitária se distingue da intervenção humanitária principalmente porque a última é realizada por Estados e por meio da força armada, enquanto a primeira o é por organizações internacionais, governamentais e não governamentais. De acordo com o autor têm sido apontadas como diferenças básicas entre intervenção e ingerência que: a) as intervenções humanitárias utilizam apenas as forças armadas, enquanto a “assistência humanitária” é “as vezes” acompanhada “de uma participação de militares”; b) as intervenções humanitárias geralmente procuram “proteger os nacionais do país que intervêm”. A ingerência humanitária visa a toda e qualquer vítima sem distinção. Acresce ainda que a ingerência tem um dever em relação à neutralidade que era inexistente na intervenção (MELLO, 1997, p. 49). Outrossim, Mello (1997) reconhece que para alguns estudiosos a intervenção é uma espécie dentre os vários tipos de ingerência, diferenciada apenas no sentido de que para sua caracterização necessita de um aspecto compulsório, bem como há os que sustentem que qualquer ingerência é intervenção. De qualquer modo, a intervenção seria a prática realizada por um Estado ou um grupo de Estados no domínio interno e externo de outros Estados, com a finalidade de impedir agressões aos Direitos fundamentais básicos. Alguns exemplos de intervenção seriam: União Sul Africana em Angola (1972), Bélgica e França no Zaire (1964 e 1978), Síria no Líbano (1976), EUA na República Dominicana (1965), França na República Centro-Africana (1979), EUA no Panamá (1989), entre outros. Apesar disso, grande parte da doutrina internacionalista têm aceito que os termos intervenção e ingerência se confundem e que atualmente a expressão “intervenção humanitária” já abrange aquela ingerência, distinguindo-se ainda tão somente da assistência humanitária. A esse respeito é bastante pertinente a sistematização proposta por Hermann (2011), a partir da noção de intervenção humanitária de David Scheffer, para o qual esta seria uma “ação através das fronteiras de um Estado empreendida pela comunidade internacional, em reação ao sofrimento humano” (Apud HERMANN, p. 148-149). Nas palavras de Hermann, o conceito de intervenção humanitária divide-se em (a) intervenção humanitária com o uso da força, caracterizada tanto pela ação autônoma de um país ou grupo de países, mas também a ação coletiva intermediada pela ONU e organismos regionais; (b) intervenção humanitária sem o uso da força, caracterizada por sanção (econômicas, por exemplo) 59 proveniente de atos governamentais e não governamentais com o objetivo de pressionar um Estado a prestar assistência e proteção humanitária em situações de conflito. De fato, grande parte da doutrina internacionalista tem adotado a tese de que a intervenção humanitária é um gênero do qual decorrem várias espécies de intervenção, com ou sem o uso da força, e movida não apenas por Estados, mas também por outros atores de Direito internacional, como as organizações internacionais, nas quais a ONU se inclui. Para Hedley Bull, autor do livro Intervention in World Politics, a prática da intervenção se caracterizaria como uma interferência ditatorial ou coercitiva, passível de ser executada por um ou mais atores internacionais, tanto à esfera de jurisdição de um Estado soberano, quanto, numa visão mais ampla, de uma comunidade política independente. De acordo com Bull, não apenas o caráter ditatorial e coercitivo caracteriza a intervenção, mas também o uso ou não da força, pois aceita a existência de intervenções que pacificas, como as de cunho econômico (DIAS, 2007). Assim, as intervenções humanitárias hodiernamente, podem ser conceituadas como ações de natureza coercitiva que visam fazer cessar as violações de Direitos humanos perpetradas pelos Estados. São ações que podem ser movidas tanto por um Estado, quanto por uma organização ou organismo internacional, com ou sem o auxilio do uso da força e que ainda carecem de legitimidade. 4.2 A necessidade de consentimento do Conselho de Segurança da ONU De acordo com Mello (1997) uma importante questão a ser analisada é saber se o consentimento tira a ilicitude do ato de intervenção. Conforme mencionado, cabe ao Conselho de Segurança da ONU autorizar ou não as ações de intervenção humanitária, sejam com o uso da força ou não, sendo que a partir dessa disposição, em regra, os atos de intervenção, ainda que humanitários, quando realizados sem a devida autorização são ilícitos. Mas a prática registra alguns casos emblemáticos, em que a regra do consentimento foi rompida. Pode-se mencionar, por exemplo, a intervenção dos EUA na Síria em 2013, que foi realizada sem a autorização do conselho de segurança, que teve como embasamento o Direito humanitário. O governo Sírio já havia sido condenado por unanimidade pela Assembleia da ONU, que impôs um cessar fogo, determinando o fim das hostilidades e a condenação de 60 Bashar Assad pelas ondas de violência, mas frente a ineficiência dessa condenação o governo americano decidiu intervir unilateralmente no país. Ocorre que, visto não ter sido autorizada pelo Conselho de Segurança, nos termos do Capítulo VII da Carta da ONU, perante o Direito Internacional esta prática é expressamente vedada, não obtendo, conforme já se mencionou, nem sequer o status de norma consuetudinária, motivo pelo qual tal intervenção foi considerada um ato de agressão armada (RUGGIO; CABRAL, s.d.). Sobre essa discussão, existe na doutrina duas correntes que trabalham o tema, uma corrente denominada “classicista” e outra denominada de “realismo legal”. Os classicistas consideram que a Carta da ONU é imperativa ao restringir ao âmbito de competência do Conselho de Segurança a capacidade a deliberação sobre ações com uso da força. Defendem que se um Estado pratica reiteradamente ameaças contra os Direitos Humanos de seus cidadãos, os demais Estados não precisam se calar, mas também não devem intervir sem autorização do Conselho, podendo, no entanto, fazer uso de outras formas de coerção, tais como reconsiderações políticas, comerciais e diplomáticas. Já os adeptos do realismo legal consideram que o sistema de segurança internacional estabelecido pela ONU tem se mostrado inoperante, especialmente pela dificuldade de os membros do Conselho de Segurança chegar a um consenso. Frente a isso, a força da Carta se perderia e os Estados poderiam assumir a competência de fazer cessar os abusos de Direitos humanos (DIAS, 2007). Conforme se percebe, a discussão é incitada principalmente porque dos quinze países que compõem o Conselho de Segurança, apenas cinco (EUA, Inglaterra, França, China e Rússia) são membros permanentes e possuem Direito de veto das propostas. Ademais, conforme dispõe o artigo 27 alínea 3 da Carta da ONU, a aprovação das resoluções necessita do voto afirmativo de nove membros da organização, ou seja, dos cinco permanente e mais quatro não-permanentes. A crítica que se faz é no sentido de que esse trâmite acaba por gerar morosidade e seletividade nas ações do Conselho de Segurança, que fica impotente frente aos abusos de Direitos humanos. Os adeptos dessa crítica, então, acreditam que a solução deste problema estaria na afirmação de um Direito de intervenção humanitária unilateral (RUGGIO; CABRAL, s.d.). Para muitos autores essa questão apresenta uma dicotomia, pois um Direito destes tanto poderia acabar ocasionando mais prejuízos que benefícios, uma vez que poderia ser usada pelos Estados-potência como justificativa para uma ação militar conquistadora, quanto 61 poderia também incitar atitudes mais morais e éticas nas relações entre os Estado (HERMANN, 2011). Mello (1996) destaca o perigo que tal atitude esconde, pois como a prática da intervenção ainda não é normatizada ficaria a mercê das inclinações políticas dos Estados detentores de mais poder, constituindo-se em verdadeira colonização dos mais fracos. Ademais, como toda intervenção sem autorização é ilícita do pondo de vista do Direito Internacional, o ato poderia ser considerado como agressão pelo Estado alvo e incitar novos conflitos. De fato, se observarmos que os motivos que levaram à instituição da ONU, foram justamente a união das forças estatais para a manutenção da paz, e para determinar que o uso da força armada não fosse usado senão no interesse comum, o argumento de uma intervenção unilateral parece, se não duvidoso, ao menos retrógrado. O estabelecimento de uma organização mundial capaz de monopolizar o uso da força, apesar de todas as críticas, foi um avanço decisivo para a persecução de formas pacíficas para a resolução de conflitos. Mas o que fazer se o Conselho de Segurança for incapaz ou não quiser agir? De acordo com Dias (2007, p. 72), [...] só há nessa perspectiva duas soluções institucionais possíveis: uma é a apreciação do assunto pela Assembléia Geral em Sessão Especial de Emergência segundo o procedimento "Uniting for Peace" (usado como base para as operações na Coréia em 1950, no Egito em 1956 e no Congo em 1960), que poderia de fato ter emitido e rapidamente uma recomendação majoritária de ação no caso do Ruanda e, especialmente, do Kosovo; a outra é a ação de organizações regionais ou subregionais nos termos do Capítulo VIII da Carta dentro da sua área de jurisdição, sujeita à solicitada autorização subsequente do Conselho de Segurança (como aconteceu com as intervenções na África Ocidental, na Libéria no princípio dos anos 90 e em Serra Leoa em 1997). Na realidade a duvida que se levanta é de saber qual dos males seria o pior: “o prejuízo da ordem internacional, se o Conselho de Segurança é ignorado, ou o prejuízo para esta ordem se forem massacrados seres humanos enquanto o Conselho de Segurança assiste como espectador” (DIAS, 2007, p. 73). 4.3 Três fundamentos de legitimidade das Intervenções Humanitárias a partir da doutrina da Guerra Justa de Hugo Grócio Ao trabalhar as ações de Estados no sistema internacional, encontrar fundamentos de legitimidade destas ações é fundamental. Isso ocorre não apenas para convencer as 62 consciências do Estado e dos seus próprios cidadãos, mas também para fortalecer a posição tomada. No caso das intervenções humanitárias não é diferente. Muitos autores consideram que essa legitimação deve ser encontrada por meio das instituições internacionais, como na competência da ONU, já outros entendem que é dentro do próprio Estado que reside esta capacidade de legitimação ‒ é ao que se filiam os partidários das intervenções unilaterais. Há ainda os que acreditam que um fundamento de legitimidade só pode ser construído mediante esforços internos e externos (DIAS, 2007). Ao elaborar sua doutrina da guerra justa, Hugo Grócio também se deparou com o problema da legitimidade, ou melhor, seu problema era justamente a legitimidade, pois objetivava investigar em que circunstancias a guerra poderia ser legítima em face do Direito natural e do Direito das gentes. Emprestando esta análise de Grócio é que se buscou estabelecer, na esteira do pensamento do autor, fundamentos que possam aplicar-se à temática das intervenções humanitárias, no que tange à sua legitimação. Conforme anteriormente mencionado, a noção de intervenção não era estranha aos teóricos clássicos do Direito internacional. Hugo Grócio (2005a) a defendeu como medida excepcional com o objetivo de fazer cessar violações de Direito natural, perpetradas por Estados tiranos contra seus cidadãos. Classificou-a no capítulo em que tratou da guerra justa empreendida como legitima defesa, assim entendida como aquela que visa primordialmente a defesa da vida e da integridade física. Do mesmo modo, pode-se afirmar que a doutrina da Guerra Justa de Grócio comporta três fundamentos que podem contribuir, com as devidas adaptações, para a legitimidade das intervenções humanitárias. São eles: (a) o fundamento da proteção dos Direitos Naturais, ao qual se pode fazer analogia com os Direitos Humanos; (b) o fundamento da legítima defesa; e (c) o fundamento da responsabilidade para com a humanidade. 4.3.1 O fundamento da proteção dos Direitos humanos Muito embora a noção de Direitos Humanos, como concebida nos dias de hoje, fosse desconhecida ao tempo em que Hugo Grócio escreveu seu tratado da guerra e da paz, o autor reconhecia que existiam Direitos próprios ao ser humano cuja proteção, em determinados casos, desafiava até mesmo o poder soberano, que na época ainda era compreendido em seu paradigma absolutista. 63 Estes Direitos, que para Grócio eram os Direitos Naturais, guardam certa similaridade com os Direitos Humanos da atualidade. De fato, já se mencionou neste trabalho, pelas palavras de Celso D. de Albuquerque Mello (1997), que o Direito Natural é um dos fundamentos da existência dos Direitos Humanos, especialmente no que tange a noção de Direito natural desenvolvida na modernidade, que trabalhava este ramo do Direito como um Direito subjetivo, inerente ao individuo, tendo sido Grócio, notadamente o precursor de uma visão laicizada do Direito natural, como sendo um Direito nascido no âmbito da sociabilidade humana, acessível através do exercício da razão e, portanto, capaz de vincular e proteger toda a humanidade, pelo simples fato de sua natureza humana, independentemente de suas diferenças culturais e religiosas. É por isso que ao tratar da possibilidade de que a guerra fosse empreendida por um Estado na defesa dos cidadãos de outro, Grócio invocou o fundamento da proteção dos Direitos Naturais, pois para ele estes Direitos pertenciam a toda humanidade e não se restringiam a um território soberano (GROTIUS, 2005a). Essa discussão transportada para os dias atuais encontra similaridade na discussão da universalização e da indivisibilidade dos Direitos Humanos que deixaram, a partir do último século, de integrar o ordenamento jurídico restritivo de cada nação (subscritos sob a forma de Direitos e garantias fundamentais) e passaram a integrar o Direito Internacional Positivo (MELLO, 1996). 4.3.2 O fundamento da legítima defesa A legítima defesa consistia para Grócio em uma das causas justas para utilizar a guerra, tanto na defesa dos próprios cidadãos quanto na defesa dos cidadão de outrem. Isso porque, conforme já citado, “cada indivíduo não é somente vingador de seu próprio Direito, mas [...] é também daquele de outrem” (GRÓCIO, 2005b, p. 981). De acordo com Celso D. de Albuquerque Mello (1997), este tem sido um argumento recorrente para legalizar a intervenção, especialmente nos conflitos armados internos, sob o fundamento de que um Estado poderia auxiliar o que foi vitima de um ataque, com fundamento no artigo 51 da Carta da ONU que dispõe que 64 Nada na presente Carta prejudicará o Direito inerente de legítima defesa individual ou coletiva no caso de ocorrer um ataque armado contra um Membro das Nações Unidas, até que o Conselho de Segurança tenha tomado as medidas necessárias para a manutenção da paz e da segurança internacionais. As medidas tomadas pelos Membros no exercício desse Direito de legítima defesa serão comunicadas imediatamente ao Conselho de Segurança e não deverão, de modo algum, atingir a autoridade e a responsabilidade que a presente Carta atribui ao Conselho para levar a efeito, em qualquer tempo, a ação que julgar necessária à manutenção ou ao restabelecimento da paz e da segurança internacionais. No entanto, de acordo com Mello (1996), muito embora a legítima defesa individual seja um instituto que pertence ao Direito Internacional em geral e que não necessite da conclusão de tratados para ser colocada em prática, não poder ser utilizada para legitimar intervenções em conflitos armados internos, ainda que sob o argumento humanitário. Isso porque, como bem pondera o autor, não se poder deixar de reconhecer que quando um país recebe auxílio externo e outro não, este último fica em situação de inferioridade. Nesse caso principalmente, A posição de não se legalizar a intervenção decorre do fato de se pretender evitar a internacionalização “aberta” ou “declarada” dos conflitos internos com todas as consequências deste fato. Por outro lado, é extremamente difícil, muitas vezes, se configurar se houve o ataque armado, ou ainda se este não é forjado ou provocado pela “vítima” afim de receber auxílio de um terceiro Estado (MELLO, 1997, p. 376). Outrossim, nos casos de legítima defesa coletiva, é necessária a existência de um tratado prévio para que a intervenção humanitária seja posta em prática, a fim de evitar o aumento do risco de surgirem conflitos armados internacionais (MELLO, 1997). Observe-se que Grócio também compartilhava desta ideia, tendo afirmado que muitas vezes a intervenção se faz necessária a fim de evitar conflitos futuros, decorrentes da instabilidade interna de determinado Estado (GRÓCIO, 2005a). 4.3.3 O fundamento da responsabilidade Relata Dias (2007), que em meados do ano de 2000, foi realizada pelo governo do Canadá uma comissão independente denominada Comissão Internacional sobre Intervenção e Soberania Estatal, composta por um grupo de acadêmicos, políticos e diplomatas que tinha por objetivo estabelecer mecanismos capazes de conciliar duas questões das relações internacionais que são apontados por muitos como inconciliáveis: a soberania e a intervenção. O desafio que originou a Comissão havia sido elaborada pelo ex-Secretário-Geral da ONU, Kofi Annan, que levou a Assembleia Geral nos anos de 1999 e 2000 a seguinte questão: "Se a 65 intervenção humanitária é, de fato, um atentado inaceitável à soberania, como devemos responder a uma Ruanda ou a uma Srebrenica ‒ a violações flagrantes e sistemáticas dos Direitos do homem que atingem todos os preceitos da nossa natureza humana?” (p. 68). Na realidade Annan queria colocar um fim a não resolvida questão entre a proteção dos Direitos e a proteção da soberania estatal. A proposta elaborada pela comissão considerou a adesão à Carta da ONU “como a assunção de responsabilidades perante a Comunidade Internacional, dentre as quais se destacam garantir o respeito aos Direitos Humanos, especialmente no que concerne a segurança humana” (p. 66). Considerou ainda a necessidade de dar ao debate um novo caráter normativo, deslocando a discussão sobre o Direito de intervir e direcionando-a a uma noção de “responsabilidade de proteger”, de modo a fazer com que a questão fosse vista na perspectiva dos que necessitam de ajuda, em vez da perspectiva dos que pensam em intervir. A justificativa desta abordagem partiu do próprio conceito de soberania estatal, que conforme ponderou a comissão, atualmente deve ser vista como uma responsabilidade e não mais como um poder (DIAS, 2007). Pertinente mencionar que a International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS) em dezembro de 2001 emitiu relatório a respeito da “responsabilidade de proteger”, na qual afirmou que “a soberania estatal implica responsabilidade, e a responsabilidade primária pela proteção da população pertence ao Estado”. Ao lado desta responsabilidade de proteger estaria ainda a responsabilidade de prevenir, a responsabilidade de reagir e a responsabilidade de reconstruir. Mas foi apenas em 2003 por conta do “Painel de Alto Nível sobre Ameaças, Desafios e Mudanças” que a questão começou a ser mais seriamente abordada (HERMANN, 2011). Neste painel, incentivado também por Kofi Annan, apresentou-se o relatório “Um mundo mais seguro: nossa responsabilidade compartilhada”, no qual se estabeleceu o objetivo de formular um entendimento mais amplo acerca dos mecanismos de segurança coletiva internacional, para que esse mecanismo seja mais efetivo, eficiente e equitativo. Nesse momento a responsabilidade de proteger foi definida como, O Direito e dever de intervir em Estados que não estão em condições ou não querem respeitar os Direitos humanos de suas populações contra a ocorrência de genocídios e outras formas de atentados à vida em larga escala, limpeza étnica ou sérias violações do Direito internacional humanitário (HERMANN, 2011, p. 178). 66 Este texto não aboliu a atuação do Conselho de Segurança da ONU, mas exortou que os Estados-membros o apoiassem mais efetivamente em suas atribuições de autorizar o uso da força para manter a paz e segurança internacionais, inclusive em caráter preventivo. Mais tarde, em março de 2005, o relatório “In Larger Freedom: Towards Development, Security and Human Rights For All” reafirma o conceito de responsabilidade de proteger estabelecendo que: 1) os Estados detêm responsabilidade primária pela prevenção e proteção de sua população contra a prática de genocídios, crimes de guerra, crimes contra a humanidade e limpeza étnica; 2) a comunidade internacional deve, conforme apropriado, encorajar e auxiliar os Estados no exercício daquela responsabilidade; 3) a comunidade internacional, por meio das Nações Unidas, deve também auxiliar na proteção contra aqueles crimes e, para tanto, poderá fazer uso de meios pacíficos, conforme os capítulos VI e VIII; e 4) a comunidade internacional deve estar preparada para agir coletivamente, de forma firme e tempestiva, por meio do CSNU, inclusive de acordo com o capítulo VII, caso a caso e em cooperação com as organizações regionais relevantes, se os meios pacíficos se mostrarem inadequados e as autoridades nacionais falharem de forma manifesta em seu dever de proteger os cidadãos contra a prática de genocídios, crimes de guerra, limpeza étnica e crimes contra a humanidade (HERMANN, 2011, p. 179). Posteriormente, em janeiro de 2009, o Secretário-Geral da ONU Ban Ki-moon publicou outro relatório, intitulado “Implementando a responsabilidade de proteger” cuja finalidade precípua seria tornar operativa a noção por meio da definição de linhas de ação para os Estados-membros, tais como: a responsabilidade primária dos Estados de proteger suas populações, nacionais ou estrangeiras, contra a prática de crimes de genocídio, crimes de guerra, crimes contra a humanidade e limpeza étnica, bem como os atos de incitamento a esses crimes; o compromisso de toda a comunidade internacional em auxiliar os Estados nestas ações; e a responsabilidade dos Estados-membros de tomar atitudes coletivas, tempestivas e firmes, quando um Estado falhar de forma expressa na defesa de sua população com relação aos crimes referidos (HERMANN, 2011). Observe-se que esta noção de responsabilidade, muito embora tenha uma discussão muito mais ampla no contexto atual, também pode ser encontrada na filosofia grociana. Ao tratar das causas legitimas da guerra, Hugo Grócio (2005a) fundamentou a legitimidade da intervenção de um Estado em outro, destacando que a soberania dos Estados, fruto do poder civil que lhes foi entregue, significava não apenas uma justiça soberana, mas também uma responsabilidade, que Bettati (1996) chamou de “obrigação de solidariedade”, para com seus 67 cidadãos e para com a humanidade. Essa responsabilidade, de acordo com Grócio era não apenas superior ao poder soberano, mas constituía também seu fundamento de validade, uma vez que uma das obrigações do soberano era a correta aplicação do Direito (GRÓCIO, 2005a). Desta analise, é possível perceber que na sociedade atual, frente a crises humanitárias gravíssimas, os princípios da soberania e da não-intervenção têm sido progressivamente relativizados, com a finalidade de permitir que a comunidade internacional possa agir de modo eficaz. Neste cenário, o DI agora se depara com novas questões, que dizem respeito a material e efetiva proteção dos Direitos humanos: temas como ingerência e intervenção humanitária, não apenas repropõem a questão da soberania nacional, mas exigem para si um fundamento de legitimidade e uma regulamentação mais clara e consensual. A importância da doutrina da guerra justa, principalmente vista pela ótica laicizada proposta por Grócio, é de que fornece fundamentos éticos basilares ao problema da legitimidade das intervenções humanitárias. Isso tem relevância quando se assume que grande parte da normatização do Direito Internacional tem ocorrido, no decorrer da história, inicialmente pela via consuetudinária, regulada tão somente pelos costumes e princípios comuns aos atores de Direito internacional, algo que outrora chamou-se Direito das gentes. Como diria Grócio, o Direito tem sua raiz na sociabilidade humana, na razão do ser humana, que é capaz de ponderar e exercer juízos de valor a respeito de seus Direitos e deveres. É importante, portanto, que também as intervenções humanitárias, pelo menos enquanto não positivadas, encontrem uma noção e fundamentos comuns, capazes de legitimá-las perante a ordem internacional. 68 CONSIDERAÇÕES FINAIS Da argumentação exposta, percebe-se que a discussão a respeito do instituto da intervenção humanitária é matéria bastante complexa e ainda muito incerta nas abordagens do Direito internacional. Essa complexidade e incerteza se devem ao fato de que ainda não há qualquer normatização específica a respeito da matéria, tampouco seu conceito está unânime fixado. Com relação ao agente da intervenção, verificou-se que existem internacionalistas que abordam as intervenções como ações apenas postas em prática por Estados; em contrapartida, há os que aceitam as intervenções humanitárias tanto podem ser postas em prática por um Estado, um grupo de Estados ou organizações internacionais governamentais e nãogovernamentais. Ademais, percebeu-se que existiu durante certo tempo a noção de que as ações do Conselho de Segurança ou dos Estados-membros nas defesas dos Direitos da Carta da ONU não seriam intervenções. Neste sentido, o uso ou não da força na ação de intervenção em alguns momentos foi erigido à característica definidora da noção de intervenção humanitária, especialmente na abordagem de Mello (1997), para quem a intervenção se difere do “Direito de ingerência” justamente porque nesta última há ausência de coerção. Por outro lado, correntes internacionalistas mais modernas tem aceitado a existência tanto de intervenções humanitárias com o uso da força quanto sem ele, compreendendo que esta noção de intervenção é correlata ao “Direito de ingerência”. Outra grande questão que se impôs, disse respeito à necessidade de consentimento do Conselho de Segurança, sendo de entendimento de muitos autores, inclusive posicionamento já balizado pela ONU, que esta intermediação é imprescindível para que se confira licitude à intervenção humanitária. Mas, como visto, tal entendimento não é unânime e comporta muitas críticas, como é o caso das teorias levantadas pelos defensores da intervenção unilateral, segundo os quais, em face da inércia do Conselho de Segurança, é possível que entidades 69 internacionais (Estados, organizações internacionais e regionais, entre outros) movam a intervenção. De todo modo, não foi objetivo deste trabalho afirmar um conceito de intervenção humanitária, mas tão somente acompanhar a evolução jurídica deste instituto e investigar a possibilidade de sua legitimação. No entanto, acredita-se que qualquer modalidade de intervenção deva ainda preceder do consentimento do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Não se nega que o Conselho enfrente problemas, especialmente que suas deliberações a respeito do tema são lentas e seletivas. No entanto, a solução para isso, certamente não é a via da abolição da competência do órgão, tampouco a normatização livre de intervenções unilaterais. É preciso ter presente que a questão da falta de legitimidade das intervenções humanitárias é muito mais um problema político que jurídico, que em última análise encerram uma escolha de qual Estado auxiliar e por quê. Como visto na argumentação de Mello (1997), as intervenções que dispensam a autorização do Conselho de Segurança colocam em risco a sociedade internacional, pois abrem margens para que as nações mais poderosas prejudiquem os países menos desenvolvidos, fato que pode ocasionar uma nova espécie de colonialismo institucionalizado. Outrossim, também é difícil ter certeza se a nação que receberá a intervenção dará à ajuda a destinação humanitária objetivada. É por isso que o princípio da não intervenção ainda é tomado na sociedade internacional como uma norma de proteção - dos mais fracos contra a “colonização” dos mais fortes e dos mais fortes como forma de manutenção de seu poder. O fato é que para que possam efetivar sua função precípua de proteção dos Direitos Humanos, a prática da intervenção humanitária necessita alcançar pelo menos uma definição mais consensual e fundamentos comuns de legitimidade. Nesse sentido, a importância da doutrina da guerra justa, principalmente vista pela ótica laicizada proposta por Grócio, é de que fornece fundamentos éticos aplicáveis ao problema da legitimidade das intervenções humanitárias. Dentre estes fundamentos, se destacou a proteção dos Direitos humanos, a legítima defesa e a responsabilidade de proteger. O fundamento da proteção dos Direitos humanos é compreendido na guerra justa grociana, com as devidas adaptações, porque ao discorrer a respeito dos Direitos a serem protegidos na guerra, elencou o Direito natural como Direito universal da humanidade, cuja 70 violação consistia em causa justa para a guerra e inclusive para as intervenções. Nesse sentido, a abordagem de Grócio se assemelha bastante com a compreensão de Direitos humanos, uma vez que todo Direito para o autor tinha como fundamento o homem enquanto tal, percebidos pela humanidade como fruto da razão humana e da sociabilidade. De fato, destacou-se que, entre outros aspectos, a noção moderna de Direito natural, especialmente considerado enquanto Direito subjetivo, é um dos fundamentos dos Direitos humanos. Esta noção moderna teve influencia decisiva das teorias de Grócio, uma vez que foi ele um dos precursores do desenvolvimento de uma noção e Direito desvinculada do fundamento divino e centrada no indivíduo. No que tange ao fundamento da legítima defesa, muito embora esteja positivado no artigo 51 da Carta da ONU, percebeu-se que tem fundamentação filosófica que remonta à filosofia clássica do Direito, tendo sido pensado por quase todos os autores da doutrina da guerra justa, que viam na defesa da integridade física e patrimonial uma causa para empregar a guerra (única forma conhecida de resolução dos conflitos internacionais à época). Mas o maior fundamento parece residir no que hoje se chama “responsabilidade de proteger”, e que Grócio, nos limites de seu contexto, identificou como uma responsabilidade dos Estados soberanos para com a humanidade. Essa noção tem ocasionado inúmeras discussões na comunidade internacional, cobrando dos Estados e da ONU uma atitude mais proativa na defesa dos Direitos humanos e um posicionamento mais claro com relação às intervenções humanitárias. Muito embora não signifique de imediato uma normatização, começa a dar indícios de um consenso traçar uma perspectiva de legalidade. Talvez, assim como o Direito de ingerência trabalhado por Bettati (1996), a prática da intervenção humanitária precise antes superar esta fase “imaterial”, pautada na deliberação, para depois, talvez em um contexto de maior hegemonia política internacional, se afirmar como Direito positivado. Portanto, a conclusão é de que os fundamentos de legitimidade deduzidos da doutrina da guerra justa de Hugo Grócio dizem respeito a uma legitimidade não apenas jurídica, mas notadamente ética. Por que induz à reflexão e a mudança de posturas dos Estados e da ONU ‒ enquanto centro do consenso internacional, responsável pela manutenção da paz ‒, reafirmando a tendência, já reconhecida por Grócio em seu tempo, de que o âmbito de nascimento de todo Direito não pode ser outro senão a sociedade dos seres dotados de razão. 71 Deste modo, o Direito de intervenção humanitária deve ser pensado do ponto de vista do indivíduo que necessita de proteção e a soberania encarada não apenas como poder, mas também como uma responsabilidade para com a humanidade. 72 REFERÊNCIAS ACCIOLY, Hildebrando; SILVA, G. E. do Nascimento e. Manual de Direito internacional publico. São Paulo: Saraiva, 2002. BEDIN, Gilmar Antonio. Estado de Direito e relações internacionais: É possível o Direito substituir as relações de poder na sociedade internacional? In: BEDIN, Gilmar Antonio (org.) Estado de Direito, jurisdição universal e terrorismo. Ijuí: Editora Unijuí, 2009. BEDIN, Gilmar Antonio. A sociedade internacional clássica: Aspectos históricos e teóricos. Ijuí: Editora Unijuí, 2011. BETTATI, Mario. O Direito de ingerência - mutação da ordem internacional. Lisboa: Instituto Piaget, 1996. BURIGNY, Jean Lévesque. Vie de Grotius. Amsterdã: Chez Marc Michel Rey, 1754. Disponivel em: <http://www.archive.org/details/viedegrotius01lvgoog>. Acesso em: mai. 2014. BUTLER, Charles. The Life of Hugo Grotius. Londres: J. Murray, 1826. Tradução e digitalização: Projeto Gutenberg. Disponível em: <https://archive.org/details/thelifeofh ugogro14037gut>. Acesso em: mai. 2014. DAL RI JÚNIOR, Arno. Hugo Grotius entre o Jusnaturalismo e a Guerra Justa: pelo resgate do conteúdo ético do Direito Internacional. In: MENEZES, Wagner (org.). O Direito Internacional e o Direito Brasileiro. Ijuí: Unijuí, 2004. DIAS, Guilherme Moreira. Soberania e Intervenção Humanitária: Dilemas da Agenda de Segurança Internacional. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 2007. Dissertação de Mestrado. Disponível em: <http://www.uff.br/dcp/wp-content/uploads/2011/10/Disserta%C3 %A7%C3%A3o-de-2007-Guilherme-Moreira-Dias.pdf>. Acesso em: jan. 2014. FERRAJOLI, Luigi. A soberania no mundo moderno: nascimento e crise do Estado nacional. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. GENTILI, Alberico. O Direito da guerra. Ijuí: UNIJUÍ, 2004. GRÓCIO, Hugo. The Free Sea. Indianapolis: Liberty Fund, 2004. Disponível em: < Http://oll.libertyfund.org/titles/859>. Acesso em: fev. 2014. GRÓCIO, Hugo. Commentary on the Law of Prize and Booty. Indianapolis: Liberty Fund, 2006. Disponível em:< http://oll.libertyfund.org/titles/1718>. Acesso em: fev. 2014. GRÓCIO, Hugo. O Direito da guerra e da paz. v.1. Ijuí: UNIJUÍ, 2005a; GRÓCIO, Hugo. O Direito da guerra e da paz. 2 ed. v.2. Ijuí: UNIJUÍ, 2005b; HERMANN, Breno. Soberania, não intervenção e não indiferença: reflexões sobre o discurso diplomático brasileiro. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2011. 73 HESPANHA, Antonio Manuel. Hugo Grotius. In: DAL RI JÚNIOR, Arno; VELOSO, Paulo Potiara de Alcântara; LIMA, Lucas Carlos (Orgs.). A Formação da Ciência do Direito Internacional. [S.l: S.n., s.d.]. KELSEN, Hans. Princípios do Direito Internacional. Ijuí: Editora Unijuí, 2010. KELSEN, Hans. A paz pelo Direito. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2011 MACEDO, Paulo Emílio Vauthier Borges de. Hugo Grotius e o Direito: o jurista da guerra e da paz. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2006. MACEDO, Paulo Emílio Vauthier Borges de. A Ingerência Humanitária e a Guerra Justa. In: Revista de Direito da UNIGRANRIO. Vol. 1. n. 1. Duque de Caxias: 2008. Disponível em: < http://publicacoes.unigranrio.edu.br/index.php/rdugr/article/viewFile/198/197>. Acesso em: jan. 2014. MACEDO, Paulo Emílio Vauthier Borges de. A genealogia da noção de Direito internacional. In: RFD- Revista da Faculdade de Direito da UERJ. v. 1, n.18. Rio de Janeiro: 2010. Disponível em: <http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rfduerj/article/view/1349>. Acesso em: dez. 2013. MELLO, Celso D. de Albuquerque. Direito humanos e conflitos armados. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. ONU. História da Organização. Disponível em: <http://www.onu.org.br/conheca-a-onu/ahistoria-da-organizacao/>. Acesso em: out. 2014 OREND, Brian. Jus Post Bellum: A Just War Theory Perspective. In: STAHN, Carsten; KLEFFNER, Jann K (ed). Jus Post Bellum Towards a Law of Transition From Conflict to Peace. Cambridge: T.M.C. Asser press, 2008. PANIZZA, Diego. Introdução. In: GENTILI, A. O Direito da guerra. Ijuí: Unijuí, 2005. PINHO, Bruno de Oliveira. Direito natural em Hugo Grotius. São Paulo: USP, 2013. RODIN, David. Two Emerging Issues of Jus Post Bellum: War Termination and the liability of soldiers for crimes of aggression. In: STAHN, Carsten; KLEFFNER, Jann K (ed). Jus Post Bellum Towards a Law of Transition From Conflict to Peace. Cambridge: T.M.C. Asser press, 2008. RUGGIO, Rodrigo A. P.; CABRAL, Maria W. de F. C. G. Intervenção Humanitária Unilateral: O Direito Internacional frente à ilegalidade do uso da força sem a autorização do Conselho de Segurança da ONU. [s.l., s.n., s.d.]. Disponível em: < http://www.publicaDireito.com.br/artigos/?cod=2e6d9c6052e99fcd>. Acesso em: set. 2014. SCHILLER, Friedrich. The History of the revolt of the Netherlands. Boston: Francis A. Niccolls e Company Publisbers, 1788. Disponível em: <http://www.archive.org/details/historyofrevolto01schi>. Acesso em: mai. 2014. 74 SILVA, Roberto Marques Leão da. A guerra dos Trinta Anos e a inauguração de um novo modelo de relações internacionais: o tratado de paz de Westfália de 1648. 3 de julho de 2009. Disponível em: < http://robertoleao.wordpress.com/2009/06/03/a-guerra-dos-trinta-anos-eainauguracao-de-um-novo-modelo-de-relacoes-internacionais-o-tratado-de-paz-de-westfaliade-1648/trinta-anos12/>. Acesso em: ago. 2014. SPIELER, Paula Bartolini. A indeterminação do conceito de intervenção humanitária - reflexo no caso Timor Leste. Dissertação de Mestrado. Rio de Janeiro: PUC, 2007. Disponível em: < www.maxwell.vrac.puc-rio.br/10564/10564_1.PDF>. Acesso em: set. 2014. VATTEL, Emmerich de. O Direito das gentes. Ijuí: Ed. Unijuí, 2008.
Baixar