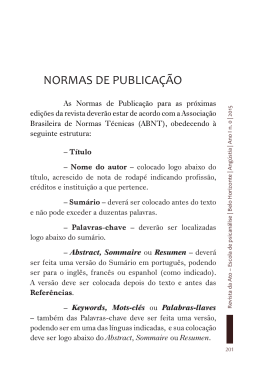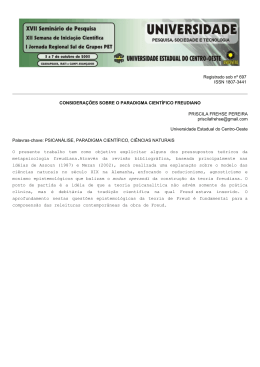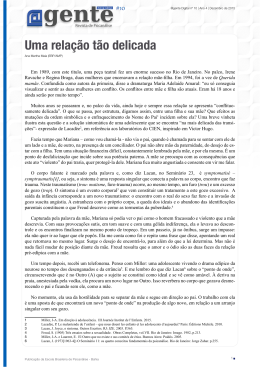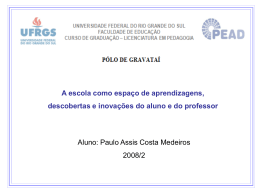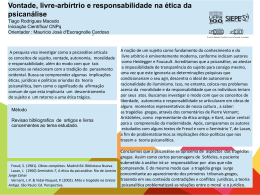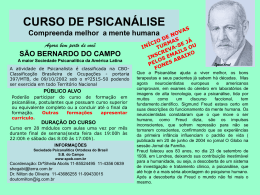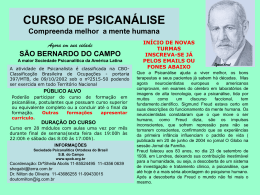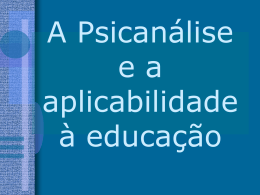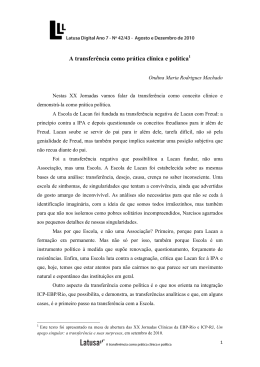UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO INSTITUTO DE PSICOLOGIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICANÁLISE MESTRADO Pesquisa e Clínica em Psicanálise MARIA CECILIA GARCEZ O QUE LEVA O SUJEITO A CRER? SUJEITO E CRENÇA NA PSICANÁLISE Dissertação de Mestrado RIO DE JANEIRO, DEZEMBRO DE 2005. O QUE LEVA O SUJEITO A CRER? SUJEITO E CRENÇA NA PSICANÁLISE MARIA CECILIA GARCEZ “Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Psicanálise da Universidade do Estado do Rio de Janeiro como requisito parcial para obtenção do Título de Mestre em Psicanálise.” Orientador: Marco Antonio Coutinho Jorge RIO DE JANEIRO, DEZEMBRO DE 2005. AGRADECIMENTOS A Marco Antonio Coutinho Jorge, pela orientação acolhedora e respeitosa, que me ajudou a delinear o caminho de minha pesquisa e a trilhá-lo dentro da fidelidade aos fundamentos da psicanálise. Ao Padre Paulo Roberto Gomes, pela sensibilidade de sua escuta e confiança no nosso trabalho. A Claudia Moraes Rego que, com seu profundo conhecimento de Freud e Lacan, foi uma interlocutora importante nas discussões sobre crença e psicanálise . A Julio Cesár Dourado Mafra, que me auxiliou com seu vasto conhecimento da língua francesa e com seu apoio. A Anna Carolina Lo Bianco, pela presença atuante na qualificação e valiosas sugestões para o encaminhamento de nosso trabalho. Aos colegas do Projeto Travessia, pela troca de experiências e pelo rico aprendizado. A Doris Rinaldi, pelo incentivo que despertou o desejo de uma maior aproximação do tema. A Julia Leite, pela disponibilidade de uma leitura atenta e palavras sempre tranqüilizadoras. Aos meus pais e minha irmã, pela admirável capacidade de, mesmo longe, estarem sempre por perto. A minha filha Marina que, ao longo desta jornada de trabalho, deu provas de grande maturidade. Aos meus analisandos, que me ensinaram a respeitar suas crenças e inspiraram esta pesquisa. RESUMO A presente dissertação tem como objetivo uma discussão sobre a crença a partir das contribuições de Freud e de Lacan. Ao partir do reconhecimento da sua presença no social, particularmente no discurso religioso, tomamos como desafio avançar do campo do fenômeno para um exame do lugar da crença no âmbito da estrutura psíquica. Propomos uma aproximação entre crença e transferência e, em seguida, abordamos sua presença no processo inaugural de simbolização do sujeito. Por último, damos ênfase especial à articulação da crença com o mecanismo da Verleugnung e analisamos sua distinta participação nas estruturas clínicas. Palavras-chave: crença; sujeito; transferência; estrutura; Verleugnung RÉSUMÉ Cette dissertation a comme objectif une discussion sur la croyance à partir des contributions de Freud et Lacan. En reconnaîssant la présence de la croyance au niveau social, surtout dans le discours réligieux, nous nous mettons au défi d’avancer dans le champ de ce phénomène pour réaliser un examen de l’importance de la croyance dans le domaine de la structure psychique. Ensuite, nous proposons une approche entre la croyance et le transfert pour aborder la présence de la croyance dans le processus inaugural de symbolisation du sujet. Finalement, nous mettons un accent spécial sur l’articulation de la croyance avec le mécanisme de la Verleugnung pour analiser sa participation distincte à chaque structure clinique. Mots clé: croyance; sujet; transfert; structure; Verleugnung SUMÁRIO INTRODUÇÃO............................................................................................................................ ...1 CAPÍTULO 1: A CRENÇA E A CLÍNICAPSICANALÍTICA....................................................16 1.1. - A crença nas palavras......................................................................................................16 1.2. - A crença e a transferência...............................................................................................22 1.3. - A prática clínica com sujeitos religiosos.........................................................................32 CAPÍTULO 2: A CRENÇA E A CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO..............................................37 .. 2.1. - A crença primária: a Bejahung ........................................................................................37 2.2. - A crença e o juízo ............................................................................................................43 2.3. - A operação de alienação e separação ..............................................................................47 CAPÍTULO 3: A CRENÇA E AS ESTRUTURAS CLÍNICAS ..................................................57 3.1.- A crença no falo ..............................................................................................................57 3.2.- A crença e a neurose .......................................................................................................60 3.3.- A crença e a perversão ...................................................................................................68 3.4.- A crença e a psicose ........................................................................................................74 CONCLUSÃO.............................................................................................................................. ..79 BIBILIOGRAFIA......................................................................................................................... ..82 CAPÍTULO 1- A crença e a clínica psicanalítica 1.1. A crença nas palavras Em 1890, em um artigo intitulado "Tratamento psíquico (tratamento da alma)", escrito como contribuição para um manual de medicina, Freud aborda o poder mágico das palavras no tratamento dos fenômenos patológicos da vida anímica. Escolhemos iniciar nossa dissertação fazendo referência a esse escrito tão inicial da obra freudiana em razão deste trazer o germe do que será um dos principais conceitos e eixo fundamental do trabalho psicanalítico. É preciosa sua indicação de que a “cura” depende, exclusivamente, da crença nas palavras e que estas possuem um poder milagroso. A associação entre crença e milagre não nos parece absolutamente estranha pois, afinal, como diz o ditado: “a fé move montanhas”. O que nos parece notável é a clareza de Freud acerca da existência das curas milagrosas pela força mágica das palavras. Afirma sem rodeios: Agora começamos a compreender a 'mágica' das palavras. As palavras são, sem dúvida, o mais importante meio pelo qual um homem busca influenciar outro; as palavras são um bom método de produzir mudanças mentais na pessoa a quem são dirigidas e por isso já não parece enigmático afirmar que a magia da palavra pode eliminar fenômenos patológicos, ainda mais aqueles que, por sua vez, tem sua raiz em estados anímicos.1 A "fé" das pessoas na palavra do Outro justifica o sucesso dos curandeiros, pois não há dúvida de que eles são capazes de produzir condições psíquicas propícias à recuperação de seus pacientes. Os milagres obtidos através da crença religiosa são também tratados por Freud como algo que de fato ocorre, pois é possível encontrá-los em todos os períodos da história. Estas curas milagrosas não acontecem só com as doenças ditas psíquicas, que têm como base a imaginação e por isto, supostamente, estariam mais sujeitas às influências externas. Freud reconhece a existência de milagre também na cura de estados patológicos de origem orgânica, que até então não apresentaram resultados por qualquer tratamento médico. Isso seria explicado pelo que ele denomina de "poder psíquico". Tendo como hipótese a ação de uma força mental sobre a manifestação da doença, considera que, também, a “expectativa esperançosa” (será que poderíamos chamála de fé?) é capaz de ocasionar os mais notáveis efeitos tanto no aparecimento quanto no desaparecimento de doenças físicas. Diz-nos: “Tudo ocorre naturalmente; na verdade, o poder da fé religiosa é reforçado neste caso por diversas forças pulsionais genuinamente humanas"2. Freud ressalta que o fator que mais intensifica a crença religiosa é a influência grupal. O “poder psíquico” pode ser enormemente magnificado pelo grupo. Mas, há outro fator, de cunho narcísico, que pode intensificar a fé religiosa: trata-se do desejo de ser escolhido, uma vez que a graça divina só é obtida por poucos. Assim, ele diz: "Toda vez que tantas forças poderosas se conjugam, não podemos surpreender-nos se em algumas ocasiões se alcança realmente a meta"3. 1 FREUD,S., Tratamento psíquico (tratamento da alma) (1890), AE: vol. I, p.123; ESB: vol. VII, p.306 (o grifo é nosso) 2 idem, AE: vol. I, p.119-120, ESB: vol. VII, p.304. 3 idem., AE: vol. I, p.122, ESB: vol. VII, p.304. A palavra "milagre" significa acontecimento admirável, espantoso, ocorrência que não se explica pelas leis da natureza. Se não há como explicar o milagre pela lógica, qual seria, então, sua estrutura? A partir de uma leitura lacaniana, poderíamos pensar que este estado de encantamento seria provocado pela crença em um Outro de quem tudo se espera. Como vimos, a força deste “apelo” conduz ao movimento de alcançá-lo. Assim, a crença revela, como nos aponta Eduardo Vidal, “a expressão do significante em ação”4. A crença em milagres não nos parece de modo algum surpreendente, pois a renúncia5 aos desejos impossíveis é resultado de um árduo trabalho. A psicanálise não cessa de indicar que o ato de renunciar é problemático e tem conseqüências psíquicas importantes. É muito difícil para o sujeito, como aponta Freud, abdicar de um prazer já experimentado, pois: “Na realidade, nunca renunciamos a nada; apenas trocamos uma coisa por outra. O que parece ser uma renúncia é, na verdade, a formação de um substituto ou sub-rogado.”6 Sem pretender aprofundar, no presente estudo, o tema da hipnose, devemos reconhecê-la como reveladora de uma posição de sujeito diante da palavra do Outro. Esta técnica, utilizada por Freud nos primórdios de sua prática clínica e posteriormente abandonada, tem como característica mais interessante a exigência de uma atitude particular da parte do paciente: trata-se da relação do hipnotizado com seu hipnotizador. Não é por acaso que Freud faz um paralelo entre esta situação de extrema “devoção” e a relação da criança com seus amados pais, bem como com a relação amorosa, que envolve uma entrega plena. Diz ele: “A conjunção de estima exclusiva e obediência crédula pertence, geralmente, aos traços característicos do amor.”7 Betty Milan, em seu ensaio sobre o tema do amor, ressalta que, na relação amorosa, a dúvida está excluída, pois a crença é fundamental para sua existência. O amor não seguiria o preceito de São Tomás de Aquino – ver para crer. Como ilustração, a autora menciona o conhecido caso da senhorita francesa que foi 4 VIDAL,A.E., Um encontro singular com a Acrópole, Revista da Escola Letra Freudiana, n.6, p.29 . Encontramos, no dicionário Aurélio, algumas definições da palavra renúncia: não querer, rejeitar, recusar, desistir de, abdicar, descrer de, renegar. Chama nossa atenção o fato da palavra estar referida a um afastamento voluntário, mas forçoso. Freud observa que o ser humano não renuncia jamais suas satisfações. A renúncia, portanto, não encerra a questão e não é sem efeitos. 6 FREUD,S., O criador literário e o fantasiar (1907), AE: vol. IX, p.128 ; ESB: vol. IX, p.151. 5 flagrada, pelo seu companheiro, nos braços de outro. Ao tentar negar diante deste a evidência da situação, usa um surpreendente argumento : “– Vejo que você já não me ama, acredita mais no que vê do que em mim.”8 Freud irá valorizar o amor de um modo absolutamente particular, sustentando na demanda amorosa um dos pilares da técnica analítica: a transferência. Em “Psicologia das massas e análise do eu”, no capítulo intitulado “Estar amando e a hipnose”, Freud menciona alguns casos nos quais há uma tal “devoção” do eu para com o objeto, que a crítica exercida pelo super-eu silencia. O objeto passa a ocupar o lugar de ideal e o sujeito pode ser levado tanto a um estado de “fascinação” como de “servidão”. O enigma do poder exercido pelo hipnotizador é, assim, esclarecido: o "hipnotizado" realiza a fantasia de onipotência, através da identificação com este, colocado no lugar de senhor, diante do qual se torna escravo. É possível que, justamente, por admitir a presença e a força de tal entrega no campo da transferência, Freud não deixe de considerar o amor transferencial como um obstáculo ao trabalho da análise. Ao abandonar a prática da hipnose e da sugestão, que encara como paciente, uma espécie de “tirania”, de violência contra o Freud a coloca como incompatível com os novos pressupostos da psicanálise. Roudinesco comenta que Freud excluiu expressamente esse "rito fascista"9 por se tratar de um bárbaro abuso de poder.10 Consideramos que a psicanálise oferece uma experiência que, ao contrário de hipnotizar o sujeito, visa revelar justamente aquilo que já o hipnotiza desde sua própria constituição, ou seja, sua alienação fundamental. Se o poder do analista é resultante da própria transferência amorosa, cabe a este a responsabilidade de saber utilizá-lo como um meio facilitador da emergência do inconsciente do analisando. Trata-se de um trabalho que exige do analista uma extrema fidelidade à ética. Quando a experiência do inconsciente, estimulada pela situação analítica, não está articulada com os conceitos fundamentais que sustentam sua prática, o analista corre o risco de ocupar um lugar originário, ou seja, apoiado nos poderes ocultos de um chefe. Um outro risco, apontado por Marco 7 FREUD,S., Tratamento psíquico (tratamento da alma) (1890), AE: vol. I, p.127; ESB: vol. VII, p.310. MILAN,B., O que é amor (1983), Brasiliense, p.20. 9 ROUDINESCO,E.,Pour une politique de la psychanalyse (1977), p.16. 10 ROUDINESCO,E., História da psicanálise na França, a batalha de cem anos (1989), vol. 1, RJ, p.215 . 8 Antonio Coutinho Jorge11, está situado no próprio contexto da produção teórica: o distanciamento do referente clínico (a fala do analisando e sua escuta) teria, como conseqüência, teorizações “científicas” mais próximas do discurso metafísico. Em uma de suas várias cartas dirigidas ao amigo e pastor Pfister, Freud opõe-se radicalmente à incitação a uma transferência ilimitada e questiona essa postura com um certo grau de ironia: E agora imagine que eu dissesse a um doente: ‘Eu, Sigmund Freud, Professor titular, perdôo-o de seus pecados.’ Que inconveniência, no meu caso! Mas o que se aplica aqui é a lei segundo a qual a análise não se satisfaz com um sucesso de sugestão, mas procura a origem e a justificação da transferência.12 A posição de Freud sobre a importância da transferência começa a se definir cedo em sua obra. Ele reconhece que o papel fundamental da influência sobre o psíquico não é privilégio dos médicos, ainda que, muitas vezes, estes adquiram reputação divina, pois, originalmente, o poder de curar estava nas mãos dos sacerdotes. A tentativa de produzir condições mentais propícias à recuperação dos doentes era uma das mais importantes influências terapêuticas dos povos antigos. Para reforçar seus efeitos, outros procedimentos eram utilizados: banhos purificadores, fórmulas (poções mágicas), evocações de sonhos oraculares. Em “A questão da análise leiga”, Freud estabelece uma sutil diferenciação entre a magia e a utilização da palavra para fins terapêuticos: Seria mágica se surtisse efeito um pouco mais rapidamente. Um atributo essencial de um mágico é a rapidez – poder-se-ia dizer a subtaneidade – de sucesso. Mas os tratamentos analíticos levam meses e mesmo anos: mágica tão lenta perde seu caráter miraculoso. E incidentalmente não desprezamos a palavra. Afinal de contas, ela é um instrumento poderoso; é o meio pelo qual transmitimos nossos sentimentos a outros, nosso método de influenciar outras pessoas. As palavras podem fazer um bem indizível e causar terríveis feridas. Sem dúvida “no começo foi o ato” e a palavra veio depois; em certas circunstâncias ela significou um progresso da civilização quando os atos 11 JORGE,M.A.C., “A psicanálise entre ciência e religião” (1995), in: ROPA, Daniela e PASSOS,Marci Dória (orgs.), Anuário Brasileiro de Psicanálise, n.3, Rio de Janeiro, Relume Dumará, 1995. 12 Cartas entre Freud e Pfister (1909-1939), carta de 25-11-1928, p.182. foram amaciados em palavras. Mas originalmente a palavra foi magiaum ato mágico; e conservou muito de seu antigo poder.13 O primado da linguagem na constituição do sujeito da psicanálise nos remete ao preceito básico do Evangelho de São João, que afirma que “no princípio era o Verbo”. A problemática da entrada do sujeito na linguagem foi formulada por Freud através de um mito. Em “Totem e tabu”, ele utiliza a construção mítica da existência de uma horda primitiva em que os filhos se reúnem para assassinar o pai totêmico. É somente após esse ato, ou seja, após um crime, que se dá a possibilidade de fundação da sociedade, da religião e dos preceitos morais. A partir deste, surge a proibição do incesto e do homicídio, representando a emergência da Lei. Como observamos anteriormente, em 1926 Freud mantém a visão de que a substituição do ato pela palavra tem um caráter essencialmente positivo, pois revela a ascendência do simbólico sobre os impulsos irracionais. A citação “no princípio era o ato”, contudo, aparentemente contradiz o valor da palavra (do verbo). Este aparente paradoxo pode ser desfeito ao lançarmos um olhar mais cauteloso para esta complexa questão. No mito do parricídio, Freud vincula a fundação da cultura, 14 ou seja, a constituição da ordem humana, a um assassinato . A morte do pai primordial, temido e invejado, está relacionada a sua posição de onipotência, caracterizada pelo exclusivo poder de desfrutar de todas as mulheres. Uma vez expulsos desta organização (horda primeva), os filhos se unem e, em conjunto, matam o pai. A partir da construção ficcional deste ato de violência, o que Freud pontua é que a lei simbólica se instaura, ou seja, o pai morto passa a ser representado por algo sagrado: o totem. Se os irmãos renunciam ao lugar do pai e ao desejo incestuoso pela mãe para não matarem um aos outros, este lugar permanece privilegiado, como aponta Freud: Após terem-se livrado dele, satisfeito o ódio e posto em prática os desejos de identificarem-se com ele, a afeição que todo esse tempo tinha sido recalcada estava fadada a fazer-se sentir e assim o fez sob a forma de remorso.(...) O pai morto tornou-se mais forte do que o fora vivo.15 É o sentimento de culpa que estabelece a passagem da natureza à cultura: ao invés de vigorar o poder despótico e absoluto, institui-se a Lei da ordem simbólica. Cresce o valor do pai após sua morte e Lacan assinala, com muito propósito, que, sem o pai morto nada pode ser arquitetado. Como efeito do parricídio, os filhos não caem na esbórnia, mas, ao contrário, ficam interditados e, com isso, passa a vigorar a palavra, que possibilita a operação da lei como mediadora das relações humanas. Segundo uma leitura lacaniana poderíamos dizer que o mito de “Totem e tabu” representa o momento de entrada do significante (do Verbo), capaz de ordenar os demais significantes. O pai assassinado retorna como significante, indicando seu lugar na estrutura psíquica e os filhos, por sua vez, herdam o significante – o Nome do Pai. O mito, cuja estrutura de ficção tem um compromisso com a verdade, faz supor que, “no inicio”, havia um pai todopoderoso, mas que foi preciso prescindir dele. Se Freud recorre a um mito, é porque tal origem não é alcançável, ou seja, trata-se de um ponto de falta que só possível de ser dito através de uma construção ficcional. Eduardo Vidal acrescenta: 13 FREUD, S., A questão da análise leiga (1926), AE: vol. XX, p.175-176; ESB: vol. XX, p. 214. Ao valorizar o ato, Lacan dá um passo essencial no que se refere à direção da clínica, estabelecendo os fundamentos e as operações do ato analítico. Em 1967-1968, dedica um seminário a este tema e privilegia a passagem do psicanalisante ao psicanalista. Certamente, a importância desta questão merece um desenvolvimento, que pretendemos deixar para o futuro. Devemos, contudo, realçar os efeitos do ato, uma vez que este aponta para um lugar de impasse, de encontro com o real e da emergência do novo, e que, como nos lembra Anna Carolina LO BIANCO: “[...] não é comandado pelo sujeito nem resultado da vontade de um eu”. (“O horror do ato”, in: O estranho na clínica psicanalítica:vicissitudes da subjetividade , 2001, p.21). 14 A hipótese fantástica que “Totem e tabu” constitui como assassinato do pai primevo tem a função de circunscrever esse ponto de falta de origem constituindo a referência mor do edifício freudiano. Sem essa referência ao pai a invenção da psicanálise dificilmente se distinguiria de um delírio.16 17 O término desse escrito é surpreendente, pois Freud toma como referência a fala do personagem de Goethe , 18 Fausto, a saber, “no princípio era o ato” e estabelece um contraponto com a frase do Evangelho de São João. Se o ato está no início, isso implica em uma recusa do verbo? Entendemos que a primeira, analisada no contexto da obra poética, não se refere a uma desvalorização da palavra, mas sim a uma ruptura com o primado conferido à palavra divina. Freud admite que sua interpretação está mais marcada pela teoria de Darwin do que pela tradição religiosa e, ao recorrer ao poeta, parece apreciar a intenção do personagem de construir um universo dominado inteiramente pelo homem. Fausto também é um valioso auxílio para explicitar a idéia de que, para se atingir o objetivo desejado, uma transgressão se faz necessária: o pacto com o demônio em troca da aquisição do conhecimento e da ciência. Ou seja, é preciso que o sujeito rompa com a “proteção divina”, que renuncie à crença em um ser Supremo, para que tenha acesso a um mundo organizado simbolicamente do qual a ciência é um dos representantes mais excelentes. Assim, mais uma vez, agora com a ajuda de seu poeta predileto, Freud reafirma sua tese: é através de um ato de transgressão que o sujeito poderá entrar na estrutura simbólica, ou seja, na linguagem. 19 1.2. A crença e a transferência No princípio da psicanálise está o ato de Freud que, ao fundar o campo do inconsciente, também cria e ocupa o lugar de analista na transferência.20 A partir de uma leitura lacaniana, poderíamos pensar que este estado de encantamento seria provocado pela crença em um Outro de quem tudo se espera. Como vimos, a força deste “apelo” conduz ao movimento de alcançá-lo. Assim, a crença revela, como nos aponta Eduardo Vidal, “a expressão do significante em ação”21. 15 FREUD,S., Totem e tabu (1912), AE: vol. XIII, p.59; ESB: vol. XIII, p.171. VIDAL,E., “No início era o ato” (1996) in: Letra freudiana, n.16: ato analítico. 17 GOETHE, J.W., Fausto , parte 1, cena 3 (1976). 18 FREUD,S., Totem e tabu (1913), AE: vol. XII, p.162; ESB: vol. XII, p.191. 19 É possível fazer, neste ponto, uma articulação com o mecanismo da Bejahung, operação fundante do processo de simbolização, que é sucessora da Ausstossung, ou seja, de uma expulsão inicial responsável pela demarcação de um dentro e um fora. Tais conceitos, relacionados com a hipótese da existência de uma crença primária, serão desenvolvidos no capítulo seguinte, quando discutiremos a participação da crença na constituição do sujeito. 20 Lacan faz um comentário no qual há uma referência à questão da origem. Em seu escrito “Proposição de 9 de outubro de 1967”, diz: “No começo da psicanálise está a transferência” (Outros escritos, p.252) 21 VIDAL,A.E., Um encontro singular com a Acrópole, Revista da Escola Letra Freudiana, n.6, p.29 . 16 A expectativa confiante a qual contribui para a influência imediata do procedimento médico depende, por um lado, da intensidade de seu desejo de curar-se; por outro, de sua fé de que está dando os passos corretos nessa direção, vale dizer, de seu respeito geral pela arte médica, e mais, do poder que atribuiu à pessoa de seu médico e ainda pela simpatia puramente humana que o médico desperta nele. 22 O respeito e a autoridade podem ser adquiridos tanto por um analista leigo quanto por um "assistente pastoral 23 milenar" (seelsorger ) pois, segundo Freud, é perfeitamente possível que o representante religioso seja capaz de liberar seus 24 paroquianos das inibições de sua vida cotidiana. Ao denominar a atividade analítica de "cura analítica de almas” , pode parecer, em um primeiro momento, que Freud tem uma grande tolerância ao fato de religiosos exercerem a psicanálise. Esta não será, porém, sua posição definitiva, pois em sua correspondência com o pastor Pfister, retoma uma interessante discussão sobre a ética: Minha observação de que os analistas da minha fantasia futurista não deveriam ser sacerdotes não soa muito tolerante, isto eu admito (...) O senhor também tem razão em alertar que a análise não fornece uma nova visão de mundo. Mas ela não o necessita, pois repousa sobre a visão de mundo científica comum, com a qual a religiosa permanece incompatível.(...) A ética está fundada sobre as inevitáveis exigências do convívio humano, não sobre a ordem mundial extra-humana. 25 As revelações íntimas dificilmente são dirigidas a uma pessoa qualquer, o que justifica, podemos dizer, a existência do confessor, na religião, assim como do analista. Quando certas atitudes ou pensamentos do sujeito assumem um caráter de estranheza e provocam mal-estar, instaura-se um conflito no eu. A confissão opera proporcionando um alívio em relação ao 26 conflito, além de reforçar os laços do sujeito com a religião, a qual ofereceria um caminho para livrá-lo do sofrimento. E a psicanálise, de que lugar irá operar? 22 FREUD, S., Tratamento psíquico (tratamento da alma) (1890), AE: vol. I, p.123; ESB: vol. VII, p .305. (o grifo é nosso) 23 Seele = "alma" e sargen = "cuidar, prover, preocupar-se". Freud usa o termo Seelsorger, que significa: “o religioso que cuida das pessoas de uma igreja e as dirige para Deus". Em alguns momentos de sua correspondência com o pastor Pfister, chama a este de "cura de almas". Também utiliza o substantivo Seelsorge, significando "a atividade de cuidar, aconselhar e orientar a pessoa.". Não há possibilidade de uma tradução fiel para o português, mas podemos utilizar "a cura de almas" para o processo e "o cura de almas" para a pessoa que o exerce. 24 Trata-se de uma expressão utilizada por Freud em A questão da análise leiga (1926, AE: vol. XX, p.240; ESB: vol. XX, p.291), para descrever a atividade do analista como podendo ser "pastoral", no melhor sentido da palavra. 25 Cartas entre Freud e Pfister, (16.2.1929), carta 89, p.170-171. 26 Em a “História da sexualidade I – a vontade de saber”, Michel FOUCAULT defende a idéia de que, a partir da Idade Média, houve uma institucionalização da confissão, a qual passou a funcionar como um imperativo que visava transformar o desejo em uma obrigação de falar a verdade sobre si . Segundo o autor, o dispositivo da confissão, matriz da tradição cristã, é um dos eixos da hipótese repressiva da sexualidade, através da qual critica o modo pelo qual o cristianismo influenciou o pensamento ocidental. Associa a confissão à obediência e ao assujeitamento ao outro. A análise crítica da confissão, realizada por Foucautlt, mereceria um aprofundamento que não é nosso objetivo no momento. Também outros autores debruçaram-se sobre esse tema, entre estes: Joel Em duas passagens de sua obra, Freud faz referência a estas duas formas de escuta – a do analista e a do padre – que têm lugares diferenciados. Em 1926, sua observação é pontual: "Na confissão o pecador conta o que sabe; na análise o 27 neurótico tem mais a dizer" . Doze anos depois, em um de seus últimos escritos, retoma a importância da associação livre e esclarece que esta pode proporcionar um alívio semelhante ao de uma confissão. Mas, como nos diz, não se trata do analista ocupar o mesmo lugar do confessor: Com os neuróticos, então, fazemos nosso pacto: sinceridade completa de um lado e discrição absoluta de outro. Mas há uma grande diferença, porque o que desejamos ouvir de nosso paciente não é apenas o que ele sabe e esconde de outras pessoas; ele deve dizer-nos também o que não sabe. 28 Em 1974, por ocasião de um congresso realizado em Roma, Lacan é instigado pela imprensa italiana a dar sua opinião sobre a proximidade entre a psicanálise e a confissão. Pergunta o repórter: “O senhor acha que atualmente se vai ao psicanalista como antes se ia ao confessor?” Lacan responde prontamente, não escondendo uma certa irritação: “Não podiam deixar de me fazer essa pergunta. Essa história de confissão é conversa para boi dormir. Por que acha que as pessoas se confessam?” Mas o repórter insiste: “Quando se vai ao psicanalista, também se confessa.” Lacan reage enfaticamente a tal afirmação: “Mas de forma alguma! Isso não tem nada a ver. Na análise, começa-se por explicar às pessoas que elas estão ali para se confessar. É o começo da arte. Elas estão ali para dizer – dizer qualquer coisa.29 Percebemos, claramente, no comentário de Lacan, o resgate da marca distintiva entre a confissão e o dispositivo analítico: a regra da associação livre, usada no trabalho analítico. O analista oferece sua escuta ao sujeito que sofre uma dor psíquica e também o convida a abandonar o esforço de refrear seu pensamento, ainda que este lhe pareça desagradável ou absurdo. A regra da associação livre não valoriza o segredo, como também o destituí de um possível valor moral, não o considerando algo indesejável que deva ser eliminado. O analista opera, justamente, apostando que o sujeito tem mais a dizer e, através de sua escuta, sustenta que este fale o mais livremente possível. Embora Freud situe o processo analítico no campo científico devemos sublinhar a originalidade deste campo de saber: Na psicanálise existiu, desde o início, uma união entre curar e investigar; o conhecimento proporcionou o êxito e não era BIRMAN, em “Entre cuidado e saber de si - sobre Foucault e a psicanálise” (2000) e Eduardo Leal CUNHA, em “A confissão: entre o assujeitamento e a cura” (2003). 27 FREUD, S., A questão da análise leiga (1926), AE: vol. XX, p.177; ESB: vol. XX, p.215. 28 FREUD, S., Esboço da psicanálise (1938) AE: vol. XXIII, p. 174-175; ESB: vol. XXIII p. 201. 29 LACAN, J., O triunfo da religião, precedido de Discurso aos católicos (2005), p.64. possível tratar sem aprender algo de novo, nem se ganhava um esclarecimento sem vivenciar seu benéfico efeito. Nosso procedimento analítico é o único que conserva essa preciosa conjunção. Somente quando aperfeiçoamos a cura analítica de almas penetramos na vida anímica do ser humano, cujas faíscas acabamos de perceber.30 Freud aponta uma posição teórica fundamental, que inaugura uma concepção original de sujeito: o sujeito é estruturalmente dividido e a análise opera, justamente, nesta fenda. Trata-se, então, de escutar uma fala que, para cada sujeito, contém uma verdade singular, diversa do sentido clássico da verdade. Para a psicanálise, a via da verdade se faz pelo caminho das equivocações, dos lapsos, dos tropeços, das ambigüidades da palavra. É aí que habita a verdade do desejo, é por aí que o inconsciente faz suas irrupções. Ao final do seu primeiro seminário, Lacan aponta o que é mais essencial na descoberta freudiana: Nossos atos falhos são atos que são bem sucedidos, nossas palavras que tropeçam são palavras que confessam. Eles, elas, revelam uma verdade de detrás. No interior do que se chamam associações livres, imagens do sonho, sintomas, manifesta-se uma palavra que traz a verdade. Se a descoberta de Freud tem um sentido é este - a verdade pega o erro pelo cangote, na equivocação.31 Se saber e verdade estão dissociados, como sublinha Lacan, a ênfase da psicanálise recai não em um saber referencial ou consciente, racional, mas sobre um saber textual, presente na linguagem, residindo a verdade na própria fala do sujeito. Certamente, na medida em que não se pode dizer tudo, a fala será sempre faltosa, incompleta e a verdade, conforme assinala Lacan, sempre parcial, ou seja, não-toda. Apoiado na transferência, o trabalho psicanalítico necessitaria da crença na psicanálise para sua realização? Freud afirma que, para o sujeito fazer análise, basta que fale.32 O enfoque que estamos privilegiando não está relacionado à transferência do paciente com a psicanálise, pois não é necessário sequer que este saiba o que é a psicanálise, mas sim com o analista. Certamente, a crença de que alguém sabe e irá lhe “curar” ou “salvar” é, sem dúvida, o que leva o sujeito a procurar um analista (ou também um confessor, ou até mesmo um vidente...). Ao pronunciar uma conferência sobre o tema da crença, em 1997, Charles Melman33 afirma que toda crença gira em torno da idéia de que existe, em algum 30 FREUD,S., A questão da análise leiga (1926), AE: vol.XX, p.240; ESB: vol.XX, p.291. (o grifo é nosso) LACAN,J., Seminário 1- Os escritos técnicos de Freud (1953-1954), p.302. 32 FREUD,S., Sobre o inicio do tratamento (1913), AE: vol. XII, p.127-128; ESB: vol. XII, p.167. 33 MELMAN,C., La croyance (1997), Conférence faite à Reims (mimeo). 31 lugar, alguém que possui um saber. 34 Segundo ele, a estrutura da crença não difere em nada da estrutura em que se baseia a transferência e tanto explica a existência do analista como a presença do vidente ou outras figuras que venham ocupar este lugar. O que está em jogo é a busca do sujeito sustentada pela crença na existência desse alguém que sabe. Melman chama a atenção para o fato de que a crença independe do grau de racionalidade e da posição social do sujeito, pois tanto o presidente da república quanto o porteiro ou o cabeleireiro podem procurar um vidente. A crença diz respeito à subjetividade de cada um, ou seja, é restrita exclusivamente à vida privada do sujeito, mas também pode comparecer na vida social, uma vez que grupos inteiros são organizados sob a partilha de uma crença comum. Um dos aspectos mais importantes realçados por Melman é de que a crença de que “há alguém que sabe” não é um fenômeno delirante, mas sim, uma necessidade da estrutura. A relação que cada um irá estabelecer com esta, como veremos mais adiante, é o que vai permitir a organização das neuroses. Assim, a crença só existe através da atribuição de um sujeito que possa representar esse saber, ou seja, não se trata de um saber anônimo. O analista só pode operar deste lugar, ou seja, como suporte para esta crença, possibilitando, assim, o deslizamento dos significantes inconscientes do sujeito. Não por é acaso que, ao abordar o tema da crença, Melman comente a figura da vidente, pois Freud nos oferece inúmeros exemplos de sua experiência clínica em que seus pacientes relatam terem procurado uma vidente, um astrólogo ou 35 um grafologista. O interesse maior de Freud não é, absolutamente, explorar a veracidade das previsões (aliás, curiosamente, nenhuma delas se realiza), mas sim explorar o desejo que poderia estar escondido por trás dos relatos e que sustenta a manutenção da crença da possibilidade de sua realização. Chantal Brand-Gaborit comenta o trabalho minucioso de Freud na exploração do relato das profecias de seus pacientes : Ele [Freud] assinala que, assim como a vidente pode formular alguns significantes por onde se liga o gozo de um sujeito, ela não pode nem ordená-los, nem decifrá-los. Mas isto explica, no entanto, porque os clientes ficam tão encantados mesmo que as profecias não se realizem. O arrebatamento se dá pelo fato de que significantes de sua cadeia significante lhe são dados como uma mensagem em retorno. Haverá gozo maior para um sujeito do que receber os significantes de seu gozo como vindos do Outro?36 Poderíamos pensar, então, que a vidente tanto evoca o desejo do sujeito (e Freud não recua na tentativa de decifrálo) como também sustenta um lugar diferenciado, emprestando-se como suporte da crença de que possui um saber sobre o sujeito. Se para aquele que crê, o significado desta confiança não interessa, pois basta que confie no eleito para encarnar esse 34 Segundo nosso ponto de vista, essa formulação é um desdobramento do que Lacan coloca em termos de que nada tem fundamento para o sujeito, caso não acredite que há, em alguma parte, algo que não engane. (trata-se de uma referência à filosofia de Descartes) 35 Os três escritos principais nos quais Freud relata alguns exemplos das crenças de seus pacientes são: Psicanálise e telepatia (1921), Sonhos e telepatia (1922) e Sonhos e ocultismo (1932). saber, o mesmo não deve acontecer do lado do analista, que deverá sustentar a transferência como o motor do tratamento. Comenta Lacan: “o sujeito, por meio da transferência, é suposto ao saber pelo qual ele consiste como sujeito do inconsciente e é isso que é transferido ao analista, ou seja, esse saber dado que não pensa, nem calcula, nem julga, não deixando por isso de 37 produzir efeito de trabalho.” O sujeito “crê” que o analista sabe sobre sua verdade como se este a conhecesse de antemão. Assim, a transferência não deixa de se constituir como resistência ao saber inconsciente. Como formula Elizabeth Tolipan: “Ou o sujeito a-credita num sujeito suposto saber ou a-credita no inconsciente. Entretanto esta estrutura neurótica – a-creditar num sujeito suposto saber – tem que ser instaurada para que a análise seja um processo que vise sua liquidação.” 38 O que permite ao analista sustentar a posição de colocar sua escuta à disposição de qualquer palavra que o analisando possa lhe endereçar sem atender a demanda de tudo saber? É Lacan que nos indica as condições necessárias para o analista exercer sua função: O que ele obtém, no entanto, é de um valor inestimável - a confiança de um sujeito enquanto tal, e os resultados que isto comporta pela via de uma certa técnica. Ora, ele não se apresenta como um deus, ele não é deus para seu paciente. O que significa então essa confiança? Em torno do quê ela gira? A formação do psicanalista exige que ele saiba, no processo em que conduz seu paciente, em torno do quê o movimento gira. Ele deve saber, a ele deve ser transmitido, e numa experiência, 39 aquilo de que ele retorna. Esse ponto-pivô, é o que designo pelo nome de desejo do psicanalista. A importância do “desejo do analista” exige um comentário, uma vez que constitui uma questão destacada na discussão dos analistas sobre sua prática. Serge André propõe uma reflexão sobre se haverá algo que corresponda, no analista, ao desejo do mestre, ao desejo do médico, ao desejo do educador ou ao desejo da histérica. 40 Em 1959, no texto “A direção do tratamento”, Lacan utilizou a expressão “ser do analista”, que, mais tarde, cede lugar a de “desejo do analista”. Alguns anos depois, em 1964, diz: “[...] é o desejo do analista, no que ele tem de despercebido, 41 pelo menos até hoje, por sua própria posição, é essa a última e verdadeira mola do que constitui a transferência.” Mas, é no final do seminário Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise, que Lacan postula que o desejo do analista não é um desejo puro, mas sim “[...] um desejo de obter a diferença absoluta, aquela que intervém quando, confrontado com o 42 significante primordial, o sujeito vem, pela primeira vez, à posição de se sujeitar a ele”. Essa afirmação, embora não pareça de fácil compreensão, permite supor que o desejo do analista deva ser o de levar o sujeito até o ponto em que sua sujeição primária ao significante possa se repetir e, desta vez, ser como que escolhida pelo sujeito, ou seja, que possa decidir se realmente quer o que deseja. 43 Segundo Laurence Bataille , a especificidade do desejo do analista, que o diferencia de um desejo qualquer, é o fato deste não aspirar ser objeto do desejo do seu analisante. Ao não esperar o reconhecimento de seu desejo, o analista irá impelir, com seu desejo de analista, o desejo do analisante para outro lugar. O desejo do analista é, mais uma vez, apontado como essencial, uma vez que, ao suportar a transferência, envia o sujeito ao enigma do seu próprio desejo. O analista, ao se prestar a essa experiência na qual se oferece ao amor, mas também deste se furta, estaria, como Lacan aponta, em um 36 GABORIT,C.B., Comment la croyance éclaire-t-elle la division du sujet? in: Le discours psychanalytique de la croyance, Revue de l’Association Freudienne, n.24, p.213, Paris, 2000. 37 LACAN, J., Televisão (1993), p.53-54. (editora) 38 TOLIPAN,E., A estrutura da experiência psicanalítica (1991), Dissertação de mestrado, UFRJ, p.98. 39 LACAN,J., O Seminário, Livro 11: Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise (1964), p.218-219. (o grifo é nosso) 40 ANDRÉ, S., A impostura perversa (1995), p.18. 41 LACAN,J., “Posição do inconsciente” , in: Escritos, p.858. 42 LACAN,J., O Seminário, Livro 11: Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise (1964), p. 260. 43 BATAILLE, L., Desejo do analista e desejo de ser analista (1988), in : O umbigo do sonho , p.12-13. programa de televisão, mais próximo do santo? Ao fazer tal comparação, Lacan utiliza um neologismo que remete à idéia de que o lugar do analista é de dejeto pois, assim como o santo, não faz nenhuma caridade, mas sim, “descaridade”. 44 A questão da “con-fiança”, depositada na pessoa do analista, nos leva a avançar na direção de uma aproximação entre a crença e a transferência uma vez que, como vimos, esta pode ser dirigida a qualquer um que ocupe um lugar especial para o sujeito. Assim, não podemos afirmar que a situação analítica abarque todo o fenômeno da transferência. Sua produção, na cena analítica, admite que é preciso que haja, fora desta, condições que a possibilitem. É, no entanto, a psicanálise que se ocupará de dar uma direção única para a transferência: não responder à demanda amorosa e escutar o sujeito com o compromisso ético de conduzi-lo a precisar sua posição frente ao seu próprio desejo. O "sujeito suposto saber", conceito criado por Lacan para descrever esta função fundante da transferência, pode ser encarnado em quem quer que seja, analista ou não. Se o estabelecimento da transferência é necessário para que uma análise se inicie, esta não é motivada pelo analista e nem este pode dar conta do que a condiciona. Mas a função do analista é saber utilizá-la e, para isso, é necessário que 45 ocupe o lugar do sujeito suposto saber, o que não é fácil: exige "talento", como indica Lacan, em "A terceira" . O manejo da transferência pelo analista é um ponto fundamental. Em "A dinâmica da transferência", Freud fala da impossibilidade de tratar de alguém "in absentia ou in effigie"46, indicando que é na cena analítica que o analisando irá reproduzir diante do analista uma parte importante da história de suas relações afetivas. Através da transferência, o analisando não só informa sobre si mesmo, mas também atua (agieren) diante do analista, possibilitando o acesso à informações que, de outra forma, não seria possível. A hipótese de Freud remete à existência de clichês estereotípicos prontos a serem repetidos ao longo da vida do sujeito e que revelam sua maneira de conduzir-se na vida erótica. Mais tarde, irá reafirmar sua posição quanto à importância da relação do analisando com o analista: “O neurótico põe-se a trabalhar porque deposita crédito no analista e neste crê porque adota uma particular atitude afetiva para com a pessoa do analista”.47 Freud sublinha que o campo da transferência deve ser valorizado e cuidadosamente zelado pelo analista, pois: “A única dificuldade realmente séria que o analista tem que enfrentar reside no manejo da transferência”.48 49 Melman também aponta as dificuldades que a transferência pode trazer para o processo de análise, uma vez que está diretamente ligada à problemática da crença. Assim, há pessoas que parecem inaptas à transferência pelo fato da crença não se produzir, mas há também um outro aspecto clínico da questão: são situações em que o analisando não quer renunciar à crença da existência de um sujeito possuidor do saber que o anima. Neste caso, a situação pode levar ao prolongamento da análise, ou, ao contrário, resultar em uma ruptura súbita da relação com o analista, sob a forma de uma grande decepção. O 44 LACAN, J., Televisão (1993), p.32-33. Il décharite é uma palavra constituída pela condensação de déchet (dejeto) com charité (caridade), cujo sufixo dé (des) alude à ação contrária. Assim, é possível compreender esse neologismo da seguinte maneira: o analista é um santo que faz descaridade bancando o dejeto. 45 LACAN.J., La tercera (1974), p.83. 46 FREUD, S., A dinâmica da transferência (1912), AE: vol. XII, p.105 ; ESB: vol. XII, p.143. 47 FREUD, S., A questão da análise leiga (1926), AE: vol. XX p.210; ESB: vol. XX, p.255. (o grifo é nosso) 48 FREUD, S., Observações sobre o amor de transferência (1914), AE: vol. XII, p.163; ESB: vol. XII, p.208. 49 MELMAN,C., La croyance (1997) , Conference faite à Reins (mimeo) analista não tem que decidir sobre as crenças de seu analisando pois, evidentemente, não deve se colocar como diretor da consciência, ou inconsciência, de seu analisando. Por outro lado, deve estar avisado de que, ao longo do processo do tratamento analítico, ocorre uma “passagem delicada” – o momento em que o sujeito se depara com a falta de saber. Do lado do analista, é a trajetória de sua análise pessoal que irá possibilitar que este empreste sua pessoa para “encarnar” uma suposição de saber. Deve reconhecer, ainda, que se trata de um equívoco essencial, pois o saber suposto ao analista nada mais é que o saber advindo do próprio sujeito. Se o sujeito suposto saber nada sabe, a questão do que ele tem que saber não deve ser desprezada. A posição do analista, muito mais do que a posição de saber, é uma posição de 50 ignorância, uma ignorância douta . Do lado do analisando, como vimos, também há uma ignorância. Lacan fala da “paixão da 51 ignorância” como componente primário da transferência . Esta crença constitutiva do lugar de analisando não deve ser reforçada por uma prática que responda à expectativa do sujeito de encontrar um analista-mágico e onipotente. A identificação com uma posição de saber absoluto pelo analista transformaria a prática analítica em uma teoria (ou uma teologia) que não admite a falta. Freud, ironicamente, cita a frase do cirurgião francês do século XVI, Ambroise Paré: "Fiz-lhe os curativos: Deus o curou" 52 O saber essencial do psicanalista é resultado de sua própria análise, ou seja, ele só pode sustentar que haja um sujeito que sabe sem saber que sabe, porque pôde ter acesso a este saber inconsciente. Em “Análise terminável e interminável”, Freud escreve sobre as condições para que um analista exerça sua atividade: “Essa análise terá realizado seu intuito se fornecer àquele que aprende uma convicção firme da existência do inconsciente (...)”53. Freud usa a palavra "convicção"54, Uberzeugung e não crença, o que nos remete a pensar no término da análise, ou seja, ao momento em que o sujeito é levado a se confrontar com a falta do Outro. Será que podemos pensar que o abandono da crença na consistência do Outro levaria o sujeito à “convicção” na existência do inconsciente? Como constatamos em nossa experiência clínica, a transferência permite a emergência de um saber inconsciente, sob a condição de que o analista não atenda 50 Expressão, cuja origem é de Nicolau di Cusa (sec.XV), usada por Lacan para definir um tipo de saber que consiste em conhecer seus limites. 51 Tal ignorância, diferente do desconhecimento, decorre de uma busca da verdade, o que a torna uma dimensão necessária à entrada em análise. Lacan diz: “Somos nós que criamos essa situação e, portanto, essa ignorância” (Lacan, Seminário 1, p.194), marcando que tal posição na fala é construída em análise. 52 FREUD,S., "Je le pansais, Dieu le guérit" - Recomendações aos médicos que exercem a psicanálise (1912), AE, vol. XII,p115; ESB, vol. XII, p.153-4. 53 FREUD,S., Análise terminável e interminável (1937) AE: vol. XXIII, p.250; ESB: vol. XXIII, p.283. (o grifo é nosso) 54 Segundo o dicionário Aurélio, a palavra convicção tanto aponta para o sentido da certeza por demonstração como para uma persuasão íntima. Curiosamente, ao consultarmos o “Sigmund Freud: Index thématique raisonné alphabétique chronologique anthologique commenté”de Alain DELRIEU, os verbetes “crença” e “fé” sugerem que o leitor se remeta a palavra “convicção”. Vale também ressaltar que a “convicção no inconsciente”, à qual Freud se refere como resultante do final de análise, nada tem a ver com a certeza proveniente do registro imaginário do paranóico, como veremos no capítulo III de nossa dissertação. Outra referência à palavra “certeza”, para além do âmbito da psicose, é oferecida por Lacan, em seu artigo “O tempo lógico e a asserção da certeza antecipada”, onde este relaciona a certeza com o sucesso do enodamento dos três registros, isto é, real, simbólico e imaginário. à demanda que é feita pelo analisando. A ética psicanalítica implica em que o analista não ocupe o lugar daquele que sabe, sob a pena de obliterar a via de acesso ao inconsciente. A verdadeira importância da operação analítica não é a elucidação do sintoma. Defendemos a importância de buscar captar a razão pela qual o analisando crê no seu sintoma e, de maneira geral, pela qual crê no sentido – e, a partir daí, no Pai, em Deus e no analista. Não há dúvida de que, quando alguém pede ajuda ao analista, acredita que seu sintoma quer dizer algo e que basta apenas decifrá-lo.55 Mas, segundo Serge André, em A impostura perversa, a prática analítica se justifica por desfazer tal sustentação, ou seja, a crença no sentido. A transferência tende a reforçar o sentido. A depuração do sintoma só tem razão de ser quando reconhecemos que a necessidade do sentido é a própria condição do sintoma. Sem este passo fundamental, a psicanálise incorreria em uma mistificação. O analista não deve operar apenas como sujeito-que-supostamente-sabe sobre o sentido, mas sim como aquele que se presta a manter acesa a chama dessa crença (ou suposição)56 a fim de melhor conduzí-la ao seu ponto de não-senso. É objetivo do analista, em cada caso particular, descobrir para que irá servir e se deslocar da função de intérprete para a função de causa, de objeto-causa da experiência. Nesse ponto decisivo, é o desejo do analista, mais do que seu saber, que constitui o motor e a garantia de sua prática, e será, como nos aponta Lacan, o pivô da transferência. O exercício da clínica com sujeitos religiosos vem nos apresentando múltiplas situações em que a crença se presentifica. A crença religiosa pode ancorar a subjetividade, oferecendo uma saída para o sujeito se estruturar, evitando, assim, uma desintegração, cujo efeito seria mais ameaçador que sua própria alienação. Por outro lado, verificamos que a crença pode impedir que o sujeito escreva sua própria história, uma vez que a religião, como sistema fechado de crenças, também obtura a produção da singularidade. Talvez seja por isso que Lacan sugere que o sujeito 55 No seminário RSI (lição de 21/01/75), Lacan utiliza a expressão “crer no sintoma” e valoriza o fato deste carregar um sentido para o sujeito, ou seja, não apenas a constatação de sua existência. É a crença no sintoma que o leva a pedir ajuda a um analista – o sujeito crê que seu sintoma é capaz de dizer alguma coisa. Nessa mesma lição, Lacan aponta para duas importantes possibilidades de articulação com o verbo “croire”, pois, como iremos retomar mais adiante, demonstram o limiar entre a neurose e a psicose. 56 O termo “suposição”, segundo nosso ponto de vista, tem uma proximidade com o termo “crença”. Supor não leva a uma implicação necessária, não é tampouco saber. É simplesmente acreditar que vamos achar. religioso atribui a Deus a causa de seu desejo. Sua demanda passa a ser submetida ao desejo suposto de um Deus, ao qual se oferece em sacrifício com a intenção de seduzi-lo. Diz ele: “O jogo do amor entra por aí. O religioso, desse modo, instala a verdade num status de culpa. Daí resulta a desconfiança em relação ao saber (...)”57 . Em nossa experiência clínica, relatada a seguir, apostamos que algo da verdade do sujeito pode emergir pela via da transferência. Os impasses dessa clínica, no entanto, trazem questões, entre estas: como acolher a demanda do sujeito religioso, preenchida pela crença em um Outro garantidor, que o aprisiona e impossibilita a experiência do inconsciente? A elaboração teórica de nossa prática nos leva a considerar que a “peça chave”, para pensar tais impasses, é a valorização e questionamento do papel ocupado pela transferência. A psicanálise, diferentemente de outros discursos, não dá consistência à suposição de que o analista detém um saber sobre a verdade do sujeito, operando no sentido de sustentar o vazio que articula o discurso. Para isso, o analista deve ocupar um lugar, assim definido por Lacan: "(...) aquele que ele deve oferecer vago ao desejo do paciente para que se realize como desejo do Outro", ainda acrescentando: "quando o desejo surge para preencher a falta de certeza e de garantia, o sujeito se vê confrontado com aquilo que realmente importa, de vez que ele não é apenas um animal do bando". 58 1.3. A prática clínica com sujeitos religioso Fragmento 1 Trata-se de uma mulher de meia idade, muito religiosa, que procura a análise devido a sua angústia. Ao escutar a queixa desesperada, pronunciada na primeira entrevista, a analista se surpreende com seu pedido: "Quero que você me ajude a amar a Deus sobre todas as coisas.” A. procura tratamento por viver atormentada pela idéia de cometer suicídio, idéia que, segundo esta, a afasta de Deus, pois crê que tirar sua própria vida é um pecado mortal. Deixa claro que a religião tem grande importância em sua vida e que, 57 LACAN, J., “A ciência e a verdade” (1966) in: Escritos, p. 887. até então, sua religiosidade vinha impedindo que cometesse o suicídio. Diz acreditar que seu destino foi traçado para ser filha de Maria – e a imagem de si mesma parece confirmá-lo: "a escolhida", "a filha predileta de Deus". Nos últimos anos, tem dedicado sua vida à Igreja, cumprindo diariamente vários rituais religiosos. Participa de inúmeras atividades, que ocupam todo o seu dia, a ponto de ficar exausta. Além de seus compromissos religiosos, que considera vitais para evitar a culpa, conta que se sente obrigada a fazer suas orações de forma compulsiva. Como vive submetida a estes rituais, que se impõem como um imperativo, A. não pode se divertir, ou mesmo, se distrair. Reconhece que tudo a faz lembrar do pecado, especialmente suas idéias suicidas, o que faz esmaecer qualquer possibilidade de desejar e tem como efeito uma vida extremamente limitada. Em uma das primeiras entrevistas, A. pede para não ser julgada moralmente e parece preocupada com a opinião da analista quanto a sua religião. Conta, com detalhes, uma história de tratamentos que, até o momento, segundo seu entendimento, foram improdutivos. Também prepara um escrito, no qual relata toda a sua vida sexual, e o traz para as sessões para lê-lo, comentando-o passo a passo. Sua postura é bastante sedutora. Parece intrigada com o silêncio da analista. Refere estar se sentindo muito melhor depois de iniciar o tratamento, pois acha que a analista a entende como ninguém o fez até então. Há alguns sinais de transferência, embora ainda confusos. No final das entrevistas, quer beijar as mãos da analista, como faz com o padre. De suas lembranças infantis, destaca um dito popular verbalizado pela mãe e que a marcou de modo especial: "os rapazes fazem mal às moças.” Aos 5 anos, A. decidiu que nunca se casaria. Conta: "Entrei na igreja e pensei: sou inteligente, bonitinha e Deus me ama e, por isso, não vou me casar". Sua queixa inicial, o medo de cometer suicídio, retorna sempre em sua fala, mas assumindo novas configurações. Na cadeia associativa unem-se o medo de cair das alturas, o medo da morte e o "medo de cair em pecado". Este último aparece relacionado à sensação que acompanha seu medo de lugares altos: um formigamento na perna e uma voz interna que lhe diz: "Vai, se joga!". Cair em pecado significa, então, uma ameaça real de morte. O risco de perder o Deus que a sustenta é vivido como uma sensação de formigamento nas pernas e associado ao impulso de se lançar pela janela do andar alto de um edifício. O significante que 58 LACAN, J., O Seminário, Livro 8: A transferência (1960-61), p.218. se destaca é "cair", que tanto pode ser referido ao pecado como ao asfalto, destino de uma queda do alto. A ameaça e o desespero de cair em pecado aumenta terrivelmente na ocasião em que se depara com a seguinte frase bíblica: "o salário do pecado é a morte". A. reconhece o valor simbólico desta mensagem, mas admite tender a considerá-la ao "pé da letra". O uso de medicação psiquiátrica é, segundo A., uma proteção fundamental para evitar seu impulso suicida. Particularmente nas horas de desespero, como diz, toma um Dienpax, que considera ser um remédio que “contém” Deus e paz. Sua explicação remete ao desmembramento da palavra em Dien-pax, Dien, significando Deus, e Pax, a paz tão desejada para amenizar seu tormento. A. também faz uma exposição gráfica de sua vida: desenha um círculo cercado de setas externas. Dentro do círculo, lista todas as suas atividades religiosas. Em cima e abaixo deste, relaciona as causas e conseqüências de sua "doença": uma educação muito religiosa, o medo do pecado, a fobia de altura, os impulsos suicidas etc. A. fala, ainda, de uma vivência de despedaçamento e acha que isso pode acontecer, pois viveu a experiência de ter seu "espelho interno" quebrado em "mil pedacinhos". Sobre a linha de contorno do círculo, não deixa dúvidas: "aqui estou eu, sou a ferida". A. faz um deslizamento lingüístico, que aponta tanto para a ferida que ela é, como também para a idéia de ser "aferida", ou seja, referida por estes vários significantes representados pelas setas, assim como pelo conteúdo do círculo, ou seja, sua religião. Sua posição de "aferida" lhe permite estimar, calcular, criar uma medida pela qual pode, minimamente, se localizar. Aos poucos, A. vai revelando sua posição diante do desejo do Outro e do quanto se sente invadida por um discurso que vem de fora. Encontra, na religião, uma certa saída, uma organização mínima que a sustenta, mas que, muitas vezes, falha, deixando-a à mercê de um gozo mortífero. Ao longo de sua análise, seus vários escritos trazidos e lidos possuem um valor significativo de elaboração. Após pedir garantia de compreensão por parte da analista sobre o relato sobre sua vida sexual, A. destrói o escrito por considerá-lo "altamente comprometedor". A analista é colocada na função de guardar seus segredos. A transferência está estabelecida. A. Relata, então, um sonho: sonha que está tendo um orgasmo, mas fica na dúvida se isso é ou não pecado, já que é “só um sonho” e que não pode controlá-lo. Fragmento 2 : Trata-se do início do tratamento de uma senhora aposentada, muito religiosa, que foi encaminhada pelo padre devido a uma compulsão à confissão. B. chega muito ansiosa e diz precisar muito de ajuda, perguntando, várias vezes, se vai ficar "curada". Sua postura é de submissão e humildade, e ela não disfarça o desejo de ser “salva” de seu tormento pela analista. Relatando a história de seu sintoma, o problema da "depressão", como diz, conta que este começou quando passou a sofrer de insônia. Acorda no meio da madrugada e fica "vendo toda a sua vida passar". Indagada sobre os pensamentos que surgem naquele momento, diz que são "besteiras". Diante de um pedido mais insistente para que fale das "besteiras", revela que se entrega à auto-crítica: pensa, por exemplo, que nunca poderia ter casado, pois se sente incapaz de cuidar da casa, do marido, do filho e de suas obrigações domésticas. Assume, com tristeza, que, ultimamente, nem mais na hora da missa, se sente em "paz". Os significantes "incapaz", "capaz" e "paz" marcam sua fala. Pergunta a si mesma, em um determinado momento: "Será que sempre foi assim e eu nunca fui capaz de perceber?", "Será que sempre fui in-capaz?" As sessões iniciais com B. são tumultuadas, pois esta fica muito ansiosa com a nova possibilidade de falar de si mesma e questiona se não seria melhor tentar esquecer o passado. Várias vezes pede que a analista diga alguma coisa sobre o que deve fazer para se curar. Fica muito aflita ao lembrar que o padre lhe disse que só dependeria dela querer melhorar. Diz ter muita fé em que Deus está no seu coração. B. parece sair das entrevistas muito decepcionada, uma vez que a analista não lhe dá o que ela pede, mas, curiosamente, volta. Se Deus quer que ela melhore e se ela, mais do que ninguém, também quer, então, a pergunta que formula e endereça à analista é: "o que tenho que fazer para me livrar do meu sofrimento?". O silêncio da analista e a resposta do padre a deixam intrigada. Refere que o padre não quer mais que ela se confesse, pois já foi absolvida, e fica na dúvida se comemora ou não tal absolvição. Em um certo momento, B. depara-se com o equívoco de sua demanda: ao final de uma sessão, briga com a analista. Não quer pagar, já que, como diz, a analista não está resolvendo nada. A analista reconhece seu direito de querer ou não “trabalhar” e não responde suas perguntas, através das quais ela tenta barganhar: pagar seu tratamento desde que tenha garantia de que, se continuar, vai melhorar. A valorização do significante "trabalho" foi intencional e visou estabelecer uma diferenciação em relação a sua demanda religiosa de "salvação". A sustentação da necessidade do pagamento foi essencial para que algo de seu desejo pudesse aparecer. Fica claro que B. deve realizar o pagamento, pois, do contrário, ficaria com mais uma dívida (que a capturava no registro da culpa) e um gozo mórbido para o qual só via uma saída: a depressão. Sem dúvida, "pagar" para a analista também lhe exige um esforço a mais: o abandono da "crença" de que, ao Outro, nada falta. Superado o momento de impasse, B. revela um fato que perturba sua "paz": logo após ter tido um filho, engravidou novamente e entrou numa crise de depressão. Diz: "não me sentia ca-paz de cuidar de um, quanto mais de dois". Conta que, na ocasião, aceitou a sugestão do marido e do médico de fazer um aborto. Esta lembrança, que passou a torturá-la, vem acrescida de outro fato que se mostrou significativo: assinou uma autorização para o aborto. Este "ato" a torturava mais ainda, porque havia agido em desacordo com sua religião. B. diz ter revelado este segredo, muitas vezes, em confissão e, desta vez, para a analista : "Deus já me perdoou … mas eu não me perdôo". A insistência de B. em se manter, ao mesmo tempo, alienada e prisioneira do significante "in-capaz" não seria uma recusa de seu ato e de sua assinatura? Desculpabilizá-la não teria como efeito impedi-la de responder por seu ato e, conseqüentemente, poder tomar um caminho que não o da culpa? Ao colocar sua vida nas mãos de Deus, B. mantém sua dívida e espera que o Outro venha lhe salvar. A frase: "Deus já me perdoou, mas eu não me perdôo" mostra uma nova enunciação, cuja marca é superegóica, mas que, talvez, possibilite a abertura para uma implicação de sujeito. CAPÍTULO 2 – A crença e a constituição do sujeito 2.1 A crença primária: a Bejahung59 Neste capítulo pretendemos, inicialmente, localizar a crença em sua articulação com o conceito da Bejahung, ou seja, à luz da segunda tópica. Em seguida, retroagimos trinta anos, para abordar nosso tema a partir do conceito de das Ding e do juízo no “Projeto” onde Freud já menciona o termo crença. Partimos da idéia de que o sujeito só se constitui a partir da "crença" inicial básica na existência de uma “realidade”. Esta crença primária traz a possibilidade de existência das representações, ou seja, da entrada do sujeito na linguagem. É preciso “crer” que existe algo externo para que o interno possa se constituir. A aquisição da crença em uma realidade externa é enigmática, pois o sujeito não tem acesso direto à “realidade”. Freud nos permite tomar a noção de realidade como “peça” fundamental da instauração da crença.60 A prova da divisão presente na fundação de um “dentro” e de um “fora” é descrita, por Freud, através da operação da Bejahung, o que remete ao lugar das representações e não do objeto. É no contexto da chamada segunda tópica, especificamente no artigo de 1925, “A negativa” (Die Verneinung) que encontramos a marca distintiva da transmissão de seu ensinamento. Consideramos importante a referência direta às duas correntes pulsionais (Eros e pulsão de morte) presentes na constituição do sujeito, uma vez que afasta qualquer possibilidade de uma leitura 59 Segundo o Dicionário comentado do alemão, de Luiz Hanns, o termo alemão Bejahung é um substantivo derivado do verbo Bejahen, que possui a conotação de asserção, de uma resposta acompanhada de um “sim” e também de uma confirmação, na qual há aceitação ou concordância de alguma coisa. Bejahung é um termo usual da língua alemã, mas Freud, em 1925, no seu escrito “A negativa”, lhe confere um estatuto especial, tratando-o como um mecanismo metapsicológico. 60 Podemos depreender de vários de seus escritos – “Projeto” (1895), “Neurose e psicose”, “A perda da realidade na neurose e na psicose” (1924) e “A negativa (1925) – a idéia de que, para o psiquismo, não há realidade objetiva, mas “índice de realidade”, “substitutos de realidade” (rastros de memória, juízos, representações) , “fragmentos de realidade”. Freud considera que a realidade da fantasia é a que prevalece e, em “Esboço de psicanálise” (1938) afirma: “A realidade objetiva permanecerá sempre ‘indiscernível’ (FREUD,S. AE: 198 ESB:vol. XXIII, p.225). Cabe aqui uma observação: a tradução da obra de Freud dificulta a compreensão do conceito de “realidade”, pois o termo em alemão para designar a realidade da fantasia é Realitat. Há, no entanto, outro termo utilizado por Freud, Wirklichkeit, que não tem equivalente na língua portuguesa e foi também traduzido por realidade. A tradução de Wirklichkeit implica efetividade, operatividade e provém do verbo wirken significando agir, acionar, produzir um efeito. Lacan separa, radicalmente, os dois termos, o que nos parece fundamental para desfazer o equívoco da existência de uma só realidade. Para a realidade “indiscernível”, Lacan reserva a denominação de real. psicológica em seu enfoque de adequação sujeito-objeto. Freud afirma a falta de consistência de um objeto que possa dar ao sujeito uma satisfação completa, como veremos, através da teorização do processo de discriminação, ou seja, do juízo. Freud associa a Bejahung a um outro oposto: a Ausstossung. É necessária uma expulsão operando de forma indissociável da Bejahung, o que aponta para a instauração de uma diferenciação que dará possibilidade de existência do sujeito. Talvez seja este o motivo que leva Lacan a traduzir Bejahung por afirmação primordial, sublinhando sua função inaugural. A Bejahung, como pura afirmação indeterminada, é um sim indiscriminado, um sim absoluto e remete à unificação do eu com o objeto, que se ligaria ao momento mítico da relação primordial mãe-filho. Não se trata ainda de um mecanismo pelo qual algo perdido é simbolizado, mas uma tentativa de criar uma situação de unificação que permita a introjeção daquilo que é experimentado como bom. Este processo, contudo, não pode ser pensado sem o seu oposto, isto é, a expulsão para o exterior de tudo aquilo que é experimentado como desprazeroso. A existência de uma afirmação primeira associada com a Ausstossung (expulsão primordial) resulta na possibilidade de haver alguma diferenciação. Freud busca algo que faça a função de borda entre externo e interno, parecendo tentar criar uma topologia. Não podemos esquecer que cinco anos antes, em 1920, em meio à criação do conceito da pulsão de morte, Freud já havia fornecido um exemplo paradigmático do processo de simbolização, no qual é possível reconhecer a presença de um sujeito e de um objeto constituído. Trata-se da observação da brincadeira de seu neto, um menino de um ano e meio, relatada em “Além do princípio de prazer”, em que a criança atira repetidamente um carretel para além da borda do berço, recolhendo-o em seguida. O jogo da presença/ausência do objeto, modulado pela alternância de sílabas distintivas (fort-da), é um dos vetores da reformulação da teorização freudiana, marcando a virada da primeira para a segunda tópica. Freud demonstra aí que a ênfase do processo de simbolização está na presença de um par de significantes e não no objeto. Como, no jogo, a repetição é de uma experiência dolorosa, a ausência da mãe, é obrigado a reconhecer que seu motor não é o prazer. Supõe, então, que há algo que escapa à representação e que o sujeito insiste em tentar significar. O conceito de pulsão de morte lhe permite articular a possibilidade de uma representação comparecer em sua dimensão de falta. Lacan conclui, desse exemplo, que o par significante implica a lógica da pulsão de morte. Também considera esta experiência da criança como manifestação "às claras" da "vacilação radical do sujeito"61, noção fundamental para pensarmos na crença. É curioso que, em 1925, Freud retome o momento da constituição do sujeito, o que nos leva a supor que o exemplo do fort-da, apesar de preceder a aquisição da fala, já revela um esboço de linguagem, ou seja, já há um sujeito presente. No artigo “A Negativa”, parece buscar demarcar os diferentes níveis dos mecanismos que participam deste processo inaugural. No par Bejahung–Ausstossung, não há ainda nada que possa ser considerado como um julgamento, mas sim sua pré-condição. Seria um momento mítico em que, como vimos, se estabelece a distinção do fora e do dentro. Retomemos sua colocação: “A Bejahung – como um substituto da união – pertence a Eros; a Verneinung – sucessão da Ausstossung – pertence à pulsão de destruição”62. Estas operações apontam para dois momentos lógicos distintos: uma substituição (da união por uma Bejahung) e uma sucessão (da Ausstossung pela Verneinung). Mas, Freud não estava apenas preocupado em construir hipóteses míticas sobre o momento de origem. A indicação sobre momentos diferenciados e ligados diretamente às pulsões tem conseqüências clínicas relevantes, uma vez que estas operações definem os possibilidades distintas de destino do sujeito. Freud toma o negativismo do psicótico como da ordem da desfusão pulsional e, portanto, revelador de que algo aconteceu neste primeiro tempo da Bejahung. Lacan propõe pensar em uma “não-bejahung”, ou uma “não-crença” (Unglauben), como estando no mesmo nível do mecanismo da Verwerfung, pois: “trata-se exatamente do que se opõe à Bejahung primária e constitui como tal aquilo que é expulso”.63 A partir da conclusão de que, na psicose, há uma “falha” no momento crucial da instauração da Bejahung primária, inferimos que esta estaria na raiz da própria divisão do sujeito. Retomaremos este ponto da divisão do sujeito mais adiante em relação ao processo de juízo e de das Ding, que foge a qualquer possibilidade de articulação simbólica. 61 LACAN, J., O Seminário: Livro 11: Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise (1964), p.226. FREUD,S., A negativa (1925), AE: vol. XIX, p. 256 ;ESB: vol. XIX, p. 300. 63 LACAN,J., “Resposta ao comentário de Jean Hyppolite sobre a Verneinung de Freud”, in: Escritos, p.389. 62 No comentário de Jean Hyppolite sobre a Verneinung64, o autor aponta uma dissimetria entre a Bejahung-Ausstossung e a Verneinung, que nos parece significativa para a compreensão destes mecanismos. Diz Lacan, ao referir-se ao momento da Bejahung e marcando uma diferença em relação ao momento da criação do símbolo de negação: “Pois não podemos sequer relacioná-la (Behajung) com a constituição do objeto, uma vez que ela concerne a uma relação do sujeito com o ser, e não do sujeito com o mundo”.65 Esta diferença, realçada por Lacan, que a chama de “desfiladeiros”, alerta que a Bejahung e a criação simbólica da negação marcam momentos lógicos distintos. Assim, poderíamos pensar em um primeiro tempo em que não há nada estranho, onde o interno e o externo não se diferenciam, denominado por Freud de Real-Ich. O que é da ordem do estranho ao eu, assim como o que é seu, só se diferenciam através de uma operação, comandada pelo Lust-Ich, denominada expulsão (Ausstossung). Este movimento de colocar para fora tudo aquilo que é desprazeroso, e por isto estranho, é realizado em um segundo tempo e tem como sucessora a Verneinung, que já é a simbolização do momento de expulsão. A contrapartida desta expulsão é a Bejahung, que simboliza aquilo que não foi excluído, aquilo que de Eros pode ser representado. É importante observar que tais movimentos são situados no contexto inicial do princípio de prazer, isto é, em uma temporalidade lógica de um eu em construção. Não podemos esquecer que a operação responsável pela divisão do primeiro objeto (ou da primeira realidade), constitui a origem lógica da simbolização. Esta idéia já havia sido apresentada por Freud desde o “Projeto”, o que nos leva a supor que ali já estava a marca de toda sua construção teórica posterior. A realidade é apresentada, de saída, dividida entre as primeiras representações dos atributos do objeto e aquilo que é estranho (fremde), denominado por Freud de das Ding (a Coisa)66. A possibilidade de uma diferenciação que se origina de uma estrutura indiferenciada, na qual reinam apenas quantidades que irão impulsionar o trabalho de simbolização, só acontece através da Bejahung. De acordo com a teoria lacaniana, para que o campo do Outro possa se instituir como lugar da Lei, é necessário que haja uma admissão subjetiva, a 64 LACAN,J., “Introdução ao comentário de Jean Hyppolite sobre a Verneinung de Freud” (1954) in: Escritos. LACAN, J., “Resposta ao comentário de Jean Hyppolite sobre a Verneinung de Freud” , in: Escritos, p. 385. 66 A noção de das Ding será retomada em seguida, ao apresentarmos a formulação de Freud sobre o juízo. 65 afirmação (Bejahung) do significante do Nome do Pai, operação fundamental para que o sujeito possa entrar na estrutura simbólica. Ao extrair do texto freudiano a lógica da fundação do sujeito, através dos registros do real, do simbólico e do imaginário, Lacan relaciona a Bejahung-Ausstossung com a inclusão-exclusão significante, ou seja, com a própria constituição do simbólico e do real. Em seu escrito “Resposta ao comentário de Jean Hyppolite sobre a Verneinung de Freud”, sublinha: “A Bejahung não é outra coisa senão a condição primordial para que, do real, alguma coisa venha se oferecer à revelação do ser.”67 Assim, uma vez que tomamos esse conceito freudiano como a própria manifestação de uma crença inicial, é possível também pensarmos a crença em sua vertente fundadora da constituição do sujeito, ou seja, a crença viabilizando a existência de qualquer representação. Mas qual a importância de retomarmos esta construção teórica e a onde isto poderá nos levar? No Seminário I, Lacan lança uma importante questão, ao tomar a Bejahung como condição fundamental para o sujeito: “O que é que se passa quando essa Bejahung não se produz e quando nada é, pois, manifesto no registro simbólico?” 68 Um exemplo surpreendente dos efeitos da perturbação da Bejahung no sujeito pode ser encontrado no texto freudiano e é comentado por Lacan em “Resposta ao comentário de Jean Hyppolite sobre a Verneinung de Freud”. Trata-se de um episódio significativo da vida do “Homem dos Lobos”, no qual o paciente relata uma lembrança infantil. Aos cinco anos, ao brincar com uma faca fazendo entalhes em uma árvore, observa que havia cortado seu dedo mínimo, ficando o mesmo preso apenas pela pele. Diz não ter sentido nenhuma dor, mas sim um sentimento inexprimível de horror. Durante algum tempo, não teve coragem de pronunciar nenhuma palavra à babá, que estava ao seu lado, permanecendo incapaz de lançar outro olhar para o dedo. Após ter se acalmado um pouco, toma coragem e, ao olhar para seu dedo, surpreende-se por este estar intacto. Lacan sublinha que este episódio não está absolutamente no nível de uma negação da castração. A alucinação também não deve ser tomada como um fenômeno psicótico, uma vez que, nesta época, não havia nada que indicasse uma estrutura psicótica. A presença do mecanismo da Verwerfung é demonstrada pela 67 LACAN, J., “Resposta ao comentário de Jean Hyppolite sobre a Verneinung de Freud”, in: Escritos, p. 389. vivência de um “real primitivo”, onde o que não é reconhecido faz irrupção na consciência sob a forma de visto. Assim, segundo Lacan, no registro simbólico do plano genital, não houve Bejahung mas sim uma "não-Bejahung".69 Pela impossibilidade de simbolizar a castração em sua história de vida, esta surge no mundo externo sob a forma de uma pequena alucinação que deixa o sujeito, por alguns instantes, submetido a um sentimento de catástrofe. Tal exemplo retrata apenas um episódio, através do qual Lacan alerta sobre a ação destes mecanismos, que podem comparecer tanto na neurose como na psicose. Consideramos que, no caminho aberto por Freud e retomado por Lacan, temos muito a pesquisar sobre seus efeitos. Particularmente, no momento, tais situações oferecem uma possível direção para o estudo psicanalítico da crença, na medida em que pudemos reconhecê-la como participante da própria constituição do sujeito. Nesta mesma direção, em mais um exemplo da ocorrência de uma perturbação na Bejahung sem que uma psicose seja deflagrada, Lacan refere-se a uma experiência relatada por Freud, em carta para seu amigo Romain Rolland, cujo título é “Um distúrbio de memória na Acrópole”. Neste escrito, Freud fala de um acontecimento que retorna como lembrança em vários momentos de sua vida, enigmáticamente e, portanto, exigindo um deciframento. Sua conclusão é que, diante da Acrópole, fora “vítima” de um sentimento de estranheza (Entfremdungsgefuhl) e de uma não-crença (Unglauben)70. Na presença do monumento, Freud se surpreende com a frase: “Então efetivamente existe tudo isto como aprendemos na escola!” Se a presença real da Acrópole confirma que a possibilidade se tornou realidade, o enunciado proferido coloca em dúvida tal existência, evidenciando a ação da Unglauben. A questão que se coloca é a seguinte: qual seria a significação da Unglauben, quando esta se presentifica, não como um fenômeno emergente em uma estrutura psicótica, mas sim na forma de um 68 LACAN, J., O Seminário, Livro 1: os escritos técnicos de Freud, (1953-1954) p. 73. É notável o fato de Freud utilizar dois termos: Ausstossung e Verwerfung. Embora pareçam confundir-se devido à sua semelhança, supomos tratar-se de níveis diferentes. Ao postular a Ausstossung, Freud refere-se a esta em consonância com a Behajung, ou seja, indica a existência de um par de opostos para descrever como se dá a constituição de dois campos. No primeiro, graças a Bejahung, advém o sujeito e, no segundo, estaria aquilo que fica fora da simbolização – onde, para Lacan, se instaura o real. Já a Verwerfung parece não ter sido tratada por Freud como uma função constitutiva, mas como algo que não se opera, que fica faltando e produz um furo. Lacan propõe uma fórmula para descrevê-lo: “[...] tudo o que é recusado na ordem simbólica, no sentido da Verwerfung, reaparece no real”. (LACAN,J., O seminário: Livro 3, As psicoses, p.21) De qualquer forma, devido a sua complexidade, esta questão deverá permanecer em aberto. 70 Consideramos incorreta a freqüente tradução de Unglauben como não-crença ou descrença, pois seu sentido se aproxima mais da ausência da crença. Estes termos não são adequados por darem a impressão errônea de que a crença existiu e só num segundo tempo foi recusada. O conceito, e não mais simplesmente o termo, parece indicar que a "incredulidade" do psicótico é primária. Esta idéia foi introduzida no Seminário VII, de Lacan (p.71 e 164), e será explorada mais adiante. 69 episódio, como este caso relatado por Freud, ou pelo episódio vivido pelo “Homem dos Lobos”, quando este era criança. O que estaria querendo dizer Lacan ao fazer questão de realçar que, naquele momento, não havia sido deflagrada uma psicose? Segundo Eduardo Vidal71, o encontro com a Acrópole aponta para o objeto que atravessa a divisão do sujeito. Há, no entanto, algo mais que se revela nessa experiência: a realidade também se apresenta cindida. Um pedaço da realidade – Stuck der Realität – impõe-se ao sujeito como estranho. Mas, como circunscrever o processo de partição no campo da realidade? Este campo se constituiria como lugar da realidade psíquica, ou seja, só através da subjetividade de cada um, haveria a possibilidade de instauração de relação com a realidade efetiva. Através do encontro com a Acrópole, Freud é levado a um questionamento deste campo, o que resulta em um abalo da comodidade e da segurança da crença anteriormente adquirida. A frase indicativa desta surpreendente posição de ausência da crença é o “too good to be true”.72 O estranhamento de Freud e o forte impacto produzido por essa lembrança guardada por tantos anos, revela o fato de que um pedaço de realidade, por ação da Verwerfung, tornou-se separado e estranho, ocasionando um fracasso da possibilidade do seu reconhecimento. O exemplo de Freud sobre a própria experiência na Acrópole parece próximo de fenômenos como o déjà vu e o déjà reconté, nos quais algo à margem do simbólico parece irromper no real . Ficamos com uma observação de Lacan: Poderíamos dizer que o sentimento do déjà vu vem ao encontro da alucinação errática, que é o eco imaginário que surge como resposta a um ponto da realidade que pertence ao limite onde ele foi suprimido do simbólico.73 2.2 A crença e o juízo 71 VIDAL,E.A., “Um encontro singular com a Acrópole” in: Freud entre nós. Rio de Janeiro: Escola Letra Freudiana, p.31. 72 Esta expressão remete a algo curioso: ao nos depararmos com algum fato que não conseguimos explicar, exclamamos: “Isso é in-crível!”. No dicionário Aurélio, há duas definições opostas para a palavra incrível: aquilo que se acredita e aquilo em que não se pode crer. 73 LACAN, J., “Resposta ao comentário de Jean Hyppolite sobre a Verneinung de Freud”, in: Escritos , p.393. Considerando que as raízes do pensamento freudiano podem ser encontradas no “Projeto para uma psicologia científica”, destacamos sua primeira conceitualização metapsicológica do juízo onde já é mencionada a crença. Definida como um processo psíquico que se torna possível graças à inibição, a judicação só é realizada pela não coincidência entre a catexia de desejo de uma lembrança (ou imagem mnêmica) e uma catexia perceptiva semelhante. Quando há identidade, surge um sinal biológico para pôr fim ao pensamento e acionar a descarga. Afirma Freud: "Se, uma vez concluído o ato de pensamento, a indicação de realidade chegar à percepção, então se terá obtido um juízo de realidade, uma crença, atingindo-se com isso o objetivo de toda essa atividade."74 O termo empregado por Freud, crença (Glauben), deixa clara sua concepção de que todo juízo de realidade traz implícita uma crença em tal realidade. É necessário que “algo” funcione como índice de realidade externa – é este “algo” que se constitui em objeto de uma crença. Lacan aponta que a crença estabelece o modo mais profundo da relação do homem com a realidade e isto se articula como “fé”75. A importância de retomar a função do juízo neste escrito tão inicial deve-se ao fato de Freud incluir a crença como integrante do processo relativo à constituição do sujeito. Diretamente relacionada aos mecanismos fundantes, tem, segundo a hipótese freudiana, um caráter decisivo para o destino do aparelho. Assim, uma vez que “algo” escapa à apreciação judicativa, um índice de exterioridade se faz necessário e este permanecerá como índice do primeiro estranho. Como veremos mais adiante, Lacan se refere a este momento para assinalar o que acontece na paranóia : “Esse primeiro estranho em relação ao qual o sujeito tem de referir-se inicialmente, o paranóico não acredita nele.76 Como vimos, ao postular o conceito de Verneinung, Freud reformula sua análise dos primórdios da constituição do sujeito e da função do juízo. No escrito de 1925, embora não mais utilize o termo crença, introduz o que apostamos ser seu correspondente, ou seja, a noção de Bejahung. Vamos retomar estes dois momentos. 74 FREUD, S., Projeto para uma psicologia científica (1895), AE: vol. I, p.378; ESB: vol. I, p. 440 (o grifo é nosso). 75 LACAN,J., O seminário: Livro 7 (1959-60): A ética da psicanálise, p.71. 76 Idem, ibidem, p.71. Em 1895, Freud está às voltas com a capacidade do aparelho psíquico de discernir entre representações. O processo psíquico, que Freud denominou juízo primário, é provocado pela não identidade entre desejo e percepção. Trata-se de, a partir da situação perceptiva dada, atingir a situação perceptiva desejada. Já o juízo secundário emerge do juízo primário e sua função primordial é reconhecer o objeto ausente, adiando assim a descarga das quantidades.77 Tal diferenciação no processo de juízo deixa um resto que foge a toda articulação possível e compreendemos que aí já está colocada a noção de das Ding (a Coisa). Diz : “O que chamamos coisas são resíduos que se esquivaram ao juízo”.78 Para melhor visualizar este processo, Freud nos apresenta um exemplo utilizando três letras: a, b, c. Supõe, como hipótese, que há uma catexia de desejo, que é representada por a+b. Uma vez que a percepção só encontra a+c, o que fará o aparelho? Irá em busca, através das conexões de c, de um acesso a b, ou seja, do elemento desaparecido. Através desta escrita minimal composta de três letras, Freud introduz o elemento a como aquele que permanece constante, ou seja, a Coisa, enquanto b é o elemento variável, isto é, o atributo da Coisa e c é o elemento que, no lugar de b, é a marca da não coincidência. Assim, das Ding possui um estatuto complexo, pois é tanto o que sobra e resta à articulação simbólica dos juízos primário e secundário, como também é o que coloca em funcionamento estes processos. A primeira apreensão que o sujeito faz da realidade e que lhe possibilita um juízo de realidade (ou uma crença), foi denominada por Freud de o complexo do próximo (Nebenmesch)79. Freud reconhece aí o objeto dividido em duas partes, sendo uma delas muda, inassimilável e imutável. Diz: Desse modo, o complexo do próximo se divide em duas partes, das quais uma dá impressão de ser uma estrutura que persiste coerente como uma Coisa, enquanto que a outra pode ser compreendida por 77 A terminologia utilizada no “Projeto” nos parece estranha, mas podemos pensar que a quantidade à qual Freud se refere vem sempre do exterior, seja do mundo externo ou do próprio corpo, o que nos possibilita pensar que há “algo” radicalmente alheio ao sujeito. É nesta exterioridade radical que se manifesta o caráter intrusivo da quantidade e que corresponde, em uma linguagem lacaniana, à presença de um Outro pré-histórico. 78 FREUD,S., Projeto para uma psicologia científica (1895), AE: vol. I, p.410; ESB: vol. I, p. 441. 79 No alemão, Neben significa próximo e mensch, homem. meio da atividade da memória – isto é, pode ser reduzida a uma informação sobre o próprio corpo do sujeito. 80 O eu, ainda em construção, irá aos poucos reconhecer, através de sua própria experiência e dos próprios movimentos provenientes do corpo, a qualidade do objeto, que pode ser formulada como atributo e constitui as primeiras representações (Vorstellungen), a partir das quais o aparelho irá regular o prazerdesprazer. Mas das Ding é, “absolutamente, outra coisa”81, pois não recebe atributos nem é predicável. Diz Lacan: Das Ding é originalmente o que chamaremos de o fora-do-significado. É em função desse fora-do-significado e de uma relação patética a ele, que o sujeito conserva sua distância e constitui-se num mundo de relação, de afeto primário, anterior a todo recalque.[...] Pois bem, aqui, é em relação a esse das Ding original que é feita a primeira orientação, a primeira escolha, o primeiro assento da orientação subjetiva que chamaremos, no caso, de Neurosenwahl, a escolha da neurose. Essa primeira moagem regulará doravante toda a função do princípio do prazer.82 A noção de das Ding formulada no “Projeto” foi valorizada por Lacan, que escreve, em 1955, “A coisa freudiana”, além de retomar este conceito em vários momentos de seu sétimo seminário. Apostamos que sua importância está em apontar uma divisão constitutiva no campo do Outro e, portanto, no sujeito. Como vimos, na relação com o Outro, algo no sujeito é expulso e é em torno desta primeira expulsão que se estabelece um externo a ele próprio, através do qual irá orientar-se. A partir de então, o sujeito, na sua relação com a realidade, vai ao encontro do objeto no qual precisa acreditar que será encontrado, embora esteja desde sempre perdido. Em 1925, Freud revê a função do julgamento e propõe uma definição precisa: “O julgar é a ação intelectual que ‘decide’ sobre a escolha da ação motora, coloca um fim à protelação do pensamento, e conduz do pensar ao agir.” 83 Haveria na função de juízo, duas decisões essenciais: atribuir ou negar uma qualidade a uma 80 FREUD,S., Projeto para uma psicologia científica (1895), AE: vol. I, p.413; ESB: vol. I, p. 438. LACAN,J., O seminário: Livro 7 (1959-60): A ética da psicanálise, p.68. 82 LACAN,J., O seminário: Livro 7 (1959-60): A ética da psicanálise, p.71-72. 81 coisa e conceder ou impugnar a existência de uma representação na realidade. É a partir do “não” que a função do julgamento se torna possível, sendo esta a condição do surgimento do pensamento.84 O valor teórico-prático da manifestação verbal da negação, o “não é”, representa a possibilidade de que, a partir de um símbolo de negação, algo possa ser dito, mas com a condição de ser negado. Assim, Freud precisou construir (ou reconstruir) uma teoria sobre a divisão fundante do sujeito para explicar o “não” como marca de origem e que remete a um modo de se tomar conhecimento do recalcado. O primeiro tipo de juízo indicado por Freud, no contexto da segunda tópica, é o “juízo de atribuição”, no qual a relação sujeito-objeto se estabelece sob o comando do eu-prazer (Lust-Ich). O julgamento quanto à qualidade, sobre a qual incide a decisão, é comandado pelas mais antigas moções pulsionais orais: “Eu quero comer isto ou quero cuspi-lo” ou “Eu quero introduzir isto em mim ou quero expulsar isto de mim”, ou ainda, “Isto deve estar em mim ou fora de mim”. Através da imposição do princípio de prazer, o eu é obrigado a introjetar os objetos do mundo externo, que se tornam fonte de prazer, e a projetar aquilo que, no seu interior, é causa de desprazer. Em decorrência, uma parte do externo é incorporada ao eu, enquanto outra, fonte de desprazer, é projetada no mundo e passa a ser vivida como hostil. O juízo de existência é apresentado em termos de uma decisão a ser tomada sobre a existência real de uma coisa representada. Assim, já não se trata de acolher ou expulsar uma representação no eu, sob o comando do princípio de prazer, mas de julgar se algo, já existente no eu, pode ser reencontrado no exterior: "Portanto, o objetivo primeiro e imediato do teste de realidade não é encontrar na percepção real um objeto correspondente ao representado mas reencontrá-lo, certificar-se de que ainda existe." 85 Tal afirmação deixa claro que Freud não considera o campo da realidade como padrão de medida ao qual o sujeito deve se adaptar. Neste segundo tempo, já não se trata de admitir e incluir, no eu, uma representação segundo o critério de qualidade: a busca é de um encontro de algo que já foi afirmado. É uma questão de 83 FREUD,S., A negativa (1925), AE, vol XIX, p.256; ESB, vol. XIX , p.299. Podemos supor que o “não” está em correlação com a Ausstossung, isto é, com a expulsão fundante do real. 85 FREUD, S., “A negação” (1925), in: Die Verneinung – A negação, Letra Freudiana, Escola, Psicanálise e Transmissão, ano VIII, n.5 (tradução: Eduardo A.Vidal), p. 13. 84 garantia pelo estabelecimento de um pacto, de uma con-fiança86, pois, originalmente, a existência da representação já seria uma fiança para a realidade do representado. Lacan sintetiza: Primeiro houve a expulsão primária, isto é, o real como externo ao sujeito. Depois, no interior da representação (Vorstellung), constituída pela reprodução (imaginária) da percepção primária, a discriminação da realidade como aquilo que, do objeto dessa percepção primária, não apenas é instaurado como existente pelo sujeito, mas pode ser reencontrado no lugar onde este pode apoderar-se dele.87 2.3. A operação de alienação e separação Freud apresenta sua concepção da constituição do sujeito e Lacan segue seus passos ao propor uma operação composta por dois movimentos: o primeiro, a alienação e o segundo, a separação. Esta nova contribuição para a psicanálise foi desenvolvida em 1964, no Seminário 11, e no artigo "Posição do inconsciente", também de 1964. Lacan aponta para o primeiro movimento de alienação como sendo responsável pela divisão do sujeito. O sujeito, condenado a aparecer justamente nessa divisão, encontra de um lado, no campo do sujeito, o ser, enquanto, no campo do Outro, o sentido. O lado do ser é representado pelo vazio e, do lado do sentido, como mero intervalo na relação entre significantes. Assim, a busca de sentido, que marca a entrada do sujeito na linguagem, implica, necessariamente, em uma perda da suposta completude do ser. O campo do sentido, que esvazia qualquer substância do ser, tem como resultado desta operação o surgimento do sujeito. Mas este campo, como veremos, também aparece decepado de uma parte – parte para sempre perdida e fundante do campo do não-sentido. Lacan situa o inconsciente entre os dois campos, de modo que não se pode delimitar o que é de um e o que é do outro. O inconsciente lacaniano obedecerá ao que a topologia denomina de estrutura de borda, ou seja, não está dentro nem fora mas sim na margem. 86 Esta construção freudiana acerca do “juízo de existência” nos leva a supor que a crença participa deste processo na medida em que permite ao sujeito apostar na realidade. 87 LACAN, J., “Resposta ao comentário de Jean Hyppolite”, in: Escritos, p. 391. O papel do Outro da linguagem na fundação do sujeito é enfatizado por Lacan em quase toda sua produção. Remete à origem desta determinação radical, uma vez que o sujeito freudiano é primariamente um efeito e não um agente: “Se o sujeito é o que lhes ensino, a saber, o sujeito determinado pela linguagem e pela fala, isto quer dizer que o sujeito, in initio, começa no lugar do Outro, no que é lá que surge o primeiro significante"88. Podemos associar essa construção de Lacan à hipótese freudiana sobre a afirmação primordial, a Bejahung, pois se faz necessário um “eu topo” para que algo possa existir, o que indica, segundo a terminologia de Lacan, que ocorreu a entrada no campo do Outro. A partir desta primeira marca, deste primeiro traço, o sujeito será representado pelo significante, sendo que este pede um outro significante, o que dá início à cadeia significante. A operação de alienação coloca em jogo o surgimento do sujeito através de uma “escolha” feita pelo campo do Outro, ou seja, pelo Outro simbólico, da linguagem. O sujeito surge no lugar do Outro, no mesmo lugar em que surge o significante que o coagula. Diz Lacan sobre a incidência do significante sobre o sujeito: “(...) por nascer com o significante, o sujeito nasce dividido. O sujeito é este surgimento que, justo antes, como sujeito, não era nada, mas que apenas aparecido, se coagula em significante”.89 Esta importante definição indica que o sujeito se identifica com o significante e também fica neste petrificado, como se faltasse a parte viva de seu ser. Lacan aponta: “Não há sujeito sem, em alguma parte, afânise do sujeito, e é nessa alienação, nessa divisão fundamental, que se institui a dialética do sujeito”.90 A alienação apresenta a modalidade lógica formal da união, um vel, de dois conjuntos com ao menos um elemento em comum. Lacan, no entanto, utiliza este operador da lógica de uma forma específica. Não se trata do vel clássico de restrição do tipo exclusivo – ou este ou aquele; tampouco do vel do tipo de uma escolha inclusiva, como uma conta bancária conjunta – este ou aquele ou os dois. Lacan define a alienação por uma terceira possibilidade de escolha em que se deve decidir qual dos conjuntos se deseja manter, sendo que o outro conjunto 88 LACAN,J., O Seminário: Livro 11: Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise (1964), p.187. Idem, ibidem, p.188. 90 Idem,ibidem, p.209. 89 desaparece, inclusive a interseção. Assim, uma parte acaba sempre sumindo, seja qual for a escolha, razão pela qual esta será denominada uma escolha forçada. O exemplo clássico desta “escolha” é o que resulta da opção dada pelo assaltante: "a bolsa ou a vida!". Se a escolha for pela bolsa, perde-se a vida. Assim, quando alguém nos diz, “a bolsa ou a vida”, só temos uma única escolha real: certamente escolhemos a vida e ficamos sem a bolsa. É importante lembrar que este é apenas um exemplo de que este vel da alienação, constituinte da dialética do sujeito, não é uma invenção arbitrária, pois está presente na linguagem e possui uma implicação direta na constituição do sujeito. Há uma importante conseqüência clínica da alienação: não se trata do analista tentar livrar o sujeito das suas inúmeras significações, mas sim de reduzir os significantes que o representam a seu não-senso para que este possa, como diz Lacan, “... reencontrar os determinantes de toda sua conduta.”91 O aforisma de Lacan “o desejo do homem é o desejo do Outro” aponta, justamente, que é só no nível do desejo do Outro que o homem pode reconhecer o seu próprio desejo. A experiência analítica nos mostra que o desejo do sujeito se constitui na medida em que faz funcionar toda uma cadeia de significantes originada no campo do Outro. Assim, é possível afirmar que o sujeito alienado deu o primeiro passo imprescindível para ascender à subjetividade e este passo, paradoxalmente, envolve ‘escolher’ o seu próprio desaparecimento. Diante de uma ameaça de morte, o sujeito não tem outra saída a não ser optar pelo campo do sentido para acessar ao campo do Outro. Se a escolha da vida implica a perda da bolsa, a escolha pelo sentido implica a perda do ser. É assim que tudo começa – por uma perda. A este primeiro desaparecimento, que corresponde à entrada no campo do Outro, Lacan utiliza um termo emprestado de Ernest Jones – o fading ou afânise. Enquanto Jones fazia uso dele para falar do desaparecimento do desejo, Lacan vai mais longe ao dizer que é o próprio sujeito quem desaparece. Esta concepção nos parece bastante cara para a psicanálise, pois se refere ao próprio sujeito do inconsciente que está sempre pronto a desvanecer-se. A histérica leva isto ao pé da letra, mas não é uma exclusividade sua, pois todo sujeito busca o estado de repouso. 91 Idem, ibidem, p.201. Segundo a direção do presente estudo, podemos nos apropriar da conceituação de Lacan e localizar a crença na operação da alienação. Se o que está em jogo nesta última é a existência de uma abertura dialética em que o destino do sujeito parece vacilar entre a petrificação dada pelo significante e o deslizamento no campo do sentido, qualquer possibilidade de uma substância do ser já está descartada. Mas como articular esta operação com o que a crença revela? Lacan utiliza os mesmos termos para apontar a parcialidade de toda crença, não deixando dúvida de que esta revele a própria divisão do sujeito. Neste mesmo seminário, no qual desenvolve as duas operações fundantes do sujeito, encontramos as seguintes referências à crença: "Se não há, de fato, crença que seja plena e inteira, é que não há crença que não suponha, em seu fundo, que a dimensão última que ela tem que revelar é estritamente correlativa do momento em que seu sentido vai desvanecerse."92 Outra indicação de Lacan é importante para este estudo, pois confirma a relação da crença com operação de alienação: “Temos a prática da alienação fundamental na qual se sustenta toda crença, por esse duplo termo subjetivo que faz com que, em suma, seja no momento em que a significação da crença parece mais profundamente desvanecer-se, que o ser do sujeito vem à luz do que era propriamente falando a realidade dessa crença."93 Podemos situar o contexto das citações destacadas acima com o questionamento da não existência de uma crença plena. Haveria nesta uma inevitável parcialidade, o que parece estar relacionado com os elementos que participam da fórmula da alienação e que compõem a primeira dupla de significantes: S1 e S2. Lacan refere-se ao que acontece na crença pelo que não acontece na psicose, isto é, nesta última há uma descrença (Unglauben). Na ausência do intervalo entre S1 e S2, esta primeira dupla de significantes se solidifica e encontramos aí os casos de autismo e de psicose. Diz: “Essa solidez, esse apanhar a cadeia significante primitiva em massa, é o que proíbe a abertura dialética que se manifesta no fenômeno da crença”.94 92 Idem, ibidem, p.225. Idem, ibidem, p. 250. 94 Idem, ibidem, p.225. 93 A importância da crença nas estruturas clínicas é um dos pontos preciosos para o presente estudo e iremos abordá-lo no capítulo seguinte desta dissertação. Há, no entanto, como vimos, na própria experiência de Freud na Acrópole e no episódio do dedo do “Homem dos Lobos”, uma variedade de situações95 em que a experiência da ausência da crença ocorre, em que há uma Unglauben sem que, com isso, se deflagre uma psicose. Há, ainda, outro exemplo da vicissitude da crença que merece ser descrito, pois nos esclarece o quanto a crença é não-toda. Trata-se de um fragmento retirado do escrito “Eu sei...mas mesmo assim”, de Octave Mannoni, onde o sujeito “é pego” pela crença. No capítulo XVIII do seminário XI, Lacan comenta uma passagem de Casanova, a partir do texto de Mannoni. Casanova teria passado da posição de impostor, na qual vivia tentando ludibriar os crédulos, para um momento de crença. Justamente quando se percebe totalmente impotente, Casanova entra em pânico, pois é, nos diz Lacan, "como se verdadeiramente ele tivesse encontrado o rosto de Deus para fazê-lo parar".96 Assim, o "jogo" no qual Casanova se coloca como impostor e sai em busca de um crédulo tem uma reviravolta, quando este cai no lugar do crédulo. O. Mannoni assinala o momento em que o impostor desaparece: "… pois o que impulsionava a tal jogo são suas crenças repudiadas."97 O papel do crédulo (um tolo) é assumido por uma mulher, uma camponesa, que Casanova deseja seduzir e submeter por seu simples prestígio de mágico. Assim, no instante em que ele se instala dentro de um círculo coberto de vestes "mágicas", irrompe uma tempestade e lhe falta credulidade na sua operação mágica, o que provoca uma reviravolta. Este é, então, tomado pela crença de que os raios não o atingiram por não poderem entrar no círculo, ou seja, passa a crer ser o círculo mágico. Apesar de saber que esta era uma "falsa crença", tira uma conclusão de tal experiência e a crença aparece novamente, só que de forma deslocada: ele é tomado por uma poderosa idéia supersticiosa de que haveria 95 Ainda que este estudo não encaminhe uma análise do enigmático fenômeno sectário das seitas, mencionamos o trabalho de C. MELMAN e sua hipótese de que a dimensão psíquica que sustenta as seitas não é a da crença, mas sim a da certeza e da convicção. As seitas não devem ser confundidas com a religião, pois a última reconhece a divisão que é característica do crente. Este acrescenta: “O que diferencia então, radicalmente as seitas das religiões é que, em nenhum caso, se trata para eles de um pai que ama suas criaturas, mas sim, de um mestre a quem é preciso se doar e pelo qual é preciso estar pronto a morrer.” (Melman,C., “Como reconhecer uma seita?” in: A clínica psicanalítica e as novas formas de gozo, Tempo Freudiano, n.5, agosto de 2004). 96 LACAN,J., O Seminário: Livro 11: Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise (1964), p.225. uma proteção da virgindade da camponesa e que, caso atacasse sua inocência, seria ferido de morte. O que acontece com Casanova é considerado, por Lacan, como hilariante: o crédulo faltou e a credulidade recai sobre ele, que fica no lugar vazio pelo termo que faltou. O lugar do grande Outro, lugar este do termo faltante, passa a ser desempenhado por uma tempestade e, neste momento, vai por água abaixo sua impostura. Casanova tentava usurpar o lugar do Outro, apresentando-se como mágico, mas como não acreditava ser isto possível, pois não era louco, precisou, ao se encontrar nesta situação específica, dos olhos do crédulo. A crença aponta para a entrada do sujeito no campo do Outro e, em conseqüência, sua divisão. Podemos pensar que a crença participa deste movimento, uma vez que traz à tona a dialética do advento do sujeito a seu próprio ser. Assim, é possível aproximá-la do primeiro movimento da alienação, que é responsável pela divisão do sujeito e o condena a só aparecer nesta divisão. Também nesta articulação da crença com a alienação, encontramos o desvanecimento de sentido, de que nos fala Lacan, o que a torna fugaz e de difícil compreensão. Há, porém, um outro mecanismo, chamado por Lacan de separação, que participa e possibilita a existência da crença, pois, além de dividir o sujeito, também o leva a reconhecer uma falta no Outro. Chantal Brand-Gaborit esclarece esta volta a mais: O que traz Lacan é que, para um sujeito, a instalação da crença é contemporânea de seu advento enquanto sujeito. Com efeito, o sujeito só advém como tal no momento em que, por um ato simbólico, emite uma hipótese quanto à falta do Outro, ou seja, da mãe. É um ato simbólico, pois à mãe, enquanto o Outro real, parece não faltar nada. Esta falta, ao mesmo tempo reconhecida e criada por este ato, abre, assim, no Outro, um lugar no qual o sujeito cederá o objeto de sua 98 pulsão, o objeto a, causa de desejo, que se encontrará então depositado no Outro. Ao relacionarmos a crença também com a operação de separação, isto é, direcionada ao desejo do Outro, alguns desdobramentos são necessários. A articulação desta delicada questão nos abre dois caminhos: uma possível aproximação da crença com a fantasia; e, conforme abordamos no primeiro capítulo, a crença como elemento de sustentação do sujeito suposto saber, ou seja, da relação da crença com a transferência. Porém, são necessários alguns breves apontamentos sobre a descrição que Lacan nos oferece desta segunda operação. 97 MANNONI,O., Eu sei,mas mesmo assim... (1973), p.26. BRAND-GABORIT,C., “Comment la croyance éclaire-t-elle la division du sujet?” in: Le discours psychanalytique – Reveu de l’ Associacion Freudienne, n.24 : De la croyance (2000), p.216. (o grifo é nosso) 98 A separação remete a um sujeito já instalado no campo do Outro e dividido pelo efeito do significante. Tem uma importância fundamental, pois o sujeito precisa se separar – daí a própria nomeação desta operação – para se defender, uma vez que está totalmente submetido ao significante sob o qual sucumbe. Verifica-se, neste segundo movimento, não mais a cisão do sujeito, que foi causada pela linguagem, mas a cisão referente ao objeto que funcionará como causa de desejo. É no campo do Outro que o sujeito irá reconhecer que algo lhe falta, o que corresponde à descoberta de que o Outro é desejante. Assim, se no primeiro movimento, o da alienação originária, o sujeito dá entrada no campo do Outro, ou seja, perde o ser para ganhar o sentido, no movimento da separação, já estando instalado no campo do Outro, vai encontrar o desejo do Outro, a barra que aponta para castração do Outro – e onde há falta, há desejo. Elizabeth Tolipan, ao retomar os principais conceitos de Lacan, aponta uma função específica do movimento de separação. Defende a seguinte idéia: Enquanto o movimento de alienação deixa o sujeito solto, como um pêndulo que vai pra lá e pra cá, oscilando, é a separação que o segura, que tira o sujeito deste lugar de vacilação e o coloca num lugar: fixa-o num ponto. O desejo que aí surgiu, deste corte significante, retorna a uma espécie de fixidez, promovendo a separação. O resultado dessa segunda operação não apenas encerra o efeito da primeira, colocando o sujeito no tempo da fantasma (S<>a), como também recusa ao sujeito de desejo que se saiba efeito de palavra, ou seja, que ele é por ser do Outro.99 O processo de separação tem a ver com separare, diz Lacan, mas termina em se parere, que significa se engendrar, se parir. Assim, neste nível, seguindo a origem latina da palavra engendrar, que se liga ao “se procurar”, a questão é: como o sujeito terá que se procurar? Como vimos, o movimento de separação permite que o sujeito possa se defender do significante ao qual está totalmente submetido. A dimensão do intervalo significante é fundamental para o surgimento da pergunta sobre o desejo do Outro: o que ele quer dizer? Esta pergunta retorna para o sujeito 99 TOLIPAN,E., A estrutura da experiência analítica (1991), p.43. de forma inquietante: o que ele quer de mim? Lacan indica que o intervalo é a estrutura mais radical da cadeia significante e veículo do desejo: Seja como for, é sob a incidência em que o sujeito experimenta, nesse intervalo, uma Outra coisa a motivá-lo que não os efeitos de sentido com que um discurso o solicita, que ele se depara efetivamente com o desejo do Outro, antes mesmo que possa sequer chamá-lo de desejo e muito menos imaginar seu objeto.100 A separação está fundada na interseção (ou produto), que se constitui pelos elementos pertencentes aos dois conjuntos. Entre o sujeito e o Outro há uma falta e é, justamente, esta lacuna que Lacan chama de desejo. Convém lembrar que, aqui também, encontramos uma modificação da conhecida operação de interseção utilizada na teoria dos conjuntos: na operação de separação de Lacan, há uma interseção definida por aquilo que falta a ambos os conjuntos, não pelo que pertence aos dois. O sujeito é, então, conduzido por uma dialética e é aí que desponta o campo da transferência. Assim, a noção de interseção utilizada por Lacan, para definir a separação, surge a partir do recobrimento de duas faltas. A primeira falta é resultante da experiência que, nos intervalos do discurso do Outro, faz brotar o questionamento: “Ele me diz isso, mas o que é que ele quer?”. É neste intervalo que o sujeito vai tentar apreender o enigma do Outro e isto só é possível devido às faltas inerentes deste discurso. Na intenção de responder a este questionamento, a este “por que será que você me diz isso?”, o sujeito traz a falta antecedente de seu próprio desaparecimento, pois é em tal falta que irá situar o ponto de falta percebida no Outro. A resposta que irá dar a este suposto desejo do Outro, cujo objeto lhe é desconhecido, é sua própria perda. Lacan situa, nesta dialética do sujeito, a criação de um objeto que colocará em jogo através da fantasia de sua própria morte, de seu desaparecimento. Trata-se de uma falta recobrindo uma outra falta, ou melhor: “É uma falta engendrada pelo tempo precedente que serve para responder à falta suscitada pelo tempo seguinte.”101 Desta forma, podemos pensar que a torção essencial que a segunda operação produz, representará o retorno da alienação. 100 101 LACAN,J., “Posição do inconsciente” (1964) in: Escritos, p.858. LACAN, J., O Seminário: Livro 11:Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise (1964), p.203. Ainda que não seja nossa pretensão responder à complexa questão da possível diferenciação entre a crença e a fantasia, não podemos deixar de fazer algumas observações. Consideramos que, seja através de suas crenças ou de sua fantasia, o sujeito está sempre buscando alguma forma de responder ao enigma do desejo do Outro. Isso pode se dar tanto em um tempo originário, necessário para sua constituição, como também pode ser ativado, a cada vez, de forma consciente como uma tentativa do sujeito proteger-se da angústia de sua própria divisão. Para Brand-Gaborit, tal diferenciação não ocorre, já que a fantasia seria uma forma de crença. Ambas têm relação com o real, que está na origem do sujeito e que ele não pode apreender. A autora faz, porém, uma observação: Eis porque esta questão da crença é tão complexa e incisiva, pois, se a instalação do desejo abre a questão do Che vuoi? o que o Outro quer de mim?, a instalação da crença, por sua vez, abre a questão diversamente mais vertiginosa : quem fala no Outro?102 Seguindo as indicações de Lacan, é difícil pensar na independência das duas operações, de alienação e separação, pois elas estão diretamente ligadas, embora não haja uma relação de reciprocidade. Sem dúvida, não há separação, se não houver um sujeito dividido pela operação da alienação e, por isto, parece ser possível definir a alienação e a separação como operações lógicas fundamentais para o advento do sujeito. Ambas estão numa relação de dependência em relação ao Outro e Lacan as considera como operações circulares, cuja validade de uma depende da validade da outra. A concepção de circularidade é originada de um termo emprestado da lógica e, talvez, explique o fato de que, ao longo dos anos seguintes, Lacan tenha unificado as duas operações sob o termo geral de alienação.103 O sujeito petrificado pelo significante é, segundo Lacan, um sujeito que não questiona sobre si mesmo. É possível testemunhar o aparecimento do desejo do sujeito, na experiência analítica, através do funcionamento de toda uma cadeia de significantes no nível do desejo do Outro. A recusa ao pensar é a posição oposta àquela que esperamos do sujeito em análise, pois, como nos aponta Colette Soler: “...um analisando é um sujeito que escolheu o sentido. Entrando na transferência e 102 BRAND-GABORIT,C., “Comment la croyance éclaire-t-elle la division du sujet?” in: Le discours psychanalytique – Revue de l’ Associacion Freudienne, n.24 : De la croyance (2000), p.225. 103 Em 1967-68, no seminário “O Ato psicanalítico”, a operação de alienação sofre uma transformação: passa a operar não na constituição do sujeito, mas sim junto ao percurso de uma análise. Anterior a uma alienação significante, o sujeito pode vir a se afirmar de forma a excluir o pensamento inconsciente, ou seja, como um eu que não pensa. Não foi possível desenvolver, nesta dissertação, uma abordagem mais ampla do conceito de alienação, que ficará reservada a um estudo a ser desenvolvido no futuro. dirigindo-se a um psicanalista, um analisando luta por si próprio. Luta pela causa de seus sintomas.”104 Se a alienação é o destino do sujeito do significante, a separação é algo que pode ou não estar presente. Esta última operação exige que o sujeito “queira”105 se separar, ou seja, supõe uma vontade de se “safar disso”, como nos aponta Lacan: “É por isso que ele precisa sair disso, tirar-se disso, e no tirar-se disso, no fim, ele saberá que o Outro real tem, tanto quanto ele, que se tirar disso, que se safar disso.”106 A utilização da palavra “safar” sugere uma busca pela liberdade, uma vontade do sujeito de ir além daquilo que o Outro possa dizer. A noção de intervalo entre os significantes é fundamental, pois vai propiciar a pergunta sobre o desejo de ir para além daquilo inscrito no Outro. A questão que o sujeito traz, no ponto da separação, “o que sou no desejo do Outro?” se desdobra em “o que é o sujeito para além do significante?”. Lacan nos responde que não se trata de encontrarmos um vazio, mas sim a pulsão. Podemos, então, pensar que o sujeito é dividido não somente pelo significante, como já anunciava Freud desde o início de sua obra, mas também pela pulsão. No vazio entre o sujeito e o Outro, há uma lacuna na qual alguma coisa entra – é o que Lacan irá denominar de objeto a. Diante da impossibilidade de um encontro que só levaria a um gozo absoluto, é o desejo que irá regular o sujeito, não sem antes barrá-lo, limitando-o a obter apenas um gozo circunscrito pelo significante. A fantasia, como já apontamos, irá desempenhar um importante papel neste processo, pois, como nos diz Tolipan: “A fantasia propiciará o pouco de gozo que resta ao sujeito, mas o aprisionará ao objeto que representa a junção das duas faltas – o objeto a.”107 Uma vez que o lugar do analista se constitui como sendo o do objeto, nos autorizamos a fazer um paralelo entre as operações alienação-separação e o campo da transferência, utilizando um elemento que nos possibilita uma articulação com a crença – trata-se do que Lacan denominou sujeito suposto saber. Se cabe ao 104 SOLER,C., “O sujeito e o Outro II” , in: Para ler o Seminário 11 de Lacan (1997) p. 62 Lacan faz um trocadilho entre vel (ou) e velle (do latim volo, volui, que significa “querer”, “desejar”) 106 LACAN,J., O Seminário Livro 11: Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise (1964) p. 178. 107 TOLIPAN,E., A estrutura da experiência psicanalítica (1991) p.44. 105 analista suportar o lugar de semblante de objeto, cabe ao analisando a possibilidade, ou não, de estabelecer uma transferência com o analista. Conforme a hipótese de Melman, isto só será possível, como vimos no capítulo anterior, por uma razão da estrutura, ou seja, graças à crença de que “existe em algum lugar alguém que sabe”. Esta formulação, ao girar em torno do Outro, nos possibilita pensar também na participação da crença nas estruturas. No próximo capítulo, exploramos outra hipótese que visa ampliar nosso campo de investigação. Trata-se do escrito de Octave Mannoni, que resgata o conceito freudiano da Verleugnung como marca da divisão do eu – em operação não só na perversão mas presente também na neurose. É conhecida sua fórmula para a crença: “Eu sei que... mas mesmo assim...” . CAPÍTULO 3 : A crença e as estruturas clínicas 3.1. A crença no falo Podemos encontrar importantes contribuições para nossa discussão da crença na formulação freudiana a respeito das “teorias sexuais infantis”. Freud chama a atenção para o interesse da criança, desde tenra idade, sobre o enigma do sexo, e o tema da crença faz sua aparição, justamente, quando ele trata da posição inicial do sujeito diante da castração. Esta proposição será continuamente retomada, participando de reformulações fundamentais no campo da psicanálise. Tanto que Freud acrescenta, em 1915, aos “Três ensaios sobre a teoria da sexualidade”, uma seção na qual retoma a exposição feita no artigo “Sobre as teorias sexuais infantis”, de 1908, que terá uma importância crescente em sua construção teórica posterior. Sob a inspiração de sua elaboração, começamos a indagar sobre a razão da construção de teorias sexuais pela criança e, especialmente, sobre a relação destas com a crença. Freud aponta o papel dos componentes das pulsões sexuais na formulação da primeira pergunta da criança sobre a vida: "De onde vêm os bebês?" As teorias sexuais infantis seriam criadas a partir das necessidades da própria constituição psicossexual infantil, possuindo um caráter típico e universal. Além da importante indicação a respeito de sua origem pulsional, os assinalamentos de Freud permitem tomá-las como sinônimos de crença: A parte dessas teorias que é correta e atinge o alvo provém dos componentes da pulsão sexual que já atuam no organismo infantil. Não surge de um ato mental arbitrário ou de impressões casuais, mas das necessidades da constituição psicossexual da criança, motivo pelo qual podemos falar de teorias sexuais infantis típicas, e pelo qual encontramos as mesmas crenças errôneas em todas as crianças a cuja vida sexual temos acesso. 108 A criança, ainda não submetida à Lei da castração, demonstra uma intensa atração erótica pela figura materna e parte da "crença" de que esta possui um pênis. Assim coloca Freud: "O obstáculo que impede que ela descubra a existência de uma cavidade que acolhe o pênis é sua própria teoria de que a mãe possui um pênis, como um homem."109 Podemos dizer, com auxílio de Lacan, que a crença em um Outro primordial completo é a primeira crença estabelecida pelo infans, tendo uma fundamental importância em sua constituição. Em sua curiosidade, carregada de investimento erótico, o "pequeno pesquisador" constrói uma teoria caracterizada por uma verdadeira aberração científica: “é assim porque prefiro que seja assim”. A primeira crença/desejo no falo materno, assim como outras teorias a esta relacionadas110 é facilmente observada na fala e, muitas vezes, nos atos das crianças, assim como em análises de adultos. A recusa inicial da percepção da realidade aponta para algo que a criança não aceita e, respondendo aos seus desejos mais intensos, conduz à criação de uma ficção que procura dar conta deste importante enigma: são tentativas de responder à questão da origem que, de início, deixam de fora a questão da diferença sexual. A manutenção da crença no pênis na mulher tem um tempo de duração necessário no "sujeito em construção" e, 108 FREUD, S., Sobre as teorias sexuais infantis (1908), AE: vol. IX, p.192; ESB: vol. IX, p.218-219 (o grifo é nosso). 109 FREUD, S., op.cit. AE: p.195; ESB: p. 221-222. 3 As demais teorias são, para Freud, derivadas dessa primeira – atribuição a todos, inclusive às mulheres, da posse de um pênis e, portanto, da ignorância da existência da vagina. São estas: a crença de que o bebê é expelido como excremento na evacuação; a crença de que a relação sexual dos pais é um ato de violência (teoria inevitavelmente, após uma intensa luta interna, este acaba por ser obrigado a reconhecer a sua falta, isto é, a castração. Uma Verleugnung primária é, então, constitutiva do desenvolvimento da sexualidade e desembocará no complexo de castração que terá conseqüências em toda vida psíquica posterior.111 A construção desta crença singular, demonstrada pela teoria fálica, revela a preponderância do desejo sobre a realidade percebida. Se a recusa da castração é o protótipo e, talvez, até a origem das outras recusas da realidade, é necessário que nos interroguemos sobre o que entende Freud por “realidade da castração” ou mesmo a percepção desta. Laplanche e Pontalis no seu Vocabulário de psicanálise trazem à tona essa problemática: Se é a ‘falta de pênis’ da mulher que é recusada, é difícil falar de percepção ou de realidade, porque uma ausência não é percebida como tal, só se torna realidade na medida em que é relacionada com uma presença possível. Se é a própria castração que é rejeitada, a recusa incidiria, não numa percepção [pois a castração não é nunca percebida como tal], mas 112 numa teoria explicativa dos fatos [uma ‘teoria sexual infantil’]. Assim, ao realçar as conseqüências da forma pela qual as crianças reagem quando constatam a ausência do pênis, Freud nos remete ao campo da crença, pois elas passam a crer que, ainda assim, vêem um pênis. A ênfase dada a esta situação, aparentemente absurda, só tem uma explicação: a sexualidade é governada pela crença (ou teoria) fálica. Para sustentá-la, é necessário um trabalho intelectual que vise encerrar o conflito. Buscando encobrir a contradição entre esta crença pré-concebida e a observação realizada, a criança tenta se convencer de que o pênis ainda é pequeno, mas que irá crescer no futuro. Não podendo, contudo, sustentar tal posição, acaba chegando à significativa conclusão de que o pênis estivera lá antes e fora retirado depois. O reconhecimento da falta do pênis tem como resultado a castração e a criança se defronta com a tarefa de ter que lidar com a possibilidade de sua própria castração. Freud localiza, nesta crença inicial, uma sádica do coito) e a crença de que os bebês são gerados pela boca (beijo, por exemplo). 111 Em 1909, às voltas com a análise do pequeno Hans, Freud faz a observação (em nota de rodapé) de que o complexo de castração é o responsável pelo anti-semitismo, devido à circuncisão, assim como pelo sentimento dos homens de superioridade sobre as mulheres. Diz: “(...) isso porque os meninos, entregues aos cuidados das amas, ouvem que os judeus cortam alguma coisa de seu pênis, pensam eles, e isso lhes dá o direito de desprezar os judeus.” ( FREUD,S., AE ,vol. X, p.32; ESB, vol. X, p.46). Assinalamos que Betty Fuks, em seu livro Freud e a judeidade, desenvolve um estudo aprofundado acerca da estranheza causada pelo povo judeu carregar a marca da diferença e o lugar de exílio. fixação libidinal de algo que antes havia sido intensamente desejado e, em "Organização genital infantil" (1923), esclarece que é a primazia do falo, e não dos genitais, que está em jogo. Diz ele quanto ao fator determinante que organiza a questão sexual: “Ela consiste no fato de, para ambos os sexos, entrar em consideração apenas um órgão genital, ou seja, o masculino. O que está presente, portanto, não é uma primazia dos órgãos genitais, mas uma primazia do falo."113 Vale destacar que, apesar de se referir, com mais freqüência, ao complexo de castração dos meninos, Freud acrescenta em 1920, em nota de rodapé no seu escrito “Três ensaios sobre a sexualidade”, que a crença fálica também se estende ao sexo feminino. Originalmente, tanto a menina como o menino acreditara possuir um pênis. O desejo pelo pênis perdido será determinante para o aparecimento, na menina, da “inveja do pênis”.114 Sem dúvida, as observações de Freud apontam para a importância de um momento que deixa “traços indeléveis na vida mental”. Apesar dos esforços intelectuais da criança em sustentar o pressuposto fálico das teorias sexuais, esta fracassa115, o que deixa cicatrizes, como veremos no caso exemplar do fetichista. Assim, a originalidade da contribuição de Freud é retirar a problemática da sexualidade do terreno do instinto e colocá-la nos braços da pulsão. Um novo campo de conceitualização que, insistimos, nos conduz à seguinte conclusão: a sexualidade é governada pela "crença" fálica. Em Análise terminável e interminável (1937), Freud parece reconsiderar sua hipótese desenvolvimentista sobre a libido. Refere-se, então, a um tipo de crença – a crença supersticiosa –, que se apresenta independente do grau de desenvolvimento intelectual do sujeito. Considera ter encontrado, no campo da crença, um bom exemplo dos resíduos das fixações libidinais anteriores à configuração final da libido. Assim, ao retomar sua teoria do desenvolvimento da libido, acrescenta que as fases não se realizam de modo progressivo e linear: a 112 LAPLANCHE,J., PONTALIS,J.-B., Vocabulário da psicanálise (1983), p.564. FREUD,S., A organização genital infantil :uma interpolação na teoria da sexualidade (1923), AE: vol. XIX, p.146; ESB: vol. XIX, p.180. (o grifo é nosso) 114 Percebemos que a questão da presença/ausência do pênis sofre uma importante reformulação após 1923, quando Freud esclarece que a sexualidade infantil está apoiada na primazia do falo e não dos genitais. Posteriormente, Lacan dará a esta formulação um lugar teórico de destaque. 115 Em 1927 , no texto “Fetichismo”, ao analisar dois jovens neuróticos que não reconheceram a morte dos seus pais, Freud supõe que um “fragmento de realidade” possa ser recusado pelo eu e que tal mecanismo não difere da atitude do fetichista diante da castração feminina. Parece reconhecer, então, a possibilidade da Verleugnung 113 transformação de uma fase em outra nunca é completa, pois resíduos de fixações libidinais anteriores podem ser mantidos em sua configuração final. Freud amplia a mesma idéia ao afirmar: O mesmo pode ser visto em muitos outros campos. De todas as errôneas e supersticiosas crenças da humanidade que foram supostamente superadas, não existe uma só cujos resíduos não perdurem hoje entre nós, nos estratos inferiores dos povos civilizados, ou mesmo nos mais elevados estratos da sociedade cultural. O que um dia veio à vida, aferra-se tenazmente à existência. Fica-se às vezes inclinado a duvidar se os dragões dos dias primevos estão realmente extintos.116 3.2 A crença e a neurose O fio condutor que elegemos para discutir a relação da crença com as estruturas clínicas diz respeito às diferentes possibilidades de o sujeito lidar com o Outro. Inicialmente, uma das formas possíveis de abordar as estruturas pela ótica da crença é através do que Freud denominou de “experiência primária”. Ele trata desta, em sua correspondência com Fliess, ao situar o mecanismo da histeria: A histeria pressupõe necessariamente uma vivência desprazerosa primária– isto é, de natureza passiva [...] A elevação de tensão originada da vivência desprazerosa primária é tão grande que o eu não resiste a ela e não forma nenhum sintoma psíquico, mas se vê obrigado a permitir uma manifestação de descarga e, na maior parte das vezes, uma expressão hiperintensa de excitação.117 não se presentificar exclusivamente na fase infantil e nem estar restrita aos fetichistas, mas constituir também um mecanismo utilizado na neurose. 116 FREUD,S., “Análise terminável e interminável” (1937), AE: vol. XXIII, p.231-232 ; ESB: vol. XXIII, p. 261 (o grifo é nosso). 117 FREUD,S., “Rascunho K” (1896), AE: vol. I, p.268; ESB: vol. I, p.310. Lacan parece confirmar essa indicação freudiana, pois diz: “No caso da histeria, da crise de choro, tudo é calculado, regulado, como que apoiado no Outro, o Outro pré-histórico, inesquecível que ninguém mais tarde atingirá nunca mais.”118 Coloca, ainda, que o que está em questão na neurose se origina na relação do sujeito com seu “termo regulador”, ou seja, das Ding: Se o fim da ação específica que visa a experiência de satisfação é o de reproduzir o estado inicial, de reencontrar das Ding, o objeto, compreendemos vários modos do comportamento neurótico. A conduta histérica, por exemplo, tem como objetivo recriar um estado centrado pelo objeto, na medida em que esse objeto, das Ding, é, como Freud escreve em algum canto, o suporte de uma aversão. É na medida em que o objeto primeiro é objeto de insatisfação que o Erlebnis [experiência] específico da histérica se ordena.119 É através da posição de insatisfação da histérica que podemos compreender sua relação com o Outro. O fato de sentir-se lesada pode, freqüentemente, levá-la a uma identificação com o sacrifício. Na relação com o Outro, a histérica procura um mestre e a prova de que reconhece sua falta reside na atitude de se oferecer para completá-lo. Como diz Melman, muitas condutas histéricas são reguladas pela preocupação de fazer manifestar um mestre do saber – a histérica acredita que, caso encontre um mestre, “virá estender uma mão segura e salvadora.”120 O autor acrescenta: [...] a histérica pode também ter o sentimento de que aquele que está encarregado do saber, pois bem, ele não sabe tudo e é ela que terá a ponta de saber que lhe falta: em geral ela pode se oferecer como um campo de experiência, se eu me permito essa imagem, de abrir-lhe suas entranhas, seu corpo, para que ele possa enfim saber. Ela faz de seu corpo um dom e o entrega à ciência. As doentes de Charcot eram mulheres que faziam de seu corpo um dom e o ofereciam ao professor para que ele pudesse tudo saber.121 118 LACAN,J., O seminário, livro 7: A ética da psicanálise (1959-1960), p. 70. Idem, ibidem. 120 MELMAN,C., La croyance ,p.19. 121 Idem, ibidem, p.19. 119 Também Vidal observa a diversidade das formas que as histéricas são capazes de adotar em nome do sacrifício: “Por isso dão a impressão de que são deprimidas, melancólicas, loucas, sabe-se lá quantas coisas já foram nesta posição sacrificial”122. Assim, diríamos que a histérica crê no Outro e é capaz dos maiores sacrifícios para mantê-lo no lugar do mestre. É digno de nota que, em muitas religiões – especialmente na católica – o sacrifício, representado pelo ato de fé, pode levar o sujeito a adotar uma posição de resignação frente aos seus desejos. Um autor marcado pelo pensamento lacaniano, Slavoj Zizek nos chama atenção para o poder perigoso da ideologia católica : Longe de ser uma religião do sacrifício, da renúncia aos prazeres terrenos, o cristianismo oferece um estratagema tortuoso para que possamos realizar nossos desejos sem precisarmos pagar o preço por eles, para defrutarmos a vida sem o medo da decadência e dar dor debilitante que nos aguardam ao final do dia.123 Na única lição do seminário Nomes-do-pai, Lacan comenta o sacrifício de Abraão: é o drama do pai que, como prova de seu sacrifício e de sua fé a Deus, ergue a faca para matar o filho e é impedido por um anjo que retém seu braço. Estas referências são retomadas por Colette Soler que, ao interpretar a decisão de Abraão como a prova de um verdadeiro ato de fé, ressalta a existência de um paradoxo: enquanto o ato como tal destitui o Outro, o ato de fé o institui. Diz a autora: “O ato de fé consiste em omitir o impossível, em restituir um Outro onde há um ‘ao menos um’, Outro cujo nome, na maioria das vezes, é Deus.”124 Para esta, Kierkegaard, em “Temor e tremor”, destaca a figura de Abraão para afirmar que não basta dizer que ele estava disposto a sacrificar seu bem mais precioso em razão de sua fé, pois o sacrifício é uma possibilidade aberta aos homens (principalmente às mulheres) em geral e não supõe, em si mesma, uma dimensão religiosa, bastando apenas a existência do que chama de “resignação infinita”.125 122 VIDAL,E., Do ‘ser’do sujeito e do gozo, p. 46. ZIZEK,S., A sedução do catolicismo, Folha de São Paulo (4/92005) Caderno Mais! p.7. 124 SOLER, C., La repetición en la experiencia analítica (2004) p. 117. 125 Kierkegaard tece comentários sobre o sacrifício de Abraão, descrevendo o ato de fé não como renúncia, mas sim como a passagem do impossível para sua possível realização. A expressão que a define seria: “A fé constitui o selo do absurdo”. ( Kierkegaard -Os pensadores, Abril Cultural, 1979) 123 A crença no Outro está presente tanto na estrutura histérica como na obsessiva e, como já vimos, é o que possibilita a instalação da transferência. O sujeito suposto saber, encarnado na figura do analista, poderá ser tomado por ambas as estruturas (mas, principalmente na histeria) como um Deus. É com a transferência e sua intensidade que o analista terá que lidar, pois foi, justamente, a partir desta descoberta e da relevância que esta adquire no tratamento, que nasceu a nova ciência. É importante realçar que, na neurose obsessiva, a crença ocupa o primeiro plano. Se na histeria a experiência primária é caracterizada por um desprazer, ocorre, justamente, o contrário na neurose obsessiva. Como aponta Freud: Nessa neurose, a experiência primária foi acompanhada de prazer. Quer tenha sido uma experiência ativa, quer tenha sido uma experiência passiva, ela se realizou sem dor ou qualquer mescla de aversão [...] Quando essa experiência é relembrada posteriormente, ela dá origem ao surgimento de desprazer; e, em especial, emerge uma autocensura, que é 126 consciente. Supomos que Lacan segue o caminho indicado por Freud no que diz respeito à posição do sujeito em relação ao objeto primeiro que, na neurose obsessiva, difere radicalmente da histeria. Em seu seminário “A ética da psicanálise”, comenta que esta experiência de um prazer demasiado provoca um comportamento marcado por uma regulação que visa evitar um encontro com o desejo. Ele acrescenta : Em oposição [à histeria] – a distinção é de Freud e não há motivo para ser abandonada – na neurose obsessiva o objeto em relação a que a experiência de fundo se organiza, a experiência de prazer, é um objeto que, literalmente, traz prazer demais. Freud o percebeu muito bem, e isso foi sua primeira apercepção da neurose obsessiva.127 A presença da crença na neurose obsessiva é demonstrada, de forma exemplar, no relato clínico de Freud do “Homem dos Ratos”. Mostra-se surpreso ao descobrir que o pai do paciente já havia morrido, embora este falasse dele como se ainda estivesse vivo. Consideramos que sua observação parece apontar, embora não explicitamente, para a 126 127 FREUD,S., “Rascunho K” (1896), AE: vol. I, p.?; ESB, vol. I, p.304. LACAN,J., O seminário, livro 7:A ética da psicanálise (1959-1960), p. 70-71. presença do mecanismo da Verleugnung, pois este diz: “E, embora jamais tivesse esquecido que seu pai estava morto, a probabilidade de ver uma aparição fantasmagórica desse tipo não encerrava terrores para ele; pelo contrário, ele desejara isso muitíssimo.”128 Podemos dizer que o Homem dos Ratos parece fazer uma formulação como a que é destacada por O.Manonni no mecanismo da Verleugnung : eu sei que meu pai morreu, mas mesmo assim ele pode aparecer a qualquer momento. Freud fica admirado com a estranha forma do paciente lidar com o fato da morte do pai, pois, freqüentemente, quando batiam à porta este pensava: “É papai que está chegando” e, quando ia para a sala de sua casa, esperava encontrar seu pai. Costumava brincar com sua “fantasia favorita”, que era que seu pai, apesar de morto, poderia aparecer a qualquer momento. Freud descreve uma passagem na qual podemos perceber sua estranheza: Costumava fazer com que suas horas de estudo fossem tão tardias quanto possível, à noite. Entre a meia-noite e uma hora ele interrompia o seu estudo e abria a porta da frente do apartamento, como se seu pai estivesse do lado de fora; em seguida, regressando ao hall, ele tiraria para fora seu pênis e olharia para ele no espelho. Esse comportamento maluco torna-se inteligível se presumirmos que ele agia como se esperasse uma visita de seu pai à hora em que os fantasmas estão circulado.[...] agora que ele retornava como um fantasma, devia ficar muito contente ao 129 encontrar seu filho estudando arduamente. Ao perceber a onipotência que ele conferia aos seus pensamentos (que o levava, por exemplo, a equivaler “rato” com dinheiro) e aos seus desejos (tanto bons quanto maus), Freud considera a hipótese de estar diante de um delírio. De qualquer forma, seja tratando as idéias do paciente como um delírio, seja considerando sua reação em relação ao pai morto como sendo um “comportamento maluco”, Freud revela o quanto lhe era enigmática, em termos metapsicológicos, a posição adotada pelo paciente. A possibilidade de que estas idéias tivessem um cunho delirante o confronta com um problema teórico, pois contrariava sua hipótese original de uma neurose obsessiva. O que o teria feito mudar de opinião e se convencer de estar diante de crenças neuróticas e não de delírios psicóticos? A resposta é extraída da própria clínica: 128 129 FREUD,S., “Notas sobre um caso de neurose obsessiva” (1909), AE: vol. X, p.139; ESB: vol. X, p.178. idem, ibidem, AE: vol X, p.160; ESB: vol. X , p.206-207. (o grifo é nosso) Não obstante, tenho me deparado com essa mesma convicção em outro paciente obsessivo; e há muito tempo que recuperou a saúde e vive uma vida normal. De fato, todos os neuróticos obsessivos comportam-se como compartilhassem dessa convicção. Será nossa tarefa esclarecer, de algum modo, a superestimação com que os pacientes revestem as suas forças. Admitindo, sem mais delongas, que essa crença seja uma confissão sincera de um fragmento da antiga megalomania da tenra infância, prosseguimos indagando nosso paciente sobre os fundamentos de sua convicção.130 Na lição de 21 de janeiro de 1975 do seminário R.S.I., Lacan, referindo-se à neurose, utiliza a expressão “crença no sintoma”. Seria devido à crença que o sintoma se apresenta como uma imposição para o sujeito e que este o reconhece como convincente, ainda que sem sentido. Desta forma, acreditar no sintoma não corresponde a acreditar na sua existência, mas sim que este possa vir a ter algum sentido, que represente uma metáfora para o sujeito. Lacan indica que, a partir da crença no sintoma, abre-se a possibilidade do sujeito endereçá-lo e comenta: “Não há dúvida, qualquer um que nos vem apresentar um sintoma acredita. O que isso quer dizer? Se ele nos pede ajuda, nosso socorro, é porque acredita que o sintoma seja capaz de dizer alguma coisa, que basta apenas decifrá-lo.”131 A partir dessa colocação de Lacan, podemos pensar que o sujeito só entra em análise se acreditar que há um saber que possa responder ao seu sintoma. Será essa posição diante do sintoma que podemos denominar de histerização? No caso do “Homem dos Ratos”, Freud descreve como o significante “rato” aparece para o sujeito: em seu relato, surge de forma imposta e desconectada, como uma compulsão que invade seu eu. Apesar de assegurar o caráter repulsivo de seu 130 idem, ibidem, AE: p. 182; ESB: p.234-235 (o grifo é nosso). Observamos que Freud parece utilizar o termo convicção com o mesmo sentido que estamos dando para a crença. pensamento, haveria uma espécie de satisfação (gozo) produzida pelo próprio sintoma. Freud observa: “Em todos os momentos importantes, enquanto me contava sua história, sua face assumiu uma expressão muito estranha e variada. Eu só podia interpretá-la como uma face de horror ao prazer todo seu do qual ele mesmo não estava ciente.”132 Qual seria a diferença, nessa história clínica de Freud, entre a imposição do pensamento do rato e os pensamentos delirantes característicos da psicose? Através do relato do percurso da análise do “Homem dos Ratos” é possível observar que o significante “rato” se apresenta enredado em uma cadeia de significantes em que há um cenário. Não há, portanto, indícios de que este significante tenha sido expulso do simbólico e esteja retornando no real (conforme a fórmula de Lacan). Pelo contrário, o cenário no qual aparece o significante “rato” denuncia a ligação do paciente com seus objetos preferenciais, a saber, o pai (o paciente declara ter visto um rato no túmulo de seu pai) e a dama. É também significativo o fato do “rato” aparecer na narrativa de um outro, o “capitão cruel”. Assim, crer no sintoma é crer que este possa falar, direção que possibilita, segundo Lacan, fazer a demarcação entre uma estrutura neurótica ou psicótica, como veremos mais adiante. Outra importante contribuição freudiana para a discussão de nosso tema é o paralelo entre neurose obsessiva e crença religiosa. Antes mesmo de sua acirrada crítica a esta última, Freud nos indica esta possível relação: “(...) a neurose obsessiva parece uma caricatura, ao mesmo tempo cômica e triste, de uma religião particular”133. Esta analogia comparece em vários momentos de sua obra, refletindo o seu entusiasmo com a descoberta dos vestígios de uma estrutura psíquica num fenômeno tão grandioso da cultura como a religião. Considerando a proximidade das práticas minuciosas dos cerimoniais, tanto do religioso quanto do neurótico obsessivo, Freud encontra, como ponto em comum, o mecanismo de deslocamento, consideração que nos parece ser uma peça fundamental para nossa reflexão sobre a crença. É significativo que os cerimoniais obsessivos estejam, freqüentemente, ligados a pequenos detalhes da vida cotidiana e vinculados a regulamentações e restrições tolas. Este singular aspecto de sua observação clínica é relacionado ao 131 LACAN,J., O seminário, livro 22: R.S.I. (1974-1975), p.24 (inédito). FREUD,S., “Notas sobre um caso de neurose obsessiva” (1909), AE: vol. X, p.133; ESB: vol. X, p.171. 133 FREUD,S., “Atos obsessivos e práticas religiosas” (1907), AE: vol. IX, p. 103; ESB: vol. IX, p. 123. 132 mesmo mecanismo presente na construção dos sonhos: o deslocamento psíquico. O simbolismo dos atos psíquicos é resultado do deslocamento de um elemento real e importante para um elemento trivial.134 Esta tendência pode, contudo, agravar progressivamente o quadro clínico do neurótico obsessivo a ponto de um fato banal se tornar algo da maior urgência e importância. Zizek, diz que a crença é inerente ao processo de deslocamento. Toda crença é crença deslocada porque é, antes de tudo, crença no Outro e na articulação significante que o define, ou seja, da própria estrutura da linguagem. Acrescenta: “É por crer na crença do Outro que o sujeito faz o Outro existir em sua consistência.”135 Segundo ele, para que a crença seja eficaz é necessário que esteja baseada no perpétuo deslocamento significante. Denomina de“ïnteratividade”a propriedade reflexiva do significante no engendramento da crença. Freud, assim como Lacan, não encontra uma clara diferença entre o neurótico obsessivo e o religioso no que diz respeito ao deslocamento, que se revela como uma tendência análoga em ambos. Ao fazer uma análise da ciência e da religião, Lacan afirma que o mecanismo operativo do discurso da ciência é a Verwerfung, enquanto que, na religião, se trata da Verschiebung, ou seja, de um deslocamento.136 Cabe ressaltar que Lacan utiliza a expressão “posição de discurso” e não “posição de sujeito”, embora, quer se trate da posição da histérica, do obsessivo ou do paranóico, quer se trate do discurso da ciência, da religião ou da arte, o que esta em jogo é a posição de ambos em relação à das Ding. A noção de Verschiebung aparece desde os primórdios da teoria freudiana, sendo destacada sua função defensiva e sua relação com a crença. Em um escrito inicial dirigido ao amigo Fliess, Freud oferece uma pista para o nosso estudo: “Nas neuroses, a crença está deslocada; é vedada a crença no material recalcado, se ele compele no sentido da reprodução e - como punição, poder-se-ia dizer – a mesma crença é transportada para o material que executa a defesa.”137 A partir dos casos clínicos de Freud e de sua hipótese de que tanto o neurótico obsessivo como o religioso procuram uma saída para seus conflitos, nossa investigação encontra um importante ponto de referência: o neurótico (religioso ou não) é um 134 Veremos mais adiante como se dá essa operação de deslocamento no caso do delírio. ZIZEK,S., The interpassive subject (http://lacan.com/frameziz.htm.) 136 LACAN,J., O Seminário, livro 7: A ética da psicanálise (1959-60), p. 164. 137 FREUD, S., “Rascunho N” (1892-1899), AE: vol. 1, p.297; ESB: vol. 1, p.346 (o grifo é nosso) 135 passou a ser utilizado por ele para explicar a psicose, mas preferencialmente a perversão, uma vez que coloca em questão a problemática da castração. Em "O futuro de uma ilusão", encontramos uma passagem em que Freud aponta para uma possível relação da religião com a operação da Verleugnung. Embora seja o mecanismo determinante da perversão, ele o aproxima da neurose e da psicose, como podemos constatar nessa citação: Se por um lado a religião traz consigo restrições obsessivas, exatamente como, num indivíduo, faz a neurose obsessiva, por outro, ela abrange um sistema de ilusões plenas de desejo juntamente com uma recusa da realidade [Verleugnung der Wirklichkeit], tal como não encontramos, em forma isolada, em parte alguma senão na amência, num estado de confusão alucinatória beatífica.142 Pensamos que a noção da Verleugnung está diretamente relacionada ao nosso tema e é, como vimos, abordada por Freud em uma articulação com a castração. Inicialmente, o mecanismo da Verleugnung é descrito para caracterizar a psicose, sendo referido a uma recusa da realidade externa. Talvez por esta razão Freud o aproxime da psicose na citação acima. Sua definição de Verleugnung tornase mais precisa ao longo de sua obra. É depois de 1927, ao estudar o exemplo privilegiado do fetiche, que irá abordar o mecanismo da recusa da realidade, vinculando-o à idéia de uma divisão no eu. No final do texto “O fetichismo”, Freud menciona dois casos de neurose em que o mecanismo da Verleugnung é acionado e se produz uma divisão do eu. É significativo que ambos estejam relacionados com a morte do pai: os sujeitos recusavam, por um lado, a morte do pai, apegando-se ao desejo de que o mesmo estivesse vivo, e, por outro, aceitavam o fato de sua morte. Freud depara-se, na clínica, com o mecanismo da Verleugnung sem que, por isto, tenha sido desenvolvida uma perversão nem uma psicose: Na análise de dois jovens aprendi que ambos não haviam conseguido tomar conhecimento da morte do querido pai, haviam-na 'escotomizado', e, contudo, nenhum deles desenvolvera uma psicose. Desse modo, um fragmento de realidade, indubitavelmente importante, fora rejeitado pelo ego, tal como o fato desagradável da castração feminina é rejeitado nos 142 FREUD,S., “O futuro de uma ilusão” (1927), AE: vol. XXI, p.43; ESB: vol. XXI, p. 58. (o grífo é nosso) fetichistas. Também comecei a suspeitar que ocorrências semelhantes na infância de maneira alguma são raras, e acreditei ter sido culpado de um erro em minha caracterização da neurose e psicose. 143 Estes exemplos são de fundamental importância para a consideração de nosso tema, pois nos indicam a possibilidade de que a Verleugnung da castração esteja do lado da neurose. Aliás, em 1909, como vimos anteriormente, Freud já havia cogitado estar diante de um mecanismo diferente do recalque ao relatar algumas passagens do caso clínico do “Homem dos Ratos”. Embora não as relacione com o mecanismo da Verleugnung, deixa clara sua estranheza com o fato do paciente ter consciência da morte do pai, mas agir como se ele ainda estivesse vivo. Nos textos posteriores ao sobre “O fetichismo”, Freud irá dar maior ênfase à noção de clivagem do eu, o que o leva a esclarecer o mecanismo da Verleugnung e a retomar sua posição de vinte anos antes sobre o abandono da crença fálica: Não é verdade que, depois que a criança fez sua observação da mulher, tenha conservado inalterada sua crença de que as mulheres possuem um falo. Reteve essa crença, mas também a abandonou. No conflito entre o peso da percepção desagradável e a força de seu contradesejo, chegou-se a um compromisso, tal como só é possível sob o domínio das leis inconscientes do pensamento - os processos primários.144 Em “Esboço da Psicanálise” (1938) e “A divisão do eu” (1938), Freud afirma que a manutenção de duas posições inconciliáveis seria possível em função da “clivagem do eu”. É através da elaboração deste conceito que ele reconhece a possibilidade do fetichista tanto recusar a falta de pênis na mulher como reconhecêla. Podemos, então, afirmar que o modelo paradigmático da Verleugnung é o da castração, isto é, do reconhecimento da percepção traumatizante da ausência de pênis na mulher. O que ocorre exclusivamente com o fetichista é que este, não só realiza a Verleugnung da castração, como busca um substituto do pênis da mulher, ou melhor, da mãe. Este é um caso específico, pois a ausência do falo materno é substituída por um objeto real. O que Freud irá demonstrar, contudo, e isso parece ser realmente novo e surpreendente, é que o mecanismo da Verleugnung (sem a 143 144 FREUD,S., Fetichismo (1927), AE: vol. XXI, p.150-151; ESB: vol. XXI, p. 183. Idem, ibidem, AE: p. 149; ESB: p.181. eleição de um fetiche), pode ocorrer, no eu, na estrutura neurótica. Este fato aponta para uma nova abordagem, da qual Freud não chega a tirar pleno partido, talvez por estar tão envolvido em suas descobertas e reformulações. Os exemplos da clínica com neuróticos, oferecidos pelo próprio Freud e também encontrados em nossa clínica, auxiliam a pensar em uma possível relação entre a recusa da realidade e o domínio da crença. Ao percorrer os textos freudianos e acompanhar sua elaboração, podemos levantar a hipótese de que, com as crenças, não lidamos com o recalque, mas sim com o mecanismo de clivagem do eu, denominado Verleugnung. Esta descoberta freudiana foi revalorizada por alguns autores como Brigitte Lemérer, que inclui a crença na sua definição: A Verleugnung, nós sabemos, é uma operação que permite ao sujeito velar uma contradição, uma incompatibilidade entre dois elementos: uma satisfação pulsional, ou uma crença, à qual ele não quer renunciar e um elemento da realidade que aí faz objeção. O desmentido permite, ao mesmo tempo, conservar a satisfação pulsional, ou a crença (que não é recalcada), e de pagar à realidade o seu preço (não causando uma perda da realidade como na psicose).145 Outra importante contribuição para a presente dissertação é o escrito de Octave Mannoni, pois o autor aborda a Verleugnung não pelo prisma da perversão mas sim através da crença. Ao partir da construção freudiana da Verleugnung da castração do falo materno, o autor oferece uma fórmula gramatical, “eu sei... mas mesmo assim...”. O que é mais notável em sua contribuição é que quem a pronuncia é o neurótico. Esta frase axiomática da crença na estrutura neurótica é fruto da elaboração do autor sobre as últimas indicações de Freud sobre a ação da Verleugnung não só no caso específico da perversão. A crença dos neuróticos revela a possibilidade da persistência do desejo e do imperativo do processo primário coexistirem lado a lado com o reconhecimento de sua impossibilidade. O escrito de Manonni permite considerar tanto as crenças presentes na cultura quanto aquelas que pertencem à vida privada. As formas pelas quais a ação da Verleugnung se presentifica são destacadas pelo autor, que traz vários exemplos bastante interessantes: as histórias tradicionais da cultura que funcionam como verdadeiros ritos de passagem e a curiosa atitude do mágico e de seu espectador, que se comporta como um perfeito incrédulo, mas exige que a “ilusão” seja perfeita. Essas situações e muitas outras que certamente estão presentes em nosso cotidiano podem ser confirmadas com freqüência na vida psíquica e são representadas pela fórmula gramatical: “Eu sei que…mas mesmo assim…”. Na estrutura perversa, a Verleugnung possui uma característica muito específica: está referida a um ponto preciso e está mais ligada à ação do que às palavras. Devemos nos ater à preciosa indicação de Manonni de que a crença é dispensada pelo perverso, pois, quando este constitui o fetiche, escapa desta. Diz o autor: “Se, com a Verleugnung, todas as pessoas entram no campo da crença, as que chegam a ser fetichistas saem desse campo, no que concerne à sua perversão.”146 O fetichista concretiza a Verleugnung sem precisar das palavras, pois estas são substituídas por uma operação precisa ligada ao sexual e com fim determinado. O perverso toma para si a solução do problema e elege um objeto que Papai Noel reúne pelo menos metade do universo. Neste mesmo ano, afirma, ao final de seu terceiro seminário, que o psicótico tem a desvantagem, mas também o privilégio de não acreditar em Papai Noel.149 Compreendemos que não se trata de um elogio da posição do psicótico, mas do assinalamento de que este, não se satisfazendo com a significação, não se introduz no campo da crença, como ocorre com o neurótico, conforme veremos adiante. No “Seminário 11”, Lacan comenta as considerações de O. Mannoni e acrescenta que, na neurose, a crença representa uma abertura dialética, enquanto na psicose a cadeia significante primitiva é tomada em sua solidez. A crença, como vimos no capítulo anterior, tem estreita relação com a divisão do sujeito, podendo ser reconhecida tanto na neurose como na perversão. O neurótico, por aceitar a castração – diferentemente do perverso, que tentará encontrar outra saída para o problema – ficará marcado por um “não saber” e nostálgico do tempo em que acreditou no falo materno. Esta nostalgia lhe permite manter diversas crenças, assim como estabelecer a crença no sujeito suposto saber, ou seja, acreditar que exista alguém, “ao menos um” que saiba. O “triunfo do fetiche” compromete a possibilidade de uma relação transferencial, uma vez que surge uma perturbação bastante visível na relação com o Outro. O sujeito perversofetichista subverte radicalmente a posição do sujeito-suposto-saber. Podemos captar esta subversão a partir do lugar ocupado pela fantasia. Como vimos, é na operação de alienaçãoseparação que surge a fantasia como resposta ao desejo do Outro. Na medida em que o sujeito supõe que o Outro lhe demande algo, está implícito que reconhece que algo lhe falta, de que o Outro é desejante. Neste momento crucial, o sujeito lança mão de uma produção mental cênica como uma tentativa de articulação, de amarração para a questão do desejo do Outro. É a fantasia que oferece uma maneira possível do sujeito estabelecer uma relação com o Outro. Se o neurótico responde ao desejo do Outro com a fantasia, isto é, com as palavras, qual seria a resposta do perverso? Para manter a Verleugnung, o perverso (que passou pela castração), precisa manter o Outro na condição de não barrado, isto é, deve renegar continuamente sua castração. O caminho para tamponar a falta do Outro é oferecer o que lhe falta para ser completo. Lacan assim o define: 149 LACAN,J., O seminário, livro 3: As psicose (1955-1956), p.361. (...) o perverso é aquele que se consagra a obturar no Outro, que, até certo ponto, para colocar aqui as cores que dão às coisas seu relevo, diria que está do lado de que o Outro existe, que é um defensor da fé. Do mesmo modo, olhando mais de perto as observações, ver-se-á, nessa luz que faz do perverso um singular auxiliar de Deus, esclarecerem-se coisas estranhas que foram adiantadas por penas que eu qualificaria de inocentes.150 O sujeito perverso passa a ocupar o lugar de instrumento do gozo do Outro e fica impossibilitado de se submeter ao desejo do Outro. A noção de ação na realização da fantasia perversa é indissociável da busca de sua realização. O objetivo, embora sempre fracassado devido à sua impossibilidade, é que, através de uma ação, possa existir um encontro com o objeto. Na perspectiva da psicanálise, o encontro com o objeto é da ordem do impossível, pois há algo de irrepresentável (das Ding) que impossibilita tal união. O que se encontra nunca é o que se busca e a chamada relação objetal está marcada desde sempre por uma falta e pela insatisfação. Na neurose, o sujeito crê que só não encontra o objeto de seu desejo pelo fato de existir uma interdição, o que não o impede de tentar estabelecer alguma relação possível. Uma das saídas do neurótico é pela via do amor: reconhece a falta do Outro e, dessa forma, deseja o que supõe que o Outro deseja. Já o perverso crê que, através de uma manobra (como o fetichista demonstra de forma exemplar), terá êxito no encontro, mas para isto precisará, através da Verleugnung da castração, eliminar o desejo do Outro. Este apresenta-se como um impostor, ou seja, finge que está no comando e que detém em seu poder o que falta ao Outro para ser completo. Enquanto o neurótico se engana, na medida em que crê que a relação amorosa é possível, o perverso se engana fingindo que ele próprio é o Outro completo. Diz Lacan sobre essa tentativa que tem como conseqüência a abolição do desejo: É aqui que assume seu valor a ênfase que me permiti conferir à função da perversão quanto à sua relação com o desejo do Outro como tal. Isso significa que ela representa o ato de pôr contra a parede a apreensão ao pé da letra da função do Pai, do Ser Supremo. O deus Eterno tomado ao pé da letra, não de seu gozo, sempre velado e insondável, mas de seu desejo como interessado na ordem do mundo, eis o princípio no qual, petrificando sua angústia, o perverso se instala como tal.151 150 151 LACAN, J.,O Seminário, livro 16: De um Outro ao outro (1968-1969), lição de 26 de março de 1969, p. 247. LACAN,J., Nomes-do-pai , p.75. (o grifo é nosso) Na neurose, a fantasia é revelada com muita dificuldade, como uma confissão exposta com vergonha e sua realização envolve certas precauções. Para que o neurótico retire sua fantasia da exclusividade da cena privada, é necessário “confiar” no Outro ouvinte, pois isso significa que irá aparecer como culpado e se expor às próprias censuras. O mesmo não acontece com o perverso, que tem uma tendência a exibir suas fantasias, muitas vezes de maneira provocativa. É nesta direção que Serge André aponta a posição do perverso: Assim, quando nos entrega sua fantasia, é menos para apreender por onde ele lhe está sujeitado do que para nos demonstrar como nós, que o escutamos, estamos nós mesmos sujeitados a ela, querendo ou não - e até de preferência, contra nossa vontade. Assim fazendo, já não é o sujeito-suposto-saber que o perverso se dirige na transferência, e por uma boa razão: é que ele mesmo passa a ocupar, a partir daí, essa posição do sujeito-suposto-saber.152 3.4.- A crença e a psicose Freud delimita o campo da psicose de forma original ao postular o delírio como uma tentativa de cura, afastando-se da visão corrente na época. Assim, ele afirma: “O que nós consideramos a produção patológica, a formação delirante, é, na realidade, a tentativa de restabelecimento, um processo de reconstrução.”153 Em 1907, realiza um estudo sobre “Gradiva”, obra literária do romancista alemão Wilhelm Jensen, entendendo encontrar nesta um rico material para o estudo do delírio. Ao se deter na designação dada pelo autor ao estado delirante de seu personagem, tira algumas conclusões : Podemos indicar duas características principais de um delírio [...] Em primeiro lugar, o delírio pertence ao grupo de estados patológicos que não produzem efeito direto sobre o corpo, mas que se manifestam apenas por indicações mentais. Em segundo lugar, se singulariza pelo fato de que nele as fantasias ganharam a primazia, ou seja, transformaram-se em 154 crença e passaram a influenciar as ações. 152 ANDRÉ,S., A impostura perversa (1995) p.44. FREUD,S., Notas psicanalíticas sobre um relato autobiográfico de um caso de paranóia (1911), AE: vol. XII, p.65; ESB: vol. XII, p.95. 154 FREUD,S., “Delírios e sonhos na ‘Gradiva’de Jensen”(1907), AE: vol. IX, p.38; ESB: vol. IX, p.51.(o grifo é nosso) 153 A definição do delírio, como resultado da primazia da fantasia transformada em crença, parece apontar para a tentativa de Freud esboçar uma diferenciação entre estes importantes conceitos. Consideramos notável que, no deslizamento entre delírio e fantasia, Freud reconhece a participação da crença demonstrando sua importância ativa na dinâmica psíquica. Ao descrever o complexo caminho da formação do delírio, tenta esclarecer a razão da crença ser vista como uma característica clínica para, em seguida, o definir como uma “crença profunda”, uma “convicção inabalável”155. Será que poderíamos deduzir desta indicação o seu oposto? Ou seja, ao contrário do que acontece na psicose, na neurose haveria uma crença que suporta a dúvida. Freud postula que o delírio esconde uma parcela de verdade oculta retirando qualquer possibilidade do delírio ser um erro ou uma incapacidade de julgamento. Contudo, para que o elemento que contém a verdade possa encontrar uma via de acesso à consciência, se faz necessário que este sofra uma distorção – o que se dá através do deslocamento, que permite a substituição de tal elemento. A intensidade do investimento do elemento substituto adquire um estatuto de “convicção inabalável” por dois motivos: para compensar o ego da falta do elemento verdadeiro recalcado e também pela necessidade de proteção da crítica. Freud descreve o resultado desta operação estendendo-a para os processos normais : A convicção se desloca, por assim dizer, da verdade inconsciente para o erro consciente que está ligado a ela, ali fixandose justamente em conseqüência desse deslocamento.[...] Todos nós emprestamos nossa convicção a conteúdos do pensamento em que se combinam a verdade e o erro, deixando-a estender-se da primeira ao último. É como se a convicção se propagasse da verdade ao erro a ela ligado, protegendo-o das merecidas críticas, embora não de forma tão 156 imutável como no caso do delírio. Assim, podemos concluir que, para Freud, a “crença profunda” (ou “convicção inabalável”) e a crença comum possuem raízes na vida subjetiva. O que as diferencia é uma maior fixidez (no caso da psicose) e um maior deslizamento (no caso da neurose). Em ambos os casos, o mecanismo de deslocamento está presente, possibilitando que a verdade do inconsciente se expresse de alguma 155 156 Idem, ibidem, AE: p.66-67; ESB: p.83. Idem, ibidem, AE: p.67; ESB: p.83. (o grifo é nosso) forma, pois, como aponta Freud: “[...] nosso intelecto está pronto para aceitar algo absurdo, desde que satisfaça impulsos emocionais poderosos.”157 No “Rascunho K”, um dos escritos iniciais referente à correspondência de Freud com seu amigo Fliess, Freud utiliza a expressão Versagen des Glaubens (ausência da crença) para assinalar que não há crença na psicose. Devemos ressaltar, no contexto de nosso estudo, que a crença (Glauben) e a descrença (Unglauben) são tratadas, neste escrito inicial, como operadores determinantes da estrutura, o que será valorizado por muitos autores, inclusive por Lacan, como veremos adiante. Não podemos esquecer que, nesta carta de 1895 (contemporânea ao “Projeto”), Freud classifica como “neuroses de defesa” a histeria, a neurose obsessiva e a paranóia – ou seja, não faz uma distinção clara entre neurose e psicose – e utiliza o termo recalque no sentido geral de defesa. Há, no entanto, indicações de que, no caso da paranóia, “algo” acontece em um primeiro tempo, acarretando a Unglauben e a Versagen des Glaubens158. Diz ele: A experiência primária parece ser de natureza semelhante à da neurose obsessiva. O recalque ocorre depois que a respectiva lembrança causou desprazer - não se sabe como. Contudo, nenhuma autocensura se forma, e nem é recalcada posteriormente; mas o desprazer gerado é atribuído a pessoas que de algum modo se relacionam com o paciente, segundo a fórmula psíquica da projeção. O sintoma primário formado é a desconfiança (Unglauben) (suscetibilidade a outras pessoas). Nesta, o que se passa é que a pessoa se recusa a crer (Versagen des Glaubens) na 159 autocensura.. Essa discussão é relevante, pois torna possível estabelecer uma relação entre crença/descrença e neurose/psicose. Lacan irá valorizar esta questão, retomando, do texto freudiano, o termo Unglauben. Em seu sétimo seminário, A ética da psicanálise, coloca: “Quanto à descrença, há aí, na nossa perspectiva, uma 157 Idem, ibidem, AE: p.59; ESB: p.75-76. Segundo Luiz Alberto HANNS, no Dicionário comentado do alemão de Freud, Freud utiliza o verbo versagen de acordo com três possibilidades de sua língua: “falhar”; “privar-se”, “renunciar a”. O importante para nós é que não se trata da negação ou da supressão da crença, pois Freud parece indicar que a ausência da crença é primária na psicose. Para que o sentido da idéia de Freud não se perca, consideramos necessário corrigir o erro da tradução nas duas edições por nós utilizadas com o termo versagen. 159 FREUD,S., Rascunho K (1892-1899), AE: vol. I, p.266-267; ESB: vol .I, p.308 (o grifo da palavra desconfiança é de Freud e os demais são nossos). 158 posição do discurso que se concebe muito precisamente em relação à Coisa – a Coisa é rejeitada no sentido próprio da Verwerfung”.160 Guy Clastres, em seu artigo “Sintoma e crença”, também valoriza os efeitos da Unglauben, na medida em que esta atinge um dos termos sobre o qual se funda a divisão do sujeito. Coloca que é sobre este termo significante que se instaura o jogo dialético na cadeia significante. O psicótico recusa-se a crer neste jogo por não acreditar na estrutura de ficção da verdade.161 Na paranóia, ocorre a ausência da crença primária – Versagen des Glaubens – ou seja, o paranóico não acredita neste primeiro estranho ao qual deveria se remeter. É, então, através da certeza delirante (com seu caráter de crença absoluta), que o sujeito psicótico busca fazer suplência à falta da crença primária. Lacan afirma que, através de um Outro primordial, as representações irão se ordenar, abrindo possibilidade para o lugar da Lei, para a instauração do significante Nome do Pai. Diz ele: Na paranóia, coisa curiosa, Freud nos fornece este termo, sobre o qual rogo-lhes que meditem em seu jorro primordial - Versagen des Glaubens. Esse primeiro estranho em relação ao qual o sujeito tem que se referir inicialmente, o paranóico não acredita nele.162 Segundo Letícia Balbi, as conseqüências da falta da instauração da crença impedem que o sujeito psicótico possa se referir a esse primeiro estranho, relacionado à Coisa, enquanto alteridade absoluta e que se constitui primariamente como exterior ao sujeito. Trata-se de um primeiro objeto que será eternamente procurado mas nunca encontrado, o que não impede que seja em torno dele que as representações se ordenem. O fenômeno da crença pressupõe, portanto, a divisão primária da realidade, a partição entre significante e Coisa enquanto raiz da própria divisão do sujeito. Na psicose, esta partição não se efetua: a não admissão do significante do Nome do Pai impede que a Coisa se constitua como extraída da realidade psíquica. Ao invés da divisão, ocorre uma indiferenciação entre significante e Coisa. 163 160 LACAN,J.,O Seminário, Livro 7: A ética da psicanálise (1959-1960) p.164. (o grifo é nosso) CLASTRES,G., Symptôme et croyance, In: Quarto.Bruxelas: École de la Cause Freudienne, n. 37-38, dez, 1989. 162 LACAN, J., O Seminário, Livro 7: A ética da psicanálise (1959-1960) p.71. 163 BALBI, L., Questões sobre a crença: em que o paranóico não acredita? in: A Ética na Psicanálise. Rio de Janeiro: Escola Letra Freudiana, n. 7/8 p. 201-202. 161 Essa indiferenciação entre simbólico e real aponta para a falta de um termo que designe a falta do Outro. A ausência deste significante primordial, em torno do qual todos os outros se ordenariam, tem como um dos seus efeitos a certeza delirante, demonstrando o ponto onde a função significante falhou. Se o psicótico não duvida, também não seria correto dizer que ele acredita em seu delírio. O delírio não é um ato de fé, uma vez que ele se impõe ao sujeito: “Aqueles que têm certeza”, diz Lacan, “não acreditam, não dão crédito ao Outro, eles tem certeza da coisa, estes são psicóticos.”164 É por isto que estes são os verdadeiros ateus. Em R.S.I., na lição de 21 de julho de 1975, Lacan faz uso da estrutura da língua francesa para estabelecer uma diferença muito sutil entre neurose e psicose : A diferença é portanto manifesta entre acreditar no sintoma [“y” croire au symptôme] ou acreditar “nele” [“le”croire] . É o que faz a diferença entre a neurose e a psicose. Na psicose, as vozes, tudo está lá, eles acreditam [ils y croient]. Não só eles acreditam, mas acreditam nelas [ils les croient]. 165 Ora, tudo está aí, nesse limite. Através do verbo “crer”, sublinha, como já vimos, que a crença no sintoma implica necessariamente a crença de que este é capaz de dizer alguma coisa. Lacan coloca, ainda, que o homem pode crer que há uma mulher na sua vida, talvez duas, ou mesmo três, o que quer dizer que ele não acredita em “A mulher”. Importa destacar que, apesar da dificuldade da tradução destas partículas gramaticais para a nossa língua, Lacan reconhece o que faz limite entre as estruturas a partir da articulação do verbo crer com o objeto a este ligado (seja a mulher, seja o sintoma). Ao diferenciar o crer nas vozes para o crer “nelas”, parece indicar que há algo que se apresenta de forma invasiva, ou seja, sem intermediação. A aplicação da diferença proposta por Lacan à língua portuguesa, nos conduz à seguinte reflexão: o verbo “crer” demanda o “crer em algo” e este “em” tem uma função essencial na medida em que já aponta para uma divisão própria da estrutura neurótica. Por outro lado, o “crer algo” (sem a preposição) já desvela, pela própria estranheza em relação à estrutura gramatical de nossa língua, a ausência de um mediador, conferindo a esta crença a concretude da palavra do psicótico. 164 LACAN,J., O seminário:Livro12: Problemas cruciales para el psicoanálisis (1964-1965), sessão de 19 de maio de 1965 , Buenos Aires (inédito) 165 LACAN,J., O Seminário,Livro 22: R.S.I (1974-1975), p.24 (inédito) BIBLIOGRAFIA ANDRÉ, Serge , A impostura perversa , Rio de Janeiro, Jorge Zahar,1995. AZZI, Izabel Cristina, “Transferência- da crença à causa” In: Revista Griphos Psicanálise, Instituto de estudos psicanalíticos, n°20, Belo Horizonte-MG, 2003. BALBI, Letícia, “Questões sobre a crença: em que o paranóico não acredita?” In: A Ética na psicanálise, n ° 7/8, Escola Letra Freudiana, Rio de Janeiro, s/d. BATAILLE, Laurence, O umbigo do sonho - por uma prática da psicanálise, Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1998. BERENDONK, Eduardo Henrique Cardoso, Gozo logo sou, em busca do pensamento: um estudo psicanalítico sobre as drogadições, Tese de Doutorado - Departamento de Psicologia, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2005. BIRMAN, Joel, “Desejo e promessa-encontro impossível”, In: Psicanálise, ciência e cultura (col. Pensamento Freudiano III), Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1994. _________ , Entre cuidado e saber de si – sobre Foucault e a psicanálise, Rio de Janeiro, Relume-Dumará, 2000. BRAND-GABORIT, Chantal, “Comment la croyance éclaire-t-elle la division du sujet?” In: Le Discours Psychanalytique- Revue de l’Associacion Freudienne, n° 24: De la croyance, 2000. BOURGUIGNON, André, O conceito de renegação em Freud, Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1991. CINTRA, Elisa Maria Ulhôa, “A questão da crença versus a questão da fé: articulações com a Verleugnung freudiana”, trabalho acessado em 6/11/2003 no site: www.estadosgerais.org/encontro/a questão da crença.shtml - Estados Gerais da Psicanálise- encontro Latino Americano realizado no Rio de Janeiro em 2003. CLASTRES, Guy - “Symptôme et croyance”, In: Quarto, Bruxelas, École de la Cause Freudienne, n° 37-38, dezembro, 1989. CUNHA, Eduardo Leal, “A confissão: entre o assujeitamento e a cura”, trabalho acessado em 6/11/2003 no site: www.estadosgerais.org/encontro/aconfissao.shtml - Estados Gerais da Psicanálise- encontro Latino Americano realizado no Rio de Janeiro em 2003. DAUDIN, Michel, “Clinique et structure de la croyance”, In: Le Discours PsychanalytiqueReveu de l’Associacion Freudienne, n°24: De la croyance, 2000. DAVID, Sergio Nasio, Freud e a religião, Jorge Zahar, Rio de Janeiro, 2003. DELREIEU, Alain, Sigmund Freud, index thématique, Anthropos, 2001. DUNKER,Christian Ingo Lenz, “A crença em psicanálise: elementos para uma concepção de ato” In: Revista Stylus: Sujeito e gozo, n° 8 p.55-68, Associação Fóruns do Campo Lacaniano, 2004. ELIA, Luciano, "Uma ciência sem coração", In: Revista Ágora: Estudos em teoria psicanalítica, vol.II, n°2., Rio de Janeiro, Contra Capa Livraria, 1999. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda, Novo Dicionário Aurélio, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1986. FREUD, Ernest L., MENG, Heninrich, FREUD, Anna (orgs.), Cartas entre Freud e Pfister: Um diálogo entre a psicanálise e a fé cristã , Ultimato, Viçosa- MG, 1998. FREUD, Sigmund, Obras Completas, Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1996. _______ , Obras Completas, Edição Standard Brasileira (E.S.B.), Rio de Janeiro, Imago, 1980. FUKS, Betty Bernardo, Freud e a cultura, Rio de Janeiro, Jorge Zahar , 2003. _______ , Freud e a judeidade: a vocação do exílio, Jorge Zahar, 2000. GARCEZ, Maria Cecilia, “O divã no altar”, In: Pulsional Revista de Psicanálise , Ano XVI, Setembro de 2003, p. 71-78, Livraria Pulsional – Centro de Psicanálise, São Paulo. _________ , “O amor ao próximo” In: Revista da Associação Psicanalítica de Curitiba, Ano VII, n° 7, Dezembro de 2003 – APC, Curitiba. GARCIA-ROZA, Luiz Alfredo, Introdução à metapsicologia freudiana, vol.1, Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1991. _________ , Introdução à metapsicologia freudiana, vol. 3, Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1995. _________ , Palavra e verdade na filosofia antiga e na psicanálise, Rio de Janeiro Jorge Zahar, 2001. GAY, Peter , Um judeu sem deus, Rio de Janeiro, Imago, 1987. _________ , Freud: uma vida para o nosso tempo, São Paulo, Companhia das Letras, 1989. GOETHE, Johann Wolfgang, Fausto, São Paulo, Abril Cultural, 1976. GRAFÉ-BOONS, Marie Claire, “Passe e efeito de descrença” In: Revista Transfinitos, Belo Horizonte, 1999. HANNS, Luiz Alberto, Dicionário comentado do alemão de Freud, Rio de Janeiro, Imago,1996. JONES, Ernst , A vida e a obra de Freud, Rio de Janeiro, Imago, 1989. JORGE, Marco Antonio Coutinho, “Nota sobre a questão do sentido na psicanálise, na religião e na neurose obsessiva” In: ARAÚJO, Marcos Almeida Comaru e MAYA, Braga (orgs.), Neurose obsessiva, Rio de Janeiro, Letter,1992. _______ , “A psicanálise entre ciência e religião" In: ROPA, Daniela e PASSOS, Marci Dória (orgs), Anuário Brasileiro de Psicanálise, vol.3, Rio de Janeiro, Relume-Dumará, 1995. _______ , Fundamentos da psicanálise - de Freud a Lacan, vol. 1, Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2000. _______ , As quatro dimensões do despertar: sonho, fantasia, delírio, ilusão, Inédito, mimeo, 2003. _______ , “A pulsão de morte”, In: Revista Estudos de Psicanálise, n°26, Belo Horizonte, 2003. _______ , “O sintoma é o que muitas pessoas têm de mais real: sobre os quatro conceitos fundamentais da psicanálise e a fantasia”, In: Revista Psicologia Clínica, vol.16, n°2, p.139-153, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2004. JULIEN, Philippe , O Estranho Gozo do Próximo, Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1996. KAUFMANN, Pierre, “O problema da ilusão (A propósito de Freud)” In: Fetichismo e linguagem, São Paulo, Edições 70, 1977. KRUTZEN, Henry, Jacques Lacan, Séminaire 1952-1980: Index réferentiel, Anthropos, 2000. LACAN, Jacques, “A ciência e a verdade” (1965-66) In: Escritos. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1998. ________ , “Resposta ao comentário de Jean Hyppolite sobre a 'Verneinung' de Freud” In: Escritos. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1998. ________ , “Comentário falado sobre a 'Verneinung' de Freud, por Jean Hyppolite” In: Escritos. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1998. ________ , “A direção do tratamento e os princípios de seu poder”, In: Escritos, Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1998. ________ , “Posição do inconsciente”, In: Escritos, Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1998. ________ , “Proposição de 9 de Outubro de 1967 sobre o psicanalista da Escola” In: Outros Escritos, Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2003. _________ , “O engano do sujeito suposto saber” In: Outros Escritos, Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2003. _________ , Televisão (O Campo Freudiano do Brasil), Rio de Janeiro, Jorge Zahar,1993. _________ , “La tercera” In: Intervenciones y textos n. 2, Ed. Manantial, Buenos Aires,1998. _________ , O Seminário Livro 1, Os escritos técnicos de Freud (1953-1954) Rio de Janeiro, Jorge Zahar,1979. _________ , O Seminário Livro 2, O eu na teoria de Freud e na técnica da psicanálise(1954-1955) Rio de Janeiro, Jorge Zahar,1985. _________ , O Seminário Livro 3, As psicoses (1955-1956) Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1985. _________ , O Seminário, Livro 4, A relação de objeto (1956-1957) Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1995. _________ , O Seminário, Livro 7, A ética da psicanálise (1959-1960) Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1991. _________ , O Seminário, Livro 11, Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise (1964) Rio de Janeiro, Jorge Zahar , 1988. _________ , O Seminário, Livro 12, Problemas cruciais da psicanálise (1964-1965) Buenos Aires (inédito) _________ , O Seminário, Livro 16, De um Outro ao outro (1968-1969) publicação interna do Centro de Estudos Freudianos do Recife, Recife, 2004. _________ , O Seminário, Livro 17, O avesso da psicanálise (1969-70) Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1992. _________ , O Seminário, Livro 20, Mais ainda (1972-73) Rio de Janeiro, Jorge Zahar,1985. __________ , O Seminário, Livro 22, R.S.I. (1974-75) (inédito) __________ , O triunfo da religião precedido de discurso aos católicos, Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2005. __________ , Nomes- do- pai, Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2005. LAPLANCHE, Jean e PONTALIS, Jean-Baptiste, Vocabulário da Psicanálise, São Paulo, Martins Fontes,1983. LAURENT, Éric , “Alienção e separação I”, In: In: FEDSTEIN, Richard, FIINK,Bruce e JAANUS, Marie (orgs.), Para ler o seminário 11, Campo Freudiano no Brasil , Jorge Zahar,1997. LEMÉRER, Brigitte, Les deux moise de Freud (1914-1939), Ramonville Saint-Agne, Éditions Érès,1997. LEONEL, Francisco, Psicanálise e formalismo, Tese de Doutorado- Universidade Federal do Rio de Janeiro- 256 p, 2000. LO BIANCO, Anna Carolina, “O horror do ato analítico”, In: COSENTINO, Juan Carlos (org.), O estranho na clínica psicanalítica, Rio de Janeiro, Contra Capa Livraria, 2001. MANNONI, Octave, “Eu sei mas mesmo assim…” In: Chaves para o imaginário, Petrópolis, Vozes, 1973. MELMAN, Charles , La croyance, Conferência realizada em Reins, 1997, (mimeo). _________ , O homem sem gravidade, Rio de Janeiro, Companhia de Freud, 2003. _________ , A neurose obsessiva, Rio de Janeiro, Companhia de Freud, 2004. _________ , “Como reconhecer uma seita?” In: A clínica psicanalítica e as novas formas de gozo, Tempo Freudiano Associação Psicanalítica, n°5, 2004. MIJOLLA, Alain de, Pensamentos de Freud, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1985. MIJOLLA-MELLOR, Sophie, Le besoin de croir- Métapsychologie du fait religieux, Paris, Dunod, 2004. MILNER, Jean-Claude, A obra clara, Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1996. PONDÉ, Luiz Felipe, “O discurso de Deus”, Folha de São Paulo, 7 de agosto de 2005. PONTALIS, Jean-Baptiste, “Confiar…sem acreditar…”, In: Perder de vista, Rio de Janeiro, Jorge Zahar,1991. QUILICHINI, Josiane, “La paranoïa comme dévoilement de la structure de la croyance”, In: Le Discours Psychanalytique- Reveu de l’Associacion Freudienne: De la croyance, n°24, 2000. QUINET, Antonio, Teoria e clínica da psicose, Rio de Janeiro, Editora Forense Universitária, 2000. QUINTANA, Mario, Caderno H, Rio de Janeiro, Editora Globo, 1995. RABINOVITCH, Solal, A forclusão, Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2001. RAJCHMAN, John, Eros e verdade , Rio de Janeiro, Jorge Zahar,1993. REGNAULT, François, Dios es inconsciente , Buenos Aires, Manatial, 1986. RIBEIRO, Maria Anita Carneiro, Um certo tipo de mulher, Rio de Janeiro, Rios Ambiciosos, 2001. ________ , A neurose obsessiva, Rio de Janeiro, Jorge Zahar,2003. RINALDI, Doris, A ética da diferença, Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1996. ROBERT, Paul, Le petit Robert, dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris, Société du Nouveau Littré, 1977. ROUDINESCO, Elisabeth , A batalha dos cem anos: história da psicanálise na França, Rio de Janeiro, Jorge Zahar,1989. _________ , Pour une politique de la psychanalyse, Paris, Maspero, 1977. SOLER, Colette , “O sujeito e o Outro”, In: FEDSTEIN, Richard, FIINK, Bruce e JAANUS, Marie (orgs.), Para ler o seminário 11, Campo Freudiano no Brasil , Jorge Zahar,1997. _______ , La repetición en la experiencia analítica, Buenos Aires, Manantial, 2004. SOUZA, Octavio,“Por uma política psicanalítica”, in: Mais um , Colégio Freudiano do Rio de Janeiro, número duplo, 1973-74. SOUZA, Neusa dos Santos, A Psicose - Um Estudo Lacaniano, Rio de Janeiro, Editora Campus, ano 1991. TOLIPAN, Elizabeth, A estrutura da experiência psicanalítica, Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 156 p., 1991. VANDERMERSCH, Bernard, “De quoi doute le paranoïque? In: Le Discours Psychanalytique- Reveu de l’Associacion Freudienne, n°24: De la croyance, 2000. VIDAL, Eduardo Afonso, "De Deus não todo", In: MOURA, João Carlos (org.) Hélio Pellegrino A-DEUS - Psicanálise e Religião, Ed. Vozes, Petrópolis, 1988. _______ , "Um encontro singular com a Acrópole" In: Freud entre nós, n°6, ano 8, Escola Letra Freudiana, Rio de Janeiro, s/d. WONDRACEK, Karin, Helen Kepler - “Freud, Pfister e suas ilusões”, In: WONDRACEK, Karin Hellen Kepler (org.), O futuro e a Ilusão Petrópolis, Rio de Janeiro, Ed.Vozes, 2003. ZIZEK, Slavoj , On belief , London, Routledge, 2001. _______ , The interpassive subject, texto acessado em 02/08/2005 no site: http://lacan.com/frameziz.htm. _______ , “A sedução do catolicismo”, Folha de São Paulo, 4 de setembro de 2005.
Download