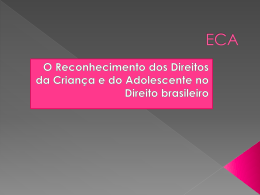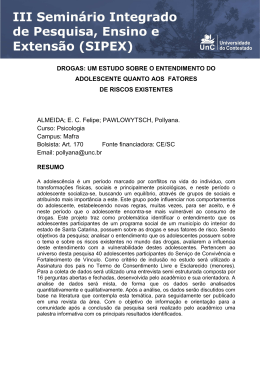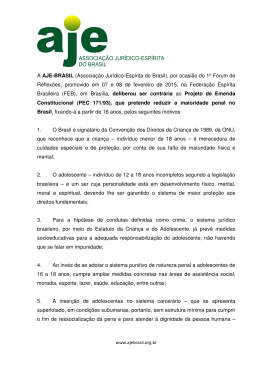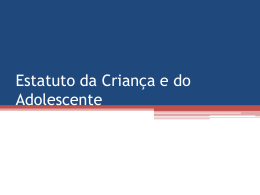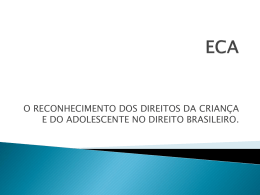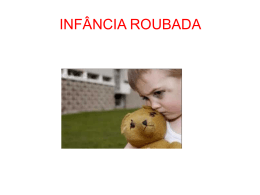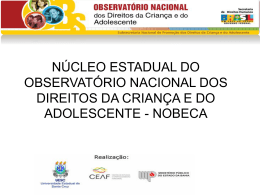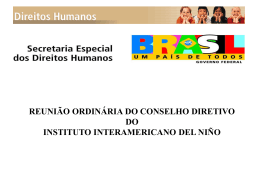UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA - FENÓTIPO NEUROPSICOLÓGICO DE ADOLESCENTES COM SÍNDROME DE DOWN Rosália Carmen de Lima Freire NATAL 2013 Rosália Carmen de Lima Freire FENÓTIPO NEUROPSICOLÓGICO DE ADOLESCENTES COM SÍNDROME DE DOWN Dissertação elaborada sob orientação da Profª. Drª. Izabel Hazin e apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Psicologia. NATAL 2013 iii “E aprendi que se depende sempre. De tanta, muita, diferente gente. Toda pessoa sempre é a marca das lições diárias de outras tantas pessoas. E é tão bonito quando a gente entende que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá. E é tão bonito quando a gente sente que nunca está sozinho, por (Gonzaguinha) mais que pense estar.” iv AGRADECIMENTOS À minha orientadora Izabel, a quem muito admiro, por ter acreditado e confiado no meu potencial, e por ser para mim um exemplo de competência, ética e dedicação com a vida acadêmica. Obrigada pela orientação, paciência, apoio e incentivo ao longo desses anos! Aos adolescentes com Síndrome de Down, participantes da pesquisa, e à suas mães, pela disponibilidade e convivência durante os meses de realização do estudo, e por me proporcionarem diversas aprendizagens que levarei ao longo da minha vida. Às instituições onde foram realizadas as avaliações, APAE e CRI, e à seus profissionais, em especial à Suely de Andrade Freire e à Cristina Barbalho, pela recepção e auxílio na concretização da pesquisa. Ao NANI, pela ajuda com a correção dos questionários do CBCL, em especial à professora Cláudia Berlim de Mello e à André Luiz Sousa. À meus pais, Jozilda e Hermano, por serem meu alicerce, por acreditarem em mim e por me darem forças nos momentos de maiores dificuldades. Obrigada por todo o suporte, emocional e financeiro, indispensáveis para que eu pudesse chegar até aqui. Agradeço também aos meus irmãos, Renata e Raphael pelo apoio oferecido. “Saber que tenho vocês, me faz continuar”. Amo vocês! À minha eterna “Psicoturma” (Cibele, Diogo, Hermes, Isabelle, Mayra e Olívia), pelo inúmeros momentos de alegrias (e tristezas) compartilhados desde o início da minha graduação até aqui, e por me mostrarem que apesar da distância física os laços de amizade sempre estarão presentes. “Não foi só ontem, é hoje e depois...”. À Cibele e Olívia, pela amizade sincera e fiel ao longo de todos esses anos, e pelo apoio, incentivo e paciência que me ofereceram ao longo desta e de outras trajetórias. v Às amigas Georgia, Heloísa e Olívia pelo incentivo e por terem tornado Natal um lugar bem mais prazeroso de se viver. Aos colegas do Laboratório de Pesquisa e Extensão em Neuropsicologia (LAPEN), pelos aprendizados e contribuições para o desenvolvimento da pesquisa, em especial à Nietsnie, com quem tive o prazer de compartilhar a trajetória de mestrado. Às professoras Pompéia Villachan-Lyra e Symone Fernandes de Melo por terem aceitado a leitura da dissertação e pelas contribuições dela advindas. À CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), pela concessão da bolsa de estudos, e pelo apoio e incentivo à pesquisa. vi SUMÁRIO LISTA DE TABELAS...................................................................................................viii LISTA DE FIGURAS.......................................................................................................x LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS....................................................................xiv RESUMO.........................................................................................................................xv ABSTRACT...................................................................................................................xvi Introdução........................................................................................................................17 1. CAPÍTULO I: SÍNDROME DE DOWN: ASPECTOS GERAIS E DESENVOLVIMENTAIS..............................................................................................20 1.1 Síndrome de Down: Aspectos Gerais................................................................21 1.2 Aspectos Neurodesenvolvimentais da SD.........................................................27 2. CAPÍTULO II: FENÓTIPO NEUROPSICOLÓGICO DE ADOLESCENTES COM SD....................................................................................................................................35 2.1. Fenótipos Comportamentais e Neuropsicológicos............................................36 2.2. Fenótipo Neuropsicológico de Adolescentes com SD......................................39 2.2.1. Nível Intelectual.............................................................................................41 2.2.2. Linguagem......................................................................................................42 2.2.3. Memória.........................................................................................................45 2.2.4. Atenção...........................................................................................................51 2.2.5.Funções executivas..........................................................................................52 2.2.6.Aspectos Comportamentais e Sócio-afetivos..................................................53 2.3. Objetivos...........................................................................................................57 2.3.1.Objetivo geral..................................................................................................57 2.3.2.Objetivos específicos.......................................................................................57 3. CAPÍTULO III: METODOLOGIA........................................................................58 vii 3.1. Considerações Iniciais.......................................................................................59 3.2. Fundamentos da Avaliação Neurosicológica Luriana.......................................61 3.3. Operacionalização.............................................................................................67 3.3.1. Participantes...................................................................................................68 3.3.2. Instrumentos e Técnicas para a coleta de dados.............................................69 3.3.3.Procedimento...................................................................................................84 4. CAPÍTULO IV: RESULTADOS.............................................................................89 4.1. Considerações Iniciais.......................................................................................90 4.2. Adolescente 1 – Pseudônimo Lucas..................................................................91 4.3. Adolescente 2 – Pseudônimo Larissa..............................................................124 4.4. Adolescente 3 – Pseudônimo Thaís.................................................................146 4.5. Adolescente 4 – Pseudônimo Marcelo............................................................170 4.6. Adolescente 5 – Pseudônimo Gabriela............................................................193 4.7. Adolescente 6 – Pseudônimo Diogo................................................................215 5. CAPÍTULO V: DISCUSSÃO...............................................................................237 6. Considerações Finais.................................................................................................274 7.Referências.................................................................................................................278 8.Anexos........................................................................................................................292 viii LISTA DE TABELAS 1 Perfil dos adolescentes com SD participantes da pesquisa...........................................68 2 Instrumentos utilizados para avaliação neuropsicológica............................................69 3 Resultados Quantitativos de Lucas nos Subtestes do WISC III...................................92 4 Resultados Quantitativos de Lucas nos Índices de QIs do WISC III...........................93 5 Valores de Referência...................................................................................................93 6 Resultados Quantitativos de Lucas para o teste MPCR............................................101 7 Resultados Quantitativos de Lucas para o teste Figuras Complexas de Rey.............104 8 Resultados Quantitativos de Lucas para o teste RAVLT...........................................109 9 Resultados Quantitativos de Lucas para o TAC.........................................................113 10 Resultados Quantitativos de Lucas para o Teste de Fluência Fonológica................114 11 Resultados Quantitativos de Lucas para o Teste de Fluência Semântica.................114 12 Resultados Quantitativos de Larissa nos Subtestes do WISC III.............................125 13 Resultados Quantitativos de Larissa nos Índices de QIs do WISC III.....................126 14 Resultados Quantitativos de Larissa para o teste MPCR.........................................129 15 Resultados Quantitativos de Larissa para o teste Figuras Complexas de Rey.........132 16 Resultados Quantitativos de Larissa para o teste RAVLT.......................................135 17 Resultados Quantitativos de Larissa para o teste TAC.............................................137 18 Resultados Quantitativos de Larissa para o Teste de Fluência Fonológica..............138 19 Resultados Quantitativos de Larissa para o Teste de Fluência Semântica...............138 20 Resultados Quantitativos de Thaís nos Subtestes do WISC III................................148 21 Resultados Quantitativos de Thaís nos Índices de QIs do WISC III........................148 22 Resultados Quantitativos de Thaís para o teste MPCR............................................151 23 Resultados Quantitativos de Thaís para o teste Figuras Complexas de Rey............155 24 Resultados Quantitativos de Thaís para o teste RAVLT..........................................157 ix 25 Resultados Quantitativos de Thaís para o teste TAC...............................................160 26 Resultados Quantitativos de Thaís para o Teste de Fluência Fonológica................161 27 Resultados Quantitativos de Thaís para o Teste de Fluência Semântica..................161 28 Resultados Quantitativos de Marcelo nos Subtestes do WISC III...........................172 29 Resultados Quantitativos de Marcelo nos Índices de QIs do WISC III...................172 30 Resultados Quantitativos de Marcelo para o teste MPCR........................................176 31 Resultados Quantitativos de Marcelo para o teste Figuras Complexas de Rey........178 32 Resultados Quantitativos de Marcelo para o teste RAVLT.....................................181 33 Resultados Quantitativos de Marcelo para o teste TAC...........................................184 34 Resultados Quantitativos de Marcelo para o Teste de Fluência Semântica.............185 35 Resultados Quantitativos de Gabriela nos Subtestes do WISC III...........................194 36 Resultados Quantitativos de Gabriela nos Índices de QIs do WISC III...................195 37 Resultados Quantitativos de Gabriela para o teste Figuras Complexas de Rey.......200 38 Resultados Quantitativos de Gabriela para o teste RAVLT.....................................202 39 Resultados Quantitativos de Gabriela para o teste TAC..........................................206 40 Resultados Quantitativos de Gabriela para o Teste de Fluência Semântica.............208 41 Resultados Quantitativos de Diogo nos Subtestes do WISC III...............................217 42 Resultados Quantitativos de Diogo nos Índices de QIs do WISC III.......................218 43 Resultados Quantitativos de Diogo para o teste MPCR...........................................220 44 Resultados Quantitativos de Diogo para o teste Figuras Complexas de Rey...........222 45 Resultados Quantitativos de Diogo para o teste RAVLT.........................................224 46 Resultados Quantitativos de Diogo para o teste TAC..............................................226 47 Resultados Quantitativos de Diogo para o Teste de Fluência Semântica.................228 x LISTA DE FIGURAS 1 Cariótipo de cromossomo com trissomia do 21 por não-disjunção..............................24 2 O método de diagnóstico e intervenção neuropsicológica de Luria.............................64 3 Erro cometido por Lucas ao montar o Item 1 (menina) do subteste Armar Objetos....97 4 Extrato do problema B8 do MPCR.............................................................................102 5 Extrato do caderno de Lucas (cópia do quadro).........................................................104 6 Cópia de Lucas da Figura Complexa de Rey.............................................................107 7 Reprodução de memória de Lucas da Figura Complexa de Rey................................107 8 Protocolo do TAC (Parte 3) de Lucas........................................................................114 9 Resultados de Lucas para a Escala de Competências Sociais....................................116 10 Resultados de Lucas para a Escala de Síndromes....................................................117 11 Resultados de Lucas para a Escala de Problemas Internalizantes, Escala de Problemas Externalizantes e Problemas Totais.............................................................117 12 Resultados de Lucas para a Escala Orientada pelo DSM-IV...................................118 13 Resultados de Lucas para a Escala Orientada pelo DSM-IV...................................118 14 Desenho de Lucas de tema “Eu e meus amigos”......................................................122 15 Desenho de Lucas de tema “Eu e minha escola”......................................................124 16 Item 20 do subteste Completar Figuras do WISC III..............................................128 17 Extrato do subteste Código do WISC III feito por Larissa.......................................129 18 Extrato do problema B5 do MPCR...........................................................................130 19 Extrato do caderno de Larissa..................................................................................132 20 Cópia de Larissa da Figura Complexa de Rey.........................................................133 21 Reprodução de memória de Larissa da Figura Complexa de Rey............................133 22 Resultados de Larissa para a Escala de Competência Social...................................139 23 Resultados de Larissa para a Escala de Síndromes..................................................140 xi 24 Resultados de Larissa para a Escala de Problemas Internalizantes, Escala de Problemas Externalizantes, e Problemas Totais............................................................140 25 Resultados de Larissa para a Escala Orientada pelo DSM-IV.................................141 26 Resultados de Larissa para a Escala Orientada pelo DSM-IV.................................141 27 Desenho de Larissa de tema “Eu e minha escola”....................................................144 28 Desenho de Larissa de tema “Eu e minha família”..................................................145 29 Desenho de Larissa de tema “Eu e meus amigos”....................................................146 30 Erro cometido (e após corrigido) por Thaís ao armar o Item 1 do subteste Armar Objetos...........................................................................................................................150 31 Extrato do problema Ab4 do MPCR........................................................................153 32 Cópia da Figura Complexa de Rey feita por Thaís..................................................156 33 Reprodução de memória da Figura Complexa de Rey feita por Thaís.....................156 34 Resultados de Thaís para a Escala de Competências Sociais...................................162 35 Resultados de Thaís para a Escala de Síndromes.....................................................162 36 Resultados de Thaís para a Escala de Problemas Internalizantes, Escala de Problemas Externalizantes, e Problemas Totais..............................................................................163 37 Resultados de Thaís para a Escala Orientada pelo DSM-IV....................................163 38 Resultados de Thaís para a Escala Orientada pelo DSM-IV....................................164 39 Desenho de Thaís de tema “Eu e minha escola”......................................................166 40 Desenho de Thaís de tema “Eu e minha família”.....................................................167 41 Desenho de Thaís de tema “Eu e meus amigos”......................................................169 42 Extrato do Subteste Código do WISC III feito por Marcelo....................................175 43 Extrato da avaliação de Marcelo cedida pela sua mãe.............................................177 44 Cópia da Figura Complexa de Rey de Marcelo........................................................179 45 Reprodução de memória da Figura Complexa de Rey feita por Marcelo................181 xii 46 Resultados de Marcelo para a Escala de Competências...........................................187 47 Resultados de Marcelo para a Escala de Síndromes.................................................187 48 Resultados de Marcelo para a Escala de Problemas Internalizantes, Escala de Problemas Externalizantes, e Problemas Totais............................................................188 49 Resultados de Marcelo para a Escala Orientada pelo DSM-IV................................188 50 Resultados de Marcelo para a Escala Orientada pelo DSM-IV................................189 51 Desenho de Marcelo de tema “Eu e minha escola”..................................................192 52 Desenho de Marcelo de tema “Eu e minha família”................................................193 53 Desenho de Marcelo de tema “Eu e meus amigos”..................................................194 54 Extrato do subteste Código do WISC III feito por Gabriela....................................198 55 Extrato do caderno de Gabriela................................................................................201 56 Cópia da Figura Complexa de Rey de Gabriela.......................................................202 57 Reprodução de memória da Figura Complexa de Rey feita por Gabriela................202 58 Extrato de Gabriela da Parte 1 do TAC....................................................................205 59 Extrato de Gabriela da Parte 2 do TAC....................................................................205 60 Resultados de Gabriela na Escala de Competências Totais.....................................207 61 Resultados de Gabriela para a Escala de Síndromes................................................208 62 Resultados de Gabriela na Escala de Problemas Internalizantes, Escala de Problemas Externalizantes, e Escala de Problemas Totais..............................................................209 63 Resultados de Gabriela na Escala Orientada pelo DSM-IV.....................................209 64 Resultados de Gabriela na Escala Orientada pelo DSM-IV.....................................210 65 Desenho de Gabriela de tema “Eu e minha escola”.................................................213 66 Desenho de Gabriela de tema “Eu e meus amigos”.................................................214 67 Desenho de Gabriela de tema “Eu e minha família”................................................215 68 Extrato da atividade de Diogo..................................................................................221 xiii 69 Cópia de Diogo da Figura Complexa de Rey...........................................................223 70 Reprodução de Memória da Figura Complexa de Rey de Diogo.............................224 71 Extrato do Protocolo do TAC - Parte 1 executado por Diogo..................................227 72 Resultados de Diogo para a Escala de Competências Totais...................................229 73 Resultados de Diogo para a Escala de Síndromes....................................................229 74 Resultados de Diogo na Escala de Problemas Internalizantes, Escala de Problemas Externalizantes, e Escala de Problemas Totais..............................................................230 75 Resultados de Diogo na Escala Orientada pelo DSM-IV.........................................230 76 Resultados de Diogo na Escala Orientada pelo DSM-IV.........................................231 77 Desenho de Diogo de tema “Eu e minha escola”.....................................................233 78 Desenho de Diogo de tema “Eu e minha família”....................................................234 79 Desenho de Diogo de tema “Eu e meus amigos”.....................................................235 xiv LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS APAE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais CBCL Child Behavior Checklist CRI Centro de Reabilitação Infantil CV Índice Compreensão Verbal do WISC III DI Deficiência Intelectual DSM-IV Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais - 4º Ed. DT Desenvolvimento Típico FE Funções Executivas IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística LAPEN Laboratório de Pesquisa e Extensão em Neuropsicologia - UFRN MPCR Matrizes Progressivas Coloridas de Raven OMS Organização Mundial de Saúde OP Índice Organização Perceptual do WISC III QI Nível intelectual QIt QI total QIv QI verbal RAVLT Teste de Aprendizagem auditivo-verbal de Rey RD Índice Resistência à distração do WISC III SD Síndrome de Down SN Sistema Nervoso SNC Sistema Nervoso Central TAC Teste de Atenção por Cancelamento VP Índice Velocidade de Processamento do WISC III WISC III Escala Wechsler de Inteligência para Criança – WISC III xv RESUMO A presente pesquisa teve como objetivo contribuir para a caracterização de um fenótipo neuropsicológico de adolescentes com Síndrome de Down (SD). Foi realizado um estudo multicasos de seis adolescentes diagnosticados com SD, sendo três do sexo masculino e três do sexo feminino, na faixa etária de 13 e 14 anos, atendidos em duas instituições da cidade de Natal. Os participantes foram avaliados a partir da metodologia desenvolvida por Luria, sendo esta constituída de quatro etapas complementares. A primeira teve como objetivo a investigação qualitativa do impacto da SD no cotidiano escolar e social dos adolescentes. Foram investigadas as dimensões do comportamento e dos aspectos sócio-afetivos dos integrantes do estudo. Na segunda etapa, os participantes realizaram uma bateria de testes neuropsicológicos com o intuito de identificação de pontos fortes e fragilidades em seu funcionamento cognitivo. A terceira etapa foi incorporada à segunda e teve como objetivo central analisar a qualidade da atividade dos participantes ao longo da avaliação quantitativa, destacando estratégias utilizadas, erros produzidos dentre outros indicadores. Por fim, a quarta etapa refere-se à intervenção junto aos participantes. Apesar desta não ser um objetivo específico do estudo, defende-se que o resultado final desta pesquisa subsidiará a prática significativa de diferentes profissionais que atuam junto a este grupo clínico. Os resultados da primeira etapa ressaltam a presença de dificuldades nos relacionamentos sociais e no cotidiano escolar deste subgrupo. Por sua vez, as etapas dois e três apontam para a presença de dificuldades em tarefas que envolvem o pensamento lógico e abstrato, bem como prejuízos significativos na linguagem expressiva. Em relação à memória visual, observou-se um desempenho melhor em atividades de menor complexidade, ou seja, com menos interferência do funcionamento executivo, notadamente em termos das funções de planejamento e iniciativa. Por fim, destaca-se a presença de lentificação motora e mental, repercutindo significativamente no desempenho de diferentes áreas cognitivas. Nesse sentido, os resultados aqui destacados podem ser considerados enquanto subsídios para intervenções futuras, sugerindo a necessidade do desenvolvimento de projetos que levem em consideração os diferentes aspectos constituintes do sujeito humano, envolvendo não apenas o indivíduo com alterações desenvolvimentais, como também suas famílias, professores, escolas e a sociedade em geral. Palavras-chaves: Síndrome de Down; Fenótipo Neuropsicológico; Avaliação Neuropsicológica. xvi ABSTRACT This research aimed to contribute to the characterization of a neuropsychological phenotype of adolescents with Down Syndrome (DS). A multicases study of six adolescents (three males and three females, aged 13 to 14 years) diagnosed with DS and treated at two institutions in the city of Natal (Brazil), was conducted. Participants were assessed using the methodological approach developed by Luria, which is composed by four complementary stages. The first one aimed to investigate the qualitative impact of DS in school life and social development of the adolescents; dimensions of behavior and social-affective aspects of the members of the study were investigated. In the second stage participants performed a battery of neuropsychological tests in order to identify strengths and weaknesses in their cognitive functioning. The third stage was incorporated into the second in order to analyze the quality of the activity of the participants along the quantitative evaluation, highlighting strategies used, errors produced among other indicators. Lastly, the fourth stage refers to the intervention with the participants. Although this is not a specific objective of the study, it is argued that the outcome of this research will subsidize the practice of different professionals working with this clinical group. The results of the first stage emphasized the presence of difficulties in social relationships and in school life of observed adolescents. In turn, the second and third stages pointed out to the presence of difficulties in tasks involving logical and abstract thinking, as well as difficulties in expressive language. In relation to visual memory, we observed a better performance in activities of lower complexity, ie, with less interference of executive functioning, particularly in terms of the functions of planning and initiative. Finally, it was found motor and mental retardation, affecting significantly the performance related to different cognitive areas. The results highlighted here can be considered as subsidies for future interventions, suggesting the need for developping projects that take into account different aspects constituents of the human subject, involving not only the individual with developmental changes, as well as their families, teachers, schools and society in general. Keywords: Down Syndrome; Neuropsychological Phenotype; Neuropsychological Assessment. 17 Introdução A Síndrome de Down (SD) é a causa genética mais comum de deficiência intelectual, com incidência aproximada de um para cada 600 a 800 nascimentos vivos (Brasil – Ministério da Saúde, 2012). Na grande maioria dos casos, esta síndrome está associada à “trissomia do 21”, que se refere à presença de três cromossomos 21, ao invés de dois, em todas as células do organismo (Rondal, 1993; Silverman, 2007). Esta alteração na dosagem gênica, por sua vez, é responsável por uma série de comprometimentos no desenvolvimento neurológico desta população, evidenciado pelo atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e presença de prejuízos variados em suas funções cognitivas (Schawartzman, 2003). Alterações no domínio da linguagem são acentuadas nesta população e terminam por comprometer as trocas sociais (Martin, Klusek, Estigarribia & Roberts, 2009). Além disto, dificuldades em manter a atenção e deficiências no campo da memória ocasionam prejuízos diversos na aprendizagem (Lott & Dierssen, 2010). Por outro lado, do ponto de vista comportamental são descritas como crianças alegres e sociáveis, embora na adolescência apresentem grande tendência à depressão (Hodapp & Dykens, 2004). Os aspectos supracitados constituem um padrão de alterações motoras, cognitivas, linguísticas e sociais característicos da SD que têm sido denominado fenótipo comportamental (Garzuzi, 2009). Ressalta-se que estudos vêm sendo realizados com o intuito de estabelecer os fenótipos comportamentais associados a quadros clínicos específicos (Silverman, 2007). No entanto, identifica-se ainda uma carência no tocante à realização de investigação mais detalhada do perfil neuropsicológico destes subgrupos clínicos, notadamente em termos das funções cognitivas superiores mais sensíveis à modulação genética. 18 Neste sentido, o presente estudo tem como objetivo contribuir para a caracterização de um fenótipo neuropsicológico específico de adolescentes com SD. Salienta-se, contudo, que a busca pela delimitação de tal fenótipo não exclui a consideração das dimensões sócio-histórico-culturais que participam da estruturação e organização das funções cognitivas complexas, mas defende-se aqui que subgrupos clínicos específicos compartilham entre si características específicas, que podem ter como base, dentre outras, o domínio biológico. Conforme ressalta Vygotsky (1997) e Luria (1992), a avaliação da pessoa com algum tipo de deficiência não deve se limitar, no entanto, apenas aos seus problemas biológicos, mas abarcar as formas de vida social nas quais estas estão imersas. Na perspectiva deste estudo, os adolescentes com SD não se reduzem à alteração genética que apresentam; pelo contrário, as dimensões sócio-históricas, contextuais, familiares e afetivas interagem dialeticamente com esta, produzindo formas de reorganização e equilíbrio, de maneira a superá-lo, compensá-lo ou adaptar-se a ele (Anunciação, 2004). Desta forma, foram igualmente consideradas as dificuldades apresentadas, bem como aquelas habilidades nas quais os adolescentes com SD atingiram desempenhos satisfatórios, além de considerarmos os aspectos comportamentais e sócio-afetivos característicos, e que também influenciam em seus desempenhos. Geralmente, pesquisas sobre o fenótipo comportamental ou neuropsicológico concentram-se apenas em uma dimensão (memória, atenção, linguagem) do fenótipo. Estas descrições detalhadas de um domínio específico de funcionamento são importantes, porém também podem ser enriquecedoras explorações do desenvolvimento destas áreas em conjunto, considerados como sistemas integrados, tal como a proposta assumida no presente estudo. 19 Ressalta-se, ainda, o quanto podem ser importantes as descobertas feitas em relação ao fenótipo neuropsicológico da SD, não apenas para o melhor entendimento desta síndrome, como também para a oferta de subsídios necessários para o desenvolvimento de intervenções mais eficazes, a serem utilizadas pelos diferentes profissionais (médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, etc.). Somente com a compreensão deste fenótipo será possível o estabelecimento de intervenções que focalizem áreas de potencial e minimizem áreas em defasagem, considerando para tanto o indivíduo como um todo, e não simplesmente um aspecto particular da pessoa estudada (Fidler, Hepburn & Rogers, 2006). A seguir, será apresentada a fundamentação teórica do presente estudo. No primeiro capítulo serão discutidos os aspectos gerais da SD, assim como os aspectos neurodesenvolvimentais da síndrome. No segundo capítulo, serão introduzidos ao leitor informações sobre os chamados fenótipos comportamentais e neuropsicológicos, seguido da descrição do fenótipo neuropsicológico específico de adolescentes com SD. Posteriormente, serão apresentados os objetivos do estudo e descrito o método, resultados e discussão dos dados encontrados. 20 CAPÍTULO I – SÍNDROME DE DOWN: ASPECTOS GERAIS E NEURODESENVOLVIMENTAIS 21 1.1. Síndrome de Down: Aspectos Gerais Os primeiros trabalhos científicos sobre a SD são datados do século XIX, embora existam especulações de que esta síndrome esteja presente desde os primórdios da humanidade. Achados arqueológicos dos Olmecas, por exemplo, tribo que viveu na região do Golfo do México, de 1500 AC à 300 DC, demonstra a existência de esculturas, gravações e desenhos de crianças e adultos com características muito semelhantes a de portadores da síndrome. Registros antigos também mostram crianças com SD retratadas por pintores, como Andrea Mantegna (1431-1506) e Jacobs Jordaens (1539-1678) (Schwartzman, 2003). As primeiras referências à SD em documentos médicos são de 1838, quando Esquirol mencionou a síndrome em um dicionário. Outros registros podem ser encontrados no livro de Chambers, de 1844, no qual a síndrome é denominada “idiotia do tipo mongolóide”, e na descrição de Edouard Seguin, entre 1846 e 1866, o qual se referiu à SD como um subtipo de cretinismo classificado como “cretinismo furfuráceo” (Schwartzman, 2003; Silva & Dessen, 2002). Apesar destas descrições iniciais, o reconhecimento da SD como uma entidade clínica particular somente pode ser estabelecido a partir do ano de 1866, quando John Langdon Down, no seu conhecido artigo “Observations on an Ethnic Classification of Idiots” descreveu sistematicamente as características desta síndrome (Schawartzman, 2003). Porém, de acordo com Schawartzman (2003), influenciado pelas escolas evolucionistas de sua época, em especial a Teoria da Degenerescência, Langdon Down acabou associando erroneamente a SD com caracteres étnicos, denominando-a mongolismo, devido a sua semelhança com a raça Mongol (Moreira, El-Hani & Gusmão, 2000). 22 No seu artigo, Down defendia a existência de raças superiores a outras, sendo a deficiência intelectual característica das raças inferiores (Silva & Dessen, 2002). Em concordância com o pensamento evolucionista da época, ele acreditava que os fenômenos patológicos estariam ligados a regressões das raças mais primitivas da história (Wuo, 2006). Somente em meados do século XX, com o avanço nas pesquisas genéticas, se reformulou o conceito da SD, mostrando-se que esta não tinha relação com qualquer degeneração racial. Até isto ocorrer, cientistas de várias nacionalidades, durante décadas, tentaram encontrar as causas da SD, associando-a à infecções, sífilis, casamentos consanguíneos, tentativas de aborto, efeitos dos raios-X e fortes emoções vivenciadas pelas mães ao longo da gestação (Pessotti, 1984). Em 1932, um oftalmologista holandês chamado Waardenburg sugeriu que a SD pudesse ser causada por uma aberração cromossômica. Dois anos mais tarde, nos Estados Unidos, Adrian Bleyer supôs que essa aberração poderia ser uma trissomia. Contudo, foram necessárias mais de duas décadas para que a causa genética da SD fosse finalmente esclarecida, quando em 1959, o Dr. Jerome Lejeune e Patricia A. Jacobs, e seus respectivos colaboradores, descobriram, quase que simultaneamente, a existência de um cromossomo extra (o cromossomo 21) em indivíduos com SD (Schwartzman, 2003). A denominação “Síndrome de Down” foi proposta por Lejeune como forma de homenagear o Dr Langdon Down. Entretanto, antes de receber esse nome, várias outras denominações foram usadas, tais como imbecilidade mongolóide, idiotia mongolóide, cretinismo furfuráceo, acromicria congênita, criança mal-acabada, criança inacabada. Atualmente, recomenda-se a não utilização de nenhum destes termos, visto as suas conotações extremamente pejorativas. O termo mongolismo, em particular, foi abolido 23 das publicações da Organização Mundial de Saúde (OMS), a partir de 1965, prevalecendo a denominação Síndrome de Down (Silva & Dessen, 2002). Hoje é bem estabelecido que a SD é um tipo de cromossomopatia que ocasiona um conjunto de manifestações físicas, clínicas e mentais específicas, e que pode afetar indivíduos de diferentes raças, etnias e classes socioeconômicas (Schawartzman, 2003). Atualmente, é considerado um dos distúrbios genéticos mais investigados na literatura mundial, principalmente pela sua alta incidência na população: 1 para cada 800 indivíduos nascidos vivos. No Brasil, estima-se que cerca de 300 mil pessoas sejam portadoras desta síndrome (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE], 2000). Geralmente, a SD é ocasionada pela não-disjunção, ou seja, uma falha na separação correta de um par de cromossomos durante a meiose. Como se sabe, metade dos cromossomos de cada indivíduo são derivados do pai, e a outra metade da mãe. Portanto, as células germinativas (espermatozóides e óvulos) possuem apenas a metade do número de cromossomos (23) encontrados normalmente nas outras células do corpo. Na não-disjunção, uma célula-filha durante a meiose recebe 24 cromossomos e a outra 22. Uma célula com apenas 22 cromossomos não consegue sobreviver. Por outro lado, um óvulo ou espermatozóide com 24 cromossomos consegue sobreviver e ser fertilizado. Quando isso ocorre, o zigoto resultante tem 47 cromossomos, em vez dos 46 usuais. Se este cromossomo extra for o cromossomo 21, condição denominada de “trissomia do 21”, a criança nascerá com a SD (Kozma, 2006; Pueschel, 2002). 24 Figura 1. Cariótipo de cromossomo com trissomia do 21 por não-disjunção (Kozma, 2006) A trissomia do 21 ocorre em cerca de 95% dos casos de SD. No entanto, esta síndrome também pode ser associada a outros dois grupos de anomalias genéticas: a translocação e o moisacismo. Na translocação, observa-se a presença de material cromossômico extra 21 em todas as células do corpo. Porém, este material é ligado a outro par cromossômico que não o par 21 (muitas vezes, ao cromossomo 14). Este tipo de anomalia é verificado em cerca de 4% dos casos de SD. Já no mosaicismo, ocorre uma variação no número extra de cromossomos 21 em determinadas células, sendo outras consideradas normais. Há comprovações de que 1% dos casos de SD refere-se a este subgrupo de anomalias (Fávero & Oliveira, 2004; Rondal, 1993). Embora a causa genética da SD seja conhecida desde 1959, o mecanismo pelo qual a cópia extra cromossomo 21 (ou de regiões críticas dele) resulta na interrupção do desenvolvimento típico ainda não é bem estabelecido. Uma das hipóteses que tem sido sugerida é a do “efeito da dosagem gênica”. De acordo com esta hipótese, ocorreria na SD uma hiper expressão dos genes envolvidos, conduzindo a um aumento da produção 25 de certos produtos biológicos. Assim, o desbalanço de dose global ou num pequeno número de genes do cromossomo 21 seria o responsável pela emergência do fenótipo da SD (Moreira et al., 2000). Ainda hoje se busca descobrir quais seriam os genes que estariam envolvidos no fenótipo da SD. Depois de anos de pesquisa foi descoberto que apenas uma pequena porção do cromossomo 21 realmente precisa estar duplicada para gerar os efeitos verificados: esta é denominada a Região Crítica da SD. Esta região tem sido relatada como a trissomia da banda cromossômica 21q22, referente ao terço final desse cromossomo. No entanto, vale ressaltar, que como um modelo de interrupção da homeostasia gênica que é, a SD afeta não apenas os produtos do cromossomo trissômico, mas também os de outros cromossomos, ou seja, as contribuições ao fenótipo provêm de todo o conjunto do genoma não balanceado (Moreira et al., 2000). Embora ainda não se tenha estabelecido as possíveis causas que levariam ao nascimento de uma criança com SD, o principal fator de risco, que tem sido comprovado através de diversas pesquisas, é a idade materna avançada. Observa-se um aumento exponencial da incidência da SD em mães a partir dos 35 anos, chegando em 1 para cada 30 nascidos vivos em mães com mais de 45 anos (Brito Júnior, Guedes, Noronha & Silva Júnior, 2011; Schawartzman, 2003). Contudo, cabe ressaltar que estes dados não descartam a possibilidade de incidência da síndrome em crianças com mães mais jovens (Silva & Dessen, 2002). Schawartzman (2003) atenta que grande parte das concepções que envolvem formações trissômicas, entretanto, não chegam a se desenvolver, ocorrendo frequentemente abortos espontâneos. Após o nascimento, dados recentes sugerem que 85% dos bebês com SD conseguem sobreviver até pelo menos um ano de idade. 26 Quando a morte ocorre, ela é associada a malformações congênitas que são comuns nesta população, principalmente as malformações cardíacas e infecções respiratórias. Apesar das frequentes alterações em diversos sistemas do organismo, nos últimos anos tem sido observado um aumento significativo na expectativa de vida desta população. Isto se deve, principalmente, à ampliação das intervenções médicas com a oferta de melhores tratamentos clínico-cirúrgicos, que têm sido responsáveis pelo aumento da expectativa de vida destes indivíduos, possibilitando que esta passasse de uma média de 12 anos de idade em 1940 para 60 anos ou mais na atualidade (Contestabile, Benfenati & Gasparini, 2010; Lott & Dierssen, 2010). Comumente, os médicos são capazes de identificar bebês com SD imediatamente após o seu nascimento. Eles costumam apresentar expressões fenotípicas específicas, tais como fissuras palpebrais oblíquas, orelhas pequenas, prega palmar única, pregas epicânticas, etc. Além das expressões fenotípicas, é comum que crianças e adolescentes com SD apresentem uma série de comprometimentos clínicos, que incluem, dentre outros, alterações cardiovasculares, oftalmológicas, auditivas, gastrointestinais, imunológicas, respiratórias, problemas na tireóide, hipotonia muscular e distúrbios no sono. Nem todos os indivíduos, no entanto, apresentam estas alterações, existindo uma enorme variação no que diz respeito aos comprometimentos clínicos (Moreira et al., 2000; Schawartzman, 2003). Além das complicações citadas, indivíduos com SD também apresentam algumas alterações estruturais e funcionais no desenvolvimento do seu sistema nervoso (SN). Luria e Tskvetkova (1964, citado por Silva & Kleinhans, 2006) já observaram em sua época que existe uma lesão difusa, assim como uma comunicação neuronal peculiar no desenvolvimento cognitivo desta população, o que afeta a instalação e as consolidações das conexões de redes nervosas necessárias para estabelecer os 27 mecanismos da atenção, memória, capacidade de correlação e análise e do pensamento abstrato (Macêdo, Lima, Cardoso & Beresford, 2009). Segundo Lefévre (1988), a SD pode ser enquadrada no grupo das chamadas encefalopatias não progressivas, ou seja, quadros nos quais à medida que o tempo passa não se observa acentuação da lentidão do desenvolvimento, e nem agravamento do quadro. Uma das características mais importantes dessa síndrome é a desaceleração no desenvolvimento do Sistema Nervoso Central (SNC). O tamanho do cérebro é reduzido, principalmente o lobo frontal (diretamente envolvido em processos como o pensamento abstrato, linguagem, comportamento), tronco cerebral (diretamente envolvido em processos como atenção, vigilância) e cerebelo (diretamente envolvido em processos como o controle motor). No tópico seguinte, serão discutidos alguns dos aspectos neurodesenvolvimentais característicos desta síndrome e que contribuem para a emergência do fenótipo neuropsicológico desta população. 1.2. Aspectos Neurodesenvolvimentais da SD Como se sabe, o desenvolvimento do Sistema Nervoso (SN) e das funções neuropsicológicas da criança e do adolescente não é um processo contínuo e homogêneo, pois depende da interação de variados fatores. O SN constitui-se a partir de processos complexos, que envolvem programações genéticas, o curso de desenvolvimento intrauterino, o crescimento neuronal diferenciado das diversas áreas cerebrais, comunicações celulares, graus de mielinização das estruturas, assim como interações dialéticas entre o indivíduo e o contexto sócio-histórico-cultural no qual se encontra inserido. Todos estes aspectos podem auxiliar o cérebro em desenvolvimento a se reorganizar funcionalmente, mesmo após a ocorrência de lesões (Muszkat & Mello, 2008). 28 Na SD, a presença do cromossomo extra 21 (ou de regiões críticas dele) associada a esta síndrome, e a consequente alteração na dosagem gênica, acabam ocasionando diversas alterações no desenvolvimento do SN desta população. A alteração genética reflete-se, portanto, em modificações nos processos maturacionais específicos do SN. No entanto, como citado anteriormente, é importante observar que a constituição cerebral não se reduz apenas à consideração de um determinado aspecto (determinismo genético), visto que outros fatores (como as experiências com o ambiente) poderão influenciar o desenvolvimento cerebral e cognitivo destes indivíduos. A avaliação das funções neuropsicológicas de crianças e adolescentes com SD requer, contudo, uma compreensão inicial de como se dá o processo ontogenético destas e do SN ao longo dos diversos estágios. Isto porque, a SD implica em repercussões para a organização e estruturação do SN. Nesse sentido, a expressão clínica das disfunções deverá ser analisada considerando-se os períodos distintos de crescimento neuronal, mielinização e maturação sequencial das diversas regiões cerebrais. Além disto, as disfunções neuropsicológicas em crianças e adolescentes sofrem influência de fatores diversos, fatores estes que também devem ser levados em consideração no diagnóstico e tratamento (Muszkat & Mello, 2008). As diferentes fases de desenvolvimento cerebral são caracterizadas, portanto, por fases rápidas de desenvolvimento, e fases mais lentas, onde há consolidação das funções que foram desenvolvidas nestas fases mais rápidas. Em crianças de três a dez meses de idade, as áreas subcorticais são as que possuem um maior desenvolvimento, assim como as relacionadas com o cerebelo. A partir do décimo mês de vida, estas últimas terão maior consolidação, mas os circuitos subcorticais ainda serão predominantes. Em torno dos dois a quatro anos de idade, observa-se um predomínio do 29 crescimento rápido de áreas cerebrais relacionadas a circuitos associativos das regiões de confluência cerebral e do lobo parietal. Já no que diz respeito às regiões mais anteriores, como as áreas pré-frontais do cérebro, um maior desenvolvimento se dá somente a partir dos 10 anos de idade; e a partir dos 14 anos, ocorre maior associação entre estas e as áreas límbicas (Muszkat & Mello, 2008). O desenvolvimento neurológico não se limita, no entanto, ao estudo pós-natal. O desenvolvimento fetal também é essencial, visto que muitos distúrbios neste período podem desorganizar a sequência de crescimento e maturação desde a 4ª semana de vida fetal até o nascimento. Mudanças importantes ocorrem a partir do terceiro mês de vida intra-uterina, como por exemplo, a formação dos ventrículos. A constituição do hipocampo já está desenvolvida por volta do 4° ou 5° mês pré-natal, como também os gânglios da base. Por outro lado, no córtex cerebral, somente as áreas correspondentes ao giro pré-central começam a tomar forma (Muszkat & Mello, 2008). Poucos foram os estudos que se dedicaram a investigar o desenvolvimento prénatal do SN na SD. Os que realizaram este intuito observaram diferenças discretas no peso encefálico destas crianças. Estes achados também já foram observados em recémnascidos, destacando-se que a forma do encéfalo constituía-se similar a das crianças sem a síndrome, porém, o peso situava-se em faixas inferiores aos da normalidade. Além disto, observou-se também que entre três e seis meses de idade ocorria uma desaceleração do crescimento do encéfalo nas crianças com SD, fazendo com que o peso encefálico destas, em 69% dos casos, fosse situado abaixo dos valores normais (Schawartzman, 2003; Wisniewski, 1990). Após o nascimento, as alterações no SN em crianças com SD tornam-se ainda mais evidentes. Em crianças com desenvolvimento típico (DT), o peso do encéfalo ao nascimento equivale a cerca de 300 gramas, triplicando ao final do primeiro ano de 30 vida, quadruplicando por volta dos quatro anos e, algumas vezes, chegando a quintuplicar aos 12 anos. Em indivíduos com SD, observou-se uma redução de cerca de 10%-50% do peso encefálico (Schawartzman, 2003; Wisniewski & Rabe, 1986). Os estudos autópsicos e de neuroimagem, como os de ressonância magnética, demonstram, portanto, que diversas áreas cerebrais encontram-se reduzidas na SD, especialmente o lobo frontal, lobo temporal, tronco cerebral, cerebelo e hipocampo (Contestabile et al., 2010; Ma´ayan, Gardiner & Iyengar, 2006; Menghini, Costanzo & Vicari, 2011; Pennington, Moon, Edgin, Stedron & Nadel, 2003; Pinter, Eliez, Schimitt, Capone & Reiss, 2001; Vicari, 2006). Por outro lado, áreas subcorticais, tais como o núcleo lenticular, e áreas como a substância cinzenta do cortéx parietal posterior e do cortéx occipital, possuem volumes cerebrais relativamente normais nesta população (Lott & Dierssen, 2010; Vicari, 2006). Além da diminuição do volume de áreas cerebrais, relata-se que a citoarquitetura cortical também se encontra frequentemente irregular em indivíduos com SD. Diversas camadas não são facilmente definidas, e existem áreas de baixa densidade neuronal que contrastam com áreas com grande quantidade de neurônios, porém com elementos celulares de aspecto imaturo. Tais anormalidades estruturais costumam ser particularmente evidentes na 3ª camada cortical, e em alguns casos mais observadas no lobo frontal, enquanto que em outros casos, observa-se que os giros pós e pré-centrais são mais comprometidos (Schawartzman, 2003). Algumas pesquisas relatam também que a cópia extra do cromossomo 21 pode afetar o ciclo celular de precursores neuronais durante o desenvolvimento cerebral em fetos com SD. Como se sabe, o desenvolvimento do SN tem início na vida intrauterina, a partir de poucas células do embrião, denominadas células-tronco neurais. Estas células possuem uma grande capacidade de autorenovação, além de serem capazes 31 de se dividir milhares de vezes, e serem multipotentes, pois geram as células-mãe (precursoras neuronais) que por sua vez originam todos os tipos de neurônios e de células gliais do SN. Assim, ainda no útero, a partir de sucessivas, rápidas e precisas divisões mitóticas, o SN desenvolve-se chegando a atingir centenas de bilhões de células (Kolb &Whishaw, 2002; Lent, 2008). Na SD, parece ocorrer, portanto, uma alteração no “timing” do ciclo da mitose e da taxa de proliferação celular destes precursores neuronais, o que é evidenciado pela diminuição do processo de neurogênese que ocorre no cérebro de fetos com esta síndrome (Bhattacharyya, McMillan, Chen, Wallace & Svendsen, 2009; Contestabile et al., 2010; Guidi et al., 2008). Cabe ressaltar que o controle preciso do processo de neurogênese é de fundamental importância para a maturação, assim como o funcionamento do SN. Durante o desenvolvimento, alterações nesse processo podem ocasionar frequentemente abortos espontâneos. De acordo com Suzuki, Pereira, Janjoppi e Okamoto (2008), esta inibição do processo de neurogênese, (acompanhada de apoptose excessiva de progenitores neurais), que pode ocorrer em cérebros de crianças com SD está relacionada com a hipoplasia hipocampal comumente observada. Além da diminuição do número de neurônios, a maneira como estes se organizam em diversas áreas do SN também é afetada na SD, existindo alterações não só na estrutura formada pelas redes neuronais, como também nos processos funcionais de comunicação de um com o outro. Estas alterações podem exercer diversos efeitos sobre o desenvolvimento inicial nos circuitos cerebrais, prejudicando, por exemplo, a instalação e consolidação das conexões de redes nervosas necessárias para o estabelecimento de mecanismos como a atenção, memória, capacidade de correlação e pensamento abstrato (Macêdo et al., 2009; Silva & Kleinhans, 2006). 32 Outro aspecto importante no desenvolvimento cerebral e que também tem sido observado com alterações em indivíduos com SD diz respeito à formação de sinapses. A sinapse é um mecanismo extremamente fino; qualquer desarranjo na quantidade de neurotransmissores, e na forma e quantidade de receptores podem levar a quadros cerebrais patológicos. No cérebro de crianças e adolescentes é grande a quantidade de sinapses, visto a importância dos neurônios estabelecerem conexões entre si, pois somente a partir da formação das redes neurais é possível o aprendizado (Pinheiro, 2007). Alterações características podem ser observadas na morfologia das sinapses de indivíduos com SD. O comprimento sináptico médio, por exemplo, apresenta modificações durante o desenvolvimento pós-natal do encéfalo, observando-se que a superfície média por contato sináptico parece ser 20% a 35% menor em indivíduos com SD do que em controles (Schawartzman, 2003). Como discutido no parágrafo anterior, o estabelecimento de sinapses anormais pode culminar com o comprometimento das funções corticais e, consequentemente, da aprendizagem desta população. O desenvolvimento alterado de estruturas dendríticas tem sido frequentemente associado a diversas formas de deficiência intelectual, incluindo-se a SD. Como se sabe, os dendritos constituem-se como as principais estruturas receptivas dos neurônios. De fato, foi observada uma diminuição no comprimento das ramificações dendríticas em cérebros de crianças com SD, com anormalidades que são progressivamente adquiridas durante o desenvolvimento (Contestabile et al., 2010; Macêdo et al., 2009). Como as espinhas dendríticas são estruturas essenciais para a conectividade cerebral e plasticidade sináptica dos circuitos, alterações nestas estruturas podem ter impactos importantes sobre a atividade da rede neuronal (Contestabile et al., 2010). 33 Uma mielinização tardia também tem sido descrita em cérebros de crianças e adolescentes com SD. Considera-se que a mielinização faz parte dos estágios finais de maturação ontogenética do SN, se iniciando ainda no útero (sexto mês de vida intrauterina), intensificando-se após o nascimento (por volta dos dois anos), e prosseguindo às vezes até a terceira década de idade. Sabe-se que as diferentes áreas do córtex não possuem mielinização homogênea. Regiões corticais de mielinização precoce controlam movimentos relativamente simples ou análises sensoriais, enquanto as áreas com mielinização tardia controlam as funções mentais superiores. Pode-se afirmar, portanto, que a mielinização funciona como um índice aproximado da maturação cerebral (Kolb & Whishaw, 2002). O atraso no processo de mielinização na SD tem sido observado principalmente em regiões que apresentam mielinização tardia, como por exemplo, as fibras longas de associação e fibras intercorticais dos lobos frontais e temporais (Schawartzman, 2003). Este fato pode estar relacionado, portanto, ao maior atraso no desenvolvimento que estas crianças e adolescentes apresentam em funções intelectuais superiores, como a linguagem e memória. Apesar de atualmente entendermos melhor as diversas alterações nos cérebros de crianças e adolescentes com SD, a relação entre estas e os prejuízos cognitivos ainda não é bem compreendida. Tem-se especulado que as dificuldades relatadas de indivíduos com SD em tarefas linguísticas podem ser explicadas em termos do comprometimento de estruturas fronto-cerebelares envolvidas na articulação e memória de trabalho verbal (Vicari, 2006). Já a redução da capacidade da memória de longo prazo pode estar relacionada com a disfunção temporal e à disfunção do hipocampo, que parece ser uma das características mais marcantes da SD (Rachidi & Lopes, 2007; Vicari, 2006). 34 Além disto, a hipoplasia cerebelar (que é associada principalmente com a hipotonia) e a disfunção motora, também podem ter um papel importante no desenvolvimento ineficaz de habilidades de aprendizagem (Lott & Dierssen, 2010; Menghini et al., 2011). Por outro lado, a preservação que é observada na substância cinzenta do lobo parietal na SD é consistente com a força relatada em tarefas visuoespaciais (Pinter et al., 2001; Vicari, 2006). 35 CAPITULO II – FENÓTIPO NEUROPSICOLÓGICO DE ADOLESCENTES COM SÍNDROME DE DOWN 36 2.1. Fenótipos Comportamentais e Neuropsicológicos Ao se estudar a maneira como determinados distúrbios genéticos afetam o comportamento, estamos abordando uma questão que tem sido denominada fenótipo comportamental. O termo fenótipo pode ser entendido como o conjunto de características físicas, morfológicas, fisiológicas e comportamentais de um determinado organismo. Ele seria a expressão observável da herança genética – genótipo – de um indivíduo. O estudo de fenótipos comportamentais tem como objetivo identificar as ligações genuínas entre genótipo e fenótipo que terão reflexo direto no comportamento dos indivíduos (Hodapp & Dykens, 2004; Skuse, 2000). A hipótese de que existiriam padrões de comportamento geneticamente determinados foi levantada pela primeira vez em 1963, por Money, ao descrever os déficits visuoespaciais característicos da Síndrome de Turner. No mesmo caminho de investigação, em 1971, Belmont descreveu algumas características da SD que seriam específicas para indivíduos com esta síndrome. Em 1976, Nyhan, apresentou o comportamento de automutilação como sendo típico da síndrome de Lesch Nyhan, tendo sido o primeiro autor a utilizar o termo “Fenótipo Comportamental” (ArtigasPallarés, 2002; Artigas-Pallarés, Gabau-Vila & Guitart-Feliubadaló, 2006). Desde então, diferentes abordagens têm sido utilizadas para estudar os fenótipos comportamentais. As primeiras abordagens definiam os fenótipos como aspectos comportamentais gerais (cognitivos e sociais) relacionados a uma síndrome específica de etiologia genética (Courtenay, Soni, Strydom & Turk, 2009). No entanto, alguns autores preferem relacionar os fenótipos comportamentais com distúrbios biológicos em geral que, embora possam ser genéticos, não o são exclusivamente. É possível falar, portanto, de fenótipos comportamentais em doenças não genéticas, como por exemplo, a síndrome alcoólica fetal (Artigas-Pallarés et al., 2006). 37 Atualmente, uma das definições mais bem aceita dos fenótipos comportamentais é a de O'Brien & Yule (1995), que o definiram como um padrão característico de observações motoras, cognitivas, linguísticas e sociais, consistentemente associada a um distúrbio biológico. Ao se caracterizar o fenótipo comportamental de uma síndrome torna-se possível determinar a presença de comportamentos específicos que juntos, formam uma tipicidade própria daquela síndrome. No entanto, outros pesquisadores preferem adotar um ponto de vista mais cauteloso a este respeito, partindo de uma visão probabilística dos fenótipos comportamentais (Dykens, 1995). Esta outra abordagem ressalta que os fenótipos comportamentais precisam ser compreendidos em termos de uma maior probabilidade que indivíduos com uma síndrome específica possuem de apresentarem comportamentos característicos desta síndrome, dependendo da interação de fatores genéticos e ambientais (O’Brien, 2006; Dykens, 1995; Hodapp & Dykens, 2004). Desta forma, como destaca Dykens (1995), apesar de muitas pessoas com uma síndrome específica apresentarem um comportamento ou comportamentos característicos da síndrome, como no caso da SD, é raro observar indivíduos que mostrem todos estes comportamentos típicos. Ao mesmo tempo, os que os apresentarem não possuirão no mesmo grau ou no mesmo estágio de desenvolvimento. Ao constatar que nem todo o indivíduo que tem uma doença genética particular apresentará todos os comportamentos característicos deste transtorno, aplicamos para a área do comportamento alguns princípios genéticos que há muito têm sido aplicados para as características físicas. Tanto os profissionais, como aqueles que não são, por exemplo, consideram as pregas epicânticas como a característica facial por excelência de pessoas com SD. Porém, pelo menos durante a infância, apenas 57% dos bebês com 38 SD apresentam esta característica. Assim, de modo semelhante, dificilmente observaremos que todos os indivíduos com uma síndrome particular possuem igualmente todas as características comportamentais associadas àquela síndrome (Hodapp & Dykens, 2004). Desde os anos 90, o número de relatos de fenótipos comportamentais tem aumentado consideravelmente em associação com os avanços no campo da genética. Contudo, comumente nestes relatos predominam informações sobre nível intelectual e as manifestações comportamentais mais evidentes, como hiperatividade ou sinais de autismo. Descrições mais detalhadas sobre alterações de funções corticais superiores, como memória, atenção, percepção ou habilidades visoconstrutivas, com base em resultados de avaliações neuropsicológicas, ainda são escassas. Sabe-se, que para poder determinar o comportamento o gene tem que ter um impacto estrutural ou bioquímico no SN. Muitas das mudanças moduladas pelos genes repercutem nos mecanismos básicos do funcionamento cognitivo, os quais, por sua vez, modelam o comportamento. Dentre as funções cognitivas que podem ser moduladas pelos genes destacam-se o raciocínio verbal, raciocínio global, capacidades visuoespaciais, atenção, memória visual, memória auditiva e cognição social (ArtigasPallarés et al., 2006). Desta forma, é de primordial importância a integração de avaliações neuropsicológicas nas investigações sobre o fenótipo comportamental, a fim de que se compreenda as bases biológicas da cognição e do comportamento. Uma das principais razões para o interesse em estudar os fenótipos comportamentais é a esperança que eles poderiam nos guiar para a compreensão do papel dos genes em padrões comportamentais especificamente humanos. Não há dúvida de que a partir de pesquisas voltadas para compreender as relações entre genes e comportamento irão ser 39 desvendados muitos mistérios, ainda ocultos, das chaves do comportamento humano (Artigas-Pallarés et al., 2006). 2.2. Fenótipo Neuropsicológico de Adolescentes com SD Nos últimos anos, inúmeras pesquisas têm permitido a caracterização de um fenótipo neuropsicológico específico para indivíduos com SD. Estes estudos têm como objetivo realizar uma descrição do perfil de capacidades destes indivíduos, apontando as suas áreas de forças e de fraquezas (Silverman, 2007). Na medida em quem buscam descrever estas características, estes estudos se afastam daqueles que buscavam identificar apenas deficiências no desenvolvimento desta população, procurando, por sua vez, realizar uma análise minuciosa dos seus processos cognitivos, através de comparações com outras síndromes genéticas, ou entre a SD e indivíduos com desenvolvimento típico (DT) (Tsao & Kindelberger, 2009). O conceito de fenótipo neuropsicológico da SD implica na defesa da existência de um perfil de desenvolvimento cognitivo específico para esta população (Silverman, 2007). Este perfil, que é provavelmente atribuível a uma super-expressão de um conjunto de genes que residem no cromossomo 21, inclui, de maneira geral, pontos fortes em determinadas habilidades, tais como as visuoespaciais, bem como déficits em outros conjuntos, como as habilidades de linguagem expressiva, memória verbal, memória explícita, dentre outros (Kogan et al., 2009; Menghini et al., 2011; Tsao & Kindelberger, 2009; Wang, 1996). No entanto, quando se faz referência ao fenótipo neuropsicológico da SD, não significa que se pressuponha a existência um padrão estereotipado e previsível de desenvolvimento para os indivíduos que possuem esta síndrome. Isto porque, como se sabe, o desenvolvimento cognitivo não depende exclusivamente das alterações 40 cromossômicas que são observadas, mas também do restante do potencial genético, e de modo fundamental, das importantes influências do ambiente sócio-cultural (Schawartzman, 2003). Deste modo, fatores como programas de intervenção precoces, medicamentos para o tratamento, estilos familiares, acesso aos dispositivos da cultura, dentre outros, acabam propiciando uma enorme variabilidade no desenvolvimento cognitivo desta população (Lott & Dierssen, 2010; Silverman, 2007). Ao se buscar caracterizar o fenótipo neuropsicológico da SD, não se pretende, portanto, massificar quadros clínicos nem tampouco rotular prognósticos, mas oferecer informações que estimulem a reflexão sobre as dificuldades que esta população apresenta com uma maior frequência, bem como as habilidades que elas desempenham satisfatoriamente (Schawartzman, 2003). Ressalta-se que, a partir deste conhecimento, será possível o desenvolvimento de estratégias de intervenção cada vez mais eficazes. Conforme atentam Silva e Kleinhans (2006), as descobertas em relação ao fenótipo comportamental da SD, incluindo aspectos neuropsicológicos, são determinantes na organização do trabalho a ser desenvolvido pelos diversos profissionais que acompanham e promovem intervenções junto a este subgrupo clínico. Apenas com a compreensão deste fenótipo será possível o estabelecimento de intervenções que focalizem áreas de potencial e minimizem áreas em defasagem. Na grande maioria das intervenções que têm sido implementadas é feito o contrário, pois são trabalhados somente os déficits característicos do fenótipo. Sugere-se então, a importância da compreensão do fenótipo neuropsicológico como uma conjunção de forças e como padrão compensatório que deve se constituir de áreas de maior competência que promovam adaptação. A seguir, será apresentada uma revisão das pesquisas que têm sido desenvolvidas acerca dos aspectos neuropsicológicos da SD, e que vêm contribuindo 41 para caracterizar o fenótipo neuropsicológico de adolescentes com esta síndrome. Serão discutidos achados neuropsicológicos encontrados em diferentes domínios, tais como nível intelectual, linguagem, memória, atenção, funções executivas, assim como aspectos comportamentais e sócio-afetivos. 2.2.1. Nível Intelectual A deficiência intelectual tem sido descrita como uma das características mais marcantes do fenótipo neuropsicológico da SD. Geralmente, o nível intelectivo (QI) destes adolescentes situam-se na faixa classificada entre moderada e grave retardo mental (QI = 25-55) (Tsao & Kindelberger, 2009; Vicari, 2006). No entanto, é importante frisar a grande variabilidade que é encontrada nos escores de QI, podendo variar entre 50 até 60 pontos entre os diferentes indivíduos (Turner & Alborz, 2003). Um dado que merece atenção e que precisa ser discutido, a fim de se evitar interpretações errôneas, refere-se ao aparente declínio no QI que pode ser observado à medida que os indivíduos com SD vão envelhecendo. De acordo com Schawartzman (2003), este declínio pode ser resultado da forma como o QI tem sido avaliado. Isto porque, nestas avaliações as crianças e adolescentes com SD são comparadas com indivíduos de DT da mesma idade, o que não seria o mais adequado, visto que é necessário que se leve em consideração que o desenvolvimento na SD é mais lento, sendo esperado que os seus QIs resultem mais baixos se comparados àqueles de pessoas com DT. Este tipo de comparação, segundo o mesmo autor, acaba desprezando importantes ganhos que os adolescentes com SD podem estar apresentando em vários aspectos de seu funcionamento cognitivo. Ludlow & Allen (1979) ao estudarem dois grupos de crianças com SD (um que participava de programas de estimulação precoce, e outro não) encontraram diferenças 42 significativas que favoreciam o desenvolvimento das crianças estimuladas. Eles verificaram um QI médio de 82,7 no grupo estimulado e 66,4 nos controles. Além disso, de acordo com um acompanhamento escolar posterior, eles verificaram que as crianças estimuladas foram mais facilmente integradas na escola, sendo que uma proporção considerável continuou os estudos em escolas regulares (40% em detrimento dos 29% do grupo controle). Estudos como estes chamam a atenção para a importância da estimulação precoce na melhoria do desenvolvimento de crianças e adolescentes com SD, exemplificando a importância de considerar-se a integração entre aspectos genéticos e sócio-culturais no desenvolvimento humano. 2.2.2. Linguagem O campo da linguagem tem sido amplamente descrito como uma das áreas que mais apresenta prejuízos na SD. É comum que crianças, adolescentes e adultos com esta síndrome possuam dificuldades variadas nas habilidades linguísticas, em especial devido ao atraso na aquisição e desenvolvimento das habilidades básicas da linguagem oral. Problemas de acuidade visual e discriminação auditiva, hipotonia da musculatura orofacial, além de dificuldade de estruturação sintática e atraso no desenvolvimento motor e cognitivo também contribuem para as dificuldades que são observadas no desenvolvimento da linguagem desta população (Oliveira, 2010). Indivíduos com SD possuem um perfil anatômico específico que pode afetar a produção da fala (Cleland, Wood, Hardcastle, Wishart & Timmins, 2009). A capacidade de criar as articulações necessárias para a elaboração do discurso, por exemplo, é prejudicada pela menor cavidade bucal (que frequentemente dá uma impressão de uma língua grande). Além disto, a hipotonia dos músculos ao redor da boca e dificuldades do 43 controle motor na produção da fala também dificultam a capacidade de comunicação (Marder & Cholmáin, 2006; Martin et al., 2009). Embora o comportamento vocal pré-linguístico pareça ser normal nos bebês, foram encontrados graves déficits no desenvolvimento da linguagem em crianças e adolescentes com SD no que diz respeito a aspectos fonológicos e sintáticos (Martin et al., 2009). Conforme atenta Silverman (2007) padrões de comunicação qualitativamente atípicos estão associados com a SD a partir de uma tenra idade, sendo encontrados diversos níveis abaixo do que é observado em crianças de DT com a mesma idade mental (Contestabile et al., 2010). A gravidade de comprometimento da linguagem é altamente variável, estando os diversos componentes do sistema linguístico afetados em um grau diferente. Em geral, a linguagem expressiva encontra-se mais prejudicada quando comparada com a linguagem receptiva e/ou compreensão da linguagem (Ypsilanti & Grouios, 2008; Lanfranchi, Jerman & Vianello, 2009; Menghini et al., 2011; Rondal & Comblain, 1996; Silverman, 2007). Alguns estudos sugerem também uma força relativa na área do vocabulário receptivo, enquanto o desenvolvimento do processamento sintático e morfossintático, por outro lado, encontram-se particularmente afetados (Cleland et al., 2009; Silverman, 2007). Normalmente, em crianças com SD a emissão das primeiras palavras ocorre em torno dos 18 meses de idade (o que significa um atraso de quatro meses em relação a crianças de DT). Segundo Marder e Cholmáin (2006), como estas crianças ao longo do seu desenvolvimento linguístico apresentam maiores dificuldades em expressar-se (dificuldades caracterizadas por uma menor clareza de seus discursos e uso simplificado da gramática) isto acaba, muitas vezes, mascarando a força relativa que elas possuem na 44 compreensão da linguagem. Crianças e adolescentes com SD parecem compreender adequadamente o que é dito, embora o senso comum subestime esta capacidade. As perdas auditivas que ocorrem em cerca de dois terços das pessoas com SD também têm sido associadas às dificuldades cognitivas encontradas nestas crianças e adolescentes (Mantin et al., 2009; Roberts, Price & Malkin, 2007). Quando presentes, estas perdas podem dificultar a aquisição da linguagem e o desenvolvimento intelectual, sendo, portanto, imprescindível o seu devido tratamento. No entanto, não se pode afirmar que estas perdas determinam as dificuldades na linguagem, já que não existem provas definitivas que o prejuízo nesta área seja consequência da audição diminuída. Alguns estudos especificamente conduzidos, não encontraram uma associação entre a perda auditiva e distúrbios linguísticos na SD ou, quando a encontraram, esta representou apenas uma pequena porcentagem (Vicari, 2006). Pesquisas vêm indicando que crianças e adolescentes com SD apresentam preferência, e empregam mais o meio comunicativo gestual em detrimento do meio verbal, devido às suas dificuldades na linguagem oral (Almeida & Limongi, 2010; Cunha & Limongi, 2008; Ypsilanti & Grouios, 2008; Vicari, 2006). Os gestos possuem um papel importante já que funcionam não apenas como elementos de transição de ações motoras para a linguagem falada, mas também como facilitadores do processo de produção da fala. Eles fornecem à criança recursos cognitivos extras que permitem que elas representem e comuniquem ideias mais complexas quando ainda não foram capazes de fazê-las por meio oral (Almeida & Limongi, 2010). Nos indivíduos com SD, os gestos possuem uma função social importante, já que oferecem a estes maiores possibilidades de interação. A utilização dos gestos como principal meio de comunicação ocorre durante longos períodos em indivíduos com SD, visto que a expressão verbal dos seus significados é dificultada por uma série de fatores 45 (déficits na memória verbal, da motricidade fina, etc). Além disto, tem sido observado que durante o período de expansão do vocabulário, crianças e adolescentes com SD ao invés de substituírem progressivamente os gestos pelas palavras correspondentes em suas produções, utilizam os gestos simultaneamente às palavras ou ainda utilizam as palavras como suporte aos gestos, e não o contrário, como comumente ocorre em crianças de DT (Almeida & Limongi, 2010). Estes resultados têm sido interpretados como um sinal indireto da presença de déficits na habilidade verbal na SD (Vicari, 2006). Assim, as características linguísticas desta população poderiam se desenvolver de maneira qualitativamente diferente e ao longo de trajetórias distintas. Além disto, o comprometimento da linguagem presente na SD, conforme observou Cleland e colaboradores (2009), não seria atribuível simplesmente a um atraso cognitivo geral, e sim a algum outro fator, como um distúrbio de linguagem específico, e que necessita ser melhor investigado. 2.2.3. Memória A memória é uma das funções neuropsicológicas mais complexas, e tem sido descrita e classificada de maneiras diversas ao longo dos anos. Estudos com pacientes que sofreram lesões cerebrais e com indivíduos normais forneceram evidências de que o sistema de memória não é unitário, mas pode ser dividido em diferentes componentes, que são mediados e conduzidos por circuitos neurais distintos (Baddeley, 1992; MalloyDiniz et al., 2010). Uma das classificações propostas usa a categoria tempo para descrever os sistemas de memória, originando os sistemas específicos de memória de "curto prazo" e um armazenamento de memória de longo prazo. Além disto, os sistemas de memória de curto e de longo prazo também podem ser subdivididos a partir de 46 classificação pautada pela natureza do material armazenado (Jarrold, Nadel & Vicari, 2008). A memória de longo prazo pode ser classificada em memória explícita e memória implícita. A memória explícita, ou declarativa, refere-se à capacidade de armazenamento e recordação consciente de experiências prévias e envolve, ainda, dois subsistemas: memória episódica e memória semântica. A memória implícita, por outro lado, refere-se à habilidade em realizar um ato ou comportamento que originalmente necessitou de algum esforço consciente, mas que não requer um resgate consciente da experiência (Jarrold et al., 2008; Malloy-Diniz et al., 2010), como por exemplo dirigir um carro, andar de bicicleta, etc. Em relação à memória de longo prazo, estudos indicam que crianças e adolescentes com SD apresentam um desempenho significativamente pior em tarefas de memória explícita. Em uma pesquisa que comparou este domínio nesta população com indivíduos com deficiência intelectual não especificada e crianças de DT com a mesma idade mental, o grupo com SD obteve uma pontuação significativamente menor do que a dos outros dois grupos nos testes de lista de palavras e história curta, assim como na reprodução das Figuras Complexas de Rey (Carlesimo, Marotta & Vicari, 1997; Jarold et al., 2008). No entanto, em relação a tarefas que requerem processamento da memória implícita, indivíduos com SD apresentam um desempenho dentro da faixa de normalidade (Contestabile et al., 2010; Jarrold et al., 2008; Vicari, 2006), o que indica uma dissociação funcional entre estes dois mecanismos de memória. De fato, a memória implícita é sustentada substancialmente por processos automáticos que requerem baixa atenção, enquanto a memória explícita lida com a aprendizagem consciente e intencional e requer codificação de informação, estratégias de recuperação e elevado 47 grau de atenção. Desta forma, a presença de dificuldades na codificação de informações, somada ao prejuízo na habilidade de recuperação, assim como a identificação de déficits de atenção, todos eles observados na SD, podem ser responsáveis pelo comprometimento seletivo da memória explícita em pessoas com esta síndrome (Contestabile et al., 2010). Como já mencionado, muitos modelos têm sido propostos para explicar os processos de memória. Baddeley e Hitch (1974), por exemplo, descreveram um modelo para a memória de curto prazo que parece ser particularmente propício para a discussão dos prejuízos que são associados com a SD, a saber, a memória operacional. Este foi apresentado como sendo o sistema responsável pelo armazenamento temporário e manipulação de informações necessárias para o desempenho em uma ampla gama de habilidades cognitivas (Lanfranchi, Carretti, Spanò & Cornoldi, 2009; Lanfranchi, Jerman & Vianello 2009; Silverman, 2007). Muitos estudos têm demonstrado um papel determinante da memória operacional para a realização de uma variedade de atividades cognitivas necessárias em situações do cotidiano, tais como a aprendizagem, leitura, escrita, processamento linguístico, orientação, compreensão, raciocínio e processamento aritmético (Lanfranchi, Carretti et al., 2009). A memória operacional pode ser dividida em diferentes subsistemas, responsáveis por tarefas distintas, porém relacionadas. O primeiro sistema corresponde ao sistema supervisor, o executivo central, que é responsável pela coordenação do fluxo de informações, pelas estratégias de recuperação de traços da memória de longo prazo e pelo raciocínio lógico e aritmético. Dois outros sistemas subsidiários ou “escravos”, seriam a alça fonológica e o esboço visuoespacial (Baddeley e Hitch, 1974; Baddeley, 1992). A alça fonológica é responsável pelo armazenamento temporário de informações verbais, de duração limitada, e que são mantidos através do processo de articulação. O 48 esboço visuoespacial, por outro lado, é responsável pelo armazenamento de informações visuoespaciais ao longo de períodos breves e desempenha um papel fundamental na geração e manipulação de imagens mentais (Lanfranchi et al., 2009; Lanfranchi, Carretti et al., 2009). Os estudos que analisaram a memória operacional na SD têm apontado para a presença de déficits no seu componente verbal, enquanto que o esboço visuoespacial encontra-se relativamente preservado (Carretti & Lanfranchi, 2010; Duarte, Covre, Braga & Macedo, 2011; Jarrold et al., 2008; Lanfranchi et al., 2009; Laws, 2002; Silverman, 2007). Em relação a estes déficits, alguns pesquisadores vêm propondo que o baixo desempenho de crianças e adolescentes com SD reflete as dificuldades generalizadas que estas possuem em tarefas que requerem um processamento verbal, sendo resultado de suas capacidades linguísticas diminuídas. Porém, segundo Lanfranchi, Jerman e Vianello (2009), a direção da relação poderia ser o oposto, ou seja, os déficits na memória verbal afetariam a aquisição das habilidades linguísticas na SD. Lanfranchi et al. (2009) investigaram a relação entre o baixo desempenho de crianças e adolescentes com SD em tarefas de memória verbal e a presença de déficits nas habilidades linguísticas, notadamente buscando responder se estas eram devido à um déficit específico no sistema de memória verbal destes indivíduos. Os resultados deste estudo, semelhantes aos de Laws (2002), demonstraram que o déficit na memória operacional verbal encontrados na SD não podem ser atribuídos simplesmente ao comprometimento da linguagem, já que quando comparados com crianças de DT e com o mesmo nível de vocabulário ou capacidade verbal, crianças e adolescentes com SD, ainda assim, apresentam um menor desempenho em todas as tarefas de memória verbal. As diferenças encontradas têm sido atribuídas a algum tipo de déficit específico na alça fonológica desta população, podendo refletir, por exemplo, numa redução na 49 capacidade de armazenamento. Assim, tanto a memória operacional verbal, quanto as habilidades de linguagem poderiam ser prejudicadas de formas independentes na SD (Lanfranchi et al., 2009; Jarrold et al., 2008). No entanto, ainda que possam ser afetadas de formas independentes, diversos estudos apontam que a memória operacional verbal é essencial para o desenvolvimento da linguagem. O prejuízo em testes que avaliam a memória, encontrado em adolescentes com SD, também é diferentemente afetado pelo grau de controle exigido pela tarefa. Cornoldi & Vecchi (2003) propuseram um modelo no qual tanto as tarefas relacionadas à memória verbal, quanto as de memória visuoespacial, podem ser descritas de acordo com duas dimensões contínuas: o continuum horizontal, que se refere ao tipo ou formato de características do estímulo utilizado (por exemplo, verbal, visual, espacial), e o continuum vertical, que se refere ao nível de controle requerido, com algumas tarefas exigindo um controle maior (tarefas ativas), outras um nível menor de controle (tarefas passivas) (Lanfranchi, Carretti et al., 2009). Lanfranchi, Cornoldi e Vianello (2004) avaliaram um grupo de 18 crianças e adolescentes com SD, comparadas com crianças de DT de mesma idade mental, em quatro provas de memória verbal que envolviam diferentes níveis de controle (ou dificuldade). Os resultados demonstraram que o grupo de crianças com SD apresentou um pior desempenho em todas as tarefas, porém, à medida que aumentava o nível de dificuldade, mais evidente ficava a diferença entre os grupos. Os mesmos autores também avaliaram outra amostra de 22 crianças e adolescentes com e sem SD pareados pela idade mental, na habilidade visuoespacial a partir de cinco tarefas, também alterando progressivamente o nível de controle exigido. Os resultados mostraram que o grupo com SD só obteve desempenho inferior ao grupo sem SD nas tarefas que envolveram complexidade média e alta. Portanto, o desempenho de indivíduos com SD 50 mostra-se diminuído tanto em tarefas verbais, quanto em tarefas visuoespaciais que exigem um alto grau de controle (Contestabile et al., 2010; Lanfranchi et al., 2009; Lanfranchi et al., 2004; Lanfranchi, Carretti et al., 2009). Diversas pesquisas têm sugerido que a memória visuoespacial encontra-se relativamente preservada na SD, relatando-se prejuízos em apenas alguns de seus aspectos. Atualmente, considera-se que a memória operacional visuoespacial pode ser dividida em um componente espacial (envolvido na memória de posições) e um componente visual (envolvido na memória de objetos e suas propriedades). Segundo Jarrold et al. (2008), apesar de indivíduos com SD apresentarem um melhor desempenho em tarefas visuoespaciais do que em tarefas de memória verbal, quando estas tarefas visuoespaciais são dissociadas, estes se saem melhor se a tarefa envolver apenas o aprendizado de uma sequência espacial, do que na memorização de objetos visuais. Além da divisão apresentada acima, alguns autores sugeriram dividir o componente espacial ainda mais, em um componente espacial sequencial, e um componente espacial simultâneo. O componente espacial sequencial estaria envolvido na memória para informações apresentadas em sequência, enquanto o componente espacial simultâneo envolve a descrição de localizações espaciais simultaneamente apresentadas. Ainda que no processamento simultâneo seja exigida também uma exploração sequencial dos locais através de movimentos rápidos dos olhos, estudos experimentais e de neuroimagem sugerem uma dissociação entre os dois processos (Lanfranchi, Carretti et al., 2009) Baseando-se nesta distinção que é feita entre os componentes da memória espacial, Lanfranchi, Carretti et al. (2009) realizaram um estudo no qual examinaram atentamente a hipótese que a preservação da memória de trabalho visuoespacial em 51 indivíduos com SD depende do componente específico examinado. Os resultados deste estudo demonstraram que os participantes com SD realizam pior do que as crianças de DT tarefas que requerem um processamento simultâneo de informação espacial, sugerindo-se assim um déficit específico na memória espacial simultânea. 2.2.4. Atenção A atenção é considerada a base para a organização dos processos mentais, pois confere a estes diretividade, seletividade e estabilidade. Ela representa a condição inicial e decisiva para as funções cognitivas em sua totalidade, particularmente para o processo de aprendizagem e de memorização. Indivíduos com déficit de atenção, em geral, não apresentam bom desempenho nestes processos (Macêdo et al., 2009). Uma das modalidades da atenção, a atenção sustentada, está relacionada à capacidade de detectar eventos imprevisíveis e raros durante períodos prolongados de tempo, e inclui a vigilância e o estado de alerta. Relatos neuroanatômicos sugerem que áreas pré-frontais, particularmente o córtex pré-frontal direito, são mais ativadas durante tarefas de vigilância. Além destas áreas, lesões no córtex frontal e no corpo caloso também têm sido relacionadas a deficiências no desempenho em testes de atenção sustentada. Evidências de uma associação entre lesões nestas áreas e déficits na atenção são de interesse para os pesquisadores que trabalham com a SD, visto que regiões frontais, temporais, e o corpo caloso, já foram identificados como apresentando fragilidades em seu desenvolvimento na SD (Trezise, Gray & Sheppard, 2008) Quando investigada em estudos com adolescentes com SD (Brown et al., 2003), a atenção sustentada têm sido relatada como sendo menos eficaz se comparada com pessoas de DT. O estudo de Trezise et al. (2008), por exemplo, procurou investigar a hipótese de que crianças e adolescentes com SD demonstram um desempenho superior 52 em tarefas de atenção sustentada que utilizam como recurso material visual (no caso do estudo, os estímulos - figuras de animais - eram apresentados na tela de um computador), do que em tarefas que utilizam material auditivo (nomes dos animais era emitidos pelo auto-falante conectado ao computador). Os resultados encontrados mostraram um melhor desempenho nas tarefas de atenção sustentada cuja modalidade de apresentação foi visual, o que sugere que esta população pode se beneficiar da apresentação de um material educativo que se utilize o meio visual, já que este facilita a manutenção da atenção e aprendizagem. De acordo com Macêdo et al. (2009), o déficit de atenção que é observado em adolescentes com SD interfere negativamente no seu desenvolvimento, já que dificulta a iniciação, organização, e, principalmente, a manutenção do envolvimento na realização de determinadas tarefas, necessárias para a aprendizagem. 2.2.5. Funções executivas As funções executivas (FE) referem-se a um conjunto de habilidades cognitivas inter-relacionadas que permitem aos indivíduos engajar-se voluntariamente em comportamentos orientados a objetivos. Tais funções são fundamentais ao direcionamento e regulação de várias habilidades intelectuais, emocionais e sociais, e são associadas com o funcionamento da parte frontal do cérebro, embora se reconheça que diferentes áreas também podem estar envolvidas (Dias, Menezes & Seabra, 2010; Lanfranchi, Jerman, Dal Pont, Alberti & Vianello, 2010). Habilidades de FE são úteis para a resolução de problemas, formação de conceitos, alternância de tarefas, tomada de decisão, iniciação, planejamento, controle de impulsos, efetivação das ações, flexibilidade cognitiva e comportamental, e monitoramento das atitudes. De forma agrupada, esses processos cognitivos permitem 53 ao indivíduo iniciar, planejar, sequenciar e monitorar seus comportamentos e ações (Dias et al., 2010; Lanfranchi et al., 2010). Recentemente, estudos têm sido realizados com o intuito de investigar as FE na SD. A grande maioria destes estudos incluiu amostras de adultos (Adams & Oliver, 2010; Rowe, Lavender & Turk, 2006), propondo a presença de déficits nesta área. No entanto, de acordo com Lanfranchi e colaboradores (2010), ainda é escasso o exame de adolescentes e crianças com SD e suas FE, e os poucos estudos que foram realizados fornecem resultados contraditórios. Assim, pesquisas ainda são necessárias para explorar FE em crianças e adolescentes com SD, a fim de determinar as causas das deficiências nas FE nesta população: se os déficits nas FE encontrados na amostra de adultos estão relacionados com o declínio cognitivo associado com a idade e/ou doença de Alzheimer, ou se é uma característica do fenótipo neuropsicológico desta síndrome. Lanfranchi et al. (2010) investigaram as FE em adolescentes com SD, aplicando nesta amostra e em crianças de DT pareadas por idade mental uma vasta bateria de testes neuropsicológicos - Stroop, Torre de Londres, Fluência Verbal, dentre outros. Os resultados deste estudo demonstraram a presença de um déficit no funcionamento executivo dos adolescentes sindrômicos, com prejuízos sobretudo nas tarefas de flexibilidade, planejamento, resolução de problemas, memória de trabalho e inibição. No entanto, os resultados deste estudo sugerem também que nem todos os processos de FE são prejudicados na SD, necessitando-se assim a realização de mais estudos que possam compreender melhor quais tarefas são mais prejudicadas e quais se encontram relativamente preservadas. 2.2.6. Aspectos Comportamentais e Sócio-afetivos 54 Apesar das dificuldades relatadas na comunicação oral de crianças e adolescentes com SD, muitas delas apresentam um funcionamento social considerado adequado. Foi observado que estas relacionam-se bem com seus pares, mostrando-se mais empáticas do que crianças e adolescentes com outros tipos de deficiências. Inclusive, autores como Fidler (2005) destacam que estes indivíduos podem até usar sua força relativa nas habilidades sociais para compensar deficiências em outros domínios. Em um estudo no qual se utilizou tarefas consideradas complexas em crianças com a síndrome, observou-se que estas não apenas estabeleciam mais contatos visuais com experimentadores durante o momento do teste, como também “comportamentos encantadores” que envolviam o experimentador socialmente (Fidler, 2005; Fidler, Most & Philofsky, 2008). Pessoas com SD também podem enviar mais sinais emocionais positivos do que outras com deficiência intelectual. Em um estudo com crianças com SD de 5 a 12 anos de idade, observou-se que estas sorriam com mais frequência do que crianças com outros tipos de deficiência intelectual, embora este achado tenha mudado com indivíduos com SD que se aproximavam da idade adulta (Fidler, 2005). Frequentemente, estas crianças e adolescentes são descritas como tendo personalidades encantadoras, de acordo com um estereótipo de personalidade positiva associada a esta síndrome. Em um estudo de Caar (1995), mais de 50% das pessoas com SD estudadas foram descritas como “afetuosas”, “boas”, “amáveis”, e muitas também foram descritas como “alegres” “generosas” e “divertidas”. Na revisão feita por Silva e Dessen (2002), constatou-se que embora a maioria dos indivíduos com SD tenha se adequado ao estereótipo de pessoas afetuosas e de temperamento fácil, existem também subgrupos de indivíduos com a síndrome que apresentam comportamentos agressivos, agitados e difíceis de manejar. Desta forma, o 55 temperamento desses indivíduos parece não ser tão uniforme como se supunha (Angélico & Prette, 2011). Além disto, crianças e adolescentes com SD também são descritas como apresentando inconsistências em suas orientações motivacionais. Eles podem demonstrar níveis mais baixos de persistência e níveis mais elevados de distração durante execução de tarefas, o que comumente interfere na conclusão destas. Tais indivíduos são às vezes descritos como teimosos, sem força de vontade, características que podem contribuir para a recusa ao finalizar estas tarefas (Fidler, 2005). Portanto, ao avaliar-se ou aplicar estratégias de intervenção nesta população, deve-se prestar especial atenção para a sua motivação, e observar situações às quais se evita tarefas desafiadoras através de envolvimento social. Nas situações de intervenções, evitar essas tarefas poderá inibir significativamente a emergência de habilidades adaptativas a serem desenvolvidas. Outros problemas comportamentais e de atenção também têm sido relatados pelos pais de crianças e adolescentes com SD. Fidler (2005), ao relatar estudos que investigaram manifestações comportamentais em crianças com SD, destaca que quando comparadas com irmãos sem a síndrome, crianças com SD apresentavam uma hiperatividade maior; no entanto, em relação a comportamentos depressivos e ansiosos, as pontuações não diferiram significativamente entre os dois grupos, exceto em amostras que utilizavam adolescentes e adultos com a síndrome, nos quais era maior a ocorrência de transtornos psiquiátricos, como a depressão. No geral, ressalta-se que apesar dos estudos relatarem mais problemas de comportamento no grupo de crianças e adolescentes com SD, em comparação aos seus irmãos, aquele grupo não chegou a atingir níveis considerados indicativos de comportamentos desviantes. 56 Nos tópicos anteriores procurou-se descrever e discutir alguns dos estudos que têm contribuído para a caracterização do fenótipo neuropsicológico de adolescentes com SD. Entretanto, conforme discutido anteriormente, a grande maioria destes estudos concentra-se apenas em uma determinada dimensão (cognitiva, comportamental ou afetiva) deste fenótipo. Ainda são bastante escassas pesquisas que buscam investigar estas dimensões atuando em conjunto, considerando-se a influência e interdependência de um aspecto em relação ao outro. Com a presente pesquisa pretende-se contribuir com a caracterização de um fenótipo neuropsicológico de adolescentes com SD, abordando os variados aspectos que compõem este fenótipo. Pretende-se assim identificar os pontos fortes e fracos constituintes do funcionamento neuropsicológico destes adolescentes, ampliar a compreensão acerca de características comportamentais e especificidades sócio-afetivas, para que seja possível o desenvolvimento e melhoria das intervenções educativas e neuropsicológicas que permitam uma melhor adaptabilidade e qualidade de vida desta população. Tais objetivos exigem a proposição de metodologia de pesquisa pautada na investigação do processo em detrimento do produto. Buscar-se-á compreender a dinâmica dos adolescentes com SD, não apenas identificando o que fazem ou não fazem, mas como fazem, que estratégias mobilizam e como estas interagem com seus comportamentos e suas dinâmicas sócio-afetivas. 57 2.3. Objetivos 2.3.1. Objetivo geral O objetivo geral deste trabalho foi contribuir para a caracterização de um fenótipo neuropsicológico de adolescentes com SD. 2.3.2. Objetivos específicos Identificar as áreas de forças e de fraquezas cognitivas características do fenótipo neuropsicológico de adolescentes com SD. Oferecer subsídios para a melhor compreensão do papel dos diferentes aspectos, comportamentais e sócio-afetivos do fenótipo neuropsicológico destes adolescentes; 58 CAPÍTULO III – METODOLOGIA 59 3.1. Considerações Iniciais A fim de se atingir o objetivo proposto, foi realizado um estudo multicasos de seis adolescentes com SD. A escolha por este delineamento de pesquisa deve-se, entre outros aspectos, ao fato deste ser um método apropiado para o estudo aprofundado de fenômenos complexos, permitindo uma investigação que preserva as características holísticas e significativas dos indivíduos, eventos e fenômenos no seu contexto real. Além disto, considera-se pertinente utilizar o método do estudo de caso quando lida-se com aspectos contextuais, e quando acredita-se que estes podem ser altamente significativos ao seu fenômeno de estudo (Yin, 2001). Conforme ressalta Martins (2008), este delineamento de pesquisa busca ampliar a compreensão de um fenômeno e criativamente descrever e interpretar a complexidade de um caso, através de uma análise extensiva e aprofundada. Desta forma, o estudo de caso possibilita a aproximação com uma dada realidade, não conseguida de forma satisfatória por meio de outros métodos, tais como um levantamento amostral e avaliações exclusivamente quantitativas. Devido ao interesse em investigar diversas variáveis que podem atuar sobre o fenômeno, a metodologia de estudo de caso baseia-se em múltiplas fontes de evidências, que são norteadas pelas questões e proposições teóricas. Assim, devem ser utilizadas diferentes técnicas de levantamento de informações. A triangulação destas informações permite a garantia da confiabilidade e a validade dos achados do estudo (Martins, 2008; Yin, 2001). Em um estudo de caso, análises e reflexões devem estar presentes durante os vários estágios da pesquisa, principalmente nas etapas iniciais da coleta de dados, situações em que os resultados parciais podem sugerir alterações e correções no desenho inicial. Conforme ressalta Yin (2001), esta metodologia de pesquisa é válida quando as 60 questões a serem respondidas são do tipo “como?” ou “porque?”, ou ainda, quando o pesquisador tem pouco controle sobre os eventos e em investigações nas quais o foco se encontra em fenômenos complexos e contemporâneos, no contexto da vida real (Martins, 2008; Yin, 2001). Uma crítica comum que é feita às pesquisas que adotam a metodologia dos estudos de casos é a de que os casos únicos oferecem uma base muito pobre para generalização. Como atenta Yin (2001), estas críticas estão implicitamente comparando este tipo de estudo às pesquisas que são realizadas através de levantamento de dados e que adotam a lógica da generalização estatística. Neste tipo de pesquisa se generaliza facilmente a amostragem (se esta for corretamente selecionada) a um universo mais amplo. No entanto, tentar transpor a lógica da generalização estatística como método de se generalizar os resultados de um estudo de caso constitui-se como um erro grave, visto que essa analogia com amostragens e universos mostra-se incorreta quando se trata deste tipo de pesquisa. Os estudos de caso baseiam-se em generalizações analíticas. Neste tipo de generalização, o pesquisador está tentando generalizar um conjunto particular de resultados a alguma teoria mais abrangente. Desta forma, os dados empíricos dos estudos de caso são parte da construção de um posicionamento ou modelo teórico (Yin, 2001). Outro autor que defende que este tipo de generalização seja aplicada para estudos de caso é Lewin. Segundo este autor, considerando-se que o caso particular é governado por uma lei, lei esta que diz respeito à natureza do fenômeno, este caso seria eficaz para “testar” a validade dessa lei. Os estudos de caso permitiriam, portanto, testar a adequação dos constructos teóricos para o entendimento do objeto em estudo (Silva, 2012). 61 Diante da complexidade que se constitui investigar o fenótipo neuropsicológico de adolescentes com SD, visto os variados aspectos que compõem e influenciam a determinação deste fenótipo, considerou-se que o estudo de caso seria o método mais apropriado para alcançarmos o nosso objetivo de pesquisa. Além disto, e de modo fundamental, acreditamos que através desta metodologia nos aproximamos do desejo de realizar uma avaliação neuropsicológica nos moldes da perspectiva Luriana, perspectiva esta que é a que adotamos no presente estudo e que será discutida adiante. 3.2. Fundamentos da Avaliação Neurosicológica Luriana Serão apresentados a seguir os pressupostos teóricos e metodológicos do modelo de avaliação neuropsicológica adotado pelo presente estudo. Este modelo baseia-se nos preceitos desenvolvidos pela psicologia histórico-cultural, que tem como expoentes nomes como Vygotsky e Luria. A psicologia histórico-cultural tem como objetivo principal investigar como processos naturais (tais como a maturação física e mecanismos sensoriais) interconectam-se com processos histórico-culturais, resultando no funcionamento psicológico superior (Hazin, Leitão, Garcia, Lemos & Gomes, 2010). Para isto, esta abordagem procura evitar os reducionismos de ambas as concepções, empiristas e idealistas, presentes na psicologia de sua época. Buscando resolver o impasse que se instaurou com a chamada “crise da psicologia”, caracterizada pelo debate entre abordagens que focalizam ora a mente e os aspectos internos do indivíduo, ora o comportamento externo, Vygotsky e os seus companheiros procuraram construir uma nova psicologia que refletisse o indivíduo em sua totalidade, ou seja, considerando tanto os aspectos externos como os internos, assim como a relação do sujeito com a sociedade à qual pertence. A preocupação da psicologia histórico-cultural volta-se, portanto, à procura de métodos para estudar o 62 homem como uma unidade, corpo e mente, ser biológico e ser social, membro da espécie humana e participante do processo sócio-histórico (Freitas, 2002). Esta preocupação também está presente na obra de outro nome de destaque da psicologia histórico-cultural, a saber, Alexander Romanovich Luria (1902-1977). A produção de Luria dentro desta abordagem voltou-se principalmente aos estudos no campo da neuropsicologia, sendo considerado por muitos o mais importante neuropsicólogo de seu tempo (Kohl & Rego, 2010). Durante o desenvolvimento de sua obra é possível observar também toda uma preocupação em encontrar um método de pesquisa compatível com o referencial de homem concreto e social, aludido por esta perspectiva em psicologia. Kohl e Rego (2010) destacam que o que diferencia a abordagem de Luria de outras no campo da neuropsicologia era o seu entendimento de que até mesmo as funções mais elementares do cérebro não são de natureza inteiramente biológica, visto que são condicionadas também pelas experiências, interações e pela a cultura do individuo. Isso implica em reconhecer que, para Luria, as funções psicológicas caracteristicamente humanas não podem ser estudadas ou compreendidas isoladamente, e sim levando-se em consideração toda a riqueza da realidade humana e a sua complexidade. Este novo entendimento acabou levando Luria a revisar os princípios da avaliação neuropsicológica clássica. Ao fazer isto, procurou construir uma metodologia que fosse capaz de romper com a artificialidade que marcava as investigações psicológicas de sua época e que de certa forma ainda estão presentes no cenário atual (Kohl & Rego, 2010). Diante do desafio de construir esta nova metodologia, Luria irá se opor ao reducionismo que marcou as pesquisas em psicologia e diversos outros campos do saber 63 no século XX. De acordo com ele, os chamados “cientistas clássicos”, por exemplo, buscavam isolar os elementos e unidades importantes em suas partes constituintes, a fim de formular leis gerais e abstratas consideradas os agentes governantes do fenômeno. No entanto, esta abordagem acabava reduzindo a riqueza e complexidade da realidade viva a meros esquemas abstratos (Luria, 1992). Por outro lado, Luria também chamava atenção para os perigos de observações e descrições simplistas, que muitas vezes estavam presentes nos trabalhos dos chamados “cientistas românticos”. Estes estudiosos, ao contrário dos cientistas clássicos, procuravam não fragmentar os fenômenos observados com intuito de preservar a totalidade destes. Contudo, muitas vezes, eles acabavam fazendo uso de pseudoexplicações baseadas meramente no seu próprio entendimento do fenômeno. Este tipo de erro coloca em perigo o papel essencial da análise científica, visto que falta a lógica de um raciocínio cuidadoso (Hazin, 2006; Luria, 1992). Voltando-se à solução encontrada por Vygotsky na resolução da chamada “crise da psicologia”, qual seja, conservar a concretude do fenômeno estudado, sem limitar-se à sua mera descrição, ou sem perder a riqueza da descrição e avançando na direção da explicação (Freitas, 2002), Luria chega à conclusão que o caminho mais apropriado para o impasse que se impôs entre estas duas abordagens seria o da integração. De acordo com Luria, era necessário desenvolver um método de observação que, aproveitando-se das qualidades da ciência romântica, evitasse, ao mesmo tempo, os seus perigos. Isso reflete que a observação não devia limitar-se à pura descrição dos fatos singulares, visto que o verdadeiro objetivo é compreender como um fenômeno se relaciona com outro(s) (Freitas, 2002). Nas palavras do próprio Luria (1992): O objetivo da observação é, portanto, estabelecer uma rede de relações importantes. Quando bem feita, a observação cumpre o objetivo clássico de 64 explicar os fatos, sem perder de vista o objetivo romântico de preservar a multiplicidade de riquezas do objeto (Luria, 1992, p. 182-183). Desta forma, há um esforço de focalizar um fenômeno nas suas mais essenciais e prováveis relações. Somente a partir da apreensão destas relações nos aproximamos da essência do fenômeno, e consequentemente da compreensão de suas qualidades e das regras que governam as suas leis. Depois de observados os traços mais importantes e, em seguida, aqueles mais secundários, é que começam a emergir as relações que os ligam entre si (Freitas, 2002). Transpondo estes princípios para o campo prático, compreende-se que a proposta de avaliação neuropsicológica na perspectiva Luriana consiste basicamente de quatro etapas complementares, que são apresentadas de forma esquemática na figura abaixo: Figura 2: O método de diagnóstico e intervenção neuropsicológica de Luria A primeira etapa refere-se à análise qualitativa do sintoma apresentado pelo paciente, realizada através da identificação, investigação e comparação das desordens 65 primárias (relacionadas diretamente com a habilidade comprometida) com as desordens secundárias, ou seja, as que emergem de acordo com a organização sistêmica das funções psicológicas superiores (Hazin, 2006). Luria compreende que um determinado déficit pode surgir acompanhando uma determinada síndrome. A investigação desta síndrome, por sua vez, enquanto conjunto de sintomas permite a identificação de sua base comum, ou seja, de fatores subjacentes a sua expressão. No entanto, para esta identificação, é necessário o desenvolvimento de procedimentos que incluem a comparação dos sintomas observados, a investigação qualitativa dos mesmos e a estruturação de sua base comum. Uma vez identificado o déficit primário (e os fatores que o provocam) no interior de uma determinada síndrome, a avaliação neuropsicológica deve investigar a consequência sistêmica deste e a sua reorganização compensatória (Hazin et al.,2010). Observa-se, desta forma, que a perspectiva de avaliação neuropsicológica luriana inaugura uma abordagem que busca, ao mesmo tempo, o mapeamento de pontos fortes e fracos do funcionamento cognitivo do sujeito que é avaliado, e o estabelecimento consequente das funções comprometidas e preservadas. Neste momento, abrimos um parêntese para salientar o quanto tal modelo de avaliação está em consonância com a proposta teórica que embasa a delimitação dos fenótipos comportamentais ou neuropsicológicos já discutida neste trabalho. Considera-se que a abordagem neuropsicológica de Luria é uma compreensiva e flexível forma de avaliação, pois é baseada numa compreensão da relação existente entre os diferentes fatores subjacentes às atividades psicológicas complexas. Dando seguimento ao processo de investigação, é de fundamental importância realizar a avaliação quantitativa da atividade do sujeito (Etapa 2). Para isto, faz-se uso de instrumentos padronizados, a fim de se investigar o funcionamento cognitivo do 66 paciente como um todo. É importante ressaltar que a avaliação neuropsicológica baseada nos preceitos de Luria não deve se limitar à investigação de uma única função afetada, visto que entende que o SNC atua de forma integrada e em conjunto (modelo teórico dos sistemas funcionais). A análise qualitativa da atividade constitui a terceira etapa do processo avaliativo. Aqui, considera-se que possa existir um continuum entre informações quantitativas, oriundas de escores produzidos por testes psicométricos, e informações qualitativas. Observa-se, assim, que a busca pela integração de procedimentos quantitativos e qualitativos está presente de maneira marcante no modelo de avaliação neuropsicológica Luriana. Isto implica que além da utilização de testes psicométricos, escolhidos para avaliar funções cognitivas específicas, após cada avaliação destas funções deve realizar-se uma avaliação qualitativa da atividade sujeito (Hazin, 2006). Segundo Hazin (2006), uma forma eficaz de integração das análises quantitativas e qualitativas pode ser feita aplicando-se a ênfase qualitativa de Luria sobre as medidas psicométricas produzidas pelos testes. Trata-se de trabalhar qualitativamente com outros critérios que vão além dos escores fornecidos pelos testes. Tais critérios são baseados na avaliação psicológica da estrutura de cada tarefa, na análise qualitativa dos tipos de erros produzidos, assim como na antecipação de possíveis condições que minimizem ou superem alguns destes erros. Por último, a quarta etapa prevê o planejamento, com a consequente proposição de um Programa de Reabilitação. Luria acreditava que a reabilitação de uma função mental é possível através da reconstrução ou reorganização estrutural do sistema funcional afetado. Esta reconstrução pode se dar por três formas distintas: 1) reorganização cerebral espontânea; 2) compensação e; 3) inserção de recursos auxiliares 67 externos (as chamadas próteses culturais) que substituam as habilidades comprometidas (Eilam, 2003). Por fim, é importante ressaltar que a perspectiva neuropsicológica de Luria compreende que a expressão comportamental dos processos psicológicos apenas pode ser apreendida através da consideração do contexto de interação do organismo com o seu meio, visto que o funcionamento cerebral também é função do mundo externo, sócio-histórico-cultural que o rodeia, e não apenas de processos restritos ao domínio cerebral (Hazin et al., 2010). Este ponto de vista torna ainda mais complexo as interações a serem consideradas durante a avaliação. Deve-se levar em conta, portanto, a relação que o paciente estabelece com a sua doença, as crenças e os sentimentos que lhe ocorrem, o comportamento que surge frente ao seu problema, a interação com o ambiente, etc. A avaliação neuropsicológica, busca, portanto, caracterizar da maneira mais compreensiva o status cognitivo, comportamental e emocional do paciente, correlacionando as funções preservadas e prejudicadas na tentativa de compreender como a lesão ou disfunção afeta a vida diária, o desempenho escolar, o comportamento e as emoções do indivíduo (Thiers, Argimon & Nascimento, 2005). Destaca-se aqui que sabemos do desafio e dificuldades inerentes à articulação entre teoria e método a partir dos pressupostos anteriormente apresentados. A transposição da perspectiva Luriana de avaliação neuropsicológica para desenhos metodológicos de estudos científicos ainda é um desafio. No entanto, apesar dos riscos de desenvolvimento de um estudo fragmentado, acredita-se que é necessário e desejável o esforço na direção de articulação destes dois aspectos. 3.3. Operacionalização 68 3.3.1. Participantes Participaram do estudo seis adolescentes com SD, sendo três do sexo feminino e três do sexo masculino (Tabela 1). Três destes adolescentes eram atendidos na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), e os outros três no Centro de Reabilitação Infantil (CRI), ambos os serviços localizados na cidade de Natal/RN. Os critérios de inclusão foram: (1) terem diagnóstico de SD, (2) possuírem idades entre 12 e 16 anos (faixa etária estabelecida a partir das idades necessárias para realização dos testes) e (3) terem um desenvolvimento mínimo da linguagem expressiva e receptiva que permitisse uma interação com a pesquisadora. Já os critérios de exclusão foram os seguintes: (1) apresentarem problemas auditivos e visuais não compensados e (2) possuírem histórico de transtorno neuropsiquiátrico ou outras condições neurológicas. As características dos adolescentes estão resumidas na tabela abaixo: Tabela 1: Perfil dos adolescentes com SD participantes da pesquisa Participantes Sexo Idade Tipo de Escola Nível de Escolaridade Adolescente 1 Masculino 13 anos Particular Adolescente 2 Feminino 13 anos Adolescente 3 Feminino 14 anos Particular (escola de bairro) Particular Adolescente 4 Masculino 14 anos Adolescente 5 Feminino 13 anos Adolescente 6 Masculino 13 anos 5° ano do ensino fundamental 3° ano do ensino fundamental 8° ano do ensino fundamental 3° ano do ensino fundamental 6° ano do ensino fundamental 2° ano do ensino fundamental Particular (escola de bairro) Pública Particular (escola de bairro) A presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN (protocolo nº 324/2011). Além disto, a participação de todos na ocorreu mediante a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido pelos pais ou responsáveis, levando em consideração os aspectos éticos pertinentes à investigação envolvendo seres humanos, conforme a Resolução nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (1996). 69 3.3.2. Instrumentos e Técnicas para a coleta de dados A fim de caracterizar o fenótipo neuropsicológico dos adolescentes com SD, foram utilizados variados instrumentos, responsáveis por investigar domínios específicos deste fenótipo. O detalhamento dos testes e das tarefas desenvolvidas e utilizadas, ilustrados com exemplos, encontra-se nos Anexos. A seguir serão apresentados, brevemente, as características e objetivos gerais dos testes, assim como os objetivos do estudo ao escolher cada um dos instrumentos. Na tabela abaixo estão resumidos os testes utilizados pela presente pesquisa: Tabela 2: Instrumentos utilizados para avaliação neuropsicológica Função Avaliada Instrumentos Utilizados Nível Intelectual WISC III – Escala Wechsler de Inteligência para Criança Matrizes Progressivas Coloridas de Raven Linguagem Subteste de Avaliação da Leitura do Protocolo Qualitativo Lapen Memória Visual Teste das Figuras Complexas de Rey (Visuoespacialidade e Tarefa de Memória Visual (Ordem Direta) Visuoconstrução) Memória Verbal Teste de Aprendizagem auditivo-verbal de Rey (RAVLT) Memória Episódica Teste de Memória Lógica (Recordação de Histórias) Memória Operacional Dígitos na ordem inversa (WISC III) Tarefa de Memória Visual (Ordem Inversa) - Adaptada do teste Bloco de Corsi Atenção Teste de Atenção por Cancelamento de Montiel & Capovilla (2007) 70 Funções executivas Figuras Complexas de Rey Fluência Verbal (Semântica e Fonológica) Comportamento Child Behavior Checklist (CBCL) Aspectos Sócio-afetivos Desenho-Estória 3.3.2.1.Escala Wechsler de Inteligência para Criança – WISC III De acordo com Cunha (2000), as escalas Wechsler constituem-se como os instrumentos mais conhecidos e utilizados para a avaliação do nível intelectual, embora também sirvam a outros propósitos, como para a avaliação de um domínio mais específico do funcionamento cognitivo, por exemplo, a visuoespacialidade. O WISC III, editado em 1991 e padronizado para o Brasil em 2002, é a versão infantil das Escalas Wechsler. Tal instrumento pode ser aplicado em crianças e adolescentes na faixa etária de 6 anos a 16 anos e 11 meses de idade. O WISC III é composto por 13 subtestes que avaliam dimensões diferentes do funcionamento cognitivo e que juntos fornecem o QI total. Estes subtestes, por sua vez, podem ser agrupados em dois grupos: os verbais (Vocabulário, Semelhanças, Aritmética, Dígitos, Informação e Compreensão) que fornecem o chamado QI Verbal; e os de execução (Código, Procurar Símbolos, Cubos, Completar Figuras, Arranjo de Figuras, Armar Objetos e o teste suplementar Labirintos) que fornecem o QI de Execução. Além disto, os testes fornecem também quatro índices fatoriais: Compreensão Verbal (CV), Organização Perceptual (OP), Resistência à distração (RD) e Velocidade de Processamento (VP). Com a utilização deste instrumento a expectativa maior não é apenas a avaliação do QI dos adolescentes com SD, mas, de maneira principal, observar e centrar as análises nos elementos que ele pode fornecer em relação ao funcionamento cognitivo 71 destes adolescentes, em especial na diferença fornecida entre as habilidades verbais e as visuoespaciais. Levanta-se a hipótese que os adolescentes com SD, devido às dificuldades acentuadas encontradas no campo da linguagem apresentarão déficits maiores no índice de Compreensão Verbal (CV) do que no de Organização Perceptual (OP) fornecido pelo instrumento. 3.3.2.2.Matrizes Progressivas Coloridas de Raven - MPCR Desenvolvido de maneira a ser mais independente das competências linguísticas quando comparado a outros instrumentos, o teste MPCR investiga a capacidade de estabelecer comparações, o desenvolvimento do pensamento lógico, assim como o raciocínio analítico e a capacidade de raciocinar por analogia (Albuquerque, 1996). Tal instrumento traz subjacente a teoria do fator geral de inteligência (fator “g”) e investiga a capacidade edutiva, ou seja, a capacidade de extrair novos insights (compreensões) e informações do que já é percebido ou conhecido. O MCPR é composto por três séries com 12 pranchas cada (A, Ab e B) e que são destinadas a avaliar os processos intelectuais de crianças pequenas, indivíduos com algum tipo de deficiência intelectual e pessoas idosas. Os fundos coloridos nos quais os problemas são impressos, atraem atenção, tornam o teste mais interessante e evitam a necessidade de demasiada instrução verbal (Albuquerque, 1996; Angelini, Alves, Custódio, Duarte & Duarte, 1999). Ao início de cada série, são apresentadas tarefas de nível de complexidade menor e que introduzem um novo tipo de raciocínio exigido nos itens posteriores. Estas tarefas consistem na apresentação de um desenho do qual falta uma parte. A tarefa do avaliando é escolher, entre seis figuras apresentadas, aquela que acredita ser a que complete o desenho. 72 O teste MPCR vem sendo bastante utilizado em amostras de indivíduos com deficiência intelectual, em grande parte devido a sua rápida e fácil administração, além da sua maior independência das habilidades psicomotoras e verbais. Tal teste, inclusive, tem demonstrado indicadores de validade no grupo de crianças, adolescentes e adultos com SD (Albuquerque, 1996). No entanto, na presente pesquisa, como a faixa etária do estudo de normatização para a população brasileira vai dos cinco até os 11 anos e meio de idade, não foi possível trabalhar com o percentil no qual os adolescentes se encaixariam e com a suas classificações. Foram realizadas, deste modo, análises qualitativas do desempenho dos adolescentes focalizando-se principalmente no tipo de erro que estes cometeram. De acordo com Angelini et al. (1999), as respostas erradas para cada um dos problemas do MPCR não foram escolhidas deliberadamente para confundir, nem para revelar aspectos específicos acerca do tipo de erros feitos pelos avaliandos. Apesar disto, o tipo de erro cometido indica, de certo modo, onde o indivíduo estará errando, e fornece indícios das prováveis causas do erro. Os erros podem fornecer, portanto, indicadores para escolher outros testes de modo a avaliar mais precisamente a natureza das dificuldades intelectuais da pessoa avaliada. A partir da identificação dos principais processos cognitivos subjacentes à seleção de cada uma das alternativas de resposta, Raven, Court e Raven (1990) (citado por Albuquerque, 1996), consideraram que os erros efetuados poderiam ser agrupados nas seguintes categorias: I - Erros de Diferença 1. A alternativa selecionada não contém nenhuma figura semelhante ao padrão a completar. 2. A alternativa selecionada é irrelevante em relação ao padrão a completar. 73 II - Erros de Individuação Inadequada: 3. A alternativa escolhida está contaminada por irrelevâncias e distorções. 4. A alternativa selecionada combina figuras irrelevantes. 5. A alternativa contém metade ou a totalidade do padrão a completar. III - Erros de Repetição do Padrão 6. A alternativa selecionada reproduz o padrão situado acima e à esquerda do espaço a completar. 7. A alternativa selecionada reproduz o padrão situado exatamente acima do espaço a completar. 8. A alternativa selecionada reproduz o padrão situado exatamente à esquerda do espaço a completar. IV – Correlato Incompleto 9. A figura está orientada incorretamente. 10. Está incompleta, mas correta até esse ponto. Baseando-se em tal classificação, a análise do desempenho dos adolescentes participantes da pesquisa no teste MPCR será feita através da identificação dos tipos de erros mais cometidos pelos mesmos. No estudo de Gunn e Jarrold (2003), investigou-se os tipos de erros produzidos por três grupos de participante (indivíduos com SD, pessoas com dificuldade de aprendizagem moderada, e crianças com DT) no MPCR. A análise dos tipos de erros dos três grupos indicou que os participantes com SD produziram um padrão de erros significativamente diferentes dos dois outros grupos investigados. Observou-se que o grupo com SD produziram um número maior de erros de Individuação Inadequada (II) do que os participantes do grupo com dificuldades de aprendizagem e do grupo de crianças com DT. Este tipo de erro ocorre principalmente quando o indivíduo seleciona um item que possui metade do padrão correto, no entanto, 74 não há uma combinação correta de todas as características do padrão alvo, sendo que a alternativa escolhida possui características irrelevantes, distorções ou padrões incompletos. Os autores do referido estudo inferiram que a exibição maior deste tipo de erro no grupo com SD se dá devido à dificuldade que estes possuem em combinar diferentes aspectos do padrão alvo, sendo difícil para estes focalizar com sucesso em uma característica do padrão de cada vez para após isto recombiná-las e dar a resposta baseando-se no padrão como um todo (Gunn e Jarrold, 2003). 3.3.2.3.Subteste de Avaliação da Leitura (Protocolo Qualitativo LAPEN) Para a avaliação das habilidades de linguagem de crianças e adolescentes com SD é importante a diferenciação de dois tipos de habilidades linguísticas: a linguagem expressiva, que se refere à emissão do discurso através da elaboração de uma mensagem compreensível; e a linguagem receptiva, que se refere à compreensão da mensagem emitida por outros, sendo esta última uma área de maior força na SD (Ypsilanti & Grouios, 2008; Lanfranchi, Jerman & Vianello, 2009; Menghini et al., 2011; Rondal & Comblain, 1996; Silverman, 2007). Não foram utilizados no presente estudo instrumentos específicos para avaliar estas duas habilidades, sendo as informações referentes a ambas as capacidades obtidas principalmente através das observações durante as avaliações, nas escolas, e informações fornecidas por pessoas próximas aos adolescentes (pais, professores, coordenadores e outros profissionais). Para a avaliação da leitura utilizou-se o subteste de avaliação da Leitura do Protocolo Qualitativo LAPEN (Laboratório de Pesquisa e Extensão em Neuropsicologia - UFRN), que investiga aspectos como identificação de letras e fonemas, sílabas, leitura 75 de palavras, pseudopalavras e frases (página 303). A habilidade de linguagem expressiva foi analisada durante a realização das tarefas ao longo dos encontros, assim como a linguagem receptiva (compreensão da linguagem). Em relação à habilidade escrita, as informações obtidas referem-se a dados coletados nas escolas, bem como as análises de cadernos, provas e outras atividades escolares dos adolescentes. 3.3.2.4. Teste das Figuras Complexas de Rey O teste das Figuras Complexas de Rey, idealizado por André Rey e normatizado para a população brasileira em 1999, permite a investigação da organização visuoespacial e da memória visual. A cópia de figuras é uma técnica psicológica muito utilizada e apresenta diversas vantagens, visto que é realizada através do uso apenas de lápis e papel, além de ser de fácil aceitação por parte dos indivíduos. As Figuras Complexas de Rey objetivam avaliar as funções neuropsicológicas de percepção visual e memória imediata visual; em suas duas fases, de cópia e de reprodução de memória, seu objetivo é verificar o modo como o sujeito apreende os dados perceptivos que lhe são apresentados e o que foi conservado espontaneamente pela memória (Oliveira & Rigoni, 2010). O teste das Figuras Complexas de Rey é um teste rápido e simples de ser aplicado, que consiste numa figura complexa, geométrica e abstrata composta por várias partes. A aplicação é dividida em dois momentos: primeiramente pede-se ao sujeito que copie a figura com o maior número de detalhes possíveis. Posteriormente, após no máximo três minutos, pede-se ao sujeito que desenhe a mesma figura sem visualizar o estímulo, ou seja, que ele reproduza as partes que consegue lembrar do que realizou anteriormente (Oliveira, Rigoni, Andretta & Moraes, 2004). 76 Tal teste permite avaliar tanto a capacidade de percepção visual, visuoconstrução, memória visual, como também a habilidade de planejamento, que está relacionada ao funcionamento executivo. A utilização do instrumento neste estudo permitirá a investigação dos referidos domínios e a observação de possíveis déficits nos aspectos supracitados. 3.3.2.5.Teste de Aprendizagem auditivo-verbal de Rey O Teste de Aprendizagem auditivo-verbal de Rey (Rey Auditory Verbal Learning Test - RAVLT), também desenvolvido por André Rey, tem como objetivo a investigação da memória auditivo/verbal imediata, aprendizagem, interferência, retenção e memória de reconhecimento (Diniz, Cruz, Torres & Cosenza, 2000). De acordo com Costa, Azambuja, Portuguez e Costa (2004), os testes que envolvem aprendizado, ou seja, a exposição repetida ao material a ser recordado, são mais sensíveis para identificar prejuízos de memória do que testes apresentados somente uma vez. Este teste é constituído de uma lista composta por 15 substantivos – lista A, que é lida, pausadamente, cinco vezes consecutivas para o avaliando. Após cada uma das vezes em que são apresentadas as 15 palavras, o testando deverá dizer todas as palavras que lembrar, sem precisar seguir a mesma ordem de apresentação. Em seguida, uma segunda lista é lida para o participante – lista B, e terminada a leitura solicita-se novamente ao avaliando que expresse verbalmente todas as palavras que recordar desta segunda lista. Posteriormente é solicitado que se evoque as palavras da lista A que recordar, sem que o examinador leia esta novamente. Após 20 minutos, solicita-se novamente que o avaliando relembre as palavras da lista A. Por fim, apresenta-se ao testando uma lista impressa, composta por 50 palavras, sendo quinze oriundas da lista 77 A, quinze da lista B e vinte palavras que têm semelhanças a nível fonético ou semântico com as palavras das listas A e B. O objetivo desta etapa é avaliar a memória de reconhecimento, na qual o participante deverá destacar as palavras que recordar da lista A e B. Como este teste ainda não possui normatização brasileira para a faixa etária utilizada na presente pesquisa, utilizou-se como parâmetro de comparação dos desempenhos do grupo de adolescentes com SD os dados que integram o banco de dados do LAPEN (Gomes, 2011). Ressalta-se que a utilização deste teste permitirá a investigação da memória auditiva-verbal, domínio que vem sendo relatado como possuindo alterações em adolescentes com SD. Além disto, constitui-se importante o cruzamento dos resultados obtidos pelos adolescentes no RAVLT com outros instrumentos da presente bateria, que também investigam o domínio da memória, para que assim seja possível a formulação de hipóteses acerca do funcionamento cognitivo destes adolescentes. 3.3.2.6.Teste de Memória Lógica - Recordação de História O Teste de Memória Lógica - Recordação de História é uma tarefa de cunho qualitativo que é amplamente utilizada na avaliação da memória episódica de curto e de longo prazo. Ela consiste na evocação de informações verbais previamente apresentadas dentro de um determinado contexto espacial e temporal. Deste modo, uma história dividida em 30 trechos é contada verbalmente para o sujeito. A tarefa deste será recontar a história, utilizando-se das mesmas palavras do examinador. A cada trecho lembrado e evocado atribui-se um ponto. A solicitação de evocação da história é feita em dois momentos distintos: imediatamente após a leitura, e 30 minutos após o término da mesma. 78 Do mesmo modo que o teste apresentado anteriormente, esta atividade também não possui ainda uma normatização. A sua correção será baseada, portanto, numa análise qualitativa das histórias recontadas pelos adolescentes, observando-se se as mesmas possuem ou não um sequenciamento lógico temporal e espacial adequado. Conforme mencionado anteriormente, a memória episódica tem sido frequentemente apresentada como sendo uma das áreas que mais apresenta prejuízos em indivíduos com SD, sendo, portanto, imprescindível a investigação deste domínio no presente estudo. 3.3.2.7.Tarefa de Memória Visual (Ordem Direta e Inversa) A memória operacional visual tem sido bastante investigada em indivíduos com SD, relatando-se alterações em algumas modalidades específicas deste domínio. Para este estudo, foi desenvolvida uma tarefa semelhante ao teste Blocos de Corsi, a fim de se investigar o funcionamento do esboço visuoespacial (na ordem inversa) e da memória visual (ordem direta). Para esta tarefa, foi utilizado um cartão com retângulos com iguais proporções e cores diferentes entre si. Estabeleceu-se um conjunto de sequências de cores que deveriam ser apontadas em uma ordem para os sujeitos (página 311). Na ordem direta pede-se que o adolescente reproduza a mesma sequência imediatamente após a demonstração. Na ordem inversa o adolescente tem que memorizar a sequência vista, porém reproduzi-la na ordem inversa (ex: o experimentador aponta para o retângulo amarelo e depois o azul; o sujeito deve apontar primeiro para o azul e depois para o amarelo). Duas sequências de cada série serão executadas, sendo a pontuação dada pela extensão máxima desempenhada na ordem direta e inversa. A duas sequências iniciais são compostas por duas cores e as duas últimas sequências são compostas por nove 79 cores. A aplicação é interrompida com dois erros consecutivos na mesma sequência, ou seja, dois erros na mesma sequência de cores de igual número. Esta atividade também não possui, ainda, uma normatização. No entanto, o Span visual (número máximo de cores reproduzidas) dos adolescentes será comparado com os resultados dos mesmos no Subteste Span de Dígitos do WISC III (que investiga o domínio da alça fonológica, na ordem inversa), a fim de se confirmar ou não a hipótese de que estes adolescentes apresentam um melhor desempenho em tarefas que envolvem o domínio do esboço visuoespacial em comparação a tarefas que envolvem o domínio da alça fonológica. 3.3.2.8.Teste de Atenção por Cancelamento O Teste de Atenção por Cancelamento (TAC) foi proposto por Montiel e Capovilla (2007), e tem como objetivo avaliar diferentes aspectos da atenção, como a seletividade (capacidade de selecionar um estímulo em detrimento de outros disponíveis), a sustentação (capacidade de manutenção do foco atencional durante determinado período de tempo) e a alternância (capacidade do indivíduo de mudar o foco de atenção). O instrumento é constituído por três matrizes impressas com variados estímulos. A tarefa do avaliando é marcar os estímulos que são idênticos aos estímulos alvo. Na primeira parte do teste, que visa avaliar a seletividade, é necessário selecionar dentre vários estímulos (impressos em cor preta num fundo branco) aqueles que são iguais ao estímulo alvo compostos por uma figura. Já na segunda parte, que também avalia a atenção seletiva, o estímulo alvo é composto por duas figuras que devem ser selecionadas pelo avaliando quando estiverem juntas e na mesma ordem. Na terceira, e 80 última parte do teste, cujo objetivo é avaliar a atenção alternada, os estímulos alvo que deverão ser selecionados são diferentes em cada linha. O objetivo da utilização deste teste no presente estudo é avaliar aspectos distintos da habilidade atencional em adolescentes com SD. Além disto, segundo Montiel e Capovilla (2007) os testes de atenção por cancelamento além de avaliar os diferentes aspectos da atenção também requerem processos como a seletividade visual, velocidade de processamento, atividade motora e memória, podendo prover assim informações importantes acerca destes processos. Ressalta-se, ainda, que para correção deste teste serão utilizados os dados normativos do estudo desenvolvido no Laboratório de Pesquisa e Extensão em Neuropsicologia (LAPEN) da UFRN (Hazin et al., 2012). 3.3.2.9.Teste de Fluência Verbal O teste de fluência verbal visa avaliar a capacidade de armazenamento do sistema de memória semântica, a habilidade de recuperação de informações armazenadas no sistema de memória e o processo de seleção de informações associado ao funcionamento executivo, principalmente a habilidade de organizar o pensamento e estabelecer estratégias para a busca de palavras. Avalia também a atenção sustentada e a perseveração. Nesse teste é pedido ao examinando que evoque, de modo rápido, o maior número possível de palavras exemplares de uma dada categoria semântica ou fonológica, no intervalo de 60 segundos. Na versão utilizada no presente estudo foi solicitado aos adolescentes que evocassem nomes de animais e frutas, no caso da fluência semântica, e palavras iniciadas com as letras F, A e M no caso da fluência fonológica. Devido à SD ser uma das condições genéticas que cursa com distúrbio da fluência, associado principalmente às dificuldades de linguagem e aprendizagem (Braga 81 & Macedo, 2011), a investigação deste aspecto constitui-se importante na presente pesquisa. Ressalta-se que serão utilizados como parâmetro para sua correção dados coletados para esta atividade pelo LAPEN de indivíduos na mesma faixa etária dos participantes da pesquisa. 3.3.2.10. Desenho Estória com Tema O desenho estória com tema é uma técnica projetiva utilizada como meio auxiliar para o conhecimento da dinâmica psíquica no diagnóstico psicológico. Este teste, assim como outros testes de personalidade projetivos, possibilita uma exploração ampla da personalidade e destaca aspectos da dinâmica emocional. Segundo Trinca (1997), os desenhos livres associados a histórias constituem um instrumento para obtenção de informações sobre a personalidade que não são facilmente detectáveis pela entrevista psicológica. A aplicação do teste é bastante simples, podendo ser individual ou coletiva, com qualquer faixa etária, de qualquer nível intelectual e sócio-econômico. O material consiste em folhas de papel em branco sem pauta e lápis para os desenhos. Primeiramente é pedido ao sujeito que faça um desenho relacionado com o tema em estudo. Após o desenho, solicita-se ao avaliando que conte uma estória associada ao estímulo. As temáticas utilizadas para a presente pesquisa foram: “Eu e minha família”, “Eu e meus amigos” e “Eu e minha escola”. A escolha pela utilização deste teste deve-se à necessidade de investigar os aspectos afetivos dos adolescentes com SD, que, conforme já ressaltado, também são constituintes do seu fenótipo neuropsicológico. Além disto, sabe-se que as associações livres tendem a se dirigir a setores em que o indivíduo é emocionalmente mais sensível. Desta forma, com a utilização deste teste considerou-se que os adolescentes poderiam 82 exprimir mais facilmente aspectos da sua dinâmica emocional, visto que é comum que crianças e adolescentes prefiram comunicar-se por desenhos e fantasias aperceptivas a se expressar por comunicações verbais diretas. 3.3.2.11. Child Behavior Checklist (CBCL) O Child Behavior Checklist (CBCL), ou Inventário de Comportamento da Infância e Adolescência, é um questionário que avalia competência social e problemas de comportamento em indivíduos de 4 a 18 anos, a partir de informações fornecidas pelos pais. Ele é composto de 138 itens divididos em duas partes, sendo a primeira relativa à avaliação de Competências Sociais e a segunda de Problemas de Comportamento. Os 138 itens apresentados no CBCL compõem as onze escalas que correspondem a diferentes problemas de comportamento da criança e do adolescente. Dentre essas escalas, três referem-se à Competência Social, relativas a problemas no desempenho de atividades e nos aspectos relacionados à sociabilidade e à escolaridade. A soma dessas escalas origina a Escala de Competência Social. Esta é composta por 20 itens que informam sobre o envolvimento da criança em diversas atividades (brincadeiras, jogos, execução de tarefas), participação em grupos, relacionamento com pessoas (familiares, amigos), independência no brincar e desempenho escolar (Borsa & Nunes, 2008). As outras oito escalas são: Ansiedade/Depressão, Isolamento/Depressão, Queixas Somáticas, Problemas Sociais, Problemas de Pensamento, Problemas de Atenção, Comportamento de Quebrar Regras/Delinqüencial e Comportamento Agressivo. A soma destas escalas dá origem à Escala Total de Problemas de Comportamento. Ela é constituída pela Escala de Problemas de Comportamento 83 Internalizante (escalas de ansiedade e depressão; isolamento e depressão e queixas somáticas), sendo descrita em termos de padrões comportamentais privados desajustados, denominados também de problemas emocionais, como tristeza e isolamento. A outra escala derivada é Escala de Problemas de Comportamento Externalizante, que é descrita em termos de padrões comportamentais manifestos e desajustados, como agressividade, agitação psicomotora e comportamento delinquente, correspondendo às duas últimas escalas de problemas de comportamento: Comportamento de Quebrar Regras e Comportamento Agressivo (Borsa & Nunes, 2008). Vale ressaltar que o CBCL é um dos instrumentos de avaliação do comportamento de crianças e adolescentes mais utilizado na literatura e tem sido considerado um dos instrumentos mais eficazes para quantificar as respostas de pais e mães. Devido ao seu rigor metodológico, esse inventário é utilizado em diversas culturas, tendo sido traduzido para 61 línguas além de existirem estudos publicados em 50 diferentes culturas, demonstrando, deste modo, um grande valor em pesquisas e utilidade na prática clínica. No Brasil, a adaptação do CBCL foi feita por Bordin, Mari e Caeiro (1995). Ressalta-se que para a correção deste teste, foi utilizado um software, o Assessment Data Manager 7.2. (Achenbech & Rescorla, 2001, citado por Garzuzi, 2009), a fim de gerar os perfis comportamentais dos seis adolescentes avaliados. 3.3.2.12. Observação nas Escolas Com o objetivo de obter mais informações e enriquecer as discussões dos resultados, foram realizadas observações nas escolas e entrevistas com os professores dos adolescentes com SD participantes da pesquisa. As observações ocorreram tanto no 84 momento de sala de aula quanto no período do intervalo. Já as entrevistas foram realizadas com as pessoas envolvidas diretamente no processo educativo dos alunos, como seus professores e coordenadores. Elaborou-se, para isto, um roteiro de observação de campo e de entrevista semi-estruturada. A observação no contexto escolar focalizou-se na obtenção de dados em relação ao processo de ensino/aprendizagem dos adolescentes, buscando subsídios acerca das adaptações realizadas pelas escolas (se estas tinham elaborado algum projeto pedagógico para estes alunos), informações acerca do comportamento deles em sala de aula, suas interações tanto com os professores, quanto com os seus colegas e as maiores dificuldades enfrentadas por estes alunos no seu cotidiano escolar. Ressalta-se que também foram observados os materiais produzidos pelos alunos, como provas e cadernos, que foram cedidos pelos pais. 3.3.3. Procedimento As etapas do procedimento da presente pesquisa, descritas a seguir, buscaram estar em consonância com as etapas propostas no modelo de avaliação neuropsicológica de Luria (Figura 2), anteriormente apresentadas. Vale ressaltar, contudo, que a quarta etapa (o desenvolvimento de um programa de reabilitação) não pôde ser diretamente contemplada, devido ao tempo estipulado para o desenvolvimento de uma pesquisa de mestrado. Entretanto, defende-se que os resultados oriundos da pesquisa fornecerão subsídios importantes para a prática de diferentes profissionais que atuam com crianças e adolescentes com SD. Neste sentido, a quarta etapa é, de certo modo, indiretamente contemplada. Primeiramente, foi estabelecido o contato com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e com Centro de Reabilitação Infantil (CRI), instituições da 85 cidade de Natal/RN que atendem adolescentes com SD. Solicitou-se a carta de anuência das referidas instituições para a realização da pesquisa e a disponibilização de uma sala para as avaliações, tendo recebido o devido aceite. Após isto, realizou-se um levantamento inicial junto aos prontuários dos dois serviços a fim de selecionar os adolescentes com SD que participariam da pesquisa. Foram observados os dados dos prontuários que continham um histórico do percurso dos adolescentes com SD nas instituições, sendo a grande maioria atendida desde os primeiros anos de vida. Desta forma, foi possível obter informações em relação ao histórico de outras doenças, realização de cirurgias, uso de medicamentos, o tipo de intervenções às quais estes adolescentes foram expostos (se psicológica, fisioterapêutica, nutricional, ocupacional, psicopedagógica, ou outras), assim como algumas das principais queixas dos pais e profissionais que atuavam junto a esses adolescentes. Quando esses dados não constavam nos prontuários os pais/ou responsáveis eram consultados. A partir destas informações foi possível selecionar os seis adolescentes que se enquadravam nos critérios de inclusão da pesquisa e foram excluídos aqueles que cumpriam algum critério de exclusão, ou seja, que apresentavam algum problema auditivo ou visual não compensado, ou um histórico de transtorno neuropsiquiátrico e outras condições neurológicas, visto que estes fatores poderiam influenciar nos resultados da avaliação neuropsicológica. Os dados contidos nos prontuários também foram utilizados para a caracterização inicial da amostra, além de fornecerem informações importantes para a primeira etapa de avaliação, a saber, a análise qualitativa dos sintomas apresentados pelos adolescentes (Etapa 1). Selecionados os participantes, foi feito então o contato inicial com os pais e/ou responsáveis pelos seis adolescentes, explicando em que consistia a presente pesquisa, os objetivos, atividades que seriam desenvolvidas e o tempo a ser empregado com as 86 avaliações. Também foram enfatizados os benefícios que estes pais e adolescentes poderiam ter com a sua participação na pesquisa. Após os pais e/ou responsáveis terem dado a sua autorização, foi iniciado o processo de avaliação neuropsicológica (Etapa 2 e 3 – Análise quantitativa e qualitativa das atividades). As primeiras sessões de avaliação com os adolescentes e os momentos iniciais destas foram importantes a fim de se estabelecer um rapport apropriado. Cada sessão iniciou-se por um período de interação livre entre a pesquisadora e os adolescentes, a fim de deixá-los mais à vontade e motivados. Foi explicada para eles a natureza das atividades, salientando-se as características lúdicas de muitas delas e similaridades com suas atividades escolares. Ressalta-se que estes procedimentos visaram o bem estar dos adolescentes e procuraram minimizar as manifestações de ansiedade. As duas instituições onde foram realizadas as avaliações disponibilizaram salas silenciosas, compostas por uma mesa e duas cadeiras. Os adolescentes foram avaliados, individualmente, através de (em média) nove encontros, cuja duração foi de aproximadamente 50 minutos cada. Considerada um exame intensivo do comportamento, a avaliação neuropsicológica abrange não só as capacidades cognitivas dos avaliandos, mas também os aspectos comportamentais, emocionais e funcionais. Sendo estes também constituintes do que entendemos por fenótipo neuropsicológico, estes aspectos também foram contemplados no nosso estudo. Desta forma, além da bateria de testes neuropsicológicos também fizemos uso de uma técnica projetiva, o teste Desenho Estória, a fim de investigar os aspectos sócio-afetivos do fenótipo neuropsicológico destes adolescentes. Além disto, com o intuito de obter informações sobre os aspectos comportamentais, também investigados através de observações durante as sessões e nas escolas dos adolescentes, foi utilizado o Inventário de Comportamento da Infância e 87 Adolescência, o Child Behavior Checklist (CBCL). As informações obtidas através destes instrumentos, por sua vez, serviram também como dados para etapa anterior (Etapa 1). Desta forma, ressalta-se que a análise qualitativa do sintoma esteve presente durante todo o processo avaliativo, visto que essa foi complementada e retroalimentada pelas observações do comportamento dos adolescentes durante as sessões de avaliação, bem como por seu desempenho nas atividades propostas. Foi realizado o registro das observações do comportamento dos seis adolescentes feitas durante todas as sessões de avaliação, mas não somente nelas, como também nos períodos de espera de atendimentos. Nestes últimos foi possível observar o comportamento dos adolescentes, suas interações com os pais e/ou responsáveis, os profissionais do serviço onde eram atendidos e os outros usuários. Além disto, conversou-se também com profissionais que atendiam os adolescentes nas duas instituições onde foram realizada a pesquisa, assim como os professores e outros profissionais das escolas que estes adolescentes frequentavam. Vale ressaltar que, como bem aponta Winograd, Jesus & Uehara (2012), as observações comportamentais ao longo dos encontros também podem fornecer dados relevantes para o neuropsicólogo. Falta de atenção durante as instruções e pedidos de repetição das mesmas, nervosismo ou agitação psicomotora, falta de motivação e de persistência na resolução das tarefas, apatia e pouca iniciativa, baixa tolerância à frustração e agressividade são atitudes que devem ser analisadas, visto que fornecem informações comportamentais e mais ecológicas das alterações neuropsicológicas dos pacientes. Além disto, com base no modelo de avaliação neuropsicológica Luriana, as referidas observações também devem focalizar aspectos qualitativos da realização das tarefas. Mais importante do que identificar o erro do sujeito é compreender quais os 88 motivos da sua falha. Investigações acerca do modo como o avaliando soluciona as tarefas também podem fornecer importantes informações sobre o seu funcionamento cognitivo. O olhar do profissional sobre a realização do teste oferece dados como a estratégia utilizada e os tipos de erros cometidos (Winograd, Jesus & Uehara, 2012). 89 IV – RESULTADOS 90 4.1. Considerações Iniciais No capítulo anterior foi apresentada a metodologia adotada para a presente pesquisa. Consoante com os pressupostos teóricos da psicologia histórico-cultural e mais especificamente, com a abordagem Luriana de avaliação neuropsicológica, esperase que tenha ficado claro o porquê da escolha deste desenho metodológico. Os procedimentos adotados, instrumentos e outras técnicas de coleta de dados e observação empregados também procuraram estar de acordo com estes pressupostos. Conforme ressalta Hazin (2006) por trás de toda escolha metodológica estão associados pressupostos teóricos que irão orientar aquilo se pretende observar e alcançar com o estudo. Para esta pesquisa, considerou-se que haveria dois caminhos possíveis de serem traçados. Poderíamos nos limitar a fazer uma avaliação neuropsicológica baseada puramente nos preceitos da psicometria clássica, focalizando apenas no produto e perdendo as características holísticas dos adolescentes; ou, poderíamos focalizar no processo, ou seja, no caminho percorrido por cada adolescente para chegar às suas respostas e o resultado que obtiveram. Ao escolhermos esta segunda direção (desviando o nosso olhar do produto para o processo) foi necessário que limitássemos a trabalhar com uma amostra menor, visto que seria inviável realizar um estudo com estas características com um número elevado de adolescentes, no tempo que se impõe para a realização de um trabalho de mestrado. No entanto, entendemos que estudos de caso não impedem a possibilidade de generalizações. Muitos avanços já foram feitos com este tipo de pesquisa, como por exemplo, as descobertas feitas no domínio da memória a partir do famoso caso H.M. Entende-se, assim, que é possível a adoção de uma abordagem processual e a aceitação de características relativamente homogêneas no interior de um determinado grupo. Do mesmo modo que se fala de características culturais semelhantes, pode-se igualmente 91 falar em características funcionais semelhantes no interior de uma determinada síndrome (Hazin, 2006). A presente pesquisa trata-se, portanto, de um estudo multicasos de seis adolescentes com SD. Os resultados encontrados serão apresentados a seguir. Inicialmente serão discutidos os resultados individuais de cada um dos adolescentes, divididos pelos domínios constituintes do fenótipo neuropsicológico investigados. Em seguida buscar-se-á sintetizar estes resultados a fim de reunirmos e discutirmos as semelhanças entre os seis adolescentes e a suas possíveis discrepâncias. 4.2. Adolescente 1 – Pseudônimo Lucas Lucas é um menino de 13 anos, estudante do 5° ano do ensino fundamental de uma escola particular da cidade de Natal. Ele é filho único e mora apenas com a sua mãe, uma dona de casa, visto que os seus pais são separados desde a sua gestação. A renda da família constitui-se apenas do benefício fornecido pelo governo para o adolescente, o que equivale a cerca de um salário mínimo. Lucas não possui comprometimentos clínicos graves, tais como problemas cardíacos ou respiratórios, comuns em adolescentes com SD. Apenas durante a primeira infância ele apresentou problemas na adenoide, amídalas e hérnia umbilical, tendo realizado uma cirurgia para corrigir esta última. Recentemente, descobriu-se que Lucas desenvolveu intolerância à lactose. De acordo com a sua mãe, Lucas emitiu as suas primeiras palavras somente aos quatro anos de idade. Porém, desde os três anos ele iniciou os seus estudos, sem apresentar dificuldades de adaptação à escola. A mãe de Lucas (que possui o segundo grau completo) demonstrou ser uma mãe informada e dedicada, e desde muito cedo procurou os tratamentos necessários para o seu filho. Lucas participou de terapias como 92 fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional e psicopedagogia. Atualmente, o adolescente é acompanhado apenas por um profissional da psicopedagogia. Os profissionais que trabalharam com Lucas o descreveram como um menino participativo e interessado, que demonstrava facilidade no estabelecimento de novos vínculos. Durante as avaliações, o adolescente sempre demonstrou interesse e em nenhum momento recusou-se a fazer alguma das atividades, exceto pelo teste Desenho Estória, cujos motivos serão discutidos adiante. O seu comportamento era sempre calmo e atencioso, mostrando-se também bastante carinhoso. A seguir serão apresentados e discutidos os resultados encontrados na avaliação neuropsicológica de Lucas, separados, para fins didáticos, por domínios investigados. 4.2.1. Nível intelectual Resultados Quantitativos do WISC III. O primeiro instrumento utilizado para avaliação de Lucas foi o WISC III. A aplicação total deste instrumento se deu através de dois encontros. Os resultados quantitativos estão resumidos a seguir: Tabela 3: Resultados Quantitativos de Lucas nos Subtestes do WISC III Escala verbal Escore Bruto Escore ponderado Escala de Execução Escore Bruto Escore Ponderado Informação 06 01 Completar figuras 15 07 Semelhanças 04 04 Código 21 02 Aritmética 08 01 Arranjo de figuras 01 01 Vocabulário 14 05 Cubos 30 08 Compreensão 04 01 Armar objetos 35 12 Dígitos (03) (01) Procurar símbolos (11) (03) 93 Tabela 4: Resultados Quantitativos de Lucas nos Índices de QIs do WISC III Escalas Soma dos Pontos Ponderados QI/Índices Interpretação Verbal 12 52 Deficiência intelectual Execução 30 73 Limítrofe Total 42 58 Deficiência Intelectual Compreensão Verbal 11 56 Deficiência Intelectual Organização Perceptual 28 80 Médio Inferior Resistência à Distração 02 47 Deficiência Intelectual Velocidade de Processamento 05 57 Deficiência Intelectual Tabela 5: Valores de Referência QI Classificação Descritiva 129 ou mais Muito Superior 120 – 128 Superior 110 – 119 Médio Superior 90 – 109 Médio 80 – 89 Médio Inferior 70 – 79 Limítrofe 69 ou menos Deficiência Intelectual Análise Qualitativa da Atividade Consoante com aquilo que é esperado para a população com SD, o QI total de Lucas (QIt = 58) ficou na faixa classificada como deficiência intelectual. No entanto, conforme apontado na descrição inicial deste instrumento, a intenção maior ao utilizar o WISC III na presente pesquisa não foi, apenas, a obtenção dos índices de QI dos adolescentes com SD avaliados, e sim centrar as análises nas informações que este pode fornecer em relação ao funcionamento cognitivo destes adolescentes, notadamente em 94 termos da identificação dos pontos fortes e fracos que caracterizam as suas dinâmicas cognitivas. Um ponto que chama atenção nos resultados de Lucas para este instrumento refere-se, portanto, à discrepância significativa (21 pontos) observada em relação aos seus escores de QI verbal (QIv = 52) e QI execução (QIe = 73). Estes resultados, por sua vez, estão de acordo com aquilo que é apontado pela literatura para indivíduos com SD, ou seja, uma maior habilidade em tarefas visuoespaciais do que em tarefas verbais (Kogan et al., 2009; Menghini et al., 2011; Tsao & Kindelberger, 2009; Wang, 1996). O QI Verbal abrange a capacidade de lidar com os símbolos abstratos, qualidade da educação formal e estimulação do ambiente, compreensão, memória e fluência verbal. Por sua vez, o QI não-verbal/execução, envolve o grau e a qualidade do contato não verbal do indivíduo com o ambiente, a capacidade de integrar estímulos perceptuais e respostas motoras pertinentes, capacidade de trabalho em situações concretas, velocidade de realização de tarefas e capacidade de avaliar informações visuoespaciais. Análises técnicas indicaram que o resultado obtido para o QI total de Lucas não é fidedigno, uma vez que a amplitude encontrada no domínio não-verbal é de 11 pontos e, portanto, significativa. A amplitude se refere à diferença entre o maior resultado ponderado (12 no subteste Armar Objetos) e o menor resultado (1 no subteste Arranjo de Figuras). No domínio não-verbal para atingir significância esta deve ser superior a 9 pontos. De acordo com Simões (2002), na interpretação dos resultados do WISC III, notadamente em contextos nos quais o QI total não é fidedigno, a avaliação a partir dos Índices Fatoriais pode ser considerada preferível do que a análise pelos QIs propriamente ditos, visto que a confiabilidade daqueles é mais elevada. Faz-se necessário, assim, examinar a utilidade destes Índices Fatoriais na elaboração de 95 hipóteses acerca do funcionamento neuropsicológico do indivíduo que é avaliado. A análise dos resultados através dos Índices Fatoriais fornece uma possibilidade adicional de identificar perfis de desempenho, constituídos por pontos fortes e fracos do funcionamento cognitivo. Uma versão mais precisa para avaliar as capacidades verbais e de execução é fornecida, portanto, pelos Índices de Compreensão Verbal (CV), formado pelos subtestes Informação, Semelhanças, Vocabulário e Compreensão, e o Índice de Organização Perceptual (OP), fornecido pelos subtestes Completar Figuras, Arranjo de Figuras, Cubos e Armar Objetos. Lucas obteve a pontuação de 56 no Índice de Compreensão Verbal (CV) e de 80 no Índice de Organização Perceptual (OP). Novamente, se verifica uma discrepância significativa (de 24 pontos) entre os dois Índices, favorecendo as habilidades manipulativas (de execução) do adolescente. Os outros dois índices fornecidos pelo WISC III referem-se ao Índice de Resistência à Distração (RD), que avalia a atenção e a memória operacional, fornecido pelos subtestes Dígitos e Aritmética (sendo imprescindível o conhecimento matemático) e o Índice Velocidade de Processamento (VP), que investiga a velocidade mental e psicomotora, sendo fornecido pelos subtestes Código e Procurar Símbolos. Lucas obteve um escore de 47 no Índice de Resistência à Distração (RD), o escore mais baixo obtido pelo adolescente, e uma pontuação de 57 no Índice de Velocidade de Processamento (VP). Explorando os resultados obtidos por Lucas nos subtestes específicos de cada domínio, observa-se que foi em um subteste que compõe o Índice de Organização Perceptual (OP) (QI = 80) que este conseguiu o seu melhor escore, a saber, o subteste Armar Objetos (Pontos brutos = 35; Ponderados = 12). Neste subteste, que avalia a capacidade de síntese de um conjunto integrado e reconhecimento de configurações 96 familiares (formação de conceitos visuais), a tarefa do sujeito é montar figuras familiares a partir de suas partes, como se faz com um quebra cabeças. A disposição das partes segue uma ordem e a pontuação é dada pelo número total de junções corretas dentro do tempo estabelecido. Vale salientar que neste subteste, assim como nos demais que compõem este domínio, o tempo é uma variável importante, pois o sujeito tem variações na pontuação em função da rapidez com que executa a tarefa. Como a velocidade de processamento de Lucas está em patamares inferiores ao esperado para sua faixa etária, conclui-se que as tarefas foram realizadas em longos períodos de tempos, ou seja, ele realiza a atividade, mas consome mais tempo. Este é um dado qualitativo significativo, pois mascara o potencial real de Lucas, que poderia ter obtido resultado melhor se a variável tempo não fosse considerada. Nessa direção, constata-se que Lucas errou apenas o primeiro item deste subteste (trocou a posição correta dos braços da menina – Figura 3). Durante toda a sua execução, Lucas parecia estar bastante empolgado e informou inclusive que adorava montar quebra-cabeças, tendo montado sozinho no último final de semana um quebracabeças de mil peças (informação que foi confirmada posteriormente com sua mãe, sendo corrigido o número de peças para 500). 97 Figura 3: Erro cometido por Lucas ao montar o Item 1 (menina) do subteste Armar Objetos. O segundo maior escore de Lucas foi obtido no subteste Cubos (Pontos brutos = 30; Ponderados = 8), que avalia a capacidade de análise e síntese, conceitualização visuoespacial e estratégia de solução de problemas. Tal subteste tem uma alta correlação com o anterior (Armar Objetos) (Figueiredo, 2001). A observação do comportamento de Lucas ao longo da realização da tarefa sugere igualmente envolvimento e prazer na execução desta modalidade de atividade. Este padrão repetiu-se nos outros subtestes do Índice de Organização Perceptual (OP), exceto pelo Arranjo de Figuras (Pontos brutos = 01; Ponderados = 01). O subteste Arranjo de Figuras avalia a capacidade para organizar e integrar lógica e sequencialmente estímulos complexos, exigindo organização, planejamento e sequenciamento temporal, bem como a compreensão da ideia geral transmitida pela história. Neste subteste, solicita-se ao avaliando que coloque em ordem uma série de cartões com gravuras que quando na ordem correta, contam uma história sequencialmente lógica. Na sua execução, Lucas acertou apenas o primeiro item, na segunda tentativa. Nos itens seguintes, Lucas errou todas as tentativas. Pode-se dizer 98 que este subteste do Índice de Organização Perceptual (OP) envolve não apenas o processamento visual, mas também aspectos do funcionamento executivo, como a capacidade de planejamento e abstração, além de aspectos da inteligência social, como a capacidade de compreender a significação de uma situação interpessoal (Cunha, 2000). Neste sentido, infere-se que a dificuldade do adolescente em trabalhar abstratamente, organizar e planejar a sequência lógica de uma história, além de uma dificuldade no manejo de situações que envolvam conteúdos interpessoais e sociais pode ter contribuído para o seu baixo escore neste subteste do Índice de Organização Perceptual (OP), destoando dos seus resultados nos outros subtestes que compõem este Índice. No que diz respeito ao Índice de Compreensão Verbal (CV) (QI = 56), o subteste que Lucas obteve o seu maior escore foi o subteste Vocabulário (Pontos brutos = 14; Ponderados = 5), que avalia o conhecimento dos significados das palavras, exigindo da criança e do adolescente aprendizagem, acumulação de informação conceitual e desenvolvimento da linguagem. Neste subteste, Lucas pontuou dois pontos (pontuação máxima) nos seis primeiros itens, que envolvem perguntas de nível de complexidade menor, como “O que é um chapéu?” (Item 1) e “O que é um relógio?” (Item 2). A partir do oitavo Item (“O que é valente?”) Lucas não mais pontuou. No entanto, ainda assim, Lucas procurava responder, inventando em alguns casos respostas (ex: “O que é uma fábula?” Lucas respondeu “um remédio”). Em outros casos parecia que ele entendia, ainda que vagamente, o significado da palavra (ex: “O que é ilha?”, Lucas respondeu “Deserto” e “O que é antigo?”, Lucas respondeu “Uma estátua”). Nestes itens, apesar de ter sido feito o inquérito, Lucas não soube expressar devidamente o significado das palavras, ou seja, não foi capaz de explicar de maneira mais detalhada as suas respostas. 99 O subteste do Índice de Compreensão Verbal (CV) que Lucas obteve o seu menor escore foi o subteste Compreensão (Pontos brutos = 04; Ponderados = 1). Este subteste avalia o conhecimento corporal, as relações interpessoais e sociais da criança. São solicitadas respostas orais a uma série de questões nos domínios supracitados (Ex: Item 7: “O que você faria se uma criança menor começasse a brigar com você”?). Neste subteste, Lucas acertou os Itens 2 (“O que você faria se encontrasse uma bolsa ou uma carteira de alguém em uma loja?”) e o 4 (“Porque os carros devem ter cinto de segurança?”). Nos demais itens, Lucas tentou elaborar respostas, mas estas não eram pontuáveis (Ex: “Dê algumas razões pelas quais se deve apagar as luzes quando ninguém está usando?” Lucas respondeu “para dormir”). A resposta produzida encontra-se dentro do domínio investigado, mas esta parece ter sido direcionada a uma pergunta mais elementar que seria: Por que apagamos as luzes? Lucas atribuiu outro sentido à questão negligenciando aspectos adicionais da pergunta disparadora, tais como: “quando ninguém está usando”. De acordo com Cunha (2000), o subteste Compreensão requer formulações verbais elaboradas. Baixos escores são comuns em sujeitos com dificuldades de expressão verbal, especialmente naqueles com um pensamento mais concreto, e que apresentam dificuldades de elaborar respostas com base em situações hipotéticas. Em relação ao seu desempenho nos subtestes que compõem o Índice de Resistência à Distração (RD) (QI = 47), no subteste Aritmética, que avalia o raciocínio lógico-matemático e a memória operacional, Lucas obteve uma pontuação significativamente abaixo do esperado para sua faixa etária (Pontos brutos = 8; Ponderada = 1). Por sua vez, no outro subteste que compõe o Índice, o subteste Dígitos, Lucas obteve seu segundo menor escore (Pontos brutos = 3; Ponderados = 1). O subteste Dígitos é divido em dois momentos. Na primeira etapa (ordem direta) se avalia 100 a habilidade de processamento sequencial, a atenção auditiva verbal e a memória auditiva. Segundo Simões (2002), quando o sujeito repete todos os números nesta etapa, mas não na ordem correta, trata-se especificamente de um déficit na capacidade de evocação sequencial (na modalidade auditiva) e não de um déficit de natureza mnemônica ou atencional propriamente dito. Observou-se a presença desta modalidade de erro nas respostas de Lucas, visto que na evocação dos números referentes ao item três (primeira e segunda tentativa), este cometeu dois erros, que obrigaram a interrupção da aplicação do subteste. Porém estes erros foram de natureza sequencial, já que ele repetiu os números corretos na ordem errada. A segunda etapa da aplicação do Dígitos, ordem inversa, avalia a capacidade de memória operacional e flexibilidade cognitiva. Esta tarefa é considerada mais complexa que a antecedente, visto que envolve aspectos do funcionamento executivo, tais como concentração, flexibilidade cognitiva e a capacidade de inversão de sequências. Nesta segunda etapa, Lucas não acertou nenhuma evocação. O Índice de Velocidade de Processamento (VP) avalia a velocidade psicomotora e mental, através da aplicação dos subtestes Código e Procurar Símbolos, além da capacidade de planejar, organizar e estabelecer estratégias. Neste índice, Lucas obteve uma pontuação de 57. O seu baixo escore reflete a presença de lentificação, o que é esperado para crianças e adolescentes com SD. É comumente referida na literatura a maior lentificação que esta população pode apresentar na realização das tarefas, em muitos casos, devido a dificuldades na habilidade motora fina e também na coordenação visuomotora (Fidler, 2005). Os dados obtidos no WISC III foram ampliados a partir da aplicação de outro instrumento que tem por objetivo investigar a capacidade intelectiva, a saber, o Teste das Matrizes Progressivas de Raven. 101 Resultados Quantitativos do Matrizes Progressivas Coloridas de Raven (MPCR). Em relação aos resultados de Lucas no MPCR, o adolescente acertou, ao todo, 22 problemas (de um total de 36). Lucas errou apenas os dois últimos problemas da série A, totalizando 10 acertos, sendo a série que o adolescente se saiu melhor. Na série Ab, Lucas acertou sete problemas, errando novamente os últimos (cinco) problemas da série. No MPCR, os últimos problemas possuem um nível de complexidade maior. Por último, na série B, Lucas acertou apenas cinco problemas. Tabela 6: Resultados Quantitativos de Lucas para o MPCR A 10 Ab 07 B Discrepância 05 Somatório 22 +1; -1; 0 A análise dos tipos de erros cometidos pelo adolescente revelou que este cometeu uma quantidade maior de erros do tipo III (Repetição do Padrão), totalizando nove dos seus 14 erros. Tais resultados sugerem um padrão de perseveração das respostas, apontando para dificuldades no funcionamento executivo, notadamente nas habilidades de flexibilidade cognitiva. Dentre os erros, a maioria foi identificado pela escolha do adolescente do item imediatamente acima do espaço a ser preenchido (erro do tipo III – g), vide o exemplo do problema abaixo, no qual Lucas respondeu o Item 5, que está correto quanto à forma quadrada, mas errado quanto às duas linhas em seu interior. 102 Figura 4: Extrato do problema B8 do MPCR O adolescente demonstrou dificuldade em combinar os dois aspectos necessários para a escolha da resposta correta no problema acima (item 6 - forma quadrada e ausência do padrão de listras), tendo focalizado apenas em uma característica específica. Tal dificuldade remete novamente a dificuldades executivas, em especial no que se refere à habilidade para alternar o foco atencional e trabalhar com mais de uma informação simultaneamente. Em relação aos outros cinco erros cometidos pelo adolescente, quatro deles foram erros de individuação inadequada e um de correlato incompleto. 4.2.2. Linguagem Lucas ainda não é alfabetizado, apesar de já reconhecer as letras e copiá-las do quadro ou de outros materiais. Na resolução das atividades do subteste de avaliação da Leitura do Protocolo Qualitativo Lapen, verificou-se que Lucas reconhecia adequadamente a maioria das letras do alfabeto, realizando ainda algumas trocas (Ex: ao invés de ler a letra “F”, leu “V”). Quando solicitado a associar uma palavra iniciada pela 103 letra que estava lendo, Lucas soube associar palavras para a maioria das letras (Ex: para a letra R, disse a palavra “Rato”, para J, “Jacaré”, para U, “Urso”, para A, “Amor”, etc.). Na etapa de leitura de sílabas, verificou-se que Lucas ainda não é capaz de juntar as letras das sílabas, lendo-as isoladamente (Ex: ao invés de ler “CA”, lia o “C” e o “A”). O mesmo repetiu-se na leitura de palavras e pseudopalavras. Durante as avaliações, observou-se que a comunicação com Lucas sempre se realizou de forma tranquila, mesmo este apresentando ainda problemas na articulação de alguns sons da fala (dificuldade de pronunciar certos fonemas e troca de alguns destes) e erros de sintaxe (falhas na disposição e combinações das palavras nas frases, incluindo sua relação lógica - o que poderá ser exemplificado no extrato da sua fala no teste Recordação de História). Apesar destas dificuldades, a fala de Lucas era inteligível, sendo compreensível também para os professores, coordenadores, profissionais que atuam com Lucas na instituição na qual ele é atendido e a mãe do adolescente (todos foram questionados sobre tal habilidade). Observou-se apenas que em alguns momentos, Lucas procurava expressar uma ideia apressadamente e acabava gaguejando. Em relação à compreensão da linguagem (linguagem receptiva), Lucas também demonstrou compreender aquilo que se pretendia comunicar e as instruções dos testes. Foram raros os momentos em que Lucas solicitava a repetição das instruções fornecidas, principalmente porque este sempre se mostrou atento nos momentos de explicação e realização das tarefas. Os professores de Lucas também informaram que este parecia sempre compreender aquilo que lhe era pedido. Durante a observação na escola, verificou-se que Lucas conseguia copiar o conteúdo escrito no quadro para o seu caderno. No entanto, a professora informou que a sua cópia era bastante lenta, visto que ele escrevia letra por letra, o que reforça os dados obtidos nos testes acerca do rebaixamento da velocidade de processamento psicomotora. 104 Figura 5: Extrato do caderno de Lucas (cópia do quadro) Além disto, conforme é possível observar no extrato acima, Lucas comete diversos erros de ortografia, sendo sua cópia baseada puramente na reprodução dos símbolos gráficos das palavras e não no seu significado. 4.2.3. Memória Memória Visual (Visuoespacialidade e Visuoconstrução): Resultados Quantitativos para o teste das Figuras Complexas de Rey. Tabela 7: Resultados Quantitativos de Lucas para o teste Figuras Complexas de Rey Pontuação Classificação Cópia 21 Inferior Memória 12,5 Inferior Análise Qualitativa da Atividade O teste das Figuras Complexas de Rey pode ser utilizado para avaliar a memória visual (reprodução de memória), a habilidade de organização visuoespacial (cópia da figura), assim como aspectos do funcionamento executivo, tais como planejamento, desenvolvimento de estratégias e execução de ações. Na realização do 105 teste Figuras Complexas de Rey, tanto na cópia (21 pontos de um total de 36), quanto na reprodução de memória (12,5 pontos de um total de 36), o desempenho de Lucas foi classificado em patamares abaixo da média esperada para sua faixa etária. Faz-se necessário, neste momento, um parêntese para uma crítica à utilização não consciente destes instrumentos na avaliação de pessoas com deficiência intelectual (DI), uma vez que estes são padronizados para população de crianças e adolescentes com DT. Nesse sentido, é preciso ponderar que a interpretação dos resultados no caso da avaliação de pessoas com DI, exigirá adaptações. A utilização destes instrumentos quando desacompanhada de uma reflexão crítica pode induzir o avaliador a conclusões equivocadas e inferências errôneas. Conforme já discutido anteriormente, a comparação dos resultados de pessoas com SD com aquilo que é esperado para crianças de DT da mesma idade, não se constitui, muitas vezes, como o mais adequado, visto que é necessário que se leve em consideração que o desenvolvimento na SD é mais lento. O ideal seria comparar o desempenho destes indivíduos com sujeitos pareados de acordo com a idade mental. No entanto, como o objetivo do presente estudo não é fazer este tipo de comparação, nos centramos, neste momento, na análise qualitativa do tipo de cópia e reprodução de memória da Figura Complexa feita por Lucas, visto que uma análise desta natureza pode fornecer informações significativas em detrimento à consideração apenas da classificação na qual o adolescente se encaixa (inferior à média) segundo os dados normativos do instrumento para a população com DT. De acordo com a classificação sugerida por P. A. Osterrieth (Oliveira & Rigoni, 2010), o tipo de cópia realizado por Lucas refere-se à uma cópia do tipo IV. Neste tipo de cópia, o indivíduo justapõe os detalhes da figura pouco a pouco, como se estivesse montando um quebra-cabeça. Não existe, aqui, um elemento diretor da 106 reprodução, como seria o esperado e observado nos tipos de cópia I e II (nos quais o retângulo maior é tido como guia para o desenho como um todo). O conjunto desenhado, quando finalizado, é comumente reconhecível e pode estar até perfeitamente realizado. Este tipo de cópia a partir da justaposição de detalhes é a reação dominante em crianças de cinco a 10 anos. Sua frequência cresce dos quatro aos sete anos, atingindo seu máximo aos oito anos e diminui na idade adulta, quando atinge o seu mínimo, aparecendo apenas como tipo secundário (Oliveira & Rigoni, 2010). Nota-se, aqui, mais uma vez a presença de dificuldades referentes ao funcionamento executivo de Lucas, neste caso ressaltando as habilidades de planejamento. Na realização da cópia da figura, observou-se que Lucas iniciou o seu desenho a partir do triângulo retângulo (elemento 9)1, localizado acima do retângulo grande que constitui a armação principal. Este, por sua vez, não fica claramente definido nas figuras de Lucas. Em seguida, Lucas desenhou o quadrante superior do retângulo principal, o círculo com os três pontos, e o triângulo isósceles com o losango na sua extremidade. 1 Nota: A Figura Complexa de Rey dividida por elementos se encontra na página 311 dos Anexos. 107 Figura 6: Cópia de Lucas da Figura Complexa de Rey. Figura 7: Reprodução de memória de Lucas da Figura Complexa de Rey. Vários aspectos chamam a atenção tanto na cópia, quanto na reprodução de memória da figura de Lucas: 1. A ausência, tanto na cópia, quanto na reprodução de memória das duas diagonais contidas no retângulo central (conhecida como a cruz de Santo André), assim como a linha horizontal e vertical que dividem o retângulo em quadrantes; 108 2. A sobreposição de diversos elementos da figura (o que pode ser associado à omissão das diagonais do retângulo), observados nas duas cópias, mas principalmente na reprodução de memória; 3. A má posição de elementos importantes, como o triângulo isósceles e o pequeno losango situado na sua extremidade, assim como a localização das cinco linhas paralelas, que Lucas desenhou abaixo do triângulo isósceles na cópia (devido à ausência da diagonal) e numa posição invertida na reprodução de memória (próxima ao círculo com os três pontos); 4. A adição de alguns elementos ausentes na figura, como a segunda linha presente no triângulo isósceles da cópia (quando na figura original só observa-se a prolongação da linha horizontal do retângulo), e de diversos outros elementos na reprodução de memória (como os diversos quadrados desenhados); 5. A diagonal do pequeno retângulo no interior da armação, pois no lugar de desenhar um X, Lucas desenhou dois Vs invertidos. Observa-se que Lucas apresentou uma dificuldade na organização visuoespacial dos elementos da figura. Apesar de ter obtido um escore na média inferior nos subtestes do Índice de Organização Perceptual do WISC III, na reprodução da Figura Complexa, faltou à Lucas um planejamento ao desenhá-la, o que acabou levando-o a sobrepor os diversos elementos desta, culminando com uma cópia bem reconhecível, mas má organizada e com distorções. De acordo com Hamdan e Pereira (2009), o planejamento é considerado uma das mais importantes funções executivas, e consiste na capacidade de traçar mentalmente um trajeto do ponto A ao ponto B, sem que o indivíduo precise trabalhar concretamente com os elementos. A partir do que foi observado na cópia e reprodução de memória da Figura Complexa feita por Lucas, infere-se que uma dificuldade no 109 planejamento e de trabalhar de maneira abstrata com os elementos da figura antes de iniciar o desenho concreto, pode ter contribuído com os erros cometidos pelo adolescente, além das dificuldades na organização visuoespacial e memória visual. Memória Auditiva/Verbal: Resultados quantitativos para o Teste de Aprendizagem Auditivo-Verbal de Rey (Rey Auditory Verbal Learning Test- RAVLT). Tabela 8: Resultados Quantitativos de Lucas para o teste RAVLT Lista A1 A2 A3 A4 A5 Número de Palavras 02 04 04 07 09 B1 (Interferência) 03 A6 A7 07 08 Análise Qualitativa da Atividade Na sua primeira evocação (A1), Lucas lembrou-se apenas de duas palavras, quando o esperado para a sua idade é em média cinco palavras (Gomes, 2011). Em seguida, ocorreu um aumento progressivo no número de palavras evocadas, o que indica uma capacidade crescente de aprendizagem verbal do adolescente, apesar do número evocado ter ficado abaixo do esperado para sua faixa etária (ΣA1 + A2 (...) + A5 = 26; sendo a média para sua idade de 44,2 palavras). Lucas também apresentou estabilidade no processo da aprendizagem, visto que não houve perdas significativas de informações após a leitura da lista distratora (o máximo obtido foi nove palavras em A5, tendo recordado sete em A6 e oito em A7), o que mais uma vez indica que estas foram, de certa forma, corretamente codificadas e armazenadas. Um fato interessante no desempenho de Lucas nesta atividade refere-se à presença da intrusão de uma palavra e a perseverarão da repetição desta em praticamente todas as evocações. Apesar da palavra “guarda-chuva” não estar presente em nenhuma das listas, Lucas repetiu esta diversas vezes, desde a sua primeira 110 evocação. A presença de perseveração nesta atividade, identificada anteriormente no MCPR, sugere mais uma vez a presença de déficits em componentes executivos. A etapa de reconhecimento do RAVLT de Lucas não pode ser considerada enquanto uma medida válida. Com um tom de brincadeira, Lucas insistiu que todas as palavras desta etapa de reconhecimento (50 palavras) tinham sido evocadas, apesar de se ter ressaltado que ele deveria indicar apenas as palavras das duas listas que tinham sido pronunciadas. Memória Episódica (Imediata e Tardia): Teste de Memória Lógica - Recordação de História. O teste de Memória Lógica (Recordação de História) é uma atividade qualitativa amplamente utilizada na avaliação da memória episódica de curto e de longo prazo. Foi contada uma história2 (dividida em 30 trechos) para os adolescentes, sendo a tarefa destes recontá-la (com o maior número de detalhes possíveis) imediatamente após a sua leitura e, novamente, após 30 minutos da leitura da mesma. A cada trecho lembrado e evocado da história atribui-se um ponto. A seguir, estão reproduzidas as histórias recontadas por Lucas, tanto na etapa de memória imediata, quanto na de memória tardia. 2 Nota: História (dividida em trechos) utilizada: Três /homens/ roubaram /o carro /do Sr. João/, mas eles não sabiam/ que o cachorro dele/, Rex, /estava lá dentro./ Rex deitou/ atrás do banco /e ficou bem quietinho/. Os ladrões dirigiram / por um longo caminho/, estacionaram o carro/ numa rua/ quieta/ e foram almoçar./ Rex escapou/ e se escondeu /numa praça./ Uma senhora/ encontrou ele / e ligou / para o número/ que estava na coleira./ O Sr. João veio/ com a polícia./ Eles prenderam os ladrões/ e o Sr. João dirigiu para casa com Rex/. 111 Reprodução da fala de Lucas (memória imediata): “O carro foi assaltado, o cachorro tava no banco e os ladrões roubaram o carro, e ele foi almoçar. O cachorro fugiu, a mulher achou ele, a coleira tinha o número e ligou para o dono, chamou a polícia e ia prender o ladrão.” Reprodução da fala de Lucas (memória tardia):“Foi roubar o carro, o cachorro tava no banco do carro, ai ele foi para a lanchonete e o cachorro fugiu, a moça achou e ligou para o dono.” Análise Qualitativa da Atividade Conforme relatado na descrição inicial dos estudos acerca da memória na SD, o domínio da memória episódica tem sido frequentemente relatado como alterado em indivíduos com a síndrome (Carlesimo et al., 1997; Jarold et al., 2008). Neste teste, Lucas obteve uma baixa pontuação (13 pontos na memória imediata e 8 pontos na memória tardia, de um total de 30 pontos). No entanto, é possível observar que a história reproduzida pelo adolescente na memória imediata, apesar de algumas confusões, possui uma sequência temporal e espacial correta. Em relação à memória tardia, a pontuação de Lucas também foi baixa, tendo sido perdidas algumas informações em relação à evocação da memória imediata (8 pontos de um total de 30 pontos), apesar da história manter a coerência em relação à história original. Nesse caso, identifica-se que Lucas compreendeu a história, que ele reproduz a mesma de maneira lógica, mas que há pobreza em relação ao detalhamento dos elementos constituintes desta. 112 Memória Operacional: Dígitos (Ordem Inversa) e Tarefa de Memória Visual (Ordem Inversa). Conforme discutido na sessão de memória na SD, os estudos que investigaram o sistema de memória operacional nesta síndrome têm verificado diferenças em relação ao desempenho em testes que avaliam a alça fonológica (responsável pelo processamento de informações verbais) e o esboço visuoespacial (responsável pelo processamento de informações visuais), indicando um melhor desempenho desta população neste último componente (Carretti & Lanfranchi, 2010; Duarte et al., 2011; Jarrold et al., 2008; Lanfranchi et al., 2009; Laws, 2002; Silverman, 2007). Para avaliação da alça fonológica no presente estudo foi utilizado o subteste Span de Dígitos do WISC III. Já para a investigação do esboço visual, por sua vez, desevolveu-se uma tarefa de memória visual, semelhante ao instrumento Blocos de Corsi, ordem direta e inversa. Consoante com aquilo que é indicado na literatura, o número de acertos de Lucas nos testes que avaliam a alça fonológica foi inferior quando comparado ao teste que avalia o esboço visual. Na resolução do dígitos na ordem direta, Lucas só foi capaz de reproduzir uma sequência de dois dígitos. Na ordem inversa, Lucas não conseguiu reproduzir corretamente nenhuma sequência. Já na tarefa adaptada do Bloco de Corsi (descrita na subseção Instrumentos), Lucas conseguiu reproduzir corretamente uma sequência de quatro cores na ordem direta, e de duas cores na ordem inversa. Os resultados de Lucas estão de acordo com aquilo que é apontado na literatura, ou seja, uma maior habilidade de crianças, adolescente e adultos com SD em tarefas que envolvem o componente visuoespacial da memória operacional em detrimento do componente verbal (Carretti & Lanfranchi, 2010; Duarte et al., 2011; Jarrold et al., 2008; Lanfranchi et al., 2009; Laws, 2002; Silverman, 2007). 113 4.2.4. Atenção Atenção Seletiva e Alternada: Teste de Atenção por Cancelamento (TAC) (Montiel & Capovilla, 2007). Tabela 9: Resultados Quantitativos de Lucas para o TAC Parte 1 Parte 2 Parte 3 Acertos Erros Omissões 34 00 00 02 00 00 17 08 00 Pontos Classificação 34 Média Inferior 02 Média Inferior 17 Inferior Análise Qualitativa da Atividade Lucas ficou na média inferior para sua idade nas partes 1 e 2 do TAC (Mpt1 = 39,95; Mpt2 = 3,62) e abaixo da média para a parte 3 do teste (Mpt3 = 38) (Hazin et al., 2012). A primeira e segunda parte do teste avalia a atenção seletiva, isto é, a capacidade de atentar a um determinado estímulo dentre diversos outros disponíveis, sendo a segunda parte constituída de tarefa similar em nível maior de complexidade do que a primeira. A terceira etapa do teste avalia a atenção alternada, ou seja, a capacidade do indivíduo alternar o foco da atenção. Observou-se que na primeira linha desta parte, Lucas marcou não apenas os estímulos alvo (o traço), como também todos os estímulos que se assemelhavam ao traço (todas as cruzes). Na segunda linha, Lucas marcava além do estímulo alvo da linha (o triângulo), o estímulo alvo da linha seguinte (a estrela). Lucas pareceu, portanto, não compreender as instruções para essa terceira etapa do teste. 114 Figura 8: Protocolo do TAC (Parte 3) de Lucas. 4.2.5. Funções Executivas Planejamento – Figura Complexa de Rey O planejamento refere-se à capacidade de, a partir de um objetivo definido, estabelecer a melhor maneira de alcançá-lo, considerando-se a hierarquização dos passos e a utilização de instrumentos necessários para a conquista da meta (MalloyDiniz, Jardim, Loschiavo-Alvares, Fuentes & Leite, 2010). Na avaliação deste aspecto das FE, nos remeteremos aos resultados de Lucas no teste Figura Complexa de Rey. Conforme já discutido, os erros de planejamento cometidos por Lucas na sua cópia da Figura Complexa de Rey sugerem déficits do adolescente no planejamento e execução das ações. Seleção de Informações: Fluência Verbal (Semântica e Fonológica) Tabela 10: Resultados Quantitativos de Lucas para o Teste de Fluência Fonológica F 01 A 03 M 01 Tabela 11: Resultados Quantitativos de Lucas para o Teste de Fluência Semântica ANIMAIS 08 FRUTAS 09 Análise Qualitativa da Atividade Na etapa fonológica do teste de fluência verbal, o número de palavras evocadas por Lucas para cada uma das letras foi abaixo do esperado, com um máximo de três 115 palavras para a letra “A” e apenas uma palavra para as letras “F” e “M”. O desempenho rebaixado de Lucas na etapa fonológica desta atividade pode ser associado ao fato do mesmo ainda não ser alfabetizado (apesar de já reconhecer as letras adequadamente), o que acaba tornado esta atividade mais difícil para o adolescente, visto que, conforme Brucki, Malheiros, Okamoto e Bertolucci (1997) para um bom desempenho nesta atividade é necessário um vocabulário mais extenso do que o simples conhecimento de categorias semânticas bem definidas e comuns, tal como exige a etapa semântica do teste de Fluência Verbal. Observou-se ainda que o tempo de reação do adolescente foi elevado, visto que somente após alguns segundos ele começava a evocar as palavras. Por outro lado, o desempenho do Lucas foi melhor na etapa de fluência semântica, fato que está de acordo com a literatura, visto que a tarefa de Fluência s Semântica (notadamente a categoria animais) costuma ser mais fácil para a população em geral em comparação à tarefa de Fluência Fonológica. No entanto, apesar de ter obtido um melhor resultado no teste de Fluência Semântica (08 animais e 09 frutas), o desempenho de Lucas ficou abaixo da média para a sua faixa etária (média de 16 animais e 13 frutas). Estes resultados, por sua vez, também podem ser atribuídos a uma velocidade de processamento reduzida do adolescente, já anteriormente identificada. 4.2.6. Aspectos Comportamentais Child Behavior Checklist (CBCL) Em todas as escalas fornecidas pelo CBCL, a criança ou adolescente pode ser classificado como Clínica, Limítrofe ou Não-Clínica, de acordo com a amostra normativa de pares de Achenbach (1991, citado por Garzuzi, 2009). No entanto, essa classificação não representa um diagnóstico, e aponta apenas a categoria na qual a criança ou adolescente é classificado a partir de respostas fornecidas pelos pais. 116 A primeira escala fornecida pela CBCL refere-se à Escala de Competência Social, relacionada a problemas no desempenho de variadas atividades (brincadeiras, jogos, execução de tarefas), no relacionamento com pessoas (familiares, amigos) e desempenho escolar (Borsa & Nunes, 2008). Os resultados de Lucas para esta escala podem ser observados na Figura 9: Figura 9: Resultados de Lucas para a Escala de Competências Sociais Lucas classificou-se na faixa clínica nas atividades escolares, na faixa limítrofe no relacionamento social e não-clínica nas diversas atividades, classificando-se como clínico na Escala de Competências Totais. De fato, de acordo com informações fornecidas pela sua mãe, Lucas possui apenas dois a três amigos próximos, sendo todos estes seus primos. Já em relação ao seu desempenho acadêmico, como era de se esperar, o desempenho de Lucas nas diversas disciplinas é pior quando comparado aos adolescentes de mesma idade. Somado a isto, um fato que sua mãe enfatizou ao responder os itens qualitativos do instrumento, refere-se à falta de preparo das escolas, nas quais ele estudou, bem como dos seus professores, para trabalhar apropriadamente com a sua deficiência. 117 Na segunda escala fornecida pelo CBCL, a Escala de Síndromes (Figura 10) Lucas não se enquadrou na categoria clínica em nenhum perfil. Figura 10: Resultados de Lucas para a Escala de Síndromes. Do mesmo modo, nas escalas derivadas, a Escala de Problemas Internalizantes, a Escala de Problemas Externalizantes, e Problemas Totais (Figura 11), Lucas também não se enquadrou na categoria clínica. Figura 11: Resultados de Lucas para a Escala de Problemas Internalizantes, Escala de Problemas Externalizantes e Problemas Totais. Por último, na Escala Orientada pelo DSM-IV (Figuras 12 e 13), que classifica os dados segundo os perfis do DSM-IV (Manual Diagnóstico e Estatístico de 118 Transtornos Mentais 4º Ed), Lucas também classificou-se na categoria não-clínica em todos perfis. Figura 12: Resultados de Lucas para a Escala Orientada pelo DSM-IV. Figura 13: Resultados de Lucas para a Escala Orientada pelo DSM-IV. Observação na escola e entrevistas com profissionais 119 Lucas frequenta o quinto ano de uma escola particular, de médio porte, onde estuda com aproximadamente outros 30 alunos. Esta escola é paga pelo avô do adolescente, visto que a renda da sua mãe constitui-se apenas do benefício fornecido pelo governo. Ao longo de toda a observação, que durou uma tarde, constatou-se que o comportamento de Lucas foi tranquilo. No primeiro horário, as outras crianças estavam fazendo uma avaliação e Lucas aguardava ser chamado pela coordenadora para fazer, em uma sala a parte, a sua prova. Durante este tempo, Lucas permaneceu quieto, enquanto os colegas faziam a avaliação. Nos horários seguintes o comportamento de Lucas permaneceu tranquilo. Este ficou quieto na cadeira, mexendo ora no estojo, ora no caderno, não tendo interagido com nenhum colega em nenhum momento. Também não se observou a procura destes em interagir com Lucas. Após um outro professor ter copiado a agenda no quadro, Lucas começou a copiá-la, lentamente. De acordo com a entrevista com uma das professoras (professora de português), Lucas é um adolescente calmo. Segundo ela, ele possui uma ótima interação com todos os professores e é um menino muito carinhoso. Ainda de acordo com a mesma, os seus colegas de turma gostam muito dele e “o tratam como se fosse uma pessoa normal”. Em relação à aprendizagem do adolescente, a professora informou que quando este chegou na escola, há um ano, possuía muitas dificuldades. Suas habilidades evoluíram no decorrer do ano e ele agora consegue copiar do quadro, mesmo que seja letra por letra. As suas avaliações são adaptadas e ele realiza um trabalho específico para alunos com necessidades educativas especiais, com o objetivo principal de alfabetizar-se. 120 Já em relação às avaliações, estas são feitas de acordo com os conteúdos que são trabalhados em sala de aula, mas de maneira adaptada, baseados, em grande parte, em associações. Para a sua realização, a professora lê para Lucas a prova e ele responde oralmente ou indicando a resposta. Em relação à participação em atividades regulares da escola, desenvolvidas em contexto fora de sala de aula, a professora informou que Lucas participava das atividades, tendo participado e se saído bem em apresentações de dança e apresentações de seminários (apresentou, por exemplo, um seminário sobre o sistema nervoso). A professora informou, ainda, que Lucas possui uma agenda com atividades especiais e que ela copia no quadro a agenda dos outros alunos e em seguida, a agenda de Lucas. A partir de um certo momento, ela notou que Lucas começou a querer copiar a agenda dos outros alunos e não a sua. Segundo ela, Lucas ficava triste porque a sua agenda era diferente. Ele começou a reclamar também quando a professora apagava do quadro a agenda dos outros alunos antes dele ter terminado de copiá-la, visto que ele era mais lento. Várias vezes a professora pontuou que Lucas era um adolescente bastante sensível. Segundo ela, os professores precisam ter muita habilidade para mandar ele fazer algo ou recriminar algum comportamento errado, visto que “por qualquer coisinha ele chora” e “fica logo com os olhos cheios de lágrimas”. Ela contou também de um episódio no qual Lucas ficou muito triste. Ele gostava de uma colega de turma e começou a trazer-lhe chocolates todos os dias. Mas a menina sempre recusava os seus presentes e dizia rudemente que não queria. Um dia Lucas começou a chorar após a recusa da menina. Cruzando as informações obtidas junto à escola com as informações fornecidas pela mãe de Lucas, observou-se que algumas não coincidiram. A mãe do adolescente 121 relatou muita dificuldade em encontrar uma escola que se preocupasse verdadeiramente com a sua educação. Durante muito tempo, Lucas estudou numa escola próxima ao seu bairro e segundo a mãe esta era uma escola razoável. No entanto ela teve que trocá-lo de escola e neste novo colégio o menino retrocedeu bastante, devido, principalmente ao desinteresse dos educadores. Não havia nenhuma preocupação com a educação do menino e ele só frequentava as aulas, nunca eram feitas atividades com ele. Insatisfeita com a situação, a mãe acabou trocando de escola, colocando-o na atual. A mãe informou gostar da escola atual, no entanto, ainda observa falhas e é insatisfeita com diversos pontos. Mostrando o caderno de Lucas ela disse que acredita que grande parte das atividades ali contidas não é o adolescente que responde, e sim os próprios professores. Segundo ela, deveriam ser trabalhados conceitos básicos com o menino e exemplificou mostrando uma atividade feita (de acordo com ela, não pelo menino) sobre fração. Ela acredita que este é um assunto muito complexo para Lucas, visto que ele ainda não domina as operações básicas de matemática. A mãe de Lucas informou, ainda, que neste novo ano irá cobrar mais da escola em relação à evolução da aprendizagem do seu filho. 4.2.7. Aspectos Sócio-Afetivos Desenho Estória com Tema De todos os testes utilizados na presente avaliação, o teste de Desenho Estória foi o único que Lucas negou-se inicialmente a fazer. Quando solicitado a fazer um desenho cujo tema fosse “Eu e minha família”, Lucas recusou-se a desenhar. Questionado o porquê dele não querer desenhar a sua família, Lucas afirmou apenas que tinha vergonha. Após algumas perguntas, confessou que sentia vergonha do seu pai porque ele “fumava e bebia”. 122 A mãe de Lucas confirmou o fato do seu pai beber. Segundo ela, ele é alcoolista e o contato que mantém com o menino é raro. O seu núcleo familiar resumese à sua mãe, seu avô, uma tia mais próxima e os seus filhos, além da sua avó paterna. Sobre esta última, a mãe informou que no início Lucas mantinha pouco contato, visto que não existia interesse nenhum da família paterna em conviver com Lucas. No últimos anos essa situação tem mudado um pouco e a avó paterna procurou uma aproximação. Segundo a mãe de Lucas, o menino faz agora visitas esporádicas à esta avó, ficando muito feliz quando isto acontece, apesar de, ainda de acordo com a mãe, esta avó não ser muito carinhosa com o adolescente. Quando solicitado a fazer um desenho cujo tema fosse “eu e meus amigos”, Lucas também se recusou de início, tendo aceitado posteriormente a fazer o desenho: Figura 14: Desenho de Lucas cujo tema foi “Eu e meus amigos”. Questionado sobre este desenho, Lucas afirmou que a figura humana maior era ele, e as outras seis representações humanas do seu lado direito eram os seus amigos. No entanto, quando perguntado o nome de algum desses amigos, Lucas não soube dizer nenhum. Após um momento, Lucas disse que um dos meninos era Diego, um colega que estudava na mesma sala que ele, e que era o seu único amigo na escola. 123 No dia da observação na escola, perguntou-se à professora se Lucas possuía algum amigo próximo e quem era esse amigo. A professora afirmou que era Diego, o mesmo menino citado por Lucas e indicou quem era. Apesar das informações de que Diego era o amigo mais próximo de Lucas, observou-se que os dois sentavam-se distantes, não tendo conversado em nenhum momento. Lucas permaneceu o tempo todo solitário, sem interagir com nenhum dos colegas de sala. É possível observar que Lucas é um adolescente bastante solitário. Segundo informações de sua mãe no CBCL, Lucas possui apenas dois amigos próximos, sendo estes seus primos. No entanto, ao desenhar os seus amigos, Lucas não apontou estes primos e quando questionado sobre o assunto, afirmou que não brincava nem conversava com eles, visto que quando fazia visitas à casa deles, seus primos ficavam o tempo todo da visita no computador e não o chamavam para brincar. Conforme apontado pela professora de Lucas, ele é um menino muito sensível. Observou-se que a sua expressão mudou ao ser questionado sobre estes assuntos (amigos e família), tendo respondido com a cabeça baixa a maior parte do tempo. Percebe-se, portanto, que ambos os temas mobilizaram emocionalmente o adolescente, sendo estes temas sobre os quais Lucas sente uma certa dificuldade em falar. Lucas também se recusou inicialmente a desenhar a sua escola dizendo que “não gosta” dela. Num segundo momento, aceitou desenhá-la, mas não quis contar uma história, nem falar nada sobre o desenho. 124 Figura 15: Desenho de Lucas cujo tema foi “Eu e minha escola”. 4.3. Adolescente 2 – Pseudônimo Larissa A segunda adolescente apresentada trata-se de Larissa, uma menina de 13 anos, aluna do 3° ano do ensino fundamental uma escola particular (de pequeno porte) da cidade de Natal. Larissa mora com a sua mãe (uma dona de casa), seu pai (eletromecânico) e seus dois irmãos, ambos mais velhos. A renda da família é de aproximadamente quatro salários mínimos. Desde pequena, Larissa foi acometida por diversos problemas de saúde. Assim que nasceu, a menina teve uma parada cardiorespiratória. Posteriormente, aos oito anos de idade, Larissa teve que se submeter a uma cirurgia no pulmão, devido aos problemas respiratórios constantes que ela apresentava. Outro comprometimento clínico de Larissa é a doença celíaca (intolerância ao glúten). Atualmente a adolescente também faz um tratamento para a glândula tireóide. Devido a problemas de hipotonia muscular, Larissa só começou a andar aos dois anos e nove meses de idade. Desde os três meses, porém, a menina iniciou os tratamentos, tendo feito fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagogia e psicologia. Atualmente, Larissa é atendida por profissionais da 125 fonoaudiologia e psicopedagogia do Centro de Reabilitação Infantil (CRI) da cidade de Natal. O comportamento de Larissa durante as avaliações, semelhante ao Lucas, foi sempre calmo e atencioso. A adolescente também demonstrou interesse em realizar as atividades, não tendo se recusado a fazer nenhuma. Um fato que chamou atenção ao longo de todas as sessões refere-se à atitude falante da menina. Antes de iniciar as atividades, Larissa sempre reservava um tempo inicial da sessão para contar histórias (como o que tinha feito durante a semana). Em conversa com sua mãe, esta informou que Larissa também apresenta esse comportamento em casa e em outros ambientes, gostando de contar muitas histórias e fantasiar bastante. A seguir serão apresentados os resultados da avaliação neuropsicológica de Larissa: 4.3.1. Nível intelectual Resultados Quantitativos do WISC III Tabela 12: Resultados Quantitativos de Larissa nos Subtestes do WISC III Escala verbal Escore Bruto Escore ponderado Escala de Execução Escore Bruto Escore Ponderado Informação 05 01 Completar figuras 08 01 Semelhanças 04 04 Código 34 06 Aritmética 09 01 Arranjo de figuras 03 01 Vocabulário 12 04 Cubos 10 04 Compreensão 04 01 Armar objetos 23 08 Dígitos (07) (04) Procurar símbolos (10) (02) 126 Tabela 13: Resultados Quantitativos de Larissa nos Índices de QIs do WISC III Escalas Soma dos Pontos Ponderados QI/Índices Interpretação Verbal 11 51 Deficiência intelectual Execução 20 58 Deficiência Intelectual Total 31 51 Deficiência Intelectual Compreensão Verbal 10 55 Deficiência Intelectual Organização Perceptual 14 58 Deficiência Intelectual Resistência à Distração 05 56 Deficiência Intelectual Velocidade de Processamento 08 67 Deficiência Intelectual Análise Qualitativa da Atividade Todos os escores de QIs de Larissa classificaram-se na faixa de deficiência intelectual, sendo o seu QI Total = 51. Na Escala Verbal (QIv = 51), a adolescente fez ao todo 11 pontos ponderados. Já na Escala de Execução (QIe = 58), Larissa obteve uma pontuação ponderada de 20 pontos. Observa-se, portanto, uma diferença entre os resultados nas duas escalas, no qual, semelhante à Lucas, Larissa obteve os melhores escores nos subtestes que integram a Escala de Execução. No entanto, esta discrepância de nove pontos, não é significativa. A análise a partir dos Índices Fatoriais também revela uma diferença sutil entre os Índices de Compreensão Verbal (QI = 55) e Organização Perceptual (QI = 58). Além disso, um fato que chama atenção refere-se ao seu escore no Índice de Velocidade de Processamento (QI = 67), o maior escore de Larissa no instrumento. Em relação ao seu desempenho nos subtestes que compõem o Índice de Compreensão Verbal (CV) observa-se que foi no subteste Vocabulário que Larissa obteve o seu maior escore (Pontos brutos = 12; Ponderados = 04). O desempenho de Larissa não só neste, como nos outros subtestes do Índice de Compreensão Verbal (CV) 127 diferencia-se dos outros adolescentes participantes da pesquisa por sua demasiada verbalização. Ao contrário dos demais adolescentes, Larissa sempre procurava responder aos itens, tentando explicar ao máximo o que entendia. Esta característica comportamental é exemplificada na atitude de Larissa ao longo da execução das tarefas verbais do WISC III, como por exemplo no subteste Vocabulário, no qual se identifica que Larissa fornece respostas bem elaboradas para diversos itens (Ex: Item 2: “O que é um Relógio?” Larissa responde: “É para ver as horas, para colocar no braço (...)”; Item 3: “O que é um Ladrão?” R: “é que dá tiro, mata, fica preso (...)”; Item 6: “O que é uma vaca?” R: “faz mom, se come a vaca”). Em relação ao desempenho de Larissa no subteste Compreensão (Pontos brutos = 04; Ponderados = 01), também integrante do Índice de Compreensão Verbal (CV) é possível observar o pouco conhecimento da adolescente acerca de regras básicas do convívio social, além de uma postura autocentrada da mesma. No Item 2 (“O que você faria se encontrasse uma bolsa ou uma carteira de alguém em uma loja?”), por exemplo, Larissa respondeu que ficaria com ela. Já no Item 5 (“O que você faria se visse sair fumaça pela casa do seu vizinho?”), Larissa respondeu que fecharia a sua janela. Neste subteste, Larissa acertou somente o item 1 (“O que você faria se desse um corte no dedo” R: “colocaria algodão e bandaid”) e o item 4 (“Por que os carros devem ter cinto de segurança” R: “para segurar, por conta da polícia...”). Em relação aos subtestes que compõem o Índice de Organização Perceptual (QI = 58), do mesmo modo que Lucas, o melhor desempenho de Larissa foi no subteste Armar Objetos (Pontos brutos = 23; Ponderados = 08). Nos três primeiros itens (Menina, Carro e Cavalo), Larissa conseguiu fazer todas as junções corretamente, num tempo inferior ao tempo limite estabelecido. Nos dois últimos itens (Rosto e Bola), Larissa usou todo o tempo disponível e, ainda, não conseguiu realizar todas as junções 128 corretamente. Conforme mencionado anteriormente, nos subtestes que compõem este domínio, a pontuação é dada em função da rapidez com que o indivíduo executa a tarefa. Desta forma, do mesmo modo que Lucas observa-se que esta variável (o tempo de execução da atividade) acaba mascarando a real habilidade da adolescente, visto que a velocidade de processamento da mesma classificou-se em patamares abaixo da média para a sua faixa etária. No subteste Completar Figuras (Pontos brutos = 08; Ponderados = 01) que avalia o reconhecimento de objetos, discriminação visual e habilidade para diferenciar detalhes, apesar de Larissa ter obtido uma baixa pontuação, a sua grande verbalização também fica evidenciada, pois em muitos itens, apesar da adolescente não ter respondido corretamente, esta procurava sempre dizer primeiramente o que era a figura e em seguida apontava os aspectos que ela considerava que poderiam estar ausentes, em alguns casos dando respostas até plausíveis (Ex: Item 20: Ao ser questionada sobre qual parte estava faltando na figura abaixo, Larissa respondeu “A barba”, quando a resposta correta seria a sobrancelha do homem). Figura 16: Item 20 do subteste Completar Figuras do WISC III. Um aspecto que chama atenção nos resultados de Larissa refere-se ao seu maior escore obtido no instrumento, a saber, no Índice Velocidade de Processamento 129 (QI = 67), apesar deste escore ainda ser classificado na faixa de deficiência intelectual de acordo com a sua faixa etária. No subteste Código (Pontos brutos = 34; Ponderados = 06), por exemplo, Larissa obteve o maior escore dentre todos os adolescentes avaliados, não cometendo nenhum erro. Figura 17: Extrato do subteste Código do WISC III feito por Larissa Resultados do Matrizes Progressivas Coloridas de Raven (MPCR). Tabela 14: Resultados Quantitativos de Larissa para o MPCR A 08 Ab 06 B Discrepância 04 Somatório 18 0;0;0 Análise Qualitativa da Atividade No teste MPCR, Larissa acertou ao todo 18 problemas (de um total de 36), ou seja, metade dos problemas apresentados. Na série A, a adolescente acertou oito dos 12 problemas; na série Ab, seis problemas (a primeira metade, de A1 a A6); e na série B, a adolescente só acertou quatro problemas. A análise dos tipos de erros cometidos pela adolescente indicou que a maioria destes (12 erros de um total de 18) foram do tipo III (Repetição do Padrão), sendo seis do tipo III – h, ou seja erros nos quais a alternativa selecionada reproduz o padrão situado exatamente à esquerda do espaço a completar. Dos outros erros cometidos pela 130 adolescente, cinco foram erros do tipo II (de Individuação Inadequada), e um do tipo IV (Correlato Incompleto). Figura 18: Extrato do problema B5 do MPCR. A alternativa correta seria a 1. No problema acima (B5), Larissa selecionou a alternativa 3, constituindo-se um erro do tipo III – h, o erro mais frequente cometido pela adolescente. Este exemplo indica, assim como os outros erros cometidos pela adolescente, dificuldades desta em compreender como se daria a resolução correta dos problemas apresentados, visto que ela apenas selecionou um dos itens já presentes na figura e não o item que a completaria. Em sua grande maioria, os resultados de Larissa demonstram, ainda, dificuldades da adolescente em apreender mudanças análogas em figuras que estão relacionadas espacialmente e logicamente. 4.3.2. Linguagem Dentre os adolescentes participantes da pesquisa, Larissa é uma das únicas que já é alfabetizada. Na resolução das atividades do subteste de Avaliação da Leitura do Protocolo Qualitativo Lapen, Larissa conseguiu identificar todas as letras e, quando solicitado que esta falasse alguma palavra iniciada pelas letras que estava lendo, Larissa 131 também foi capaz de associar palavras a todas as letras (ex: J - José; R - Rita; F - Foca; Q - Queijo; U - Uva; A – Amor; V – Vaca; G – Gato; M – Mala; T – Tatu). Na etapa seguinte, de leitura de sílabas, Larissa também leu todas as sílabas corretamente e associou palavras iniciadas pelas sílabas lidas (ex: CA - Caju; RE – Régua; DA – Dado; PI – Pinha; TO – Tomate; BU – Bubu; GA – Gato; NO – Nome; SA – Sapo). Larissa também foi capaz de ler todas as palavras e pseudopalavras do subteste, ainda que estas últimas, Larissa tenha lido lentamente, sílaba por sílaba. Na etapa de leitura das frases, Larissa lia palavra por palavra e também lentamente. De acordo com conversa com seu professor, a adolescente aprendeu a ler há pouco tempo. Conforme já mencionado, a personalidade falante de Larissa chamou atenção. Antes de iniciar as atividades, Larissa sempre reservava um momento para contar algumas histórias. Eram comuns seus relatos de passeios a um sítio que pertence à sua família. Nem sempre, porém, o relato da adolescente era compreensível. Observou-se que a linguagem expressiva da adolescente encontrava-se prejudicada em termos de articulação das palavras nas frases e à organização do seu discurso, no que diz respeito à orientação espaço temporal e sequenciamento lógico das ideias. Frequentemente, por exemplo, Larissa começava a relatar algo, como as diversas atividades e brincadeiras que fazia no sítio da sua família, no entanto, devido à má organização sintática das frases e ausência de enlaces lógicos entre os enunciados, o relato de Larissa acabava tornando-se pouco compreensível e incoerente. No que diz respeito à compreensão da linguagem (linguagem receptiva), Larissa comumente demonstrava compreender o que estava sendo comunicado e as instruções dos testes. Já em relação à escrita, conforme pode ser observado na Figura 19, a adolescente ainda comete diversos erros e troca de letras ao escrever as palavras. 132 Figura 19: Extrato do caderno de Larissa 4.3.3. Memória Memória Visual (Visuoespacialidade e Visuoconstrução): Resultados Quantitativos para o teste Figura Complexa de Rey Tabela 15: Resultados Quantitativos de Larissa para o teste Figura Complexa de Rey Pontuação Classificação Cópia 24 Inferior Memória 09 Inferior Análise Qualitativa da Atividade No teste Figura Complexa de Rey, que avalia a organização visuoespacial e a memória visual, Larissa fez 24 pontos (de um total de 36) na etapa de cópia, e nove pontos (de 36) na de reprodução de memória, sendo os seus desenhos classificados como abaixo da média. A classificação do seu tipo de desenho (por onde se começa a cópia) é do Tipo III, que se caracteriza pela execução inicial do contorno geral da figura, seguido pela cópia dos detalhes. Este tipo de figura não é dominante em nenhuma idade, porém, aparece ao longo de todas as faixas etárias, como tipo de cópia secundário. Aos 10 anos, tem a sua frequência máxima e no adulto é raro de se observar (Oliveira & Rigoni, 2010). 133 Figura 20: Cópia de Larissa da Figura Complexa de Rey Figura 21: Reprodução de memória de Larissa da Figura Complexa de Rey Apesar de classificar-se abaixo da média em relação aos dados normativos da população com DT da amostra brasileira, a cópia da figura de Larissa foi a melhor (em termos de pontuação, localização dos itens e detalhes) dentre a de todos os adolescentes avaliados, sendo a cópia que mais se aproximou da figura original. De maneira geral, Larissa desenhou os aspectos mais importantes da figura, numa proporção e localização adequadas. Apesar disto, sua cópia e reprodução de memória chamam a atenção por alguns aspectos: 134 1. A ausência, tanto na cópia, quanto na reprodução de memória das duas diagonais contidas no retângulo central (conhecida como a cruz de Santo André); 2. A localização invertida das quatro linhas horizontais localizadas originalmente no quadrante superior esquerdo (elemento 8), as quais Larissa desenhou no quadrante superior direito, além de ter feito seis linhas; 3. A imprecisão de aspectos importantes da figura, tal como o losango no vértice do triângulo (elemento 14), o qual Larissa desenhou um triângulo de cabeça para baixo; 4. A ausência de diversos detalhes importantes da figura e a imprecisão de outros, no que se refere principalmente à localização, na reprodução de memória feita por Larissa, a qual ficou muitos pontos abaixo da sua cópia (15 pontos a menos), o que indica a perda de informações que não chegaram a ser armazenadas na memória. Os erros cometidos por Larissa na etapa de cópia do teste Figuras Complexas de Rey indicam a falta de um planejamento mental inicial da figura antes de se partir para a sua execução, semelhante ao que ocorreu com Lucas. Desta forma, provavelmente, as dificuldades da adolescente nesta atividade podem ser atribuídas à déficits no seu funcionamento executivo. A falta de planejamento, por sua vez, termina impactando na memória, pois não há a composição de uma figura mental que será posteriormente armazenada. Memória Auditivo/Verbal: Resultados Quantitativos para o Teste de Aprendizagem Auditivo-Verbal de Rey (Rey Auditory Verbal Learning Test - RAVLT). 135 Tabela 16: Resultados Quantitativos de Larissa para o teste RAVLT Lista A1 A2 A3 A4 A5 Número de Palavras 02 02 05 07 09 B1 (Interferência) 01 A6 A7 06 07 Análise Qualitativa da Atividade O desempenho de Larissa no teste RAVLT evidencia um aumento progressivo no número de palavras evocadas (curva ascendente de aprendizagem), o que indica uma codificação adequada dos estímulos. Apesar de lembra-se apenas de duas palavras na lista A1, o número de palavras evocadas por Larissa aumenta progressivamente até chegar a um máximo de nove palavras em A5. Do mesmo modo, mesmo tendo havido perdas de até três palavras após a evocação da lista distratora, Larissa ainda foi capaz de recordar seis palavras em A6 e sete em A7, o que sugere manutenção da aprendizagem, mesmo em contexto de apresentação de estímulos distratores, bem como da passagem do tempo (memória de longo prazo). Ao todo, o número de palavras evocadas por Larissa (ΣA1 + A2 (...) + A5) foi de 25 palavras, sendo a média para sua idade de 44,2 palavras (Gomes, 2011), número, portanto, abaixo da média. Já em relação à etapa de reconhecimento, Larissa reconheceu corretamente 20 palavras (quando a média para sua idade são 22 palavras), ficando, portanto, dentro da variação normal. Memória Episódica (Imediata e Tardia): Teste de Memória Lógica - Recordação de História (Miranda, 2004). Reprodução da fala de Larissa (memória imediata) “Três homens pegaram o carro, pegou Rex, o cachorro, eles foram almoçar, o cachorro estava atrás do banco e ficou na praça.” 136 Reprodução da fala de Larissa (memória tardia) “Três homens pegou o carro, o cachorro tava o banco, os três caras saíram para almoçar, eles correram, a casa, pegou o cachorro.” Análise Qualitativa da Atividade Na etapa de memória imediata a pontuação de Larissa foi nove pontos (de um total de 30 pontos). Observa-se pelo extrato acima que a adolescente não conseguiu recordar-se de diversos aspectos importantes da história, tendo se fixado apenas em alguns fatos isolados que recordou (o cachorro, o nome do cachorro, Rex). Larissa não conseguiu apreender a história em si numa sequência de início, meio e fim, como, de certa forma, Lucas conseguiu reproduzir. Em relação ao seu desempenho na etapa de memória tardia, Larissa também fez uma baixa pontuação, apenas sete pontos de um total de 30. O desempenho de Larissa nesta atividade revela dificuldades da adolescente em recordar-se de uma história contextualizada e que exige, portanto, uma organização lógico-temporal do pensamento. Memória Operacional: Dígitos (Ordem Inversa) e Tarefa de Memória Visual (Ordem Inversa). A pontuação de Larissa no subteste Dígitos do WISC III, Ordem Direta, foi de cinco pontos, (Pontuação = 5; Span = 4). Na ordem inversa, Larissa fez dois pontos, span de dígitos de dois números (Pontuação = 2; Span = 2). Vale ressaltar que apenas o Dígitos, Ordem Inversa, é considerada uma medida de memória operacional (envolvendo o domínio da alça fonológica), sendo a Ordem Direta uma medida de memória auditivo-verbal e atenção verbal. Em relação ao seu desempenho na Tarefa de 137 Memória Visual, Larissa foi capaz de reproduzir corretamente uma sequência de quatro cores na ordem direta (Pontuação = 6; Span = 4), e de três cores na ordem inversa (Pontuação = 3; Span = 3). Os resultados de Larissa para estes testes que investigam o domínio da memória operacional, semelhante ao de Lucas, também estão de acordo com o apontado na literatura, visto que Larissa se saiu melhor em atividades que envolvem o esboço visuoespacial, do que tarefas que mobilizam a alça fonológica. 4.3.4. Atenção Atenção Seletiva e Alternada: Teste de Atenção por Cancelamento (Montiel & Capovilla, 2007). Tabela 17: Resultados Quantitativos de Larissa para o TAC Acertos Erros Omissões Pontos Classificação Parte 1 17 00 00 17 Inferior Parte 2 01 03 00 01 Inferior Parte 3 23 00 00 23 Inferior Análise Qualitativa da Atividade O desempenho de Larissa no TAC ficou abaixo da média para sua idade em todas as partes do teste (Mpt1 = 39,95; Mpt2 = 3,62; Mpt3 = 38) (Hazin et al., 2012). Um aspecto que chamou atenção na execução deste teste por Larissa refere-se à sua demasiada lentificação, sobretudo na Parte 1 do teste, dado que contrasta com o seu desempenho em outro subteste utilizado na sua avaliação, o Código do WISC III, integrante do Índice de Velocidade de Processamento, no qual Larissa obteve o seu melhor escore. Apesar de ambas as tarefas envolverem o domínio da atenção, velocidade de processamento, atividade motora e memória, estas são atividades 138 diferentes, e, principalmente, o tempo disponível para a execução do subteste Código do WISC III é o dobro para cada uma das partes do TAC, fato que pode ter contribuído para melhor desempenho da adolescente na primeira tarefa. Este dado chama a atenção para o fato de que ao ser oferecido um tempo maior, o desempenho da adolescente parece ser beneficiado. Por sua vez, isso remete também a uma habilidade executiva, que é a de iniciar a atividade, ou seja, o tempo de reação da adolescente parece ser alto, com a performance dela melhorando com o passar do tempo. 4.3.5. Funções Executivas Planejamento: Figura Complexa de Rey Remetendo-se ao desempenho de Larissa no teste das Figuras Complexas de Rey, os erros cometidos pela adolescente sugerem déficits no seu funcionamento executivo, a saber, na capacidade de planejamento. Seleção de Informações: Fluência Verbal (Semântica e Fonológica) Tabela 18: Resultados Quantitativos de Larissa para o Teste de Fluência Fonológica F 03 A 01 M 02 Tabela 19: Resultados Quantitativos de Larissa para o Teste de Fluência Semântica ANIMAIS 08 FRUTAS 07 Análise Qualitativa da Atividade Do mesmo modo que Lucas, observou-se que o tempo de reação de Larissa nesta atividade foi elevado, visto que a adolescente demorava bastante tempo para iniciar a evocação das palavras. Este fato, por sua vez, pode ter contribuído com o baixo desempenho da adolescente nesta tarefa. Larissa evocou apenas uma palavra para a letra 139 “A”, três para a letra “F” e duas palavras para a letra “M”. Na etapa de Fluência Semântica, o desempenho de Larissa foi melhor do que na primeira etapa, apesar do número de palavras evocadas também ter ficado abaixo do esperado para sua idade (16 animais e 13 frutas). A adolescente evocou apenas os nomes de oito animais e sete frutas. 4.3.6. Aspectos Comportamentais Child Behavior Checklist (CBCL) Na Escala de Competência Social (Figura 22), Larissa classificou-se na faixa limítrofe nas atividades escolares, e em não-clínica no relacionamento social e atividades diversas. No entanto, classificou-se como clínica na Escala de Competências Totais. Figura 22: Resultados de Larissa para a Escala de Competência Social. Por sua vez, na Escala de Síndromes (Figura 23), Escala de Problemas Internalizantes, Escala de Problemas Externalizantes, e Problemas Totais (Figura 24), assim como na Escala Orientada pelo DSM-IV (Figuras 25 e 26) Larissa não se enquadrou na categoria clínica em nenhum perfil. 140 Figura 23: Resultados de Larissa para a Escala de Síndromes. Figura 24: Resultados de Larissa para a Escala de Problemas Internalizantes, Escala de Problemas Externalizantes, e Problemas Totais. 141 Figura 25: Resultados de Larissa para a Escala Orientada pelo DSM-IV. Figura 26: Resultados de Larissa para a Escala Orientada pelo DSM-IV. Observação na escola e entrevistas com pais e profissionais Larissa é aluna de uma turma do 3° ano do ensino fundamental de uma escola particular (uma escola de bairro) da cidade de Natal. Ela estuda nessa escola há bastante tempo (cerca de cinco anos). Apesar de já estar com 13 anos, Larissa ainda é mantida em uma turma do 3° ano, devido à escolha dos próprios pais, que acreditam que desta forma ela irá conseguir aprender melhor. 142 A turma de Larissa é uma turma pequena, com nove alunos. Larissa senta-se na frente, próxima à mesa do professor. Este ensina a menina há dois anos. Durante a observação em sala de aula, que durou aproximadamente uma manhã, o comportamento de Larissa foi sempre tranquilo. Neste dia, o professor havia ensinado um novo conteúdo e as crianças estavam copiando a matéria do quadro. Segundo o professor, Larissa prestou atenção à explicação e quando iniciada a observação ela estava copiando, lentamente, o conteúdo. Na hora do intervalo, Larissa ficou em sala de aula, ainda terminando de copiar a matéria do quadro. Segundo o seu professor, durante os intervalos Larissa constantemente fica isolada, apenas observando as outras crianças brincarem ou, às vezes, conversando com algum funcionário da escola. Larissa mantém uma boa relação com o seu professor. Sobre sua interação com os colegas de turma, ele informou que esta não é muito boa, devido, principalmente, à diferença de idade (Larissa tem 13 anos e os seus colegas entre oito e nove anos). Ainda de acordo com o professor os colegas de turma até procuram interagir com a adolescente, mas raramente Larissa responde aos seus chamados. A interação somente é maior quando Larissa é inserida em grupos de trabalho durante as aulas. Em relação à sua aprendizagem, seu professor considera que Larissa tem tido uma boa evolução (dentre os adolescentes participantes da pesquisa, Larissa é uma das únicas alfabetizadas), apesar de considerar que ela poderia ter avançado mais. Larissa apresenta dificuldades em todas as disciplinas, e principalmente na leitura e escrita. Segundo o professor, Larissa não consegue interpretar um texto, e em algumas disciplinas (como história e geografia), necessita de um reforço adicional. Ainda segundo o mesmo “sua dificuldade é maior em disciplinas que envolvem aspectos conceituais”. 143 O professor informou ainda que as aulas são preparadas para a turma e durante o desenvolvimento da mesma ele tenta fazer o possível para inserir Larissa. Ele também procura pedir a colaboração dos colegas para ajudar a menina nas atividades. Segundo o professor, Larissa ainda é imatura para a sua idade. Ela copia a matéria lentamente e ainda “brinca” com a escrita (Ex: escreve uma linha e pula quatro). Um queixa bastante relatada pelo professor de Larissa refere-se à falta de um apoio e uma colaboração mais ativa por parte da família da adolescente. Segundo ele, a família de Larissa não estimula adequadamente a menina e não a incentiva a fazer as atividades. Quando é mandado algum exercício para casa, frequentemente Larissa não o faz e os pais dão desculpas dizendo que é porque ela é “muito preguiçosa” e “muito teimosa”. Para ele, falta firmeza dos pais ao exigir que Larissa cumpra os seus deveres, além de um empenho maior para que a aprendizagem de Larissa evolua. 4.3.7. Aspectos Sócio-Afetivos Semelhante ao que ocorreu ao longo de todos os encontros, na sessão destinada à elaboração dos desenhos-estórias Larissa falou bastante, tanto que a aplicação total da técnica teve que ser distribuída em duas sessões. Conforme mencionando, ao início de todos os encontros Larissa sempre gostava de falar sobre variados assuntos, tendo que ser interrompida em um determinado momento para iniciar as tarefas. Nos dias destinados à técnica do Desenho Estória, Larissa teve tempo livre para contar aspectos da sua vida escolar, familiar e rede de amizades, e esta aproveitou toda a sessão para contar diversas histórias. O primeiro desenho trabalhado com Larissa foi o desenho com o tema “Eu e minha escola”: 144 Figura 27: Desenho de Larissa de tema “Eu e minha escola”. Ao falar do desenho da sua escola, Larissa expôs um cenário que não se confirmou no dia da observação. Larissa falou com entusiasmo da sua escola, dizendo que “gosta de ir para escola, porque tem parque, tem brinquedo e porque encontra as amigas”. Duas meninas foram citadas, “Bia” e “Gabriela”. Segundo Larissa, estas são suas melhores amigas. Larissa falou que senta-se perto das duas e que no intervalo “as três brincam de Barbie”. No dia da observação na escola, porém, quando perguntou-se ao seu professor se Larissa possuía algum amigo(a) mais próximo este negou. Ele informou que Larissa mantêm-se isolada, e só interage com os colegas raramente, quando inserida em grupos de trabalho. Nestes grupos, comumente, Larissa fica com as duas meninas citadas no seu desenho, que segundo o professor, são duas alunas bastante tímidas e caladas. É posível observar que Larissa parece ter fantasiado acerca do seu ambiente escolar, pois o que para ela parece ser uma ligação forte de amizade com as duas meninas, não se confirmou durante a observação e pelo relato do professor. Larissa também descreveu o ambiente escolar como um espaço de brincadeiras e descontração, entretanto, isto não foi observado, nem confirmado pelo seu professor, 145 visto que a menina frequentemente mantêm-se em sala de aula no intervalo, lanchando, ou observando as outras crianças brincarem. O segundo desenho feito por Larissa foi o desenho cujo tema foi “Eu e minha família”: Figura 28: Desenho de Larissa de tema “Eu e minha família”. No desenho da família, semelhante ao que ocorreu com o desenho anterior, após ter finalizado o desenho Larissa escreveu acima os nomes (estes nomes foram apagados a fim de preservar suas identidades). Percebe-se que a adolescente gosta bastante de escrever, fato mencionado por ela mesma. No desenho da família, Larissa desenhou alguns membros da sua família e falou um pouco sobre cada um destes. Sobre sua mãe Larissa falou que “ama ela porque ela é meu coração”, e que gosta de brincar de Barbie com ela. Também comentou que amava o pai e que gostava de brincar com ele na praia. Segundo Larissa, os seus pais se dão muito bem e não brigam. Larissa falou carinhosamente da sua irmã mais velha, dizendo que “gosta dela e chama ela para fazer as coisas”. A adolescente também comentou novamente sobre o sítio da sua família, espaço que ela frequenta constantemente. Pelo relato de Larissa, e pelo o que se pode observar ao longos dos encontros e conversas com os pais, o 146 ambiente familiar da adolescente é um ambiente agradável. Além disto, os pais de Larissa demonstraram ser muito atenciosos com a adolescente. O último desenho feito por Larissa foi o desenho de tema “Eu e meus amigos” Figura 29: Desenho de Larissa de tema “Eu e meus amigos”. Larissa desenhou cinco meninas de mãos dadas. Quando solicitada a falar sobre cada uma das amigas, Larissa disse que a primeira era ela, a segunda era a pesquisadora, a terceira “Bia”, “Tassinha” (sua prima) e sua irmã. Larissa também comentou sobre cada uma; disse que gostava muito de conversar com a pesquisadora, que sua irmã é “menina chique” que a chama de “irmãzinha linda”, que gosta de ir à praia com sua prima e ir à casa da sua tia. É possível observar que Larissa possui um circulo de amizades restrito, resumindo-se aos seus parentes (irmã e prima), além de fantasiar em relação à amizades com colegas de turma que considera mais próximas. 4.4. Adolescente 3 – Pseudônimo Thaís Thaís é uma adolescente de 14 anos, aluna do 8° ano do ensino fundamental de uma escola particular da cidade de Nova Cruz (interior do Rio Grande do Norte). Ela 147 mora com a sua mãe (professora da mesma escola em que a adolescente estuda), seu pai (um comerciante) e sua irmã mais nova. A renda da família é de aproximadamente oito salários mínimos. Em relação aos comprometimentos clínicos, o único relatado pela mãe de Thaís é um problema no coração (sopro), que, no entanto, não necessitou de correção cirúrgica. Thaís começou os tratamentos e terapias de estimulação desde muito pequena. A adolescente já fez fisioterapia, hidroterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicopedagogia. Atualmente, Thaís ainda faz fonoaudiologia, psicopedagogia, além de participar de um grupo de adolescentes (psicoterapia em grupo) na instituição na qual é atendida. Em relação às atitudes durante as avaliações, Thaís demonstrou ser uma adolescente bastante tímida. Nos primeiros encontros, ela frequentemente ficava de cabeça abaixada e verbalizava pouco. Com o tempo a adolescente foi perdendo a sua timidez, tornando-se mais expressiva. Outra característica comum de Thaís durante as avaliações foi a sua dificuldade em iniciar a ação, principalmente nas atividades que requeriam a execução de alguma tarefa. Num primeiro momento, a adolescente dizia que não sabia como realizar a atividade, e quando fazia, sempre questionava se estava fazendo da maneira correta. A seguir serão apresentados os resultados da avaliação neuropsicológica de Thaís: 4.4.1. Nível intelectual Resultados Quantitativos do WISC III 148 Tabela 20: Resultados Quantitativos de Thaís nos Subtestes do WISC III Escala verbal Escore Bruto Escore ponderado Escala de Execução Escore Bruto Escore Ponderado Informação 05 01 Completar figuras 05 01 Semelhanças 03 01 Código 14 01 Aritmética 05 01 Arranjo de figuras 03 01 Vocabulário 09 01 Cubos 05 01 Compreensão 00 01 Armar objetos 14 01 Dígitos (07) (04) Procurar símbolos (08) (01) Tabela 21: Resultados Quantitativos de Thaís nos Índices de QIs do WISC III Escalas Soma dos Pontos Ponderados QI/Índices Interpretação Verbal 04 < 45 Deficiência intelectual Execução 04 < 45 Deficiência Intelectual Total 08 < 50 Deficiência Intelectual Compreensão Verbal 04 46 Deficiência Intelectual Organização Perceptual 04 < 48 Deficiência Intelectual Resistência à Distração 05 56 Deficiência Intelectual Velocidade de Processamento 02 50 Deficiência Intelectual Análise Qualitativa da Atividade O QI Total de Thaís foi menor que 50 (QIt < 50; na determinação dos QIts, o WISC III só fornece o valor a partir de 50), classificando-se na faixa de deficiência intelectual. Na Escala Verbal a adolescente fez ao todo quatro pontos ponderados (QIv = 45). Na Escala de Execução (QIe < 45) a adolescente também pontuou quatro pontos ponderados, o que indica uma certa homogeneidade no seu funcionamento cognitivo, com escores rebaixados em ambas as escalas. Na análise dos seus resultados nos Índices Fatoriais, é possível observar novamente uma homogeneidade nos resultados de QIs nos 149 Índices de Compreensão Verbal (QI = 46) e Organização Perceptual (QI < 48). No Índice de Resistência à Distração (QI = 56), Thaís obteve o seu maior resultado de QI, somando cinco pontos ponderados, e, no Índice Velocidade de Processamento (QI = 50), Thaís obteve um escore de dois pontos ponderados. Analisando-se o seu desempenho nos subtestes que compõem o Índice de Compreensão Verbal (CV) observa-se que foi no subteste Vocabulário (Pontos brutos = 09; Ponderados = 01) e Informação (Pontos Brutos = 05; Ponderados = 01) que Thaís obteve os seus melhores escores. A execução destes subtestes por Thaís, e não somente deles, mas todos os outros da Escala Verbal realizaram-se num tempo elevado. Thaís demorava muito tempo para responder, aparentando algumas vezes não estar prestando atenção (ficava de cabeça abaixada, olhava para outros lugares da sala) e não ter ouvido as questões, que frequentemente eram repetidas. No entanto, muitas vezes, Thaís acabava respondendo subitamente, demonstrando que apesar de estar aparentemente distraída, ouvia e compreendia o que era falado. É possível, por sua vez, que estas atitudes fossem uma defesa para a dificuldade da adolescente de responder e/ou processar as questões. Conforme será discutido adiante na sessão de Linguagem, durante as sessões de avaliação Thaís verbalizava pouco, e frequentemente usava apenas uma palavra para responder uma questão. Foram raros os momentos em que Thaís chegou a formular uma frase completa para responder aos subtestes do WISC III. Este aspecto pode ter contribuído com a sua baixa pontuação em todos os testes que compõem o Índice de Compreensão Verbal, que exigem, por diversas vezes, respostas verbais completas e bem formuladas, vide o subteste Compreensão (Pontos Brutos = 00; Ponderados = 01). Desta forma, é provável que os baixos escores de Thaís estejam diretamente relacionados à suas dificuldades na linguagem expressiva e não apenas na 150 impossibilidade ou incompreensão dos enunciados das tarefas verbais. Este fato, por sua vez, chama atenção acerca da adequação da utilização do WISC III para esta população. No que diz respeito ao desempenho de Thaís nos testes que integram o Índice de Organização Perceptual (QI < 48) a melhor pontuação da adolescente foi no subteste Armar Objetos (Pontos brutos = 14; Ponderados = 01). No entanto, apesar de ser o melhor resultado dentre todos subtestes, Thaís só acertou completamente o primeiro Item (Menina). Neste item, inicialmente, Thaís chegou a colocar os braços na posição das pernas (e vice-versa), porém, percebeu o seu erro e o corrigiu. Nos itens seguintes, Thaís só conseguiu fazer algumas junções aleatórias. Figura 30: Erro cometido (e após corrigido) por Thaís ao armar o Item 1 do subteste Armar Objetos Nos demais subtestes que compõem o Índice de Organização Perceptual (OP), Completar Figuras (Pontos Brutos = 05; Ponderados = 01), Cubos (Pontos Brutos = 05; Ponderados = 01) e Arranjo de Figuras (Pontos Brutos = 03; Ponderados = 01), Thaís também obteve baixas pontuações, o que sugere a presença de dificuldades da 151 adolescente não apenas no domínio verbal, mas também no raciocínio não-verbal, habilidades visuoespaciais e visuoconstrutivas. A melhor pontuação de Thaís no instrumento foi nos subtestes que compõem o Índice de Resistência à Distração (QI = 56). No subteste Dígitos (Pontos Brutos = 07; Ponderados = 04), Thaís fez cinco pontos na ordem direta, e dois na ordem inversa, tendo sido uma das poucas adolescentes na pesquisa que foi capaz de acertar ao menos uma sequência de dois números nesta segunda parte do subteste (juntamente com Larissa). Já no subteste Aritmética (Pontos brutos = 05; Ponderados = 01), Thaís só acertou os itens inicias (1, 2, 3 e 4), e o item 8, demonstrando portanto não dominar, ainda, as operações básicas de matemática, apesar de já estar no 8° ano do ensino fundamental. Resultados Quantitativos no MPCR Tabela 22: Resultados Quantitativos de Thaís para o MPCR A Ab B 07 04 03 Discrepância Somatório 14 0;0;0 No teste MPCR, Thaís acertou ao todo 14 problemas (de um total de 36). Na série A, que envolve a apreensão de identidade e mudança de padrões contínuos, a adolescente acertou sete dos 12 problemas; na série Ab, relacionada à apreensão de figuras distintas espacialmente relacionadas, Thaís acertou os quatro primeiros problemas; e na série B, que envolve a capacidade de apreensão de mudanças análogas em figuras relacionadas espacialmente e logicamente, a adolescente só acertou três problemas. 152 A análise dos tipos de erros cometidos pela adolescente indicou que a grande maioria destes (17 erros de um total de 22) foram do tipo III (Repetição do Padrão), sendo oito do tipo III – g, erros nos quais a alternativa selecionada reproduz o padrão imediatamente acima do espaço a ser preenchido. Dos outros erros cometidos pela adolescente, dois foram erros do tipo II (de Individuação Inadequada), e três do tipo IV (Correlato Incompleto). A maior frequência de erros do tipo III (Repetição do Padrão) nas respostas de Lucas e Larissa se mantém no protocolo de Thaís. A dificuldade maior da adolescente esteve em resolver os problemas da série Ab e B, o que, segundo Angelini et al. (1999), é característico de indivíduos com deficiência intelectual. Estes indivíduos, comumente, podem ser até bem sucedidos em perceber figuras discretas como todos relacionados espacialmente, porém, são muitas vezes incapazes de analisá-los em suas partes apropriadamente orientadas. A fim de completar o padrão, frequentemente eles relacionam uma figura similar a uma das figuras do modelo a ser completado, semelhante como Thaís procedeu no problema Ab4, demonstrado abaixo: 153 Figura 31: Extrato do problema Ab4 do MPCR No problema acima (Ab4), Thaís selecionou a alternativa 1, constituindo-se um erro do tipo III – g, no qual a figura selecionada é igual à figura imediatamente acima do espaço a ser preenchido. 4.4.2. Linguagem Juntamente com Larissa, Thaís é a outra adolescente da pesquisa que já é alfabetizada. Dentre todas as sessões de avaliação, àquela destinada para a realização do subteste de Avaliação da Leitura do Protocolo Qualitativo Lapen, foi a que Thaís se mostrou mais empolgada. A adolescente informou que gostava muito de ler e que português é a sua disciplina favorita. Na etapa inicial de resolução do subteste, Thaís identificou corretamente todas as letras e associou palavras a estas (Ex: J - Jorge; R Rosa; F - Foto; Q - Queijo; U - Uva; A – Avião; V – Vaca; G – Gato; M – Maria; T – Tatu). Na etapa seguinte, de leitura de sílabas, Thaís também leu todas as sílabas 154 corretamente associando palavras iniciadas pelas sílabas (ex: CA - Cadeira; RE – Relógio; DA – Dado; PI – Pirata; BU – Burra; GA – Gato; NO – Novela; SA – Sal). Na etapa de leitura de palavras e pseudopalavras, Thaís também obteve igualmente um desempenho adequado, lendo todos os itens do subteste. Na etapa de leitura de frases, no entanto, semelhante à Larissa, Thaís leu lentamente e palavra por palavra. Conforme mencionado anteriormente, durante as sessões de avaliação Thaís verbalizava pouco. A adolescente se mostrava tímida, e em alguns momentos abaixava a cabeça quando ia falar. Em conversa com a fonoaudióloga que atende a adolescente no serviço que ela frequentava em Natal, esta informou que este comportamento é característico de Thaís e que ela “se soltou” mais após ter desenvolvido uma proximidade maior com a profissional. A mãe de Thaís também confirmou que a adolescente é bastante tímida fora do seu ambiente familiar. Ela contou, inclusive, que um dos profissionais que já atendeu a adolescente chegou a perguntar se Thaís era muda, devido à sua pouca verbalização e em alguns momentos, sua recusa em falar. A inteligibilidade da fala de Thaís ficava comprometida por esta questão. Além disto, a adolescente também falava baixo, o que contribuía para a dificuldade em compreendê-la. No entanto, quando queria, Thaís falava em tom alto e de maneira inteligível. Isto indica que a questão da expressão da linguagem de Thaís é mais prejudicada em contextos em que a adolescente não está disposta a falar, sendo também, portanto, uma questão de falta de motivação. É provável, também, que estas atitudes da adolescente sejam uma defesa diante de situações nas quais não sabe bem o que dizer ou não conhece muito bem o seu interlocutor. 4.4.3. Memória 155 Memória Visual (Visuoespacialidade e Visuoconstrução): Resultados Quantitativos para o teste Figura Complexa de Rey Tabela 23: Resultados Quantitativos de Thaís para o teste Figura Complexa de Rey Pontuação Classificação Cópia 3,0 Inferior Memória 00 Inferior Análise Qualitativa da Atividade Thaís obteve uma baixa pontuação no teste Figura Complexa de Rey, tanto na cópia (03 pontos de um total de 36) quanto na reprodução de memória (00 pontos de 36), sendo os seus desenhos classificados como abaixo da média. O seu tipo de desenho foi o tipo V, “fundo mais ou menos confuso de linhas”, em que se destacam alguns detalhes claramente reconhecíveis da figura (Oliveira & Rigoni, 2010). Este tipo de cópia é a dominante aos quatro anos de idade, aparecendo em cerca de 50% dos casos. No entanto, ela diminui até “desaparecer” aos oito anos. A execução da figura complexa por Thaís foi precedida por uma recusa inicial, na qual a adolescente disse que não sabia como fazê-la. Após ter iniciado a sua cópia, Thais utilizou um longo tempo (dez minutos) para desenhar a figura. Esta, por sua vez, é pouco precisa, além de ser pobre em detalhes e pouco se assemelhar à figura original. Este tipo de cópia, por sua vez, é característica de sujeitos com deficiência intelectual. 156 Figura 32: Cópia da Figura Complexa de Rey feita por Thaís Na reprodução de memória, Thaís não fez nenhum ponto e informou que não se lembrava de nada da figura, tendo feito, de fato, um desenho que nada se assemelhava à figura original. Figura 33: Reprodução de memória da Figura Complexa de Rey feita por Thaís A cópia e reprodução de memória da figura feita por Thaís chamam a atenção por diversos aspectos: 1. A ausência, tanto na cópia, quanto na reprodução de memória, de elementos importantes da figura, tais como a cruz exterior (elemento 1), o círculo com os três pontos (elemento 11), as duas diagonais contidas no retângulo central 157 (cruz de Santo André), assim como a linha horizontal e vertical que dividem o retângulo em quadrantes , o que contribuiu para a desorganização da figura como um todo; 2. A má localização de elementos importantes, tal como as linhas paralelas (elemento 12), que estão localizadas originalmente no quadrante inferior esquerdo, as quais Thaís desenhou numa posição superior, além de ter feito seis linhas, quando deveriam ter sido feitas apenas cinco. 3. A imprecisão de aspectos importantes da figura, tal como o losango no vértice do triângulo (elemento 14). O desempenho de Thaís na etapa de cópia da figura indica déficits na percepção visual, organização visuoespacial, assim como no funcionamento executivo. O fato da adolescente não ter feito nenhum ponto na etapa de memória tardia, indica também déficits na memória visual da adolescente. Os resultados de Thaís neste teste assemelham-se ao seu desempenho nos subtestes Armar Objetos e Cubos do WISC III, que também demandam habilidades visuoespaciais, visuoconstrutivas e aspectos do funcionamento executivo, contribuindo para a hipótese de possíveis déficits nos referidos domínios. Memória Verbal: Resultados Quantitativos para o Teste de Aprendizagem AuditivoVerbal de Rey (Rey Auditory Verbal Learning Test- RAVLT). Tabela 24: Resultados Quantitativos de Thaís para o teste RAVLT Lista A1 A2 A3 A4 A5 Número de Palavras 03 03 02 05 02 Análise Qualitativa da Atividade B1 (Interferência) 03 A6 A7 03 03 158 Na sua primeira evocação do teste RAVLT (A1), Thaís lembrou-se de apenas três palavras. Este número manteve-se o mesmo em A2, A6 e A7, diminuindo para duas palavras em A3 e A5, e aumentando para cinco somente em A4. É possível observar, portanto, que não há o aumento progressivo (curva ascendente de aprendizagem) esperado no número de palavras evocadas pela adolescente, e sim uma flutuação no número de palavras evocadas. Não se pode afirmar que houve um efeito de interferência da lista distratora (lista B1) sobre a capacidade de aprendizagem verbal da adolescente, visto que o número de palavras recordadas manteve-se em três após a evocação desta em A6 e A7. O número total de palavras recordadas por Thaís (Span = 21 palavras) também foi abaixo da média (M = 44,2). No que se refere à etapa de reconhecimento, Thaís reconheceu 19 palavras (quando a média para sua idade é 22), e cometeu dois erros. Estes resultados, por sua vez, sugerem que ela codificou e armazenou corretamente as palavras, e que a dificuldade está na sua evocação. É provável, portanto, que a questão da timidez ou ainda, dificuldades na evocação (de linguagem expressiva) tenham contribuído para este resultado. Memória Episódica (Imediata e Tardia): Teste de Memória Lógica - Recordação de História (Miranda, 2004). Reprodução da fala de Larissa (memória imediata) “o cachorro, o ladrão, a polícia”. Análise Qualitativa da Atividade 159 A memória episódica é uma habilidade que requer a capacidade de contextualizar eventos temporal e espacialmente. Por esta razão, esta talvez seja uma das tarefas mais difíceis de memória para os adolescentes com SD, devido às suas dificuldades em pensar abstratamente e de fazer contextualizações. O desempenho de Thaís nesta tarefa confirma este fato, visto que na etapa de memória imediata desta atividade, a adolescente recordou-se somente de aspectos isolados da história (o cachorro, o ladrão, a polícia – três pontos de um total de 30). Na etapa de memória tardia, Thaís não conseguiu lembra-se de nada, o que indica que a memória episódica tardia da adolescente é ainda mais prejudicada. Vale ressaltar, no entanto, que as dificuldades de linguagem expressiva, anteriormente observadas, também podem contribuir para o baixo desempenho da adolescente nesta atividade, visto que a ausência de concatenação dos elementos das frases sugere que além da memória, Thaís também apresenta prejuízos na expressão da linguagem. Memória Operacional: Dígitos (Ordem Inversa) e Tarefa de Memória Visual (Ordem Inversa) Thaís obteve uma pontuação de cinco pontos na ordem direta do subteste Dígitos do WISC III, que está relacionada à memória e atenção auditivo-verbal. Já na ordem inversa, que avalia o subcomponente alça fonológica da memória operacional, Thaís fez dois pontos, com um span de dígitos de dois números. Na Tarefa de Memória Visual (adaptada do teste Bloco de Corsi), Thaís foi capaz de reproduzir corretamente uma sequência de seis cores na ordem direta (Pontuação = 6; Span = 4), que avalia a memória visual imedita, porém, Thaís não foi capaz de reproduzir nenhuma sequência na ordem inversa, que investiga o subcomponente esboço visuoespacial da memória 160 operacional. O desempenho de Thaís no Dígitos ordem inversa foi, portanto, melhor que o seu desempenho na tarefa utilizada para investigar o esboço visuoespacial. Estes resultados não estão de acordo com aquilo que diz a literatura, visto que os estudos vem apontando um melhor desempenho destes adolescentes em tarefas de memória operacional que utilizam-se de recursos visuoespaciais. 4.4.4. Atenção Atenção Seletiva e Alternada: Teste de Atenção por Cancelamento (Montiel & Capovilla, 2007). Tabela 25: Resultados Quantitativos de Thaís para o TAC Acertos Erros Omissões Pontos Classificação Parte 1 10 00 00 10 Inferior Parte 2 01 00 00 01 Inferior Parte 3 10 00 00 10 Inferior Análise Qualitativa da Atividade O desempenho de Thaís no TAC ficou abaixo da média para sua idade em todas as partes do teste (Mpt1 = 44,86; Mpt2 = 4,55; Mpt3 = 44,73). A questão da lentificação motora e mental também fica evidenciada neste protocolo. Thaís demorava bastante tempo procurando os estímulos alvo na folha de estímulos e para marcá-los. O desempenho rebaixado de Thaís não pode ser atribuído, portanto, diretamente a um déficit atencional, mas é preciso considerar sua lentificação, o que pode ser confirmado pelo seu baixo desempenho nos subtestes que integram o Índice de Velocidade de Processamento (VP) do WISC III, os quais Thaís também obteve um baixo escore. 4.2.5. Funções Executivas 161 Planejamento: Figura Complexa de Rey Conforme anteriormente mencionado, o desempenho rebaixado de Thaís na etapa de cópia do teste das Figuras Complexas de Rey indica não apenas déficits na percepção visual e organização visuoespacial da adolescente, mas também no seu funcionamento executivo, notadamente na habilidade de planejamento. Seleção de Informações: Fluência Verbal (Semântica e Fonológica) Tabela 26: Resultados Quantitativos de Thaís para o Teste de Fluência Fonológica F 03 A 02 M 02 Tabela 27: Resultados Quantitativos de Thaís para o Teste de Fluência Fonológica ANIMAIS 05 FRUTAS 06 Análise Qualitativa da Atividade A demasiada lentificação, já anteriormente identificada, no desempenho de Thaís na demais atividades do protocolo (por exemplo, no TAC), também interferiu negativamente no desempenho da adolescente no teste de fluência verbal. Observou-se que da mesma forma que Lucas e Larissa, Thaís também demorava bastante tempo para iniciar a evocação das palavras. Desta forma, a adolescente evocou apenas duas palavras iniciadas pela letra “A”, três com a letra “F” e duas com a letra “M” ao longo dos 60 segundos destinados para cada uma das letras na etapa fonológica da atividade. Na etapa de fluência semântica, o número de palavras evocadas por Thaís também foi baixo, tendo a adolescente evocado o nome de cinco animais e de seis frutas, quando o esperado para a sua faixa etária seria 16 animais e 13 frutas, em média. 4.4.6. Aspectos Comportamentais 162 Child Behavior Checklist (CBCL) Na Escala de Competência Social (Figura 34), Thaís classificou-se na faixa normal nas escalas de atividades e relacionamentos sociais. Figura 34: Resultados de Thaís para a Escala de Competências Sociais. Já na Escala de Síndromes (Figura 35), a adolescente ficou na faixa limítrofe nas escalas de isolamento e depressão, queixas somáticas e problemas sociais. Em consequência, Thaís classificou-se na faixa clínica na Escala de Problemas Totais (Figura 36). Figura 35: Resultados de Thaís para a Escala de Síndromes. 163 Figura 36: Resultados de Thaís para a Escala de Problemas Internalizantes, Escala de Problemas Externalizantes, e Problemas Totais. Na Escala Orientada pelo DSM-IV (Figuras 37 e 38) Thaís se enquadrou na categoria limítrofe apenas na escala de problemas afetivos, e nas demais ficou na faixa normal. Figura 37: Resultados de Thaís para a Escala Orientada pelo DSM-IV. 164 Figura 38: Resultados de Thaís para a Escala Orientada pelo DSM-IV. Observação na escola e entrevistas com pais e profissionais Thaís frequenta uma turma de 8° ano do ensino fundamental de uma escola particular de uma cidade do interior do Rio Grande do Norte. Desde dois anos de idade, Thais está com esta mesma turma, por decisão dos seus pais e dos coordenadores da escola, visto que, nas palavras da própria mãe, isto faz com que Thais “não se sinta mal, pois do contrário veria os colegas de turma passar de ano enquanto ela ficaria para trás”. A turma de Thaís possui cerca de 25 alunos. A adolescente sentava-se na frente, porém não prestava atenção à aula. A coordenadora informou que frequentemente Thaís leva revistas para a escola, a fim de passar o tempo, visto que não compreende os conteúdos dados em sala de aula. Durante o intervalo, por sua vez, Thaís se isola dos colegas, não se observando nem a procura destes por ela, nem dela por eles. Thaís já enfrentou, inclusive, problemas na execução de trabalhos em grupo, pois diversas vezes a adolescente não é inserida em grupo algum. A única relação próxima com algum outro aluno da escola que Thaís possui é com a sua prima e irmã mais novas. Além destas, Thaís também gosta bastante de conversar com as suas antigas 165 professoras, e frequentemente foge da sua sala de aula para ir às salas da educação infantil. Em relação à interação da adolescente com seus professores, a coordenadora informou que esta é uma questão complicada, devido ao grande número de professores e à troca destes a cada novo ano. Além disto, de acordo com a coordenadora da escola, os professores de Thaís possuem uma carga horária grande e diversos conteúdos a cumprir junto aos demais alunos, ficando bastante difícil para eles dar uma atenção diferenciada para a adolescente, adaptando os assuntos para o nível de compreensão de Thaís. Na educação infantil, a situação era mais fácil, pois somente um professor era responsável pela turma (que era menor) e este possuía maior intimidade com Thaís, sendo possível dar uma atenção diferenciada à menina. A situação da adolescente na escola começou a complicar-se a partir do sexto ano, no qual vários professores começaram a dar aula para ela. A mãe de Thaís é bastante preocupada com a educação da adolescente. Desde pequena além de frequentar as aulas na escola, a menina também tem aulas de reforço escolar com uma professora particular. A mãe de Thaís sempre se questiona se a decisão de passá-la de ano foi a melhor para a educação da adolescente, e enfrenta, de certo modo, um dilema atual, visto que não sabe se é melhor colocá-la agora no primeiro ano do ensino médio (apesar de Thaís não ter dominado a grande maioria dos conteúdos imprescindíveis para o bom desempenho neste nível de ensino), ou mantê-la no 8° ano. Em conversa com a mãe da adolescente, esta informou que precisou pressionar a escola a fim que eles mudassem a sua postura em relação à educação de Thaís. Foram feitas reuniões com todos os professores da adolescente, com os pais e coordenadores para discutir a questão e após esta reunião houve uma ligeira melhora. De acordo com a coordenadora, a maior dificuldade está em fazer com que todos os professores 166 compreendam que eles precisam ter um olhar e uma atenção diferenciada para com Thaís, pois apenas alguns poucos professores possuem esta consciência, sendo que a grande maioria acredita que não precisam se dedicar neste sentido. Após a reunião com todos os professores, as avaliações de Thaís passaram a ser adaptadas. Anteriormente, estas não eram adaptadas e os professores apenas colocavam uma nota qualquer para a adolescente a fim de passá-la de ano. Em conversa com uma de suas professoras, esta informou que Thaís não acompanha os assuntos ensinados para a turma, sendo necessário ir até a adolescente a fim de explicar o conteúdo de uma forma que ela compreenda. No entanto, Thaís está atrasada em diversos domínios dos anos anteriores ao atual, tornando a situação ainda mais complicada. 4.4.7. Aspectos Sócio-Afetivos O primeiro desenho trabalhado com Thaís foi o desenho com o tema “eu e minha escola”: Figura 39: Desenho de Thaís de tema “Eu e minha escola” 167 O desenho de Thaís foi bastante pobre em detalhes. A adolescente só fez duas representações humanas. No entanto, quando questionada sobre quem eram, Thaís não soube ou não quis responder. Foram feitas alguns questionamentos sobre a escola da adolescente, pois ela não se prontificou a falar nada espontaneamente. Thaís informou que gostava de ir para a escola, mas que também tinha preguiça. Disse ainda que gostava de um professor em especial, o de matemática, e que as suas disciplinas favoritas eram matemática e português. Thaís também informou que não gostava de nenhum coleguinha em especial. Quando questionada sobre quais eram as suas atividades favoritas durante o intervalo, Thaís disse que lanchar e “pedir para ir para casa”, o que sugere insatisfação em relação ao ambiente escolar. O segundo desenho feito por Thaís foi o desenho de tema foi “eu e minha família”: Figura 40: Desenho de Thaís de tema “Eu e minha família” Durante a execução deste desenho, a expressão de Thaís mudou completamente. A adolescente empolgou-se ao desenhar a sua família, e à medida que desenhava falava 168 um pouco sobre cada um dos membros. Thaís iniciou o seu desenho pela sua irmã (nove anos), de quem é bastante próxima, após isto desenhou a sua mãe e o seu pai, o qual desenhou com uma barriga grande e fez uma piada que se assemelhava ao do apresentador de televisão Faustão. Thaís ainda desenhou sua tia, tio e prima, avó e avô e falou empolgadamente sobre estes. A irmã de Thaís e a sua prima são as amizades mais próximas que a adolescente possui. Ela informou que gostava de brincar de bola e de boneca com as duas. Durante a visita à escola da adolescente, surgiu a oportunidade de visitar também a casa de Thaís e lá conversou-se com o seu pai, além de ser possível observar a menina no seu ambiente natural. O comportamento de Thaís em sua casa era bem diferente do apresentado nas sessões e nos outros atendimentos. A adolescente mostrou-se bastante falante e feliz. Ela mostrou fotos suas de quando pequena pela casa, indicando os membros da sua família, além de mostrar sua coleção de revistas e livros. A mãe de Thaís, que é professora, sempre preocupou-se em estimular a menina, desde pequena. Segundo ela, desde o 5° ano, Thaís já sabe ler. Ela procura sempre comprar livros e revistas para a adolescente a fim de estimular a sua leitura. Foi possível observar ao longo das sessões que a leitura e escrita (principalmente o fato de já dominá-los, de certa forma) são aspectos bastante apreciados por Thaís. No dia da sessão de aplicação do subteste de Leitura do Protocolo Qualitativo Lapen, como anteriormente mencionado, Thaís empolgou-se em ler as letras, sílabas, palavras e frases. A adolescente sempre levava consigo revistas sobre as suas novelas preferidas e em alguns momentos lia os principais destaques. Além disso, observou-se que Thaís também apreciava muito escrever, pois ao fazer os desenhos da sua família e amigos, a 169 adolescente procurava escrever abaixo os nomes das pessoas (estes foram omitidos a fim de preservar as suas identidades). O último desenho feito por Thaís foi o desenho de tema “eu e meus amigos”: Figura 41: Desenho de Thaís de tema “Eu e meus amigos” Ao propor para Thaís que ela fizesse um desenho com o tema “Eu e meus amigos” a adolescente relutou por um momento. Ela ficou pensando por alguns instantes, olhando para a folha em branco, e num determinado momento disse “Não sei o que vou fazer”. Voltou a pensar, e disse “Já sei o que vou desenhar!” Thaís pegou a revista que tinha levado para a sessão e mostrou a foto do personagem de uma novela e disse que iria desenhá-lo. Após isto, Thaís pegou uma lista (que ela já tinha escrito) com os nomes dos personagens de outra novela que assistia, e começou a escrevê-los novamente. É possível observar que, do mesmo modo que Lucas e Larissa, Thaís também não apresenta um grupo de amizades extenso, resumindo-se apenas à sua irmã e prima. 170 Apesar da mãe da adolescente ter escolhido mantê-la na mesma turma, a fim de, entre outros motivos, preservar possíveis amizades da menina, não é possível afirmar que a adolescente possui algum amigo(a) na sua turma, visto que ela não mantêm contato com nenhum colega tanto na escola quanto fora dela. 4.5. Adolescente 4 – Pseudônimo Marcelo O quarto participante apresentado é Marcelo, um adolescente de 14 anos, aluno do 3° ano do ensino fundamental de uma escola de bairro da cidade de Natal. Marcelo mora com sua mãe, uma dona de casa (2ª grau completo), seu pai (cursou até a 7ª série do ensino fundamental) que trabalha como porteiro, e uma irmã mais velha. A renda da família é de apenas dois salários mínimos. De acordo com sua mãe, Marcelo nunca apresentou nenhum problema grave de saúde. Apenas durante a infância, o adolescente precisou se submeter a uma cirurgia de estrabismo. Marcelo começou a falar quando tinha cerca de um ano e meio e fez fonoaudiologia desde então. Dentre as outras terapias que Marcelo participou inclui-se a hidroterapia, fisioterapia, psicomotricidade, psicopedagogia e psicoterapia. Atualmente, Marcelo é atendido por uma psicóloga, além de fazer informática e receber o apoio de uma psicopedagoga. Os profissionais que atuavam junto a Marcelo descreviam o comportamento do menino como bastante instável. Alguns informaram que Marcelo era desinteressado e sem iniciativa para realizar as atividades propostas, fato que também foi relatado pela mãe do adolescente, que frequentemente o descrevia como um menino “preguiçoso”. Outro aspecto que também foi descrito pelos profissionais foi a dificuldade de Marcelo em aceitar limites e regras. Numa conversa com a psicóloga que atende o adolescente, esta informou que este comportamento diminuiu um pouco após um 171 trabalho realizado com os pais de Marcelo, no sentido deles serem mais firmes com a sua educação. Outros profissionais, por sua vez, chamavam a atenção ao desinteresse de Marcelo. Um deles pontuou que “falta o desejo de aprender” ao adolescente. Segundo ele, a falta de motivação e seu estado de apatia interferem negativamente na sua aprendizagem. As avaliações de Marcelo também foram atravessadas por algumas dificuldades. Em alguns dias, ele chegava mais disposto e realizava as atividades tranquilamente. Outros, porém, Marcelo chegava calado e sem querer fazer nenhuma atividade proposta. Era comum a sua recusa dizendo que não sabia a resposta ou como fazer as tarefas. Em outros momentos, ele dizia que estava com dor de cabeça ou dor na barriga a fim de fugir e finalizar a sessão (comportamento relatado também pela mãe, em sua casa). Outro comportamento que chamou atenção foi o fato de Marcelo falar sozinho durante algumas sessões. Questionou-se se ele apresentava este comportamento em casa e outros ambientes, e a mãe do menino, assim como sua professora confirmaram que sim, e que se tratava de um “amigo imaginário” de Marcelo, que ele tinha há bastante tempo. A seguir serão apresentados e discutidos os resultados encontrados na avaliação neuropsicológica de Marcelo. Como mencionado anteriormente, a recusa do adolescente e sua aparente falta de motivação em realizar algumas atividades dificultou o processo de avaliação e pode ter interferido nos seus resultados. No entanto, esta é uma característica da personalidade de Marcelo e como já discutido, os aspectos comportamentais e emocionais interelacionam-se com os cognitivos. Nesse sentido, o estudo buscou compreende os adolescentes em seu modo de funcionamento, mais do que em termos de suas reais capacidades cognitivas em contextos não ecológicos. Marcelo comporta-se dessa maneira não somente durante as avaliações, mas no seu dia- 172 a-dia, em casa, na escola, nos atendimentos, sendo, portanto, um aspecto que precisa ser considerado na avaliação do adolescente. 4.5.1. Nível intelectual Resultados Quantitativos do WISC III Tabela 28: Resultados Quantitativos de Marcelo nos Subtestes do WISC III Escala verbal Escore Bruto Escore ponderado Escala de Execução Escore Bruto Escore Ponderado Informação 05 01 Completar figuras 06 01 Semelhanças 05 04 Código 04 01 Aritmética 02 01 Arranjo de figuras 00 01 Vocabulário 10 03 Cubos 02 02 Compreensão 00 01 Armar objetos 07 03 Dígitos (04) (01) Procurar símbolos (02) (01) Tabela 29: Resultados Quantitativos de Marcelo nos Índices de QIs do WISC III Escalas Soma dos Pontos Ponderados QI/Índices Interpretação Verbal 10 50 Deficiência intelectual Execução 08 < 45 Deficiência Intelectual Total 18 < 50 Deficiência Intelectual Compreensão Verbal 09 53 Deficiência Intelectual Organização Perceptual 07 < 48 Deficiência Intelectual Resistência à Distração 02 47 Deficiência Intelectual Velocidade de Processamento 02 50 Deficiência Intelectual Análise Qualitativa da Atividade 173 Conforme o esperado, o QI total de Marcelo situou-se na faixa de deficiência intelectual (QIt < 50; na determinação dos QIts, o WISC III só fornece o valor a partir de 50). No entanto, um fato que chama atenção por ser o contrário daquilo que é relatado na literatura, foi o melhor desempenho do adolescente nos subtestes que compõem a Escala Verbal (QIv = 50) do que os da Escala de Execução (QIe < 45). Focalizando, contudo, apenas a sua pontuação bruta (26 pontos nos subtestes que compõem a Escala Verbal e 21 pontos nos da Escala de Execução) e ponderada (10 pontos nos subtestes que compõem a Escala Verbal e 08 pontos nos da Escala de Execução) percebe-se que a diferença entre os dois domínios não foi significativa. Analisando-se os Índices Fatoriais, não se observa também uma discrepância significativa entre eles. A maior diferença encontrada foi de sete pontos, entre o índice de Compreensão Verbal (CV) (QI = 53) e o de Resistência à Distração (RD) (QI = 47). Explorando os resultados de Marcelo no instrumento, observa-se que foi no subteste Vocabulário, componente do Índice de Compreensão Verbal (CV) (QI = 53), que este obteve um dos seus melhores escores (Pontos brutos = 10; Ponderados = 03). No dia da execução deste subteste Marcelo estava bem disposto e respondeu tranquilamente as palavras que conhecia o significado. Em outro subteste do Índice de Compreensão Verbal (CV), o subteste Semelhanças (Pontos brutos = 05; Ponderados = 04), Marcelo também obteve um dos seus melhores escores. Ele foi capaz de fazer associações corretas para os quatro primeiros Itens (piano-violão; camisa-sapato; leiteágua; maçã-banana; telefone-rádio), não tendo acertado nenhum item a partir do nono (cotovelo-joelho). Ainda investigando-se os resultados de Marcelo para o Índice de Compreensão Verbal (CV), observa-se que o seu menor escore foi no subteste Compreensão (Pontos Brutos = 00; Ponderados = 01). Neste subteste o adolescente não acertou nenhum item. 174 A aplicação do WISC III em Marcelo foi dividida em três sessões. Em cada uma das sessões foram aplicados quatro subtestes. A sessão na qual se aplicou o subteste Compreensão foi a última, sessão esta na qual Marcelo começou a demonstrar uma maior impaciência e falta de interesse em responder às questões (num momento, inclusive, disse que estava com dor de cabeça, com objetivo de finalizar logo a sessão). Na aplicação deste subteste, Marcelo disse que não sabia responder aos dois primeiros itens. No terceiro item, Marcelo chegou a formular uma resposta. Quando questionado sobre o que ele faria se perdesse o brinquedo/objeto de um amigo (Item 3), Marcelo afirmou que o “Devolveria”. Como pareceu que o adolescente não havia compreendido a questão esta foi repetida e melhor explicada. Após esta repetição, Marcelo respondeu apenas que “não iria perder”. Nos outros itens, Marcelo continuou dizendo que não sabia a resposta. De acordo com Simões (2002), o subteste Compreensão examina a capacidade dos sujeitos exprimirem as suas experiências. Além disto, este subteste envolve o conhecimento das regras do relacionamento social. O baixo escore de Marcelo neste subteste pode ter sido devido a sua falta de interesse em responder às questões, ou ao fato dele realmente não saber o que fazer nas situações colocadas, o que neste caso, também indica uma falta de conhecimento do adolescente acerca das regras do relacionamento social. A falta deste conhecimento, por sua vez, pode estar contribuindo para a sua (tão ressaltada pelos profissionais) resistência a regras e limites impostos. Em relação aos subtestes que compõem o Índice de Organização Perceptual (QI < 48), o melhor desempenho de Marcelo, igualmente ao dos demais adolescentes, foi no subteste Armar Objetos (Pontos brutos = 07; Ponderados = 03). Novamente, na execução deste subteste, Marcelo recusou-se a fazer as atividades, dizendo que não sabia como fazer. Após um pedido para que este tentasse, Marcelo começou a trabalhar 175 com as peças, porém, pouco motivado. Ele acertou quatro junções no primeiro item (menina), e nos seguintes (carro, cavalo, rosto) acertou apenas uma junção, pontuando um ponto em cada. No último item, Marcelo não pontuou. Observou-se que Marcelo só conseguia juntar algumas peças aleatoriamente. Nos outros subtestes do Índice de Organização Perceptual (OP), Marcelo também não apresentou uma boa pontuação. No subteste Cubos (Pontos Brutos = 02; Ponderados = 02), Marcelo acertou apenas o primeiro item, na primeira tentativa, mas nos dois itens seguintes, Marcelo errou as duas tentativas. No subteste Arranjo de Figuras (Pontos Brutos = 00; Ponderados = 01), Marcelo não acertou nenhum item. Neste subteste, as instruções foram dadas repetidamente, pois o adolescente demonstrou que não havia compreendido as instruções. Quando solicitado a colocar os cartões na ordem correta a fim de formar uma história com sequência lógica, Marcelo só apontava para os cartões na mesma ordem em que haviam sido colocados na mesa. Em relação ao Índice de Velocidade de Processamento (VP) (QI = 50), o escore de Marcelo no subteste Código também foi baixo (Pontos Brutos = 04; Ponderados = 01). Um fato que chamou a atenção na resolução deste subteste por Marcelo foi a sua lentificação e o seu traçado leve (que pode ser observado no extrato abaixo). Marcelo pegava no lápis de maneira bastante desajeitada e tinha dificuldade de desenhar os símbolos: Figura 42: Extrato do Subteste Código do WISC III feito por Marcelo 176 Conforme ressalta Simões (2002), o subteste Códigos do WISC III permite uma investigação das funções motoras ou práxicas do avaliando. Pelo extrato acima, e pela forma de resolução e lentificação observadas durante a execução do subteste por Marcelo sugere-se que este possui dificuldades na habilidade motora. Resultados Quantitativos do MPCR Tabela 30: Resultados Quantitativos de Marcelo para o MPCR A Ab B 07 04 04 Discrepância Somatório 15 0;-1;+1 Marcelo acertou ao todo 15 problemas de um total de 36 no teste MPCR. Na série A, o adolescente acertou sete dos 12 problemas, na série Ab, quatro problemas e na série B, os quatro primeiros problemas. A análise dos tipos de erros cometidos indicou que a maioria destes (11 erros de um total de 21) foram do tipo III (Repetição do Padrão), seis do tipo II (Individuação Inadequada), três do tipo IV (Correlato incompleto) e apenas um do tipo I (Diferença). O desempenho de Marcelo no teste, semelhante ao dos demais adolescentes, indica uma maior dificuldade em responder corretamente os itens das séries Ab e B, notadamente os itens que exigem um raciocínio mais sofisticado (últimos itens). Como um todo, seu escore rebaixado indica o pouco desenvolvimento de um raciocínio analítico e lógico no adolescente. 4.5.2. Linguagem Marcelo não é alfabetizado, sabendo escrever, de acordo com sua professora, apenas o seu nome. Através da utilização do instrumento de Avaliação da Leitura do 177 Protocolo Qualitativo Lapen, verificou-se que Marcelo não reconhecia a maioria das letras, só sabendo identificar as vogais “A” e “U”, e a letra “M” (inicial do seu nome verdadeiro). No entanto, apesar de reconhecer estas letras, Marcelo não soube indicar nenhuma palavra iniciada por elas. Em relação à escrita, como já mencionado, na execução do subteste Códigos do WISC III observou-se que Marcelo apresenta dificuldades em manusear o lápis devido à sua má coordenação motora, fato que pode ser evidenciado também através da figura abaixo: Figura 43: Extrato da avaliação de Marcelo cedida pela sua mãe. Em relação à linguagem expressiva, a comunicação com Marcelo se realizou de maneira pouco problemática, sendo sua fala, de certa forma, inteligível. Sobre sua comunicação, um dos profissionais que atuam com Marcelo na instituição na qual é atendido relatou que apesar deste não falar muito, quando o faz, se expressa com clareza. Contudo, durante as avaliações, em alguns momentos, Marcelo falava rápido, o que dificultava a sua compreensão. No entanto era pedido para ele repetir e ele falava mais lentamente, tornando-se mais compreensível. Já em relação à linguagem receptiva, Marcelo pareceu em alguns momentos não compreender as instruções que eram dadas 178 para as atividades, sendo necessário repeti-las. Porém, algumas vezes, o fato dele não compreendê-las deveu-se também à sua falta de atenção. 4.5.3. Memória Memória Visual: (Visuoespacialidade e Visuoconstrução): Resultados Quantitativos para o teste Figura Complexa de Rey Tabela 31: Resultados Quantitativos de Marcelo para o teste Figura Complexa de Rey Pontuação Classificação Cópia 02 Inferior Memória 00 Inferior Análise Qualitativa da Atividade A pontuação de Marcelo no teste Figura Complexa de Rey foi de 02 pontos na etapa de cópia, e de nenhum ponto na etapa de reprodução de memória. Mais uma vez, a execução deste teste pelo adolescente foi precedida pela sua recusa inicial (disse que não sabia como fazer). Pediu-se que ele tentasse, ressaltando o fato de que a sua cópia não precisaria ser totalmente igual à figura, e que ele fizesse apenas aquilo que soubesse fazer. Após este pedido, o adolescente aceitou começar o seu desenho. Marcelo demorou muito tempo para fazer a cópia (15 minutos). Uma cópia pouco precisa, como a dele, acompanhada por um tempo longo de execução é característica de indivíduos com deficiência intelectual. A sua cópia pode ser classificada como do tipo V (detalhes sobre um fundo confuso). Neste tipo de cópia, o sujeito apresenta um grafismo pouco ou não estruturado, no qual não se consegue reconhecer o modelo, porém, certos detalhes da figura original são ainda claramente reconhecíveis, ao menos na sua intenção, conforme podemos observar na cópia da figura feita por Marcelo: 179 Figura 44: Cópia da Figura Complexa de Rey de Marcelo Apesar da sua cópia não ser reconhecível, observa-se ainda no desenho de Marcelo alguns detalhes da figura original, como o elemento 11 (o círculo com os três pontos inscritos). O tipo de cópia V é a dominante em crianças com quatro anos de idade. A partir daí ela diminui rapidamente até desaparecer aos oito anos. Na execução da sua cópia, por diversas vezes, Marcelo pegava a folha de papel da mesa e a girava antes de fazer algum traço do desenho. Observava a figura, girava a folha novamente, como quem não sabia muito bem por onde iniciar, a posição que deveria colocar os elementos e o que colocar. Este procedimento levou alguns minutos iniciais, que foram acompanhados pelo seu comportamento de falar sozinho. Vários aspectos chamam a atenção da figura feita por Marcelo: 1. A expansão tanto vertical, quanto horizontal da figura original, que na cópia de Marcelo ocupou praticamente toda a folha; 2. A qualidade do desenho em relação aos traçados, linhas e retângulos desenhados e a presença de tremores, o que se constitui mais uma vez como um indicativo de déficits na habilidade motora; 180 3. A má localização e falta de precisão de diversos detalhes, como o elemento 1 da figura (cruz externa contígua ao ângulo superior esquerdo do retângulo grande), que foi inclusive o primeiro elemento desenhado por Marcelo; 4. A omissão de diversos elementos importantes da figura, como o elemento 18 (o quadrado localizado no canto inferior esquerdo do retângulo 2 e a sua diagonal), elemento 12 (as cinco linhas paralelas, perpendiculares à diagonal inferior direita do retângulo 2) e diversos outros; No que diz respeito à reprodução de memória, Marcelo não se mobilizou a fazer o que foi pedido. Apesar de ter sido explicado e pontuado diversas vezes para Marcelo que ele deveria reproduzir o modelo que tinha copiado minutos atrás, ele desenhou, segundo as suas próprias palavras: “a tv de casa” “o vídeo game” e um “violão”, que novamente, como se pode observar abaixo, não são completamente reconhecíveis como tais: 181 Figura 45: Reprodução de memória da Figura Complexa de Rey feita por Marcelo Os resultados de Marcelo neste teste indicam novamente déficits na habilidade motora, na percepção visual, assim como nos domínios da visuoespacialidade e visuoconstrução. Além disto, indicam, também uma dificuldade executiva, notadamente de planejamento. Memória Verbal: Resultados Quantitativos para o Teste de Aprendizagem AuditivoVerbal de Rey (Rey Auditory Verbal Learning Test- RAVLT) Tabela 32: Resultados Quantitativos de Marcelo para o teste RAVLT Lista A1 A2 A3 A4 A5 Número de Palavras 01 03 04 04 05 Análise Qualitativa da Atividade B1 (Interferência) 02 A6 A7 05 01 182 Os resultados no RAVLT indicam a presença de dificuldades não apenas na memória visual, mas também na memória auditivo-verbal. Marcelo lembrou-se apenas de uma palavra na primeira evocação de memória imediata (A1), e apesar do número de palavras ter aumentado progressivamente, até chegar a um máximo de seis palavras em (A5) (de um total de 15), este número ainda é baixo, sendo o somatório ΣA1 + A2 + (....) + A5 = 18, quando a média para sua faixa etária é de 44,2. Foram feitas duas tentativas para a aplicação deste teste em Marcelo. Na primeira, o adolescente não quis fazer a atividade e em todas as evocações dizia não lembrar-se de nenhuma palavra. Em uma segunda tentativa, Marcelo estava particularmente disposto. Um fato chamou a atenção durante toda a execução deste teste. Apesar de Marcelo só ter se lembrado de uma palavra da lista na primeira evocação, ele disse outras palavras (carro, cinta, piso, martelo e serrote) que não estavam na lista. Foi ressaltado o fato de que Marcelo deveria falar apenas as palavras da lista que era lida, mas mesmo assim, na segunda evocação, Marcelo fez o mesmo e além das três palavras da lista que ele lembrou-se, também evocou outras palavras (cinta, piso, cimento, pintura e tinta). Este padrão repetiu-se em todas as outras evocações. Mais tarde, após uma conversa com a mãe do adolescente, descobriu-se que sua casa estava passando por reformas, o que justifica a inclusão pelo adolescente de palavras que remetem a obras, como piso, martelo, serrote, cimento, pintura e tinta, todas elas evocadas por Marcelo. A presença deste tipo de intrusão e perseverações (que também foram observadas na execução deste teste por Lucas) são comuns em sujeitos com deficiência intelectual. Marcelo demonstrou também um alto Índice de esquecimento, tendo apresentado perdas de informação após o intervalo de 20 minutos, recordando-se apenas 183 de uma palavra da lista, fato que indica não haver uma estabilidade no processo da aprendizagem do adolescente. Já em relação ao desempenho de Marcelo na etapa de reconhecimento, novamente, como ocorreu com Lucas, Marcelo afirmou que todas as palavras da lista de reconhecimento tinham sido evocadas. Memória Episódica (Imediata e Tardia): Teste de Memória Lógica - Recordação de História (Miranda, 2004). Reprodução da fala de Marcelo (memória imediata) “O cachorro foi roubado... o ladrão devolveu o cachorro”. Análise Qualitativa da Atividade Marcelo pontuou apenas três pontos na etapa de memória imediata. Pelo extrato acima percebe-se que ele recordou e construiu uma narrativa apenas com aspectos isolados da história (o cachorro, o fato dele ter sido roubado e do ladrão, observando-se que ele se confundiu dizendo que o ladrão havia devolvido o animal), e ainda assim cometeu um erro, não tento apreendido, portanto, a essência da história e a sua sequência temporo-espacial. No entanto, novamente, torna-se difícil dissociar o baixo desempenho de Marcelo neste atividade da sua falta de atenção durante grande parte das avaliações. Na etapa de memória tardia Marcelo afirmou não recordar de nada da história. Memória Operacional: Dígitos (Ordem Inversa) e Tarefa de Memória Visual (Ordem Inversa) 184 A pontuação de Marcelo na Ordem Direta do subteste Dígitos do WISC III, foi de quatro pontos, com um span de dígitos de três números. Na Ordem Inversa, o adolescente não pontuou. Já na Tarefa de Memória Visual adaptada do teste Bloco de Corsi, Marcelo fez seis pontos na Ordem Direta (span visual = 4). Na Ordem Inversa da atividade, Marcelo não acertou nenhuma sequência. Os resultados de Marcelo indicam dificuldades generalizadas, em ambos os domínios da memória operacional (alça fonológica e esboço visuoespacial), visto que o adolescente não foi capaz de reproduzir nenhuma sequência correta em ambas atividades na Ordem Inversa. 4.5.4. Atenção Atenção Seletiva e Alternada: Teste de Atenção por Cancelamento (Montiel & Capovilla, 2007). Tabela 33: Resultados Quantitativos de Marcelo para o TAC Acertos Erros Omissões Pontos Classificação Parte 1 07 00 04 07 Inferior Parte 2 01 00 00 01 Inferior Parte 3 06 00 00 06 Inferior Análise Qualitativa da Atividade A pontuação de Marcelo em todas as três partes do TAC ficaram abaixo da média. Na Parte 1 do teste, Marcelo fez sete pontos (quando a média para a sua idade é de Mp1 = 44,86). Já na Parte 2, Marcelo fez um ponto (Mpt2 = 4,55) e na Parte 3, seis pontos (Mpt3 = 44,73). Na Parte 1 do teste, apesar de seguir corretamente a sequência das linhas, Marcelo cometeu quatro erros de omissão, não tendo marcado o estímulo alvo quando deveria. Estes erros não são computados na determinação final do número de pontos, 185 visto que o critério de correção adotado utiliza-se apenas o número de acertos. No entanto, a presença deste tipo de erro constitui-se uma informação qualitativa importante e sugere prejuízos na capacidade atencional do adolescente. A questão da falta de habilidade motora e lentificação demasiada também podem ser observadas no desempenho de Marcelo no TAC, igualmente como foi verificado no subteste Código do WISC III. Desta forma, o desempenho rebaixado de Marcelo nesta atividade não pode ser atribuído diretamente a um déficit atencional (o qual, provavelmente está presente, visto os seus resultados também nas demais atividades), mas também às suas dificuldades de motricidade e lentificação acentuada. 4.5.5. Funções Executivas Planejamento: Figura Complexa de Rey Conforme anteriormente discutido, no Teste das Figuras Complexa de Rey o desempenho de Marcelo foi bastante baixo. O modo como o adolescente realizou a sua cópia sugere dificuldades no planejamento das ações, visto que Marcelo, por diversas vezes, demonstrava não saber muito bem por onde iniciar a sua cópia e como executála. Antes de iniciar algum desenho, Marcelo olhava a figura, pegava a sua folha, a girava, olhava a figura novamente, demonstrando dificuldades no que diz respeito ao planejamento de suas ações. O resultado final da cópia de Marcelo, por sua vez, também indicou prejuízos nesta habilidade relacionada ao funcionamento executivo. Seleção de Informações: Fluência Verbal (Semântica e Fonológica) Tabela 34: Resultados Quantitativos de Marcelo para o Teste de Fluência Semântica ANIMAIS 03 FRUTAS 03 186 Análise Qualitativa da Atividade Apesar de Marcelo ter identificado adequadamente as letras “A” e “M” quando do momento da aplicação do Subteste de Avaliação da Leitura do Protocolo Qualitativo Lapen, o adolescente não foi capaz de evocar nenhuma palavra para as referidas letras nem para a letra “F”, na etapa fonológica desta atividade. Já na etapa de fluência semântica, o desempenho do adolescente foi bastante inferior à média, tendo evocado apenas os nomes de três animais e três frutas (quando a média é de 16 animais e 13 frutas). 4.5.6. Aspectos Comportamentais Child Behavior Checklist (CBCL) Na Escala de Competência Social (Figura 46), Marcelo classificou-se na faixa clínica na Escalas de Atividades Escolares e não-clínica nos Relacionamentos Sociais e Atividades Diversas. No conjunto, o adolescente ficou classificado na faixa clínica na Escala de Competências Totais. Figura 46: Resultados de Marcelo para a Escala de Competências Sociais. 187 Já nas Escalas de Síndromes (Figura 47), Escala de Problemas Internalizantes, Escala de Problemas Externalizantes, e Problemas Totais (Figura 48) o adolescente classificou-se na faixa normal em todas. Figura 47: Resultados de Marcelo para a Escala de Síndromes Figura 48: Resultados de Marcelo para a Escala de Problemas Internalizantes, Escala de Problemas Externalizantes, e Problemas Totais. Na Escala Orientada pelo DSM-IV (Figuras 49 e 50), Marcelo classificou-se na faixa limítrofe apenas na escala de lentidão cognitiva, ficando na faixa normal nas demais. 188 Figura 49: Resultados de Marcelo para a Escala Orientada pelo DSM-IV. Figura 50: Resultados de Marcelo para a Escala Orientada pelo DSM-IV. Observação na escola e entrevista com a professora Marcelo estuda numa escola particular, de pequeno porte, localizada no seu bairro e próxima à sua residência. Na época das avaliações ele estava cursando a 3ª série do ensino fundamental. No dia marcado para a observação, Marcelo chegou bastante 189 atrasado para aula, fato que segundo a coordenadora e professora do menino, acontece praticamente todos os dias. A turma de Marcelo é uma turma pequena, com em média 12 alunos. Marcelo se senta na última carteira da sala. Apesar de trazer consigo uma mochila com caderno, Marcelo não possuía livros, e durante a primeira atividade em sala de aula (uma leitura coletiva de um texto do livro), Marcelo ficou o tempo todo disperso, chupando o dedo (comportamento frequente do adolescente), falando baixo e rindo sozinho. Marcelo não prestava atenção naquilo que a professora explicava e esta, tampouco, chamou a atenção do menino para que ele se concentrasse. Foram vários os momentos em que Marcelo saiu de sala de aula sem pedir autorização da professora. Segundo informações, Marcelo retirava-se bastante voluntariamente da sala de aula, principalmente para beber água e ir ao banheiro. A professora informou que nem ela nem os coordenadores repreendiam este seu comportamento, pois o deixavam livre para circular no ambiente da escola. A coordenadora comentou, no entanto, que algumas vezes, ao invés de voltar para a sua sala, Marcelo entrava propositalmente em outra turma, sendo necessário chamá-la para levá-lo de volta. É possível observar, mais uma vez, a dificuldade do adolescente em aceitar os limites e regras impostos, mas além disto, uma falha também da sua escola em impor estes limites, visto que Marcelo tinha total liberdade para sair a qualquer momento de sala para passear, sem pedir autorização de ninguém. Voltando para a aula, a professora de Marcelo, em determinado momento, mandou que as crianças se juntassem em grupos a fim de fazer uma atividade. Marcelo negou-se a participar desta atividade e somente após muita insistência da professora ele aceitou sentar-se junto a um grupo de colegas, porém, continuou sem fazer nada. Novamente ficou disperso, enquanto os seus colegas trabalhavam. 190 Segundo a professora do adolescente, o seu relacionamento com Marcelo é bom. Existe uma relação próxima e afetiva. Ela o acompanha já há três anos e ele recusa-se à trocar de professora. Por isto, Marcelo sempre fica na turma em que ela dá aula, variando entre a 2ª e a 3ª série. Em relação à sua interação com as outras crianças, a professora informou que esta era muito boa, e que todos o tratavam muito bem (existe uma diferença de idade entre eles, visto que Marcelo tinha 13 anos na época e os seus colegas em torno de 9 a 10 anos). Apesar desta boa relação, a professora informou que sente que os seus colegas debocham dele. Na atividade realizada em grupo, não foi observada uma interação entre Marcelo e as crianças. Apesar destas chamarem Marcelo para fazer a atividade, este recusava-se e ficava quieto ou falando sozinho. Sobre este comportamento, a professora relatou que tratava-se de um amigo imaginário do menino e que já fazia bastante tempo que Marcelo “conversava” com ele. No entanto, isto se dava esporadicamente, tendo fases em que o comportamento desaparecia e em outras voltava. Questionada acerca de se percebia algum fato que poderia desencadear o retorno deste comportamento, ela não afirmou que não. Em relação à ocorrência de algum problema no ambiente escolar, somente foi relatado alguns poucos momentos de agressividade física ou verbal. Durante o intervalo, Marcelo brincou de bola de gude com outras crianças. Em relação à sua aprendizagem, a professora informou que Marcelo não é alfabetizado, mas “já escreve o nome dele”. Ela disse ainda que as suas atividades preferidas eram aquelas associadas à matéria de artes. Segundo a professora de Marcelo a sua família é bastante atenciosa. No entanto, ela queixou-se de uma falta de preocupação e empenho dos pais em relação à sua aprendizagem. Quando ela envia algum dever de casa, Marcelo não o faz e os seus pais não atentam para isto. Sobre isto, conversou-se com a mãe do menino, e ela 191 informou que não cobra que ele faça os deveres porque ele sempre se recusa a fazer, visto que é bastante “preguiçoso”. No entanto, em conversa com a psicóloga de Marcelo, esta informou que os seus pais possuem esta dificuldade em impor regras e deveres para o adolescente. 4.5.7. Aspectos Sócio-Afetivos O primeiro desenho trabalhado com Marcelo foi o desenho com tema “Eu e minha escola”: Figura 51: Desenho de Marcelo de tema “Eu e minha escola”. Inicialmente, Marcelo negou-se a fazer o desenho com o tema trabalhado. Quando questionado o porquê de sua recusa, Marcelo afirmou que era porque não gostava da sua escola. No entanto, quando se perguntou ao adolescente os motivos pelos quais ele não gostava da escola, Marcelo apenas afirmou que era “Porque sexta não ia ter aula”, o que de certa forma contradiz sua afirmação anterior, visto que Marcelo não tinha gostado da falta de aula no dia indicado. Após a recusa em fazer o desenho, Marcelo afirmou que iria desenhar um carro e uma barraca, que, conforme pode ser verificado no desenho acima feito pelo adolescente, não são reconhecíveis como tais. 192 O segundo desenho feito pelo adolescente foi o desenho de tema “Eu e minha família” Figura 52: Desenho de Marcelo de tema “Eu e minha família”. Ao contrário do desenho anterior, na execução deste desenho Marcelo animouse e demonstrou gostar muito da sua família. Marcelo informou ter desenhado os seus pais, irmã, tios e primos. Sobre o seu pai, Marcelo informou que gostava dele, principalmente de brincar e jogar futebol juntos. Sobre sua mãe, Marcelo também informou que gostava muito dela, e de quem mais gostava era dela, seu pai e da sua irmã. Sobre os outros membros da família o relato de Marcelo foi bastante confuso. Marcelo parecia reproduzir frases que ouvia dentro de casa, como quando disse inicialmente que não iria desenhar a irmã “porque ela faz besteira com o marido”. O adolescente informou que gostava bastante do “marido” da irmã, mas o seu relato sobre este foi confuso, visto que inicialmente Marcelo informou que o cunhado havia morrido e que era seu amigo. Marcelo confundia-se também ao falar sobre os primos, chamando-os de sobrinhos (sua irmã não tem filhos). 193 O último desenho feito pelo adolescente foi o desenho de tema “Eu e meus amigos”. Figura 53: Desenho de Marcelo de tema “Eu e meus amigos”. Marcelo, novamente, negou-se a fazer o desenho e quando se insistiu, o adolescente mudou de assunto. Este perguntou se a pesquisadora gostava do apresentador Silvio Santos, e começou a contar uma história (história esta pouco inteligível), acerca de um dia que estava assistindo o programa e os seus pais mandaram ele ir dormir. Após contar a história, Marcelo disse que ia desenhar a “mesa” de Silvio Santos. Finalizado o desenho da “mesa” (Marcelo fez apenas uma linha no papel e disse que esta era a mesa), pediu-se novamente para Marcelo fazer um desenho com o tema trabalhado, porém o adolescente recusou-se novamente. 4.6. Adolescente 5 – Pseudônimo Gabriela Gabriela é uma adolescente de 13 anos, aluna do 6° ano do ensino fundamental de uma escola pública do município de São Tomé (interior do Rio Grande do Norte). Ela mora com a sua mãe (que trabalha como merendeira da escola na qual a adolescente 194 estuda) seu pai (um agricultor), e mais dois irmãos. A renda da família é de aproximadamente dois salários mínimos. De acordo com a sua mãe, Gabriela nunca apresentou nenhum problema grave de saúde. Dentre os tratamentos dos quais a adolescente já participou incluem-se a fisioterapia, hidroterapia, fonoaudiologia e psicopedagogia. Atualmente, Gabriela ainda faz fonoaudiologia e psicopedagogia em uma instituição pública da cidade de Natal. Em relação às atitudes durante as avaliações, Gabriela demonstrou ser uma adolescente meiga, tranquila e, em alguns momentos, um pouco tímida. Do mesmo modo que Lucas e Larissa, Gabriela também aceitou realizar tranquilamente todas as atividades da avaliação, apesar de, semelhante à Thaís, demonstrar uma dificuldade em iniciar a ação, além de questionar frequentemente se estava executando alguma atividade da maneira correta. A seguir serão apresentados os resultados da avaliação neuropsicológica de Gabriela: 4.6.1. Nível intelectual Resultados Quantitativos do WISC III Tabela 35: Resultados Quantitativos de Gabriela nos Subtestes do WISC III Escala verbal Escore Bruto Escore ponderado Escala de Execução Escore Bruto Escore Ponderado Informação 03 01 Completar figuras 01 01 Semelhanças 05 04 Código 00 01 Aritmética 01 01 Arranjo de figuras 02 01 Vocabulário 09 02 Cubos 01 02 Compreensão 00 01 Armar objetos 08 03 Dígitos (03) (01) Procurar símbolos (06) (01) 195 Tabela 36: Resultados Quantitativos de Gabriela nos Índices de QIs do WISC III Escalas Soma dos Pontos Ponderados QI/Índices Interpretação Verbal 09 48 Deficiência intelectual Execução 08 < 45 Deficiência Intelectual Total 17 < 50 Deficiência Intelectual Compreensão Verbal 08 52 Deficiência Intelectual Organização Perceptual 07 < 48 Deficiência Intelectual Resistência à Distração 02 47 Deficiência Intelectual Velocidade de Processamento 02 50 Deficiência Intelectual Análise Qualitativa da Atividade O QI Total de Gabriela (QIt < 50) também classificou-se na faixa de deficiência intelectual. A análise dos seus resultados no WISC III revelam uma certa homogeneidade entre os desempenhos obtidos pela adolescente nas Escalas Verbal (QI = 48) e de Execução (QI < 45). Focalizando-se na sua pontuação ponderada, verifica-se uma diferença de apenas um ponto entre as duas escalas, favorecendo a Escala Verbal. Quando se parte para a análise dos seus resultados nos Índices Fatoriais, observa-se novamente uma diferença sutil entre os Índices de Compreensão Verbal (CV) (QI = 52) e Organização Perceptual (OP) (QI < 48) de apenas um ponto ponderado. Nos outros dois Índices, Resistência à Distração (RD) (QI = 47) e Velocidade de Processamento (VP) (QI = 50), Gabriela obteve um escore de dois pontos ponderados. Analisando-se os subtestes que integram o Índice de Compreensão Verbal (CV), observa-se que Gabriela obteve seus melhores escores nos subtestes Vocabulário (Pontos Brutos = 09; Pontos Ponderados = 02) e Semelhanças (Pontos Brutos = 05; Pontos Ponderados = 04). No subteste Vocabulário, Gabriela fez uso de gestos e mímicas para tentar explicar aquilo que compreendia (apontou para a cabeça para falar 196 sobre o Item 1 – chapéu; mostrou o braço para explicar o Item 2 – relógio; simulou como se anda de bicicleta para explicar o que era – Item 7). Conforme discutido anteriormente, o estudo da linguagem em indivíduos com SD vem indicando a ocorrência de dificuldades específicas na linguagem expressiva e inteligibilidade de fala desta população, que muitas vezes procuram ser compensados por vocalizações simples e o uso gestos (Porto-Cunha & Limongi, 2010), semelhante a como Gabriela procedeu. Igualmente ao outros adolescentes avaliados na pesquisa o menor escore de Gabriela no Índice de Compreensão Verbal (CV) foi no subteste Compreensão (Pontos brutos = 00; Ponderados = 01). Neste subteste, Gabriela não fez nenhum ponto e suas respostas indicam que ela não compreendeu as instruções da atividade ou que tem dificuldades para elaborar de forma adequada uma resposta. A adolescente fixava-se em apenas alguma palavra das perguntas e explicava o seu significado, não sendo capaz de se colocar nas situações fictícias apresentadas. Por exemplo, no Item 2 (“O que você faria se encontrasse uma bolsa ou uma carteira de alguém numa loja?”) Gabriela fixouse na palavra “bolsa” e explicou para que esta era usada (R: “Serve pra colocar roupa, toalha...”). Após a repetição da questão e uma nova explicação, Gabriela pareceu novamente não ter compreendido e se fixou na palavra “loja” para falar sobre esta (R: “Lá compra batom, prancha, biquine...”). No que diz respeito aos subtestes que integram o Índice de Organização Perceptual (OP), a melhor pontuação de Gabriela foi no subteste Armar Objetos (Pontos Brutos = 08; Ponderados = 03). Apesar da pontuação da adolescente neste subteste ter sido um dos melhores no WISC III, este chama atenção por diversos aspectos. A adolescente parecia não ter intimidade com as peças, que se assemelham com as de quebra cabeças. Ela escolhia duas peças aleatórias e se fixava nelas. Porém, não tentava encaixá-las uma na outra e sim as colocava uma por cima da outra. Grande 197 parte dos acertos de Gabriela nesta atividade foram junções aleatórias e indicam uma dificuldade de organização perceptual da adolescente e de compreensão do todo (o que eram as figuras) a partir de suas partes. No subteste Código (Pontos Brutos = 00; Ponderados = 01) que compõe o Índice Velocidade de Processamento (VP), Gabriela não fez nenhum ponto. Porém o seu resultado não pode ser atribuído somente à sua lentificação (que também é acentuada), mas também devido à adolescente não conhecer ainda os números (o que impossibilitou de ser aplicada a parte B do teste – Gabriela não sabia contar nem até três, conforme observado no subteste Aritmética), a sua pouca habilidade motora (de escrita), e principalmente ao fato da adolescente não ter compreendido muito bem as instruções da atividade. Figura 54: Extrato do subteste Código do WISC III feito por Gabriela Estes resultados chamam atenção para o pouco conhecimento da adolescente de questões escolares básicas, tais como a habilidade de manusear um lápis, o conhecimento dos numerais e das cores (que Gabriela também demonstrou não conhecer ainda adequadamente) que já deveriam ter sido trabalhadas há bastante tempo com a adolescente, visto que ela já se encontra no 6° ano do ensino fundamental. 198 Matrizes Progressivas Coloridas de Raven (MPCR) Ao verificar-se a consistência da pontuação de Gabriela no teste MPCR, através da subtração dos totais parciais obtidos em cada série do instrumento, dos totais parciais esperados (fornecidos pelo manual), observou-se que a soma algébrica das três diferenças obtidas não foi igual a zero. Quando isto ocorre, o teste não deve considerado uma estimativa válida da capacidade intelectual do avaliando, de acordo com o seu manual, o que exigiu a exclusão destes resultados na presente discussão. 4.6.2. Linguagem Apesar de estar no 6° ano do ensino fundamental, Gabriela ainda não é alfabetizada. Na resolução das atividades do subteste de Leitura do Protocolo Qualitativo Lapen, Gabriela leu corretamente apenas as vogais, e mesmo assim ainda cometeu alguns erros. Como será discutido adiante, quando serão relatadas as observações na escola e entrevistas com os professores de Gabriela, o percurso escolar da adolescente é marcado por diversos lapsos, falta de atenção e de dedicação dos educadores com a sua aprendizagem, concepções errôneas, professores mal preparados, dentre diversos outros fatores que contribuíram para que não só neste, mas nos diversos outros instrumentos que compõem a bateria, Gabriela obtivesse um desempenho rebaixado. Em relação à linguagem expressiva, também se observou algumas dificuldades da adolescente. Gabriela possui a língua bastante protusa (característica comum nesta população) o que acaba dificultando a sua expressão oral da linguagem, e logo, a inteligibilidade da fala. Além disto, uma característica que chamou atenção é a pouca verbalização de Gabriela, além do seu repertório limitado de palavras. No entanto, diferentemente de Thaís, esta pouca verbalização não era devido a uma timidez 199 exacerbada, e sim à sua dificuldade de expressão e compreensão. Comumente, quando se dizia algo para Gabriela ela repetia as ultimas palavras da pesquisadora em tom de questionamento, como se não houvesse compreendido bem a mensagem. Observou-se, portanto, que além de uma habilidade de linguagem expressiva deficitária, Gabriela também apresenta dificuldades na compreensão da linguagem. Foi comum a repetição das instruções e a necessidade de explicações adicionais, em linguagem simples e o mais próximo possível do entendimento da adolescente, pois frequentemente Gabriela demonstrava não compreender o que era dito. Conforme se pode observar na resolução do subteste Códigos do WISC III por Gabriela, a adolescente não desenvolveu até o momento a habilidade motora, o que dificulta igualmente o desenvolvimento da escrita e do desenho. A adolescente ainda pega desajeitadamente no lápis, seu traçado é fino e ela escreve apenas garranchos. A professora de alunos especiais da escola de Gabriela informou que somente agora está ensinando a menina a escrever o seu nome, como ponto de partida. Figura 55: Extrato do caderno de Gabriela 200 Apesar de não saber escrever, Gabriela leva um caderno para a escola todos os dias e “copia” do quadro o conteúdo, imitando os seus colegas. 4.6.3. Memória Memória Visual: (Visuoespacialidade e Visuoconstrução): Resultados Quantitativos para o teste Figura Complexa de Rey Tabela 37: Resultados Quantitativos de Gabriela para o teste Figura Complexa de Rey Pontuação Classificação Cópia 2,0 Inferior Memória 00 Inferior Análise Qualitativa da Atividade A pontuação de Gabriela no teste Figura Complexa de Rey foi de apenas 02 pontos (de um total de 36) na etapa de cópia, e nenhum ponto na etapa reprodução de memória. O seu tipo de desenho foi o tipo VI, “redução da figura a um esquema familiar”, visto que ao fazer a sua cópia, Gabriela iniciou o seu desenho pela cruz exterior (Elemento 1), dizendo que esta era “a cruz de Jesus”, tendo feito também, em suas palavras, “uma carinha, com olhos e a boca”. Este tipo de cópia é presente aos quatro e cinco anos de idade, sempre bastante rara, e desaparece em indivíduos com DT a partir dos seis anos. Conforme Oliveira & Rigoni (2010) ressaltam, no manual do instrumento, neste tipo de cópia os sujeitos geralmente partem do círculo com os três pontos (elemento 11), que é assimilado como um rosto, para desenhar simplesmente um boneco, deixando de lado o resto do modelo, atividade feita por Gabriela, principalmente na etapa de memória. 201 Figura 56: Cópia da Figura Complexa de Rey de Gabriela Figura 57: Reprodução de memória da Figura Complexa de Rey feita por Gabriela A cópia e reprodução de memória da figura feita por Gabriela chamam a atenção por diversos aspectos: 1. Primeiramente, a não integração dos elementos, desenhados por Gabriela, da figura. A adolescente desenhou aspectos isolados desta, um ao lado do outro, o que demonstra uma dificuldade de composição do todo a partir de suas partes. 2. O traçado fino e a falta de precisão dos elementos desenhados, que pouco se assemelham aos da figura original, o que indica novamente a falta de habilidade manual, de desenho e dificuldades de Gabriela em representar as formas 202 (indicando possíveis déficits na percepção visual), que também podem ser consequentes da sua pouca estimulação. 3. A ausência de grande parte dos elementos importantes da figura, visto que a adolescente fixou-se em apenas alguns elementos isolados. Memória Verbal: Resultados quantitativos para o Teste de Aprendizagem AuditivoVerbal de Rey (Rey Auditory Verbal Learning Test- RAVLT). Tabela 38: Resultados Quantitativos de Gabriela para o teste RAVLT Lista A1 A2 A3 A4 A5 Número de Palavras 03 04 06 06 08 B1 (Interferência) 03 A6 A7 08 06 Análise Qualitativa da Atividade Gabriela lembrou-se de três palavras na sua primeira evocação (A1). Em seguida, observa-se um aumento progressivo no número de palavras evocadas até chegar a um máximo de oito palavras recordadas em (A5), o que sugere a presença de uma curva de aprendizagem verbal da adolescente. Também se observou uma certa estabilidade no processo de aprendizagem, visto que não houve perdas significativas após a apresentação da lista distratora (Gabriela acertou oito palavras em A5 e A6), indicando que estas palavras foram bem codificadas e armazenadas. Durante a execução do teste foi oferecido bastante tempo para Gabriela recordar as palavras, além de incentivar-se a adolescente para que tentasse recordar cada vez mais palavras. Estas por sua vez foram lidas lentamente e olhando-se sempre para a adolescente. Gabriela apresentou dificuldades em falar algumas palavras como chapéu, cantor, cortina, assim como aconteceu em outros momentos ao longo das avaliações. O desempenho de Gabriela neste teste surpreendeu, de certa forma, positivamente, visto 203 que se equiparou ao desempenho de Lucas e Larissa, os dois adolescentes que obtiveram os melhores resultados na bateria. Apesar do somatório total do número de palavras evocadas por Gabriela ter ficado bastante abaixo da média para a população geral (ΣA1 + A2 (...) + A5 = 27, quando a média para a população geral ΣA1 + A2 (...) + A5 = 44,2 palavras), este chegou a ser maior que o somatório de palavras recordadas por Lucas (26 palavras) e Larissa (25 palavras). Na etapa de reconhecimento, o mesmo fato ocorrido com Lucas e Marcelo repetiu-se com Gabriela e ela também afirmou que todas palavras da lista de reconhecimento tinham sido evocadas na etapa inicial do teste. Memória Episódica (Imediata e Tardia): Teste de Memória Lógica - Recordação de História. Reprodução da fala de Gabriela (memória imediata) “Rex, o cachorrinho Rex, João, um homem, o cachorrinho que era do homem João.” Reprodução da fala de Larissa (memória tardia) “Cachorrinho Rex... para comer... almoço... visto a roupa, escova o dente... o homem João.” Análise Qualitativa da Atividade A pontuação de Gabriela nesta atividade foi de apenas três pontos na etapa de memória imediata e também três pontos na de memória tardia. Nesta atividade, para a reprodução adequada da história, com uma sequência lógica de início, meio e fim, é necessário uma organização lógica do pensamento, a fim de recontar a história, 204 contextualizando-a. Desta forma, semelhante aos demais adolescentes, observa-se que foi difícil para Gabriela a apreensão e reprodução da história contada, sendo possível observar pelos extratos da fala da adolescente que esta só conseguiu recordar aspectos isolados da mesma. Memória Operacional: Dígitos (Ordem Inversa) e Tarefa de Memória Visual (Ordem Inversa) Na ordem direta do subteste Dígitos do WISC III, Gabriela pontuou três pontos, com um span de dígitos de dois números. Já na ordem inversa, a adolescente não conseguiu acertar nenhuma sequência. Durante a sua resolução, Gabriela mais uma vez demonstrou não ter compreendido as instruções do teste, de modo particular o significado da palavra “inverso”, visto que a adolescente repetia os números na mesma sequência, como na ordem direta. Na tarefa de memória visual adaptada do teste Bloco de Corsi Gabriela obteve um desempenho equivalente ao subteste Dígitos do WISC III. A adolescente pontuou apenas três pontos na ordem direta, e não acertou nenhuma sequência na ordem inversa. Durante a execução da ordem direta do teste, Gabriela chegava a tocar as cores corretas, porém numa sequência diferente, o que indica uma falta de compreensão da adolescente acerca das instruções da atividade. 4.6.4. Atenção Atenção Seletiva e Alternada - Teste de Atenção por Cancelamento (Montiel & Capovilla, 2007). 205 Tabela 39: Resultados Quantitativos de Gabriela para o TAC Acertos Erros Omissões Pontos Classificação Parte 1 06 02 00 06 Inferior Parte 2 00 07 00 00 Inferior Parte 3 02 02 04 02 Inferior Análise Qualitativa da Atividade No TAC, Gabriela também obteve uma pontuação abaixo da média, cometendo seis acertos na Parte 1 do teste (quando a média para a sua idade é de Mp1 = 39,95), nenhum acerto na Parte 2 do teste (Mpt2 = 3,62) e dois acertos na Parte 3 do teste (Mpt3 = 38). O desempenho de Gabriela nesta atividade chama atenção, pois apesar de terem sido dadas as instruções e explicações adicionais para a execução do teste, Gabriela cometeu alguns erros (dois na Parte 1 e quatro na Parte 3), assinalando símbolos diferentes do estímulo alvo. Além disto, a adolescente também não seguiu a sequência das linhas na Parte 1 do teste, como pode ser visto no extrato abaixo: Figura 58: Extrato de Gabriela da Parte 1 do TAC Na Parte 2, Gabriela cometeu erros de perseveração, pois a adolescente continuou assinalando o estímulo alvo da etapa anterior (o círculo), além de, 206 novamente, ter marcado os estímulos aleatoriamente, e não na sequência nas linhas, como foi ensinado nas instruções. Figura 59: Extrato de Gabriela da Parte 2 do TAC O desempenho de Gabriela no TAC indica a presença de déficits no domínio da atenção, porém, também podem ser associados à falta de entendimento da adolescente às instruções fornecidas, à sua pouca habilidade motora, além de uma acentuada lentificação. 4.6.5. Funções Executivas Planejamento: (Figura Complexa de Rey) Na etapa de cópia da Figura Complexa de Rey observou-se que Gabriela desenhou apenas alguns aspectos isolados da figura, demonstrando, portanto, dificuldades de composição do todo a partir de suas partes e de um planejamento inicial antes de iniciar a sua cópia. O desempenho de Gabriela não somente nesta, como nas demais atividades deste protocolo, sugerem a presença de déficits no funcionamento executivo da adolescente, notadamente nos aspectos de flexibilidade, já que a adolescente cometeu diversos erros de perseveração em diversas atividades, além de prejuízo no planejamento das ações. 207 Seleção de Informações (Fluência Verbal - Semântica e Fonológica) Tabela 40: Resultados Quantitativos de Larissa para o Teste de Fluência Semântica ANIMAIS 07 FRUTAS 03 Análise Qualitativa da Atividade Conforme pode ser observado na resolução do Subteste de Avaliação da Leitura do Protocolo Qualitativo Lapen, Gabriela não soube identificar nenhuma letra, o que pode ser associado ao fato da mesma ainda não ser alfabetizada. Por este motivo, a adolescente não realizou a etapa fonológica do teste e fluência verbal. Já no teste de fluência semântica, a adolescente evocou o nome de sete animais e de apenas três frutas. 4.6.6. Aspectos Comportamentais Child Behavior Checklist (CBCL) Na Escala de Competência Social (Figura 60), Gabriela classificou-se na faixa normal na escalas de atividades diversas e na escala de relacionamentos sociais. Figura 60: Resultados de Gabriela na Escala de Competências Totais. 208 Já na Escala de Síndromes (Figura 61), a adolescente ficou na faixa limítrofe nas escalas de isolamento e depressão, e na escala de problemas somáticos. Figura 61: Resultados de Gabriela para a Escala de Síndromes. Na Escala de Problemas Internalizantes, a adolescente classificou-se na faixa clínica. Na de Problemas Externalizantes, Gabriela ficou na faixa normal e limítrofe na de Problemas Totais (Figura 62). 209 Figura 62: Resultados de Gabriela na Escala de Problemas Internalizantes, Escala de Problemas Externalizantes, e Escala de Problemas Totais. Na Escala Orientada pelo DSM-IV (Figuras 63 e 64), Gabriela classificou-se na faixa normal em todas as escalas. Figura 63: Resultados de Gabriela na Escala Orientada pelo DSM-IV. 210 Figura 64: Resultados de Gabriela na Escala Orientada pelo DSM-IV. Observação na escola e entrevistas com os profissionais Gabriela é aluna de uma turma do 6° ano do ensino fundamental de uma escola pública de uma cidade do interior do Rio Grande do Norte. A sua turma tem em torno de 25 alunos. A adolescente estuda na escola desde bastante pequena. Sua mãe trabalha como merendeira nessa mesma escola. No primeiro momento da observação, a turma estava tendo aula da disciplina de português. Gabriela sentava-se em uma das primeiras cadeiras e “escrevia” no seu caderno a matéria do quadro. Em uma primeira conversa com a professora de português, esta informou que Gabriela é bastante quieta durante as aulas, e que se mantêm isolada dos outros colegas, apenas olhando os livros e rabiscando o material. Segundo a professora, Gabriela não procura interagir com os colegas, nem eles com ela. Em alguns raros momentos, a professora já observou a procura de Gabriela em chamar a atenção da turma, “provocando” os colegas, com atitudes como estirar a língua, dançar, ou pegar o 211 material de algum aluno e dizer que é dela. Segundo a professora, os outros alunos apenas dão risadas destas atitudes. A professora de português informou que o seu trabalho com Gabriela é mais no sentido de integrá-la à turma. Segundo a mesma, quando têm alguma atividade de leitura, por exemplo, ela interage com Gabriela com o intuito de envolvê-la nas atividades. Não é feito nenhum trabalho voltado para a aprendizagem da adolescente. Gabriela não é alfabetizada, e só sabe fazer alguns rabiscos que “copia” do quadro. A professora informou ainda que normalmente não faz avaliação com Gabriela e quando o faz é alguma pintura. No segundo horário, Gabriela e sua turma tiveram aula de artes. Em conversa com a professora da disciplina, esta informou que tem uma boa relação com a adolescente, no entanto, tem muita dificuldade, pois ainda não conseguiu desenvolver um trabalho com Gabriela de maneira correta, visto que não se sente preparada para isto e nunca teve nenhuma formação neste sentido. Ela informou, ainda, que procura socializar Gabriela com os outros alunos, e que esta tem uma boa relação com eles, porém, não é possível afirmar que a adolescente possua alguma amizade. Esta segunda professora também não observa a procura de Gabriela em interagir com os colegas de turma e nem a deles com ela. Porém, se propõe à turma e à ela uma aproximação em trabalhos em grupos, ambos aceitam. A avaliação de Gabriela na disciplina é a mesma dos seus colegas, porém a adolescente a entrega em branco ou faz apenas alguns rabiscos. Mesmo assim, a professora coloca notas boas para Gabriela passar de ano: “Dizem que é melhor passá-la para ela não se sentir rejeitada ou não inclusa”, afirmou a professora. Um aspecto interessante na escola de Gabriela é a existência de uma sala para alunos especiais. A professora responsável pela sala fez um treinamento para trabalhar 212 nela, sendo esta equipada com recursos específicos. Esta sala está em funcionamento há cerca de seis meses. O trabalho que é feito com Gabriela na sala para alunos especiais ainda está em fase inicial. A professora informou que faz atividades para Gabriela escrever o seu nome, trabalha a lateralidade, sua memorização através de jogos educativos, identificação de cores e formas, trabalho com alfabeto móvel, dentre outros. Ela informou que Gabriela ainda não pega corretamente no lápis e possui problemas de coordenação motora fina. Além disto, ela adora jogos e atividades com imagens, cores e pinturas e possui mais dificuldades na linguagem e em manter a atenção. De acordo com a professora, nem sempre, porém, Gabriela quer ir para a sala. Ela ainda ressaltou o fato da adolescente ser bastante dispersa, possuir dificuldade em entender as explicações (mesmo falando-se lentamente) e mesmo fazendo uso de exemplos. A professora de alunos especiais acredita que os outros professores da escola não souberam alfabetizar Gabriela, pois não tinham a formação adequada. Ainda de acordo com a professora, ainda não se pôde observar uma grande evolução no desempenho de Gabriela. Algo ressaltado por ela refere-se ao fato da adolescente não conseguir reter os conhecimentos ensinados. Segundo ela, muitas vezes trabalha um determinado conteúdo com Gabriela e no dia seguinte, quando questionada, a adolescente já não sabe mais como fazer a atividade. A professora acredita que é necessário um trabalho bastante repetitivo com a adolescente visto que ela esquece logo os ensinamentos. A professora informou ainda que Gabriela é uma menina meiga e carinhosa e que possui uma boa interação com todos na escola. Gabriela gosta de observar os outros alunos, mas tem momentos de isolamento, nos quais ela fala sozinha. Alguns dias, Gabriela chega calada e não fala com ninguém. Segundo a sua mãe este comportamento 213 ocorre quando a adolescente está no seu período menstrual ou quando o seu pai briga com ela, obrigando-a a ir para a escola. A professora de alunos especiais comentou ainda que a escola enfrenta dificuldades no processo de inclusão de Gabriela e dos outros alunos, pois, apesar dela ter tido a oportunidade de participar de uma capacitação, os outros professores não tiveram formação para isto e por isso não estão preparados para lidar e dar aula à adolescente e os outros alunos especiais da escola. A professora chamou atenção, ainda, para um pouco acompanhamento e incentivo da família de Gabriela para a aprendizagem da adolescente. Como a menina mora em uma cidade do interior que não possui centros de tratamento, Gabriela precisa viajar dois dias da semana para Natal e só restam três dias para a adolescente ir à escola. Destes três dias, apenas em dois Gabriela vai para a sala especial. 4.6.7. Aspectos Sócio-Afetivos O primeiro desenho trabalhado com Gabriela foi com o tema “Eu e minha escola”: Figura 65: Desenho de Gabriela de tema “Eu e minha escola”. 214 À medida que Gabriela fazia o seu desenho ela falava aquilo que estava desenhando, tendo feito primeiro a sua “aula”, a sala, um coração, um cachorro, e a sua escola (o quadrado maior). Após isto, Gabriela “escreveu” o nome de alguns colegas da escola e depois o nome dos seus pais. Após ter finalizado o desenho, Gabriela não quis falar nada sobre este. Foram feitas algumas perguntas sobre o ambiente escolar da adolescente, como se ela gostava da sua escola e o que mais gostava nela. A adolescente só respondeu afirmativamente que gostava da escola, porém não soube dizer o que mais gostava nesta. Conforme anteriormente apontado, Gabriela frequentemente demonstrava não compreender o que era falado e muitas vezes repetia as palavras da pesquisadora em tom de questionamento. Quando se explicava novamente para a adolescente, esta apenas ria, timidamente. Quando questionada sobre o que tinha na sua escola e que ela mais gostava, Gabriela respondeu: “Tem brinquedo, bolsa, pai, lua, cachorro, peru (...)”. Vale salientar que as palavras pai, lua e peru tinha sido evocadas e repetidas pela adolescente na última sessão, quando foi aplicado o teste RAVLT. Gabriela ainda falou o nome de algumas professoras de quem gostava e de alguns colegas. O segundo desenho feito por Gabriela foi o desenho dos amigos: Figura 66: Desenho de Gabriela de tema “Eu e meus amigos”. 215 Diferentemente do desenho da escola, Gabriela reproduziu o desenho dos amigos silenciosamente. Ao terminar o desenho foram feitas algumas perguntas para a adolescente. Perguntou-se ela ela tinha amigos e ela respondeu afirmativamente, porém não soube dizer o nome de nenhum deles. Perguntou-se ainda, quem eram as pessoas que ela havia desenhado, mas Gabriela também não respondeu. Em seguida, Gabriela apontou para a figura humana maior e começou a indicar as partes do corpo humano (perna, coxa, nariz, orelhas, cabeça). O último desenho feito por Gabriela foi o desenho da família: Figura 67: Desenho de Gabriela de tema “Eu e minha família”. Gabriela informou ter desenhado a sua mãe (mainha), o pai (painho), sua irmã, irmão e avó. Novamente, a adolescente não expressou-se muito acerca do desenho, só tendo informado que gostava bastante do pai e da mãe, e que gostava da sua irmã, mas que não brincava com ela “porque ela é chata”. 4.7. Adolescente 6 – Pseudônimo Diogo 216 O último participante da pesquisa é Diogo, um adolescente de 13 anos, aluno do 2° do ensino fundamental de uma escola de pequeno porte da cidade de Natal. Diogo reside com a sua mãe (uma dona de casa), o padrasto (policial militar) e uma irmã mais nova, fruto do novo relacionamento da mãe. Quando criança, Diogo apresentou problemas pulmonares e teve repetidamente quadros de pneumonia. No entanto, foi feito um tratamento (que não chegou a ser cirúrgico) com o menino e atualmente ele está melhor. Recentemente, porém, descobriu-se que Diogo possui doença celíaca (intolerância ao glúten) assim como outra adolescente da pesquisa (Larissa). Dentre as terapias que Diogo participou incluem-se a fonoaudiologia, fisioterapia, hidroterapia e terapia ocupacional. Atualmente, Diogo tem atendimentos com profissionais da fonoaudiologia, psicopedagogia e psicologia, além de participar de aulas de reforço de português e matemática, e aulas de informática. De acordo com a psicóloga que atende Diogo, o adolescente possui dificuldades de interação, demonstrando atitudes de oposição, além de apresentar um déficit de atenção/concentração. Semelhante àquilo que os profissionais relatavam de Marcelo, foi possível observar muitos relatos de dificuldades de Diogo em aceitar limites e regras. Também foi ressaltada a dificuldade dos responsáveis pelo menino lidarem com o seu comportamento inadequado e com a sua forte dependência materna. Outro ponto destacado foi a dificuldade de linguagem que Diogo apresenta. O relato da sua fonoaudióloga, por sua vez, chamava a atenção para os desafios nas terapias com Diogo devido à sua demasiada agitação. Também foram relatados comportamentos agressivos no ambiente escolar e familiar, além de irritabilidade durante as terapias. 217 As avaliações de Diogo também foram atravessadas por algumas dificuldades. A sua linguagem expressiva é limitada, tendo sido difícil, em alguns momentos, a compreensão do que Diogo falava. Para compensar essa dificuldade na fala, era comum Diogo utilizar-se de gestos (característica desta população e já anteriormente discutida). O comportamento agitado de Diogo, além da sua falta de atenção em alguns momentos da avaliação também interferiu negativamente. A seguir serão discutidos os resultados encontrados na avaliação neuropsicológica de Diogo. 4.7.1. Nível intelectual Resultados Quantitativos do WISC III Tabela 41: Resultados Quantitativos de Diogo nos Subtestes do WISC III Escala verbal Escore Bruto Escore ponderado Escala de Execução Escore Bruto Escore Ponderado Informação 04 01 Completar figuras 01 01 Semelhanças 00 01 Código 12 01 Aritmética 01 01 Arranjo de figuras 00 01 Vocabulário 04 01 Cubos 05 03 Compreensão 02 01 Armar objetos 03 01 Dígitos (02) (01) Procurar símbolos (08) (01) 218 Tabela 42: Resultados Quantitativos de Diogo nos Índices de QIs do WISC III Escalas Soma dos Pontos Ponderados QI/Índices Interpretação Verbal 05 < 45 Deficiência intelectual Execução 07 < 45 Deficiência Intelectual Total 12 < 50 Deficiência Intelectual Compreensão Verbal 04 46 Deficiência Intelectual Organização Perceptual 06 < 48 Deficiência Intelectual Resistência à Distração 02 47 Deficiência Intelectual Velocidade de Processamento 02 47 Deficiência Intelectual Análise Qualitativa da Atividade Os resultados de Diogo no WISC III classificaram-se na faixa de deficiência intelectual. Semelhante ao que ocorreu na delimitação do escore de QIs de Thaís, Marcelo e Gabriela, as pontuações de Diogo foram abaixo das menores pontuações às quais o instrumento começa a fornecer os índices de QIs. Assim, a sua pontuação ponderada de 12 pontos foi equivalente a um QIt < 50. Devido a esta falha do WISC III em fornecer escores mais baixos, não se observou diferenças entre os QIe e o QIv, tendo ambos ficado numa faixa < 45. Os resultados de Diogo evidenciaram uma certa homogeneidade, com baixos escores nos subtestes de ambas as escalas. No entanto, se focalizados apenas a pontuação bruta e ponderada, percebe-se que houve uma diferença, bastante sutil, entre os dois aspectos, favorecendo o QIe. Um fato que chamou a atenção na resolução dos subtestes que compõem o Índice de Compreensão Verbal (CV) (QI = 46) por Diogo foi a utilização deste de mímicas e gestos (igualmente como Gabriela) para tentar expressar aquilo que compreendia. No subteste Vocabulário (Pontos brutos = 04; Ponderados = 01), por exemplo, nos dois primeiros itens (e os únicos que Diogo acertou), ele apontou para a 219 cabeça e para o braço, a fim de ajudar a explicar o que era um chapéu e um relógio, respectivamente. Nos itens seguintes Diogo não soube responder. No subteste Semelhanças (Pontos brutos = 00; Ponderados = 01), Diogo pareceu não ter compreendido as instruções, mesmo após repetidas explicações. Ele não soube responder corretamente a nenhum item, e apenas apontava para algum objeto que era falado (como por exemplo, a camisa e o sapato), ou fazia uma mímica para representálo (fez o gesto de tocar o violão quando questionado o que tinha em comum entre o violão e o piano). Em relação aos subtestes que integram o Índice de Organização Perceptual (OP) Diogo também obteve baixos escores. No subteste Cubos (Pontos brutos = 05; Ponderados = 03), Diogo acertou os dois primeiros itens em sua primeira tentativa. No entanto, no segundo item ele levou quase todo o tempo limite (40´) para construir o modelo correto. No terceiro item, Diogo acertou apenas na sua segunda tentativa, e novamente, este acerto foi executado num tempo alto, quase no limite estabelecido. Nos itens seguintes, Diogo não foi capaz de reproduzir os modelos. A sua baixa pontuação neste subteste indica uma dificuldade do adolescente na percepção e organização visuoespacial. No subteste Armar Objetos observou-se que Diogo não estava motivado para sua execução, não tendo se mobilizado a formar as figuras, visto que ele mal atentava e trabalhava com as peças, fazendo apenas algumas junções aleatórias, a fim de dizer logo que já tinha terminado. Este comportamento, pouco motivado e atencioso foi constante na avaliação de Diogo. Resultados Quantitativos do MPCR 220 Tabela 43: Resultados Quantitativos de Diogo para o MPCR A Ab B 08 05 02 Discrepância Somatório 15 0;+1;-1 No teste MPCR, Diogo acertou ao todo 15 problemas (de um total de 36). Na série A, o adolescente acertou oito dos 12 problemas, na série Ab, cinco problemas e na série B apenas dois problemas. A maioria dos erros cometidos por Diogo foram erros do tipo III (Repetição do Padrão), totalizando 10 erros. O adolescente também cometeu cinco erros do tipo II (Individuação Inadequada), cinco do tipo IV (Correlato Incompleto) e um do tipo I (Diferença). 4.7.2. Linguagem Diogo ainda não sabe ler nem escrever. Na avaliação feita através do instrumento de Avaliação da Leitura do Protocolo Qualitativo Lapen, o adolescente reconheceu algumas letras (J, A, U, V, G, M, T, C, E, D, P, B), porém, ainda realizou trocas. Na etapa de leitura das sílabas, de forma semelhante à Lucas, Diogo foi capaz apenas de ler as letras isoladamente, sem conseguir ainda juntá-las. Foi pedido à Diogo que ele escrevesse o alfabeto e as vogais a fim de se confirmar se ele já os tinha aprendido. Pelo extrato abaixo, observa-se a dificuldade do adolescente ao escrever as vogais e consoantes (o que torna difícil o seu reconhecimento), tendo os escrito bastante rapidamente. Ele foi capaz de escrever as vogais, mas não completou o alfabeto. 221 Figura 68: Extrato da atividade de Diogo Conforme mencionado anteriormente, dentre os adolescentes participantes da pesquisa, Diogo foi o que mais apresentou problemas na comunicação. A sua fala é emitida com bastante dificuldade, o que a torna, por diversas vezes, pouco inteligível. A sua mãe e professora também relataram dificuldades em compreender a fala do menino, que, ainda de acordo com a mãe, está relacionada aos problemas respiratórios e à obstrução nasal que Diogo apresenta desde pequeno. Devido a problemas de disponibilidade de vagas, Diogo ficou cerca de três anos sem fazer fonoaudiologia, e neste período houve um grande retrocesso em relação à sua linguagem. Atualmente, a mãe paga um tratamento fonoaudiológico particular para o filho. Diante da sua dificuldade em expressar-se com clareza, foi observado que Diogo, em diversas ocasiões, utilizou-se de gestos e mímicas. A utilização destes recursos se dá como forma de compensar as dificuldades na fala destas crianças e adolescentes. Já em relação à compreensão da linguagem, observou-se também uma dificuldade de Diogo em entender corretamente as mensagens e instruções que lhe eram 222 passadas. No entanto, a sua falta de atenção pode também ter contribuído com esses déficits na compreensão da linguagem observados. 4.7.3. Memória Memória Visual (Visuoespacialidade e Visuoconstrução): Resultados Quantitativos para o teste Figura Complexa de Rey Tabela 44: Resultados Quantitativos de Diogo para o teste Figura Complexa de Rey Pontuação Classificação Cópia 00 Inferior Memória 00 Inferior Análise Qualitativa da Atividade De todos os adolescentes avaliados na pesquisa, Diogo foi o que obteve o pior desempenho no teste Figura Complexa de Rey, não tendo feito nenhum ponto nem na cópia, nem na reprodução de memória. O seu desenho pode ser classificado como uma cópia do tipo VII, ou seja, uma simples garatuja, na qual não se reconhece nenhum elemento do modelo original. A garatuja é típica de crianças muito novas ou casos graves de deficiência intelectual. 223 Figura 69: Cópia de Diogo da Figura Complexa de Rey A cópia da figura e principalmente a execução desta por Diogo chamam a atenção por alguns aspectos: 1. Apesar de olhar constantemente para a figura original e somente após isto iniciar algum desenho na sua folha, a cópia de Diogo não se assemelha nem um pouco com o modelo original, não sendo possível reconhecer nenhum elemento deste. Em diversos momentos foi ressaltado ao adolescente o fato dele ter que fazer um desenho o mais parecido possível com a figura. Ao final do seu desenho, questionou-se a Diogo onde estavam localizados no modelo original os diversos elementos que ele desenhou e surpreendentemente ele apontava e correspondia os elementos do seu desenho com os da figura, como se fosse algo óbvio. Este fato chama a atenção para a possibilidade de déficits na percepção visual de Diogo, visto que elementos que eram pra ser representados como traços, linhas ou quadrados, Diogo os desenhava como círculos ou outras figuras geométricas bastante diferentes; 224 2. Mais uma vez observou-se uma falta de atenção de Diogo com a sua cópia, tendo feito, apesar de num tempo extenso (oito minutos), de maneira bastante agitada e pouco cuidadosa; Como mencionado anteriormente, a cópia de Diogo é típica de indivíduos com comprometimentos intelectuais e está em consonância com os resultados obtidos pelo adolescente nos outros instrumentos da bateria. Sugere ainda, déficits tanto na percepção, quanto na organização visuoespacial. Na reprodução de memória Diogo também desenhou algo bem diferente do modelo original e até da sua cópia inicial, parecendo ter desenhado um sol rodeado de outros elementos. Figura 70: Reprodução de Memória da Figura Complexa de Rey de Diogo Memória Verbal: Resultados quantitativos para o Teste de Aprendizagem AuditivoVerbal de Rey (Rey Auditory Verbal Learning Test- RAVLT) Tabela 45: Resultados Quantitativos de Diogo para o teste RAVLT Lista A1 A2 A3 A4 A5 Número de Palavras 02 01 01 01 01 B1 (Interferência) 01 A6 A7 01 00 Análise Qualitativa da Atividade Foram feitas duas tentativas de aplicação deste teste com Diogo, visto que na primeira tentativa o adolescente estava bastante agitado e não conseguiu prestar atenção. 225 Nesta segunda tentativa, o máximo de palavras que Diogo conseguiu lembrar foram duas palavras, na primeira evocação (A1). Nas evocações seguintes, Diogo só lembrouse de uma palavra, o que indica uma capacidade de aprendizagem verbal deficitária do adolescente, visto que não ocorreu o aumento gradativo no número de palavras recordadas, que seria esperado. O número total de palavras evocadas por Diogo (Span de Palavras = 05) também ficou bastante abaixo da média (ΣA1 + A2 (...) + A5 = 44,2). Durante a execução deste teste, Diogo também se utilizou de gestos para indicar as palavras da lista que recordava. Apontou para a cabeça, a fim de indicar a palavra “chapéu”, e também apontou para o nariz (que é uma das palavras da lista). Diogo ainda tentou representar uma casa através de gestos. Observa-se novamente a grande dificuldade de Diogo em expressar-se oralmente e o uso de gestos e mímicas como forma de compensar a sua dificuldade. Memória Episódica (Imediata e Tardia): Teste de Memória Lógica - Recordação de História (Miranda, 2004) No teste de Recordação de História, Diogo recordou-se apenas do “carro” da história, sendo a única palavra que ele disse. Foram feitas perguntas do tipo “de quem era o carro”, mas Diogo não soube responder. Na etapa de memória tardia, Diogo não foi capaz de recordar-se de nada. Não se pode afirmar, no entanto, que a dificuldade de Diogo neste teste, assim como no teste anterior (RAVLT) se deve apenas a um déficit no seu sistema de memória, visto que sua falta de atenção também pode ter contribuído, bem como as dificuldades envolvidas no processo de linguagem expressiva. Memória Operacional – Dígitos (Ordem Inversa) e Tarefa de Memória Visual (Ordem Inversa) 226 Na ordem direta do subteste Dígitos do WISC III, Diogo fez dois pontos, com um span de dígitos de dois números. Já na ordem inversa, o adolescente não pontuou. Na Tarefa de Memória Visual, Diogo pontuou cinco pontos na Ordem Direta (span visual = 4). Já na Ordem Inversa da atividade, que investiga especificamente o esboço visuoespacial, subcomponente da memória operacional, Diogo não acertou nenhum sequência. Estes resultados indicam que, no que se refere aos componentes da memória operacional, Diogo possui dificuldades em tarefas que envolvem ambos os aspectos, não se observando a “força maior” comumente relatada da população com SD em tarefas que envolvem o domínio do esboço visuoespacial. 4.7.4. Atenção Atenção Seletiva e Alternada: Teste de Atenção por Cancelamento (Montiel & Capovilla, 2007). Tabela 46: Resultados Quantitativos de Diogo para o TAC Acertos Erros Omissões Pontos Classificação Parte 1 17 00 33 17 Inferior Parte 2 00 00 00 00 Inferior Parte 3 12 04 00 15 Inferior O desempenho de Diogo no TAC ficou abaixo da média para sua idade em todas as partes do teste (Mpt1 = 39,95; Mpt2 = 3,62; Mpt3 = 38). Diogo fez 17 pontos na Parte 1 do teste, no entanto, cometeu diversos erros de omissão (33 erros). Apesar das instruções para que Diogo seguisse a sequência das linhas, e de se ter chamado a sua atenção para o seu erro, Diogo, ainda assim, marcava o estímulo alvo aleatoriamente, indicando uma impulsividade e ansiedade em assinalar logo os estímulos alvos encontrados. Na Parte 3 do teste, por sua vez, semelhante à Lucas, Diogo também 227 cometeu erros de perseveração, assinalando em uma determinada linha o estímulo alvo que deveria ter sido assinalado apenas na linha anterior. Figura 71: Extrato do Protocolo do TAC - Parte 1 executado por Diogo Os resultados de Diogo no TAC, somado ao seu desempenho nas outras atividades, indicam a existência de déficits na habilidade atencional do adolescente, principalmente, na sua capacidade em focalizar a atenção. O seu comportamento impulsivo e agitado ao longo das avaliações contribuiu sobremaneira para o quadro, pois constantemente Diogo desviava a sua atenção das atividades, demonstrando também dificuldades em sustentar a sua atenção para uma determinada tarefa. 4.7.5. Funções Executivas Planejamento: Figura Complexa de Rey Conforme já discutido, na etapa de cópia da Figura Complexa de Rey, Diogo não fez nenhum ponto, tendo desenhado apenas uma garatuja, bastante diferente do modelo original. O desempenho de Diogo nesta atividade, por sua vez, pode ser relacionado à déficits na percepção visual, assim como nas habilidades de visuoespacialidade e visuoconstrução, não excluindo-se também a hipótese de 228 comprometimentos no planejamento das ações, que provavelmente está presente, visto a sua cópia mal elaborada e mal organizada. Seleção de Informações: Fluência Verbal (Semântica e Fonológica) Tabela 47: Resultados Quantitativos de Diogo para o Teste de Fluência Semântica ANIMAIS 01 FRUTAS 01 Análise Qualitativa da Atividade Apesar de ter reconhecido adequadamente as letras que compõem a etapa fonológica desta atividade no Subteste de Avaliação da Leitura do Protocolo Qualitativo Lapen, Diogo não foi capaz de dizer nenhuma palavra iniciada por estas letras nesta primeira etapa. Já na etapa de fluência semântica, categorias animais e frutas, Diogo só foi capaz de evocar o nome de um animal e de uma fruta, desempenho, portanto, bastante abaixo do esperado (média de 16 animais e 13 frutas). 4.7.6. Aspectos Comportamentais Child Behavior Checklist (CBCL) Na Escala de Competência Social (Figura 72), Diogo classificou-se na faixa clínica na Escalas de Atividades Escolares e na Escala de Competências Totais. 229 Figura 72: Resultados de Diogo para a Escala de Competências Totais. Já na Escala de Síndromes (Figura 73), Diogo classificou-se na faixa clínica apenas na Escala de problemas somáticos. Na escala de Problemas Internalizantes, o adolescente também ficou classificado na faixa clínica (Figura 74). Figura 73: Resultados de Diogo para a Escala de Síndromes. 230 Figura 74: Resultados de Diogo na Escala de Problemas Internalizantes, Escala de Problemas Externalizantes, e Escala de Problemas Totais. Na Escala Orientada pelo DSM-IV (Figuras 75 e 76), novamente, Diogo classificou-se na faixa clínica na escala de problemas somáticos, ficando na faixa normal nas demais. Figura 75: Resultados de Diogo na Escala Orientada pelo DSM-IV. 231 Figura 76: Resultados de Diogo na Escala Orientada pelo DSM-IV. Observação na escola e entrevistas com profissionais Diogo é aluno do 2° do ensino fundamental de uma escola de pequeno porte, localizada no seu bairro de residência, na cidade de Natal. Ele estuda nesta escola há três anos. Sua turma possui cerca de 25 alunos. A professora informou que além de Diogo, outros dois alunos “especiais” estudam naquela mesma turma. De acordo com a coordenadora da escola, Diogo pode ser considerado um menino sociável, mas com grandes oscilações de comportamento. Alguns dias ele chega mais disposto na escola, ficando em sala de aula e fazendo as atividades. Porém, em outros dias recusa-se a entrar em sala, isolando-se no pátio, apesar da insistência de todos e de ameaçarem ligar para os seus pais. Quando assume esse comportamento, somente após muito tempo e quando ninguém mais o está observando, é que Diogo entra em sala. A coordenadora informou ainda que Diogo é bastante apegado à sua professora e ao porteiro da escola. De acordo com as mesmas existe uma boa interação com as outras crianças da turma, existindo uma aproximação de ambas as partes. Diogo 232 participa de brincadeiras e atividades em grupo, porém, em alguns momentos, briga com as outras crianças, principalmente quando quer algo só para ele. Quando estas brigas ocorrem é comum que Diogo fale palavrões, mas segundo a professora nem todos conseguem compreendê-lo devido à sua já relatada dificuldade de expressão. Semelhante ao que ocorria com Lucas, a professora de Diogo informou que este também se irritava e queria fazer as atividades iguais à dos seus colegas, procurando copiar do quadro aquilo que a professora escrevia, apesar de ainda não saber escrever. O caderno de Diogo é repleto de rabiscos (suas cópias do quadro), porém, segundo a sua professora “na cabeça dele ele está fazendo igual aos seus colegas”. O caderno de Diogo era bastante mal cuidado. Ele passava as folhas rapidamente e o rasurava constantemente. Durante a observação em sala de aula verificou-se que o comportamento agitado de Diogo durante as avaliações também era comum na escola. Diogo estava sentado numa mesinha junto com outras três crianças, a fim de realizar uma atividade. No entanto, foram diversos os momentos em que Diogo se levantou da cadeira, ora para mexer na mochila, ora para apanhar algo que derrubava, ora para sair de sala. Apesar da coordenadora e professora terem relatado que Diogo mantinha uma boa interação com os seus colegas, não foi isso que se observou em sala de aula. Diogo brigou com os colegas que estavam sentados próximos dele, e foi reclamar com a professora. No horário do intervalo, todos os alunos retiraram-se para o pátio e Diogo permaneceu em sala de aula isolado. Do mesmo modo que a professora de Gabriela, a professora da turma de Diogo também relatou dificuldades em ensinar ao adolescente, pois não teve uma formação específica para isto, e não se sente preparada para trabalhar com a sua deficiência. Somado a isto, ela também reclamou do fato de ser difícil para a mesma dar uma 233 atenção diferenciada para Diogo e ter que dar conta ao mesmo tempo dos restantes dos alunos da sala. 4.7.7. Aspectos Sócio-Afetivos O primeiro desenho trabalhado com Diogo foi o desenho de tema “Eu e minha escola”. Figura 77: Desenho de Diogo de tema “Eu e minha escola”. O desenho de Diogo apresenta pouca precisão de detalhes, além de ser bastante desorganizado. As figuras humanas desenhadas pelo adolescente são praticamente irreconhecíveis, visto que ele desenhou apenas as cabeças das pessoas, não se preocupando em desenhar o tronco e os membros. Diogo não falou muito acerca do seu desenho e as informações apresentadas a seguir foram obtidas a partir de perguntas feitas para ele. Conforme observa-se no desenho do adolescente, Diogo desenhou diversas figuras humanas, porém, não soube indicar quem era nenhuma pessoa, dizendo apenas que era uma menina ou um menino. Quando questionado se estas pessoas eram seus colegas de sala, Diogo informou que sim, porém não soube dizer o nome de nenhum deles. 234 Após finalizado o desenho, Diogo quis “escrever” abaixo, mas também não disse o que estava escrevendo. Perguntou-se para Diogo se ele gostava de ir para a sua escola e o adolescente respondeu que sim. Já quando questionou-se sobre o que Diogo mais gostava da sua escola, o adolescente respondeu que da sua “tia” e “de escrever”. Diogo também informou que durante o intervalo jogava bola com dois colegas. O segundo desenho trabalhado com Diogo foi o desenho com o tema “Eu e minha família”: Figura 78: Desenho de Diogo de tema “Eu e minha família”. Diogo desenhou diversas representações humanas, e à medida que desenhava ia falando quem era, tendo desenhado primeiramente o seu primo, depois a avó, a tia, o seu “pai” (que na verdade é o seu padastro), a irmã e a mãe. Ele desenhou ainda outras pessoas, mas não falou quem eram. No dia destinado à aplicação da técnica de desenhoestória, coincidentemente, o padastro de Diogo que foi levá-lo para a avaliação. Este, por sua vez, demonstrou ser bastante atencioso com o menino, e a relação entre os dois pareceu ser uma relação de carinho e cuidado. Diogo informou que adorava andar de carro e de moto com o seu pai, e que esta era sua atividade favorita com ele. Sobre os outros membros da família, Diogo também falou um pouco, porém, devido à sua 235 dificuldade de expressão e seu relato confuso, não foi possível compreender a fala de Diogo. O último desenho trabalhado com Diogo foi o desenho com tema “Eu e meus amigos”: Figura 79: Desenho de Diogo de tema “Eu e meus amigos”. Diogo informou ter desenhado a pesquisadora, ele, sua avó, seu tio, dentre outras pessoas. Apesar do tema do desenho ser “eu e meus amigos”, Diogo desenhou novamente pessoas da sua família (como sua avó e tio) e o único amigo que ele informou ter desenhado foi um colega de turma de nome Pedro. Diogo também não quis falar muito acerca do seu desenho, nem das suas amizades. Apenas contou uma história de um dia que tinha brigado com o amigo Pedro, porém, novamente, foi bastante difícil compreender a fala de Diogo. 236 Foram feitas perguntas ao adolescente, sobre quem eram seus amigos, ou o que ele mais gostava de fazer com eles, porém Diogo só respondeu que “gostava de brincar”. Do mesmo modo que nos desenhos anteriores, Diogo também quis “escrever” acima do desenho, mas não informou o que estava escrevendo (Figura 79). 237 V – DISCUSSÃO 238 5. Discussão Constituiu-se enquanto grande desafio o esforço de contribuir para caracterização do fenótipo neuropsicológico de adolescentes com SD, notadamente em termos do estabelecimento de consonância com a perspectiva teórico-metodológica adotada pelo presente estudo, a saber, a psicologia histórico-cultural. A primeira premissa de base, aqui retomada, diz respeito ao entendimento deste fenótipo enquanto resultante da relação dialética entre aspectos de ordem cognitiva, comportamental e afetiva, possibilitando a identificação de pontos de força e fraqueza, característicos do sujeito com a SD. Entretanto, a singularidade da trajetória de cada um dos participantes deste estudo foi igualmente considerada. Sendo assim, admite-se que é possível identificar peculiaridades inerentes à SD, mas estas não são homogêneas, uma vez que o resultado final será sempre qualitativamente único e singular. O desafio está, portanto, em sugerir pontos de convergência sem que com isso se perca de vista o específico e idiossincrático de cada sujeito individual. Adicionalmente, propor a investigação de diversos domínios torna-se difícil, pois é necessário atentar a uma grande quantidade de variáveis que necessitam ser levadas em consideração. Surgiu desta constatação a necessidade de se desenvolver um estudo multicasos, visto que através desta metodologia seria possível investigar estas dimensões, além de abarcar características contextuais dos indivíduos avaliados, tão valorizadas pela perspectiva teórica adotada pela presente pesquisa. Em um estudo apenas quantitativo, com um “n” maior, perderíamos as características individuais, contextuais e holísticas dos sujeitos avaliados (por nós tão valorizadas), que são comumente diluídas em análises puramente estatísticas. Por sua vez, pelos resultados do presente estudo, anteriormente apresentados, fica claro o quanto tais aspectos são importantes e necessitam ser levados em consideração. 239 Retomando os preceitos básicos da perspectiva teórico-metodológica que embasa a presente pesquisa (a psicologia histórico-cultural), esta compreende que o estudo do desenvolvimento cognitivo do sujeito (ontogênese) não pode ser separado do contexto histórico-cultural no qual este indivíduo está inserido. Deste modo, torna-se fundamental atentar também para tais aspectos, o que de certa forma procurou-se no presente estudo, se mapeando minimamente quem eram os seis adolescentes avaliados, de que família eles vinham, que tipo de escola eles frequentavam, e a que contexto social eles pertenciam. Defende-se aqui que tais variáveis são constituintes de cada um desses adolescentes, e que estas dimensões interagiram com um perfil cognitivo, comportamental e afetivo que guarda semelhança entre si, mas que promove, ao seu final, um sujeito qualitativamente distinto e único. Retomando-se aqui as etapas previstas no processo avaliativo proposto por Luria (Eilam, 2003; Glozman, 1999), serão discutidos, a seguir, os elementos que compõem cada sequência do processo. Na primeira etapa será apresentada a análise qualitativa do sintoma. Posteriormente serão apresentados dados quantitativos da avaliação, juntamente com a análise qualitativa da atividade. Neste estudo, a última etapa (proposição de um programa de reabilitação) não será diretamente considerada, mas questionamentos e sugestões serão feitos com o intuito de fornecer subsídios para intervenções futuras. A. Análise qualitativa do sintoma Conforme discutido anteriormente, em consonância com os princípios teóricos e metodológicos da abordagem de Luria, faz-se necessário, inicialmente, uma análise qualitativa dos sintomas a serem estudados. Na presente pesquisa, esta primeira etapa foi contemplada através da observação dos prontuários dos seis adolescentes, bem como 240 de entrevistas realizadas com os pais ou responsáveis, professores e outros profissionais que atuavam diretamente junto ao subgrupo estudado nas quais se investigou algumas das principais queixas trazidas por estes. Desta forma, esta etapa teve como objetivo a investigação qualitativa do impacto da SD no cotidiano escolar e social dos adolescentes estudados. Vale ressaltar, contudo, que a análise qualitativa do sintoma esteve presente durante todo o processo avaliativo, visto que esta etapa foi complementada e retroalimentada pelas observações do comportamento dos adolescentes durante as sessões de trabalho, bem como por seus desempenhos nas atividades propostas. Através das informações trazidas pelos pais e demais pessoas que conviviam com os participantes da pesquisa, assim como a partir do que se pôde observar ao longo dos encontros, as principais dificuldades enfrentadas pelos adolescentes no seu cotidiano estavam relacionadas a dificuldades de aprendizagem em geral, em todas as disciplinas, porém, de modo mais acentuado naquelas que envolviam aspectos conceituais. Além disto, prejuízos na linguagem expressiva também foram ressaltados. Uma lentificação exarcebada que prejudicava o desempenho em variadas atividades também foi relatado por alguns dos professores, e também pôde ser identificado ao longo das avaliações. Outro aspecto ressaltado por alguns dos responsáveis pelos adolescentes e profissionais que atuavam junto aos mesmos foi a falta de atenção e aparente falta de motivação destes para realizar determinadas atividades. Por fim, um último aspecto identificado em todos os adolescentes refere-se a um isolamento em seus ambientes escolares, visto que se observou que todos eles não interagiam com os demais colegas de escola. B. Análise quantitativa e qualitativa da atividade 241 Inicialmente destaca-se que os dados desta seção serão discutidos nos âmbitos quantitativos e qualitativos, ou seja, os resultados dos testes utilizados para avaliar o perfil neuropsicológico dos participantes do estudo serão apresentados e, simultaneamente, a atividade processual dos mesmos será igualmente problematizada. Para tanto, irá se recorrer à análise dos tipos de erros cometidos, estratégias utilizadas, dentre outros aspectos abordados. Tal escolha se deve à crença que desta maneira pode se fornecer, de maneira mais fidedigna, uma análise pautada na processualidade e não apenas no produto, escore bruto dos testes. Primeiramente, em relação ao nível intelectual, de acordo com aquilo que já era esperado, todos os adolescentes avaliados na pesquisa obtiveram um QI classificado na faixa de deficiência intelectual no WISC III. No caso de quatro destes adolescentes (Thaís, Marcelo, Gabriela e Diogo), suas pontuações foram baixas o suficiente para que o instrumento não pudesse fornecer escores de QIs específicos para eles. Levanta-se aqui uma primeira questão, a saber, a necessidade de se problematizar acerca da pertinência ou não do uso desta ferramenta para avaliação da capacidade intelectiva de sujeitos com SD, bem como daqueles com comprometimento intelectual de maneira global. De fato, torna-se complicado avaliar estes sujeitos utilizando-se de instrumentos que foram padronizados para populações com DT, visto que se sabe que estes indivíduos possuem características singulares, tais como um desenvolvimento mais lento e uma dificuldade acentuada na linguagem expressiva, o que acaba tornando as tarefas muito difíceis e em alguns casos inadequadas. No entanto, por ser esta uma ferramenta largamente utilizada e devido à carência de instrumentos desenvolvidos especificamente para esta população, tornou-se necessário utilizar estes mesmos instrumentos. Entretanto, a sua análise foi de cunho mais qualitativo, buscando-se 242 compreender o processo das atividades, em detrimento do produto que gera escores de QIs. Assim, apesar de, em diversos índices fatoriais, não termos escores específicos para os adolescentes avaliados, ainda assim, foi possível obter diversas informações a partir da utilização do instrumento, sobretudo em relação ao tipo de erro produzido, das estratégias mobilizadas para a resolução de uma tarefa ou até da não resolução da mesma pelos adolescentes. De maneira global, os resultados dos seis adolescentes nos diversos subtestes que compõem o WISC III estão de acordo com o que diz a literatura. No caso de Lucas e Larissa, os dois adolescentes que obtiveram as melhores pontuações nos instrumentos da avaliação cognitiva, observou-se que seus melhores escores foram nos subtestes que compõem o Índice de Organização Perceptual (OP). No caso de Lucas, inclusive, a diferença entre os Índices de Organização Perceptual (OP) e Compreensão Verbal (CV) foi significativa, sendo que o adolescente obteve um QI de 80 no índice de (OP), classificando-se na faixa média inferior. No caso de Larissa, apesar da diferença não ser significativa, também se observou melhores escores nos subtestes do Índice de (OP). Tais dados são corroborados por estudos que indicam que sujeitos com SD possuem mais facilidade em tarefas que requerem a manipulação e resolução de problemas através de informações visuoespaciais, do que verbais (Duarte, 2009). No que diz respeitos aos demais adolescentes, seus resultados no WISC III revelaram uma certa homogeneidade, visto que as suas pontuações foram rebaixadas em ambas as escalas e índices, observando-se diferenças sutis de apenas um, a no máximo dois pontos ponderados entre estes. Cabe ressaltar que as pontuações foram significativamente baixas, o que fornece às diferenças encontradas maior grau de importância. Adicionalmente, analisando-se o desempenho geral dos seis adolescentes 243 em cada um dos 12 subtestes que compõem o instrumento é possível observar semelhanças entre eles que merecem ser discutidas. Em relação aos subtestes que compõem o índice de Compreensão Verbal (CV), a dificuldade maior de todos os adolescentes avaliados foi no subteste Compreensão. Neste subteste, a pontuação de todos os adolescentes foi de apenas um ponto ponderado. O subteste Compreensão avalia o conhecimento prático e as relações interpessoais e sociais da criança e do adolescente. Para um desempenho adequado neste subteste é necessário que o indivíduo seja capaz de resolver problemas cotidianos e que compreenda regras e conceitos sociais. Além disto, o bom desempenho neste subteste depende também da habilidade de verbalização e desenvolvimento do pensamento abstrato, visto que são necessárias respostas verbais bem elaboradas (Cunha, 2000). O desempenho em patamares inferiores neste subteste foi observado em todos os adolescentes, e parece estar associado ao fato destes possuírem um pensamento acentuadamente concreto, que consequentemente limita a capacidade destes em aceitar premissas hipotéticas e de elaborar conclusões hipotéticas. Além disto, a pouca habilidade de verbalização oral (linguagem expressiva), também pode ter contribuído para os seus baixos escores, somado ao fato do pouco conhecimento destes acerca das regras de relacionamento social. Entretanto, é interessante notar que há uma homogeneidade em termos de pontos de força neste domínio, comuns a todos os adolescentes que integraram o presente estudo. De maneira global, identifica-se que os melhores resultados ponderados foram encontrados nos subtestes Semelhanças e Vocabulário. O primeiro avalia basicamente a habilidade para conceptualização verbal, sendo esta uma capacidade central para a construção de conhecimento. Observou-se que os adolescentes, de maneira geral, foram capazes de fazer associações para os primeiros itens desta atividade, que são itens de 244 complexidade menor. Os resultados deste subteste, assim como os do teste de Fluência Semântica, indicam, portanto, que apesar das limitações na linguagem expressiva, a maioria dos adolescentes avaliados possui uma organização de conceitos e de classes semânticas, ainda que as mesmas se baseiem em características concretas dos objetos. É interessante notar, portanto, que esta atividade não exige grandes elaborações para suas respostas, o que provoca reflexões acerca do uso do WISC III para avaliação desta população. Parece que a dificuldade central está na expressão da linguagem, que pode não refletir de maneira adequada o conteúdo da elaboração produzida pelos adolescentes. Outro subteste no qual os sujeitos obtiveram bons resultados foi o de Vocabulário, com uma pontuação máxima de 05 pontos ponderados (Lucas) e mínima de 01 (Diogo). Este subteste avalia o conhecimento dos significados das palavras através da experiência e educação formal, e exige aprendizagem, acumulação de informação conceitual e desenvolvimento da linguagem. Apesar de obterem os melhores resultados em relação aos outros subtestes da escala verbal, o desempenho dos adolescentes avaliados demonstra a dificuldade destes de expressar verbalmente aquilo que compreendiam. No caso de Gabriela e Diogo, por exemplo, observou-se que devido a suas dificuldades na linguagem expressiva eles acabavam utilizando-se de gestos para responder aos itens desta atividade. Tais dados indicam, mais uma vez, que a adequação deste instrumento para avaliação desta população necessita ser considera e discutida. No que diz respeito aos subtestes que integram o Índice de Organização Perceptual (OP), novamente se identifica homogeneidade em termos de ponto de força dos participantes. O melhor desempenho de todos os adolescentes foi identificado no subteste Armar Objetos, cuja pontuação máxima foi de 12 pontos ponderados (Lucas) e mínima de 01 ponto ponderado (Diogo). O subteste Armar Objetos refere-se a um 245 conjunto de quebra-cabeças de objetos comuns, cada um apresentando uma configuração padronizada, que precisa ser composta para formar um todo significativo. Ele avalia a percepção, coordenação visuomotora e síntese de formas concretas. O melhor desempenho dos adolescentes nesta atividade do Índice de Organização Perceptual (OP) pode ser associado ao fato deste subteste envolver a síntese de formas visuais concretas, que podem ser manipuladas (por tentativa e erro), a fim de se completar o padrão. Por outro lado, mesmo sendo o subteste deste índice no qual os adolescentes se saíram melhor, o desempenho intragrupo é bastante variado, observando-se que enquanto Lucas (e Larissa) obtiveram um escore alto, outros, principalmente Diogo, obteve um escore bastante rebaixado. O desempenho de Diogo, por sua vez, pode ser associado a uma ansiedade exacerbada e à sua falta de motivação em realizar a atividade, não se excluindo também a hipótese de déficits perceptivos e visuomotores. De acordo com Cunha (2000), neste subteste, a ansiedade e falta de motivação pode comprometer as pontuações, e transparecem na forma de manuseio do material (sem planejamento ou objetivo), de manifestações de insegurança, e de pedidos de ajuda, características observadas nos desempenhos de Diogo, Marcelo e Thaís. O pior desempenho dos adolescentes nos subtestes que integram o índice de Organização Perceptual (OP) foi encontrado no subteste Arranjo de Figuras, no qual todos os participantes obtiveram um escore de apenas um ponto ponderado. Este subteste é composto por um conjunto de gravuras coloridas, que são apresentadas fora de ordem, sendo a tarefa do sujeito reordená-las de maneira que contem uma história com sequência lógica. Ele avalia a capacidade de interpretação de situações sociais, assim como a percepção e compreensão visual, envolvendo, portanto, ao mesmo tempo a função visual e simbólica (de apreensão e pensamento lógico). Novamente, por ser um subteste que exige o entendimento de uma situação social específica, assim como um 246 pensamento abstrato que permita recriar uma história sequencialmente lógica, esta tarefa acaba sendo bastante difícil para os adolescentes com SD avaliados, possivelmente devido às suas dificuldades específicas nos referidos aspectos. Um último ponto que necessita ser destacado dos resultados dos seis adolescentes no WISC III refere-se às suas pontuações rebaixadas nos subtestes que compõem o índice de Velocidade de Processamento (VP), a saber, os subtestes Código e Procurar Símbolos. As dificuldades observadas na velocidade de processamento mental e motora, por sua vez, já eram esperadas visto que este se constitui como um ponto de fraqueza destacado pela literatura. Tais estudos discutem a presença tanto da lentificação cognitiva quanto da motora, características desta população (Silverman, 2007). O desempenho dos seis adolescentes no teste MPCR vem associar-se aos resultados obtidos no WISC III, indicando novamente prejuízos no pensamento lógico. Tal instrumento investiga a capacidade de estabelecer comparações, o desenvolvimento do pensamento lógico, assim como o raciocínio analítico e a capacidade de raciocinar por analogia (Albuquerque, 1996). Salienta-se que os seis adolescentes avaliados apresentaram dificuldades que indicam prejuízos nos referidos domínios, corroborando com a literatura anteriormente citada. A dificuldade destes foi maior em resolver os problemas das séries Ab (relacionada à apreensão de figuras distintas com todos espacialmente relacionados) e B (envolve a capacidade de apreensão de mudanças análogas em figuras relacionadas espacialmente e logicamente), o que, de acordo com Angelini et al. (1999), é característico de indivíduos com deficiência intelectual. O tipo de erro mais cometido pelos adolescentes foram erros do tipo IIIRepetição do Padrão, no qual a alternativa selecionada reproduz o padrão situado ou acima, ou à esquerda, ou acima e à esquerda do espaço a completar. A produção maior 247 deste tipo de erro pode ser associada às dificuldades dos adolescentes em compreender como se daria a resolução correta dos problemas, que necessitaria de uma resposta que completasse corretamente o padrão, e não da repetição de um item já existente na figura, conforme a maioria procedeu. Indica, ainda, dificuldades dos adolescentes em combinar diferentes aspectos do padrão alvo, e de focalizar com sucesso em uma característica do padrão de cada vez para após isto recombiná-las e dar a resposta baseando-se no padrão como um todo (Gunn e Jarrold, 2003). Outro domínio investigado na pesquisa refere-se à linguagem. A linguagem tem sido comumente descrita como uma das áreas que mais apresenta prejuízos na SD. Na psicologia histórico-cultural, este domínio possui um papel de destaque, visto que esta perspectiva defende que a entrada no mundo simbólico e o uso da linguagem constituem-se como uma das mais importantes condições para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Isto porque, é através da linguagem que se torna possível o desenvolvimento de um processo de abstração e generalização, que liberta o pensamento do contexto perceptual imediato. A linguagem é capaz não somente de reorganizar os processos psicológicos, mas de criar novas leis para estes. Além de mudar os processos de atenção e de memória, a linguagem também permite o surgimento da imaginação e a reorganização da vivência emocional humana (Luria, 1991). Vygotsky entende a linguagem como constituidora do pensamento e do sujeito, defendendo que “é pela linguagem que o indivíduo ascende à humanidade” (Rosseto, 2006). Isto porque a interiorização dos conteúdos historicamente determinados e culturalmente organizados se dá por meio da linguagem, primeiro num nível social, depois individual. Desta forma, um desenvolvimento alterado da linguagem pode ter 248 repercussões específicas no desenvolvimento do sujeito, repercussões estas observadas na população aqui estudada. Abre-se um parêntese, neste momento, para uma breve discussão acerca de alguns pressupostos teóricos básicos da psicologia histórico-cultural, importantes para a presente discussão. Como se sabe, esta perspectiva compreende que o desenvolvimento das funções psicológicas caracteristicamente humanas está diretamente atrelado ao meio cultural vivenciado pelo indivíduo, visto que é através da interação com o outro (por meio dos instrumentos de mediação, como a linguagem), que se dá o desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Ao nascimento, a criança dispõe das chamadas funções elementares, tais como as funções de percepção e atenção involuntária, sendo estas heranças filogenéticas, o que não quer dizer que sejam menos socioculturais, uma vez que são resultantes da interação da espécie humana com o mundo. No decorrer da vida, através da inserção no meio cultural, as funções psicológicas superiores, funções que diferenciam o homem dos demais animais, vão se desenvolvendo. Quando se fala em funções psicológicas superiores, estamos nos referindo às funções voluntárias, intelectuais, que envolvem análise e planejamento das ações, assim como a tomada de consciência sobre o próprio ato do pensamento. São funções que permitem ao sujeito libertar-se da percepção imediata e “operar” com as representações da realidade (Galuch, Silva & Bolsanello, 2011). Conforme ressalta Leontiev (2004), a criança é imersa num mundo no qual os homens já produziram e acumularam muitos bens culturais e materiais. Estes conhecimentos referem-se não apenas a formas de dominar e intervir na natureza, mas também a formas mais complexas de pensamento sobre as coisas (valores, hábitos, 249 formas de analisar, agir, ser, comportar-se), todos transmitidos de geração a geração, através da cultura. Parte-se do pressuposto, portanto, que os indivíduos se desenvolvem através da cultura e das relações sociais. A psicologia histórico-cultural compreende que a cultura é a formadora dos instrumentos e sistemas simbólicos de representação do meio, que permitem aos homens interpretar a realidade. Ao internalizar esses instrumentos mediadores, numa interação interpsicológica, chega-se ao desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Desta forma, entende-se que as funções psicológicas superiores são construídas através das relações, mediadas pelo uso dos instrumentos e dos signos, que o homem estabelece com o meio. O desenvolvimento e a apropriação da cultura somente ocorrerão nas interações com o meio social, sendo a linguagem o mais forte instrumento mediador de análise da realidade, de suma importância para o desenvolvimento conceitual do indivíduo, além de ser uma das principais formas de interação entre os homens. Sobre a linguagem, Luria (1991) ressalta que o surgimento desta tem como implicações pelo menos três mudanças essenciais à atividade consciente do homem. Primeiramente, ao designar os objetos e eventos com palavras isoladas ou combinações destas, a linguagem permite discriminar estes objetos, dirigir a atenção para eles e conservá-los na memória, possibilitando que o homem lide com estes mesmo quando estão ausentes. Uma segunda contribuição da linguagem diz respeito a sua possibilidade de assegurar o processo de abstração e generalização. Desta forma, as palavras de uma língua também são utilizadas para abstrair as propriedades essenciais de determinadas coisas, relacionando-as a categorias. Luria considera que a palavra faz pelo homem o grandioso trabalho de análise e classificação de objetos, formado ao longo da história social. Com isto, a linguagem 250 transforma-se em não apenas um meio de comunicação, mas também no veículo mais importante do pensamento, que permite a transição do sensorial ao racional na representação do mundo (Luria, 1991). Por ultimo, destaca-se o fato da linguagem ser o meio fundamental de transmissão de informação, que permite ao homem assimilar essa experiência e através disto dominar todo um ciclo de conhecimentos, habilidades e modos de comportamento que não poderiam ter sido resultado da atividade independente de apenas um indivíduo isolado. Além destas mudanças que a linguagem imprime na atividade consciente do homem, Luria (1991) também ressalta a importância da linguagem para a formação dos processos psicológicos. Segundo ele, a linguagem reorganiza substancialmente os processos de percepção do mundo exterior e cria novas leis dessa percepção, que se torna mais profunda, relacionada com a discriminação dos indícios essenciais do objeto, generalizada e permanente. Além disto, a linguagem também muda os processos de atenção (tornando-a dirigível) e memória. Permite também o surgimento da imaginação, ao fazer com que o homem “desligue-se” da sua experiência imediata. Por fim, a linguagem também muda a organização da vivência emocional dos sujeitos. Em relação ao desenvolvimento da linguagem (e do pensamento), Luria destaca que durante os primeiros estágios do desenvolvimento de uma criança, as palavras não se constituem ainda num fator de organização. Neste estágio inicial, a criança percebe cada objeto isoladamente e os amontoa todos juntos de maneira desordenada, visto que ainda não existe um princípio lógico para agrupar os objetos. Este estágio, por sua vez, é seguido pelo da classificação, no qual, apesar das palavras ainda não aparecem significativamente como meio independente de classificação, observa-se que a criança já começa a comparar os objetos. Tal comparação baseia-se na impressão gráfica que a criança tem dos objetos, ou seja, nos atributos físicos que ela seleciona (Luria ,1994) 251 Percebe-se, neste estágio, que as crianças se detêm nas características concretas dos objetos, comparando-os com base nestas características. A criança não possui, ainda, um princípio geral que una os objetos entre si. O que determina a classificação é a percepção gráfica ou recordação gráfica das várias inter-relações entre os objetos. Assim, o processo de reflexão da realidade primeiramente ocorre no estágio denominado gráfico-funcional, no qual predomina a experiência concreta do indivíduo, sendo a forma de pensamento utilizada centrada na experiência prática e em situações reais e diretas com os objetos. O estágio seguinte de desenvolvimento se refere ao estágio de formação de conceitos. Ao atingir tal estágio a criança não mais generaliza com base em suas impressões imediatas, e isola certos atributos distintos dos objetos com base numa categorização. Neste estágio, a criança já é capaz de fazer inferências sobre os fenômenos, destinando cada objeto a uma categoria específica (relacionando-o a um conceito abstrato) (Luria, 1994). A condição de se operar logicamente o pensamento, tendo capacidade de abstrair e generalizar se tornam possíveis em função da linguagem (palavra) que ao construir significados, transforma os processos de pensamento. Esse estágio é denominado por Luria como o lógico-verbal. Essa última forma de pensamento permite ao homem discriminar os elementos mais importantes, relacionar a uma categoria os objetos e fenômenos que, na percepção imediata podem parecer diferentes, assim como identificar aqueles fenômenos que apesar da semelhança exterior, pertencem a realidades distintas (Luria, 1979). Discutida a importância da linguagem para a formação das funções psicológicas caracteristicamente humanas, é de se esperar que um desenvolvimento alterado deste domínio implique em consequências específicas para os sujeitos, tais como as dificuldades de pensamento abstrato, anteriormente relatadas, nas avaliações dos seis 252 adolescentes participantes da pesquisa. É possível que os déficits observados na linguagem desta população contribuam para as suas dificuldades de abstração, categorização e generalização, visto que eles parecem encontrar-se ainda no estágio gráfico-funcional. Estes déficits, por sua vez, podem ser também consequentes de um processo de mediação alterado, que priva os adolescentes de experiências enriquecedoras com o ambiente, que poderiam favorecer o desenvolvimento de suas linguagens e das outras funções psicológicas superiores. Conforme discutido anteriormente, o desenvolvimento da linguagem é dividido em duas áreas: a linguagem receptiva e expressiva. A linguagem receptiva refere-se à compreensão de palavras e gestos, e a linguagem expressiva consiste no uso de gestos, fala, símbolos escritos e outros signos para a comunicação. Na SD, os diversos estudos que investigaram o domínio da linguagem, até o momento, ressaltam que a linguagem expressiva constitui-se como um dos aspectos que mais se encontra prejudicado nesta população. No entanto, de acordo com Ferreira, Ferreira e Oliveira (2010), durante a construção das habilidades linguísticas a criança (e adolescente) com esta síndrome constrói a compreensão sobre o mundo ao seu redor, mas a manifestação desse entendimento por meio de palavras faladas exige mais tempo do que comumente acontece com as crianças com DT (Gundersen, 2007). De fato, quando comparado o desempenho desta população em tarefas de linguagem compreensiva com as de linguagem expressiva, observou-se que estas compreendiam melhor do que conseguiam expressar (Grouios, 2008; Lanfranchi, Jerman & Vianello, 2009; Menghini, Costanzo & Vicari, 2010; Rondal, 1996; Silverman, 2007). Em consonância com os estudos anteriormente citados, também se observou dificuldades específicas dos adolescentes avaliados no domínio da linguagem 253 expressiva. Mesmo nos adolescentes que possuíam uma maior habilidade de expressão e uma fala mais inteligível (Lucas, Larissa e Thaís), esta ainda era comprometida em aspectos específicos, tais como o processamento sintático e morfossintático. Uma das maiores dificuldades de linguagem enfrentadas pelos indivíduos com SD refere-se ao uso correto da sintaxe, isto é, a gramática ou normas que regem a forma da língua (como, por exemplo, a ordem das palavras em uma frase e o uso de frases complexas). Em consequência disto, a expressão oral destes adolescentes acaba sendo caracterizada por dificuldades específicas na ordenação e detalhamento do discurso (Rangel & Ribas, 2011). Os pronomes, o uso do passado ou a concordância entre o sujeito e o verbo são outras dificuldades mais destacadas na literatura. Observa-se que estes indivíduos apresentam um nível de sintaxe rebaixado quando comparado aos de pessoas com DT, utilizando-se comumente apenas de frases simples. Este fato foi constatado nos adolescentes avaliados na pesquisa, ao observar que estes faziam uso de frases mais curtas com um nível gramatical menos complexo, o que acabava, por sua vez, reduzindo também a complexidade de suas mensagens. Além disto, observou-se a presença de dificuldades entre os adolescentes em pronunciar determinados fonemas (o que pode ser decorrente da hipotonia, característica dessa síndrome e que afeta as habilidades motoras orofaciais). Dificuldades na fluência da fala também puderam ser observadas, tais como sinais de gagueira (presentes em Lucas e Marcelo). Outros adolescentes, por sua vez, demonstraram dificuldades mais pronunciadas na expressão oral (Gabriela e Diogo), e que foram associadas a características anatômicas e clínicas específicas. No caso de Diogo, o adolescente que mais apresentou dificuldades de expressão oral, de acordo 254 com a sua mãe, a sua dificuldade na fala está relacionada aos problemas respiratórios e à obstrução nasal que o adolescente apresenta desde pequeno. Em consonância com aquilo já relatado pela literatura (Almeida & Limongi, 2010; Cunha & Limongi, 2008; Grouios, 2008; Vicari, 2006), observou-se que os dois adolescentes (Diogo e Gabriela) que possuíam dificuldades mais pronunciadas de expressão oral, pareciam tentar compensar as mesmas com o uso de gestos e mímicas. De acordo com Almeida & Limongi (2010), os gestos, nesta população, possuem um papel importante, visto que através deles a criança (ou adolescente) tem a oportunidade de se referir a objetos cujos nomes ainda não consegue expressar verbalmente. O uso de gestos isolados ou combinados a palavras parece fornecer um meio de aprender e expressar diferentes significados e ideias, funcionando como ponte entre o vocabulário receptivo e o expressivo. No que diz respeito à compreensão da linguagem, esta tem sido uma área na qual comumente identifica-se menos prejuízos em comparação à expressão da linguagem por estes adolescentes. Na amostra aqui estudada observou-se que os seis adolescentes avaliados demonstravam compreender grande parte daquilo que se pretendia comunicar. Observa-se que nesta população o atraso no desenvolvimento da linguagem expressiva comumente é mal interpretado, levando à concepção de que não há compreensão e raciocínio quando não há resposta imediata (Ferreira, et al., 2010). Desta forma, o fato destes adolescentes não conseguirem se expressar na mesma medida em que compreendem o que é falado, leva-os a serem subestimados em termos de seu desenvolvimento cognitivo e compreensão acerca do mundo que os rodeia. Conforme já discutido, indivíduos com SD desenvolvem uma linguagem oral mais concreta quanto ao conteúdo, constituída por frases curtas e de gramática mais simples, fato observado nos adolescentes avaliados na pesquisa. Todos estes aspectos 255 podem fazer com que a comunicação com os outros significativos seja comprometida, não apenas por estas dificuldades, mas também como consequência das respostas que recebem, tornando-se um clico vicioso. Isto porque, quem fala com uma pessoa com SD o avalia, em parte, pelo seu nível de linguagem e, ao perceber essa linguagem expressiva simples, desvaloriza suas capacidades, dirigindo-se a ela com uma linguagem igualmente simplória. Estas atitudes, por sua vez, acabam reduzindo as oportunidades comunicativas destes sujeitos com as demais pessoas. De fato, segundo Alves, Delgado e Vasconcelos (2008), comumente, os familiares destes adolescentes mostram-se mais diretivos, fazendo menos perguntas e talvez não esperando respostas, falando com frases incompletas e palavras soltas, além de manter o mesmo padrão de comunicação em diferentes idades, ou seja, eles não aumentam a complexidade da sua comunicação à medida que a criança cresce, mantendo a mesma forma infantilizada na adolescência e idade adulta (Schwartzman, 1999). Ao fazer isto, privam estes adolescentes de um ambiente social rico que os estimulem no desenvolvimento da linguagem expressiva e que permitam que suas habilidades linguísticas evoluam. Em relação à leitura e escrita, observou-se que apenas duas adolescentes (Larissa e Gabriela) já eram alfabetizadas, apesar de lerem ainda com dificuldades, palavra por palavra. Estas duas adolescentes já conseguem também escrever, porém cometendo diversos erros de ortografia, que puderam ser observados através dos extratos de suas atividades. Para os demais adolescentes, o processo de escrita era baseado apenas na reprodução de símbolos gráficos representantes das palavras, e não do seu significado, visto que os textos por eles copiados careciam de sentido lógico. Apesar disto, observou-se que a leitura e escrita (e o fato de já dominá-las) são atividades bastante 256 apreciadas pelas duas adolescentes já alfabetizadas, que faziam sempre questão de ler algum material ou escrever nas atividades propostas. No que diz respeito aos demais adolescentes, estes ainda estão no processo de alfabetização, no entanto, em estágios bastante variados. Em relação a Lucas, observouse que o adolescente já reconhece adequadamente todas as letras, apesar de ainda não ter desenvolvido a capacidade de lê-las juntas numa sílaba. Fato semelhante foi observado no protocolo de Diogo, que também soube identificar diversas letras, porém, ainda cometeu muitos erros. Já Marcelo e Gabriela demonstraram um quase total desconhecimento das letras e vogais (Gabriela não soube identificar corretamente nenhuma letra e Marcelo apenas as letras do seu nome). Outro domínio investigado na pesquisa refere-se à memória. No primeiro teste utilizado para investigação deste domínio na dimensão visual (Teste das Figuras Complexas de Rey), observou-se que os adolescentes apresentaram uma pontuação abaixo do esperado. Apenas dois adolescentes (Lucas e Larissa) tiveram uma pontuação acima de oito pontos nesta etapa (Lucas – 12,5; Larissa - 9). O restante dos adolescentes avaliados obtiveram escores rebaixados, de 0,5 (Thaís) a 00 (Marcelo, Gabriela e Diogo). Vale salientar que tais dificuldades foram igualmente identificadas na primeira etapa do teste que consiste na cópia destas figuras. Os déficits desta etapa, por sua vez, parecem estar associados a prejuízos na visuoespacialidade e visuoconstrução. No entanto, se considerarmos a noção de sistemas funcionais avançada por Luria (Luria, 1989), identificamos que para executar corretamente a tarefa exigida o sujeito precisa mobilizar habilidades de visoespacialidade, visoconstrução, mas igualmente percepção, planejamento e estratégia, sendo estas últimas funções do rol das denominadas habilidades executivas. Conclui-se, portanto, que há de se fazer esforço na direção de encontrar quais os pontos de sistema que estão comprometidos, não sendo 257 possível reduzir a atividade cognitiva complexa a módulos cognitivos confinados em áreas cerebrais específicas. De fato, a produção da cópia da figura por estes referidos adolescentes potencializa a discussão avançada acima. Marcelo, por exemplo, por diversas vezes, pegava a folha da figura, a observava (durante alguns segundos) atentamente, em seguida, pegava a sua folha, a girava, e acabava por representar os elementos da figura de maneira pouco precisa e localizada. O mesmo foi observado na produção de Diogo, adolescente que desenhou a cópia que mais nos chamou atenção, tamanha a sua diferença do modelo original (Figura 68). Sendo assim, uma pergunta se agiganta, estamos diante de dificuldades visoespaciais, visoconstrutivas ou executivas? Apenas a avaliação global das funções pode sugerir resposta nesta direção, através da avaliação repetida, em diferentes contextos, das mesmas habilidades. No entanto, um aspecto pode ser discutido de saída. Como a produção da cópia da figura destes quatro adolescentes apresentou-se problemática, era de se esperar que na reprodução de memória estes mesmos adolescentes não obtivessem resultados satisfatórios, o que foi, de fato, o observado, visto que eles não foram capazes de apreender mentalmente o modelo a ser desenhado. Nesse sentido, não se pode afirmar, portanto, que há um déficit na memória visual dos adolescentes. Ainda no domínio da memória visual, recupera-se aqui os desempenhos dos adolescentes em uma tarefa mais simples, utilizada na pesquisa, a saber, a Tarefa de Memória Visual (ordem direta), que investiga a memória visual de curto prazo. Nesta, os adolescentes demonstraram um desempenho, de certa forma, homogêneo entre o grupo (Thaís teve o melhor resultado, reproduzindo corretamente uma sequência de seis cores, enquanto que os demais reproduziram corretamente uma sequência de quatro cores). 258 No que diz respeito à memória de curto prazo, estudos vêm ressaltando que pessoas com SD possuem uma redução na capacidade particular desta modalidade de memória, tanto verbal, quanto visuoespacial. Além disto, estas pesquisas também chamam a atenção para o fato da habilidade de memória verbal apresentar maiores prejuízos do que a memória visuoespacial. O déficit de memória verbal comumente observado acaba acarretando, por sua vez, dificuldades de aprendizagem e de linguagem nesta população (Lanfranchi et al., 2009). No que diz respeito ao teste RAVLT – Lista de palavras, conforme já era esperado, os adolescentes avaliados apresentaram uma média global de palavras evocadas ao longo das cinco listas de 20,5 palavras, sendo esta abaixo da média esperada para a suas idades (44,2 palavras). Estes resultados vêm confirmar os encontrados em estudos anteriores que apontavam que a capacidade de memória auditivo-verbal desta população encontra-se reduzida. Este fato, por sua vez, tem implicações importantes para o desenvolvimento de habilidades e aprendizagem destes adolescentes (Vicari, 2006). De acordo com Bissoto (2005), a capacidade reduzida de memória auditiva desta população dificulta o acompanhamento de instruções faladas, especialmente se elas envolvem múltiplas informações ou ordens/orientações consecutivas. Essa limitação na retenção de informações da mensagem falada afeta, também, a produção e o processamento da linguagem. Frequentemente, as frases não são adequadamente produzidas porque são retidas somente algumas palavras daquilo que se ouve. Essa dificuldade também influencia o aprendizado da gramática e a sintaxe. Apesar do span auditivo dos adolescentes avaliados ter ficado bastante abaixo da média, observou-se que no teste RAVLT houve uma progressão no número de palavras recordadas da lista A1 à A5 (na maioria dos adolescentes), o que indica que estes 259 possuem curva ascendente de aprendizagem verbal. De acordo com Alton (2005), as limitações na capacidade de memória auditiva desta população requer que se adote estratégias específicas, como uma diminuição da quantidade de instruções verbais dadas, sendo estas fornecidas uma de cada vez (além de se evitar que estas sejam longas demais), um tempo maior para estes adolescentes responderem às colocações verbais, a repetição destas instruções verbais, além de, quando necessário, o uso de suporte visual ou de material concreto a fim de reforçar as informações verbalmente fornecidas. No teste de Memória Lógica (Recordação de História) observou-se uma dificuldade generalizada dos seis adolescentes em reproduzir uma história que é contextualizada espacialmente e temporalmente. A maioria dos adolescentes conseguia reproduzir apenas palavras isoladas da história contada (com exceção de Lucas), não sendo capaz de recontar a história com uma sequência lógica correta. Estes resultados podem ser associados, por sua vez, às suas dificuldades, já discutidas, de abstração, sequenciamento e pensamento lógico, características desta população, bem como aos déficits na linguagem expressiva que comprometem a expressão e construção do pensamento. Além disso, os resultados dos adolescentes nesta atividade também podem ser associados à sua reduzida capacidade de retenção de informações por meio da via auditivo/verbal. No que diz respeito aos testes que investigam a memória operacional, os resultados dos seis adolescentes podem ser divididos em dois grupos. Em relação a Lucas e Larissa (os dois adolescentes que obtiveram os melhores resultados na bateria como um todo) observou-se que os seus desempenhos estavam de acordo com o que indica a literatura (Carretti & Lanfranchi, 2010; Duarte et al., 2011; Jarrold et al., 2008; Lanfranchi et al., 2009; Laws, 2002; Silverman, 2007), visto que eles obtiveram melhores pontuações na Tarefa de Memória Visual (ordem inversa), baseada no teste 260 Bloco de Corsi, do que no subteste Dígitos (ordem inversa) do WISC III, reforçando a crença de que o esboço visuoespacial é um domínio que se encontra mais preservado nestes adolescentes em comparação à alça fonológica. No entanto, em relação aos demais adolescentes, observou-se que estes possuíam dificuldades generalizadas na memória operacional, visto que eles não foram capazes de reproduzir nenhuma sequência de números ou cores na ordem inversa das tarefas Dígitos e Tarefa de Memória Visual. Como se sabe, a memória operacional é responsável pelo armazenamento temporário da informação e é considerada um domínio fundamental para uma ampla variedade de habilidades cognitivas, como a aprendizagem, leitura, escrita, processamento linguístico, orientação, compreensão, raciocínio e processamento aritmético (Lanfranchi, Carretti et al., 2009). Prejuízos neste domínio podem ter repercursões importantes para o desenvolvimento cognitivo dos indivíduos. O déficit observado na submodalidade da alça fonológica, por exemplo, tem sido comumente associado às dificuldades de linguagem que crianças e adolescentes com SD apresentam (Lanfranchi et al., 2009). Na atividade utilizada para avaliar a atenção seletiva (partes 1 e 2) e alternada (parte 3), do TAC, observou-se que todos os adolescentes classificaram-se em patamar inferior à média para suas idades. Estes resultados, por sua vez, também podem ser associados à lentificação motora apresentada pelos adolescentes e ao rebaixamento de velocidade de processamento característica deste grupo. Juntamente com a linguagem e memória auditiva, o domínio da atenção também tem sido um dos domínios nos quais mais se tem relatado a presença de deficiências nesta população (Brown et al., 2003; Trezise et al., 2008). Durante a realização das atividades também observou-se dificuldades dos adolescentes em manter o foco atencional para a realização tarefas, principalmente Marcelo e Diogo, que facilmente 261 distraiam-se durante a execução das atividades. Vale ressaltar, novamente, que o déficit de atenção observado nestes adolescente interfere negativamente no seu desenvolvimento, pois dificulta a iniciação (fato observado no protocolo de Thaís, Marcelo e Diogo), organização, e, principalmente, a manutenção do envolvimento na realização de determinadas tarefas necessárias para a aprendizagem (Macêdo et al., 2009). No tocante ao funcionamento executivo, diretamente relacionado à integridade funcional do lobo frontal e, em especial, pré-frontal, estudos apontam que estes foram os últimos a se desenvolver na espécie, e que tal aspecto implica em maior fragilidade e susceptibilidade de impactos decorrentes de alterações genéticas, desenvolvimentais, lesionais, dentre outras (Goldberg, 2002). Considerando-se que as áreas frontais e pré-frontais já foram identificadas como possuindo alterações nesta população (Contestabile et al., 2010), pode-se levantar a hipótese que as dificuldades executivas estão no cerne do funcionamento cognitivo deste grupo clínico. Observou-se dificuldades na iniciação da atividade, no planejamento, construção de estratégias, monitoramento destas e flexibilidade cognitiva. O pensamento dos adolescentes deste estudo parece caracterizado pela concretude inerente às fases iniciais do desenvolvimento infantil. A habilidade de compreensão de situações complexas, de construção de narrativas lógico-temporais parece não estar restrita a déficits exclusivos de linguagem expressiva, mas igualmente à possibilidade de elaboração do pensamento a nível de maior complexidade. De maneira geral, os dados aqui encontrados apontam para graves déficits no funcionamento cognitivo destes adolescentes, o que dificulta a identificação de pontos específicos deficitários. Parece existir um comprometimento desenvolvimental, pautado pela presença de características de pensamento inerentes a etapas primárias do 262 desenvolvimento infantil. Possivelmente, as dificuldades executivas estão na base das dificuldades destes sujeitos, tal como um pensamento rígido e dependente do mundo concreto e real que os rodeia. Em relação aos aspectos comportamentais, conforme destacam Angélico e Dell Prette (2011), na literatura, é possível encontrar relatos de diversos estudos que descrevem indivíduos com SD como sendo pessoas dóceis, alegres, cooperativas, além de sociáveis, amistosos e simpáticos. Entretanto, nos últimos anos, também podem ser observados um conjunto de relatos que se opõem às descrições anteriores, associando-as a um estereótipo positivo da síndrome que necessita ser melhor estudado (Cebula, Moore, Wishart, 2010). No que diz respeito à adolescência, pesquisas destacam que nesta fase, pessoas com SD experimentam dificuldades em estabelecer e manter relações com amigos na escola, assim como com figuras de autoridade (Silva & Dessen, 2002). De fato, observou-se na presente pesquisa que os adolescentes avaliados não possuíam amigos próximos em suas escolas. A interação que estes mantinham com os colegas era bastante rara, resumindo-se apenas à realização de trabalhos em grupos (em sala de aula), ou, brincadeiras (no caso de Marcelo e Diogo) com crianças menores no intervalo. Uma queixa relatada pelos profissionais que atuavam junto de dois adolescentes (Marcelo e Diogo) foi a dificuldade destes em aceitar limites e regras impostas por figuras de autoridade. No entanto, estes problemas foram associados à dificuldade dos responsáveis pelos adolescentes em educá-los de maneira mais firme, exigindo que estes cumpram seus deveres e respeitem as regras e limites estabelecidos. Em um estudo de revisão sistemática, Dykens (2007) buscou identificar as alterações de comportamento e os transtornos psiquiátricos comumente observados em 263 pessoas com SD em três fases distintas do desenvolvimento: infância, adolescência e idade adulta. A autora destacou o fato das crianças com SD, quando comparadas com outros grupos de crianças com deficiência intelectual, não apresentarem taxas elevadas de alterações comportamentais, emocionais e psiquiátricas. No entanto, quando comparadas com crianças com DT, o grupo com SD apresentava uma taxa maior de comportamentos externalizantes (como manipulação, oposicionismo, dificuldades de concentração e impulsividade). Além disso, observou-se, ainda, que algumas das alterações identificadas na infância melhoravam na adolescência, como por exemplo, a hiperatividade. Entretanto, outros problemas se desenvolviam nessa faixa etária, tais como os problemas internalizantes, do tipo isolamento e depressão. Na presente pesquisa, utilizou-se o Inventário de Comportamento da Infância e Adolescência (Child Behavior Checklist – CBCL), a fim de se investigar a competência social e problemas de comportamento nos seis sujeitos avaliados. Os resultados indicaram que, no que diz respeito à Escala de Competências Sociais, a maioria dos participantes (Lucas, Larissa, Diogo e Marcelo) classificaram-se na faixa clínica na Escala de Atividades Escolares e na Escala de Competências Totais. Destaca-se que o comprometimento nas competências relacionadas ao desempenho escolar já era esperado, visto que os adolescentes apresentam deficiência intelecutal, além de outros déficits cognitivos. Por outro lado, em relação às demais escalas fornecidas pelo instrumento os resultados dos seis adolescentes foi bastante variado. No caso de Lucas e Larissa, estes não se classificaram na faixa clínica em nenhuma outra escala. Já Thaís, classificou-se como clínica na Escala de Problemas Totais, e, juntamente com Gabriela, classificou-se na faixa limítrofe nas escalas de Isolamento e Depressão, Queixas Somáticas e Problemas Sociais. Diogo também se classificou como clínico na escala de Problemas 264 Somáticos, assim como na escala de Problemas Internalizantes. Por fim, Marcelo classificou-se como limítrofe na escala de Lentidão Cognitiva. É possível observar, portanto, que no que diz respeito aos resultados do CBCL, o perfil comportamental dos seis adolescentes avaliados foi heterogêneo. Este fato pode ser associado às diferentes características individuais e de personalidade dos mesmos, que como se sabe, são constituídas, em grande parte, a partir do meio sócio-cultural no qual se está inserido. Em relação à Thaís e Gabriela, constatou-se que ambas ficaram na faixa limítrofe na escala de Isolamento e Depressão que tem sido, de fato, uma área relatada nos estudos como provável de adolescentes com a síndrome apresentarem alterações. Durante a observação nas escolas, foi possível observar que ambas as adolescentes mantinham-se isoladas dos demais colegas, fato relatado também por seus pais e professores. Contudo, não foram somente estas duas adolescentes que apresentavam este comportamento, visto que se observou que Lucas e Larissa também não interagiam com os demais alunos. É provável, portanto, que os responsáveis pelas primeiras adolescentes tenham sido mais fidedignos ao responder ao instrumento. O fato do instrumento utilizado ter sido respondido pelos pais constitui-se como uma especificidade, visto que suas respostas derivam da percepção subjetiva dos mesmos em relação ao comportamento dos seus filhos. De fato, este é um ponto que tem recebido atenção por parte dos estudos, que vem verificando que nestes questionários destinados aos pais responderem, sujeitos com SD comumente classificam-se na faixa de normalidade (Garzuzi, 2009), apesar de em observações no dia a dia, estes demonstrarem diversos problemas que os encaixariam como clínicos nas escalas, como as do CBCL. 265 No estudo de Garzuzi (2009), que comparou o fenótipo comportamental de três síndromes genéticas (Síndrome de Prader-Willi, Síndrome de Williams-Beuren e SD), utilizando o CBCL, verificou-se que os participantes com SD apresentaram um perfil de alterações comportamentais menor do que os outros dois grupos investigados. Da mesma forma que na presente pesquisa, a referida autora considerou uma limitação do seu estudo o fato das alterações encontradas nos participantes com SD apresentam-se em grau leve quando comparadas com os dados da literatura, que, em geral, apresentam um perfil comportamental bem mais comprometido para a síndrome. Estes resultados, por sua vez, foram associados a um maior conhecimento da SD por parte da família, o que poderia facilitar o desenvolvimento de estratégias de manejo mais adequadas, contribuindo para que haja menores alterações comportamentais nas pessoas com SD. Além disso, associou-se também que no país, a SD é bem mais conhecida do que as demais síndromes investigadas, principalmente devido à maior abordagem da mídia. Outra estratégia de pesquisa utilizada foi a observação nas escolas e entrevistas com os professores. A observação no contexto escolar teve como objetivo a obtenção de dados acerca do processo de ensino/aprendizagem dos adolescentes, identificação da presença ou ausência de projeto pedagógico ofertado pela escola a estes alunos, bem como se tal temática se constituía enquanto uma preocupação destas, informações sobre o comportamento dos alunos em sala de aula, suas interações tanto com os professores, quanto com os seus colegas e as maiores dificuldades enfrentadas por estes alunos no seu cotidiano escolar. Diversos pontos chamaram a atenção durante a observação na escola dos adolescentes. Primeiramente, apesar de todos frequentarem escolas regulares, consonante com a crença atual que defende que alunos com SD ou outras deficiências físicas ou intelectuais necessitam ser incluídos na rede regular de ensino, parecia haver 266 certa insegurança nas escolas acerca da identificação do seu real papel na vida destes alunos. Atualmente, mesmo com leis que amparam a educação inclusiva, é notável que o verdadeiro sentido da inclusão tem sido confundido. Idealmente, a perspectiva da inclusão considera que a escola tem a obrigação de trabalhar o desenvolvimento integral de todos os seus alunos, inclusive os com necessidades educativas especiais, promovendo o seu crescimento nos aspectos cognitivos, linguístico, físico, psicológico, social e cultural. No entanto, observa-se que a inclusão desses alunos ainda constitui-se como um desafio, visto que requer do educador e de toda a instituição o conhecimento e entendimento do seu processo de desenvolvimento, suas características peculiares, assim como o investimento necessário para desenvolver um projeto pedagógico adaptado às suas idiossincrasias. Somado a isto, parece haver uma crença de muitos educadores, e até mesmo de familiares, de que o papel da escola na vida desses alunos resume-se à sua socialização (Strieder & Zimmermann, 2010). Este fato pode ser observado e confirmado na fala de alguns dos professores dos adolescentes e também na de seus pais. Na escola de Gabriela, por exemplo, ao falar sobre o seu trabalho com a aluna, uma das professoras pontuou que este era mais no sentido de integrá-la à turma e socializá-la com os demais colegas. Concepção semelhante foi observada na fala dos responsáveis por Gabriela e Marcelo. Conforme destaca Voivodic e Storer (2002), a SD, durante muito tempo esteve associada a uma condição de inferioridade. Ainda que atualmente observe-se uma evolução acerca do conhecimento sobre a síndrome, assim como uma maior acessibilidade a estas informações, o estigma ainda está presente e influencia a imagem que os pais constroem do seu filho que tem a síndrome. Ainda de acordo com os autores, muitas vezes faz-se necessário um trabalho junto aos pais destes indivíduos a 267 fim de mudar suas percepções, crenças e valores, destacando-se os potenciais dos seus filhos e seu papel no desenvolvimento dos mesmos. Além disto, torna-se importante também incluir a família no processo educacional e terapêutico, pois, por mais que a escola e os profissionais se esforcem no sentido de promover o desenvolvimento da pessoa com SD, seus esforços serão bastante limitados se não incluírem, em sua filosofia educacional e prática de ação, uma orientação aos pais. Entende-se, portanto, que os educadores, terapeutas e pais, mas não apenas estes, toda a sociedade, têm o dever de conviver com as diferenças e integrar as pessoas com algum tipo de deficiência. Ampliando-se os horizontes, entende-se que a palavra inclusão não deve ser restrita apenas ao ambiente escolar, mas entendida em termos de inclusão social, que integre estas pessoas em todas as esferas, no meio escolar, no mercado de trabalho, nas áreas culturais, de lazer, etc. A sociedade necessita de um amplo e contínuo esclarecimento em relação às pessoas com SD, para que mudanças de atitude aconteçam, fortalecendo as famílias e proporcionando a elas condições de conviver e superar as dificuldades (Voivodic & Storer, 2002). No estudo de Góes, Pacheco e Silva (2010), que investigou as representações sociais que mães e professoras de alunos com SD tinham acerca da aprendizagem dos mesmos, observou-se que as representações tanto das mães, quanto das professoras, ainda estão fortemente arraigadas num enfoque clínico que responsabiliza a deficiência primária (biológica) como único fator responsável pela aprendizagem e desenvolvimento do indivíduo. Por esse motivo, havia uma baixa expectativa quanto ao processo de escolarização desses alunos, pois não se acreditava que os mesmos tinham condições de se apropriarem do conhecimento científico e desenvolverem sua autonomia intelectual e emocional. 268 Sabe-se que um dos campos férteis de estudos de Vygotsky foi o da defectologia. Vygotsky diferenciava dois tipos de deficiência: a primária e a secundária. A deficiência primária seria a deficiência biológica e compreenderia as lesões e malformações orgânicas e cerebrais, além das alterações cromossômicas. Por outro lado, a deficiência secundária compreenderia o desenvolvimento do sujeito que apresenta estas características, com base nas interações sociais. Vygotsky (1997) entendia que a deficiência não está exclusivamente no indivíduo, mas principalmente condicionada ao estímulo que este receberá ou não do meio ao qual está inserido. O que realmente vai determinar o avanço no desenvolvimento de pessoas com necessidades especiais não é a deficiência em si, mas a ausência de experiências, de interações e situações que vêm do meio social no qual o indivíduo se encontra imerso. Neste contexto, o que realmente pode influenciar e diferenciar o desenvolvimento e aprendizagem de uma pessoa para outra é o isolamento social, a falta de interação estabelecida com os outros, com a cultura e a qualidade das experiências vividas, pois a ausência desses aspectos pode se tornar um obstáculo no desenvolvimento de qualquer indivíduo (Beyer, 2005). Desse modo, quanto mais intensas e positivas forem as trocas sociais, mais estimulante será o desenvolvimento do sujeito. E quanto menores forem estas trocas, mais frágil será esse desenvolvimento (Góes et al., 2010). O último instrumento utilizado na pesquisa foi o teste Desenho Estória com tema. Ao utilizar esta técnica tínhamos como objetivo investigar os aspectos sócioafetivos dos adolescentes avaliados, visto que defendemos uma abordagem que considera importante o papel das emoções no desenvolvimento do indivíduo. Vygotsky compreendia que é imprescindível uma reflexão acerca das relações de aspectos sócio- 269 afetivos com fatores biológicos, cognitivos e contextuais (Duarte, Freire & Hazin, 2012). A aplicação desta técnica, no entanto, teve que sofrer alguns ajustes devido às características peculiares do nosso grupo. Parecia ser difícil para os adolescentes contar alguma história acerca de suas produções, provavelmente devido às suas dificuldades de pensamento abstrato e linguagem expressiva. Desta forma, grande parte das informações obtidas derivaram de questionamentos feitos para os adolescentes, a partir do que eles traziam sobre os seus desenhos. No caso das produções de Marcelo, Gabriela e Diogo, estas chamaram a atenção devido à pouca habilidade de desenho que os adolescentes demonstraram possuir, com produções bastante pobres em detalhes (principalmente as de Marcelo). A expressão acerca de seus desenhos também foi limitada. O relato dos três adolescentes foi bastante confuso, o que tornou difícil compreendê-los. De maneira geral, todos os adolescentes trouxeram aspectos positivos e falaram empolgadamente do desenho de suas famílias, exceto Lucas. Conforme já discutido o adolescente recusou-se a desenhar a sua família, pois tinha vergonha do seu pai (que é alcoolista). Já em relação aos desenhos da escola, observou-se que Lucas, Marcelo, Gabriela, Thaís e Diogo não se mobilizaram a falar sobre suas escolas, tendo respondido apenas aos questionamentos que foram feitos. Não se observou o mesmo entusiasmo de quando questionados sobre suas famílias. Este fato indica que o ambiente escolar provavelmente não tem sido vivido como um ambiente prazeroso para estes adolescentes, pois, conforme observado nas observações escolares, grande parte do tempo os adolescentes mantêm-se isolados das demais pessoas, além de se sentirem excluídos das atividades dos demais colegas. 270 Foi interessante notar que Lucas, Gabriela e Diogo, apesar de não serem alfabetizados e de ainda não saberem escrever, levavam cadernos e “anotavam” tudo que suas professoras copiavam no quadro. Uma das professoras (de Diogo) pontuou inclusive, que “na cabeça dele ele está fazendo igual aos seus colegas”. Sugere-se aqui que há um desejo dos adolescentes em se sentirem “iguais” aos demais alunos e de não serem excluídos de fazer as mesmas atividades da turma. Lucas chegou a chorar um dia porque sua professora apagou o conteúdo do quadro (que era apenas pra os outros alunos) antes dele ter finalizado a sua cópia. Por outro lado, Gabriela recusava-se a sair de sala de aula para fazer as atividades na sala de alunos especiais. E Lucas também reclamava por ter que fazer atividades avaliativas em uma sala à parte. Este parece ser um ponto que merece atenção. Experiências negativas no ambiente escolar podem acabar frustrando estes adolescentes de maneira que eles cheguem a vivenciar este ambiente como insuportável (como Thaís, de certa forma, considerava). É necessário desenvolver um trabalho que conscientize os profissionais, familiares e a sociedade como um todo, da importância de incluir verdadeiramente estes alunos. Além disto, é necessário um trabalho com os próprios adolescentes a fim de fazê-los entender que eles precisam fazer algumas atividades diferentes de seus colegas. No entanto, algumas estratégias podem minimizar estes efeitos negativos (dos adolescentes se sentirem excluídos dos demais), como por exemplo, o adotado pela coordenadora de Lucas, que após as suas reclamações, começou a aplicar as suas avaliações dentro da própria sala de aula, sentando-se junto com o menino no final da sala. Na literatura é possível observar relatos de pesquisas que descrevem indivíduos com SD como pouco motivados (Bissoto, 2005). Estes relatos também foram observados na presente pesquisa. Porém, é necessário se questionar acerca das razões 271 destes adolescentes demonstrarem este comportamento. Seria possível que um histórico de displicências e frustrações no ambiente escolar contribuísse para este quadro? A mãe de Lucas, por exemplo, ressaltou o fato do adolescente já ter passado por escolas que não o estimulavam, o que de certa forma, é o mesmo que ocorre nas escolas de Marcelo, Diogo e Thaís, visto que os próprios profissionais assumiram que não era desenvolvido um trabalho específico para os referidos alunos. É provável que este histórico de negligência com a educação destes adolescentes em suas escolas tenha contribuído para a desmotivação destes alunos em desenvolver novas aprendizagens. Considera-se que a aprendizagem ocorre por um processo cognitivo imbuído de afetividade, relação e motivação. Desta forma, para aprender é imprescindível ter a disposição, a intenção e a motivação suficientes. Para que os alunos tenham bons resultados escolares, é preciso integrar tanto os aspectos cognitivos com os motivacionais. Além disto, apesar da motivação ser um processo intrínseco, ela está intimamente ligada às relações de troca que o sujeito estabelece com o ambiente. Verifica-se, assim, que os fatores motivacionais no processo de ensino-aprendizagem estão relacionados à interação, assim como ao sentimento de pertença ao grupo (Aparecida & Bortotti, 2011; Medel, 2009). Tais aspectos, por outro lado, demonstraram-se deficitários nas escolas dos adolescentes avaliados. Um último ponto que merece ser discutido refere-se ao papel do contexto sócio-cultural no qual os adolescentes estão inseridos para o seu desenvolvimento e caracterização do fenótipo. Ao observar os resultados dos seis adolescentes na avaliação é possível, de fato, identificar diferenças entre aqueles adolescentes que vêm de um ambiente social considerado mais favorável, no que diz respeito a uma maior estimulação (Lucas, Larissa e Thaís), do que os outros adolescentes (Marcelo, Gabriela 272 e Diogo), que vinham de famílias menos esclarecidas acerca da síndrome e de classes socioeconômicas desfavorecidas. A postura das mães de Lucas e Thaís chamou atenção positivamente, visto que ambas demonstraram ser bastante esclarecidas em termos de conhecimentos sobre a SD. Ambas as mães, constantemente, pediam materiais que as orientassem no manejo com os seus filhos, como a melhor maneira de estimulá-los e de melhorar a sua aprendizagem. Elas também demonstraram um esforço maior no que diz respeito à reivindicação pelos direitos dos seus filhos, pressionando as escolas dos adolescentes para que os profissionais se dediquem de fato para a sua aprendizagem. A mãe de Lucas (possui o segundo grau completo) informou que reservava um bom tempo do seu dia para ensinar o adolescente e ajudá-lo com os deveres da escola. Além disso, ela também buscava comprar brinquedos educativos, como alfabeto móvel, jogos de memória, quebra-cabeças, a até livros (apesar de Lucas ainda não saber ler). A mãe de Thaís (que possui ensino superior completo), por outro lado, por dispor de uma renda econômica maior, contratava os serviços de uma professora particular, que acompanha a adolescente desde pequena. Ela também compra livros e revistas com intuito de estimular a leitura da adolescente. O fato de Thaís e Larissa serem alfabetizadas pode ser derivado também do excelente trabalho feito pela profissional da psicopegadogia que atende as duas meninas num serviço público de Natal. Esta profissional acompanha as meninas há bastante tempo e trabalhou com elas o seu processo de alfabetização. Com relação aos demais adolescentes, observa-se que o contexto no qual eles estão inseridos é bastante diferente. A família de Gabriela, por exemplo, é uma família humilde, com uma renda de apenas um salário mínimo. Os seus pais também não são alfabetizados. Em relação à sua mãe, é possível observar que as crenças que ela possui 273 acerca do potencial de aprendizagem da sua filha eram bastante diferentes do discurso das mães de Lucas e Thaís. Enquanto a mãe de Thaís sempre frisava que era a adolescente que diria “até onde poderia ir”, sendo o seu papel estimulá-la e oferecer para ela todos os recursos que estivessem ao seu alcance, a mãe de Gabriela tinha a crença de que a adolescente não é capaz de “aprender nada” e vai para a escolar apenas para se socializar. Percebe-se, portanto, que o conhecimento que estas famílias têm acerca da síndrome, a escolaridade dos pais, suas rendas familiares, dentre outros fatores, são todos aspectos que podem influenciar na estimulação e desenvolvimento destes adolescentes. De fato, o meio social parece realmente ser um fator deveras importante a ser considerado no desenvolvimento de pessoas com algum tipo de deficiência, conforme já apontava Vygostky (1997). 274 6. Considerações Finais Os estudos que contribuíram, até o momento, para a caracterização do fenótipo neuropsicológico de adolescentes com SD foram pesquisas que se dedicaram à investigação de domínios específicos deste fenótipo, como pesquisas que investigam a memória nesta síndrome, a linguagem ou a atenção (Brown et al., 2003; Lanfranchi et al., 2009; Marder & Cholmáin, 2006). Não foram encontrados na literatura, pesquisas que buscassem compreender o funcionamento complexo desta população, considerando-se para tanto, os aspectos cognitivos, comportamentais e sócio-afetivos compartilhados, em certa medida, pelos indivíduos que possuem esta mesma síndrome genética. Acredita-se que o estudo presentemente desenvolvido, com seis adolescentes com SD, pôde contribuir com o melhor entendimento do fenótipo neuropsicológico destes adolescentes, uma vez que buscou investigar os três domínios supracitados. Em consonância com as etapas do modelo de avaliação neuropsicológica propostas por Luria, a análise qualitativa do sintoma (Etapa 1) indicou a presença de dificuldades nos relacionamentos sociais e no cotidiano escolar dos adolescentes avaliados. Por sua vez, as análises quantitativa e qualitativa das atividades (Etapa 2 e 3) indicaram a presença de dificuldades em atividades que envolvem o pensamento lógico e abstrato, bem como prejuízos significativos na linguagem expressiva. Além disso, de acordo com aquilo que já era indicado na literatura, a linguagem receptiva apresentou-se como menos prejudicada, quando comparada à linguagem expressiva. Os adolescentes também demonstraram uma força maior em tarefas que mobilizavam habilidades visuoespaciais (como o subteste Armar Objetos, do WISC III), e em tarefas simples de memória visual (Tarefa de Memória Visual, ordem direta). No entanto, apresentaram dificuldades quando estas tarefas possuíam um nível de 275 complexidade maior, ou seja, naquelas que sofriam interferência do funcionamento executivo, notadamente em termos das funções de planejamento e iniciativa (Teste das Figuras Complexas de Rey e Tarefa de Memória Visual, ordem inversa). Identificou-se também a presença de uma lentificação motora e mental acentuada, que acabava repercutindo no desempenho de diferentes áreas cognitivas. Além disso, observou-se que as dificuldades em determinados domínios acabavam interferindo na atividade dos demais. Por exemplo, a lentificação exacerbada em algumas atividades interferia negativamente nos resultados de algumas tarefas, como no TAC. Do mesmo modo, as dificuldades de linguagem expressiva prejudicava os desempenhos em variados testes, tais como o teste de Memória Lógica (Recordação de História) e o teste de Fluência Verbal. Algumas características comportamentais e sócio-afetivas também interagiam com aspectos cognitivos dos adolescentes avaliados, como a falta de motivação aparente de Marcelo, e a timidez de Thaís, que influenciou em seus resultados na bateria de testes neuropsicológicos. Entende-se, portanto, que estes domínios não se desenvolvem isoladamente um do outro, mas sim em conjunto. Deste modo, aspectos cognitivos sofrem influência de características comportamentais e sócio-afetivas (e vice-versa), sendo difícil a separação e dissolução de um aspecto do outro. Daí a importância de se investigar estes variados domínios no presente estudo. A última etapa do modelo de avaliação neuropsicológica de Luria, que consiste de desenvolvimento de programa de intervenção (Etapa 4), não foi diretamente contemplada no presente estudo. Porém, defende-se que os resultados aqui destacados podem ser considerados enquanto subsídios para intervenções futuras, notadamente no que diz respeito à necessidade do desenvolvimento de projetos que levem em consideração os diferentes aspectos constituintes do sujeito humano, envolvendo não 276 apenas o indivíduo com alterações desenvolvimentais, como também suas famílias, professores, escolas e a sociedade em geral. A partir do que foi encontrado na presente pesquisa, é possível, então, indicar alguns encaminhamentos para o desenvolvimento de intervenções futuras. Por exemplo, devido às dificuldades relatadas na memória verbal/auditiva, sempre que possível, é essencial que os educadores apresentem informações e conceitos novos de maneiras variadas, usando material concreto, prático e visual, a fim de reforçar as informações que são ensinadas verbalmente. Além disto, ao passar para o ensino de outro conteúdo, faz-se necessário uma revisão da matéria anterior, que assegure que este conteúdo não foi esquecido com a assimilação das novas informações (Alton, 2005; Bissoto, 2005; Duarte et al., 2011). Práticas como estas são importantes para a melhoria da aprendizagem desta população. Além disto, conforme foi observado, o déficit de atenção destes adolescentes interfere negativamente no seu desenvolvimento, já que dificulta a iniciação, organização, e, principalmente, a manutenção do envolvimento na realização de determinadas tarefas, necessárias para a aprendizagem (Macêdo et al., 2009). Por isto, os profissionais que atuam junto a eles precisam considerar que ao ensinar algo, é necessário especial cuidado às habilidades que são mais afetadas. Os professores devem fazer com que o conteúdo que é ensinado seja interessante para os adolescentes, certificando-se que estes estão realmente prestando atenção ao que é transmitido. Isto porque, na SD o grau de distração é alto e qualquer estímulo externo pode levar a perda da atenção para tarefa desejada. De acordo com Cleland et al. (2009) apesar das deficiências de linguagem e cognitivas que crianças e adolescentes com SD apresentam, muitas delas conseguem alfabetizar-se. Para que elas consigam adquirir cada vez mais habilidades é 277 imprescindível que os professores e profissionais obtenham um melhor conhecimento acerca do perfil cognitivo destes indivíduos, a fim de melhor orientar as suas práticas de intervenção. Estratégias de intervenção que focalizem os pontos fortes da memória visuoespacial, como o uso de figuras, ou livros de histórias, podem ser benéficas para a aprendizagem. Outras, que busquem melhorar a capacidade de produção da fala (focando primeiramente no desenvolvimento de um vocabulário funcional, que abarque, por exemplo, palavras associadas às necessidades básicas, e nomes de membros da família) também são essenciais para melhor adaptabilidade destas crianças e adolescentes (Martin et al., 2009). Acrescenta-se aos aspectos discutidos anteriormente, a necessidade de mudanças progressivas no que se refere à capacitação dos profissionais e da sociedade para lidarem com a diferença. É significativo identificar que as escolas dos participantes desta pesquisa não possuíam um projeto pedagógico para eles, o que termina refletindo na motivação e no significado que a escola ocupa para estes adolescentes, no caso investigado, um espaço no qual eles se sentem pouco à vontade. Por fim, ressalta-se que mais pesquisas são necessárias com o intuito de uma compreensão cada vez maior do fenótipo neuropsicológico característico desta população, levando-se em consideração os diferentes aspectos que compõem este fenótipo. Apenas com a compreensão do perfil neuropsicológico deste subgrupo clínico, será possível o desenvolvimento de intervenções, cada vez mais eficazes, que considerem as áreas de força características destes indivíduos como forma de compensar as suas dificuldades em áreas de fraquezas específicas. 278 7. Referências Adams, D., & Oliver, C. (2010). The relationship between acquired impairments of executive function and behavior change in adults with Down syndrome. Journal of Intellectual Disability Research, 54(5), 393-405. Albuquerque, M. C. P. A. (1996). A criança com deficiência mental ligeira. Tese de doutorado, Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, Universidade de Coimbra, Coimbra. Almeida, F. C. F., & Limongi, S. C. O. (2010). O papel dos gestos no desenvolvimento da linguagem oral de crianças com desenvolvimento típico e crianças com síndrome de Down. Revista da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, 15(3), 458-464. Alton, S. D. S. A. (2005). Including Pupils with Down's syndrome: Secondary. Down's Syndrome Association & Scottish Down's Syndrome Association: London. Alves, G. A. S., Delgado, I. C., & Vasconcelos, M. L. (2008). O desenvolvimento da linguagem escrita em crianças com síndrome de down. Revista Prólingua, 1(1), 4755. Angelini, A. L., Alves, I. C. B., Custódio, E. M., Duarte, W. F., & Duarte, J. L. M. (1999). Matrizes Progressivas Coloridas de Raven: Escala especial. Manual. São Paulo: CETEPP. Anunciação, V. L. (2004). A produção de textos na deficiência mental. Tese de doutorado, Programa de Pós-Graduação em Letras, Universidade Federal do Paraná, Curitiba. Artigas-Pallarés, J. (2002). Fenotipos conductuales. Revista de Neurología, 34, 38-48. 279 Artigas-Pallarés, J., Gabau-Vila, E., & Guitart-Feliubadaló, M. (2006). Fenotipos conductuales en el retraso mental de origen genético. Revista de Neurología, 42(1), 15-19. Baddeley, A. (1992). Working Memory. Science, 255(5044), 556-559. Baddeley, A. D., & Hitch, G. J. (1974). Working memory. Em: G. Bower (Ed.). The psychology of learning and motivation (pp. 47-89). New York: Academic Press. Beyer, H. O. (2005). Porque Lev Vygotski quando se Propõe a uma Educação Inclusiva? Revista de Educação Especial, 26, 75-81. Bhattacharyya, A., McMillan, E., Chen, S. I., Wallace, K., & Svendsen, C. N. (2009). A Critical Period in Cortical Interneuron Neurogenesis in Down Syndrome Revealed by Human Neural Progenitor Cells. Developmental Neuroscience, 31(6), 497-510. Bissoto, M. L. (2005). O desenvolvimento cognitivo e o processo de aprendizagem do portador de Síndrome de Down: revendo concepções e perspectivas educacionais. Revista Ciência & Cognição, 2(4), 80-88. Bordin, I. A. S., Mari, J. J., & Caeiro, M. F. (1995). Validação da versão brasileira do Child Behavior Checklist [CBCL] - Inventário de comportamento da infância e da adolescência: Dados preliminares. Revista ABP - APAL, 17(2), 55-66. Borsa, J. C., & Nunes, M. L. T. (2008). Concordância parental sobre problemas de comportamento infantil através do CBCL. Paidéia, 18(40), 317-330. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de ações programáticas e estratégicas. Diretrizes de Atenção à pessoa com Síndrome de Down. Brasília: Ministério da Saúde, 2012. Brito Júnior, H. L., Guedes, S. S., Noronha, F. L., & Silva Júnior, T. J. (2011). Prevalência de cardiopatia congênita em crianças com síndrome de down de Juiz de Fora e região. HU Revista, 37(2), 147-153. 280 Brown, J. H., Johnson, M. H., Paterson, S. J., Gilmore, R., Longhi, E., & KarmiloffSmith, A. (2003). Spatial representation and attention in toddlers with Williams syndrome and Down syndrome. Neuropsychologia, 41(8), 1037–1046. Brucki, S. M. D., Malheiros, S. M. F., Okamoto, I. H., & Bertolucci, P. H. F. (1997). Dados normativos para o teste de fluência verbal categoria animais em nosso meio. Arquivos de Neuropsiquiatria, 55(1), 56-61. Carlesimo, G.A., Marotta, L., & Vicari, S. (1997). Long-term memory in mental retardation: Evidence for a specific impairment in subjects with Down’s syndrome. Neuropsychologia, 35(1), 71-79. Carr, J. (1995). Down´s Syndrome: children growing up. Cambridge: Cambridge University Press. Carretti, B., & Lanfranchi, S. (2010). The effect of configuration on VSWM performance of Down syndrome individuals. Journal of Intellectual Disability Research, 54(12), 1058-1066. Cebula, K. R., Moore, D. G., & Wishart, J. G. (2010). Social cognition in children with Down´s syndrome: challenges to research and theory building. Journal of Intellectual Disability Research, 54(2), 113-134. Childhood: Implications for Practice. Infants & Young Children, 18(2), 86-103. Cleland, J., Wood, S., Hardcastle, W. J., Wishart, J. G., & Timmins, C. (2010). The relationship between speech, oromotor, language and cognitive abilities in children with Down's syndrome. International Journal of Language and Communication Disorders, 45(1), 83-95. Contestabile, A., Benfenati, F., & Gasparini, L. (2010). Communication breaks-Down: From neurodevelopment defects to cognitive disabilities in Down syndrome. Progress in Neurobiology, 91(1), 1–22. 281 Cornoldi, C., & Vecchi, T. (2003). Visuospatial working memory and individual differences. Hove, UK: Psychology Press. Courtenay, K., Soni, S., Strydom, A., & Turk, J. (2009). Behavioural phenotypes and mental disorders. Psychiatry, 8(10), 391-397. criança. Vita e Sanitas, 1(1), 34-48. Cunha, E. P., & Limongi, S. C. O. (2008). Modo comunicativo utilizado por crianças com síndrome de Down. Pró-Fono Revista de Atualização Científica, 20(4), 243248. Cunha, J. A. (2000). Psicodiagnóstico – V. Porto Alegre: Artmed. Dias, N. M., Menezes, A., & Seabra, A. G. (2010). Alterações das Funções Executivas em Crianças e Adolescentes. Estudos Interdisciplinares em Psicologia,1(1), 80-95. Diniz, L. F. M., Cruz, M. F., Torres, V. M., & Cosenza, R. M. (2000). O teste de aprendizagem auditivo-verbal de Rey: normas para uma população brasileira. Revista Brasileira de Neurologia, 36(3), 79-83. Duarte, C. P., Covre, P., Braga, A. C., & Macedo, E. C. (2011). Visuospatial support for verbal short-term memory in individuals with Down syndrome. Research in developmental disabilities, 32(5):1918-1923. Duarte, C. P. (2009). Caracterização do perfil cognitivo e avaliação da memória de trabalho na Síndrome de Down. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo. Duarte, N. S., Freire, R. C. L., & Hazin, I. (2012). Notas sobre aspectos epistemológicos e históricos da psicologia histórico-cultural. Memorandum (Belo Horizonte), 22, 52-67. 282 Dykens, E. M. (2007). Psychiatric and behavioral disorders in persons with Down syndrome. Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews, 13(3), 272-278. Eilam, G. (2003). The Philosophical Foundations of Aleksandr R. Luria’s Neuropsychology. Science in Context, 16 (4), 551-577. Fávero, M. H., & Oliveira, D. (2004). A construção da lógica do sistema numérico por uma criança com Síndrome de Down. Revista Educar, 23, 65-85. Ferreira, D. R., Ferreira, W. A., & Oliveira, M. S. (2010). Pensamento e linguagem em crianças com síndrome de Down: um estudo de caso da concepção das professoras. Ciências e Cognição, 15(2), 216-227. Fidler, D. J. (2005). The Emerging Down Syndrome Behavioral Phenotype in Early Fidler, D. J., Hepburn, S., & Rogers, S. (2006). Early learning and adaptive behaviour in toddlers with Down syndrome: Evidence for an emerging behavioural phenotype? Down Syndrome Research and Practice, 9(3), 37-44. Fidler, D. J., Most, D. E., & Philofsky, A. D. (2008). The Down syndrome behavioral phenotype: Taking a developmental approach. Down Syndrome Research and Practice, pp. 37-44. Recuperado em 10 de agosto de 2011. Disponível em: http://www.down-syndrome.org/reviews/2069/reviews-2069.pdf Figueiredo, V. L. M. (2001). WISC III Escala de Desenvolvimento de Inteligência Wechsler para crianças. São Paulo: Casa do Psicólogo. Freitas, M. T. (2002). A pesquisa qualitativa de abordagem histórico-cultural: fundamentos e estratégias metodológicas. Em: Associação Nacional de PósGraduação e Pesquisa em Educação (ANPEd) (Org). Anais da 30ª Reunião Anual da ANPEd: 30 anos de pesquisa e compromisso social (pp. 01-16). Caxambú: SP. 283 Galuch, M. T. B., Silva, T. S. A., Bolsanello, M. A. (2011). Linguagem e desenvolvimento intelectual da criança surda. International Studies on Law and Education, 9, 83-94. Garzuzi, Y. (2009). Comparação dos fenótipos comportamentais de crianças e adolescentes com síndrome de Prader-Willi, síndrome de Willians-Beurem e síndrome de Down. Dissertação de mestrado, Programa de Pós-Graduação em distúrbios do desenvolvimento, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo. Góes, S., Pacheco, W. S., Silva, A. N. (2010). Representações sociais de mães e professoras sobre a aprendizagem e desenvolvimento de crianças com Síndrome de Down. Trabalho de conclusão de curso, Universidade Federal do Amapá, Macapá. Gomes, E. R. O. (2011). Investigação do Funcionamento Cognitivo de Pacientes Pediátricos Diagnosticados com Leucemia Linfóide Aguda – LLA. Dissertação de mestrado, Programa de Pós-graduação em Psicologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal. Glozman, J. (1999). Quantitative and Qualitative Integration of Lurian Procedures. Neuropsychology Review, 9(1), 23-32. Goldberg, E. (2002). O cérebro executivo: Lobos frontais e a mente civilizada. Rio de Janeiro, RJ: Imago. Guidi, S., Bonasoni, P., Ceccarelli, C., Santini, D., Gualtieri, F., Ciani, E., & Bartesaghi, R. (2008). Neurogenesis Impairment and Increased Cell Death Reduce Total Neuron Number in the Hippocampal Region of Fetuses with Down Syndrome. Brain Pathology, 18(2), 180-97. Gundersen, K. (Org.). (2007). Crianças com síndrome de Down: guia para pais e educadores. Porto Alegre: Artmed. 284 Hadman, A. C., & Pereira, A. P. A. (2009). Avaliação Neuropsicológica das Funções Executivas: Considerações metodológicas. Psicologia: Reflexão e Crítica, 22(3), 386-393. Hazin, I. (2006). Atividade matemática em crianças com epilepsia idiopática generalizada do tipo ausência: contribuições da neuropsicologia e da psicologia cognitiva. Tese de doutorado, Programa de Pós-graduação em Psicologia Cognitiva, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. Hazin, I., Falcão, J. T. R., Garcia, D., Gomes, E., Cortez, R., Maranhão, S., & Meneses, T. (2012). Dados Normativos do Teste de Atenção por Cancelamento (TAC) em Estudantes do Ensino Fundamental. Psico (PUCRS Online), 43, 428-436. Hazin, I., Leitão, S., Garcia, D, Lemos, C. & Gomes, E. (2010). Contribuições da Neuropsicologia de Alexsandr Romanovich Luria para o debate contemporâneo sobre relações mente-cérebro. Mnemosine, 6(1), 88-110. Hodapp, R. M., & Dykens, E. M. (2004). Genética y fenotipo conductual en la discapacidad intelectual: su aplicación a la cognición y a la conducta problemática. Revista Síndrome de Down, 21, 134-149. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE]. (2000). Censo Demográfico 2000: educação. Acesso em 17 de setembro de 2011. Disponível em http://www.ibge.gov.br/home/estatística/populaçãocenso2000/educação Jarrold, C., Nadel, L., & Vicari, S. (2008). Memory and neuropsychology in Down Syndrome. Down Syndrome Research and Practice, pp. 68-73. Acesso em 15 de julho de 2011. Disponível em: http://www.down- syndrome.org/reviews/2068/reviews-2068.pdf Kogan, C. S., Boutet, I., Cornish, K., Graham, G. E., Berry-Kravis, E., Drouin, A., & 285 Kolb, B. & Whishaw I. Q. (2002). Neurociência do comportamento. São Paulo: Ed. Manole. Kozma, C. (2007). O que é síndrome de Down. Em: Stray-Gundersen, K. (Org.). Crianças com síndrome de Down: guia para pais e educadores (pp. 15-42). Porto Alegre: Artmed. Lanfranchi, S. Jerman, O., & Vianello, R. (2009). Working memory and cognitive skills in individuals with Down syndrome. Child Neuropsychology, 15(4), 397-416. Lanfranchi, S., Carretti, B., Spanò, G., & Cornoldi, C. (2009). A specific deficit in visuospatial simultaneous working memory in Down syndrome. Journal of Intellectual Disability Research, 53(5), 474-483. Lanfranchi, S., Cornoldi, C., & Vianello, R. (2004). Verbal and Visuospatial Working Memory Deficits in Children With Down Syndrome. American Journal on Mental Retardation, 109(6), 456-466. Lanfranchi, S., Jerman, O., Dal Pont, E., Albetti, A., & Vianello, R. (2010). Executive function in adolescents with Down Syndrome. Journal of Intellectual Disability Research, 54(4), 308-319. Laws G. (2002). Working memory in children and adolescents with Down Syndrome: evidence from a colour memory experiment. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 43(3), 353-364. Lefèvre, B. H. (1988). Mongolismo: orientação para famílias. São Paulo: ALMED. Lent, R. (2008). Neurociência da mente e do comportamento. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. Leontiev, A. O. (2004). O desenvolvimento do Psiquismo. São Paulo: Centauro. 286 Lott, I. T., & Dierssen, M. (2010). Cognitive deficits and associated neurological complications in individuals with Down’s syndrome. The Lancet Neurology, 9(6), 623–33. Ludlow, J. R., & Allen, L. M. (1979). The effects of early intervention and pre-school stimulus on the development of the Down's syndrome child. Journal of Mental Deficiency Research, 23, 29-44. Luria, A. R. (1981). Fundamentos de neuropsicologia. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo. Luria, A. R. (1991). Curso de Psicologia Geral. Volume I. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. Luria, A. R. (1992). A construção da mente. São Paulo: Ícone. Luria, A. R. (1994). Desenvolvimento cognitivo: seus fundamentos culturais e sociais. São Paulo: Ícone. Ma'ayan, A., Gardiner, K., & Iyengar, R. (2006). The Cognitive Phenotype of Down. Syndrome: Insights from Intracellular Network Analysis. NeuroRx, 3(3), 396-406. Macêdo, L., Lima, I., Cardoso, F., & Beresford, H. (2009). Avaliação da relação entre o déficit de atenção e o desempenho grafo-motor em estudantes com Síndrome de Down. Revista Brasileira de Educação, 15(3), 431-440. Malloy-Diniz, L. F., Fuentes, D., Mattos, P., Abreu. N (Org.). (2010). Avaliação Neuropsicológica. Porto Alegre: Artmed. Malloy-Diniz, L. F., Jardim, J. P., Loschiavo-Alvares, F. Q., Fuentes, D., & Leite, W. B. (2010). Exame das funções executivas. Em L. F. Malloy-Diniz, D. Fuentes, P. Mattos, & N. Abreu (Eds.), Avaliação neuropsicológica (pp. 94-113), São Paulo, SP: Artmed. 287 Marder, L., & Cholmáin, C. N. (2006). Promoting language development for children with Down´s syndrome. Current Paedriatics, 16(7), 495-500. Martin, G., Klusek, J., Estigarribia, B., & Roberts, J. (2009). Language characteristics of individuals with Down syndrome. Topics in Language Disorders, 29(2), 112132. Medel, C. R. M. A. (2009). Motivação na aprendizagem. Revista Iberoamericana de Educación, 49(7), 1-2. Menghini, D., Contanzo, F., & Vicari, S. (2011). Relationship Between Brain and Cognitive Processes in Down Syndrome. Behavior Genetics, 41(3), 381–393. Milgram, N.W. (2009). A comparative neuropsychological test battery differentiates cognitive signatures of Fragile X and Down syndrome. Journal of Intellectual Disability Research, 53(2), 125–142. Montiel, J. & Capovilla, A. (2007). Avaliação da atenção: Teste de Atenção por cancelamento. Em: A. Capovilla & F. C. Capovilla, Teoria e pesquisa em avaliação neuropsicológica. (pp. 141-146). São Paulo: Mnemon. Moreira, L. M. A., El-Hani, C. N., & Gusmão, F. A. F. (2006). A Síndrome de Down e sua patogênese: considerações sobre o determinismo genético. Revista Brasileira de Psiquiatria, 22(2), 96-99 Muszkat, M., & Mello, C. B. (2008). Neuropsicologia do Desenvolvimento e suas interfaces. São Paulo: All Print. O’Brien, G. (2006). Behavioural phenotypes: causes and clinical implications. Advances in Psychiatric Treatment , 12, 338–348. O’Brien, G., & Yule, W. (1995). Behavioural Phenotypes. London: Mac Keith Press. Oliveira, M. S. (2010). Questões de Linguagem em Sujeitos com Síndrome de Down. Revista Prólingua, 5(1), 63-83. 288 Oliveira, M. S., & Rigoni, M. S. (2010). Figuras Complexas de Rey: teste de cópia e de reprodução de memória de figuras geométricas complexas. São Paulo: Casa do Psicólogo. Oliveira, M., Rigoni, M., Andretta, I., & Moraes, J. L. (2004). Validação do teste figuras complexas de Rey na população Brasileira. Revista Avaliação Psicológica, 3(1), 33-38. Pavesi, M. A., & Oliveira, D. E. M. B. (2011). Qual o lugar da motivação nas pesquisas sobre EAD. Em: Anais do X Congresso Nacional de Educação (pp. 6282-6295). Curitiba: PR. Pennington, B. F., Moon, J., Edgin, J., Stedron, J., & Nadel, L. (2003). The neuropsychology of Down syndrome: Evidence for hippocampal dysfunctions. Child Development, 74(1), 75-93. Pessotti, I. (1984). Deficiência mental: Da superstição à ciência. São Paulo: EDUSP. Pinheiro, M. (2007). Fundamentos de neuropsicologia – o desenvolvimento cerebral da Pinter, J. D., Eliez, S., Schmitt, J. E., Capone, G. T., & Reiss, A. L. (2001). Neuroanatomy of Down's syndrome: a high-resolution MRI study. The American Journal of Psychiatry, 158(10), 1659-1665. Pueschel, S. (2002). Síndrome de Down: guia para pais e educadores. São Paulo: Papirus. Rachidi, M., & Lopes, C. (2008). Mental Retardation and Associated Neurological Dysfunctions in Down Syndrome: A Consequence Of Dysregulation In Critical Chromosome 21 Genes and Associated Molecular Pathways. European Journal of Paediatric Neurology, 12(3), 168-182. Rangel, D., & Ribas, L. P. (2011). Características da linguagem na Síndrome de Down: Implicações para a comunicação. Revista Conhecimento Online, 2, 1-12. 289 Roberts, J. E., Price, J., & Malkin, C. (2007). Language and communication development in down syndrome. Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews, 3(1), 26-35. Rondal, J. A. (1993). Down’s syndrome. In: Bishop, D., & Mogford, K. (Orgs). Language development in exceptional circumstances. Hillsdale: Laurence Erlbaum. Rondal, J. A., & Comblain, A. (1996). Language in adults with Down Syndrome. Down Syndrome Research and Practice, 4(1), 3-14. Rossetto, E. (2006). Vygotski e o papel da linguagem enquanto um fenômeno históricosocial. Educere et Educare, 1(1), 139-142. Rowe, J., Lavender, A., & Turk, V. (2006). Cognitive executive function in Down's syndrome. British Journal of Clinical Psychology, 45(1), 5-17. Schwartzman, J. S. (Org.). (2003). Síndrome de Down. São Paulo, SP: Memnon. Silva, A. C. A. (2012). O Processo de transformação da comunicação entre terapeuta e pacientes. Tese de Doutorado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Cognitiva, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. Silva, M. F. M. C., & Kleinhans, A. C. S. (2006). Processos cognitivos e plasticidade cerebral na Síndrome de Down. Revista Brasileira de Educação Especial, 12(1), 123-138. Silva, N. L. P., & Dessen, M. A. (2002). Síndrome de Down: etiologia, caracterização e impacto na família. Interação em Psicologia, 6(2), 167-176. Silverman, W. (2007). Down Syndrome: Cognitive Phenotype. Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews, 13(3), 228-236. Simões, M. R. (2002). Utilizações do WISC III na avaliação neuropsicológica de crianças e adolescentes. Paidéia, 12(23), 113-132. 290 Skuse, D. H. (2000). Behavioural phenotypes: what do they teach us? Archives of Disease in Childhood, 82(3), 222–225. Srieder, R., & Zimmermann, R. L. G. (2010). A inclusão escolar e os desafios da aprendizagem. Cadernos de Pesquisa: Pensamento Educacional, 5(10), 144-162. Suzuki, D. E., Pereira, M. C., Janjoppi, L., & Okamoto, O. K. (2008). Células-tronco e progenitores no sistema nervoso central: aspectos básicos e relevância clínica. Einstein, 6(1), 93-96. Thiers, V. O., Argimon, I. I. L., Nascimento, R. L. Neuropsicologia: A expressão comportamental dos processos mentais. Acesso em 17 de setembro de 2011. Disponível em: http://www.psicologia.com.pt/artigos/textos/A0249.pdf Torres, A. C. P. L. G. C. (2009). Aprendizagem Escolar e a Formação de Conceitos. Em: Anais do II Congreso Internacional de Investigación de la Facultad de psicologia de la Universidad Nacional de La Plata. Buenos Aires: AR. Trezise, K. L., Gray, K. M., & Sheppard, D. M. (2008). Attention and vigilance in children with Down syndrome. Journal of Applied Research in Intellectual Disability, 21(6), 502-508. Trinca, W. (Org). (1997). Formas de investigação clínica em psicologia. São Paulo: Vetor. Tsao, R., & Kindelberger, C. (2009). Variability of cognitive development in children with Down syndrome: Relevance of good reasons for using the cluster procedure. Research in Developmental Disabilities, 30(3), 426-432. Turner, S., & Alborz, A. (2003). Academic attainments of children with Down’s syndrome: A longitudinal study. British Journal of Educational Psychology, 73(4), 563-583. 291 Vicari, S. (2006). Motor Development and Neuropsychological Patterns in Persons with Down Syndrome. Behavior Genetics, 36(3), 355-364. Voivodic, M. A. M. A., & Storer, M. R. S. (2002). O desenvolvimento cognitivo das crianças com Síndrome de Down à luz das relações familiares. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 4(2), 31-40. Vygotsky, L. S. (1997). Obras escogidas: Fundamentos de Defectología. Tomo V. Madrid: Visor. Vygotsky, L.S. (2001). A construção do Pensamento e linguagem. São Paulo: Martins Fontes. Wang, P. (1996). A neuropsychological profile of Down Syndrome: Cognitive skills and brain morphology. Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews, 2(2), 102-108. Wisniewski, K. E. (1990). Down Syndrome children often have brain with maturation delay, retardation of growth, and cortical dysgenesis. American Journal of Medical Genetics, 7, 274-281. Wisniewski, K. E., & Rabe, A. (1986). Discrepance between Alzheimer-type neuropathology and dementia in persos with Down´s Syndrome. Annals of the New York Academy of Sciences, 477, 247-259. Winograd, M., Vasconcelos, M., Jesus, M., & Uehara, E. (2012). Aspectos qualitativos na prática da avaliação neuropsicológica. Ciências & Cognição, 17(2), 02-13. Wuo, A. S. (2007). A construção social da síndrome de down. Cadernos de Psicopedagogia, 6(11). Ypsilanti, A., & Grouios, G. (2008). Linguistic Profile of Individuals With Down Syndrome: Comparing The Linguistic Performance of Three Developmental Disorders. Child Neuropsychology, 14, 148-170. 292 ANEXOS 293 ANEXO 1 Universidade Federal do Rio Grande do Norte Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes Programa de Pós-Graduação em Psicologia TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO Esclarecimentos Você está sendo convidado a participar da pesquisa “Fenótipo Neuropsicológico de adolescentes com Síndrome de Down”, coordenada pela pesquisadora Profª Drª. Izabel Hazin. As informações apresentadas abaixo serão dadas a fim que vocês decidam se aceitam ou não que seu (a) filho (a) participe da pesquisa. A participação dele (a) é voluntária, o que significa que ele (a) poderá desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. Esta pesquisa tem como objetivo investigar o funcionamento neuropsicológico de adolescentes com síndrome de down, funcionamento este que inclui domínios como a atenção, memória, linguagem, percepção, dentre outros aspectos. Pretendemos, portanto, obter uma melhor compreensão acerca do funcionamento neuropsicológico destes adolescentes, apontando os domínios neuropsicológicos que eventualmente se encontram alterados, assim como os domínios preservados ou áreas de forças. Ao contribuir com o melhor entendimento do funcionamento neuropsicológico destes adolescentes, esta pesquisa poderá possibilitar o desenvolvimento de intervenções e métodos educativos mais eficazes a serem adotados por professores e diversos outros profissionais. Nesta pesquisa estão previstas algumas atividades que serão realizadas com os adolescentes. Serão utilizados testes psicológicos que nos permitem avaliar a atenção, memória, linguagem, raciocínio e percepção. Nestes testes, os adolescentes respondem a algumas perguntas, fazem desenhos, contam histórias, dentre outras atividades. Esta pesquisa não traz nenhum risco físico para o seu (a) filho (a). Ressaltamos que tomaremos sempre o cuidado de observar se o seu filho (a) está gostando das atividades ou se os testes estão incomodando de alguma forma. Se percebermos algo neste sentido nos comprometemos a parar imediatamente com a atividade. Certamente vocês terão benefícios com a pesquisa. Vocês poderão entender melhor o funcionamento neuropsicológico de adolescentes com síndrome de Down, as áreas ou domínios que estes apresentam maiores dificuldade, e os domínios 294 neuropsicológicos que eles possuem um melhor desempenho. O resultado da avaliação neuropsicológica do seu (a) filho (a) poderá ser repassado para a escola e ajudar os professores (além de outros profissionais) a minimizarem as dificuldades que ele (a) possa enfrentar na escola e no seu dia-a-dia. As informações que forem encontradas na pesquisa são confidenciais, ou seja, não irá aparecer o nome do adolescente em nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os adolescentes. Os pesquisadores também garantem que só vão usar os dados encontrados nos testes para esta pesquisa. E se acontecer de quererem usar em outra situação, irão pedir o consentimento de vocês. Vocês não terão nenhuma despesa para participarem da pesquisa. Porém, excepcionalmente, caso haja algum gasto para a viabilização da mesma, todo o valor será devidamente corrigido e devolvido, caso solicitem. Vocês ficarão com uma cópia deste termo e se tiverem qualquer dúvida durante o processo da pesquisa poderão entrar em contato conosco. As pesquisadoras responsáveis por esta pesquisa chamam-se Profª Drª. Izabel Hazin e Rosália Carmen de Lima Freire. Elas podem ser encontradas na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no prédio do CCHLA, na Cidade Universitária (telefone: 3215-3590), ou pelo telefone celular 94417838/87771939. Se vocês tiverem alguma pergunta que queiram fazer sobre a ética da pesquisa, entrem em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN, no endereço Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova. Caixa Postal 1666, CEP 59072-970 Natal/RN. Telefone/Fax (84)215-3135. Consentimento livre e esclarecido Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Fenótipo Neuropsicológico de adolescentes com Síndrome de Down”. Ficaram claros para mim quais são os objetivos do estudo, os procedimentos a serem realizados, possíveis desconfortos e/ou riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo. Assinatura do responsável pelo adolescente Data / / ------------------------------------------------------------------------- 295 Assinatura da testemunha Data / / ------------------------------------------------------------------------Assinatura do pesquisador responsável Data / / 296 ANEXO 2 Carta de Aceite – Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN 297 ANEXO 3 Descrição dos Instrumentos utilizados: 1. WISC III – Escala Wechsler de Inteligência para Criança O WISC III pode ser aplicado em crianças e adolescentes na faixa etária de 6 anos a 16 anos e 11 meses. Ele é constituído por 12 subtestes, que são aplicados alternadamente, e distribuídos em dois grupos: verbal e os não-verbal (de execução ou manipulativo). Os escores brutos obtidos nos subtestes são transformados em escores ponderados que juntos fornecem o chamado QI verbal (QIv), no caso dos subtestes verbais e o QI de execução (QIe), no caso dos subtestes não-verbais. Os subtestes Vocabulário, Semelhanças, Aritmética, Informação e Compreensão compõem o QI verbal (QIv). Por sua vez, os subtestes Código, Cubos, Completar Figuras, Arranjo de Figuras, Armar Objetos e Labirintos compõe o QI de execução (QIe). Destaca-se que os subtestes Dígitos e Procurar Símbolos são subtestes suplementares que não participam do cômputo dos QIv e QIe respectivamente, mas irão contribuir com os escores dos Índices Fatoriais. Estes podem substituir um subteste verbal e de execução se um dos subtestes padrão tiver sido invalidado ou impossibilitado de ser aplicado. Os escores ponderados de Dígitos e Aritmética fornecem o escore do Índice Fatorial de Resistência à Distração (RD). Os subtestes Procurar Símbolos e Código fornecem o escore do Índice Fatorial Velocidade de Processamento (VP). Os escores dos Índices Fatoriais Compreensão Verbal (CV) e Organização Perceptual (OP) são constituídos a partir dos escores ponderados dos demais subtestes verbais e não-verbais. Ressalta-se, ainda, que o subteste Labirintos não foi utilizado, tendo em vista que o mesmo é um subteste de execução suplementar, não padronizado na adaptação brasileira, e que não participa diretamente do cômputo dos QIs e dos Indíces Fatoriais. 298 A seguir são descritos e exemplificados os subtestes que compõem a WISC III, destacando-se os aspectos cognitivos específicos avaliados por cada um em particular, conforme sugerido em Mader, Thaís e Ferreira (2004): Subtestes Verbais: O subteste Informações é constituído por perguntas referentes a conhecimentos gerais, tais como nome de objetos, datas, fatos históricos e geográficos, dentre outros. Avalia-se com este subteste não apenas as informações adquiridas dentro e fora do contexto escolar, mas também a memória declarativa semântica. Ex: Quem foi Monteiro Lobato? No subteste Semelhanças é solicitado à criança que ela fale o que há de semelhante nos pares de palavras apresentados. Avalia-se neste item os conceitos verbais e a habilidade para a conceptualização, integrando objetos e eventos a um mesmo grupo. Ex: (Diga o que há de semelhante entre:) laranja-banana Vocabulário é um subteste que avalia o conhecimento dos significados das palavras, exigindo da criança aprendizagem, acumulação de informação conceitual e desenvolvimento da linguagem. Ex: (Defina o que é...) transparente. O subteste Compreensão solicita da criança respostas a questões-problema, envolvendo conhecimento corporal, relações interpessoais e sociais. Ex: O que você faria se uma criança menor batesse em você? O subteste de Aritmética avalia o raciocínio numérico da criança e a sua capacidade para solucionar problemas, exigindo atenção e concentração, bem como o uso das operações aritméticas. Ex: Uma loja tinha 25 caixas de leite e vendeu 14. Quantas ficaram? 299 O subteste Dígitos é aplicado oralmente e em duas etapas diferentes. Na primeira é lida uma sequência de números que variam de 3 a 8 dígitos, e feita uma solicitação à criança para que ela repita cada série (avalia-se memória e aprendizagem em conjunto com habilidade de processamento sequencial). Na segunda etapa a sequência de números varia de 2 a 8 dígitos. Tal sequência é lida oralmente para a criança e solicitase que ela repita na ordem inversa (Ex: 2-8, a criança responde 8-2). Avalia-se nesta segunda etapa a memória operacional, concentração, flexibilidade e capacidade de inversão de sequência. Subtestes de Execução Completar figuras: Neste subteste são apresentadas figuras onde falta um elemento importante. Pede-se à criança que ela indique que elemento falta. Avalia-se reconhecimento de objetos, discriminação visual e habilidade para diferenciar detalhes. Ex: O rosto de uma mulher onde faltam os cílios do olho esquerdo (figura abaixo). No subteste Arranjo de Figuras, é pedido que a criança coloque em ordem uma série de figuras que contam uma história. São apresentados cartões com gravuras que colocadas na ordem correta, contam uma história sequencialmente lógica. Avalia a 300 organização, o planejamento e o sequenciamento temporal, bem como a compreensão da ideia geral transmitida pela história. No exemplo ilustrado abaixo, a criança deverá ordenar a sequência, invertendo o lugar do cartão do meio com o da direita: No subteste Cubos, a criança recebe uma caixa contendo 9 cubos iguais. Cada cubo tem duas faces vermelhas, duas brancas e duas metade vermelha e metade branca. A criança deverá usar os cubos para reproduzir os modelos impressos apresentados pelo avaliador. A dificuldade de execução da tarefa vai aumentando gradativamente, bem como o número de cubos que serão utilizados. A criança faz modelos com 2, 4 e 9 cubos. Este subteste avalia habilidade para perceber, analisar formas e a percepção visuoespacial, no interior de uma atividade de construção bi-dimensional (praxia construtiva). Para cada modelo é estipulado um tempo-limite. Ex: 301 Armar objetos é um subteste que exige que a criança monte figuras familiares a partir das partes (semelhante a um quebra-cabeça). Avalia habilidade visuomotora, organização perceptual e compreensão do todo a partir das partes. A primeira figura (Item 1) é apresentada abaixo. Note-se que a disposição das partes segue uma ordem e a pontuação é dada pelo número total de junções corretas no tempo-limite, com bonificações para a realização num tempo menor que o disponível para a tarefa: O subteste Código requer da criança cópias de símbolos acompanhados por números, envolvendo a discriminação e memória de modelos visuais. Avalia-se atenção, memória imediata, motivação, flexibilidade cognitiva, coordenação visuomotora. Este subteste é composto de uma chave com números e símbolos correspondentes. A criança deve escrever nas janelas os símbolos que correspondem a cada número dado, durante 120”, conforme ilustrado no extrato de protocolo apresentado: 302 Procurar Símbolos avalia a capacidade de atenção concentrada, coordenação visuoespacial e visuomotora. A criança deve observar um conjunto de símbolos situados à esquerda e compará-los aos símbolos apresentados à direita, assinalando na casela SIM, se o símbolo da esquerda aparece no grupo da direita e na casela NÃO, diante de situação oposta (exemplo abaixo): 2. Matrizes Progressivas Coloridas de Raven – MPCR O teste MPCR é composto por 36 problemas, que são divididos em três séries – A, Ab, B. Ao início de cada série, são apresentadas tarefas de nível de complexidade menor e que introduzem um novo tipo de raciocínio exigido nos itens posteriores. Estas tarefas consistem na apresentação de um desenho do qual falta uma parte. A tarefa do avaliando é escolher, entre seis figuras apresentadas, aquela que acredita ser a que complete o desenho. Na série A, o bom desempenho depende da capacidade da criança em completar padrões contínuos que, próximo ao final da série mudam primeiro em uma direção e depois em duas direções ao mesmo tempo. Na série Ab o sucesso depende da capacidade da criança em perceber figuras discretas como um todo relacionado espacialmente e de escolher figuras que completam o desenho e, por fim, a série B contém problemas de analogia para verificar se a criança é capaz ou não de raciocinar daquela maneira. Na figura abaixo, encontra-se um exemplo de um problema do MPCR, séria Ab. 303 3. Subteste de Avaliação da Leitura do Protocolo Qualitativo Lapen Identificação de Letras Leitura de Sílabas 304 Leitura de Palavras Leitura de Pseudopalavras 305 4. Leitura de Frases Teste das Figuras Complexas de Rey 306 O Teste das Figuras Complexas de Rey foi idealizado por André Rey em 1942, buscando contribuir para o diagnóstico diferencial entre a deficiência mental congênita e o déficit adquirido em consequência de traumatismos crânio-encefálicos. O objetivo maior do teste é a avaliação da atividade perceptiva e da memória visual, nas suas duas etapas: cópia e reprodução de memória de uma figura que não possui uma significação evidente, de fácil realização e com uma estrutura de conjunto com um certo grau de complexidade, exigindo portanto uma atividade perceptiva analítica e organizadora. Solicita-se ao sujeito que copie da melhor maneira possível o modelo apresentado abaixo, considerando os elementos e as proporções do desenho. Ao final o modelo é retirado e no máximo 3 minutos depois solicita-se que o sujeito refaça o modelo a partir dos elementos que consegue recuperar. O teste busca identificar a estratégia e a organização utilizadas pelo sujeito na realização dos desenhos, bem como o material que foi espontaneamente conservado pela memória. Através da ordem e direção da cópia do desenho, pode-se prever que este foi realizado de forma conceitual, fragmentada ou confusa. Para isto, o teste identifica 7 307 tipos fundamentais de cópia, considerando para tanto a faixa etária do sujeito que realiza o desenho, pois como mostra-se abaixo há uma variação da predominância dos tipos ao longo do desenvolvimento: 308 309 Para a avaliação da cópia e da reprodução de memória, a figura de Rey foi dividida em 18 unidades (ilustrada abaixo), cada uma delas fazendo referência a áreas específicas e detalhes da figura: 310 A pontuação é dada, portanto, por unidade (máximo de 36 pontos em cada fase), considerando a localização e a precisão da reprodução, conforme apresentado abaixo: 5. Tarefa de Memória Visual (Ordem Direta e Ordem Inversa) - Adaptação do teste Blocos de Corsi. É utilizado um cartão com retângulos com iguais proporções e cores diferentes entre si (Figura abaixo). As sequências a serem reproduzidas pelas crianças foram construídas a partir das cores dos retângulos. A duas sequências iniciais são compostas por duas cores e as duas últimas sequências são compostas por nove cores. A aplicação 311 é interrompida com dois erros na mesma sequência, ou seja, dois erros na mesma sequência de cores de igual número. Instruções: Nessa atividade o examinador vai tocar com ponta do dedo uma sequência específica de cores previamente estabelecida. A tarefa do examinando é repetir a sequência da mesma forma. Ordem Direta - A aplicação é interrompida com dois erros na mesma sequência. “Vou tocar em algumas cores deste cartão. Observe atentamente e quando eu acabar, você deverá repetir tocando as cores na mesma ordem”. Item Tentativa 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. Preto – Verde Laranja – Verde – Branco Verde –Amarelo – Branco - Laranja Marrom – Preto – Laranja – Vermelho – Azul Vermelho – Preto – Laranja – Branco – Marrom - Azul Azul – verde – Amarelo – Laranja – Branco – Ponto 1ª Tent. Tentativa 2 Vermelho - Amarelo Azul – Marrom – Vermelho Preto – Azul – Vermelho – Amarelo Amarelo – Branco – Verde – Laranja – Marrom Branco – Amarelo – Azul – Preto – Laranja – Vermelho Laranja – Azul – Branco – Verde – Preto – Ponto 2ª Tent. Pontos do Item 0, 1 ou 2 312 7. 8. Marrom – Vermelho Marrom – branco Amarelo – Azul – Preto Vermelho – laranja Verde Vermelho – Preto Verde – Azul - Branco Laranja – Marrom Amarelo - Vermelho Marrom - Preto Branco – Vermelho – Laranja – Amarelo – Azul – Verde – Marrom – Preto Preto – Branco – Laranja – Vermelho – Marrom – Azul – Verde – Amarelo – Branco – – – – – – Ordem Inversa - A aplicação é interrompida com dois erros na mesma sequência. “Vou tocar em mais algumas cores e quero que você repita de trás para frente. Por exemplo, se eu tocar nesse (azul) e nesse (amarelo) – exemplo 1? O que você faria? Se a criança responder corretamente (amarelo-azul) passar para a primeira tentativa. Entretanto, se ela responder errado, dizer: “não, você deveria tocar nesse (amarelo) e nesse (azul). Eu toquei nesse (azul) e nesse (amarelo). Então para fazer ao contrário você deveria tocar nesse (amarelo) e nesse (azul). Agora tente com essas cores. Lembre que você deve tocá-las de trás para frente: esse (branco) e esse (verde) – exemplo 2.” Se a criança responder ou não corretamente o segundo item do exemplo, prossiga para a tentativa 1 do item 1. Não ajude mais no segundo item do exemplo ou em qualquer outro item da tarefa. Item Tentativa 1 Ex. 1. 2. Azul - Amarelo Laranja - Vermelho Azul – Preto - Vermelho 3. Amarelo – Verde – Laranja - Azul Vermelho – Verde – 4. Ponto 1ª Tent. XX Tentativa 2 Branco – Verde Verde - Amarelo Marrom – Branco – Laranja Branco – Marrom – Azul – Vermelho Amarelo – Azul – Preto – Ponto 2ª Tent. XX Pontos do Item 0, 1 ou 2 XXXXX 313 5. 6. 7. 8. Preto – Laranja - Branco Marrom – Preto – Amarelo – Vermelho – Azul - Verde Branco – Amarelo – Marrom – Laranja – Preto – Vermelho - Azul Verde – Azul – Laranja – Branco – Preto – Vermelho – Marrom – Amarelo Vermelho – Marrom – Preto – Amarelo – Branco – Verde – Azul – Laranja - Branco 6. Vermelho - Branco Vermelho – Branco – Laranja – Preto – Azul – Amarelo Preto – Marrom – Vermelho – Laranja – Azul – Amarelo - Branco Azul – Vermelho – Verde – Marrom – Branco – Amarelo - Laranja Marrom – Branco – Azul – Vermelho – Amarelo – Preto – Laranja – Vermelho - Verde Teste de Aprendizagem auditivo-verbal de Rey (RAVLT) O Teste de Aprendizagem auditivo-verbal de Rey (RAVLT) tem como objetivo a investigação da memória auditivo/verbal imediata, aprendizagem, interferência, retenção e memória de reconhecimento (Diniz, Cruz, Torres & Cosenza, 2000). Neste teste, é lida, pausadamente, uma lista composta por 15 substantivos – lista A, cinco vezes consecutivas para o avaliando. Após cada uma das vezes em que são apresentadas as 15 palavras, o testando deverá dizer todas as palavras que lembrar, sem precisar seguir a mesma ordem de apresentação. Em seguida, uma segunda lista é lida para o participante – lista B, e terminada a leitura solicita-se novamente ao avaliando que expresse verbalmente todas as palavras que recordar desta segunda lista. Posteriormente é solicitado que se evoque as palavras da lista A que recordar, sem que o examinador leia esta novamente. Após 20 minutos, solicita-se novamente que o avaliando relembre as palavras da lista A. Por fim, apresenta-se ao testando uma lista impressa, composta por 50 palavras, sendo quinze oriundas da lista A, quinze da lista B e vinte palavras que têm semelhanças a nível fonético ou semântico com as palavras das listas A e B. O 314 objetivo desta etapa é avaliar a memória de reconhecimento, na qual o participante deverá destacar as palavras que recordar da lista A e B. OBS: A descrições do testes WISC III, Teste das Figuras Complexas de Rey e Teste de Aprendizagem Auditivo-Verbal de Rey (RAVLT) foram extraídas da Tese de doutorado: Atividade matemática em crianças com epilepsia idiopática generalizada do tipo ausência: contribuições da neuropsicologia e da psicologia cognitiva, elaborada pela Profª. Drª. Izabel Hazin, a quem agradeço a disponibilização do material. 7. Teste de Memória Lógica (Recordação de Histórias). 315 O Teste de Memória Lógica consiste na evocação de informações verbais, previamente apresentadas, dentro de um determinado contexto espacial e temporal. Deste modo, a história abaixo, dividida em 30 trechos, é contada verbalmente para o sujeito, sendo a tarefa deste recontar a história utilizando-se das mesmas palavras do examinador. A cada trecho lembrado e evocado atribui-se um ponto. A solicitação de evocação da história é feita em dois momentos distintos: imediatamente após a leitura, e 30 minutos após o término da mesma. “Três /homens/ roubaram /o carro /do Sr. João/, mas eles não sabiam/ que o cachorro dele/,Rex, /estava lá dentro./ Rex deitou/ atrás do banco /e ficou bem quietinho/. Os ladrões dirigiram / por um longo caminho/, estacionaram o carro/ numa rua/ quieta/ e foram almoçar./ Rex escapou/ e se escondeu /numa praça./ Uma senhora/ encontrou ele / e ligou / para o número/ que estava na coleira./ O Sr. João veio/ com a polícia./ Eles prenderam os ladrões/ e o Sr. João dirigiu para casa com Rex/.” 8. Child Behavior Checklist (CBCL) 316 317 318 319 320 9. Roteiro de Observação nas Escolas e Entrevista com os profissionais ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO DO ALUNO NO COTIDIANO DA ESCOLA 1. O aluno interage com as pessoas da comunidade escolar? a) Professores ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ................................................................. b) Alunos ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................ c) Outros (pais de alunos, merendeira, vigia, auxiliar administrativo, serviço geral, diretor)? ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................... 2. O aluno demonstra compreender e realiza as atividades do cotidiano da escola? Precisa de adaptações para realizá-las (de conteúdo, da forma, do tempo, dos objetos)? ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. .................................................................................... 321 3. O aluno realiza as tarefas no tempo planejado para sua execução (atividades em sala de aula, na merenda, no banheiro, no parque)? ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ........................................................... 4. Quais as atividades do aluno durante o intervalo? ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ........................................................................ 5. É realizado algum tipo de adaptação, no que diz respeito à métodos educativos, com o objetivo de atender às necessidades do aluno? ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ........................................................................ 6. No geral, como tem sido o desenvolvimento acadêmico do aluno? Quais são as maiores dificuldades enfrentadas? ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ....................................................................................
Download