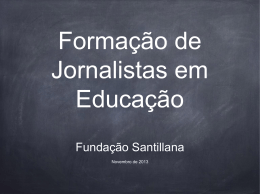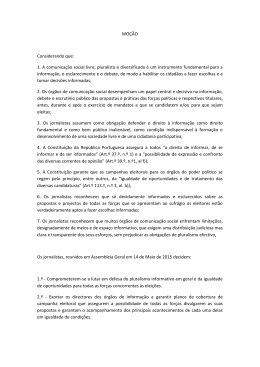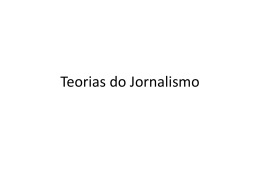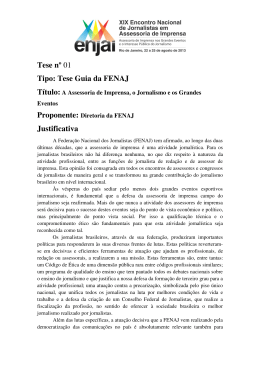1 João Mesquita Uma ideologia para o jornalismo José Luiz Fernandes (Entrevista no âmbito do projecto Perfil Sociológico do Jornalista Português/ISCTE, a publicar) O local para a nossa conversa dificilmente poderia ser outro que não esta casa comum – o Sindicato dos Jornalistas, a cuja direcção presidiu de 1989 a 1992. João Mesquita é um exemplo do jornalista que chega à profissão, após o 25 de Abril, pela via da militância política. É também exemplo do jornalista qualificado e experiente que as redacções portuguesas menosprezam. Aos 49 anos e meio, à data da entrevista, carrega mais de três anos de desemprego e, como admite, vê poucas possibilidades de voltar a uma redacção. Guarda excelente memória de acontecimentos e respectivos protagonistas e mantém-se frontal e crítico. A sua visão dos problemas do jornalismo dos anos 80 e 90 é esclarecedora, inclusive do presente. Fala-nos de como os jornalistas intentaram, nessa época de charneira, “uma nova prática jornalística, um jornalismo pós-Censura e pós-PREC”. E como o poder se assustou, quando ouviu falar numa ideologia da profissão, e logo “pensou mais na domesticação dos jornalistas do que na sua responsabilização. Dá a ideia de que ainda hoje continua assustado…”. Era João Mesquita presidente da direcção sindical quando um grupo de profissionais lançou um movimento para a criação da Ordem dos Jornalistas. O Sindicato promoveu, em 1992, um referendo aberto a todos os profissionais, que se pronunciaram maioritariamente contra a hipótese. João Mesquita continua a considerar uma Ordem “completamente desadequada à profissão”, cujo membros, na generalidade, não isenta de co-responsabilidade pela crise actual do jornalismo. “As redacções pensam pouco, agem ainda menos” – afirmação que nos deixa, para reflexão dos jornalistas. 1 2 Foi “um pouco por acaso” que João Mesquita nasceu em Coimbra. Seu pai, juiz de Direito, fora transferido de Tomar para o Porto e a mãe, então na fase final da gravidez, foi para casa dos pais, na cidade do Mondego, onde o avô era inspector do Magistério Primário. Nascido a 3 de Junho de 1957, João Bernardo Bigotte da Costa de Mesquita viveu a infância em várias localidades e regiões, de acordo com as colocações do pai. Sai do Porto, com menos de dois anos, para Santa Maria, nos Açores; voltará às Beiras, primeiro Gouveia, depois Castelo Branco; seguir-se-á Torres Vedras e aos 14 anos chega a Lisboa, quando o magistrado é colocado na Procuradoria-Geral da República. Corria o ano de 1971 e é matriculado no Liceu Camões, para fazer o quinto ano, mas como recorda, “nunca consegui fazer nada: no primeiro ano fui suspenso, no segundo fui expulso. Nessa altura já desenvolvia actividade associativa, fui fundador do núcleo do Camões do Movimento Associativo do Ensino Secundário de Lisboa (MAESL). Além disso, era um bocado mal comportado, de facto. Depois, tive problemas para me conseguir inscrever noutro liceu. Nenhum me aceitava, até que fui acolhido no Passos Manuel, para onde iam os ‘marginais’ todos: os sociais e os políticos”. No Liceu Passos Manuel, João Mesquita envolve-se ainda mais na actividade política. Organiza e participa em meetings contra a guerra colonial, que levam a polícia a invadir o liceu. A 16 de Dezembro de 1973 é um dos 164 estudantes do ensino secundário presos na Faculdade de Medicina de Lisboa. É no Passos Manuel que vive o 25 de Abril de 1974. “Logo no dia 26, criámos uma comissão pró-associação de estudantes, depois entrei na direcção da associação e na actividade política e pouco tempo passava nas aulas. Lá deixei o liceu, em 1978, embora com duas disciplinas que nunca conclui”. Abandona o liceu e vai fazer “trabalho político para as comissões de moradores dos bairros de lata” até 1979, quando o convidam para o jornal A Voz do Povo, que desde 1974 tinha sido o órgão oficioso da UDP. “Nesse ano houve uma cisão na UDP. Saíram bastantes pessoas, entre as quais eu e a maioria dos redactores do jornal, que decidiram mantê-lo e transformá-lo num projecto mais profissional. Sou convidado nesse contexto, pelo director, que era o João Carlos Espada. No âmbito do meu trabalho político fazia frequentemente comunicados e outros documentos, tanto no CMLP, no PCP(R) e na 2 3 UJCR, como na UDP, e adquirira a fama de que escrevia com algum desembaraço. Não depressa, que eu nunca escrevi depressa, mas com algum desembaraço”. O convite surgia ao encontro da sua aspiração a ser jornalista e de imediato o aceitou. “Não conhecia a profissão, não conhecia o meio, não conhecia jornalistas, tinha uma ideia muito reduzida do que era o jornalismo, mas gostava, aí desde os meus 12 anos, de fazer alguma coisa que envolvesse escrever, perguntar, ir ver. Fui sempre muito curioso e seduzia-me poder ir ver e perguntar de maneira diferente do comum das pessoas, ser os olhos, os ouvidos, o entendimento do leitor… Claro, seduzia-me também a possibilidade de intervenção social”. O seu gosto pelos jornais começara logo na meninice. João Mesquita ainda hoje se vê, recorda, “deitado no chão da sala, com os jornais abertos, naquele formato grande… Posso dizer que, além da aprendizagem escolar, aprendi a ler pelos jornais, sobretudo com A Bola e O Primeiro de Janeiro, mais tarde com O Século, que eram os jornais que se compravam em casa dos meus pais. Depois, quando passei a ter uns tostões meus comprava tudo o que era jornal de oposição ao regime: Comércio do Funchal, Jornal do Centro, Notícias da Amadora, República…”. Também o gosto pela escrita vinha desde garoto, muito por influência de um tio e padrinho, com quem passava temporadas grandes nas férias. “Ele estava uma boa parte do tempo a escrever e a ler e nisso fui muito influenciado por ele”. O tio é o ensaísta e crítico literário João Bigotte Chorão, de quem o entrevistado se foi, progressivamente, distanciando nos planos político, ideológico e religioso. Mas a admiração, pessoal e intelectual, nunca a perdeu e nos últimos anos voltaram a encontrar-se frequentemente. As primícias do futuro jornalista ocorrem em Castelo Branco, onde, nas franjas da Juventude Estudantil Católica, a JEC, participa na edição de um jornal que depois era vendido à saída do mercado, uma vez por mês. “Se a memória não me trai, chamava-se Clube XXI”. A nova série de A Voz do Povo, jornal de intervenção política de esquerda radical, mas organicamente independente de partidos, durou até 1981. Os tempos já eram adversos a projectos deste tipo, como reconhece hoje João Mesquita: “Os ecos do PREC desaparecem, a AD ganha as eleições, há uma viragem geral à direita e nós não tivemos 3 4 a percepção imediata das transformações que estavam a ocorrer na sociedade portuguesa. O jornal vivia cercado do ponto de vista financeiro, dependente das poucas assinaturas e vendas, mais de meia dúzia de anúncios. Ainda se criou uma Liga de Amigos, com pessoas de esquerda que tinham dinheiro, mas só deu para aguentar o jornal dois anos”. O fim deste jornal, como doutros com forte marca política surgidos após o 25 de Abril, suscita a questão da sua recepção pelos públicos, insuficiente para lhes viabilizar a publicação. João Mesquita admite que, em larga medida, faziam um jornal para os seus autores. “O público era o pretexto para fazermos um jornal de acordo com as nossas convicções, com o que nós achávamos que devia ser um jornal naquele momento histórico. A nossa formação jornalística era muito fraca, havia apenas dois ou três redactores com alguma preparação: o Eduardo Miragaia, que já tinha trabalhado, nomeadamente, no República; o Nuno Crato, que tinha então publicado um manual de jornalismo… Nem eu, nem, por exemplo, o José Manuel Fernandes, o Nuno Pacheco, o Henrique Monteiro ou o Manuel Falcão tínhamos formação jornalística. Fomos aprendendo, na prática, e através de leituras e conversas”. Dessa época, de jornalista em formação, reteve o ensinamento de que “é preciso pensar mais no público do que em nós, jornalistas, pensar mais em quem lê os jornais do que em quem os faz”. Olhando para os meios de informação de hoje, acha que esse desfasamento se mantém. “Se há crítica que faço aos jornais, e aos outros meios, é a manutenção desse divórcio entre quem faz e quem lê, vê ou ouve. A televisão procura satisfazer aquilo que supostamente são os gostos, primários e imediatos, dos públicos, mas isso não responde às necessidades de informação dos cidadãos. Continua-se a fazer uma informação muito centrada em Lisboa e um pouco no Porto, o resto do país é ignorado. Faz-se informação muito dirigida à classe alta e à classe média alta, muito divorciada das outras camadas da população”. Um desempregado, como é João Mesquita, “ao olhar para um jornal terá com frequência a sensação de que estão a gozar com ele. Sei isto por experiência própria. Porque boa parte do que se publica parece que tem a ver com outra realidade ou com outro país: é o ministro a decretar o fim da crise, é o ministro a anunciar a recuperação do emprego… 4 5 Quando aparece uma notícia do encerramento de uma fábrica, que lança centenas de trabalhadores no desemprego e afecta a vida de milhares de pessoas, a televisão até mostra o desespero das pessoas – claro que numa óptica de espectáculo… –, mas tudo o que levou àquela situação é silenciado e nos jornais também não é explicado. Lembro-me do poeta Vinicius de Moraes, que diz que a dor da gente não vem no jornal. Não vem nos jornais, não!”. Quer isto dizer que, na opinião do entrevistado, o jornalismo português não melhorou? “O que melhorou foi a formação técnica e académica dos jornalistas, mas a isso não correspondeu uma melhor formação social e ética dos profissionais. Na minha geração – e não estou a elogiar, mas a constatar – éramos uns autodidactas, uns ‘curiosos’ do jornalismo. Vínhamos para o jornalismo basicamente pelo gosto de escrever e pela paixão de intervir. Éramos pessoas comprometidas socialmente, tínhamos intervenção cívica e política e experiência de vida – desse ponto de vista receio bastante que se tenha regredido e que hoje, genericamente falando, se venha para o jornalismo por motivos menos nobres do que aqueles que nos trouxeram. A forma de encarar a profissão hoje será muito mais a de uma carreira e, consequentemente, como um meio de promoção, de fazer dinheiro e ganhar estatuto. Nós não pensávamos na carreira, em sermos directores, em sermos estrelas… Não tínhamos ambições dessas”. O jornalismo pós-Censura e pós-PREC Após o fim de A Voz do Povo, João Mesquita esteve uns largos meses desempregado, até entrar para a delegação em Lisboa do Notícias da Tarde, um vespertino com sede no Porto. Foi encarregado de fazer a cobertura do Parlamento, tarefa que foi predominante na sua actividade durante sete anos, inclusive nos jornais onde esteve posteriormente. E que lhe permitiu perceber a facilidade com que se pode criar um distanciamento entre jornalistas e leitores. “Era – e continuo a ser – defensor da especialização, mas apercebime de que a hiperespecialização pode criar insensibilidade e alheamento face a outras realidades”. A Assembleia da República é apontada como ambiente propiciador duma certa promiscuidade entre jornalistas e políticos, com reflexos negativos no condicionamento do jornalismo de política. João Mesquita acha que o risco da promiscuidade se acentuou, 5 6 quando comparado com os anos 80. “Nessa época, havia um relacionamento muito próximo entre os jornalistas, os deputados e os funcionários do Parlamento, que derivava muito do tempo que ali passávamos: dias a fio, semanas, meses, sessões que começavam num dia e acabavam na madrugada do dia seguinte. Mas, simultaneamente, havia nos jornalistas uma noção de independência muitíssimo grande. Já havia pressões, evidentemente, houve sempre pressões, mas na relação com os políticos havia muita discussão, muita crítica, nós interpelávamos os deputados e discutíamos com eles, e eles connosco, confrontávamos ideias. A relação era muito próxima, mas não deixava de haver independência e respeito mútuo. Ninguém se atrevia a convocar os jornalistas para falsas conferências de imprensa, onde se lêem comunicados ou se fazem declarações e não são permitidas perguntas. Quando um partido ou alguém queria comunicar alguma coisa mandavam um comunicado, um fax, ou lá o que fosse, à redacção e não passava pela cabeça de ninguém que não se pudessem fazer perguntas”. Os anos 80 são a década em que o entrevistado se constrói como jornalista. Portanto, é a sua época de referência. Se isso o poderá levar à sobrevalorização de alguns aspectos do jornalismo de então, é certo que foi um período muito importante no jornalismo português. Procurava-se uma nova prática jornalística, um jornalismo pós-Censura e pósPREC. Procurava-se tentando, experimentando, e reflectindo, como foi patente no 1.º Congresso dos Jornalistas Portugueses, realizado em Janeiro de 1983 e preparado durante o ano de 1982. Tal como no 2.º Congresso, em Novembro de 1986. João Mesquita lembra que, “nessa altura, na crónica parlamentar, se estava a enveredar por um novo caminho, em que a peça jornalística deixava de ser um mero relato dos trabalhos da Assembleia. Estava a iniciar-se uma nova forma de tratar as instituições, sem o ‘oficialismo’ de antigamente e sem o ‘propagandismo’ dos tempos do PREC. Deste, devo dizer que considero que era inevitável. Não tenho a visão de que foram tempos horríveis para o jornalismo; horrível teria sido os jornalistas ficarem a assistir ao PREC como se não tivessem nada a ver com aquilo e nada estivesse a acontecer. Por vezes era difícil distinguir o jornalista do militante político, mas eram os tempos, aconteceu isso com toda a gente e em todas as profissões. Todos intervieram, uns mais outros menos, à sua maneira, mas todos intervieram”. Essa demanda dum novo tipo de jornalismo, “a busca desse ponto de equilíbrio, precisava de ter sido acompanhada por reformas estruturais que não foram feitas”. Sem iludir as 6 7 responsabilidades dos jornalistas, sobretudo por não terem tido a capacidade de constituir uma vontade colectiva suficiente que conduzisse a soluções e mantendo-se reféns de iniciativas individuais ou de pequenos grupos, João Mesquita recorda que, “no plano legislativo, com os governos AD e PSD dos anos 80 iniciou-se um ataque a aspectos que eram conquistas importantes, como a redução das competências dos conselhos de redacção e o fim do Conselho de Imprensa. Foi lançado o processo de privatização dos meios de comunicação públicos, muito pouco ponderado do ponto de vista das consequências que isso teria para o jornalismo; não as consequências para os jornalistas, mas as consequências para a formação da opinião pública. Não esqueçamos que tivemos um primeiro-ministro que dizia que não lia jornais. Na época começou-se a falar na ideologia da profissão e o poder assustou-se e pensou mais na domesticação dos jornalistas do que na sua responsabilização. Dá a ideia de que ainda hoje continua assustado…” Dos congressos de jornalistas de 1983 e de 1986 saíram propostas muito concretas. Mas, considera João Mesquita, da parte do poder não houve resposta aos problemas que os profissionais colocaram. “Pelo contrário, houve uma escalada contra o exercício do jornalismo independente, contra os novos caminhos que se estavam a abrir. Os políticos, sobretudo os que exerceram funções governativas, têm pesadas responsabilidades na situação a que o jornalismo chegou. Mataram no ovo um caminho que estava a ser equacionado e podia ter trazido uma grande alteração de qualidade. Se calhar porque essa qualidade, com tudo o que implica, lhes metia medo”. Mas, também, “os novos empresários da comunicação têm responsabilidades grandes na evolução deste quadro, nomeadamente os que usufruíram da privatização dos meios públicos. Após a melhoria acentuada das condições de trabalho, no período imediatamente a seguir ao 25 de Abril, a partir dos anos 80 voltámos a ter uma compressão muito grande, situação que só melhorou um pouco no princípio dos anos 90, com o lançamento do jornal Público e das televisões privadas. Mas durante dez anos andámos a ‘marcar passo’ e isso criou fenómenos perniciosos, como os duplos e triplos empregos. Os germes de muito do que aconteceu depois estão aí, nas questões não solucionadas na década de 80 e nos fenómenos criados no início dos anos 90”. Fontes e dependências 7 8 O Notícias da Tarde não vingou num mercado já muito disputado por três vespertinos: A Capital, Diário de Lisboa e Diário Popular. Lançado pela empresa pública do Jornal de Notícias (JN), em 1982, no ano seguinte já enfrenta problemas de sobrevivência. A sua redacção, numa atitude reveladora da capacidade de intervenção que os jornalistas ainda tinham, pronuncia-se em plenário pela extinção do jornal com a integração dos postos de trabalho no conjunto da empresa. A administração decidirá a integração de cerca de 25% dos jornalistas nos quadros do JN e os outros numa nova publicação, o jornal desportivo O Jogo. Integrado no JN, na redacção de Lisboa, João Mesquita esteve quatro ou cinco meses à espera dessa integração. “Nesse período, começo a colaborar com o Expresso e foi aí que conheci uma nova faceta da promiscuidade. Ao contrário de tudo aquilo a que eu estava habituado, no Expresso as fontes telefonavam para os jornalistas. Eu nunca tinha tido essa experiência; em A Voz do Povo e no Notícias da Tarde eram os jornalistas que tinham de andar atrás das fontes. No Expresso, recebia telefonemas das fontes, algumas das quais chegavam a dar indicações sobre a forma de publicação dos textos. Estive lá pouco tempo, portanto não deu para tirar conclusões, mas agora quando leio os livros do arquitecto Saraiva ou a história do PSD do professor Marcelo, percebo que as minhas suspeitas sobre a influência de certas fontes no jornal eram fundamentadas. Claro que, na generalidade, os jornalistas do Expresso não eram manipuláveis, mas foi ali que me confrontei pela primeira vez com tentativas declaradas de manipulação”. No Jornal de Notícias, o “ambiente era muito mais desanuviado. A redacção, de forma genérica, tinha uma atitude de independência completa e havia uma solidariedade muito grande. Lembro-me de a administração ter tentado nomear um director sem consultar o conselho de redacção e de termos levado o caso a tribunal e o processo teve de voltar ao início. Só me recordo de, uma vez, o José Saraiva, então director e depois deputado do PS, me pedir um comentário sobre um tema de actualidade política qualquer. Lá fiz o comentário, onde havia umas críticas ao Mário Soares, e ele meteu aquilo na gaveta, não publicou. Duas ou três semanas depois, quando foram publicadas as listas de candidatos a deputados do PS, entre os quais estava o José Saraiva, eu telefonei-lhe e disse-lhe: ‘É melhor publicares o artigo, porque pode ser um pouco chato que um dia destes haja um jornalista a dizer que lhe censuraste um texto…’. E ele lá publicou, no dia seguinte”. 8 9 Mas onde João Mesquita compreendeu de vez que é uma ingenuidade “pensar-se que nos jornais não há pressões, não há orientações políticas”, foi no Semanário. Este jornal, “que tinha sido porta-voz da AD no final dos anos 70 princípios dos anos 80, era então dirigido por Victor Cunha Rego, que tinha percebido que tinha de lhe ‘dar a volta’. Ele e o José Miguel Júdice, que era o presidente do conselho de administração, queriam dar-lhe um carácter mais profissional e independente. Para isso, em 1985, contrataram vários jornalistas, que não tinham nada a ver com a lógica anterior, entre os quais a Áurea Sampaio, o Eduardo Miragaia, o João Mendes e eu. Aceitei porque pagavam bastante melhor do que no JN, apesar de termos acabado de conseguir o contrato de exclusividade, e eu gostava de fazer a experiência de trabalhar num semanário, uma experiência que foi interessante mas naturalmente com limitações. Uma vez fiz um trabalho sobre o Regimento de Comandos, porque tinha morrido um militar num exercício. Na segunda-feira seguinte, de manhã, antes da reunião de redacção, estava eu no gabinete do chefe a conversar com ele quando entra o director, em vários aspectos, aliás, uma pessoa adorável. Entra e diz o seguinte (ao chefe de redacção, não a mim directamente): ‘Raul Vaz, você nunca se esqueça que foram os Comandos que fizeram o 25 de Novembro!’. Claro que nessa semana foi já outra pessoa a tratar do assunto. A minha peça lá poria um bocado em causa os Comandos… Também me recordo que a certa altura se colocou a hipótese de eu ficar como editor da Política, hipótese que foi rapidamente abandonada com o argumento de que eu era um esquerdista”. Pouco mais de um ano durou a sua experiência no Semanário, pois foi convidado para a editoria de Política do novo diário Público. É também no ano de 1989 que inicia o seu primeiro mandato como presidente da Direcção do Sindicato dos Jornalistas. Já fora secretário da Direcção no biénio 1985/86, ao qual se seguira o executivo presidido por Joaquim Letria, em 1987/88. “As coisas correram mal com essa direcção, como se sabe, e às tantas começou a gerar-se um movimento para se criar uma alternativa. Fizeram-se várias reuniões, discutiu-se um programa e depois pôs-se a questão da escolha dos nomes”. Goradas algumas hipóteses, por recusa, e por que “várias pessoas defendiam que devia ser eu, acabei por aceitar, com grandes resistências, porque não era uma coisa que estivesse nos meus horizontes. Nunca tinha pensado nisso e quando me vi obrigado a pensar no assunto resisti bastante, mas lá me convenceram e me convenci”. Presidirá à Direcção do Sindicato dos Jornalistas uma segunda vez, no biénio 1991/92, embora contra o seu desejo. Lembra que “queria fazer só um mandato, porque sou um 9 10 defensor acérrimo da renovação e absolutamente contra mandatos sucessivos. Todavia na Direcção acabou por se criar um consenso no sentido de fazermos outro mandato”. O Sindicato e a tentativa da Ordem Foi um período muito desgastante da sua vida, porque, como diz, “tivemos de gerir um sindicato mergulhado numa crise e confrontado com problemas diversos, como, por exemplo, o da Ordem, o primeiro ataque contra a Caixa de Previdência, a luta contra a proibição da circulação dos jornalistas nos corredores do Palácio de S. Bento (Assembleia da República), a reforma do Código Deontológico. Além de que tinha de trabalhar. Tinha uma vida absolutamente desgraçada, nunca mais soube o que eram folgas, férias, finsde-semana, nada!”. A tentativa de um grupo de profissionais de criar uma Ordem dos Jornalistas levou o Sindicato a promover, em 1992, um referendo aberto a todos os portadores de título profissional para apurar a vontade dos jornalistas sobre tal eventualidade. Os jornalistas pronunciaram-se maioritariamente contra a constituição do organismo e João Mesquita continua “a pensar que a Ordem era, e é, completamente desadequada à profissão”. Recorda que entre os promotores da Ordem “havia pessoas com motivações e interesses muito diferentes. Havia quem achasse genuinamente que a Ordem era a melhor forma de moralizar e auto-regular a profissão. Havia quem tivesse uma certa visão elitista do jornalismo, sobretudo camaradas mais antigos e com uma carreira mais alicerçada, que temiam passar a ter de partilhar o poder nas redacções com gente mais nova. Aliás, alguns dos promotores da Ordem defendiam a criação das categorias de jornalista sénior e jornalista júnior, o que é significativo do desconforto que lhes provocava o rejuvenescimento que estava a ocorrer na profissão. E havia, ainda, os que cavalgaram essa tentativa de movimento pela criação da Ordem, numa linha claramente anti-sindical, numa linha em que a preocupação principal era atacar o Sindicato e a forma como eram apresentadas as reivindicações dos jornalistas”. João Mesquita solicitara um mês de licença sem vencimento no Público, que lhe fora concedido, para se dedicar a tempo inteiro à campanha para o referendo sobre a Ordem dos Jornalistas. Quando voltou ao serviço foi chamado ao gabinete do director-adjunto, 10 11 Jorge Wemans, que lhe comunicou que fora decidida a sua transferência da editoria de Política para a de Local. “O argumento era bastante estulto e resumia-se à necessidade de politizar o caderno de Local. Já antes houvera um problema que levou a demitir-me de fazer a cobertura das actividades do PCP, que me estava atribuída. Um dia, no início duma qualquer campanha eleitoral, fui à sede do PCP para combinar questões logísticas e fui informado por um funcionário do partido que não era eu que ia fazer a campanha, mas um outro jornalista. Voltei à redacção e escrevi uma carta a dizer que não escreveria nem mais uma linha sobre o PC, que me atribuíssem outro trabalho. Então, atribuíram-me o PS e nunca me deram qualquer justificação”. Terá o intenso envolvimento sindical de João Mesquita desencadeado alguma má vontade? “As situações coincidem, mas não posso relacionar essas atitudes com o meu envolvimento sindical, como também não posso dizer o contrário. O que sei é que, quando solicitei a licença sem vencimento, me foram desejadas as maiores felicidades para a campanha contra a Ordem. E que quando aceitei ir para o Sindicato pus a direcção do jornal à vontade para cancelar o convite que me tinha feito. O Vicente Jorge Silva, o melhor director com quem trabalhei, disse-me que nem pensar!”. O desgaste físico e psicológico “muito grande” a que foi sujeito durante quatro anos levam João Mesquita a começar a pensar em sair de Lisboa. Um dia, “vindo de um trabalho na FIL, eram para aí sete da tarde, demorei uma hora e meia a chegar ao Público. Estava a pagar ao motorista do táxi e digo-lhe: ‘com o tempo que demorámos tínhamos ido daqui a Coimbra’. No dia seguinte decidi-me a pedir a transferência para a delegação do jornal em Coimbra”. A experiência da imprensa regional Esta opção por sair de Lisboa também se deveu à desilusão provocada pelas modificações no sector ocorridas no princípio dos anos 90. João Mesquita lembra “a ressaca da privatização dos jornais públicos, com regras pouco claras e sem uma lei anticoncentração; a abertura da televisão às empresas privadas, um processo também com obscuridades; a lógica do espectáculo a sobrepor-se à informação, com a concorrência a ser levada a níveis extremos e a competitividade a contaminar os jornalistas; a presença cada vez maior de recém-licenciados nas redacções com 11 12 situações de exploração escandalosas… enfim, era o princípio da situação que se vive hoje – a desregulação do mercado, dos princípios, de tudo…”. Uma maior aproximação aos jornalistas de todo o País fora uma das preocupações do Sindicato enquanto João Mesquita presidira à Direcção. “Inclusive organizámos encontros regionais e depois um encontro nacional de jornalistas que trabalhavam fora dos grandes centros. De algum modo, isso criou-me um compromisso moral e levou-me a querer experimentar como era trabalhar fora da capital”. Por este conjunto de razões, o exercício do jornalismo de proximidade afigurava-se como um campo de maior liberdade. Mas o futuro mostrar-lhe-á que se enganava “em larga medida”. O pedido de transferência para a delegação do Público em Coimbra demora. “O José Manuel Fernandes, que na altura era o responsável da direcção pelas delegações, ia adiando a resposta e ao fim de três ou quatro meses, pura e simplesmente, demiti-me! A minha companheira, que também tinha pedido transferência, que lhe fora prontamente concedida, não podia esperar mais e aí fomos para Coimbra, comigo desempregado”. Instalado na terra natal, passadas umas semanas é convidado para o Diário As Beiras, um semanário que ia passar a diário. “Lá fui, nessa fase de lançamento elaborei umas regras estilísticas, o estatuto editorial, participei na formação de jornalistas e, quando chegou a altura, comecei a escrever. Mas ao quarto número censuraram-me um texto. Era um artigo sobre o Baptista-Bastos, que tinha ido a Coimbra fazer uma conferência sobre jornalismo e literatura. Eu propusera que em vez da rotineira cobertura da conferência fizéssemos uma reportagem sobre o tema e o protagonista. Andei todo o dia com ele, acabámos a conversa lá para as quatro ou cinco da manhã. Fui directo para a redacção escrever a peça e ao fim da manhã estava feita e entregue. A certa altura fui chamado à chefia da redacção, porque discordavam da legenda duma foto em que utilizara uma afirmação do Bastos. Ele criticava, com o tom desassombrado de sempre, o Guterres, o Cunhal, o Manuel Monteiro e o Cavaco, de quem dizia que era ‘um parolo que sabe falar inglês, língua que, como toda a gente sabe, se aprende em duas horas’. Depois de alguma discussão acedi a retirar a legenda, pois fora do contexto podia parecer uma coisa acintosa contra o Cavaco. Mais tarde, alguém me avisou que a expressão também fora retirada do texto. Ou seja, ficavam as críticas do Baptista-Bastos a todos os outros 12 13 menos ao Cavaco. Fui dizer ao chefe de redacção, que era o Rui Avelar, que se voltasse a fazer uma coisa daquele género denunciaria a situação publicamente porque se tratava de um acto de censura. Ele levou a mal e chamou o delegado da administração, Lino Vinhal, que achou que eu tinha faltado ao respeito ao chefe e suspendeu-me. Tentaram abrir-me um processo disciplinar, mas como não arranjaram nenhum jornalista que depusesse contra mim tiveram de arquivar o processo e ao fim de quatro dias os administradores chamaram-me para voltar a trabalhar. Eu disse-lhes que se quisessem começava imediatamente, mas que não podia nem ver o senhor que me tinha suspendido naquelas condições. Portanto, que arranjassem uma forma de eu trabalhar num sítio onde não o visse. Explicaram-me que não podiam fazer isso e eu expliquei-lhes que, assim sendo, não podia começar a trabalhar. E mais uma vez me despedi, sem indemnização, sem nada”. Se a experiência de João Mesquita na imprensa regional lhe reforçou a ideia de que poderia ser um espaço atraente para muitos jornalistas, também lhe demonstrou que os empresários da imprensa regional “são como os outros com a agravante de, duma forma geral, serem bastante mais submissos e dependentes dos poderes. É muito difícil desenvolver projectos sólidos e com independência nas regiões”. Fica três ou quatro meses no desemprego, depois de abandonar o Diário As Beiras. Repentinamente, numa semana surgem-lhe três possibilidades de emprego: SIC, Diário de Notícias (DN) e O Independente. A SIC obrigava-o a vir para Lisboa; a proposta do DN, embora permanecesse em Coimbra, “era péssima do ponto de vista salarial: metade do que pagavam no Diário As Beiras”. Optou por O Independente, que lhe permitia ficar em Coimbra com um salário semelhante ao anterior. João Mesquita achava que o semanário “estava a ter uma evolução positiva e que, apesar de manter uma posição editorial conservadora, estrategicamente servia muita gente e do ponto de vista do jornalismo permitia uma liberdade de funcionamento muito grande e uma lógica de independência na escrita”. O que, garante, “confirmei depois, porque durante a direcção de Paulo Portas nunca tive um texto censurado ou coisa do género; e nalguns problemas que tive com os poderes locais em Coimbra tive sempre uma cobertura absoluta do jornal. Por isso, apesar da regressão que se seguiu à saída de Portas, mantive-me em O Independente até às manifestações óbvias de crise no jornal, que se tornaram mais evidentes, justamente, a partir do fecho das delegações”. 13 14 Fica desempregado outra vez, em Outubro de 2000. Entretanto, nascera a sua filha, Joana. Opta por permanecer em Coimbra e tenta sobreviver como freelance. Escreve para várias publicações, mas desilude-se. “Os jornais pagam pessimamente, perde-se mais tempo a discutir quando e como é que pagam do que a fazer o trabalho, combina-se um artigo e sai três meses depois… A prática demonstrou-me que, ao contrário do que pensava, não me governava como freelance. Pela primeira vez na minha vida, passei por uma situação muito difícil do ponto de vista económico”. Por isso, quando tem um convite para a redacção de A Capital – onde já colaborava com uma crónica semanal – não hesita e regressa a Lisboa, em Fevereiro de 2002. No vespertino reencontra o gosto de trabalhar numa redacção, “ainda para mais desejosa de evoluir, alegre, sem preconceitos. A delegação de O Independente em Coimbra era eu mais eu e sentia a falta da crítica, da discussão, do convívio…”. Mas A Capital sofria de problemas estruturais: “Uma redacção muito jovem e, de um modo geral, mal paga; uma administração que não sabia para que é que queria o jornal; um director, o António Matos, que, como muitos dos directores de hoje, era mais administrador do que director, mais preocupado com problemas de gestão do que com as questões editoriais. Eu era amigo do António Matos, até tínhamos relações familiares, e portanto sentia-me à vontade para lhe dizer repetidamente que havia questões que tinham de ser solucionadas. Dizia-lhe eu e diziam-lhe outros, como o Torcato Sepúlveda, que também era amigo dele, do tempo do Público”. A confiança era tal que “a dada altura o Matos colocou a possibilidade de eu ser director do jornal, ficando ele só como administrador. Eu aceitei, desde que fossem reunidas algumas condições. Nunca chegaram a sê-lo, mas também não foi preciso porque a administração espanhola, entretanto, vetou o meu nome, por me considerar esquerdista. Depois, o Matos insistiu comigo para ser editor da Política, o que recusei em coerência com a apreciação que a administração fizera. Acabei por aceitar partilhar a responsabilidade da editoria de Lisboa. E um mês depois fui despedido! Eu e o Torcato. O pretexto formal do António Matos foi que não me podia pagar o salário que negociara comigo. Depois de me despedir, a mim, que ganhava 1500 euros, foi buscar um director editorial mais um director-adjunto e um director de arte, os quais, seguramente, recebiam 14 15 mais do que eu e o Torcato. Contratou também vários cronistas e alguns redactores. O resultado, infelizmente, foi o que se sabe…”. Desemprego de longa duração Outubro de 2003. João Mesquita fica desempregado mais uma vez. Três anos e meio depois, à data desta entrevista, em Janeiro de 2007, mantém-se desempregado. Já se esgotou o período do subsídio de desemprego e está a viver do subsídio social, 300 e poucos euros por mês, e de uma ou outra colaboração, “cada vez menos e pior pagas”. Por que não tem este jornalista lugar numa redacção? Dir-se-á que a experiência, a memória histórica, o conhecimento de fontes deixaram de ser factores de valorização profissional. Aliás, é público e está amplamente documentado que, sobretudo, desde os primeiros anos deste século as empresas vêm executando um programa de afastamento das redacções dos jornalistas com idade superior a 50 anos. Actualmente, essa tendência já atinge alguns profissionais com menos de 50 anos e, num ou noutro caso, até com menos de 40 – desde que não seja suficientemente moldável e submisso, segundo os padrões da hierarquia. Dir-se-á, então, que jornalistas com espírito crítico não são bem vistos nas redacções do jornalismo actual. Dir-se-á, também, que o acesso à profissão, apesar das avalanches de propostas de jovens recém-licenciados que desabam nas redacções, continua a ser feito maioritariamente através de redes de conhecimentos e amizades. Mas conhecimentos são coisa que não falta a João Mesquita: 27 anos de profissão, antigo presidente do SJ, experiência adquirida em várias redacções. Alguns jornalistas da sua geração, como diversos antigos camaradas de A Voz do Povo, ocupam mesmo cargos de direcção em jornais de renome, um dos quais, o Expresso, procedeu recentemente a uma reestruturação da redacção na sequência da saída de alguns dos seus membros para o concorrente Sol. Reconhece que sempre foi, em todas as redacções, uma pessoa muito crítica. “Nunca deixei de exprimir as minhas opiniões sobre o jornalismo e sobre as condições do exercício da profissão, mas julgo ser uma pessoa com um razoável feitio, nunca tive conflitos pessoais com camaradas. O que todos sabem é que não sou subserviente, que 15 16 não sou seguidista, que continuo a ter um juízo bastante negativo sobre a evolução do jornalismo. O que está a acontecer comigo já aconteceu e acontece com muitos outros. Ainda há poucos meses, o Público despediu uma série de jornalistas, entre os quais alguns que eu considero serem ‘apenas’ dos melhores profissionais da nossa imprensa diária. Portanto…”. João Mesquita encara o seu futuro no jornalismo sem optimismo. “A tendência dominante vai contra aquilo que eu penso que devia ser feito, a degradação das condições de trabalho e de vida dos jornalistas é cada vez maior. Vive-se uma situação de desregulação total no sector, inclusive de ausência de princípios éticos. E nos jornais domina a ideia de que eles não são para ler, mas para ver. A principal razão da crise dos jornais é essa: quando se fazem jornais para não serem lidos, pois não serão lidos! É muito mais interessante e fácil para o cidadão comum olhar para uma televisão ou para um ecrã de computador, ou mesmo só ouvir rádio, do que estar a ver jornais”. Embora resista muito, João Mesquita encara a possibilidade de mudar de profissão. “Não tenho estado disponível para trocar esta profissão por outra, designadamente por assessorias de imprensa. Tive alguns convites, mas até hoje só admiti aceitar um. Fui informado de que fora escolhida outra pessoa e, no fundo, senti um certo alívio. Creio que só conseguiria ser assessor duma pessoa com quem estivesse de acordo no fundamental e com quem me desse muito bem. Em quem tivesse confiança política e pessoal – o que é muito difícil… Quando decidir abandonar, certamente será por uma actividade mais afastada do jornalismo”. Uma situação prolongada de desemprego gera inevitavelmente alterações na vida pessoal e familiar. A viver com uma jornalista, João Mesquita considera que se isso tem desvantagens, também tem, seguramente, vantagens: “As pessoas podem compreender melhor uma parte importante da vida do parceiro, designadamente se partilharem das mesmas interrogações e angústias, o que se pode traduzir num apoio maior”. Alterações inevitáveis são também ao nível dos consumos, em geral, a que não escapam os instrumentos de cultura. “Viciado em livros”, como se classifica, João Mesquita teve de abdicar de outros hábitos – música, teatro, cinema – para “privilegiar os livros, e, mesmo aqui, pensando três vezes antes de comprar.” 16 17 O que não alterou foram as convicções políticas. "Mantenho-me no mesmo campo político. Pessoalmente fiz muita asneira, reconheço, mas não passei a pensar o contrário. Mantenho uma ideia essencial: a defesa de uma transformação radical, profunda, da sociedade. Continuo a acreditar nisso. Não defendo o modelo chinês ou o modelo albanês, como defendi, mesmo conhecendo-os mal. Mas não foram os modelos que me levaram a optar por esse campo político da esquerda. O que me determinou foi o desejo duma transformação substantiva da sociedade e esse ideal mantenho-o, porque os problemas não estão resolvidos. Em Portugal, o 25 de Abril resolveu algumas coisas, nomeadamente no domínio dos costumes e das liberdades políticas, mas não produziu essa transformação radical do sistema. Um sistema marcado por gritantes desigualdades sociais, com que não me consigo conformar”. A crença religiosa, essa sim, abandonou-a João Mesquita. O menino de educação católica, apostólica e romana, que ajudou à missa e quase foi activista da JEC, iniciou-se na perda da fé por motivos dados pelos seus guardiões. “O padre Agostinho, que dava aulas de Religião e Moral no liceu de Castelo Branco e que punha dezenas de miúdos a participar em actividades ligadas à Igreja, a certa altura foi retirado para Portalegre, pelo Bispo que o colocou junto de si com funções burocráticas. Isto foi entendido como um saneamento e provocou em muita gente uma grande revolta. Para mim, foi o início dum processo de afastamento. Comecei a interrogar-me sobre a doutrina e as práticas da hierarquia da Igreja e a afastar-me delas. Com o tempo, tornei-me ateu: deixei de acreditar, pura e simplesmente, na existência de um Deus”. Também não alterou a sua adesão ao sindicalismo. Ainda hoje considera que os quatro anos como presidente da Direcção do Sindicato dos Jornalistas foram “uma experiência extraordinária e altamente gratificante” para si. “Possibilitaram-me um conhecimento muito mais aprofundado do jornalismo, dos jornalistas e das redacções. Ensinaram-me muitas coisas sobre a natureza humana, a classe política e empresarial. E permitiram-me trabalhar com pessoas fantásticas, a começar pelo próprio SJ”. Uma experiência que não acarretou nenhuma desilusão relativamente aos jornalistas, na sua globalidade, nem relativamente ao jornalismo em si. “A profissão e o jornalismo estão a passar por uma crise muito profunda e muito prolongada, que provavelmente ainda se vai agudizar, mas isso não me leva a pensar que os jornais perderam o sentido ou que os jornalistas não são precisos para nada e que qualquer escriba faz o que nós fazemos”. 17 18 Sobre o uso da tecnologia digital e os seus efeitos, João Mesquita alerta para a imprescindível cautela em não ser “utilizada contra os princípios do jornalismo e dos jornalistas”. Não tem aversão à tecnologia e lembra que no dia em que chegou à redacção do Público só se viam computadores. “Não havia sequer uma única máquina de escrever... Fiquei assustadíssimo… mas ao fim de dois dias já estava relativamente à vontade, embora ainda hoje esteja longe de explorar todas as potencialidades que o computador tem”. Entende que “a vocação e a especialização relativamente aos diferentes meios tem de ser preservada. É inconcebível que a um jornalista se exija o domínio de todos os meios técnicos. Isso seria um recuo muito grande para a profissão, embora alguns jornalistas possam pensar que é um avanço”. João Mesquita não tem dúvida: “Verifica-se, hoje, uma nova escalada contra o jornalismo – pelo menos como eu o entendo –, que exige de nós, jornalistas, uma reflexão, sobretudo nas redacções, onde não há a discussão que havia e é necessário que haja. As redacções pensam pouco, agem ainda menos, e as direcções e as administrações, que julgam poder falar por nós, só pensam no lucro imediato, nem no lucro futuro pensam”. A concluir, João Mesquita lembra que "um ministro dum Governo AD disse, em certa ocasião, que fazer jornais era como fazer salsichas. Na altura, houve uma grande onda de rejeição às palavras do homem. Mas muitos dos que então se insurgiram, hoje, infelizmente, contribuem activamente para que essa ideia triunfe". xXx 18
Download