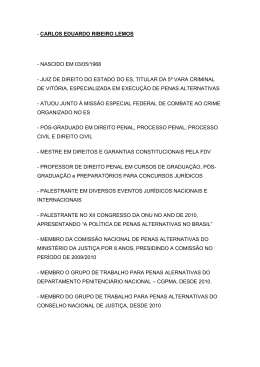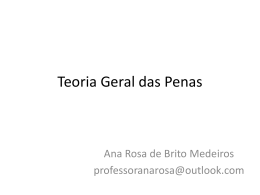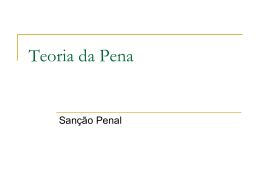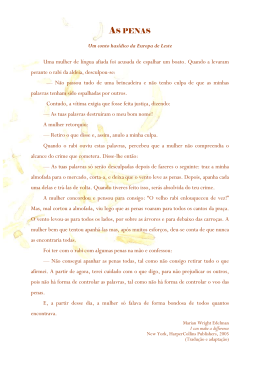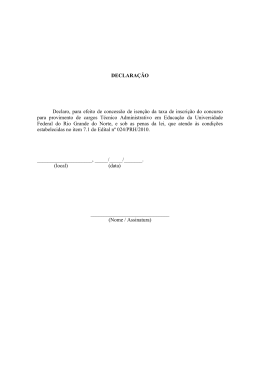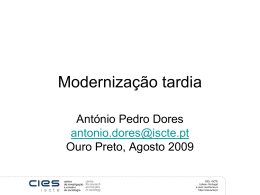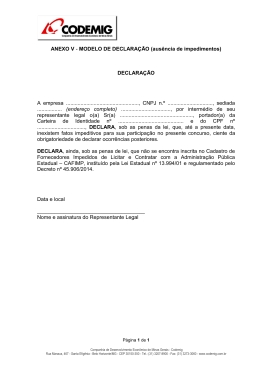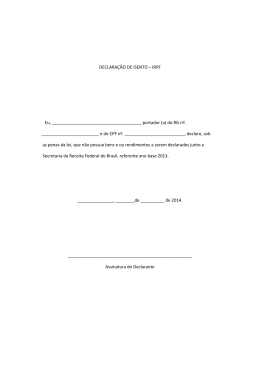Coerência na aplicação das penas Palestra proferida no Supremo Tribunal de Justiça no dia 03.06.09 + José António Barreiros, Advogado Solicitam-me que fale na coerência na aplicação das penas e no papel que nisso pode ter o Supremo Tribunal de Justiça. Trata-se de uma simples palestra, julgo, não de um estudo doutrinal, do contributo de um prático do Direito. Lamento que não possamos contar com a presença da Doutora Anabela Rodrigues a quem se deve um dos mais profundos estudos sobre a matéria, em sede de doutoramento. Claro que para os positivistas não seriam exaltantes as suas conclusões, porquanto ao rematar um extenso capítulo em que longamente explana quanto há de discricionariedade e quanto de vinculação na determinação das penas criminais e de todas elas a prisão, escreve: «na actividade da determinação da medida da pena perfila-se em termos particularmente incisivos, o problema da convivência entre factores racionais e irracionais, o problema em suma das valorações intuitivas presente em qualquer aplicação do direito» [A determinação da medida da pena privativa de liberdade, Coimbra, 1995, página 106]. Desfazendo ilusões, traria seguramente um exercício de humildade filosófica na forma de rigor académico. Na verdade, agendar um tema destes é pressupor que haja um problema, ou seja, que as penas actualmente decretadas e aplicadas não sejam, numa lógica comparativa, coerentes na sua espécie e medida, que esteja assumido que o devam ser em termos de uma regra constitucional da igualdade dos cidadãos ante a lei e sobretudo se nisso o Supremo Tribunal de Justiça, e seus «sobrejuízes» - assim se designavam no século XIII – como guardiões últimos da legalidade, devem, primeiro, e podem, enfim, ter algum papel ordenador e uniformizador. O problema é relevante. A pena é, por definição, um mal, que visa gerar um sofrimento ou uma privação, por causa de um mal do punido. Claro que há penas que se aplicam a quem não fez mal, mas por causa do mal feito por outros. É o caso da punição das pessoas colectivas essa forma contemporânea atípica de alcançar resultados pragmáticos sem fundamento axiológico suficiente, caso insofismável de responsabilização por acto alheio e de sucessão da responsabilidade penal que se supõe ser individual. 1 A pena existe não como egoísmo vingativo, sim como decisão objectiva de uma entidade independente: um tribunal. Ora os tribunais não servem para combater o crime, sim para que haja justiça no combate ao crime que o Ministério Público e as suas polícias levam a cabo. Fazem-no com equidistância face à pretensão punitiva do acusador público, os interesses privados dos ofendidos, os direitos dos acusados e o respeito dos interesses legítimos de todos os participantes processuais. Visando infligir a dor, procurando retirar a liberdade, privar economicamente cidadãos das suas vantagens, procedendo à compressão direitos de civilidade, socialidade e cidadania, sabendo que vão alcançar a estigmatização social e com ela a degradação da imagem pública dos sentenciados, as penas hoje em uso são essencialmente de natureza aflitiva e correccional, nisso expiatórias, censuratórias e pretensamente curativas. Num Estado democrático «e civilizado», escreve Figueiredo Dias «só a liberdade externa e o património devem constituir pontos de conexão daquelas sanções» [Direito Penal Português, As Consequências Jurídicas do Crime, página 92]. A taxa de reincidência na delinquência era, tradicionalmente e segundo um registo de prevenção especial, o critério de sucesso da justiça penal; a erradicação das ameaças criminais passou a ser – numa lógica de prevenção geral – a medida do seu êxito. Ora de todas as penas possíveis a prisão assume uma interessante particularidade. Por um lado, é uma criatura recente, que só assentou arraiais, como pena, na segunda metade do século dezoito, por outro vive o paradoxo de ver cantada doutrinalmente a sua excepcionalidade e demonstrada, pela sobrelotação penitenciária, a sua generalização judiciária. Além disso, está posta em crise a equação severidade da pena/dissuasão penal, por estar criminologicamente demonstrado que não é a sobrepunição em prisão que cria no psiquismo do potencial criminoso o factor desencorajador da prática de crimes. Por ser assim, a haver disparidade nas penas de prisão estaremos ante um problema de dramatização exasperante de uma das formas mais agónicas de infligir legitimamente mal por cerceamento de um dos fundamentos estruturantes da cidadania democrática que é a liberdade individual. Ou seja, a desproporcionalidade punitiva e a assimetria de critério na «arte de punir» perdoe-se a ironia, mas a frase tem paternidade – a existirem, são formas de agir não democráticas, pois que de usurpação do estatuto de cidadania do condenado e de lesão injustificada da personalidade alheia se tratará então: delinquente sim, mas cidadão também e sempre pessoa, titular, por isso, de um espaço essencial de liberdade social e de um espaço interior que só podem ser comprimidos com fundamento legal e na justa e recta medida, o condenado tem direito a esperar a pena 2 justa e sobretudo equivalente e a sociedade punitiva não pode ultrapassar esses limites expectáveis e justos. É pois uma equação entre o crime cometido e a pena infligida que terá de configurarse; a não equivalência dos termos amputa a penologia do seu referencial legitimador, sem o qual passa a ser um instrumento de condicionamento social, não justiça. Além disso podem gerar-se disfunções. Nas suas velhas Lições de Direito Criminal Português, de Basílio Alberto de Sousa Pinto, que li na edição de 1861 alinhavam-se duas irónicas considerações que não podem deixar-se sem menção, pois que, pelo absurdo ajudam a formar um pensamento aceitável. Segundo ele, uma das características da racionalidade da pena é a economia. Citemolo: «a pena é um mal, é uma despesa, que a sociedade faz, e por consequência não deve exceder os justos limites da necessidade. Condena-se um homem à morte; esta pena é um mal para o condenado, porque o priva da vida; mas também é uma despesa para a sociedade, que fica privada de um membro que muitos serviços lhe podia prestar ainda». Imaginam-se quais serviços se poderiam esperar e daqui se intui a valia deste argumento economicista em prol de penas económicas. E claro que estas disfunções, quando decorrentes da desigualdade da pena também se colocam quando temos como referência as penas pecuniárias, cuja proporcionalidade com os meios de riqueza do condenado haverá de ser relevada sob pena de estarmos ante uma igualitarização meramente formal. De novo Sousa Pinto, em nova citação carregada de bom humor numa matéria tão tétrica, referindo-se à igualdade da pena de multa ante o rico e o pobre: «Bem sabido é o caso daquele cidadão romano que trazia consigo um escravo com uma bolsa de dinheiro, para pagar a multa pelos bofetões que ia dando». Prevenidos para o problema, vejamos por etapas a questão que aqui nos traz, fazendo um breve relance histórico, por não haver melhor via de perspectivar o presente, tentando criar um futuro, do que reconstituir o passado. Antes de mais, partilhemos uma constatação fruto de uma experiência existencial pela qual passaram todos os que saíram da ilusão universitária para a pungente realidade forense: a justiça penal, se aparenta ser uma matemática, é-o na lógica apenas da teoria das probabilidades, sujeita à arte da conjectura. Já o era no princípio; só que então o poder legislativo impunha as suas ordens, fazendo equivaler a punição concreta à punibilidade abstracta: a medida punitiva do caso podia ser antecipada através da medida de punição prevista na lei que configurava todos os casos, pressupondo-lhes identidade, desconsiderando-lhes as dissemelhanças. 3 Veja-se o que escreveu Luís Osório na nota ao artigo 54º do Código Penal Português, que cito da sua segunda edição, em 1923: «A individualização da pena tem por fim a sua adaptação ao criminoso. A individualização pode ser legislativa, judicial ou administrativa. Na individualização o legislador deveria classificar o criminoso indicando os elementos dessa classificação e estabelecendo penas próprias para cada uma dessas espécies de criminosos. Na individualização judiciária seria dado ao juiz o arbítrio necessário para não só determinar a duração da pena que convinha a cada criminoso, mas ainda, e especialmente, a espécie da pena. Na individualização administrativa o juiz pronunciaria apenas a condenação ou absolvição ficando sempre a determinação da espécie da pena e da sua duração pertencendo às autoridades administrativas encarregues da execução da pena». Veja o que ainda era possível lembrar já no início do século vinte. Recuemos, por isso, ao Código Penal que sucedeu às Ordenações do Reino, mas não deixemos de ter presente a razão que subjazia a estas e que Joaquim José Caetano Pereira e Sousa, advogado na Casa da Suplicação, condensou com mestria no seu clássico livro Classes dos Crimes, de que li a segunda edição, tirada em 1816. De facto, sendo a pena «a expiação do crime determinada por legítimo superior para a reparação do dano feito ao interesse geral, ou dos particulares [eis o § 18 da obra] «segue-se desta definição que a pena deve deduzir-se da natureza do crime, e proporcionar-se quanto ao possível ao mesmo crime». Eis como a questão se colocava no início de novecentos, como uma tentativa de busca da proporção áurea entre dois males, o legítimo que a pena simbolizava e o ilegítimo que o crime configurava. Esta racionalidade da justa medida e da ligação do mal da pena ao mal do crime configurou desenhos literários sugestivos que melhor iluminavam do que se tratava: «não se podem reprimir as paixões senão pelas paixões mesmas; elas devem servir de freio recíproco; se o crime é o da ociosidade deve ser reprimido pelo trabalho», escrevera Cícero. O justo critério era assim aplicar a mesma medida de vírus como vacina para a doença, tanto que – de novo Pereira e Sousa - «as penas são menos estabelecidas para punir os delitos, que para preveni-los» [§ 29]. Ora só há gozo no mal causado quando não se trata de mal sofrido. Ora como encontrar este número de ouro se, de novo Pereira e Sousa «esta proporção deve ser não aritmética mas moralmente exacta entre o mal e a sua reparação, entre o crime e a sua pena» [§ 20]? 4 Eis aquilo que está em aberto como problemática; irresoluto, o problema de dogmatizar esta aritmética moral gerou-se ante tal aporia a ilegitimidade da própria justiça que assim ficava privada da sua boa razão: a do equilíbrio normativo. É que nesta ânsia de prevenção geral, de formação de uma teia de aranha que apanhe moscas e não apenas mosquitos, encontrávamos ao início do século um sistema penal atroz e infamante, desproporcionado quando não despropositado. Vale a pena ainda hoje a excursão por esses labirintos de horror punitivo, pois que ilustrativos da fixidez das penas e da severidade da punição. Assim, tomemos como referência o que acontecia ontem ainda, em 1810: o bígamo era condenado a morte natural, sendo degredado para uma das conquistas do Reino com perdimento dos bens para o Real Fisco, aquele que contraísse matrimónio clandestino; os que andassem mascarados em qualquer parte do Reino, prisão por dois meses, degredo para África por quatro anos e pena pecuniária de cem cruzados e já os estudantes de Coimbra que andassem embuçados com as capas pelas cabeças sujeitavam-se, sendo nobres, a degredo para o Brasil, riscados dos seus cursos e inabilitados de serem mais admitidos e sendo «mecânicos» a degredo para Angola por cinco anos. Os exemplos podiam multiplicar-se: a quebra dolosa excedendo cem cruzados era punida com a morte e com o confisco e com degredo para o Brasil ou «a arbítrio» conforma o dano fosse «não descendo cinquenta» ou «de cinquenta cruzados para baixo»; os hereges «que sustentarem facciosamente opinião diferente do dogma recebido na nossa Religião Cristã» eram punidos com morte, infâmia e confiscação de bens, ainda que tendo filhos e só se tivessem agido «sem facção ou sedição» é que beneficiavam da pena mais benigna de açoutes, infâmia e degredo perpétuo ou temporal, mais a privação da faculdade de testar, mesmo passivamente. Em meados do século dezanove tudo mudaria. Quando em 10 de Dezembro de 1852, sob a ditadura de Saldanha, foi aprovado o estrangeirado Código Penal Português, ratificado nas Cortes em 1 de Junho de 1853, o legislador decidiu-se [artigo 29º] a um catálogo de penas para maior sistematização das noções e delimitação dos conceitos. Assim, criou seis penas a que chamou de «maiores»: a pena de morte, a de trabalhos públicos, a pena maior propriamente dita, com ou sem trabalho, a de degredo, a de expulsão do reino e a de perda dos direitos políticos. Ao lado destas havia as penas chamadas correccionais, que eram a desterro, a suspensão temporária dos direitos políticos, a de multa e a de repreensão. Finalmente os empregados públicos podiam ser punidos com demissão, suspensão ou censura. 5 Na delimitação de algumas das espécies de pena o factor tempo entrava, estabelecendo limites mínimos e máximos. Não era assim, claro, no que se refere à pena de morte, mantida apesar de já não se aplicar desde 1846, pois que esta, abolida em 1867, consistia no que o Código chamava, com alguma cínica ironia «na simples privação da vida». Mas já o condenado a pena de trabalhos públicos poderia sofrê-los «por toda a vida» ou por forma «temporária desde três a quinze anos», e isto «empregado nos trabalhos mais pesados com corrente de ferro no pé, ou com cadeia preso a outro companheiro se a natureza do trabalho o permitir». Do mesmo modo, a prisão maior poderia ser «por toda a vida, ou temporária, que excedendo os três anos não passe os quinze». Igualmente as penas de degredo e de expulsão do Reino poderiam ter perpétuas ou variáveis entre os ditos três e quinze anos. Só a pena de perda dos direitos políticos era perpétua, incapacitando o condenado «de tomar parte por qualquer maneira no exercício ou no estabelecimento do poder público ou funções públicas». A mesma linha de pensamento orientava as chamadas penas correccionais. Assim, a prisão correccional propriamente dita, que teria lugar em cadeia ou em estabelecimento público destinado para este fim, segundo o Código «não obriga a trabalho e não pode exceder a três anos». O mesmo limite máximo, que não o mínimo, era fixado para o desterro, o qual «obriga o réu a permanecer em lugar determinado na sentença, no continente ou em ilha em que o crime for cometido, ou a sair da comarca por espaço de tempo, que não exceda a três anos». Já a suspensão por definição temporária dos direitos políticos podia estender-se até doze anos. Estruturadas numa lógica de limites abstractos como regra, as penas temporárias viam a sua duração concreta, nos termos do artigo 46º do Código, «determinada por juízes, não podendo exceder-se nem abreviar-se os termos mais do que o marcado pela Lei, salvo nos casos especialmente declarados» Para que tal individualização fosse possível, passando-se da pena abstracta para a penalidade concreta, o legislador configurou o seguinte caminho metodológico. Primeiro, categorizou uma escala de precedências das penas. Segundo o artigo 47º do Código Penal «a gravidade das penas considera-se em geral segundo a ordem de precedência em que se acham descritas neste capítulo; entende-se que as penas perpétuas de trabalhos públicos, prisão e degredo são mais graves do que quaisquer penas temporárias» e [de acordo como § único do mesmo preceito] «considerar-se-á a pena de degredo imediatamente superior à de prisão correccional, nos casos em que a Lei decretar, sem mais declaração, a pena imediatamente superior ou inferior». Além disso, consignou-se que «a pena de trabalhos públicos agrava-se sendo os trabalhos no Ultramar» e a de prisão agrava-se «quando é com isolamento ou no 6 Ultramar»; o degredo é, em regra, para África sendo agravado quando para as possessões orientais. Tentando dar execução a esta ideia, o Código que enunciava no seu artigo 68º o princípio da legalidade segundo o qual «não pode ser aplicada pena alguma, que não seja decretada na lei» e no artigo seguinte que «nenhuma pena poderá ser substituída por outra, salvo nos casos em que a Lei o autorizar», estabeleceu, nos artigos 77º e seguintes, um critério quanto ao modo como a agravação ou a atenuação se processavam. Assim, depois de considerar com clareza no artigo 77º – aquilo que mais tarde viria a ser um produto da elaboração doutrinal – que «não é circunstância agravante, para o efeito de aumentar a pena, aquela que a Lei considera como elemento constitutivo do crime», determinou no artigo 78º o modo como haveria de materializar-se a agravação das penas. Assim, a pena de morte «não se agrava em caso algum», nem sequer quanto ao seu modo de execução; os trabalhos públicos por toda a vida serão no Ultramar; quanto à prisão perpétua será no Ultramar ou agravada com isolamento; a pena de degredo podia ser agravada pelo lugar da sua execução e «com prisão no lugar do degredo por um espaço de tempo determinado, como parecer aos juízes», o mesmo se passando com a prisão perpétua que acabámos de referir; quando à pena de degredo para a Índia era agravada «sendo para África». Quanto à pena de prisão maior podia ser agravada quanto ao lugar de execução; o máximo da pena de prisão correccional podia ser agravada com muta e o máximo da multa podia ser agravada com prisão até um ano. O mesmo princípio orientava a atenuação que, «segundo a maior ou menor influência na culpabilidade do criminoso» podia ser substituída por outra ou reduzida na sua duração. Assim, a pena de morte poderia ser substituída por qualquer das penas perpétuas de trabalhos públicos, prisão ou degredo; a pena perpétua de trabalhos públicos poderia ser substituída pela pena temporária de trabalhos públicos, pela prisão maior temporária com trabalho ou sem ele, pelo degredo perpétuo ou temporário, ainda que agravado; a prisão perpétua pela prisão maior temporária ou pelo degredo perpétuo ou temporário ainda que agravado; enfim, e abreviamos apenas porque exemplificamos, «a duração das penas maiores temporárias será abreviada, podendo reduzir-se até ao mínimo». Do mesmo modo e com intenção atenuante, segundo o § único do artigo 82º «poderão também os juízes, considerando o número e importância das circunstâncias atenuantes, substituir qualquer das penas imediatamente inferiores e mesmo a prisão correccional não inferior a dois anos». 7 A redução das penas correccionais não poderia ser feita de modo a que a pena de prisão ou multa fosse inferior a três dias, o desterro ou suspensão de emprego a menos de três meses e a suspensão de direitos políticos a menos de dois anos. Sujeito ao crivo da crítica o Código mereceu duros reparos. A sua lógica era manter o carácter fixo a algumas penas e «limitar o arbítrio do juiz» no que se refere às penas previstas de modo variável. Só que, como escreveu Levy Maria Jordão no seu Comentário ao Código Penal Português, em 1853, entre «romantismos, antinomias e incorrecções de redacção» tocante a crítica ao «romantismo» legislativo – o diploma estava infestado de «uma escala penal confusa» e de «pouca exactidão na proporção das penas em relação a alguns factos puníveis». Além disso, tendo banido as penas «corporais», e instituindo a prisão como regra, o legislador «nada diz sobre a maneira como esta deve ser executada». Daí que a ideia da sua reforma tenha sido agendada logo no momento da sua publicação, tendo sido designada uma comissão legislativa de que fizeram parte Silva Ferrão e Levy Maria Jordão. Este elaborou dois projectos de Código, inteiramente novos, mas nem um nem outro merecem o interesse das Cortes. Em 1867 algumas das suas ideias encontrariam acolhimento legal nomeadamente a ideia do internamento celular com confinamento do preso e seu consequente isolamento. Como é típico entre nós o sistema legislativo entraria em conflito de iniciativas. Em 1867 haveria de ser aprovada a Lei de 1 de Julho de 1867, que procederia à revisão do sistema penal e prisional, sem revogação expressa do Código Penal de 1852 mas em sobreposição a este. E em 1884 o ministro da Justiça Lopo Vaz faria aprovar o que chamou a Nova Reforma Penal, animada por um espírito substancialmente diverso daquele outro que tinha orientado o Código de 1852. Ante isto – e cita-se Eduardo Correia quando rememora o episódio - «introduziram-se no Código Penal as normas da nova reforma, mas com tão pouco cuidado que se reproduziram artigos que estavam expressamente revogados (…) não se reproduziram disposições que não tinham sido revogadas e que se encontravam em vigor». Ou seja o chamado Código Penal de 1886 passou a ser uma manta de retalhos em que se tinham de cruzar disposições suas com as da reforma de 1884, 1867 e do próprio Código original de 1852. A lei de 1884, nos artigos 46º e seguintes, alterou de novo a escala de penas maiores e as penas cominadas em alternativa. Do conjunto de alterações das leis de 1867 e 1884 resultou o Código de 1886, que vigorou até 1954. 8 Segundo este e nas palavras de Cavaleiro de Ferreira «as penas fixas não admitiam graduação. Mas com o sistema das circunstâncias eram susceptíveis de agravação e atenuação. A agravação e atenuação judiciais, em função das circunstâncias, far-se-ia pela admissão de graus superiores e inferior da mesma pena. A atenuação, porém, revestia duas modalidades: atenuação ordinária, em função da qual se aplicaria o grau inferior da penalidade, e atenuação extraordinária que fundamentava a substituição da pena por outra mais grave. Quanto à penas temporárias, que poderiam ser aplicadas entre um mínimo e um máximo, já importava fazer a distinção entre graduação, agravação e atenuação da pena. O julgador podia aplicar a pena, independentemente da verificação das circunstâncias, entre o máximo e o mínimo previsto na lei. O critério de graduação da pena constava do artigo 88º do Código de 1886, e mandava atender à gravidade do crime». Em suma: «nas penas fixas, só haveria lugar a agravação ou atenuação. Nas penas temporárias, haveria lugar a graduação, agravação e atenuação e esta seria ordinária ou extraordinária. Mas a agravação e a atenuação ordinária nas penas temporárias mover-se-iam em regra dentro dos mesmos limites da graduação, e só a atenuação extraordinária implicava uma medida legal da pena diversa daquela dentro da qual poderia ter lugar a graduação destas penas». Sujeito a modificações posteriores que não vêm ao caso, o sistema penal encontraria na Reforma de 1954, concretizada pelo Decreto n.º 39 688, de 5 de Junho, uma nova orientação quanto ao problema das escalas de penas. Tratou-se essencialmente de eliminar a ideia da fixidez das penas, se não que propriamente o termo que foi mantido se bem que com mera relevância sistemática. Foi assim eliminada a o carácter da não variação no ponto de vista da aplicação concreta das penas. A abolição da categoria das penas fixas não implicou que – contra a sua verdadeira natureza – certas penas abstractas temporárias que o Código previa não fossem consideradas, por decreto legal, como fixas. Isto apenas por uma questão de coerência remissiva pois «a legislação utilizou para variados efeitos a indicação de penas maiores fixas, como por exemplo para excluir a caução em substituição da prisão preventiva» e assim houve que salvaguardar o conceito sob pena de se gerar o caos nas remissões para tais situações. Mas, como lembrava Cavaleiro de Ferreira «se na escala das penas maiores desapareceram as penas fixas na sua espécie, mantêm-se em muitas incriminações a cominação de uma penalidade fixa». 9 A lógica legislativa foi em favor de uma «individualização mais lata», permitindo-a – e note-se este passo - «independentemente do concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes». Explicando melhor, citando as palavras do próprio autor da reforma: «Passou a fazerse, assim, na generalidade das penas, a distinção entre a graduação e a agravação ou atenuação das penas. A graduação pode dar lugar à elevação ou majoração da penalidade, aproximando a sua fixação no caso concreto do limite legal máximo; ou à sua mitigação ou minoração, aproximando-a do limite legal mínimo. A agravação judicial, porém, ainda que conceptualmente distinta, coincide, em regra, com a graduação no sentido da elevação da pena, pois que não permite também em geral que se exceda a medida legal ordinária da pena. A atenuação judicial reveste duas modalidades, atenuação ordinária e atenuação extraordinária. A atenuação ordinária na maior parte das penas maiores, implica a faculdade de baixar a pena aquém do limite mínimo da medida legal da pena (…). A atenuação judicial extraordinária implica sempre uma nova medida legal da pena, isto é a redução dos limites da pena ou a sua substituição» [Cavaleiro de Ferreira, Direito Penal, III, 280-281]. Veja-se por comparação, pois que elucidativa, a versão do artigo 55º do Código Penal de 1886, antes de 1954: «As penas maiores, segundo o sistema penitenciário, são: 1ª A pena de prisão maior celular por oito anos, seguida de degredo por vinte anos, com prisão no lugar do degredo até dois anos, ou sem ela, conforme parecer ao juiz; 2ª A de prisão maior celular por oito anos, seguida de degredo por doze; 3ª A de prisão maior celular por seis anos, seguida de degredo por dez; 4ª A de prisão maior celular por quatro anos, seguida de degredo por oito; 5ª A de prisão maior celular de dois a oito anos». E agora após a reforma de 1954: As penas maiores são: 1ª A de prisão maior de vinte a vinte a quatro anos; 2ª A de prisão maior de dezasseis a vinte anos; 3ª A de prisão maior de doze a dezasseis anos: 4ª A de prisão maior de oito a doze anos; 10 5ª A de prisão maior de dois a oito anos; 6ª A de suspensão dos direitos políticos, por tempo de quinze ou de vinte anos». Seria, enfim, com o Código Penal de 1982 que se assistiria a um profunda alteração. Por um lado desapareceria na parte geral do diploma a escala de penas; por outro o legislador prodigalizaria na parte especial penas da mais variada e diversa variação, muitas com uma amplitude de dez e mais anos, como era o caso de furto qualificado cuja pena abstracta ia de um a dez anos de prisão ou o roubo de dois a dez. Chegados a este ponto eis-nos ante uma situação em que o sistema legal propicia o que já foi chamado de «disparidades significativas na aplicação das penas». O termo é hoje comum e está presente desde os anos setenta como preocupação das instâncias internacionais nomeadamente a partir de esforços do Conselho da Europa e de vários Congressos de Criminologia no sentido de fazer aprovar recomendações atinentes a garantir uma tendencial uniformização de critérios e padronização de decisões. Ora admitirá o sistema processual penal português actual mecanismos adestrados a garantir a adopção de medidas efectivas para evitar tais disparidades? É verdade que a nível da primeira instância estão previstos instrumentos que garantem a efectiva sindicabilidade do acto de punir, retirando-lhe pois possibilidades de arbitrariedade e de infundamentada discricionariedade. É hoje aliás ponto relativamente assente que a determinação da medida da pena é um acto vinculado, operação em que se procede à subsunção dos factos apurados a apertados requisitos legais enunciados nos artigos 71º e 72º do Código Penal, valorando todas aquelas circunstâncias que, não fazendo parte do tipo de crime deponham a favor ou contra o agente nomeadamente – e o advérbio inculca a ideia que nos encontramos no domínio do exemplificativo – o grau de ilicitude do facto [modo de execução deste, gravidade das consequências, grau de violação dos deveres que se imponham], intensidade do dolo ou negligência, sentimentos manifestados no cometimento do crime, fins e motivos que o determinaram, condições pessoais do agente e sua situação económica, conduta anterior ao facto e a posterior, nomeadamente quando reparatória e falta de preparação para manter conduta lícita que o facto manifeste. Trata-se, é certo, de um espaço de liberdade, de criatividade, em que o programa do legislador deve ser actuado em adaptação às variações significativas que no caso se façam sentir, mas em qualquer caso com sujeição dessa liberdade a finalidades legais 11 de justiça em que sobreleva a regra constitucional da igualdade dos cidadãos ante a lei com a concomitante proibição de distinções arbitrárias. Trata-se de tornar igual o que é igual. Mas trata-se, como com inteligência lembrava Cavaleiro de Ferreira [Direito Penal, 1970] «duma igualdade de direito, não duma igualdade de facto». Citemo-lo com maior extensão: «É claro que inicialmente se pretendeu que a idêntico crime correspondesse idêntica pena; e daí o olvido a que foi votada a culpabilidade no seu sentido material e o critério de diferenciação da pena em função da gravidade do delito, entendido em sentido predominantemente objectivo. A doutrina, como a lei, alteraram este primeiro entendimento da característica da igualdade. A pena deve ser igual para o que é igual. E sujeito da pena é o homem, em razão da sua culpabilidade. E assim a pena será necessariamente diversa, em concreto, para ser justa, embora por aplicação dos mesmos critérios e princípios jurídicos». A igualdade deixou de ser formal e mecânica, para passar a ser substancial, isto é, justa». Esta exigência de que casos análogos sejam tratados analogicamente visa ademais estabelecer confiança no critério da decisão aos olhos dos condenados, das vítimas e do público em geral. Mas visa sobretudo esconjurar razões meramente preconceituosas que levariam a sentenciar com maior severidade ou contemporização por decorrência de factores atípicos e até inaceitáveis. Haja em vista o que pode decorrer: -» Da pressão mediática, na medida em que gere lógicas adversas ou de diabolização da pessoa do acusado, potenciando expectativas punitivas exasperantes e de sobrecarga; -» De idiossincrasias individuais de cada magistrado, fazendo verter origens sociais, ideologias, morais e sentimentos próprios na valoração dos actos e assim na sua censurabilidade penal; -» Das intervenções dos sujeitos processuais, mormente do Ministério Público, sobretudo quando em audiência propugna por medidas concretas de penas, abrindo assim a porta, em sede de decisão, a um jogo em que o tribunal, ao decidir, terá de corresponder, gerando ganhadores e perdedores, desvirtuando-se, assim, a lógica intrínseca do sistema que deveria ser de convergência e não de dissonância; -» De factores meramente circunstanciais, emergentes de situações/limite que no momento se façam sentir e que gerem sobretudo expectativas de exemplaridade da decisão mesmo que no sentido da sua benignidade, mas frequentemente em prol da sua mais drástica punição; 12 -» Da presença de atavismos culturais mormente no que se refere à valoração da condição social ou da etnia do sentenciado; -» Da relevância de factores etários, por ser certo que, do ponto de vista da psicologia social, o envelhecimento acaba por gerar lógicas de contemporização e de conformismo, em suma de compreensão e de relativização que concorrem claramente na menor exasperação de critérios punitivos. É por tudo ser possível que faça sentido a norma legal, exarada no Código Penal quando exige uma específica fundamentação da sentença na parte em que procede à determinação da pena aplicável ao caso, nomeadamente ao exigir que «na sentença devem ser expressamente referidos os fundamentos da medida da pena» [artigo 71º, n.º3 do Código Penal]. Esta exigência de fundamentação está clausulada no sentido de fornecer instrumentos de sindicabilidade da decisão precisamente naquela parte em que a medida concreta da pena aplicada possa ser posta em crise, vinculando o poder judicial à explicitação do processo racional seguido na graduação da responsabilidade penal em termos motiváveis, explicitáveis e, como tal, controláveis. Mas a partir daqui existirão outros mecanismos que possibilitem aquilo que está em causa, que é uma padronização dos critérios de penalização, o estabelecimento de uma coerência intrínseca na selecção das várias espécies de penas e respectivas medidas? Infelizmente cremos que estamos muito aquém e o programa legislativo recente é de molde a acentuar pessimismo quanto a qualquer possibilidade de investimento jurisprudencial no assunto. É claro que o procedimento atinente à aplicação da pena é uma autêntica questão de Direito, o que abre a porta a que por via de recurso de revista a matéria possa em tese ser suscitada em sede de recurso ante o Supremo Tribunal de Justiça. E, como notaram Manuel Simas Santos e Marcelo Correia Ribeiro em livro editado há onze anos «começa agora a desenhar-se uma nova preocupação no Supremo Tribunal de Justiça com os limites dos poderes de cognição do tribunal de revista em sede de medida concreta da pena» [Medida concreta da pena, disparidades, página 40, nota 52]. Só que o sistema da dupla conforme, tal como decorre das últimas reformas da lei adjectiva penal, veio criar obstáculos intransponíveis nesta matéria. Ao ter definido que a confirmação de uma condenação pela segunda instância, ainda que em medida penal diferenciada em casos de pena concreta não superior a 8 anos, é 13 causa de irrecorribilidade, o legislador – com o aplauso da jurisprudência – veio a garrotar a possibilidade de em sede de recurso de revista para o STJ ser discutida a medida da pena e este tribunal encontrar assim matéria para poder materializar algum alinhamento de critério em matéria de significativas disparidades de penas. Na verdade, segundo o artigo 400º n.º 1, f) do CPP não há recurso «de acórdãos condenatórios proferidos, em recurso, pelas relações, que confirmem decisão de 1ª instância e apliquem pena de prisão não superior a 8 anos»; e a jurisprudência já entendeu que a confirmação ocorre sempre que o acórdão do tribunal de recurso se limite a confirmar a condenação ainda que com medida punitiva diversa da recorrida desde que mais benigna. A decisão do tribunal de recurso é confirmada quando a Relação rejeita o recurso ou quando aplica pena inferior ou menos grave do que a recorrida; só há recurso quando o Tribunal da Relação não confirme a decisão final da primeira instância «mesmo que aplique prisão inferior a oito anos» [Paulo Pinto de Albuquerque, nota ao artigo 400º do CPP]. Estamos pois ante um sistema que pela sua própria natureza reduz o âmbito em que seria possível efectuar algum alinhamento de critério. E, finalmente a redução da colegialidade que emergiu desta última reforma do Código de Processo Penal, ao fazer intervir o presidente do colectivo quando e apenas na medida em que ocorra o empate entre o relator e o segundo membro, afasta-o completamente de um poder de compatibilização de critérios que poderiam ser, de facto, os que estão agora em causa, respeitantes à uniformização de critérios em matéria de espécie e medida da pena. Ante esta constatação sempre resta perguntar, finalmente, se o recurso extraordinário visando a uniformização de jurisprudência é instrumento apto a alcançar este desiderato. Antecipando a conclusão parece-nos que não. Admitir que a expressão «dois acórdãos que, relativamente à mesma questão de direito», constante do artigo 437º do CPP possa abranger a situação em que a identidade jurídica da questão abranja a matéria da dosimetria penal concreta, penso que é levar para além do razoável a previsão do legislador; diverso é ter havido divergente interpretação de norma legal que seja convocada para individualizar a pena concreta. Cremos, pois, que o cerne do problema da padronização de critérios e de convergência de filosofias punitivas tem hoje um espaço residual para que possa materializar-se. 14 Claro que há a nível organizacional a eventualidade de concitar meios electrónicos de tratamento de informação e tentar estabelecer cruzamento de dados em ordem a formar tábuas comparativas de penas concretas aplicadas e sabemos que tem sido feito esforço nesse sentido; ficará, porém, sempre a dúvida quanto a saber se o elenco das variáveis que relevaram em concreto para cada decisão foi devidamente ponderado pelo sistema automático em termos de ser possível estabelecer uma comparação efectiva entre as diversas situações. E naturalmente sempre a formação de um espírito de corpo e o incremento de uma lógica de convergência funcional gregária potenciará esse alinhamento tendencial de critérios entre os vários membros do tribunal, valor alcançado através de uma dialéctica de discussão e de compatibilização mútua da sensibilidade de cada um. Se isso for pouco, não há mais que eu tenha sabido encontrar. Imagino a tarefa como possível; mas quando em sede de cúmulo jurídico vejo que o limite máximo da pena a considerar é a soma aritmética das penas parcelares ainda que – eis certa jurisprudência – com desagregação de cúmulos jurídico entretanto efectuados de que resultou a unificação de algumas dessas penas, e quando vejo para que valores aponta essa adição, concluo pela extrema dificuldade em impor racionalidade e justiça num sistema que o legislador insuportavelmente extremou. 15
Download