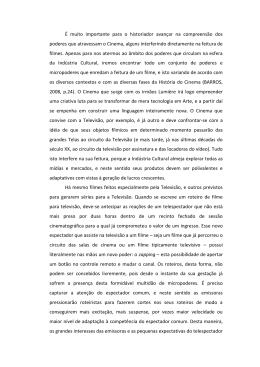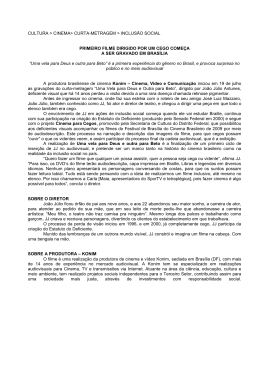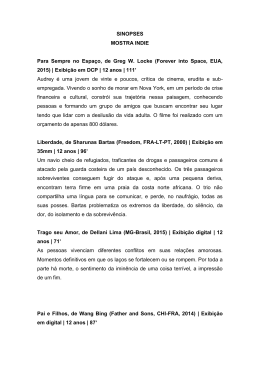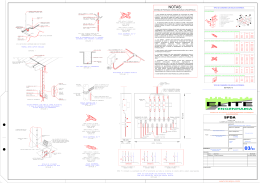JOSÉ AUGUSTO DE BLASIS CASABLANCA LAB – RJ O Grão Digital: estéticas e técnicas da transição Falarei de um processo que antecede, mas chega no que Marcos Bastos acabou de falar, mas, até pelo tipo de trabalho que realizo, tendo a focalizar uma visão de mercado, nas possibilidades de se trabalhar nesse mercado. Além de estar recebendo vários inputs de trabalho, hoje também estou tentando formar pessoas para trabalhar no audiovisual e, nesse caso, se pensa no grande grau que se coloca, por mais que se tente trabalhar todos os conteúdos, que é a formação profissional e a empregabilidade. Pois, é muito frustrante quando se forma uma grande quantidade de alunos para o audiovisual em geral, para comunicação, e se tem uma baixa colocação profissional, o que significa que eles foram formados inadequadamente para as necessidades ou que as demandas de mercado são inferiores aos anseios dos formandos. Temos que ter muita percepção do momento em que as coisas estão acontecendo, para saber como podemos dar colocação profissional às pessoas que tentam trabalhar com audiovisual. Em função desse aspecto, estamos em um momento de extrema democratização; antes, o fazer audiovisual era exclusivo de duas elites, a elite que podia fazer o grande cinema em 35mm e a elite que fazia o grande broadcasting, a grande televisão aberta. Digamos que a flexibilidade e a quantidade de canais, para esse tipo de expressão, aumentou muito, mas não na intensidade em que se pensava – me lembro bem das grandes expectativas, pouco antes da introdução da TV a cabo no Brasil, como se sonhou que teríamos uma grande quantidade de possibilidades de produção, portanto, de empregos para todos. Essa expectativa foi enormemente frustrada, por motivos econômicos, e também por uma questão de modelo – não vamos perder a oportunidade de fazer aqui uma crítica, estamos errando em gênero, número e grau ; adoro o que acontece no Brasil, porque temos uma mania histórica de obtermos 100% de acerto no erro, o que é fantástico, quando se tem algo 100% , mesmo que seja no erro, é uma vitória, só que essa nossa vitória acaba sendo sempre uma grande derrota. Estou me referindo principalmente à TV digital que foi colocada como um oásis de possibilidades; discutimos pouco o modelo de produção para TV (muito exclusivista, vai incluir muito menos do que se propala). Com relação ao digital, e quero colocar aqui o tema, quando falo de transições, estamos realmente com um grau de acessibilidade muito maior quanto aos meios de produção, mas vamos falar da parte industrial. Hoje, está ocorrendo uma transição, se pudermos separar o modo de produção clássica do audiovisual, mesmo da grande TV, mas principalmente o grande cinema – classicamente se divide em captação, o meio técnico, onde se produz, pós-produção e exibição. Captava-se em película, 35mm ou em Super 16mm e era possível fazer uma ampliação; depois se fazia uma pósprodução óptica (montava-se o filme, fazia-se uma edição, se fosse um filme industrial, a intermediação, as cópias de distribuição e era exibido opticamente, como ainda hoje o é, em grande escala). Esses três fatores estão em processos desnivelados de transição, sendo que a pós-produção é o mais avançado, primeiro pela inserção e substituição de um 1 hardware por um software. Antes se montava e finalizava em hardware e hoje se faz em software, ao fazer em software surge um código novo que é o acesso “randômico” e não linear, que trouxe grandes possibilidades, até no aspecto criativo, mas fez com que se tivesse um novo suporte, uma nova base de finalização. Hoje não dá para pensar a edição de um filme, seja captado em digital ou em película, que não num computador, num meio digital. Lembro-me que fui quase triturado num festival, há alguns anos, uns 10 anos, quando apresentava um texto, muito parecido com esse, e alguém levantou, na platéia, para fazer uma ode à moviola – quando já tínhamos uma introdução muito significativa de equipamentos não-lineares. Até porque o modelo americano de montar em moviola nunca o tivemos no Brasil (com 10 moviolas, com assistente, projeção em banda dupla num telão – a nossa sempre foi suja, com a imagem toda riscada, com uma tela pequena, uma lâmpada fraca), hoje, com o computador melhorou muito. A outra parte é a exibição, sobre o que está acontecendo com a exibição, que, hoje, está num momento de transição bastante radical – como foi dito aqui pela manhã, e sabemos que o modelo de exibição é um modelo dominado pelos grandes players, donos do mercado, que hoje 75% do nosso mercado é dominado pelos blockbasters americanos e 50% de todo filme independente projetado no Brasil também é americano. Isso é uma média mundial, só em alguns países a penetração da cinematografia nacional é mais razoável, mesmo na Europa, os índices médios para a França são de 10 a 15%, portanto, o norte-americano é um cinema hegemônico, que impõe o seu modelo. E eles estão impondo um modelo de troca de plataforma de exibição que vai sair da projeção óptica e está se encaminhando para a projeção digital, mas de alta performance, de 2K e 4K, 2 mil linhas e 4 mil linhas. Voltando à captação, acho que é o ponto que mais nos aproxima de uma nova possibilidade, porque está variando excepcionalmente, hoje já temos suportes alternativos ao velho 35mm; temos grande parte da produção feita em 16mm. Nesse ponto, volto ao digital para repensar como esses assim chamados “miniformatos” foram apropriações de lançamentos industriais para a indústria do consumidor doméstico. Eram tentativas de se fazer o que no começo do século XX era o “caitituá” – o cara que ficava com a sua câmara de 35mm e ia ao interior pegava o Coronel e fazia o filme do Coronel, depois exibia na cidade e ganhava um troco. Era esse cinema, do “caitituador”, que ia buscar pequenos e semidocumentários familiares, logo, lá nos anos 1920, se desenvolveu uma bitola de 9,5mm para fazer isso, ela foi de cara roubada pelos primeiros revolucionários do fazer audiovisual. Depois, na seqüência, vieram 16mm, 8mm e então começamos a entrar na era do vídeo, a Sony lançou um formato de meia polegada, era um formato de fita carretel e, basicamente, um formato para vídeo doméstico, para concorrer com o mercado de Seper8. As emissoras de TVs e os primeiros videomakers se apoderaram desse sistema e começaram a fazer reportagens de TV, feitas com 16mm, em filme reversível, trabalhando com a banda magnética já aplicada ao próprio filme para ter uma velocidade de edição. Sucessivamente, tivemos o matick, ¾ de polegada, VHS, Super VHS, BETA, os primeiros formatos digitais e agora chegaram os que chamo de minis HDs. 2 A importância da chegada desses formatos mini HDs é que nos aproximamos de uma qualidade que possibilita produzir um resultado muito próximo ao que o público está acostumado a comprar como produto audiovisual. Não podemos esquecer, dentro de muitas perspectivas de exibição, a velha brincadeira de Garrincha na estratégia do futebol: “vocês combinaram com o inimigo lá, se ele vai exatamente pelos caminhos que o professor está desenhando no caderno?” Será que combinamos com o público se vai querer assistir por até 20 reais o ingresso de cinema, como em São Paulo, e se ele vai querer pagar por um produto de má qualidade? É muito importante ter esse conceito para pensar que não se pode produzir qualquer coisa e pensar que esta terá uma exibição comercial e que as pessoas vão pagar um preço determinado – não estou falando de mercados alternativos, salas especiais, circuitos universitários, cinematecas, isso é outra coisa. Há que haver projetos de formação de público, coisa de que o Brasil é muito carente, tem que haver fomento – e o assunto do qual tratou Marcos é fundamental, porque hoje existe a internet, embora ela tenha um acesso ainda pequeno, não tem a penetração que deveria ter. Meus alunos de cinema, até pela mensalidade que pagam, pertencem a uma certa elite, mas 40% não têm conexão de internet em casa e a minha Universidade quer lançar cursos de semipresencialidade, de ensino a distância. Como? Se boa parte dos alunos não tem conexão com a internet em casa. Temos que pesquisar primeiro as condições do público-alvo. Ter idéias e querer implementar sem pesquisa é muito autoritário, é muito antidemocrático pressupor o que o público vai pensar e como vai reagir. Tenho uma brincadeira, que chamo de cultura ou estética da fila de cinema, a cidade de São Paulo tem um circuito muito grande e uma grande quantidade de Multiplex e estes começaram “comendo pelas beiradas”, como se diz, inteligentemente, perceberam que havia uma falta de alternativa de entretenimentos, nas regiões periféricas da cidade e começaram por essas regiões, porque aí o entretenimento ficava um pouco mais barato. É muito interessante rodar aquele mundo de cidade, ir aos cinemas em localidades diferentes e auscultar a fila do cinema. Quanto ao digital, temos a mesma transição na captação onde está ocorrendo uma substituição, não sei se me entenderam, sou um adorador da película, coordeno um laboratório de cinema que revela negativo, logo, não estou aqui dizendo: “fora o negativo”, ao contrário, estou dizendo, por isso intitulei essa palestra “das estéticas e das técnicas da transição”, que não podemos ir por um encantamento total e perder o barco da história de onde viemos. Para fazer isso, temos que usar o máximo possível de todas as possibilidades que a película oferece, passando hoje pelo meio digital, não vejo outra possibilidade real de quantidade, de volume. Inclusive, hoje, quando você entrega esse produto para a Televisão ou para uma distribuição em DVD, há uma rigidez muito grande na cobrança pela qualidade (porque o público de DVD, paga caro e não compra um DVD cheio de riscos, de sujeira ou com problemas de áudio, ele se incomoda, ele quer um produto melhor, ele está embalado pela grande indústria; estou falando do público médio, que faz o mercado). Hoje, quem tem qualquer distribuição, e muita gente usa material de terceiros, é 3 obrigado a ter os chamados delivers, precisa ter uma qualidade média industrial; hoje o digital resolve, como resolve esteticamente, na minha opinião, como dá uma possibilidade criativa em relação à imagem, mas gosto muito de poder trabalhar um mix disso, por essa razão, chamei a presente palestra de “grão digital”. O que posso fazer ainda com a óptica, com o negativo, coloco no digital e junto as duas coisas; isso é uma parte do conceito, a outra é: “tenho que captar em digital”. O meu projeto e, principalmente, o boom de documentários que o Brasil tem tido ultimamente, só foi possível pela captação digital. Com o documentário temos que captar muito para editar pouco, ele vai durar uma hora e meia, mas você captou muitas horas. Fica impraticável, hoje em dia, devido ao modelo de produção, fazer inteiramente em película – pode-se fazer um híbrido, alguns documentários hoje têm esse tipo de orçamento e fica muito interessante; temos a tendência de fazer um trabalho muito jornalístico, que precisa ter muita qualidade. Com isso, não estou falando mal de Eduardo Coutinho, cujos trabalhos gosto muito, que estabelece outra relação com esses talks, uma visão absolutamente não-televisiva, mas precisamos tomar cuidado com esse modelo e fazer partes mais estetizantes ou ficcionais dentro do documentário com película. Lembro-me de um documentário, que realizei através da TeleImage1, de Francklin, um cineasta de Recife, que se chamava Horas de Itamaracá, era um filme sobre o Forte Itamaracá – as imagens foram captadas com uma DV X100 e toda a parte ficcional em 35mm. O modelo de negócio, a possibilidade de pós-produção era fazer tudo em digital e ele estava colocando seu negativo de 35mm em stander, devido às condições do fazer (ele estava colocando seu negativo num funil absolutamente impossível). Não pudemos cometer essa aberração, então o que fizemos foi pegar o negativo de 35mm, montar tradicionalmente, e misturar com o digital – e o filme ficou extremamente funcional. O que era digital, as entrevistas, funcionou muito bem, e o que foi feito em 35mm, que era a parte ficcional do passado do personagem principal, ficou com toda a qualidade do 35mm, na tela. O resultado era um negativo montado, sem intermediação, um produto com uma certa inviabilidade de distribuição. Portanto, hoje, quando fazemos transfer em filmes, já estamos fazendo os chamados internegativos, que possibilita uma grande quantidade de cópias e facilita o processo de distribuição. Quando falamos na captação digital, a partir desses novos formatos, estamos falando de câmeras que eram para Televisão, para consumidor doméstico, e que rodavam nos sistema de vídeo de seus países, nos Estados Unidos, Japão e Brasil ao chamado “trinta quadros”– que é de 29,97 quadros por segundo, e rodava na Europa a 25 quadros; eram as cadências de movimento que tínhamos, nos três sistemas de televisão do mundo: Power e Secan eram europeus; NTSC nos EUA, Japão e Canadá; no Brasil era PalM. Daí começaram a surgir tecnologia, em função do mercado de transferência para cinema, que se mostrou viável nos primeiros documentários, nas primeiras ficções – os sistemas que trabalhavam 24 quadros por segundo. A empresa Panasonic foi a pioneira, ao desenvolver uma forma de colocar esses 24 quadros ainda em uma fita a 30 quadros, usando um modelo teórico que vinha do Telecine, que passa de película para vídeo. A Panasonic teve uma grande idéia que se estendeu hoje para os formatos que chamo de “minihds”. 1 TeleImage, empresa do grupo Casablanca, reconhecida internacionalmente por sua ampla atuação em pós-produção no mercado audiovisual. 4 Existia um grande cinema, que era feito principalmente no Rio de Janeiro com o produtor Diler Trindade – com os produtos Xuxa, Padre Marcelo Rossi e o nosso velho Renato Aragão, que conseguiam produzir com câmeras de alta definição, mais pesadas e mais caras, o que nunca foi viável nem para o mercado nem para o cidadão comuns. Com o aparecimento dessas novas câmeras “minihds” a acessibilidade é quase total, porque o mundo todo ficou esperando um grande desenvolvimento e implantação de Televisão de alta definição – o que não aconteceu na velocidade esperada, e existe uma coisa na tecnologia que é o seguinte: você sempre tem uma margem de separação entre a alta tecnologia, a média e a baixa; hoje, conseguimos editar, corrigir cor em 2HD ou em Stander, em um software que custa 1.300 dólares, e antes, para um equipamento desse, pagava-se um milhão e meio de dólares, portanto a acessibilidade é muito grande. A acessibilidade permite que esse tipo de possibilidade tecnológica vá ao mercado e diga: “você pode produzir com ela, mas precisa produzir dentro do critério do espectador, que não quer levar gato por lebre” – existe a possibilidade de fazer isso hoje muito próximo do tipo de produto que ele está acostumado, as experiências dos últimos anos provam que se pode fazer inclusive filmes de ficção até em formatos standards. A exemplo do filme que acabamos de fazer, e foi ao festival de Cannes este ano, Via Lactea, de Lina Shanbi, um filme de ficção feito com PBX100. O PBX100 tem que ser trabalhado levando em conta as limitações, muito precisamente,temos que saber enfrentar as limitações do meu formato. Gosto muito da linguagem de Guel Arraes2, que chamo de “multi-decupagem” – ele corta sempre com um certo erro de continuidade de tempo, que cria um certo estranhamento no corte e funciona muito bem no vídeo – mas um filme de 2.500 cortes, por exemplo, numa tela grande, fico imaginando um americano ou uma canadense vendo esse filme com legenda, ou seja, temos que respeitar o formato. As modernidades são adequadas, desde que respeitem os formatos e levem em consideração o público – vou terminar com um conceito que Marcus Bastos falou bastante, mas vou pegar por outro viés que o que chamo de “homen-cinema” ou cineastas do lar, que faz o filme, edita e exibe na sua própria casa; existe uma novidade agora no Brasil, um concorrente do YouTube, do grupo Abril e Telefônica, que é um portal chamado FinsTV, que pretende ser o YouTube brasileiro, só que é editorializado – ou seja, não vou colocar coisas aleatórias, vou ter páginas, tematização e eles estão fazendo com empresas, Universidade, etc.. De forma que, vou no portal, abro uma página, os temas estão editorados, correlacionados e depois entro no geral. Só que, posto meu vídeo lá, se eles gostarem o vídeo vai para a TV– terá um canal a cabo de TV que irá filtrar essa programação. É uma grande briga que está acontecendo, o que é muito interessante, pois erramos no modelo da Televisão Digital e também da TV móvel. As operadoras de telefonia, como a TelMex que é dona da Embratel, da Claro, etc, e têm sociedade com o sistema de assinatura da Rede Globo de Televisão, estão colocando uma abertura de Televisão alternativa. O Japão que colocou esse modelo aberto, que não passa pela operadora, já teve que fazer um acordo com a operadora de celular local para criar algum tipo de bilhetagem. Acredito que o tipo de produto que vamos 2 Miguel Arraes de Alencar Filho [1953 –], cineasta e diretor de televisão brasileiro. 5 consumir aqui terá que ser menos estético, mais informativo – não dá para ver um filme de longa-metragem numa tela desse tamanho, nem um jogo de futebol. Os telefones celulares, que começaram como um trambolho, foram diminuindo e agora voltam a aumentar. Acredito que podemos, com o apoio público e das Universidades, usar salas alternativas para isso. 6
Baixar