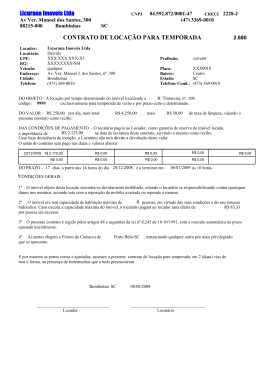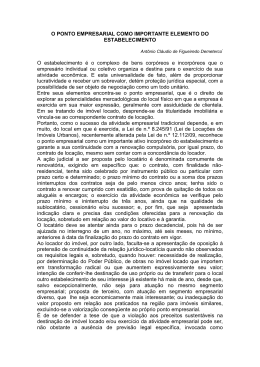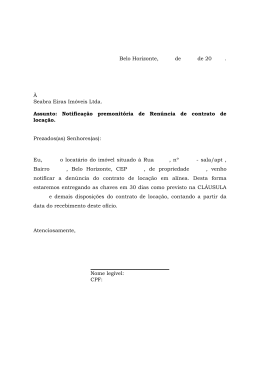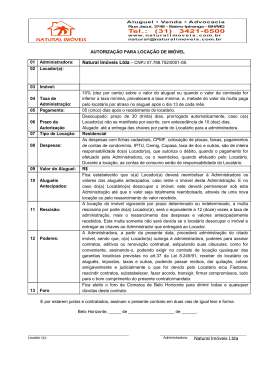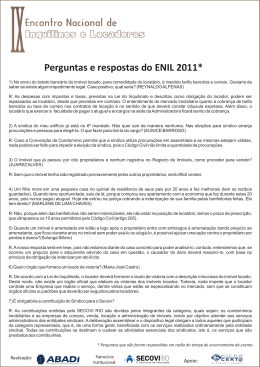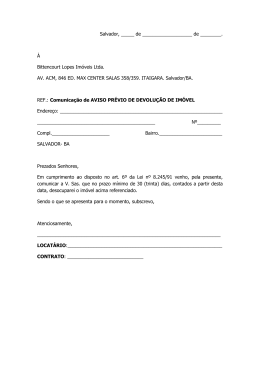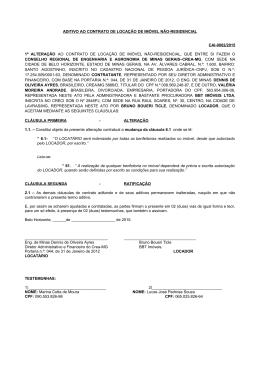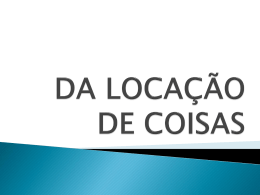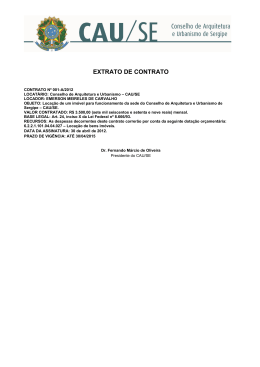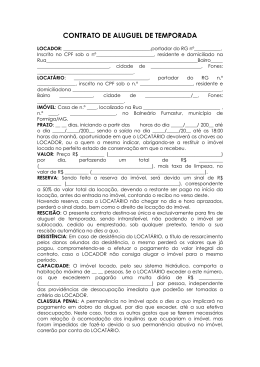Página 2 / 176 S936c STURZA, Janaína Machado Caderno de Direito Civil III – Contratos Dom Alberto / Janaína Machado Sturza. – Santa Cruz do Sul: Faculdade Dom Alberto, 2010. Inclui bibliografia. 1. Direito – Teoria 2. Direito Civil III – Contratos – Teoria I. STURZA, Janaína Machado II. Faculdade Dom Alberto III. Coordenação de Direito IV. Título CDU 340.12(072) Catalogação na publicação: Roberto Carlos Cardoso – Bibliotecário CRB10 010/10 Página 3 / 176 APRESENTAÇÃO O Curso de Direito da Faculdade Dom Alberto teve sua semente lançada no ano de 2002. Iniciamos nossa caminhada acadêmica em 2006, após a construção de um projeto sustentado nos valores da qualidade, seriedade e acessibilidade. E são estes valores, que prezam pelo acesso livre a todos os cidadãos, tratam com seriedade todos processos, atividades e ações que envolvem o serviço educacional e viabilizam a qualidade acadêmica e pedagógica que geram efetivo aprendizado que permitem consolidar um projeto de curso de Direito. Cinco anos se passaram e um ciclo se encerra. A fase de crescimento, de amadurecimento e de consolidação alcança seu ápice com a formatura de nossa primeira turma, com a conclusão do primeiro movimento completo do projeto pedagógico. Entendemos ser este o momento de não apenas celebrar, mas de devolver, sob a forma de publicação, o produto do trabalho intelectual, pedagógico e instrutivo desenvolvido por nossos professores durante este período. Este material servirá de guia e de apoio para o estudo atento e sério, para a organização da pesquisa e para o contato inicial de qualidade com as disciplinas que estruturam o curso de Direito. Felicitamos a todos os nossos professores que com competência nos brindam com os Cadernos Dom Alberto, veículo de publicação oficial da produção didático-pedagógica do corpo docente da Faculdade Dom Alberto. Lucas Aurélio Jost Assis Diretor Geral Página 4 / 176 PREFÁCIO Toda ação humana está condicionada a uma estrutura própria, a uma natureza específica que a descreve, a explica e ao mesmo tempo a constitui. Mais ainda, toda ação humana é aquela praticada por um indivíduo, no limite de sua identidade e, preponderantemente, no exercício de sua consciência. Outra característica da ação humana é sua estrutura formal permanente. Existe um agente titular da ação (aquele que inicia, que executa a ação), um caminho (a ação propriamente dita), um resultado (a finalidade da ação praticada) e um destinatário (aquele que recebe os efeitos da ação praticada). Existem ações humanas que, ao serem executadas, geram um resultado e este resultado é observado exclusivamente na esfera do próprio indivíduo que agiu. Ou seja, nas ações internas, titular e destinatário da ação são a mesma pessoa. O conhecimento, por excelência, é uma ação interna. Como bem descreve Olavo de Carvalho, somente a consciência individual do agente dá testemunho dos atos sem testemunha, e não há ato mais desprovido de testemunha externa que o ato de conhecer. Por outro lado, existem ações humanas que, uma vez executadas, atingem potencialmente a esfera de outrem, isto é, os resultados serão observados em pessoas distintas daquele que agiu. Titular e destinatário da ação são distintos. Qualquer ação, desde o ato de estudar, de conhecer, de sentir medo ou alegria, temor ou abandono, satisfação ou decepção, até os atos de trabalhar, comprar, vender, rezar ou votar são sempre ações humanas e com tal estão sujeitas à estrutura acima identificada. Não é acidental que a linguagem humana, e toda a sua gramática, destinem aos verbos a função de indicar a ação. Sempre que existir uma ação, teremos como identificar seu titular, sua natureza, seus fins e seus destinatários. Consciente disto, o médico e psicólogo Viktor E. Frankl, que no curso de uma carreira brilhante (trocava correspondências com o Dr. Freud desde os seus dezessete anos e deste recebia elogios em diversas publicações) desenvolvia técnicas de compreensão da ação humana e, consequentemente, mecanismos e instrumentos de diagnóstico e cura para os eventuais problemas detectados, destacou-se como um dos principais estudiosos da sanidade humana, do equilíbrio físico-mental e da medicina como ciência do homem em sua dimensão integral, não apenas físico-corporal. Com o advento da Segunda Grande Guerra, Viktor Frankl e toda a sua família foram capturados e aprisionados em campos de concentração do regime nacional-socialista de Hitler. Durante anos sofreu todos os flagelos que eram ininterruptamente aplicados em campos de concentração espalhados por todo território ocupado. Foi neste ambiente, sob estas circunstâncias, em que a vida sente sua fragilidade extrema e enxerga seus limites com uma claridade única, Página 5 / 176 que Frankl consegue, ao olhar seu semelhante, identificar aquilo que nos faz diferentes, que nos faz livres. Durante todo o período de confinamento em campos de concentração (inclusive Auschwitz) Frankl observou que os indivíduos confinados respondiam aos castigos, às privações, de forma distinta. Alguns, perante a menor restrição, desmoronavam interiormente, perdiam o controle, sucumbiam frente à dura realidade e não conseguiam suportar a dificuldade da vida. Outros, porém, experimentando a mesma realidade externa dos castigos e das privações, reagiam de forma absolutamente contrária. Mantinham-se íntegros em sua estrutura interna, entregavam-se como que em sacrifício, esperavam e precisavam viver, resistiam e mantinham a vida. Observando isto, Frankl percebe que a diferença entre o primeiro tipo de indivíduo, aquele que não suporta a dureza de seu ambiente, e o segundo tipo, que se mantém interiormente forte, que supera a dureza do ambiente, está no fato de que os primeiros já não têm razão para viver, nada os toca, desistiram. Ou segundos, por sua vez, trazem consigo uma vontade de viver que os mantêm acima do sofrimento, trazem consigo um sentido para sua vida. Ao atribuir um sentido para sua vida, o indivíduo supera-se a si mesmo, transcende sua própria existência, conquista sua autonomia, torna-se livre. Ao sair do campo de concentração, com o fim do regime nacionalsocialista, Frankl, imediatamente e sob a forma de reconstrução narrativa de sua experiência, publica um livreto com o título Em busca de sentido: um psicólogo no campo de concentração, descrevendo sua vida e a de seus companheiros, identificando uma constante que permitiu que não apenas ele, mas muitos outros, suportassem o terror dos campos de concentração sem sucumbir ou desistir, todos eles tinham um sentido para a vida. Neste mesmo momento, Frankl apresenta os fundamentos daquilo que viria a se tornar a terceira escola de Viena, a Análise Existencial, a psicologia clínica de maior êxito até hoje aplicada. Nenhum método ou teoria foi capaz de conseguir o número de resultados positivos atingidos pela psicologia de Frankl, pela análise que apresenta ao indivíduo a estrutura própria de sua ação e que consegue com isto explicitar a necessidade constitutiva do sentido (da finalidade) para toda e qualquer ação humana. Sentido de vida é aquilo que somente o indivíduo pode fazer e ninguém mais. Aquilo que se não for feito pelo indivíduo não será feito sob hipótese alguma. Aquilo que somente a consciência de cada indivíduo conhece. Aquilo que a realidade de cada um apresenta e exige uma tomada de decisão. Página 6 / 176 Não existe nenhuma educação se não for para ensinar a superar-se a si mesmo, a transcender-se, a descobrir o sentido da vida. Tudo o mais é morno, é sem luz, é, literalmente, desumano. Educar é, pois, descobrir o sentido, vivê-lo, aceitá-lo, executá-lo. Educar não é treinar habilidades, não é condicionar comportamentos, não é alcançar técnicas, não é impor uma profissão. Educar é ensinar a viver, a não desistir, a descobrir o sentido e, descobrindo-o, realizá-lo. Numa palavra, educar é ensinar a ser livre. O Direito é um dos caminhos que o ser humano desenvolve para garantir esta liberdade. Que os Cadernos Dom Alberto sejam veículos de expressão desta prática diária do corpo docente, que fazem da vida um exemplo e do exemplo sua maior lição. Felicitações são devidas a Faculdade Dom Alberto, pelo apoio na publicação e pela adoção desta metodologia séria e de qualidade. Cumprimentos festivos aos professores, autores deste belo trabalho. Homenagens aos leitores, estudantes desta arte da Justiça, o Direito. . Luiz Vergilio Dalla-Rosa Coordenador Titular do Curso de Direito Página 7 / 176 Sumário Apresentação.......................................................................................................... 3 Prefácio................................................................................................................... 4 Plano de Aula..........................................................................................................9 Aula 1 Dimensões das Relações Contratuais...................................................................13 Aula 2 Classificação dos Contratos.................................................................................. 20 Aula 3 Da Extinção do Contrato........................................................................................28 Aula 4 Relatividade dos Contratos: Efeitos com relação a Terceiros............................... 32 Aula 5 Dos Vícios Redibitórios.......................................................................................... 41 Aula 6 Compra e Venda....................................................................................................50 Aula 7 Cláusulas Especiais da Compra e Venda..............................................................57 Aula 8 Troca ou Permuta.................................................................................................. 66 Aula 9 Contrato de Empreitada (arts. 610 a 626 CC)....................................................... 79 Aula 10 Contrato de Mandato............................................................................................. 88 Página 8 / 176 Aula 11 Agência e Distribuição (arts. 710 a 721 CC)......................................................... 92 Aula 12 Contrato de Constituição de Renda – arts 803 a 813 CC/2002........................... 112 Aula 13 Contrato de Locação.............................................................................................133 Página 9 / 176 Centro de Ensino Superior Dom Alberto Plano de Ensino Identificação Curso: Direito Disciplina: Direito Civil III - Contratos Carga Horária (horas): 60 Créditos: 4 Semestre: 4º Ementa Teoria Geral do Contrato: noção de contrato; contrato e operação econômica; contrato e ideologia; contrato e propriedade; várias concepções acerca do contrato; contrato e mudança social; elementos, requisitos e princípios; formação contratual e constituição do vínculo; justiça e hermenêutica contratual. Tendências atuais do direito contratual. Contratos de adesão. Classificação dos contratos. Responsabilidade Contratual. Objetivos Geral: Construir uma base epistemológica capaz de nortear o entendimento das relações contratuais e extracontratuais e suas relações com outras disciplinas. Refletir, propor e consolidar categorias jurídicas que permitam qualificar a intervenção dos graduandos em sua realidade prática acerca dos assuntos a serem desenvolvidos. Propiciar aos alunos, elementos capazes de favorecer a transposição dos conhecimentos que compõem o embasamento teórico para as questões de ordem prática, com vistas a estimulá-los à prática de questões jurídicas; Específicos: Promover estudo lógico-sistemático da Teoria Geral dos Contratos e responsabilidade civil, evidenciando a compreensão e aprendizado das relações contratuais e extra contratuais, buscando oferecer noções fundamentais e básicas de aspectos principio lógicos dos contratos, contratos em espécie e vínculos obrigacionais extra contratuais, alicerçados no Código Civil Brasileiro. Delimitar e desenvolver temáticas específicas que envolvam as problemáticas propostas, vinculadas ao mundo das obrigações contratuais e extra contratuais. Inter-relação da Disciplina Horizontal: Direito Comercial, Contratos Bancários, Direito das Relações de Consumo. Vertical: Direito Civil I,II e IV. Competências Gerais Interpretação e aplicação do Direito no ramo empresarial e nas relações de consumo; Pesquisa e utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito; Adequada atuação técnico-jurídica, com a devida utilização de processos, atos e procedimentos; Correta utilização da terminologia jurídica ou da Ciência do Direito; Utilização de raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e de reflexão crítica diante do caso concreto, em acompanhamento com a evolução doutrinário e jurisprudencial; Julgamento e tomada de decisões; Domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito.. Competências Específicas Atuação técnico-jurídica e elaboração de textos jurídicos no que respeita à temática do direito contratual. Capacidade de compreender o direito contratual com os demais ramos do saber a ele relacionados. Habilidades Gerais Capacidade de interpretar e aplicar o Direito no ramo empresarial e nas relações de consumo; Capacidade de pesquisar e utilizar a legislação, a jurisprudência, a doutrina e de outras fontes do Direito; Capacidade de atuar de forma adequada no plano nacional e internacional, com a devida utilização de processos, atos e procedimentos a cada caso concreto; Missão: "Oferecer oportunidades de educação, contribuindo para a formação de profissionais conscientes e competentes, comprometidos com o comportamento ético e visando ao desenvolvimento regional”. Página 10 / 176 Capacidade de utilizar corretamente a terminologia jurídica ou da Ciência do Direito; Primar pelo raciocínio jurídico, argumentativo, através de instrumentos de persuasão e de reflexão crítica diante do caso concreto, acompanhando continuamente evolução doutrinária e jurisprudencial; Capacidade de tomar decisões de forma precisa; Dominar tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito. Habilidades Específicas Atuar de forma técnico-jurídica na elaboração de textos jurídicos no que respeita à temática do direito contratual. Compreender o direito contratual com os demais ramos do saber a ele relacionados. Conteúdo Programático I – Noções gerais de contratos: Conceito de contrato; Função social do contrato;Boa-fé objetiva;Autonomia da vontade;Requisitos de validade (subjetivos, objetivos e formais);Formação do contrato – tempo e lugar de conclusão;Interpretação dos contratos. II – Classificação dos contratos:Aspectos introdutórios e critérios para a classificação;Contratos típicos (ou nominados), atípicos (ou inominados) e mistos; Contratos consensuais, solenes (ou formais) e reais;Contratos unilaterais e bilaterais; Contratos comutativos e aleatórios; Contratos de execução imediata, diferida e sucessiva; Contratos individuais e coletivos; Contratos reciprocamente considerados – principais e acessórios;Contratos de adesão. III – Contrato preliminar: Conceito e aspectos gerais; Efeitos do contrato preliminar. IV – Relatividade dos contratos – efeitos gerais dos contratos: A obrigatoriedade dos contratos e o princípio da relatividade dos contratos; Efeitos entre os contratantes; Efeitos dos contratos quanto aos sucessores; Contratos em favor de terceiro; Prestação de fato de terceiro; Contrato com pessoa a declarar. V – Efeitos particulares dos contratos: Direito de retenção; Vícios redibitórios; Evicção; Arras. VI – Extinção dos contratos; Cessação da relação negocial; Resilição; Cláusula resolutiva; Direito de arrependimento; Exceção de contrato não cumprido (exceptio non adimplenti contractus); Resolução por onerosidade excessiva – teoria da imprevisão. VII – Contrato de compra e venda: Conceito, elementos e especificidades; Objeto, preço, consentimento, efeitos; Promessa de compra e venda; Retrovenda; Venda a contento; Preempção ou preferência; Pacto de melhor comprador; Pacto comissório; Reserva de domínio; Venda sobre documentos; Contrato estimatório. VIII – Troca ou permuta; IX – Doação; X – Locação: Conceito e espécies; Locação de coisas; Locação de imóveis; Locação ou prestação de serviços; Locação de obra ou empreitada. XI – Empréstimo: Comodato; Mútuo; XII – Depósito; XIII – Mandato – gestão de negócios; XIV – Comissão; XV - Agência e distribuição; XVI – Corretagem; XVII – Transporte; XVIII – Seguro; XIX – Constituição de renda; XX – Jogo e aposta; XXI – Fiança; XXII – Compromisso; XXIII – Sociedade; XXIV – Declaração unilateral de vontade; Promessa unilateral – promessa de recompensa; Enriquecimento sem causa; Títulos de crédito – aspectos gerais. XXV – Responsabilidade civil: Aspectos gerais; Responsabilidade civil por fato de outrem; Responsabilidade sem culpa; Liquidação das obrigações. Estratégias de Ensino e Aprendizagem (metodologias de sala de aula) Aulas expositivas dialógico-dialéticas. Trabalhos individuais e em grupo e preparação de seminários. Leituras e fichamentos dirigidos. Elaboração de dissertações, resenhas e notas de síntese. Utilização de recurso Áudio-Visual. Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem A avaliação do processo de ensino e aprendizagem deve ser realizada de forma contínua, cumulativa e sistemática com o objetivo de diagnosticar a situação da aprendizagem de cada aluno, em relação à programação curricular. Funções básicas: informar sobre o domínio da aprendizagem, indicar os efeitos da metodologia utilizada, revelar conseqüências da atuação docente, informar sobre a adequabilidade de Missão: "Oferecer oportunidades de educação, contribuindo para a formação de profissionais conscientes e competentes, comprometidos com o comportamento ético e visando ao desenvolvimento regional”. Página 11 / 176 currículos e programas, realizar feedback dos objetivos e planejamentos elaborados, etc. Para cada avaliação o professor determinará a(s) formas de avaliação podendo ser de duas formas: 1ª – uma prova com peso 10,0 (dez) ou uma prova de peso 8,0 e um trabalho de peso 2,0 2ª – uma prova com peso 10,0 (dez) ou uma prova de peso 8,0 e um trabalho de peso 2,0 Avaliação Somativa A aferição do rendimento escolar de cada disciplina é feita através de notas inteiras de zero a dez, permitindo-se a fração de 5 décimos. O aproveitamento escolar é avaliado pelo acompanhamento contínuo do aluno e dos resultados por ele obtidos nas provas, trabalhos, exercícios escolares e outros, e caso necessário, nas provas substitutivas. Dentre os trabalhos escolares de aplicação, há pelo menos uma avaliação escrita em cada disciplina no bimestre. O professor pode submeter os alunos a diversas formas de avaliações, tais como: projetos, seminários, pesquisas bibliográficas e de campo, relatórios, cujos resultados podem culminar com atribuição de uma nota representativa de cada avaliação bimestral. Em qualquer disciplina, os alunos que obtiverem média semestral de aprovação igual ou superior a sete (7,0) e freqüência igual ou superior a setenta e cinco por cento (75%) são considerados aprovados. Após cada semestre, e nos termos do calendário escolar, o aluno poderá requerer junto à Secretaria-Geral, no prazo fixado e a título de recuperação, a realização de uma prova substitutiva, por disciplina, a fim de substituir uma das médias mensais anteriores, ou a que não tenha sido avaliado, e no qual obtiverem como média final de aprovação igual ou superior a cinco (5,0). Sistema de Acompanhamento para a Recuperação da Aprendizagem Serão utilizados como Sistema de Acompanhamento e Nivelamento da turma os Plantões Tira-Dúvidas que são realizados sempre antes de iniciar a disciplina, das 18h00min às 18h50min, na sala de aula. Recursos Necessários Humanos Professor. Físicos Laboratórios, visitas técnicas, etc. Materiais Recursos Multimídia. Bibliografia Básica RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: dos contratos e das declarações unilaterais da vontade. De acordo com o novo Código Civil (Lei n. 10.406, de 10/01/2002). 30.ed. São Paulo: Saraiva, 2007. RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. Rio de Janeiro: Forense. VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos. v.2, Atlas: São Paulo, 2007. VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: contratos em espécie. 8.ed. São Paulo: Atlas, 2008. v.3. GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: contratos e atos unilaterais. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2008. v.3. Complementar GOMES, Orlando. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2008. EFING, Antonio Carlos. Direito das Relações Contratuais. 2003. FIUZA, César. Direito Civil. Comentário sobre a Lei 11.698 de 13/06/08 (guarda compartilhada). 12.ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2008. BEGALLI, Paulo Antonio. Direito Contratual no Novo Código Civil. 2.ed. Leme: Editora de Direito, 2006. VIANA, Marco Aurélio S. Curso de Direito Civil: contratos (artigo 421 a 965). Rio de Janeiro: Forense, 2008. Legislação: GIANULO, Wilson. Vademecum Referenciado de Direito 2008. 3.ed. São Paulo: Jurídica Brasileira, 2008. NERY JUNIOR, Nelson. Código Civil Comentado. 4. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2006. Missão: "Oferecer oportunidades de educação, contribuindo para a formação de profissionais conscientes e competentes, comprometidos com o comportamento ético e visando ao desenvolvimento regional”. Página 12 / 176 Periódicos Jornais: Zero Hora, Folha de São Paulo, Gazeta do Sul, entre outros. Jornais eletrônicos: Clarín (Argentina); El País (Espanha); El País (Uruguai); Le Monde (França); Le Monde Diplomatique (França). Revistas: Consulex, Notadez, Magister Sites para Consulta www.cfj.jus.br www.tjrs.jus.br www.trf4.gov.br www.senado.gov.br www.stf.gov.br www.stj.gov.br www.ihj.org.br www.oab-rs.org.br; Outras Informações Endereço eletrônico de acesso à página do PHL para consulta ao acervo da biblioteca: http://192.168.1.201/cgi-bin/wxis.exe?IsisScript=phl.xis&cipar=phl8.cip&lang=por Cronograma de Atividades Aula Consolidação Avaliação Conteúdo Procedimentos Recursos 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 1 1 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 13ª 2 2 3 Legenda Procedimentos Código AE TG TI SE Recursos Descrição Aula expositiva Trabalho em grupo Trabalho individual Seminário Procedimentos Código AE TG Recursos Descrição Aula expositiva Trabalho em grupo Procedimentos Código AE TG Recursos Descrição Aula expositiva Trabalho em grupo TI Trabalho individual TI Trabalho individual SE Seminário SE Seminário Missão: "Oferecer oportunidades de educação, contribuindo para a formação de profissionais conscientes e competentes, comprometidos com o comportamento ético e visando ao desenvolvimento regional”. Página 13 / 176 DIREITO CIVIL III – Contratos Profa. Ms. Janaína Machado Sturza 1 – Dimensões das relações contratuais Negócio Jurídico e Contrato: quando o homem usa de sua manifestação de vontade com a intenção precípua de gerar efeitos jurídicos, a expressão dessa vontade constitui-se num negócio jurídico (arts 104 e seguintes CC). Embora nosso código possua normas gerais de contratos, as verdadeiras regras gerais do direito contratual são as mesmas para todos os negócios jurídicos. Art. 104 A validade do negócio jurídico requer: I – agente capaz; II – objeto lícito, possível, determinado ou determinável; III – forma prescrita ou não defesa em lei. Conceito de Contrato: o contrato é um ato jurídico bilateral, pois depende de duas ou mais declarações de vontade, visando criar, modificar ou extinguir obrigações. É um ajuste, convenção. É a convergência de duas ou mais vontades para conseguir um mesmo fim ou resultado determinado, ou ainda, pode-se dizer que é um acordo simultâneo de vontades para produzir efeitos jurídicos – obrigação de dar, de fazer ou não-fazer alguma coisa. Atualmente, os contratantes não são mais analisados como se fossem adversários, mas PARCEIROS, buscando uma relação equilibrada e igualitária, sempre com o objetivo de uma maior justiça, ou seja, estamos diante de uma conceituação contratual mais dinâmica e flexível. Criou-se uma idéia de parceria, buscando um justo equilíbrio entre as aspirações e interesses de ambas as partes. Formação dos contratos – elementos constitutivos: dão a condição de validade, pois num primeiro momento, para analisarmos a formação contratual, devemos analisar os elementos essenciais (requisitos de validade) para sua formação: - capacidade das partes; - objeto lícito, possível, determinado ou determinável; Página 14 / 176 - consentimento; - forma prescrita ou não-defesa em lei. Os elementos essenciais são os imprescindíveis, inderrogáveis à existência do ato negocial, pois formam sua substância. Os três primeiros requisitos (capacidade, objeto, consentimento) são chamados de GERAIS, pois são comuns à generalidade dos negócios jurídicos. O último (forma) é PARTICULAR, pois é peculiar a determinada espécie. ART. 104 CC - A validade do negócio jurídico requer: I.agente capaz; II.objeto lícito, possível, determinado ou determinável; III.forma prescrita ou não defesa em lei. Classificação dos requisitos dos contratos: subjetivos, objetivos e formais. SUBJETIVOS: individualizados - pessoais a)existência de manifestação de duas ou mais vontades e capacidade genérica dos contratantes; b)aptidão específica para contratar – LEGITIMAÇÃO; c)consentimento. a) As partes contratantes devem possuir a capacidade - ou seja, não devem enquadrarse nos arts. 3º (absolutamente incapaz) e 4º. (relativamente incapaz) do CC, sob pena de ser decretada a nulidade ou anulabilidade do ato. Ver arts. 120 (representação), 166-I (nulidade) e 171-I (anulabilidade) CC. Art. 3º São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil: I – os menores de 16 anos; II – os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos; III – os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os exercer: I – os maiores de 16 e menores de 18 anos; Página 15 / 176 II - os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, por deficiência mental, tenham o discernimento reduzido; III – os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo; IV – os pródigos. Parágrafo único: A capacidade dos índios será regulada por legislação especial. Art. 120 Os requisitos e os efeitos da representação legal são os estabelecidos nas normas respectivas; os da representação voluntária são os da Parte Especial deste Código. Art. 166 É nulo o negócio jurídoico quando: I – celebrado por pessoa absolutamente incapaz; Art. 171 Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico: I – por incapacidade relativa do agente; b) Exige-se também a aptidão específica – LEGITIMAÇÃO – (algo a mais do que a capacidade) para todas as pessoas que desejam contratar, já que a ordem jurídica impõe certas limitações à liberdade de celebrar determinados contratos. Portanto, além da capacidade geral exige-se a especial. A capacidade especial ou legitimação é diferente da capacidade geral das partes. Para que o negócio jurídico seja perfeito não basta que o contratante seja plenamente capaz, é imprescindível que seja parte legítima, OU SEJA, QUE TENHA COMPETÊNCIA PARA PRATICÁ-LO, DADA A SUA POSIÇÃO EM RELAÇÃO A CERTOS INTERESSES JURÍDICOS. c)Exige-se igualmente o consentimento das partes - ou seja, a manifestação de vontade, eis que não temos a formação do contrato sem o acordo de vontades. O consentimento é requisito primordial para validade dos contratos Consentimento – integração de vontades distintas – comprador e devedor. Página 16 / 176 Conjunção das vontades convergindo ao fim desejado. Tal manifestação deve ser livre, isenta de vícios do consentimento – erro, dolo, coação, lesão e estado de perigo – e também de vícios sociais – simulação e fraude. CONSENTIMENTO não está contido no art. 104, mas implicitamente admitido – não capitulado expressamente. OBJETIVOS: são os que dizem respeito ao objeto do contrato a) licitude do objeto – não podem ser contrários à lei, à moral, aos princípios de ordem pública e aos bons costumes; b) possibilidade do objeto – física e jurídica ; Ex. jamais poderei vender o céu – física. Ex. estipulação do pacto sucessório – art. 426 – não pode ser objeto de contrato herança de pessoa viva – jurídica. c) determinação do objeto – o objeto deve ser certo (soja) ou pelo menos determinável (soja colhida em maio/2009, venda safra de 2009). FORMAIS: a) forma livre ou geral; b) forma especial ou solene: –forma única: por lei não pode ser preterida por outra – art. 108, 215, 1653 -forma plural: ocorre quando a norma jurídica permite a formalização do negócio por vários modos, a parte optará por um deles – art. 1417, 1438 (público ou particular) 2 – Princípios gerais do direito contratual Autonomia da vontade: a liberdade contratual pode ser vista sob dois prismas – pelo prisma da liberdade propriamente dita de contratar ou não, estabelecendo-se o conteúdo do contrato, ou pelo prisma da escolha da modalidade do contrato. A Página 17 / 176 liberdade contratual permite que as partes se valham dos modelos contratuais constantes do ordenamento jurídico (contratos típicos), ou criem uma modalidade de contrato de acordo com suas necessidades (contratos atípicos). Em tese, a vontade contratual somente sofre limitação perante uma norma de ordem pública. Na prática existem imposições econômicas que dirigem essa vontade. A lei detém-se mais à contratação coletiva, visando impedir que as cláusulas contratuais sejam injustas para uma das partes. O ordenamento procurou dar aos mais fracos uma superioridade jurídica para compensar a inferioridade econômica. Força obrigatória dos contratos: um contrato válido e eficaz deve ser cumprido pelas partes – “pacta sunt servanda”. O acordo de vontades faz lei entre as partes, dicção que não pode ser tomada de forma peremptória, aliás, como tudo em Direito. Sempre haverá temperamentos que por vezes conflitam, ainda que aparentemente, com a segurança jurídica. Essa obrigatoriedade forma a base do direito contratual. O ordenamento deve conferir à parte instrumentos judiciários para obrigar o contratante a cumprir o contrato ou a indenizar pelas perdas e danos. Ainda que se busque o interesse social, tal não deve contrariar tanto quanto possível a vontade contratual, a intenção das partes. Ninguém pode alterar unilateralmente o conteúdo do contrato (intangibilidade do contrato). Princípio da relatividade dos contratos: a regra geral é que o contrato só ata aqueles que dele participaram. Todavia, tem-se que o contrato não produz efeito com relação a terceiros, a não ser nos casos previstos na lei. A parte contratante é aquela que estipulou diretamente o contrato, está ligada ao vínculo negocial e é destinatária dos efeitos finais. Por outro lado, deve ser considerado como terceiro, com relação ao contrato, quem quer que pareça estranho ao pactuado, ao vínculo e aos efeitos finais do negócio. Princípio da boa-fé: se estampa pelo dever das partes de agir de forma correta e ética, salientando-se que para a análise desse princípio nos contratos, devem ser observadas as condições em que o contrato foi firmado, o nível sociocultural dos contratantes, o momento histórico e econômico. A idéia central é no sentido de que, em princípio, contratante algum ingressa em um conteúdo contratual sem a necessária boa-fé. A má-fé inicial ou interlocutória em um contrato pertence à patologia do negócio jurídico e como tal deve ser examinada e punida (ver arts. 421 e 422 do CC). O art. 422 Página 18 / 176 se reporta ao que se denomina boa-fé objetiva e, portanto, é necessário se distinguir a boa-fé subjetiva. Art. 421 A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Art. 422 Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Boa-fé subjetiva: o manifestante da vontade crê que sua conduta é correta, tendo em vista o grau de conhecimento que possui de um negócio. Para ele há um estado de consciência ou aspecto psicológico que deve ser considerado. Boa-fé objetiva: se traduz de forma mais perceptível como uma regra de conduta, um dever de agir de acordo com determinados padrões sociais estabelecidos e reconhecidos. Desse modo, pelo CC há três funções nítidas no conceito de boa-fé objetiva: função interpretativa (art. 113); função de controle dos limites do exercício de um direito (art. 187) e função de integração do negócio jurídico (art. 422). Art. 113 Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Art. 187 Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Art. 422 Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Função social do contrato: a função social do contrato, preceito de ordem pública, encontra fundamento constitucional no princípio da função social do contrato lato sensu (arts. 5º, XXII e XXIII, 170, III), bem como no princípio maior de proteção da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), na busca de uma sociedade mais justa e solidária (art. 3º, I) e da isonomia (art. 5º, caput). Isso em uma nova concepção do direito privado, no plano civil-constitucional, que deve guiar o direito civil do nosso século, seguindo tendência de personalização. Página 19 / 176 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindose aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XXII - é garantido o direito de propriedade; XXIII - a propriedade atenderá a sua função social; Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: III - função social da propriedade; Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: III - a dignidade da pessoa humana; Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindose aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: Referências: GOMES, Orlando. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2008. RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: dos contratos e das declarações unilaterais da vontade. De acordo com o novo Código Civil (Lei n. 10.406, de 10/01/2002). 30.ed. São Paulo: Saraiva, 2007. RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. Rio de Janeiro: Forense. VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos. v.2, Atlas: São Paulo, 2007. GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: contratos e atos unilaterais. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2008. v.3. Página 20 / 176 DIREITO CIVIL III – Contratos Profa. Ms. Janaína Machado Sturza Classificação dos Contratos Quanto aos efeitos: A) UNILATERAIS: são os contratos que criam obrigações unicamente para uma das partes. Ex.: doação pura; B) BILATERAIS: são os que geram obrigações para ambos os contratantes, ou seja, são recíprocas, sinalagmáticos. Ex.: compra e venda, locação; C) PLURILATERAIS: são os contratos que contém mais de duas partes, várias partes. Ex.: contrato de sociedade, em que cada sócio é uma parte. D) GRATUITOS OU BENÉFICOS: são os contratos em que apenas uma das partes aufere benefício ou vantagem. Para a outra há só obrigação, sacrifício. Ex. doação pura; E) ONEROSOS: são aqueles contratos onde ambos os contratantes obtêm proveito, ao qual corresponde um benefício. Ex.: compra e venda; • A importância das distinções entre os contratos unilaterais e contratos bilaterais, mostra-se a partir de suas principais conseqüências jurídicas: a) exceção non adimpleti contractus (art. 476 e art. 477); Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Art. 477. Se, depois de concluído o contrato, sobrevier a uma das partes contratantes diminuição em seu patrimônio capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou, pode a outra recusar-se à prestação que lhe incumbe, até que aquela satisfaça a que lhe compete ou dê garantia bastante de satisfazê-la. Página 21 / 176 b) cláusula resolutiva tácita (art. 475); c) a teoria dos riscos só é aplicável ao contrato bilateral, no qual se deverá apurar qual dos contratantes sofrerá as conseqüências da perda da coisa devida ou da impossibilidade da prestação. Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. • A exceção non adimpleti contractus (exceção do contrato não cumprido) só pode ser argüida com propriedade quando as prestações são contemporâneas, onde cada contratante pode recusar a sua prestação, enquanto o outro não faz sua parte. Vale dizer que nas obrigações sucessivas tal exceção não pode ser invocada (Ex.: Art. 491). Art. 491. Não sendo a venda a crédito, o vendedor não é obrigado a entregar a coisa antes de receber o preço. • Quem tem o direito de realizar por último a prestação pode procrastiná-la, até que o outro contratante satisfaça a própria obrigação. Quando inadimplentes os contratantes, impõe-se à resolução do contrato, com restituição das partes ao status quo anterior. Se um deles cumpriu apenas em parte, ou de forma defeituosa, a sua obrigação, quando se comprometera a cumpri-la integral e corretamente, cabível se torna à oposição, pelo outro da exceção do contrato parcialmente cumprido. • A segunda questão, por sua vez, diz respeito ao 475 que admite o reconhecimento do inadimplemento como condição resolutiva. Por isso se diz que todo contrato bilateral contém uma cláusula resolutiva tácita. Será expressa se a convenção estabelecer a revogação do contrato pelo inadimplemento (474). Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. Art. 474. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito; a tácita depende de interpelação judicial. Página 22 / 176 • A terceira conseqüência jurídica, resultante da diferenciação entre contratos unilaterais, ou benéficos e bilaterais, ou onerosos, diz respeito à atribuição dos riscos. De acordo com o art. 392, nos contratos unilaterais ou benéficos, responde por simples culpa o contratante, a quem o contrato aproveite, e só por dolo aquele a quem não favoreça. Nos contratos bilaterais ou onerosos, responde cada uma das partes por culpa, salvo as exceções previstas em lei. Art. 392. Nos contratos benéficos, responde por simples culpa o contratante, a quem o contrato aproveite, e por dolo aquele a quem não favoreça. Nos contratos onerosos, responde cada uma das partes por culpa, salvo as exceções previstas em lei. • Nenhum dos três princípios antes referidos e vigorantes nos contratos bilaterais tem aplicação nos unilaterais, pois nestes inexistem reciprocidade de obrigações, logo, não se pode falar em exceção de contrato não cumprido, bem como em condição resolutória, ou responsabilidade do contratante, a quem o contrato não aproveite, por simples culpa. Ainda, nos contratos unilaterais prevalece a inexigibilidade da cláusula penal. Portanto, ante ao inadimplemento do outro, o contratante pode: • permanecer inerte e defender-se, caso acionado, com a exceção do contrato não cumprido; • pleitear a resolução do contrato, com perdas e danos, provando o prejuízo sofrido; • exigir o cumprimento contratual quando possível a execução específica; Os contratos onerosos podem ser: 1. COMUTATIVOS: são os de prestações certas e determinadas. As partes podem antever as vantagens e os sacrifícios, que geralmente se equivalem, decorrentes de sua celebração, porque não envolvem nenhum, risco; 2. ALEATÓRIOS: ao revés, caracterizam-se pela incerteza, para ambas as partes, sobre as vantagens e sacrifícios que deles pode advir.A perda ou o lucro dependem de um fato imprevisível. Ex.: seguro para a seguradora,jogo; Página 23 / 176 Quanto a formação: A) CONTRATOS PARITÁRIOS: são aqueles tradicionais em que as partes discutem livremente as condições, porque se encontram em pé de igualdade; B) CONTRATOS DE ADESÃO: são os que não permitem essa liberdade, devido à preponderância da vontade de um dos contratantes, que elabora todas as cláusulas. ACEITA-AS OU REJEITA-AS; Nos contratos de adesão, destaca-se a presença de traços característicos: • Uniformidade, pois visa obter o maior número possível de contratantes; • Predeterminação unilateral; • Rigidez, pois não é possível a rediscussão das cláusulas; • Posição de vantagem de uma das partes (vantagem econômica); NO CÓDIGO DE Defesa do Consumidor – CDC ... • Art. 54. “Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor produtos e serviços, sem que o consumidor possa discutir ou de modificar substancialmente seu conteúdo”. • §1º - permite a inserção de cláusula no formulário, sem que isso desfigure a natureza de adesão do contrato, ou seja, sem que afaste a posição privilegiada do proponente; • § 3º - exige que os contratos de adesão sejam redigidos com termos claros e legíveis, de modo a facilitar a sua compreensão pelo consumidor. As cláusulas que eventualmente limitem o seu direito deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua fácil e imediata compreensão; C) CONTRATO TIPO: também denominado de contrato de massa, em série ou por formulários, aproxima-se do contrato de adesão porque é apresentado por um dos contraentes, em fórmula impressa, ao outro, que se limita a subscrevê-lo. No entanto, dele difere no sentido de que não é essencial a desigualdade econômica entre as partes, e admite discussão sobre seu conteúdo. Em geral são deixados espaços a serem preenchidos pelo concurso de vontades, como ocorre em certos contratos bancários onde se discute as condições de financiamento. Página 24 / 176 Quanto ao momento da Execução: A) Execução instantânea: são aqueles que se consumam de uma só vez, num só ato, sendo cumpridos imediatamente após a sua celebração. Ex.: compra e venda à vista; B) Execução diferida: são os que devem ser cumpridos também em um só ato, mas em momento futuro. Ex.: compra com a entrega em 30 dias; C) De trato Sucessivo ou de execução continuada: são os que se cumprem por meio de reiterados atos. Ex.: compra e venda à prazo; Quanto ao Agente: Pode ser subdividido quanto a qualidade e a quantidade: A) QUALIDADE: - Personalíssimos: são os celebrados em atenção as qualidades especiais de um dos contraentes, por essa razão o obrigado não pode ser substituído por um terceiro, pois estas qualidades tiveram influência no consentimento do outro contratante. Ex.: Pintor de um quadro; - Impessoais: são aqueles cuja prestação pode ser prestada por qualquer pessoa, pelo obrigado, ou por terceiro, o importante é que seja executada. Ex.: pintor de parede; B) QUANTIDADE: - Individuais: as vontades são individualmente consideradas, ainda que envolva várias pessoas. Todos os contratos são individuais; - Coletivos: perfazem acordo de vontades entre duas pessoas jurídicas de direito privado, representativas de categorias profissionais, são denominados de convenções coletivas. Ex.: contrato celebrados entre dois sindicatos, entre duas empresas com objetivo de inibir a concorrência desleal; Quanto ao modo porque existem: A) Principais: são os que têm existência própria e não dependem, pois de qualquer outro. Ex.: contrato de locação; B) Acessórios: são os que tem sua existência subordinada ao contrato principal. Ex.: fiança, cláusula penal; C) Derivados ou subcontratos: são os que têm por objeto direitos estabelecidos em outro contrato. Têm em comum com os acessórios a dependência, porém diferem na circunstância de o derivado participar da própria natureza do direito versado no contrato-base. Ex.: sublocação, onde o locatário transfere a terceiro, sem se desvincular a atividade correspondente a sua posição contratual; subarrendamento; Página 25 / 176 • Convém destacar a exegese do art. 184, do CC, em que a nulidade da obrigação principal implica a das obrigações acessórias, mas a destas não induz a da obrigação principal e que com o principal prescrevem os direitos acessórios, mas a recíproca não é verdadeira. Art. 184. Respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um negócio jurídico não o prejudicará na parte válida, se esta for separável; a invalidade da obrigação principal implica a das obrigações acessórias, mas a destas não induz a da obrigação principal. Quanto à forma: Podem ser subdivididos em validade e aperfeiçoamento A) VALIDADE: - Solene ou formal: são os que devem obedecer à forma prescrita em lei para se aperfeiçoar, ou seja, quando a forma é exigida como condição de validade do negócio, este é solene. A SOLENIDADE É A SUBSTÂNCIA DO ATO. Ex.: testamento, casamento, compra e venda de imóvel); - Não solene: são aqueles contratos de forma livre, basta o consentimento para a sua formação. Ex: comodato; B) APERFEIÇOAMENTO: - Consensuais: como o próprio nome diz, são aqueles que se aperfeiçoam com o consentimento – acordo de vontades – Princípio do Consensualismo. Ex.: compra de bens móveis; - Reais: são os que exigem, além do consentimento, a entrega da coisa que lhe serve de objeto. Ex.: comodato, empréstimo; Quanto ao objeto: A) Preliminares: é o que tem por objeto a celebração de um contrato definitivo. Tem, portanto, um único objeto. É um pré-contrato, ou seja, é uma avença através da qual as partes podem criar em favor de uma ou mais delas a faculdade de exigir o cumprimento de um contrato apenas projetado. Ex.: promessa de compra e venda; • O CC de 2002 dedicou uma seção ao contrato preliminar – arts. 462- 466 – exigindo que contenha todos os requisitos do contrato definitivo, salvo quanto à forma, e seja levado ao registro competente. Página 26 / 176 Art. 462. O contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado. Art. 466. Se a promessa de contrato for unilateral, o credor, sob pena de ficar a mesma sem efeito, deverá manifestar-se no prazo nela previsto, ou, inexistindo este, no que lhe for razoavelmente assinado pelo devedor. B) Definitivo: tem objetos diversos, de acordo com a natureza de cada um. Ex.: compra e venda. Quanto à designação: A) Contratos Nominados: são aqueles que possuem designação própria, que possui nome. Dito de outro modo são aqueles que possuem denominação legal e estão previstos e regulados na lei, onde têm padrão definido. Ex.: compra e venda, locação; B) Contratos Inominados: são aqueles que o legislador não previu de modo expresso, mas que gradativamente vão surgindo na vida quotidiana, criados pela fantasia ou pelas necessidades dos interessados. Ex. Cessão de Clientela; Constituição de Servidão mediante pagamento de certa quantia; a troca de uma coisa por obrigações de fazer ou por outros serviços; C) Típicos: são aqueles que estão regulados em lei, ou seja, que estão expressamente colocados no Código Civil. Ex.: compra e venda; a doação, a locação. Ressalte-se que não é o mesmo que contrato nominado, mas todo contrato típico é nominado e viceversa; D) Atípicos: são aqueles que são regulados em lei, como os contratos de hospedagem, garagem, estacionamento; E) Contratos Mistos: resulta da combinação de um contrato típico com cláusulas criadas pela vontade dos contratantes, ou seja, acrescentam-se cláusulas que lhe retiram a tipicidade, mas que não transformam a sua essência; F) Contrato Coligado: constitui uma pluralidade, em que vários contratos celebrados pelas partes apresentam-se interligados. Ex.: Donos de postos de gasolina com os distribuidores de derivados de petróleo, fornecimento de combustível, comodato das bombas, locação de equipamentos; G) União de contratos: dois contratos celebrados num mesmo documento; Ex.: contrato de transporte aéreo e seguro de passageiro; Página 27 / 176 Referências: GOMES, Orlando. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2008. RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: dos contratos e das declarações unilaterais da vontade. De acordo com o novo Código Civil (Lei n. 10.406, de 10/01/2002). 30.ed. São Paulo: Saraiva, 2007. RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. Rio de Janeiro: Forense. VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos. v.2, Atlas: São Paulo, 2007. GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: contratos e atos unilaterais. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2008. v.3. Página 28 / 176 DIREITO CIVIL III – Contratos Profa. Ms. Janaína Machado Sturza Da Extinção do Contrato: Conforme VENOSA “as obrigações, direitos pessoais, têm como característica fundamental seu caráter transitório. A obrigação visa a um escopo mais ou menos próximo no tempo. Atingida a finalidade para a qual foi criada, a obrigação extingue-se”. Assim, o contrato, como todo e qualquer negócio jurídico, cumpre seu ciclo existencial. Nasce do mútuo consenso, sofre as vicissitudes de sua carreira, e termina normalmente com o adimplemento da prestação, sendo executado pelas partes contratantes em todas as suas cláusulas; A execução é, pois, o modo normal de extinção do vínculo contratual, não suscitando, por isso, quaisquer problemas quanto à forma e aos efeitos, já que, uma vez executado o contrato, extinguir-se-ão todos os direitos e obrigações que originou. Portanto, com o cumprimento o contrato atinge seu fim precípuo e se extingue. Entretanto, nem sempre a causa de extinção é o cumprimento; Em determinadas situações o contrato se extingue antes de seu cumprimento por causas simultâneas ou anteriores a sua formação, antes mesmo de atingir a sua finalidade. Outras vezes, o contrato se extingue por causas posteriores a sua formação; São causas posteriores a sua formação: Resolução; Resilição; Rescisão. Do Distrato ou Resilição Bilateral: O distrato é o acordo de vontades entre as partes contratantes, a fim de extinguir vínculo contratual anteriormente estabelecido. Art. 472; Rege-se pelas mesmas disposições relativas ao contrato e submete-se às mesmas formas. Página 29 / 176 Assim, se constituído o contrato por escritura pública, só por escritura pública se há de distratar. O distrato de uma compra convencionada por escrito tem de obedecer igualmente à forma escrita; Com isto, se o negócio jurídico não exige forma solene, poderá ser o distrato por instrumento particular, ainda, tratando-se de contrato consensual que não tem forma obrigatória, o distrato poderá se dar até mesmo verbalmente ou pela simples entrega da coisa, como é o caso da locação; Em regra, o distrato produz efeitos ex nunc, ou seja, a ruptura do vínculo contratual só produzirá efeitos a partir do instante de sua celebração, não atingindo as conseqüências pretéritas, nem os direitos adquiridos por terceiros, que serão respeitados. Da Quitação: A quitação é um direito de quem paga, do solvens. Podendo inclusive o solvens reter o pagamento na hipótese de lhe ser negada a quitação, consoante se vê do previsto no artigo 319, do CC; Requisitos: art. 320, CC; Ver arts. 321-324; O recibo é o instrumento da quitação, é a prova material do pagamento! Da Resilição Unilateral, art. 473: É aquela em que os contratos de sua natureza permite que unilateralmente a parte dê por finda a relação contratual, encontramos o comodato, o mandato, o depósito, cujo fator preponderante é a confiança; É, em regra, um ato potestativo do contratante ao qual o outro não pode se opor; Ver art. 473, § único; Segundo DINIZ a resilição unilateral assume feição especial em determinados casos: Página 30 / 176 REVOGAÇÃO: que se opera quando a lei concede tal direito, como no mandato e nas doações, que podem ser resilidos mediante simples declaração de vontade, independentemente de aviso prévio, mas condicionada a certas causas, desde que manifestada pela própria pessoa que praticou o ato negocial que se revoga. Assim, no mandato, o mandante pode liberar-se do contrato, revogando os poderes que outorgou ao mandatário; RENÚNCIA: que é o ato pelo qual um contratante notifica o outro de que não mais pretende exercer o seu direito. Assim, o mandatário, p. ex., poderá notificar o mandante de que não continuará exercendo o mandato (CC, art. 682, I) e este, então, cessará com a exoneração do mandatário. A renúncia do mandato, pelo art. 688, deverá ser comunicada ao mandante, que, se sofrer prejuízo pela sua inoportunidade, ou pela falta de tempo, a fim de prover à substituição do procurador, será indenizado pelo mandatário, salvo se este provar que não podia continuar no mandato sem prejuízo considerável e que não lhe era dado substabelecer; RESGATE: que é o ato de libertar alguma coisa de uma obrigação, ônus ou encargo a que estava vinculada, ou de cumprir uma obrigação de caráter pessoal, aplicável, p. ex. hipoteca. Ressalta a doutrinadora que a resilição unilateral não requer pronunciamento judicial para sua eficácia e que seus efeitos serão ex nunc (dali para frente), não se operando retroativamente e nem implicando na restituição de parcelas já pagas. Da Resolução: O termo resolução é utilizado nas dissoluções do contrato em função de causas posteriores a sua criação e reservado para as hipóteses de inadimplemento voluntário, involuntário ou por onerosidade excessiva. Ocorre, portanto, a inexecução do contrato, que poderá ser culposa ou não. Resolução sem culpa das partes Ex.: caso fortuito ou de força maior; Havendo perecimento do objeto sem culpa das partes, a obrigação se resolve e as partes voltam ao estado anterior. Página 31 / 176 Resolução por culpa das partes: Trata-se de inadimplemento voluntário, que vai ter como conseqüência a faculdade da parte prejudicada pedir a resolução do contrato ou de se cumprimento, cabendo cumulativamente o pedido de indenização. Referências: GOMES, Orlando. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2008. RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: dos contratos e das declarações unilaterais da vontade. De acordo com o novo Código Civil (Lei n. 10.406, de 10/01/2002). 30.ed. São Paulo: Saraiva, 2007. RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. Rio de Janeiro: Forense. VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos. v.2, Atlas: São Paulo, 2007. GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: contratos e atos unilaterais. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2008. v.3. Página 32 / 176 DIREITO CIVIL III – Contratos Profa. Ms. Janaína Machado Sturza RELATIVIDADE DOS CONTRATOS: EFEITOS COM RELAÇÃO A TERCEIROS 1. DA ESTIPULAÇÃO EM FAVOR DE TERCEIROS: haverá estipulação de terceiro quando uma pessoa convenciona com outra que está concederá uma vantagem ou benefício em favor daquele, que não é parte do contrato. Sabe-se que dentre os princípios fundamentais do direito contratual se encontra o da relatividade dos efeitos do contrato, que se funda na idéia de que seus efeitos só se produzem em relação às partes, àqueles que manifestaram a sua vontade, vinculando-os ao seu conteúdo e não afetando, em regra, terceiros, nem seu patrimônio. Portanto, tal instituto constitui-se em exceção ao referido princípio. Com efeito, pode-se dizer que a ocorre a estipulação em favor de terceiro quando no contrato celebrado entre duas pessoas, denominadas estipulante e promitente, convenciona-se que a vantagem resultante do ajuste reverterá em benefício de terceira pessoa, alheia à formação do vínculo contratual. Há três figuras na estipulação em favor de terceiro: o estipulante, o promitente e o beneficiário, este último alheio à convenção. Em razão de o beneficiário ser estranho ao contrato, exige-se a capacidade somente aos dois primeiros, uma vez que qualquer pessoa pode ser contemplada com a estipulação. A peculiaridade da estipulação em favor de terceiro está no fato de que o terceiro – estranho ao contrato – se torna credor do promitente, não sendo necessário o seu consentimento. Assevera-se, ademais, que tal estipulação proporciona uma atribuição patrimonial gratuita ao favorecido, ou seja, não exige contraprestação. Vale dizer que se for estipulada alguma onerosidade ao beneficiário, invalidará a estipulação. Ela só se completará no momento e, em razão, em que aquele aceite o benefício. Pode ser caracterizado como consensual e de forma livre, já que o terceiro não precisa ser desde logo identificado, basta que seja determinável. A estipulação em favor de terceiro é comum nos contratos de seguro de vida, onde o pagamento do seguro beneficia a quem não participou da avença, também presente nas ações de separações judiciais consensuais, onde são inseridas cláusulas em favor dos filhos do casal e nas convenções coletivas de trabalho em que são estipuladas cláusulas Página 33 / 176 em favor de toda a categoria. Verifica-se, ainda, a estipulação em favor de terceiro nas doações com encargos e nas constituições de renda. 2. Natureza jurídica da estipulação em favor de terceiro: A doutrina é divergente quanto a natureza jurídica da estipulação em favor de terceiro, existindo várias teorias para defini-las. A primeira é a Teoria da Oferta, cuja teoria é considerada a mais simples, já que a estipulação em favor de terceiro não passa de mera proposta ou oferta, dependendo de aceitação do terceiro beneficiado, ou seja, o contrato somente surge com a anuência do beneficiário. Todavia, essa teoria não é aceitável devido ao fato de que o promitente não é mero proponente, mas verdadeiro obrigado. Outra teoria é da Gestão de Negócios, que a considera como espécie de ato unilateral, pelo qual alguém sem autorização do interessado, intervém na administração de negócio alheio no interesse deste sem possuir um mandato (art. 861, CCB). Igualmente, pode-se dizer que é falha esta teoria, uma vez que o estipulante e o promitente agem em seu próprio nome e não em nome de terceiro. Em terceiro lugar, encontramos a teoria que entende que a estipulação em favor de terceiro é uma Declaração Unilateral da Vontade. Como adepto desta teoria encontramos SILVIO RODRIGUES. Também é criticada uma vez que a promessa unilateral é indeterminada e anônima, ao passo que a estipulação em favor de terceiro é contraída em benefício de pessoa certa e determinada, bem como se faz necessário a declaração de duas vontades: a do estipulante e a do promitente. Em quarto lugar, aparece a Teoria do Direito Direto que reconhece a natureza contratual da estipulação, afirmando que o terceiro não participando do negócio jurídico recebe a repercussão de seus efeitos, sendo o benefício prometido uma espécie de acessório. Da mesma forma, não foi aceita em nosso direito, pois a estipulação em favor de terceiro é considerada um negócio jurídico acessório. A Teoria mais aceita é a que considera a estipulação em favor de terceiro um Contrato, porém sui generis, pelo fato de a prestação não ser realizada em favor do próprio estipulante, como ocorre normalmente, mas sim em benefício de outrem, que não participou da avença. Vale dizer que a sua existência e a validade não dependem da vontade do beneficiário (terceiro), mas somente a sua eficácia, que está subordinada a aceitação. Assim, a concepção contratualista da estipulação em favor de terceiro foi consagrada no Código Civil Brasileiro, inclusive utilizando o vocábulo contrato nos arts. 436-438, do CC. Página 34 / 176 Dessa forma, a obrigação assumida pelo promitente pode ser exigida tanto pelo estipulante como pelo beneficiário que assume a condição de credor na execução do contrato, ficando obrigado às condições do contrato se a ele anuiu e se o estipulante não se reservou o direito de substituir o beneficiário (art. 438, CCB). No entanto, se for estipulado que o beneficiário pode reclamar a execução do contrato, o estipulante perde o direito de exonerar o promitente (art. 437, CCB), ou seja, a estipulação será irrevogável. Vale dizer a ausência de tal previsão sujeita o terceiro à vontade do estipulante, que poderá desobrigar o devedor, bem como substituir o primeiro na forma do artigo 438. Neste último caso, basta a declaração unilateral de vontade do estipulante, por ato inter vivos ou causa mortis. 3. Da promessa de fato de terceiro: Prescreve o artigo 439 do Código Civil Brasileiro: “Aquele que tiver prometido fato de terceiro responderá por perdas e danos, quando este o não executar.” Trata-se do denominado contrato de outrem ou promessa de fato de terceiro. O único vinculado é o que promete, assumindo obrigação de fazer que, não sendo executada, resolve-se em perdas e danos, já que ninguém pode vincular terceiro a uma obrigação. Dessa forma, aquele que promete fato de terceiro assemelha-se ao fiador, que assegura a prestação prometida. Se alguém, por exemplo, prometer levar um cantor de renome a uma determinada casa de espetáculos ou clube, sem ter obtido dele, previamente, a devida concordância, responderá por perdas e danos perante os promotores do evento, se não ocorrer a prometida apresentação na ocasião anunciada. Neste caso, portanto, o agente não agiu como mandatário do cantor, que não se comprometeu de nenhuma forma. Porém, se o tivesse feito, não haveria nenhuma obrigação para quem fez a promessa. Assevera-se que a regra do parágrafo único, do artigo 439, do CC, consiste em uma proteção de um dos cônjuges frente a eventuais desatinos do outro, visto que nega eficácia à promessa de fato de terceiro quando este for cônjuge do promitente. Por exemplo, na promessa do marido de que a mulher anuirá com fiança por ele dada, se não houver a concordância desta, tal fiança não terá eficácia, sequer caberá perdas e danos, pois esta comprometeria o patrimônio do casal ou no mínimo resultaria em litígio do casal. A fiança dada pelo marido sem a anuência da mulher pode ser por ela anulada (art. 1.649, do CCB). 4. Do contrato com pessoa a declarar ou nomear: é uma das inovações do CC 2002, justamente regulado do artigo 467 ao artigo 471. Nessa modalidade, um dos Página 35 / 176 contratantes pode reservar-se o direito de indicar outra pessoa para, em seu lugar, adquirir os direitos e assumir as obrigações dele decorrentes. Esse tipo de avença é comum nos compromissos de compra e venda de imóveis, onde o compromissário comprador reserva-se a opção de receber a escritura definitiva ou indicar terceiro para nela figurar como adquirente. É denominada cláusula pro amico eligendo. Utilizada para evitar despesas com novas alienações, quando os bens são adquiridos com o propósito de revenda, ocorrendo a intermediação do adquirente. Com efeito, a pessoa nomeada adquire os direitos e assume as obrigações do contrato desde o seu nascimento. Destaque-se que se o nomeado não aceita a indicação, ou esta não é feita no prazo assinado, nem por isso perde o contrato sua eficácia, ele continua válido, subsistindo entre os contratantes originários, ocorrendo o mesmo se a pessoa nomeada era insolvente e a outra parte desconhecia esse fato. Assim, o contrato terá eficácia somente entre os contratantes originários se não houver indicação da pessoa, se o nomeado se recusar a aceitá-la ou era incapaz ou insolvente e a outra pessoa desconhecia essa circunstância no momento da indicação (art. 471). Salienta-se que a validade do negócio requer a capacidade e legitimação de todos os personagens, no momento da estipulação do contrato. 5. Natureza jurídica do contrato com pessoa a declarar: Há grande controvérsia quanto à natureza jurídica do contrato com pessoa a declarar. Dentre as várias teorias existentes, se destaca as que consideram esse contrato como estipulação em favor de terceiro; como contrato condicional; como aquisição alternativa; como sub-rogação; como representação e como gestão de negócios em que a aceitação do terceiro atua como aprovação do contrato celebrado em seu nome. Frise-se que essa modalidade de contrato se aproxima da estipulação em favor de terceiro na medida que consiste em exceção ao princípio da relatividade dos efeitos dos contratos. Todavia, diferem-se entre si, especialmente, porque na primeira o estipulante e o promitente permanecem vinculados ao contrato, mesmo depois da adesão do terceiro. Já no contrato com pessoa a nomear, um dos contratantes desaparece, sendo substituído pelo nomeado e aceitante. Assim, a teria mais aceita é a Teoria da Condição segundo a qual o apresenta-se como contrato em nome próprio, sob condição resolutiva e em nome alheio sob condição suspensiva. Página 36 / 176 Portanto, o contrato com pessoa a declarar, é negócio jurídico bilateral, que se aperfeiçoa com o consentimento dos contratantes, que são conhecidos. As partes contratantes são assim, desde logo, definidas e identificadas. No entanto, uma delas reserva-se a faculdade de indicar a pessoa que assumirá as obrigações e adquirirá os direitos respectivos, em momento futuro. 6. Contrato com pessoa a declarar e institutos afins: Contrato em favor de terceiro: neste tipo de contrato o estipulante e promitente permanecem vinculados à relação contratual durante toda a sua existência, enquanto o terceiro permanece alheio ao contrato mesmo após a aceitação. No contrato com pessoa a declarar um dos contratantes primitivos é substituído pelo nomeado, que passa a figurar no contrato retroativamente. Cessão do contrato: tem como fato comum corresponder ao fenômeno sucessório no contrato. É convencionada entre estipulante e promitente em ocasião posterior à celebração e, os seus efeitos se dão ex nunc, ou seja, somente a partir do momento em que a cessão foi aceita. Já no contrato com pessoa a declarar, a cessão de direitos é previamente concertada entre estipulante e promitente, ingressando o terceiro na relação, em substituição do primeiro, retroativamente, como se parte fosse desde o início. Mandato: difere do contrato com pessoa a declarar pela circunstância de que o mandatário declara sempre o nome do mandante, que não é indeterminado, existindo antes da sua outorga, enquanto que no contrato com pessoa a declarar, o negócio pode ser de exclusiva e espontânea iniciativa de quem o pactuou, podendo afigurar-se incerta à época da estipulação a pessoa a declarar. Representação: é instituto mais amplo, que tem no mandato uma forma de concretização. Distingue-se, também, do contrato com pessoa a declarar no ponto em que produz seus efeitos na pessoa do representado exclusivamente, enquanto o último os gera para a pessoa nomeada ou para a do estipulante. O primeiro ou é negócio representativo, ou é nulo. O segundo, pode ser negócio representativo ou negócio em nome próprio. Gestão de Negócio: não se trata de gestão de negócio porque o nome da pessoa não é invocado no momento da estipulação do contrato. Promessa de fato de terceiro: nesta a obrigação é assumida somente pelo promitente de obter de terceiro a declaração ou prestação. No contrato com pessoa a declarar, o contratante promete fato próprio, mas, eventualmente, e, alternativamente, Página 37 / 176 promete fato de terceiro, com efeito, de que se a declaração de nomeação for válida, o nomeado não pode legitimamente recusar-se ao cumprimento. PROPOSTA E ACEITAÇÃO DO CONTRATO 1. Noções Gerais: a proposta e a aceitação constituem-se em outros elementos imprescindíveis para sua formação. Inicialmente teremos as negociações preliminares (preparatórias), que nada mais são do que conversações prévias, sondagens, estudos sobre o interesse dos contratantes, tendo em vista o futuro contrato, mas sem que haja qualquer obrigatoriedade ou vinculação jurídica entre os participantes. É uma fase précontratual, que não cria direitos nem obrigações, mas tem por objeto o preparo do consentimento das partes para conclusão do negócio jurídico contratual. Muito embora não sejam previstos no CC, esses acordos provisórios são admitidos em direito, ante o princípio da autonomia da vontade. Ressalte-se que no nosso direito, apesar de faltar obrigatoriedade aos entendimentos preliminares, deles pode surgir, excepcionalmente, a responsabilidade civil para os que deles participam, não no campo da culpa contratual, mas no da aquiliana (extracontratual – ilícito civil), se um deles causam prejuízo ao outro. Ex. veja-se a hipótese de um dos participantes criar expectativa de que o negócio será celebrado, levando-o a despesas, a não contratação com terceiros, etc e, na hora de fechar o negócio, não aceita a proposta. Essa é a possibilidade de responsabilidade pré-contratual. Assim, frise-se que o CC, por sua vez, disciplina o contrato preliminar nos arts. 462 a 466. No entanto, o contrato sendo acordo de vontades de duas ou mais pessoas, tem-se que estas não são emitidas ao mesmo tempo, mas sim sucessivamente. Assim uma parte toma iniciativa, dando início à formação do contrato, formulando uma proposta à outra. PROPOSTA/OFERTA/POLICITAÇÃO = declaração inicial de vontade cuja finalidade é a realização de um contrato. POLICITANTE/PROPONENTE = quem faz a proposta – ofertante. OBLATO/SOLICITADO = quem recebe a proposta. A oferta traduz uma vontade definitiva de contratar nas bases oferecidas, constituindo-se um negócio jurídico, ou seja, um elemento de formação contratual. Página 38 / 176 2. CONCEITO DE PROPOSTA: é uma declaração receptícia de vontade, dirigida por uma pessoa à outra, com quem pretende celebrar um contrato, por força da qual a primeira manifesta sua intenção de se considerar vinculada se a outra aceitar. Art. 427 CC – é a força vinculante em relação a quem formula – regra geral. A proposta não produz conseqüências jurídicas para a outra parte, apenas para o policitante, pois ainda não existe contrato. A proposta tem caráter obrigatório – art. 427 CC, o proponente não pode revogá-la por certo tempo a partir da sua existência, mas comporta exceções – art. 428 CC, portanto a força vinculante da proposta não é absoluta. Ex. se na proposta contiver cláusula expressa de não obrigatoriedade – art. 427 CC 2ª. Parte – se ao contrário não resultar dos termos. O aceitante ao recebê-la já saberá da não obrigatoriedade. 3. ACEITAÇÃO: a aceitação da proposta por parte do solicitado é o fecho do ciclo contratual – arts. 430 a 435. É a segunda fase para a formação do vínculo contratual. A aceitação é a manifestação, expressa ou tácita, da parte do destinatário de uma proposta, vinculando não só o aceitante, mas também o ofertante, que a partir desse momento está sob a égide do liame contratual. 3.1 Requisitos essenciais da aceitação: -não exige forma determinada, pode ser expressa ou tácita; -deve ser formulada dentro do prazo legal – deve ser oportuna, é necessário que ela seja formulada dentro do prazo concedido na policitação. 3.2 ACEITAÇÃO entre presentes e entre ausentes: -ENTRE PRESENTES – poderá a proposta ter prazo ou não. Se não tiver prazo a aceitação deverá ser feita imediatamente. Se tiver prazo deverá a aceitação ser efetuada dentro do prazo, sob pena de desvincular o policitante. -ENTRE AUSENTES – Existindo prazo deverá ser no termo, mas se o correio atrasar, por exemplo, o proponente deverá dar ciência ao fato ao aceitante, sob pena de perdas e danos – ver art. 430. Não existindo prazo a aceitação deverá ser elaborada dentro do tempo suficiente para chegar à resposta ao conhecimento do proponente – art. 428, II; deixa de ser obrigatória. Há divergências doutrinárias sobre qual a teoria nosso código se filia em relação ao conhecimento dessa proposta. Alguns se referem à teoria da Informação, outros da Declaração (escrita, expedida e recepcionada). O art. 434 acolheu Página 39 / 176 expressamente a teoria da Expedição, ao afirmar que os contratos entre ausentes tornamse perfeitos desde que a aceitação é expedida. Entretanto, estabeleceu exceções: a) no caso de haver retratação do aceitante; b) se o proponente se houver comprometido a esperar resposta; e c) se ela não chegar no prazo convencionado. CRÍTICA: Se, é permitida a retratação antes da resposta chegar às mãos do proponente e, se, ainda, não se reputa concluído o contrato no caso de a resposta não chegar no prazo convencionado, na realidade o referido diploma legal filiou-se a teoria da recepção e não da expedição. 4. RETRATAÇÃO: ao aceitante é dado o direito de arrependimento, desde que sua retratação chegue ao conhecimento do ofertante antes da aceitação ou juntamente com ela. Ver art. 433 – a retratação vem a ser a recusa oportuna do negócio aceito, pois se chegar tardiamente a seu destino o remetente continuará vinculado ao contrato. 5. CONTRAPROPOSTA: consiste na modificação, substituição ou emenda da proposta original. Ver. Art. 431. 6. LUGAR DA CELEBRAÇÃO: quanto ao lugar, reputa-se celebrado o contrato onde foi proposto. É importante a determinação do local da celebração do negócio jurídico contratual, principalmente porque a partir daí teremos a apuração do foro competente. 7. INTERPRETAÇÃO DOS CONTRATOS: Relativamente a INTERPRETAÇÃO, sabe-se que toda a manifestação de vontade necessita de interpretação para que se alcance o seu significado, as situações que previu e os efeitos que pretende ter. Assim, exige-se a interpretação do juiz, para que seja aplicada a vontade contratual, é o trabalho hermenêutico, realizado pelas partes e pelo magistrado na hipótese de existência de conflito de interesses. Salienta-se que o Judiciário tem o monopólio da interpretação constitucional, mas que indiretamente todas as pessoas que estão sob a égide da CF podem ser intérpretes indiretos. A interpretação contratual é DECLARATÓRIA quando tem por objetivo a descoberta da intenção das partes no momento da celebração, e, CONSTRUTIVA, quando tem por desígnio o aproveitamento do contrato, mediante o suprimento de lacunas, de pontos omissos. Ressalte-se que eles são complementados por meio do uso da função social do Contrato, da Boa-fé, dos usos e costumes do local... Página 40 / 176 Referências: GOMES, Orlando. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2008. RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: dos contratos e das declarações unilaterais da vontade. De acordo com o novo Código Civil (Lei n. 10.406, de 10/01/2002). 30.ed. São Paulo: Saraiva, 2007. RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. Rio de Janeiro: Forense. VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos. v.2, Atlas: São Paulo, 2007. GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: contratos e atos unilaterais. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2008. v.3. Página 41 / 176 DIREITO CIVIL III – Contratos Profa. Ms. Janaína Machado Sturza Dos vícios redibitórios a) Conceito: Vícios redibitórios são defeitos ocultos em coisa recebida em virtude de contrato comutativo, que tornam imprópria ao uso a que se destina, ou lhe diminuam o valor. A coisa defeituosa pode ser enjeitada pelo adquirente, mediante devolução do preço, e, se o alienante conhecia o defeito, com satisfação de perdas e danos. O Código Civil Brasileiro disciplina os vícios redibitórios do artigo 441 ao artigo 446, onde dispõe no seu primeiro artigo: “Art. 441. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que se destina, ou lhe diminuam o valor.” Contudo ao adquirente é dada a faculdade de ficar com a coisa, mediante o abatimento do preço, consoante se verifica do disposto no artigo 442: “Art. 442. Em vez de rejeitar a coisa redibindo o contrato (art. 441), pode o adquirente reclamar abatimento no preço.” As regras dos vícios redibitórios se aplicam aos contratos bilaterais comutativos, em geral, translativos da propriedade, como a compra e venda, a dação em pagamento e a permuta, mas também são aplicáveis aos contratos de empreitada. A comutatividade está no fato de serem equivalentes as prestações assumidas pelas partes, o que em decorrência de vícios ocultos pode resultar em desequilíbrio. Os contratos comutativos são espécie de contratos onerosos. Em síntese, pode-se dizer que os vícios redibitórios são vícios ocultos existentes na coisa alienada, objeto de contrato comutativo que a torna imprópria ao uso a que se destina ou lhe diminuem consideravelmente o valor, de modo que o negócio não seria firmado se esses defeitos fossem conhecidos, dando ao adquirente ação para redibir o contrato ou para obter abatimento no preço. Página 42 / 176 b) Fundamento Jurídico: Inúmeras teorias surgiram para explicar os vícios redibitórios, algumas sem muita expressão e outras com certa relevância, entre estas destacamos: a) Teoria do Erro: que não fazia nenhuma distinção entre os defeitos ocultos e erro sobre as qualidades essenciais do objeto. b) Teoria do Inadimplemento Contratual: em que sua fundamentação partia do princípio de garantia que onera todo o alienante e o fazia responsável pelo perfeito estado da coisa, em condições de uso a que seria destinada. c) Teoria dos Riscos: que afirma que o alienante responde pelos vícios redibitórios porque tem a obrigação de suportar os riscos da coisa alienada. d) Teoria da Eqüidade: defendida por aqueles que afirmam a necessidade de ser mantido o equilíbrio entre as prestações dos contratantes, como decorrência da comutatividade dos contratos. e) Entre as teorias supramencionadas, a mais aceita é a Teoria do Inadimplemento Contratual, que aponta o fundamento da responsabilidade pelos vícios redibitórios no princípio da garantia, segundo o qual todo alienante deve assegurar ao adquirente a título oneroso, o uso da coisa por ele adquirida e para os fins a que é destinada. Vale dizer que o alienante deve assegurar ao adquirente a posse útil da coisa alienada, de modo a permanecer a comutatividade do contrato, demonstrada através do preço pactuado, sob pena de estar caracterizado o inadimplemento contratual. c) Requisitos para caracterização dos vícios redibitórios: O Código Civil Brasileiro ao disciplinar os vícios redibitórios, acaba por apresentar os requisitos essenciais para caracterização dos mesmos, logo não é todo e qualquer vício que pode resultar na possibilidade do adquirente redibir ou requerer o abatimento do preço. Assim temos como requisitos: - que a coisa tenha sido recebida em virtude de contrato comutativo ou doação onerosa (aquela que impõe ao donatário um dever) ou remuneratória (aquela feita em retribuição a serviços prestados); - que os defeitos sejam ocultos, ou seja, não caracteriza vícios redibitórios os defeitos facilmente verificáveis a partir de um simples exame ou diligência normal, pois nesse caso presume-se que o adquirente já os conhecia e mesmo assim resolveu contratar, renunciando à garantia da redibição; - que os defeitos existam no momento da celebração do contrato e que perdurem até o momento da reclamação, vale dizer que o alienante não responde por vícios supervenientes, mas somente pelos contemporâneos à alienação, ainda que Página 43 / 176 venham a se manifestar em momento posterior. Os vícios supervenientes presumem-se aqueles que resultam do mau uso da coisa feito pelo adquirente; - que os defeitos sejam desconhecidos do adquirente (expressão “vende-se no estado em que se encontra” – alerta os interessados de que a coisa não se encontra em perfeito estado); - que os defeitos sejam graves, ou seja, somente defeitos que prejudiquem o uso da coisa ou diminuam-lhe o valor; d) Efeitos e Ações Cabíveis: Os artigos 441 e 442 do CC, antes transcritos asseguram ao adquirente a garantia da coisa, onde na ocorrência de vício redibitório poderá enjeitá-la ou pedir abatimento no preço. Se o alienante não conhecia o vício ou oculto, presume-se que tenha agido de boa-fé, ao passo que se tinha conhecimento da existência do vício, presume-se que tenha agido de má-fé. Para tais situações o artigo 443, do Código Civil Brasileiro da a seguinte solução: “Art. 443. Se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, restituirá o que recebeu com perdas e danos; se não o conhecia, tão somente restituíra o valor recebido, mais as despesas do contrato.” “Art. 444. A responsabilidade do alienante subsiste ainda que a coisa pereça em poder do alienatário, se perecer por vício oculto, já existente ao tempo da tradição.” Para as hipóteses previstas no artigo 442, do CC, as ações recebem a denominação de ações edilícias, cujo nome tem origem no Direito Romano. Caberá ao credor escolher pela redibição ou pelo abatimento do preço, sendo que uma vez realizada a escolha esta se torna irrevogável. Quanto a primeira opção, rejeitada a coisa, rescindido o contrato e pleiteando a devolução do preço pago, isto deverá ser feito através da AÇÃO REDIBITÓRIA. E, para a segunda opção, ficar com a coisa, porém com abatimento do preço, a ação a ser proposta será a AÇÃO QUANTI MINORIS ou AÇÃO ESTIMATÓRIA. Os prazos para propositura das referidas ações são decadenciais, sendo de 30 (trinta) dias quando se tratar de bem móvel é de 1 (um) ano quando for bem imóvel, contados a partir da tradição dos mesmos. Todavia se o adquirente já estava na posse do bem o prazo será contado pela metade, consoante dispõe o artigo 445, do Código Civil Brasileiro: Página 44 / 176 “Art. 445. O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de trinta dias se a coisa for móvel, e de um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva; se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade.” “§ 1º. Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias, em se tratando de bens móveis; e de um ano, para os imóveis.” “§2º. Tratando-se de venda de animais, os prazos de garantia por vícios ocultos serão os estabelecidos em lei especial, ou, na falta desta, pelos usos locais, aplicando-se o disposto no parágrafo antecedente se não houver regras disciplinando a matéria.” As partes podem ampliar os prazos convencionalmente, estipulando um prazo de garantia maior, como é comum ocorrer na venda de veículos pelas concessionárias das fábricas. O artigo 446 do CC, permite tal regra ao tratar da cláusula de garantia complementar: “Art. 446. Não correrão os prazos do artigo antecedente na constância de cláusula de garantia; mas o adquirente deve denunciar o defeito ao alienante nos trinta dias seguintes ao seu descobrimento, sob pena de decadência.” Todavia o adquirente tem o dever de denunciar, desde logo, o defeito da coisa ao alienante como decorrência do princípio da boa-fé. Significa dizer que mesmo havendo ainda prazo para a garantia, o adquirente é obrigado a denunciar o vício no prazo de 30 (trinta) dias seguintes ao em que o descobriu, sob pena de decadência do direito. A jurisprudência vem aplicando duas exceções à regra de que os referidos prazo contam-se da tradição: a primeira, quando se trata de máquinas sujeitas a experimentação; a segunda, nas vendas de animais. Quando uma máquina é entregue para experimentação, sujeita a ajustes técnicos, o prazo decadencial conta-se do seu perfeito funcionamento e efetiva utilização. No caso do animal, conta-se da manifestação dos sintomas da doença de que é portador, até o prazo máximo de cento e oitenta dias. O §1º, do artigo 445, do Código Civil Brasileiro, supra transcrito, dá o tratamento para hipótese de vício que somente poderá ser conhecido em momento posterior, sendo que o prazo contará do momento em que se teve ciência do mesmo, sendo 180 dias para bens móveis e de 01 ano para bens imóveis. Quanto a animais os prazos serão Página 45 / 176 estabelecidos em lei especial, todavia enquanto esta não existir os usos locais é que os determinarão. OBS.: Há determinadas situações em que descabem as ações edilícias: a) coisas vendidas conjuntamente; b) inadimplemento contratual; c) erro quanto às qualidades essenciais do objeto; d) coisa vendida em hasta pública. Quanto a primeira hipótese aplica-se o previsto no artigo 503, do CC, que prescreve: “Art. 503. Nas coisas vendidas conjuntamente, o defeito oculto de uma não autoriza a rejeição de todas.” Já com respeito a segunda hipótese temos que a entrega de uma coisa diversa da contratada não configura vício redibitório, mas inadimplemento contratual, respondendo o devedor por perdas e danos (art. 389, do CCB). A terceira hipótese - erro quanto às qualidades essenciais do objeto - não configura vício redibitório e não autoriza a utilização das ações edilícias, pois o vício do negócio jurídico reside na manifestação de vontade, ou seja, elemento subjetivo, dando ensejo a ação anulatória do negócio jurídico (art. 139 e art. 178, II, do CCB). O vício redibitório é erro objetivo sobre a coisa, que contém um defeito oculto. A última hipótese – coisa vendida em hasta pública – possuía regra específica no CC 1916, no artigo 1.106 que prescrevia: “se a coisa foi vendida em hasta pública, não cabe a ação redibitória, nem a de pedir abatimento no preço.” Todavia este dispositivo não foi repetido no CC de 2002, o que faz crer que poderá o adquirente lesado, em qualquer situação, mesmo na venda realizada em hasta pública, propor as ações edilícias, quais sejam, a ação redibitória ou a ação quanti minoris se a coisa arrematada apresentar vício redibitório. e) O vício redibitório no CDC: O CDC tem um regramento diferenciado do CC, pois considera vícios redibitórios tanto os defeitos ocultos, como também os aparentes ou de fácil constatação. Ainda, o diploma consumerista mostra-se mais rigoroso, ao impor ao fabricante a responsabilidade de substituição do produto com vício de fabricação por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, e a restituição imediata da quantia paga, devidamente atualizada monetariamente, além do pagamento de perdas e danos, ou ainda o abatimento no preço. Os prazos no Código de Proteção e Defesa do Consumidor são decadenciais, sendo: para os vícios aparentes em produto não durável, o prazo para reclamar em juízo é de 30 (trinta) dias; para os vícios aparentes em produto durável, o prazo é de 90 (noventa dias). Página 46 / 176 Em se tratando de vícios ocultos os prazos são os mesmos, porém sua contagem inicia no momento em que ficaram evidenciados, consoante previsto no artigo 26 e parágrafos, do CDC. Todavia os fornecedores têm o prazo máximo de 30 (trinta) dias para sanar o vício, quando efetuada a reclamação direta. A Reclamação suspende o prazo até que haja resposta negativa ou positiva. Se o fornecedor não o sanar, o prazo decadencial antes suspenso a partir da reclamação, volta a ocorrer pelo período restante, podendo o consumidor optar entre: a) substituição do produto; b) a restituição da quantia paga, atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; ou c) o abatimento proporcional do preço. Ressalte-se que há possibilidade das partes em reduzir ou ampliar o prazo, de comum acordo, que poderá ser de 7 (sete) até 180 (cento e oitenta) dias, conforme permite o artigo 18, parágrafos 1º e 2º, do aludido diploma legal. Da evicção – arts. 447-457 Evicção é a perda da coisa em virtude de sentença judicial, que se atribui a outrem, por causa jurídica preexistente ao contrato; Funda-se no mesmo princípio da garantia em que se assenta a teoria dos vícios redibitórios; Na evicção o dever do alienante é garantir o uso e gozo da coisa, protegendo o adquirente contra os defeitos ocultos. A evicção é, portanto, uma garantia legal existente em todo o contrato oneroso em que haja transferência do domínio, posse e uso, não necessitando de previsão contratual, pelo que sua extensão esta assegurada pela própria lei. Todo o alienante é obrigado não só a entregar ao adquirente a coisa alienada, como também a garantir-lhe o uso e gozo. Portanto, dá-se a evicção quando o adquirente vem a perder, total ou parcialmente, a coisa por sentença fundada em motivo jurídico anterior. A evicção é cláusula de garantia que se opera de pleno direito, não necessitando de estipulação expressa, sendo ínsita nos contratos comutativos onerosos, como os de compra e venda, permuta, parceria pecuária, sociedade, transação, bem como na dação em pagamento e na partilha do acervo hereditário; Página 47 / 176 Inexiste, em regra, responsabilidade pela evicção nos contratos gratuitos (art. 552, CCB), salvo se tratar de doação com encargos. Assim, o alienante é obrigado a resguardar o adquirente dos riscos pela perda da coisa para terceiro, por força de decisão judicial, em que fique reconhecido, que aquele não era o legítimo titular do direito que convencionou transmitir. Assim, ocorrendo a perda da coisa em ação movida por terceiro, o adquirente tem o direito de voltar-se contra o alienante para ser ressarcido do prejuízo. Somente poderá excluir tal garantia se houver cláusula expressa nesse sentido, consoante artigo 448. Todavia a cláusula que dispensa a garantia não é absoluta, estando sujeita ao controle do Judiciário diante do princípio da boa-fé e do enriquecimento ilícito! Assim, para que se opere integralmente é necessário que haja conhecimento prévio do risco específico da evicção pelo evicto, informado pelo alienante da existência de terceiros que disputam o uso, posse ou domínio da coisa, tendo aquele assumido tal risco, renunciando à garantia; Vale dizer, que se o adquirente está consciente da dúvida quanto ao domínio, posse ou uso do alienante, se sujeita a contrato aleatório, conforme artigo 449. Página 48 / 176 Requisitos da evicção: A evicção tem por causa um vício existente no título do alienante, ou seja, um defeito do direito transmitido ao adquirente; É necessário que a perda da propriedade ou da posse da coisa para terceiro decorra de uma causa jurídica, visto que as turbações de fato podem ser afastadas através das ações possessórias; Essa turbação pode se fundar em direito real (propriedade e usufruto) ou em direito pessoal (arrendamento). Para que o alienante seja responsável pela evicção, é preciso: a) perda total ou parcial da propriedade, posse ou uso da coisa alienada – pois constitui pressuposto da evicção o recebimento da coisa pelo adquirente em condições de perfeito uso e a ausência de qualquer defeito oculto; b) onerosidade da aquisição – a evicção se dá em contratos onerosos ou em doações com encargos; c) ignorância da litigiosidade da coisa pelo adquirente – decorre do previsto no artigo 457; d) anterioridade do direito do evictor – o alienante só responde pela perda decorrente de causa já existente ao tempo da alienação. Vale dizer que se a causa for posterior, nenhuma responsabilidade terá pela evicção (desapropriação); e) denunciação da lide ao alienante – na ação proposta pelo terceiro contra o adquirente se faz necessário a denunciação da lide ao alienante, consoante previsto no artigo 456. É importante ressaltar que o STJ vem firmando suas decisões de que o fato de não ter ocorrido a denunciação da lide ao alienante pelo adquirente, não lhe retira o direito de propor posteriormente ação autônoma indenizatória, o seu prejuízo consiste no fato de não ter título executivo de imediato contra aquele em direito de regresso, ou seja, deverá propor ação de conhecimento para obtê-lo. (perda do direito de regresso). Efeitos: Consoante prescreve o artigo 447, ocorrendo a perda da coisa adquirida por meio de contrato oneroso, em ação movida por terceiro fundada em direito anterior, o adquirente tem o direito de voltar-se contra o alienante, conforme artigo 450. Página 49 / 176 Como se vê o ressarcimento dos prejuízos decorrentes da evicção deve ser integral, completo e amplo, incluindo as despesas com imposto de transmissão. No mesmo sentido de integralidade da indenização, o artigo 451 e sgs. A finalidade das regras é evitar o enriquecimento sem causa do evicto, impedindo que embolse o pagamento, efetuado pelo reivindicante, de benfeitorias feitas pelo alienante. Dá-se a evicção parcial quando o evicto perde apenas parte, ou fração em virtude de contrato oneroso. Se a evicção for parcial, mas com perda considerável da coisa, poderá o evicto optar entre a rescisão do contrato e a restituição da parte do preço correspondente ao desfalque sofrido; A perda pode ser considerável tanto em quantidade como em qualidade (exemplo, perda da sede da Fazenda e mananciais de água). Referências: GOMES, Orlando. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2008. RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: dos contratos e das declarações unilaterais da vontade. De acordo com o novo Código Civil (Lei n. 10.406, de 10/01/2002). 30.ed. São Paulo: Saraiva, 2007. RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. Rio de Janeiro: Forense. VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos. v.2, Atlas: São Paulo, 2007. GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: contratos e atos unilaterais. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2008. v.3. Página 50 / 176 DIREITO CIVIL III – Contratos Profa. Ms. Janaína Machado Sturza Compra e Venda 1) Definição: O Código Civil Brasileiro dispõe sobre o contrato de compra e venda do artigo 481 ao 532, onde no primeiro artigo referido, apresenta o seu conceito legal: Art. 481. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro. Para Caio Mário “O contrato em que uma pessoa (vendedor) se obriga a transferir a outra (comprador) o domínio de uma coisa corpórea ou incorpórea, mediante o pagamento de certo preço em dinheiro ou valor fiduciário correspondente.” Já, Diniz ressalta que “o contrato de compra e venda dá aos contraentes tãosomente um direito pessoal, gerando para o vendedor apenas uma obrigação de transferir o domínio: conseqüentemente , produz efeitos meramente obrigacionais, não conferindo poderes de proprietário àquele que não obteve a entrega do em adquirido. Não opera, portanto, de per si, a transferência da propriedade, que só se perfaz pela tradição, se a coisa for móvel (art. 1.267 do CC e Súmula STF nº 489) ou pelo registro do título aquisitivo no cartório competente, se o bem for imóvel (art. 1.227, 1.245 a 1.247 do CC). Se houve contrato e pagamento do preço sem entrega do bem, o comprador não é proprietário, de modo que, se o vendedor o alienar novamente a terceira pessoa, o primitivo comprador não terá direito de reivindicá-lo, mas apenas de exigir que o vendedor lhe pague as perdas e danos. Todavia este princípio não é absoluto, pois há casos em que o nosso direito permite a transferência do domínio pelo contrato.” (p. 171-172) Ex. títulos da dívida pública da União. “Art. 1.267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição. Parágrafo único. Subentende-se a tradição quando o transmitente continua a possuir pelo constituto possessório; quando cede ao adquirente o direito à restituição da coisa, que se encontra em poder de terceiro; ou quando o adquirente já está na posse da coisa, por ocasião do negócio jurídico.” CCB/02 Página 51 / 176 “Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código.” CCB/02 2) Características: a) Bilateral ou Sinalagmático: porque cria obrigações para ambos os contratantes, que serão ao mesmo tempo credores e devedores. A bilateralidade está no fato de estabelecer para o vendedor a obrigação de transferir a propriedade da coisa alienada e de impor ao comprador o dever de pagar o preço avençado. b) Oneroso: porque ambas as partes contratantes auferem vantagens patrimoniais de suas prestações, pois, de um lado, o sacrifício da perda da coisa corresponderá ao proveito do recebimento do preço ajustado corresponderá ao proveito do recebimento da coisa. c) Comutativo ou Aleatório: conforme seu objeto seja certo e seguro ou dependa de um evento incerto. Em regra será comutativo porque, havendo objeto determinado, ter-se-á equivalência das prestações e contraprestações, e certeza quanto ao seu valor no ato da celebração do negócio. Mas excepcionalmente será aleatório, nas hipóteses previstas no CCB/02, arts. 458 e 459. (existência de coisa futura quanto à própria coisa; quantidade da coisa futura). d) Consensual ou Solene: normalmente é consensual, formando-se pelo mútuo consenso dos contratantes; porém, em certos casos é solene, quando além do consentimento a lei exige uma forma para a sua manifestação, como ocorre na compra de imóveis, em que a lei reclama a forma da escritura pública (CC, arts. 108 e 215) e) Translativo do domínio: no sentido de servir de título adquirente, isto é, ser o ato causal da transmissão da propriedade gerador de uma obrigação de entregar a coisa alienada e o fundamento da tradição ou do registro. O contrato de compra e venda vem a ser o título hábil à aquisição do domínio, que só se dá com a tradição e o registro imobiliário, conforme a coisa adquirida seja móvel ou imóvel. 3) Elementos Constitutivos: Segundo a doutrina os elementos constitutivos são três: a coisa; o preço e o consentimento. WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO ressalta que “certos contratos, sobretudo nos de compra e venda relativos a bens imóveis, vem acrescentar-se quarto elemento, que é a forma.” Página 52 / 176 “Art. 482. A compra e venda, quando pura, considerar-se-á obrigatória e perfeita, desde que as partes acordarem no objeto e no preço.” CCB/02 “Art. 483. A compra e venda pode ter por objeto coisa atual ou futura. Neste caso, ficará sem efeito o contrato se esta não vier a existir, salvo se a intenção das partes era de concluir contrato aleatório.” CCB/02 1º Elemento – A COISA: Coisa atual pode ser entendida com aquela existente, enquanto coisa futura, como aquela que tem existência potencial, sejam elas corpóreas ou incorpóreas. No caso de coisa futura, o negócio jurídico ficará sem efeito não vindo a existir a coisa, ressalvada a hipótese de o contrato ser aleatório. Segundo MARIA HELENA DINIZ a coisa deverá: “a) ter existência, ainda que potencial, no momento da realização do contrato, seja ela corpórea (como imóveis, móveis e semoventes), seja ela incorpórea (como valores cotados em Bolsa, direitos de invenção, créditos, direitos de propriedade literária, científica ou artística); apesar de o contrato que objetiva à transmissão de bem incorpóreo ser comumente designado de cessão, esta reger-se-á pelas normas da compra e venda. Os direitos sucessórios também poderão ser objeto desse contrato (cessão de herança), desde que se trate de sucessão aberta.” “b) ser individuada, pois o contrato de compra e venda, por criar obrigação de dar, deverá recair sobre coisa perfeitamente determinada, ou pelo menos determinável, ou melhor, suscetível de individuação no momento de sua execução, pois já foi indicada pelo gênero e quantidade (CC, art. 243)” “c) ser disponível ou estar in commercio, uma vez que sua inalienabilidade natural, legal ou voluntária impossibilitara a sua transmissão ao comprador.” (Não podem ser alienados bens públicos – art. 100 e bem de família – art. 1.717 CCB/02) “d) ter possibilidade de ser transferida ao comprador, isto é, não poderá pertencer ao próprio comprador, nem o vendedor poderá aliená-la se for da propriedade de terceiro, pois a compra e venda motiva à transmissão do domínio; por isso, ninguém pode transferir a outrem direito de que não seja titular.” Ressalta, ainda, a doutrinadora que “a coisa litigiosa pode ser alienada (CPC – art. 219), visto que o Código Civil, art. 457, ao se referir á evicção, prescreve que o adquirente não pode demandar os direitos que dela decorrem se tinha ciência de que a coisa era litigiosa.” No mesmo sentido é o entendimento de SILVIO DE SALVO VENOSA ao dizer que “a coisa litigiosa não é retirada do comércio, podendo também ser objeto da compra e Página 53 / 176 venda. O art. 42 do CPC dispõe que ‘a alienação da coisa ou do direito litigioso, a título particular, por ato entre vivos, não altera a legitimidade das partes.” (p. 33) 2º Elemento – O PREÇO: O preço é o elemento vital, o traço característico da compra e venda; é a soma em dinheiro que o comprador paga, ou se obriga a pagar, ao vendedor, em troca da coisa adquirida. Para MARIA HELENA DINIZ o preço deverá apresentar os seguintes caracteres: “a) pecuniaridade, por constituir uma soma em dinheiro (CC, art. 481) que o comprador paga ao vendedor em troca da coisa adquirida. Porém, nada obsta que seja pago por coisas representativas de dinheiro ou a ele redutíveis, como cheque, duplicada, letra de câmbio, nota promissória, títulos da dívida pública (apólices).” “b)seriedade, pois deverá ser sério, real e verdadeiro, indicado firme objetivo de se constituir numa contraprestação relativamente ao dever do alienante de entregar a coisa vendida, de modo que não denuncie qualquer simulação absoluta ou relativa. Se for fictício, não se terá venda alguma, porém doação dissimulada, suscetível de ser anulada. Se for irrisório, não haverá venda, ante a grande diferença entre o valor da coisa e o preço estipulado.” “c)certeza, isto é, deverá ser certo ou determinado para que o comprador possa efetuar o pagamento devidamente. “Casos há em que o preço não é conhecido desde logo, sendo determinável a posteriori, pelos critérios avençados pelos contraentes. “Art. 485. A fixação do preço pode ser deixada ao arbítrio de terceiro, que os contratantes designarem ou prometerem designar. Se o terceiro não aceitar a incumbência, ficará sem efeito o contrato, salvo quando acordarem os contratantes designar outra pessoa.” CCB/02 “Art. 486. Também se poderá deixar a fixação do preço à taxa de mercado ou de bolsa, em certo e determinado dia e lugar.” CCB/02 “Art. 487. É lícito às partes fixar o preço em função de índices ou parâmetros, desde que suscetíveis de objetiva determinação.” CCB/02 “Art. 488. Convencionada a venda sem fixação de preço ou de critérios para a sua determinação, se não houver tabelamento oficial, entende-se que as partes se sujeitaram ao preço corrente nas vendas habituais do vendedor.” “Parágrafo único. Na falta de acordo, por ter havido diversidade de preço, prevalecerá o termo médio.” CCB/02 “Art. 489. Nulo é o contrato de compra e venda, quando se deixa ao arbítrio exclusivo de uma das partes a fixação do preço.” CCB/02 Página 54 / 176 3º Elemento – O CONSENTIMENTO DOS CONTRATANTES: quanto à coisa, o preço e demais condições do negócio, e como o contrato de compra e venda gera a obrigação de transferir a propriedade do bem alienado, pressupondo o poder de disposição do vendedor, será necessário que ele tenha capacidade de alienar, bastando ao adquirente capacidade de obrigar-se. MARIA HELENA DINIZ ressalta ser preciso verificar se há restrições legais à liberdade de comprar e vender, pois: “a) pessoa casada, exceto no regime de separação absoluta de bens, e, em razão de convenção antenupcial, no de participação final nos aqüestos, não poderá alienar ou gravar de ônus os bens imóveis do seu domínio sem a autorização do outro cônjuge (CC, arts. 1.647 e 1.656); b) os consortes não poderão, em regra, efetivar contrato entre si, pois a compra e venda entre marido e mulher está proibida; se o regime matrimonial for o da comunhão universal, ter-se-á uma venda fictícia, pois os bens do casal são comuns e ninguém pode comprar o que já lhe pertence. Todavia, mesmo nesse regime, ou se outro for o regime matrimonial, tal venda será lícita, relativamente aos bens excluídos da comunhão (CC, art. 499), já que foi adotado o princípio da mutabilidade justificada, previsto no Código Civil, art. 1.639, § 2º. c) os ascendentes têm direito de, a qualquer tempo, alienar seus bens a quem quiserem, mas não podem vender ao descendente, sem que os demais descendentes e o cônjuge do alienante (salvo se casado sob o regime de separação obrigatória – CC, art. 1.641) expressamente consintam por meio de escritura pública ou, ainda, por meio de mandato com poder especial (CC, art. 220 e art. 496 e parágrafo único); d) os que têm, por dever de ofício ou por profissão, de zelar pelos bens alheios estão proibidos de adquiri-los, mesmo em hasta pública, sob pena de nulidade, pelo Código Civil, art. 497, I a IV, por razões de ordem moral, visto que, por velarem pelos interesses do alienante, poderiam desfrutar de certa posição que lhes possibilitaria obter vantagens no negócio, influenciando de alguma maneira o vendedor. e) o condomínio, enquanto pender o estado de indivisão, não poderá vender sua parte a estranho, se o outro consorte a quiser, tanto por tanto (CC, art. 504, 1ªparte). f) o proprietário de coisa alugada, para vendê-la, deverá dar conhecimento do fato ao inquilino, que terá direito de preferência para adquiri-la em igualdade de condições com terceiros. (art. 27 a 31 e 34 da Lei nº 8.245/91) g) o enfiteuta só poderá alienar o imóvel enfitêutico, a título oneroso ou gratuito, no todo ou em parte, desde que comunique o fato, previamente, ao senhorio direto, para que este exerça seu direito de opção, pois a percepção do laudêmio não poderá ser exigida (CC, Página 55 / 176 art. 2.038, § 1º, I). h) o senhorio direto, por sua vez, deverá notificar o enfiteuta quando for alienar seu domínio direto, para que ele exerça o direito de preferência. i) o comprador ou o vendedor, nos contratos que contiverem cláusula de exclusividade, ajustada por prazo determinado, têm certos deveres. j) os menores, pois a Lei nº 8.069/90 impõe-lhes algumas limitações na aquisição de certos bens. (Ex. revistas impróprias para menores de 18 anos) 4) Conseqüências Jurídicas: O contrato de compra e venda uma vez concluído acarreta conseqüências jurídicas para ambas as partes: 1) Obrigação para vendedor de entregar a coisa com todos os seus acessórios, transferindo ao adquirente a sua propriedade, e do comprador de pagar o preço, na forma e prazo estipulados; 2) Obrigações de garantia, imposta ao vendedor, nas relações de consumo, contra os vícios aparentes e redibitórios (Lei n º 8.078/90, arts. 26, 18, § 1º, e 19) e a evicção, por ser elemento natural do contrato de compra e venda. 3) Responsabilidades pelos riscos (perda, deterioração, desvalorização) e despesas ante o fato de que, em nosso direito, sem tradição ou registro não se tem transferência da propriedade. 4) Direito aos cômodos antes da tradição, pois reza o Código Civil, art. 237, que: “até a tradição pertence ao devedor a coisa, com os seus melhoramentos e acrescidos, pelos quais poderá exigir aumento no preço; se o credor não anuir, poderá o devedor resolver a obrigação”. Os cômodos nada mais são do que os proveitos ou melhoramentos do bem, compreendendo os frutos naturais por ele produzidos e as acessões oriundas de fato do devedor. 5) Responsabilidade do alienante por defeito oculto nas vendas de coisas conjuntas, pois, se o objeto do contrato for uma universalidade, ou melhor, um conjunto de coisas singulares não determinadas individualmente, como, p. ex. venda de um rebanho, de uma biblioteca. 6) Direito do comprador de recusar coisa vendida mediante amostra, por não ter sido entregue nas condições prometidas. (Art. 484 CCB/02). 7) Direito do adquirente de exigir, se o contrato tem por objeto venda de terras, o complemento da área, em caso de falta de correspondência entre a área efetivamente encontrada e as dimensões dadas,e, se isso não for possível, de reclamar a rescisão do negócio ou o abatimento do preço desde que a venda seja ad mensuram (CC. Art. 500). Página 56 / 176 8) Exoneração do adquirente de imóvel, que exibir certidão negativa de débito fiscal a que possa estar sujeito o bem adquirido, de qualquer responsabilidade por dívida anterior do imóvel por impostos, cabendo ao fisco exigi-las do transmitente. 9) Abolição da exclusão do rendimento tributável do lucro imobiliário até valor estipulado em legislação própria. 10) Nulidade de pleno direito, nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento de prestações, sendo a relação de consumo, das cláusulas que estabelecerem a perda total das prestações pagas em benefício do credor, que em razão de inadimplemento, pleitear a resolução contratual e a retomada do produto alienado (art. 53 da Lei nº 8.078/90). Referências: GOMES, Orlando. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2008. RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: dos contratos e das declarações unilaterais da vontade. De acordo com o novo Código Civil (Lei n. 10.406, de 10/01/2002). 30.ed. São Paulo: Saraiva, 2007. RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. Rio de Janeiro: Forense. VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos. v.2, Atlas: São Paulo, 2007. GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: contratos e atos unilaterais. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2008. v.3. Página 57 / 176 DIREITO CIVIL III – Contratos Profa. Ms. Janaína Machado Sturza Cláusulas Especiais da Compra e Venda Como vimos, o contrato de compra e venda é o mais freqüente e o mais importante de todos os contratos, pois aproxima os homens e fomenta a circulação de riquezas. Tão grande é a sua importância que o nosso legislador a coloca à frente de todas as demais obrigações convencionais. Sua origem remota está na evolução da permuta, o sistema de troca de objetos decorrentes de excedentes da produção. Igualmente, verificamos que a compra e venda está regrada no CC, a partir do artigo 481, que traz o seu conceito legal, a saber: Art. 481. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro. Da mesma forma, trouxemos o conceito doutrinário de compra e venda, no posto de vista de CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, que a define como sendo “o contrato em que uma pessoa (vendedor) se obriga a transferir a outra (comprador) o domínio de uma coisa corpórea ou incorpórea, mediante o pagamento de certo preço em dinheiro ou valor fiduciário correspondente.” Todavia ao contrato de compra e venda, havendo mútuo consentimento, podem as partes contratantes agregar condições ou cláusulas especiais, que mesmo não lhe retirando os caracteres essenciais, acabam por alterar a sua fisionomia, exigindo observância de normas particulares, visto que tais pactos subordinam os efeitos do contrato a evento futuro e incerto, tornando o negócio jurídico condicional, onde temos: a retrovenda ou cláusula de retrovendendo; b) a venda a contento ou pacto disciplicentiae e a sujeita a prova; c) a preempção ou preferência ou pactum protimiseos; d) a reserva de domínio ou pacto reservati domini; e e) a venda sobre documentos. Referidas cláusulas encontram o seu regramento jurídico do artigo 505 até o artigo 532, do Código Civil Brasileiro. Passemos a analisá-los: 1) Retrovenda: pela cláusula de retrovenda, o vendedor da coisa imóvel reserva-se o direito de recobrar, no prazo máximo de decadência de 3 (três) anos, o que vendeu, Página 58 / 176 restituindo o preço recebido, mais as despesas feitas pelo comprador, consoante se verifica do disposto no artigo 505 do Código Civil Brasileiro: Art. 505. O vendedor de coisa imóvel pode reservar-se o direito de recobrá-lo no prazo máximo de 3(três) anos, restituindo o preço recebido e reembolsando as despesas do comprador, inclusive as que, durante o período de resgate, se efetuaram com a sua autorização escrita, ou para a realização de benfeitorias necessárias. O Professor Silvio de Salvo Venosa ressalta que “a cláusula aplica-se unicamente aos imóveis. Trata-se de imposição inconveniente, que mantém a venda e a propriedade resolúvel, ao alvedrio do vendedor, durante certo prazo, que não poderá ultrapassar a três anos.” Prazo este que é decadencial, devendo ser respeitado para o exercício do “retrato” ou “resgate” da coisa sob pena de perda do direito. Referido doutrinador é ainda mais crítico, ao asseverar que “sabendo-se da importância das vendas imobiliárias para o patrimônio dos contratantes, resulta extremamente inconveniente essa cláusula, cuja franca utilidade facilmente percebida é mascarar empréstimos onzenários ou camuflar negócios não perfeitamente transparentes. Geralmente, a inserção desse pacto na venda de imóvel procura atender a dificuldades econômicas do vendedor, que as entende passageiras. Se era útil no passado para garantir o pagamento por parte do comprador nas vendas a prazo, o compromisso de compra e venda substituiu-a com ampla vantagem, sepultando definitivamente a utilidade da retrovenda.” Com efeito uma vez pactuada a retrovenda, a cláusula torna a propriedade resolúvel, visto que o exercício do direito acarreta na reposição das partes no estado anterior. Referido pacto deverá constar do mesmo instrumento da venda, pois se constar em documento autônomo, não será pacto adjeto, mas promessa de contratar outro negócio subordinado aos princípios da retrovenda. Vale dizer que se o pacto não contar do instrumento, não haverá como o terceiro adquirente tomar conhecimento. Washington de Barros Monteiro, acredita que a estipulação acha-se presentemente quase em desuso, porque o vendedor, utilizando-se dela para recobrar o imóvel, terá de reembolsar o comprador não só do preço, como de todos os gastos (despesas da escritura, ITBI, emolumentos do registro), além de perder, ele próprio, os dispêndios que realizou. O artigo 406, do Código Civil Brasileiro, estabelece que “se o comprador se recusar a receber as quantias a que faz jus, o vendedor, para exercer o direito de resgate, as depositará judicialmente.” Sendo que na hipótese de insuficiência do depósito judicial, o vendedor não será restituído no domínio da coisa, até e enquanto não for integralmente pago o comprador, consoante prevê o parágrafo único do mesmo artigo. Indaga-se a respeito de ser o valor corrigido, uma vez que não há previsão legal nesse Página 59 / 176 sentido? A doutrina é unânime em afirmar que a correção monetária deve ser aplicada ao preço a ser devolvido em face o exercício do retrato, sob pena de resultar em enriquecimento injustificado. Discute-se na doutrina a possibilidade de as partes fixarem na retrovenda um preço maior ao retrato, uma vez que o nosso Código Civil silenciou quanto a isto. Silvo de Salvo Venosa esclarece que os códigos italiano e português consideram nulo o que exceder do preço originalmente pago. Sendo que em razão do silêncio do nosso código a respeito, entende ser possível a contratação pelo preço maior ou menor. Todavia nessas hipóteses teríamos um negócio jurídico diverso da retrovenda, que estará desfigurada da tipicidade descrita na lei. O direito de resgate é intransmissível, não sendo suscetível de cessão por ato inter vivos, por ser personalíssimo do vendedor, mas passa a seus herdeiros ou legatários. Portanto, o exercício da retrovenda é cessível e transmissível por ato causa mortis. “Art. 507. O direito de retrato, que é cessível e transmissível a herdeiros e legatários, poderá ser exercido contra o terceiro adquirente.” CCB/02. Por último o artigo 508, do Código Civil Brasileiro, cuida do exercício da retrovenda quanto o direito couber a mais de uma pessoa, a saber: Art. 508. Se a duas ou mais pessoas couber o direito de retrato sobre o mesmo imóvel, e só uma o exercer, poderá o comprador intimar as outras para nele acordarem, prevalecendo o pacto em favor de quem haja efetuado o depósito, contanto que seja integral. 2) Venda a contento e venda sujeita a prova: Por essa cláusula de venda a contento, o comprador reserva-se o direito de rejeitar a coisa se não lhe aprouver, dependendo de sua exclusiva apreciação. Se não houver disposição contrária no contrato, a cláusula atribui direito potestativo ao comprador que não necessita justificar a eventual recusa. Como regra, não pode o vendedor opor-se ao desagrado manifestado pelo comprador. A rejeição pelo comprador não decorre de vício na coisa ou de sua má qualidade. A Prof. Maria Helena Diniz ressalta que “a compra e venda, qualquer que seja o seu objeto, comporta essa cláusula, inserida geralmente, no contrato de compra de gêneros que se costumam provar, medir, pesar ou experimentar antes de aceitos.” Assim, o comprador recebe a coisa e deverá prová-la, averiguando se apresenta às qualidades indicadas na oferta pelo vendedor. “Art. 509. A venda feita a contento do comprador entende-se realizada sob condição suspensiva, ainda que a coisa lhe tenha sido entregue; e não se reputará perfeita, enquanto o adquirente não manifestar seu agrado.” CCB/02 Página 60 / 176 “Art. 510. Também a venda sujeita a prova presume-se feita sob a condição suspensiva de que a coisa tenha as qualidades asseguradas pelo vendedor e seja idônea para o fim a que se destina.” CCB/02 Portanto, em regra, a venda contento e venda sujeita a prova são negócios jurídicos sob condição suspensiva; elas não se aperfeiçoam enquanto o comprador não se declara satisfeito; em ambas as hipóteses, de acordo com o artigo 511 do Código Civil de 2002, as obrigações do comprador são as de mero comodatário, enquanto não manifeste aceitá-la. Até esse ato, a coisa negocial pertence ao vendedor; até então, o comprador, como simples comodatário, porta-se, em relação a ela, como se lhe houvesse sido cedida a título de empréstimo. Washington de Barros Monteiro assevera que podem as partes, todavia, atribuir cunho resolutório à referida condição; nesse caso, efetuada a venda e operada a tradição, o domínio é transferido ao comprador; mas ela ficará desfeita se o adquirente, depois, de provar ou experimentar a coisa, devolvê-la ao vendedor, por não lhe convir ou não lhe agradar a aquisição. Portanto, quer suspensiva, quer resolutiva, a inserção da cláusula confere ao comprador o direito de a seu livre arbítrio, revogar ou desfazer o negócio. Vale dizer que a venda a contento ou sujeita à prova é estipulação em favor do comprador; a ele compete, pois, privativamente, a manifestação de agrado ou desagrado pela coisa adquirida. Sua palavra final é imperativa e indeclinável. Não havendo prazo estipulado para a declaração do comprador, o vendedor terá direito a intimá-lo judicial ou extrajudicialmente para que o faça em prazo improrrogável, consoante se vê do disposto no artigo 512. Cabe ressaltar que o artigo 49, do Código de Proteção de Defesa do Consumidor confere ao consumidor o direito de arrependimento quanto às compras feitas fora do estabelecimento comercial, consoante se vê: Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de sete dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou domicílio.” CDC “Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados. Página 61 / 176 3) Preempção ou preferência: segundo Caio Mário, a preempção ou preferência é “o pacto adjeto à compra e venda em que o comprador de coisa móvel ou imóvel fica com a obrigação de oferecê-la por meio de notificação judicial ou extrajudicial a quem lha vendeu, para que este use do seu direito de prelação em igualdade de condições com terceiro, no caso de pretender vendê-la ou dá-la em pagamento.” Art. 513. A preempção, ou preferência, impõe ao comprador a obrigação de oferecer ao vendedor a coisa que aquele vai vender, ou dar em pagamento, para que este use de seu direito de prelação na compra, tanto por tanto. O prazo decadencial para o exercício desse direito não poderá exceder a cento e oitenta dias, se móvel o bem, ou a dois anos, se imóvel (Art. 513, parágrafo único, CCB). A venda em que aparece tal cláusula é pura e simples, pois produz todos os seus efeitos, enquanto o adquirente não tiver intenção de revender a coisa ou dá-la em pagamento; condicional será tão-somente a revenda ao vendedor, que dependerá de pretender o comprador vendê-la ou dá-la em pagamento. É um pacto, portanto, em favor do aliente, que se reserva o direito de preferência caso o comprador pretenda vender novamente a coisa, sendo que aquele que exercer tal direito na forma do disposto no artigo 515, do CCB, deverá pagar mesmo preço em iguais condições. Vejamos: “Art. 515. Aquele que exerce a preferência está, sob pena de a perder, obrigado a pagar, em condições iguais, o preço encontrado, ou o ajustado.” Esse direito de preferência, pelo seu caráter pessoal, é intransmissível por ato inter vivos ou causa mortis, não passando aos herdeiros, consoante previsão contida no artigo 520, do CC. Maria Helena Diniz ressalta que há quem ache que esse dispositivo do Código Civil não se aplica ao direito de preferência do expropriado, que, então, seria intransmissível. A lei assegura o exercício do direito de preferência ao vendedor que tiver conhecimento de que a coisa vai ser vendida, consoante se vê do disposto no artigo 514, do CC. “O vendedor pode também exercer o seu direito de prelação, intimando o comprador, quando lhe constar que este vai vender a coisa.” Todavia, isto não impedira a realização da venda a terceiro, mas assegurará ao vendedor primitivo ser indenizado por perdas e danos, consoante se verifica do disposto no artigo 518, do Código Civil Brasileiro: Art. 518. Responderá por perdas e danos o comprador, se alienar a coisa sem ter dado ao vendedor ciência do preço e das vantagens que ela lhe oferecem. Responderá solidariamente o adquirente, se tiver procedido de má-fé. O exercício da preferência, inexistindo prazo estipulado, subordinar-se-á em um prazo de caducidade, que variará conforme a natureza do objeto; se este for móvel, será Página 62 / 176 de três dias; se imóvel, se sessenta dias, contados da data da oferta, ou seja, da data em que se der a comunicação ou notificação judicial ou extrajudicial do comprador ao vendedor (CC, art. 516). Se o direito de preempção não for exercido dentro desse prazo, caducará, visto implicar renúncia tácita àquele direito. Art. 516. Inexistindo prazo estipulado, o direito de preempção caducará, se a coisa for móvel, não se exercendo nos 3 (três) dias, e, se for imóvel, não se exercendo nos 60 (sessenta) dias subseqüentes à data em que o comprador tiver notificado o vendedor. Pelo Código Civil, art. 517, se se estipular o direito de preferência em favor de dois ou mais indivíduos em comum, ele terá de ser exercido, dentro de um certo prazo, em relação à coisa no seu todo, por não comportar fragmentação. E, se algum dos favorecidos vier a perdê-lo ou não mais quiser exercê-lo, os demais poderão utilizá-lo, pois ficarão investidos do poder de aquisição da coisa preempta em sua totalidade e nunca na proporção de seu quinhão. Por último, resta a análise do artigo 519, do Código Civil Brasileiro, que trata da expropriação pelo Poder Público, vejamos: Art. 519. Se a coisa expropriada para fins de necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, não tiver o destino para que se desapropriou, ou não for utilizada em obras ou serviços públicos, caberá ao expropriado direito de preferência, pelo preço atual da coisa. Pelo previsto no artigo 1º, do Decreto no. 20.910/32, havendo violação do direito de preferência do expropriado, terá este o prazo de cinco anos para mover ação de retrocessão, pleiteando perdas e danos, que consistem na diferença entre o valor do bem no instante em que deveria ter sido oferecido e o valor pelo qual o expropriado o teria recebido se o desapropriante tivesse respeitado o seu direito de preferência. 4) Reserva de Domínio: Na venda com reserva de domínio, o alienante reserva para si o domínio da coisa vendida até o momento no qual todo o preço é pago. Pacto adjeto muito empregado em passado recende, para vendas a prazo, com a difusão das vendas a prestação, hoje tem sua utilidade diminuída perante a alienação fiduciária em garantia, e do leasing à disposição das instituições financeiras e administradoras de consórcios, de roupagem mais moderna e atuante, no entendimento de Silvio de Salvo Venosa. O pacto adjeto de reserva de domínio está regrado pelo Código de Processo Civil a partir do artigo 1.070 e no Código Civil Brasileiro do artigo 521 ao artigo 528. Tem-se a reserva de domínio quando se estipula, em contrato de compra e venda, em regra de coisa móvel infungível (art. 523, CCB), que o vendedor reserva para si a sua propriedade e a posse indireta até o momento em se realize o pagamento integral do preço (art. 521, Página 63 / 176 CCB). Dessa forma, o comprador só adquirirá o domínio da coisa se integralizar o preço, momento em que o negócio terá eficácia plena (art. 524, 1ª parte, CCB). A tradição, portanto, não transfere a propriedade, mas tão-somente a posse direta e precária da coisa ao comprador. Art. 521. Na venda de coisa móvel, pode o vendedor reservar para si a propriedade, até que o preço esteja integralmente pago. Art. 524. A transferência de propriedade ao comprador dá-se no momento em que o preço esteja integralmente pago. Todavia, pelos riscos da coisa responde o comprador, a partir de quando lhe foi entregue. Com efeito estamos diante de uma condicional suspensiva, em que o evento incerto e futuro é o pagamento integral do preço; suspende-se a transmissão da propriedade até que se tenha o implemento da condição, isto é, o pagamento integral do preço ajustado. Efetuado o pagamento, a transferência do domínio operar-se-á automaticamente. O objeto da venda com reserva de domínio precisará apresentar identificação singular e caracterização perfeita e definida para que não suscite dúvida. Ainda, este pacto deverá necessariamente por escrito e depende de registro para ser oponível a terceiros, consoante se verifica dos seguintes dispositivos legais: Art. 522. A cláusula de reserva de domínio será estipulada por escrito e depende de registro no domicílio do comprador para valer contra terceiros. Art. 523. Não pode ser objeto de venda com reserva de domínio a coisa insuscetível de caracterização perfeita, para estremá-la de outras congêneres. Na dúvida, decide-se a favor do terceiro adquirente de boa-fé. O vendedor somente executará a cláusula de reserva de domínio após constituir o comprador em mora, mediante protesto do título ou interpelação judicial. Constituído em mora o comprador, poderá o vendedor acioná-lo para cobrar as prestações vencidas e vincendas e tudo o que for devido ou, ainda, para recuperar a posse do bem vendido mediante apreensão liminar (art. 1.071, CPC). O vendedor poderá, optando pela recuperação do bem, se quiser reter as prestações já pagas até o momento suficiente para cobrir a depreciação do valor da coisa, as despesas, judiciais ou extrajudiciais, feitas e o mais que de direito lhe for devido, devolvendo o excedente ao comprador, e o que faltar lhe será cobrado processualmente, consoante se verifica dos artigos 525, 526 e 527, do CCB. Art. 525. O vendedor somente poderá executar a cláusula de reserva de domínio após constituir o comprador em mora, mediante protesto do título ou interpelação judicial.” Art. 526. Verificada a mora do comprador, poderá o vendedor mover contra ele a competente ação de cobrança das prestações vencidas e vincendas e o mais que lhe for Página 64 / 176 devido; ou poderá recuperar a posse da coisa vendida. Art. 527. Na Segunda hipótese do artigo antecedente, é facultado ao vendedor reter as prestações pagas até o necessário para cobrir a depreciação da coisa, as despesas feitas e o mais que de direito lhe for devido. O excedente será devolvido ao comprador; e o que faltar lhe será cobrado, tudo na forma da lei processual. Por último, o Código Civil Brasileiro, traz um dispositivo que na verdade se reveste de uma garantia ao agente financeiro, no artigo 528, que diz: Art. 528. Se o vendedor receber o pagamento à vista, ou, posteriormente, mediante financiamento de instituição do mercado de capitais, a esta caberá exercer os direitos e ações decorrentes do contrato, a benefício de qualquer outro. A operação financeira e a respectiva ciência do comprador constarão do registro do contrato. 5) Venda sobre documentos: A venda sobre ou contra documentos decorrente de usos e costumes vem sendo muito utilizada nos negócios de importação e exportação, ou seja, nas vendas internacionais, ligando-se à técnica de pagamento denominada crédito documentado. Tem por escopo agilizar as compras mercantis de mercadorias. O vendedor, ao remeter ou entregar o documento (título representativo da mercadoria) ao comprador, exonera-se da obrigação e tem o direito de receber o preço. O comprador ao recebê-lo poderá exigir a entrega da mercadoria nele especificada pelo transportador, e, se tal mercadoria estiver na alfândega ou no armazém, poderá levantá-la. O Código Civil Brasileiro regra tal modalidade nos artigos 529 a 532. Nela se substitui a tradição da coisa pela entrega de seu título representativo e dos documentos exigidos pelo contrato, ou, no silêncio deste, pelos usos (art. 529, CCB). Art. 529. Na venda sobre documentos, a tradição da coisa é substituída pela entrega do seu título representativo e dos outros documentos exigidos pelo contrato ou, no silêncio deste, pelos usos.” CCB/02 Parágrafo Único. Achando-se a documentação em ordem, não pode o comprador recusar o pagamento, a pretexto de defeito de qualidade ou do estado da coisa vendida, salvo se o defeito já houver sido comprovado. O pagamento, salvo estipulação em contrário, deverá ser efetuado na data e no local da entrega dos referidos documentos (CC, art. 530). Art. 531. Se entre os documentos entregues ao comprador figurar apólice de seguro que cubra os riscos do transporte, correm estes à conta do comprador, salvo se, ao ser concluído o contrato, tivesse o vendedor ciência da perda ou avaria da coisa. Essa obrigação será imputada ao alienante se, ao tempo da conclusão do contrato, tinha ele ciência da perda ou da avaria da coisa, prevalecendo o princípio da boa-fé em Página 65 / 176 favor do adquirente. Finalmente, estabelece o artigo 532, do Código Civil Brasileiro de 2002 que: “estipulado o pagamento por intermédio de estabelecimento bancário, caberá a este efetuá-lo contra entrega dos documentos, sem obrigação de verificar a coisa vendida, pela qual não responde”. Acrescenta ainda no parágrafo único do citado artigo “Nesse caso, somente após a recusa do estabelecimento bancário a efetuar o pagamento, poderá o vendedor pretendê-lo, diretamente do comprador.” Referências: GOMES, Orlando. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2008. RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: dos contratos e das declarações unilaterais da vontade. De acordo com o novo Código Civil (Lei n. 10.406, de 10/01/2002). 30.ed. São Paulo: Saraiva, 2007. RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. Rio de Janeiro: Forense. VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos. v.2, Atlas: São Paulo, 2007. GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: contratos e atos unilaterais. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2008. v.3. Página 66 / 176 DIREITO CIVIL III – Contratos Profa. Janaína Machado Sturza Troca ou Permuta: Troca é o contrato pelo qual as partes se obrigam a dar uma coisa por outra, que não seja dinheiro. É diferente da compra e venda apenas porque, nesta, a prestação de uma das partes consiste em dinheiro. O contrato de troca ou permuta perdeu, no entanto, a sua importância, historicamente, com o surgimento da moeda, quando as coisas deixaram de ser permutadas por outras e passaram a ser trocadas por dinheiro, surgindo assim o contrato de compra e venda, que teve rápida ascensão e tornou-se responsável pelo desenvolvimento das nações. Em suma, tudo o que pode ser vendido pode ser trocado. A permuta pode envolver coisas distintas e quantidades diversas. Assim como ocorre com a compra e venda, a troca é negócio jurídico bilateral e oneroso, possuindo apenas caráter obrigacional: gera para os permutantes a obrigação de transferir, um para o outro, a propriedade de determinada coisa. É também consensual, e não real, porque se aperfeiçoa com o acordo de vontades, independente da tradição. É solene só por exceção,quando tem por objeto bens imóveis (CC, art. 108). É comutativo, eis que como as prestações são certas e permitem às partes antever as vantagens e desvantagens que dele podem advir. Regulamentação jurídica: o legislador, considerando a semelhança existente entre a permuta e a compra e venda determinou, no art, 533 do código Civil, que se aplicassem àquela todas as disposições referentes a esta, com duas modificações: a) salvo disposição em contrário, cada um dos contratantes pagará por metade as despesas com o instrumento da troca; b) é anulável a troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes, sem consentimento expresso dos outros descendentes e cônjuge do alienante. Contrato estimatório ou de consignação: Pelo contrato de consignação ou contrato estimatório, uma parte, denominada consignante, faz a entrega a outra, denominada consignatário, de coisas móveis, a fim de que esta conclua a venda em um prazo e preço fixados. Muito utilizado e difundido na vida negocial, não foi regulado pelo Código Civil de 1916. Considerado pela teoria tradicional como cláusula especial da compra e venda, merece, no entanto, disciplina autônoma, como fez o atual Código Civil nos artigos 534 a 537. Página 67 / 176 Natureza jurídica: Embora apresente afinidades com o mandato, o consignatário não representa o consignante na venda, de modo que atua em nome próprio com relação à terceiro. O consignante mantém o domínio das coisas consignadas, transferindo apenas a posse ao consignatário (art. 534 CC). É ampla a função econômica desse contrato no meio consumidor, sendo utilizado com freqüência para bens duráveis como veículos usados, eletrodomésticos, equipamentos de informática, maquinaria, jóias, artigos de moda e arte. É essencial que o consignante entregue a coisa móvel ao consignatário, bem como sua disponibilidade (art. 537 CC). Ao consignatário é conferido o direito de dispor da coisa durante certo prazo. A venda da coisa a terceiro é o efeito natural esperado do negócio. Como o preço estimado é elemento fundamental do contrato, é de supor que na conclusão do contrato já esteja estabelecido. O local de pagamento e o da entrega da coisa, no silêncio do contrato, devem ser o do domicílio do devedor, o consiganatário, aplicando-se a regra geral. Doação: O CC no artigo 538, traz o conceito legal da doação, a saber: “Art. 538. Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para a de outra”. Da leitura do conceito legal podemos verificar as seguintes características: a) a natureza contratual, tendo em vista que a doação requer a intervenção de duas partes, o doador e o donatário, cujas vontades hão de se completar para que se aperfeiçoe o negócio jurídico. Exige-se a mesma capacidade ativa que a requerida para os contratos em geral. A doação é contrato, em regra, gratuito, unilateral e formal ou solene. Gratuito, porque constitui uma liberalidade, não sendo imposto qualquer ônus ou encargo ao beneficiário. Será, no entanto, oneroso, se houver imposição de algum encargo. Unilateral, porque cria obrigação para somente uma das partes. Contudo, será bilateral, quando modal ou com encargo. Formal, porque se aperfeiçoa com o acordo de vontades entre doador e donatário e a observância de forma escrita, independentemente da entrega da coisa. Mas a doação verbal (de bens móveis de pequeno valor) é de natureza real, porque o seu aperfeiçoamento depende incontinenti da tradição destes (CC, art. 541, parágrafo único): “Art. 541. A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular. Parágrafo único. A doação verbal será válida, se, versando sobre bens móveis e de pequeno valor, se lhe seguir incontinenti a tradição.” Orlando Gomes bem esclarece a questão: Página 68 / 176 “Se a doação é um contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra, que os aceita, poder-se-ia colher a falsa impressão de que, pelo contrato, se transfere a propriedade dos bens doados, mas na realidade na produz esse efeito. A propriedade do bem doado somente se transmite pela tradição, se móvel, ou pela transcrição, se imóvel. O contrato é apenas o título, a causa da transferência, não bastando, por isso só, para operá-la, Nesse sentido é que se diz ser a doação contrato translativo do domínio. São obrigacionais os efeitos que produz. O doador obriga-se a transferir do seu patrimônio bens para o donatário, mas este não adquire a propriedade senão com a tradição, ou a transcrição. Entre nós, o domínio das coisas não se adquire solo consensu, regra válida tanto para a compra e venda e a permuta como para a doação.” b) o animus donandi, a principal característica e elemento subjetivo representado pela intenção de fazer uma liberalidade. O animus donandi ou liberalidade é elemento essencial para a configuração da doação, tendo o significado de ação desinteressada de dar a outrem, sem estar obrigado, parte do próprio patrimônio; c) a transferência de bens para o patrimônio do donatário, acarretando a diminuição do patrimônio do doador e entendido como o elemento objetivo. A vantagem há de ser de natureza patrimonial, bem com deve haver aumento de um patrimônio à custa de outro. É necessário que haja uma relação de causalidade entre o empobrecimento, por liberalidade, e o enriquecimento. d) a aceitação do donatário. A aceitação é indispensável para o aperfeiçoamento da doação e pode ser expressa, tácita, presumida ou ficta. Em geral vem expressa no próprio instrumento. Mas não é imprescindível que seja manifestada simultaneamente à doação, podendo ocorrer posteriormente. É tácita quando revelada pelo comportamento do donatário. Este não declara expressamente que aceita o imóvel que lhe foi doado, mas, por exemplo, recolhe o imposto devido, demonstrando, com isso, a sua adesão ao ato do doador, ou, embora não declare aceitar a doação de um veículo, passa a usá-lo e providencia regularização da documentação, em seu nome. A aceitação é presumida pela lei: a) quando o doador fixa prazo ao donatário, para declarar se aceita, ou não, a liberalidade. Desde que o donatário, ciente do prazo, não faça, dentro dele, a declaração, entender-se-á que aceitou, consoante se vê do art. 539 do CC. Art. 539. O doador pode fixar prazo ao donatário, para declarar se aceita ou não a liberalidade. Desde que o donatário, ciente do prazo, não faça, dentro dele, a declaração, entender-se-á que aceitou, se a doação não for sujeita a encargo. O silêncio atua como manifestação da vontade. Esta presunção só se aplica às doações puras, que não trazem ônus para o aceitante; Página 69 / 176 b) quando a doação é feita em contemplação de casamento futuro com certa e determinada pessoa e o casamento se realiza. A celebração gera presunção de aceitação, não podendo ser argüida a sua falta (CC, art. 546), a saber: Art. 546. A doação feita em contemplação de casamento futuro com certa e determinada pessoa, quer pelos nubentes entre si, quer por terceiro a um deles, a ambos, ou aos filhos que, de futuro, houverem um do outro, não pode ser impugnada por falta de aceitação, e só ficará sem efeito se o casamento não se realizar. A aceitação ou consentimento será ficta para a doação pura feita ao incapaz. A dispensa da aceitação se dá em função do caráter benéfico da doação feita sem qualquer encargo aos incapazes, consoante se verifica do disposto no artigo 543 do CC:“Art. 543. Se o donatário for absolutamente incapaz, dispensa-se a aceitação, desde que se trate de doação pura.” Refira-se que não há restrição à doação de ascendentes para descendentes, pelo que não se necessita da anuência dos demais descendentes ou do cônjuge, importando em adiantamento de legítima a doação de pai a filho ou de um cônjuge a outro, consoante previsto no artigo 544 do CC.“Art. 544. A doação de ascendentes a descendentes, ou de um cônjuge a outro, importa adiantamento do que lhes cabe por herança.” Ainda, como se pode notar, marido e mulher podem fazer doações recíprocas quando o regime de casamento for diverso do regime da comunhão universal. Todavia a doação de cônjuge adúltero ao seu cúmplice é proibida, podendo ser anulada pelo outro cônjuge, consoante previsto no artigo 550, “A doação do cônjuge adúltero ao seu cúmplice pode ser anulada pelo outro cônjuge, ou por seus herdeiros necessários, até dois anos depois de dissolvida a sociedade conjugal“. Outra restrição que se pode verificar, diz respeito a menores que estão impedidos de doar. No entanto, quando o menor estiver autorizado a casar, poderá fazer doação ao outro nubente, no pacto antenupcial, ficando a eficácia do ajuste condicionada à aprovação de seu representante legal, consoante se vê do disposto no artigo 1.654: “A eficácia do pacto antenupcial, realizado por menor, fica condicionada à aprovação de seu representante, legal, salvo as hipóteses de regime obrigatório de separação de bens”. Quanto à capacidade passiva, ou seja, de quem pode receber a doação, todos aqueles que podem praticar os atos da vida civil a terão, sejam pessoas naturais ou pessoas jurídicas de direito privado, a exceção do nascituro que dependerá da aceitação de seu representante legal: “Art. 542. A doação feita ao nascituro valerá, sendo aceita pelo seu representante legal.” As pessoas jurídicas poderão aceitar doações na conformidade das disposições especiais a elas concernentes. 1. Objeto da doação: O art. 538 do CC refere transferência de "bens ou vantagens", pelo que temos por objeto da doação a prestação de dar coisa ou vantagens que estejam no comércio (in Página 70 / 176 commercium), ou seja, qualquer coisa que tenha expressão econômica e possa ser alienada. Incluem-se os bens móveis e imóveis, corpóreos e incorpóreos, consumíveis e inconsumíveis. A coisa alheia não pode ser objeto de doação, mas a aquisição posterior do domínio convalida o ato, como estatui o art. 1º do art. 1.268 do Código Civil. Art. 1268. Feita por quem não seja proprietário, a tradição não aliena a propriedade, exceto se a coisa, oferecida ao público, em leilão ou estabelecimento comercial, for transferida em circunstâncias tais que, ao adquirente de boa-fé, como a qualquer pessoa, o alienante se afigurar dono.” “§ 1º Se o adquirente estiver de boa-fé e o alienante adquirir depois a propriedade, considera-se realizada a transferência desde o momento em que ocorreu a tradição. Todavia, encontramos divergência na doutrina a respeito da doação de bens futuros. Destacamos o entendimento de ORLANDO GOMES, de que a doação de coisa futura, considerada como tal a que ainda não ingressou no patrimônio do doador, é proibida, "pois ninguém pode transferir do seu patrimônio o que neste não está". Já AGOSTINHO ALVIM, por exemplo, com entendimento contrário, afirma que a "coisa futura pode ser objeto de doação: ex. os frutos que eu colher este ano, o primeiro bezerro que nascer de tal vaca que me pertence. Isto não é promessa de doar, e sim, doação condicional: se colher, se nascer.” Com mesmo entendimento temos CAIO MÁRIO, que assevera que "não é, porém, vedada a doação de bens futuros. O ato terá o caráter de contrato condicional, e não chegará a produzir nenhum efeito, se a coisa doada não vier a ter existência e disponibilidade por parte do doador. Mas não valerá se a doação tiver natureza sucessória, direta ou indireta, como se se referir aos bens que tenha o doador por ocasião de sua morte, ou os bens que o doador espera herdar de pessoa viva". Também CARVALHO DE MENDONÇA assevera: "Em rigor, porém, as coisas futuras, com exceção das sucessões ainda não abertas, podem, em nosso direito, ser objeto de um contrato". 2. Espécies de doação: A doação poderá ser: a) Pura e simples ou típica – quando o doador não impõe nenhuma restrição ou encargo ao beneficiário, nem subordina a sua eficácia a qualquer condição. O ato constitui uma liberalidade plena. b) Onerosa, modal, com encargo ou gravada – aquela em que o doador impõe ao donatário uma incumbência ou dever. Assim, há doação onerosa, por exemplo, quando o autor da liberalidade sujeita o município donatário a construir uma creche ou escola na área urbana doada. O encargo pode ser imposto a benefício do doador, de terceiro, ou do interesse geral (art. 553). O seu cumprimento, em caso de mora, pode ser exigido judicialmente, salvo quando instituído em favor do próprio donatário, valendo, nesse caso, como mero conselho ou recomendação (ex.: Página 71 / 176 “dou-te tal importância para comprares tal imóvel”). Doação com reserva de usufruto não é onerosa, porém pura e simples. Art. 553. O donatário é obrigado a cumprir os encargos da doação, caso forem a benefício do doador, de terceiro, ou do interesse geral. Parágrafo único. Se desta última espécie for o encargo, o Ministério Público poderá exigir sua execução, depois da morte do doador, se este não tiver feito. Portanto, tem legítimo interesse para exigir o cumprimento o doador e o terceiro, aplicandose as regras da estipulação em favor de terceiro, bem como o Ministério Público; este, somente se o encargo foi imposto no interesse geral e o doador já faleceu sem tê-lo feito. Mas somente o doador pode pleitear a revogação da doação. Não perde o caráter de liberalidade o que exceder o valor do encargo imposto. Assim, se o bem doado vale R$ 100.000,00 e o encargo exige o dispêndio de R$ 20.000,00. Preceitua o art. 137 do CC que se considera “não escrito o encargo ilícito ou impossível, salvo se constituir o motivo determinante da liberalidade, de caso em que se invalida o negócio jurídico”. Assim, por exemplo, se a doação de um imóvel é feita para que o donatário nele mantenha casa de prostituição (atividade ilícita), sendo esse o motivo determinante ou a finalidade específica da liberalidade, será invalidado todo o negócio jurídico. E o art. 441, parágrafo único, manda aplicar às doações oneradas de encargo a teoria dos vícios redibitórios. c) Remuneratória - É a feita em retribuição a serviços prestados, cujo pagamento não pode ser exigido pelo donatário. É o caso, por exemplo, do cliente que não paga serviços prestados por seu médico, mas quando a ação de cobrança já estava prescrita; e, ainda, do que faz uma doação a quem lhe salvou a vida ou lhe deu apoio em momento de dificuldade. Se o valor pago exceder o dos serviços prestados, o excesso “não perde o caráter de liberalidade”, isto é, de doação pura (CC, art. 540). Sendo o motivo determinante recompensar serviços ou favores prestados ao doador, na parte correspondente à retribuição dos serviços, o ato, em verdade, não é doação, mas pagamento. Vejamos o disposto no artigo 540, do Código Civil Brasileiro: Art. 540. A doação feita em contemplação do merecimento do donatário não perde o caráter de liberalidade, como não o perde a doação remuneratória, ou a gravada, no excedente ao valor dos serviços remunerados ou ao encargo imposto. Na doação remuneratória não há um dever jurídico exigível pelo donatário. Todavia, o doador sente-se no dever moral de remunerá-lo em virtude da prestação de um serviço que aquele lhe prestou e, por alguma razão pessoal, não exigiu o co-respectivo ou a ele renunciou. d) Mista – É aquela em que se procura beneficiar por meio de um contrato de caráter oneroso, representada pela inserção de liberalidade em alguma outra modalidade de contrato (venda a preço Página 72 / 176 vil ou irrisório). Embora haja a intenção de doar, existe um preço fixado, caracterizando a venda. Pode também ser verificada, na aquisição de um bem por preço superior ao valor real, onde o sobrepreço inspira-se na liberalidade que o adquirente deseja praticar. e) Em contemplação do merecimento do donatário (contemplativa ou meritória) – Configurase quando o doador menciona, expressamente, o motivo da liberalidade, dizendo, por exemplo, que a faz porque o donatário ter determinada virtude, ou porque é seu amigo, consagrado profissional ou renomado cientista (a gratificação pecuniária ao vencedor do Prêmio Nobel, v.g.) etc. Segundo dispõe a primeira parte do art. 540 do Código Civil Brasileiro, antes transcrito, a doação é pura e como tal se rege, não exigindo que o donatário faça por merecer a dádiva. f) Feita ao nascituro – dispõe o art. 542 do Código Civil Brasileiro que tal espécie de doação “valerá, sendo aceita pelo seu representante legal”. Pode o nascituro ser contemplado com doações, tendo em vista que o art. 2° do mesmo diploma civil, põe a salvo os seus direitos desde a concepção. A aceitação será manifestada pelos pais, ou por seu curador se o pai falecer e a mãe não detiver o poder familiar (art. 1.779), neste caso com autorização judicial (CC, art. 1.748, II, c.c. o art. 1.774). Sendo o titular de direito eventual, sob condição suspensiva, caducará a liberalidade, se não nascer com vida. A aceitação do representante legal do nascituro não torna o contrato de doação definitivamente válido. A validade deve ser entendida nos limites do direito expectativo: condicionada ao nascimento com vida. Enquanto perdurar o estado de nascituro são produzidos os efeitos jurídicos da doação, antecipadamente. O nascimento resolve o estado de incerteza e a doação produz todos os efeitos, complementando os anteriores, sem necessidade de recurso à retroatividade. g) Em forma de subvenção periódica – Trata-se de uma pensão, como favor pessoal ao donatário, cujo pagamento termina com a morte do doador, não se transferindo a obrigação a seus herdeiros, salvo se o contrário houver, ele próprio, estipulado, consoante disposto no artigo 545 do Código Civil Brasileiro: Art. 545. A doação em forma de subvenção periódica ao beneficiado extingue-se morrendo o doador, salvo se este outra coisa dispuser, mas não poderá ultrapassar a vida do donatário. A periodicidade é definida pelo doador, sendo comuns a mensal e a anual, como ocorre nas contribuições a entidades sem fins lucrativos. Mas pode ser adotada qualquer outra. Página 73 / 176 h) Em contemplação de casamento futuro – Constitui liberalidade realizada em consideração às núpcias próximas do donatário com certa e determinada pessoa. A sua eficácia subordina-se a uma condição suspensiva: a realização do casamento. Dispensa aceitação, que se presume da celebração. Art. 546. A doação feita em contemplação de casamento futuro com certa e determinada pessoa, quer pelos nubentes entre si, quer por terceiro a um deles, a ambos, ou aos filhos que, de futuro, houverem um do outro, não pode ser impugnada por falta de aceitação, e só ficará sem efeito se o casamento não se realizar. O dispositivo permite tal espécie de doação quer pelos nubentes entre si, quer por terceiro a um deles, a ambos, ou a dos filhos que, de futuro, houver um do outro. Pode ser beneficiada, portanto, a prole eventual do futuro casal. Neste caso, são duas as condições suspensivas: se o casamento se realizar e se os filhos nascerem com vida. A doação à prole futura insuscetível de revogação por ingratidão, por impossibilidade lógica, sendo que a praticada pelos futuros pais não autoriza a revogação. Frustrando-se o casamento ou se a futura prole se inviabilizar, o nubente deverá devolver a coisa, co os efeitos de possuidor de boa-fé. A doação propter nuptias não se resolve pela separação, nem podem os bens doados para casamento ser reivindicados pelo doador por ter o donatário enviuvado ou divorciado e passado a novas núpcias. i) Entre cônjuges – Estatui o art. 544 do Código Civil Brasileira: “Art. 544 – A doação de ascendentes a descendentes ou de um cônjuge a outro, importa adiantamento do que lhes cabe por herança.” j) Em comum a mais de uma pessoa (conjuntiva) – Quando a doação é feita em comum a várias pessoas, entende-se distribuída entre os beneficiados, “por igual”. Estabelece-se, assim, uma obrigação divisível. A regra é prevista no art. 551 do Código Civil Brasileiro, Art. 551. Salvo declaração em contrário, a doação em comum a mais de uma pessoa entende-se distribuída entre elas por igual. Parágrafo único. Se os donatários, em tal caso, forem marido e mulher, subsistirá na totalidade a doação para o cônjuge sobrevivo. k) De ascendentes a descendentes – art. 544 do Código Civil Brasileiro antes transcrito, prescreve que a doação de ascendentes a descendentes “importa adiantamento do que lhes cabe por herança”. Estes são obrigados a conferir, no inventário do doador, por meio de colação, os bens recebidos, pelo valor que lhes atribuir o ato de liberalidade ou a estimativa feita naquela época (CC, art. 2.004, § 1°) para que sejam igualados os quinhões dos herdeiros necessários, salvo se o ascendente os dispensou dessa exigência, determinando que saiam de sua metade disponível, contanto que não a excedam, computado o seu valor ao tempo da doação (CC, arts 2.002 e 2.005). Página 74 / 176 SILVIO RODRIGUES observa que, para a liberalidade beneficiar um filho em detrimento dos outros, “é mister que o doador a inclua em sua quota disponível, com expressa menção de que o donatário fica dispensado da colação. Caso isso não ocorra, entende-se que a doação do pai ao filho nada mais é do que o adiantamento daquilo que por morte do doador o donatário receberia”. l) Inoficiosa - É a que excede o limite do doador, “no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento”. O art. 549 do Código Civil Brasileiro declara “nula” somente a parte que exceder tal limite, e não toda a doação. “Art. 549. Nula é também a doação quanto à parte que exceder à de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento.” Vale dizer que havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor da metade de seus bens, pois a outra “pertence de pleno direito” aos referidos herdeiros (CC, art. 1.846). O art. 549 visa preservar, pois, a “legítima” dos herdeiros necessários.Só tem liberdade plena de testar e, portanto, de doar quem não tem herdeiros dessa espécie, a saber: descendentes, ascendentes e cônjuge. m) Com cláusula de retorno ou reversão – o art. 547 do Código Civil Brasileiro permite que o doador estipule o retorno “ao seu patrimônio” dos bens doados, “se sobreviver ao donatário”. “Art. 547. O doador pode estipular que os bens doados voltem ao seu patrimônio, se sobrevir ao donatário.” Essa cláusula configura condição resolutiva expressa e revela o propósito do doador de beneficiar somente o donatário e não os herdeiros deste, sendo, portanto, intuitu personae. A cláusula de reversão só terá eficácia se o doador sobreviver ao donatário. Se morrer antes deste, deixa de ocorrer a condição e os bens doados incorporam-se definitivamente ao patrimônio do beneficiário, transmitido-se, por sua morte, aos seus próprios herdeiros. A reversão somente poderá ocorrer em favor do próprio doador, não sendo possível convencioná-la em favor de terceiro, consoante prescreve o parágrafo único daquele artigo: “Parágrafo único. Não prevalece cláusula de reversão em favor de terceiro”. Nada impede que se convencione a reversão do bem, ainda vivo o donatário, pois nada há de ilícito, ou de contrário ao nosso sistema, determinar que uma doação se resolva, após o decurso de certo tempo ou verificada certa condição. n) Manual – É a doação verbal de “bens móveis e de pequeno valor”. Será válida “se lhe seguir incontinenti a tradição” (CC, art. 541, parágrafo único). A doação é contrato formal, porque a lei Página 75 / 176 exige a forma pública, quando tem por objeto bens imóveis, e o instrumento particular, quando versa sobre bens móveis de grande valor (art. 541, caput), aperfeiçoando-se com o acordo de vontades, independentemente da entrega da coisa. Entretanto, a doação verbal constitui exceção a regra, desde que se lhe siga, incontinenti, a tradição. Geralmente constitui presente de casamento ou de aniversário, homenagem ou demonstração de estima. o) Feita a entidade futura – Dispõe o art. 554 do Código Civil Brasileiro que a doação a “entidade futura”, portanto inexistente, “caducará se, em dois anos esta não estiver constituída regularmente”. Presume-se a aceitação com a existência da entidade donatária. O prazo para a sua constituição é decadencial e de dois anos: não se prorroga nem se interrompe. “Art. 554. A doação à entidade futura caducará se, em dois anos, esta não estiver constituída regularmente.” 3. Restrições legais: A lei impõe algumas limitações à liberdade de doar, visando preservar o interesse social, o interesse das partes e de terceiro. Proíbe, assim: a) Doação pelo devedor já insolvente, ou por ela reduzido à insolvência por configurar fraude contra credores, podendo a sua validade ser impugnada por meio da ação pauliana, sem a necessidade de comprovar conluio (consilium fraudis) entre doador e donatário. O art. 158 do Código Civil, com efeito, presume fraudulentos os “negócios de transmissão gratuita de bens, se os praticar o devedor já insolvente, ou por eles reduzido à insolvência”. Somente quem não tem dívidas insolúveis tem a faculdade de fazer liberalidades (nemo liberalis nisi liberatus). A regra busca proteger os credores do doador. Se as dívidas deste superam o ativo, ou seja, o seu patrimônio, caracterizando o estado de insolvência, a doação constitui inaceitável liberalidade realizada com direito alheio. b) Doação da parte inoficiosa. Como referido anteriormente o art. 549 do Código Civil Brasileiro declara nula “a doação quanto à parte que exceder à de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento” c) Doação de todos os bens do doador ou doação universal. Não há nosso ordenamento jurídico a doação universal, consoante se pode verificar do disposto no artigo 548 do Código Civil Brasileiro:“Art. 548. É nula a doação de todos os bens sem reserva de parte, ou renda suficiente para a subsistência do doador.” Página 76 / 176 Não haverá restrição se este tiver alguma fonte de renda ou reservar para si o usufruto dos referidos bens, ou de parte deles, pois o que o legislador não permite é doação universal (omnium bonorum) sem que o doador conserve o necessário para assegurar a sua sobrevivência. A limitação visa proteger o autor de liberalidade tão ampla , impedido que, por sua imprevidência, fique reduzido à miséria, bem como a sociedade, evitando que o Estado tenha de amparar mais um carente . Não basta que o donatário se comprometa a assisti-lo, moral e materialmente. A nulidade recai sobre a totalidade dos bens, mesmo que o doador seja rico e a nulidade de uma parte baste para que viva bem. d) Doação do cônjuge adúltero a seu cúmplice. Também como referido anteriormente o art. 550 do Código Civil Brasileiro prescreve que essa doação “pode ser anulada pelo outro cônjuge, ou por seus herdeiros necessários, até dois anos depois de dissolvida a sociedade conjugal”. Tal proibição tem o propósito de proteger a família e repelir o adultério, que constitui afronta à moral e aos bons costumes. A doação não é nula, mas anulável, pois não pode ser decretada de ofício pelo juiz. A lei limita as pessoas que podem alegá-la: o cônjuge inocente e os herdeiros necessários. Sujeito passivo da ação é o donatário, cúmplice do adultério, ou seus sucessores. A proibição não alcança o cônjuge separado ou divorciado. Assim, será válida a doação se realizada após a separação judicial e antes da decretação do divórcio. Igualmente não se aplica a restrição quando o donatário inicia a relação concubinária após a efetivação da doação. 4. Da revogação da doação: O artigo 555 do Código Civil Brasileiro prescreve que a doação pode ser revogada por ingratidão do donatário, ou por inexecução do encargo”, sendo que não pode o doador renunciar antecipadamente o direito de revogá-la, consoante se vê dos disposto no artigo 556, do mesmo diploma legal: “Art. 556. Não se pode renunciar antecipadamente o direito de revogar a liberalidade por ingratidão do donatário”. a) Revogação por descumprimento do encargo: Se o doador fixa prazo para o cumprimento do encargo, a mora se dá, automaticamente, pelo seu vencimento. Não havendo termo, começa ela desde a “interpelação judicial ou extrajudicial” (art. 397 e parágrafo único), devendo ser fixado prazo razoável para a sua execução. Só depois de esgotado este, ou o fixado pelo doador, começa a fluir o lapso prescricional para a ação revocatória da doação. A força maior afasta a mora, porque exclui a culpa, que lhe é elementar. A revogação será de toda a doação, visto que a lei não distingue entre a parte que é liberalidade e a que é negócio Página 77 / 176 oneroso. Apenas define como liberalidade a que exceder aquilo que corresponde ao encargo (art. 540). O fato de ser total a revogação pode influir no ânimo do donatário, para que o cumpra. Como vimos o encargo pode ser imposto “a benefício do doador, de terceiro, ou do interesse geral” (art. 553), pelo que têm legítimo interesse para exigir o seu cumprimento o doador e o terceiro (em geral, alguma entidade), bem como o Ministério Público; este, somente se o encargo foi imposto no interesse geral e o doador já faleceu sem tê-lo feito (parágrafo único). b) Revogação por ingratidão do donatário: o art. 557 do Código Civil Brasileiro admite a revogação da doação também por ingratidão do donatário. Ao aceitar o benefício, o doador assume, tacitamente, obrigação moral de ser grato ao benfeitor e de se abster da prática de atos que demonstrem ingratidão e desapreço. A revogação, tem, pois, caráter de pena pela insensibilidade moral demonstrada e somente cabe nos expressos termos da previsão legal. O rol das causas, supervenientes à liberalidade, que autorizam tal espécie de revogação encontra-se nos arts. 557 e 558 do Código Civil e é taxativo (numerus clausus) a saber: “Art. 557. Podem ser revogadas por ingratidão as doações: i – se o donatário atentou contra a vida do doador ou cometeu crime de homicídio doloso contra ele; II – se cometeu contra ele ofensa física; III – se injuriou gravemente ou o caluniou; IV – se, podendo ministrá-los, recusou ao doador os alimentos de que este necessitava.” “Art. 558. Pode ocorrer também a revogação quando o ofendido, nos caos do artigo anterior, for o cônjuge, ascendente, descendente, ainda que adotivo, ou irmão do doador.” O direito de revogar a doação por ingratidão do donatário é de ordem pública e, portanto, irrenunciável antecipadamente, como proclama o art. 556, sendo nula cláusula pela qual o doador se obrigue a não exercê-lo. Nada impede, porém, que este deixe escoar o prazo decadencial sem ajuizar a revocatória. A revogação, por qualquer desses motivos, deve ser postulada “dentro de um ano, a contar de quando chegue ao conhecimento do doador o fato que a autorizar, e de ter sido o donatário o seu autor” (CC, art. 559), tratando-se de ação personalíssima, pois o direito de pleitear a revogação consoante se pode depreender do disposto no artigo 550 do Código Civil Brasileiro: “Art. 559. A revogação por qualquer desses motivos deverá ser pleiteada dentro de um ano, a contar de quando chegue ao conhecimento do doador o fato que a autorizar, e de ter sido o donatário o seu autor.” “Art. 560, O direito de revogar a doação não se transmite aos herdeiros do doador, nem prejudica os do donatário. Mas aqueles podem prosseguir na ação iniciada pelo doador, continuando-a contra os herdeiros do donatário, se este falecer depois de ajuizada a lide.” Em que pese o caráter personalíssimo, a ação de revogação poderá ser intentada pelos herdeiros “no caso de homicídio doloso do doador”, “exceto se ele houver perdoado” o ingrato donatário (CC, art. 561). Página 78 / 176 Ainda, consoante prescreve o artigo 563 do Código CiVil Brasileiro, a revogação da ingratidão respeitará os direitos adquiridos por terceiros: “Art. 563. A revogação por ingratidão não prejudica os direitos adquiridos por terceiros, nem obriga o donatário a restituir os frutos percebidos antes da citação válida; mas sujeita-o a pagar os posteriores , e, quando não possa restituir em espécie as coisas doadas, a indenizá-la pelo meio termo do seu valor.” Só se admite a revogação por ingratidão do donatário, por exclusão, nas doações puras. Com efeito, proclama o art. 564 do Código Civil Brasileiro que diz: “Art. 564. Não se revogam por ingratidão: I - as doações puramente remuneratórias; II – as oneradas com encargo já cumprido; III – as que se fizerem em cumprimento de obrigação natural; IV – as feitas para determinado casamento”. Referências: GOMES, Orlando. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2008. RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: dos contratos e das declarações unilaterais da vontade. De acordo com o novo Código Civil (Lei n. 10.406, de 10/01/2002). 30.ed. São Paulo: Saraiva, 2007. RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. Rio de Janeiro: Forense. VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos. v.2, Atlas: São Paulo, 2007. GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: contratos e atos unilaterais. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2008. v.3. Página 79 / 176 DIREITO CIVIL III – Contratos Profa. Janaína Machado Sturza CONTRATO DE EMPREITADA (arts. 610 a 626 CC) Conceitos e características da empreitada Empreitada é o contrato mediante o qual uma das partes (o empreiteiro) se obriga a realizar uma obra específica, pessoalmente ou por intermédio de terceiros, cobrando uma remuneração a ser paga pela outra parte (proprietário da obra), sem vínculo de subordinação. A direção do trabalho é do próprio empreiteiro, assumindo este os riscos da obra. Na empreitada não importa o rigor do tempo de duração da obra, o objeto não é a simples prestação de serviços, mas a obra em si. Assim, neste tipo de contrato a remuneração não está vinculada ao tempo, mas à conclusão da obra. No que se refere as características, o contrato de empreitada é bilateral, pois gera obrigação para ambas as partes; é consensual, pois se conclui com o acordo de vontade das partes; é comutativo, considerando que cada parte pode prevê as vantagens e os ônus; é oneroso, pois ambas as partes têm benefícios correspondentes aos respectivos sacrifícios; e não solene, não havendo formalidades específicas na contratação. Espécies As empreitadas podem ser contratadas considerando duas modalidades: a empreitada somente da mão-de-obra (lavor) ou a empreitada mista, incluindo materiais. Alguns destaques do Código Civil (artigos 610 a 613): a) O empreiteiro de uma obra pode contribuir para ela só com seu trabalho ou com ele e os materiais. b) A obrigação de fornecer os materiais não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. c) O contrato para elaboração de um projeto não implica a obrigação de executá-lo, ou de fiscalizar-lhe a execução. d) Quando o empreiteiro fornece os materiais, correm por sua conta os riscos até o momento da entrega da obra, a contento de quem a encomendou, se este não estiver em mora de receber. Mas se estiver, por sua conta correrão os riscos. e) Se o empreiteiro só forneceu mão-de-obra, todos os riscos em que não tiver culpa correrão por conta do dono. f) Sendo a empreitada unicamente de lavor, ou seja, somente de mão-de-obra, se a coisa perecer antes de entregue, sem mora do dono nem culpa do empreiteiro, este perderá a retribuição, se não provar que a perda resultou de defeito dos materiais e que em tempo reclamara contra a sua quantidade ou qualidade. Destaca-se que a construção sob administração difere da empreitada, pois na modalidade de administração o construtor se encarrega da execução do projeto, sendo remunerado de forma fixa ou um percentual sobre o custo da obra. Nesta forma de construção o proprietário da obra assume todos os encargos do empreendimento. Já na empreitada o empreiteiro assume os gatos globais da obra contratada, sendo a remuneração total fechada previamente. Página 80 / 176 Recebimento da obra A entrega da obra pode ser feita por partes, a medida que for sendo parcialmente concluída ou somente após a conclusão. Destaque-se os seguintes pontos previstos no Código Civil (artigos 614 a 625): a) Se a obra constar de partes distintas, ou for de natureza das que se determinam por medida, o empreiteiro terá direito a que também se verifique por medida, ou segundo as partes em que se dividir, podendo exigir o pagamento na proporção da obra executada. b) Tudo o que se pagou presume-se verificado. c) O que se mediu presume-se verificado se, em 30 (trinta) dias, a contar da medição, não forem denunciados os vícios ou defeitos pelo dono da obra ou por quem estiver incumbido da sua fiscalização. d) Concluída a obra de acordo com o ajuste, ou o costume do lugar, o dono é obrigado a recebê-la. Poderá, porém, rejeitá-la, se o empreiteiro se afastou das instruções recebidas e dos planos dados, ou das regras técnicas em trabalhos de tal natureza, ou ainda pode quem encomendou a obra, em vez de enjeitá-la, recebê-la com abatimento no preço. e) O empreiteiro é obrigado a pagar os materiais que recebeu, se por imperícia ou negligência os inutilizar. f) Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de 5 (cinco) anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo. Decairá desse direito, porém, o dono da obra que não propuser a ação contra o empreiteiro, nos 180 (cento e oitenta) dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito. g) Se ocorrer diminuição no preço do material ou da mão-de-obra superior a um décimo do preço global convencionado, poderá este ser revisto, a pedido do dono da obra, para que se lhe assegure a diferença apurada. h) Mesmo após iniciada a construção, pode o dono da obra suspendê-la, desde que pague ao empreiteiro as despesas e lucros relativos aos serviços já feitos, mais indenização razoável, calculada em função do que ele teria ganho, se concluída a obra. i) Suspensa a execução da empreitada sem justa causa, responde o empreiteiro por perdas e danos. j) Poderá o empreiteiro suspender a obra: I - por culpa do dono, ou por motivo de força maior; II - quando, no decorrer dos serviços, se manifestarem dificuldades imprevisíveis de execução, resultantes de causas geológicas ou hídricas, ou outras semelhantes, de modo que torne a empreitada excessivamente onerosa, e o dono da obra se opuser ao reajuste do preço inerente ao projeto por ele elaborado, observados os preços; III - se as modificações exigidas pelo dono da obra, por seu vulto e natureza, forem desproporcionais ao projeto aprovado, ainda que o dono se disponha a arcar com o acréscimo de preço. O contrato de empreitada se extingue pelo seu cumprimento e pode resolver-se se um dos contratantes não cumpre qualquer das cláusulas assumidas. Por outro lado, não se extingue o contrato de empreitada pela morte de qualquer das partes, salvo se ajustado em consideração às qualidades pessoais do empreiteiro (CC, art.626). CONTRATO DE COMODATO E MÚTUO O Código Civil de 2002, em seu Capítulo VI, trata dos contratos de empréstimo, palavra derivada do latim promutuari, que segundo De Plácido e Silva, em sua obra Vocabulário Jurídico (Vol. II, 5ª ed, 1978, pág. 593) Página 81 / 176 significa emprestar, exprimindo “... cedência de uma coisa ou bem, para que outrem a use ou dela se utilize, com obrigação de restituí-la, na forma indicada, quando a pedir o seu dono ou quando terminado o prazo de concessão”. Washington Monteiro de Barros leciona no sentido de ter o empréstimo o caráter de “...entrega de uma coisa, para ser utilizada e depois restituída”. Já Carvalho de Mendonça, citado por Fran Martins, afirma que o empréstimo é um contrato em que “uma das partes entrega certa coisa a outra parte, com a obrigação de esta restituí-la sua integridade ou em coisa equivalente”. Percebe-se que a definição doutrinária de empréstimo não difere de forma abrupta da idéia que o senso comum produziu acerca do empréstimo. Há em nosso Código Civil duas espécies do gênero empréstimo: o comodato e o mútuo, conhecidos pela doutrina como empréstimo de uso e empréstimo de consumo, respectivamente. Em outros termos, o comodato envolve empréstimo de coisas infungíveis, ao passo que o mútuo versa sobre coisas fungíveis, que não podem ser utilizadas sem que ocorra seu perecimento. É o lecionar dos mestres Silvio de Salvo Venosa e Washington de Barros Monteiro, entre outros. Silvio Rodrigues, ao estabelecer as diferenças entre coisas fungíveis em não fungíveis, leciona que “... o empréstimo de coisas fungíveis chama-se mútuo, o de não fungíveis comodato (Fungíveis são os bens que podem ser substituídos por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade e infungíveis ou não-fungíveis os que não o podem ser)”. Após este breve intróito, passemos a tratar das peculiaridades de cada um destes contratos. DO COMODATO (arts. 579 a 585 CC) O comodato, etimologicamente derivado da locução latina commodum datum, significando aquilo que se dá em cômodo, em proveito de outrem, é um contrato de empréstimo regulamentado no CC/2002 a partir do artigo 579, que o define como empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, que se perfaz com a tradição do objeto. A priori, deve-se ter em mente a definição que o Cód. Civil, em seu art. 85, dá aos bens fungíveis, que são móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. Ou seja, tais categorias de bens não podem figurar como objetos do contrato de comodato. Mas há possibilidade do comodato versar sobre coisas fungíveis, utilizadas para ornamentação e pompa, como garrafas de vinho para decorar vitrina. Ou seja, a regra do non potest commodari id, quod usu consumitur é atenuada no caso do comodato ad pompam vel ostentationem. Neste, por convenção das partes, bens fungíveis são transformados em infungíveis. Ainda sobre o objeto do contrato, segundo o lecionar de Venosa, pode o comodato versar sobre bens incorpóreos, desde que suscetíveis de uso e posse (v.g.: linha telefônica, marcas, patentes); bens móveis ou imóveis. Sobre os direitos reais, diz-se que o comodatário tem a posse direta, precária, sujeita a restituição, ao passo que o comodante é o possuidor indireto, o proprietário. Outro ponto observado no art. 579 é que o comodato é um contrato real, que se aperfeiçoa somente com a tradição da res. Ou seja, uma eventual avenca no sentindo de prometer o empréstimo de coisa não fungível, cairá na vala comum dos contratos atípicos (a propósito, o art. 425 estatui que é lícito às partes estipular contratos atípicos, desde que sejam respeitadas as normas gerais dos contratos, plasmadas no Código Civil). A respeito do caráter real do contrato em tela, contestado por autores de escol, tais como Serpa Lopes, bem lembra Venosa que a questão é fundamental, em sede de se definir a caracterização do inadimplemento contratual. Página 82 / 176 O comodato é um contrato unilateral, pois o comodante entrega bem não fungível ao comodatário, que tem a obrigação de devolve-lo ao fim do período avençado. Ou seja, é um contrato em que só o comodatário se obriga, em face do comodante. Este não possui nenhuma obrigação em face do comodatário. É um contrato gratuito (gratuitum debet esse commodatum). Se assim não fosse, se constituiria em locação. É negócio intuitu personae, pois é móvel do contrato a confiança que o comodante possui em relação ao comodatário. Como corolário dessa assertiva, infere-se que o empréstimo não se transfere aos sucessores do comodatário e, salvo expresso assentimento do comodante, é defeso o subcomodato, que se constituiria em abuso, desvio de finalidade, segundo o lecionar de Venosa. O caráter de gratuidade traz dificuldades práticas à formação de um eventual précontrato, ou uma promessa de comodato, pois afigurar-se-ia a inviabilidade da execução coativa da promessa, cabendo apenas a via indenizatória. O Código Argentino veda expressamente ação contra o promitente, negando eficácia à promessa de dar em comodato. É um contrato temporário, pois há intrinsecamente a obrigação de restituir. Se assim não fosse, seria uma doação. A restitutio deve ocorrem com o advento do fim do prazo acordado, da finalidade estipulada no contrato ou após notificação do comodante, se for o comodato por prazo indeterminado. É um contrato não solene, não estando sujeito a forma especial. Quanto aos contratantes, não é necessário que o comodante seja o proprietário, podendo ter a posse da coisa em função de outro ato jurídico (locação, enfiteuse, etc.). Tutores, curadores e administradores de bens alheios necessitam de autorização especial para serem legitimados a emprestar bens dos pupilos, incapazes e administrados, por força do art. 580. Mesmo que o empréstimo seja realizado por incapazes, a restituição deve ser feita ao representante do incapaz. Quanto aos aspectos temporais da avenca, a normatização é encontrada no art. 581. Via de regra, o comodato possui prazo certo para a restituição. Caso não possua, presume-se que seja ele o necessário para o uso concedido, a que se destina a coisa. O comodante, a priori, não pode exigir a restituição antes do período acordado. Mas em casos comprovados de necessidade imprevista e urgente, pode pedir restituição antecipada. Venosa, com a correção de sempre, afirma tratar-se de corolário do conteúdo benéfico do contrato. Mas, cabe dizer, invocando um princípio lógico, a exceção não afasta a regra. Ou seja, nosso ordenamento jurídico não abarca o chamado comodato precário, que permitiria a retomada da coisa de forma discricionária. Vale dizer, mesmo na hipótese subsumida no art. 581, não pode, manu militari, ex própria auctoritate, retomar a coisa. Deve recorrer à atividade jurisdicional, vedada que está a auto tutela em nosso ordenamento jurídico. Caso contrário, pode incorrer nas iras do art. 345 do Código Penal, que sanciona o exercício arbitrário das próprias razões. Quanto às obrigações do comodatário, uma delas é a conservação da coisa emprestada, como se sua fosse. O contrato de comodato impõe ao comodatário a obrigação de zelar pela conservação da coisa, arcando inclusive com os gastos de conservação da coisa (art. 584). O art. 583 estabelece que, correndo riscos coisas suas e do comodante, se antepuser as suas em salvação, responderá pelos danos ocorridos, mesmo ocorrendo casos fortuitos ou de força maior. Há também, intrínseca à definição de empréstimo, a obrigação de restituir. O comodante conserva a propriedade da coisa (daí o adágio nemo commodando rem facit ejus, cui commodat). Havendo recusa do comodatário em restituir a coisa, necessário se faz a ação de reintegração de face, pois a posse passou a ser indevida. Já não há comodante, pois o comodato já se extinguiu. Vale ressaltar, não cabe ação de despejo, posto que não se trata de relação ex locato. Insta salientar, ainda, que a conduta do comodatário que, ao Página 83 / 176 fim do contrato se recusa a restituir a coisa, pode ter reflexos na esfera penal, configurando o crime de apropriação indébita, (art. 168. Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção) caso esteja presente o animus rem sibi habendi, ou seja, a intenção, o ânimo de haver para si a coisa de que se tem a posse lícita, que pode ser decorrência de relação obrigacional. A doutrina penal é unânime em afirmar, com respaldo no próprio código penal, que a apropriação indébita pressupõe posse lícita. Assim é o lecionar de Mirabete e de Celso Delmanto. Caso a coisa não seja devolvida e o comodante não a reclame, entende-se que o contrato passou a ser pro prazo indeterminado. Neste caso, o comodatário deve ser interpelado para restituir a coisa em prazo razoável. Lembre-se do art. 397, parágrafo único, que estatui que “Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial”. Constituído em mora, o comodatário deverá pagar aluguel arbitrado pelo comodante, até a entrega da coisa. Outra obrigação é a de não utilizar a coisa em desacordo com o contrato ou com a natureza dela. Em relação à retenção de benfeitorias, o art. 584 estatui, a contrariu sensu, que deve ser reembolsado ao comodatário as despesas extraordinárias, pois as ordinárias, conforme supramencionado, ficam a cargo deste. Sendo assim, permite-se ao comodatário o direito de retenção em relação às benfeitorias efetivadas na vigência do contrato, caso esteja ele de boa-fé. O mestre Venosa enumera o comodato com encargo. O encargo introduz certa nuance de onerosidade ao contrato. Mas é decerto que não chega a se constituir em contraprestação, em face da desproporção existente entre o encargo imposto e a liberalidade obtida. O comodante pode exigir cumprimento do encargo ou pedir rescisão por inadimplemento contratual. Pode também estabelecer cláusula penal assegurando especificamente o encargo. Quanto ao comodante, não se pode dizer que há obrigação de entregar a coisa em empréstimo, posto que a tradição constitui o cerne da formação do contrato, real que é em sua natureza. O que há é uma obrigação negativa, de não fazer, no sentido de não tolher o uso e o gozo da coisa dada em empréstimo, durante o prazo convencionado. No caso de vícios ocultos, o comodante só responde em caso de dolo ou culpa grave e de ter a coisa ocasionado prejuízos, por ser o contrato gratuito. Há, ainda, responsabilidade do comodante pelo pagamento das despesas extraordinárias e urgentes, que excedem à conservação normal da coisa. Por ser o contrato gratuito, o comodante não responde por eventual evicção. É contrato temporário, destinado a se extinguir naturalmente, pelo decurso do tempo, na maioria dos casos. Caso o comodante se recuse em receber a coisa em restituição, deve ser constituído em mora, cabendo ação de pagamento em consignação. O contrato se extingue pela restituição da coisa, ao fim do prazo avençado. Com eventual perecimento do objeto, o contrato também se extingue. Se tal perecimento tiver causa na culpa do comodatário, este incorrerá no dever de indenizar (tal dever também a ele incumbe, nas situações de caso fortuito e força maior, por disposição expressa do art. 583). A morte do comodatário dá razão à extinção do contrato, caso o comodante denuncie o contrato (resilição). Caso contrário, a relação contratual se transfere aos herdeiros. DO MÚTUO ( arts. 586 a 592 CC) Outra modalidade de empréstimo é o mútuo, definido no Código Civil/2002 como “...o empréstimo de coisas fungíveis”. O referido diploma legal ainda estatui que “O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele Página 84 / 176 recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade”. É o lecionar de Washington de Barros Monteiro (mutui datio consistit in his rebus, quase pondere, numero, mensura consistunt). Preliminarmente, pode-se traçar uma diferença entre o mútuo e o comodato, em relação ao objeto sobre o qual versam tais contratos: enquanto o comodato se constitui em empréstimo de bens não fungíveis, o mútuo versa, a contrariu sensu, sobre bens fungíveis. Ainda sobre a natureza dos bens objetos do mútuo, insta salientar que nem sempre a noção de bens fungíveis guarda identidade com a de bens consumíveis. Em função da fungibilidade do objeto dado em empréstimo no mútuo, pode-se afirmar que o mutuário recebe o domínio da coisa em prestada pelo mutuante. Assim sendo, via de regra, o mutuário, ao final do período acordado, não devolve exatamente as mesmas coisas que recebeu em empréstimo, mas outras coisas, do mesmo gênero, qualidade e quantidade. É essa característica do mútuo que acaba por induzir alguns a afirmar que o mútuo é empréstimo de coisas consumíveis. De fato, em regra, a coisa dada em empréstimo pode ser consumida (v.g. mútuo versando sobre sacas de café), porém nem sempre, tal como se aventa na hipótese de empréstimo feito por um livreiro a outro, de vinte exemplares de certa obra, com obrigação de restituir oportunamente igual número. Hipótese de lavra do doutrinador Lamonaco, citado por Barros Monteiro. Porém, mesmo em face dessa distinção entre o atributo de ser consumível e o de ser fungível o bem dado em mútuo, a doutrina cognomina o mútuo de empréstimo de consumo (para os franceses, prêt à consommation) e o comodato de empréstimo de uso (prêt à usage). Como supramencionado, o mutuário recebe a propriedade da coisa. A propriedade é um direito real que pressupõe, intrinsecamente, os direitos de utilizar a coisa, conforme a vontade de quem a possui (ius utendi, ou direito de uso), o direito de fruir e gozar da coisa, tirando delas os respectivos proveitos, frutos (ius fruendi, direito de fruir) e o direito de dela dispor (ius abutendi). Daí a definição proveniente do Direito Romano, que tomava a propriedade no sentido de domínio: “dominium est jus utendi, fruendi et abutendi re sua quatenus juris ratio patitur”. E em decorrência do direito de poder usar a coisa como bem quer, podendo inclusive dela dispor, o mutuário assume os riscos da coisa. Daí ser a transferência da propriedade não o escopo, mas corolário lógico do mútuo. Inteligência do art. 587 do CC/2002. Como possíveis objetos da avença, enumera Venosa: cereais, produtos químicos, gêneros alimentícios e dinheiro. Mas, ressalva o insigne doutrinador que “...bens fungíveis em certas situações poderão ser infungíveis em outras... moedas de ouro e prata... poderão assumir o caráter de infungibilidade, se não estiverem em circulação e servirem para coleção”. No que atine à natureza do contrato, afirma-se ser o mútuo contrato real, em que a tradição da coisa integra sua essência, sendo conditio sine qua non para o aperfeiçoamento do contrato. Destarte, se não houver tradição, não há que se falar em mútuo. Poder-se-ia falar, in casu, em uma promessa unilateral de efetuar ou receber mútuo. É o lecionar de Venosa. Embora seja questão controvertida na doutrina, enumera-se entre as hipóteses de promessa de mútuo o contrato de abertura de crédito, que segundo magistério de Fran Martins, é “... o contrato segundo o qual o banco se obriga a pôr à disposição de um cliente uma soma em dinheiro por prazo determinado ou indeterminado, obrigando-se este a devolver a importância, acrescida dos juros, ao se extinguir o contrato”. Note-se que, ao obrigar-se a pôr à disposição uma soma em dinheiro, nada mais está se fazendo do que se obrigar a emprestar coisa fungível. Página 85 / 176 É contrato unilateral, pois a carga obrigacional se concentra sobre o mutuário. Mas, deve-se ter em mente que o mútuo oneroso é contrato bilateral, segundo parte da doutrina. O insuperável Pontes de Miranda afirma que o mútuo com juros se assemelha à locação de uso. Quanto à gratuidade ou não do contrato, há que se ressaltar que o mútuo, embora gratuito em suas origens, que remontam ao Direito Romano, nos dias atuais possui, em regra, caráter especulativo, em especial no que atine ao empréstimo de dinheiro, que a doutrina chama de mútuo feneratício (com juros). Os juros são o proveito auferido do empréstimo do capital, possuindo natureza compensatória, pois representam frutos do capital (vale ressaltar, há também juros de natureza moratória, decorrentes do atraso no cumprimento da obrigação). O mútuo feneratício, destinado a fins econômicos, é tratado no art. 591. Ou seja, o que em tempos longínquos era exceção, atualmente, no contexto do capitalismo, se “insurgiu” como regra. Outro ponto a ser ressaltado é que o mútuo é contrato temporário, destinado a ter duração definida, havendo a obrigação de restituir, com o advento do termo ad quem. Em regra, o mútuo não é contrato causal. Mas, em certos casos, pode ter causa específica como , por exemplo, financiar determinado empreendimento. Caso tal finalidade não seja observada, estar-se-á diante de infração contratual, caracterizada pelo desvio de finalidade. O contrato em tela não exige forma espacial, não exigindo a forma escrita. Embora não exigível, é aconselhável, principalmente para efeitos probatórios. Em relação às obrigações assumidas, deve-se inicialmente estabelecer que a tradição da coisa não constitui obrigação, integrando a própria constituição da avença. A responsabilidade por vícios da coisa dada em empréstimo só ocorre, na totalidade, quando se tratar de mútuo oneroso. Se o negócio for gratuito, exige-se dolo por parte do mutuante, para que se enseje pedido de perdas e danos. Durante o transcorrer do prazo do empréstimo, o mutuante deve abster-se de atos que prejudiquem a utilização dos bens mutuados, só podendo exigir a restituição (em coisa do mesmo gênero, espécie e quantidade) in oportuno tempore (os prazos do mútuos estão plasmados no art. 592). Aliás, a restituição é a principal obrigação do mutuário (obrigação de dar coisa incerta). O mutuante pode exigir garantia de restituição, caso o mutuário sofra notória mudança em sua situação econômica. A regra, trazida pelo CC/2002 no art. 290, decorre do princípio rebus sic stantibus. O mútuo feito a pessoa menor possui regramento próprio, nos arts. 588 e 589. Em regra, se o mútuo for feito ao menor, sem assentimento expresso do responsável pela sua guarda, não pode ser reavido nem do mutuário, nem dos fiadores. É a norma do art. 588. Todavia, o art. 589 traz dispositivos que restringem o alcance do artigo antecedente, evitando que os interesses do mutuante sejam prejudicados. Ou seja, o ordenamento jurídico leva em consideração dois interesses legítimos: o do menor e do mutuante (vale lembrar, segundo o lecionar de Francesco Carnelutti, citado por Carreira Alvim, interesse é a posição favorável à satisfação de uma necessidade, derivando etimologicamente de quod inter est, ou seja, aquele que está entre, denotando sentido de posição em que se coloca o homem, entre uma necessidade e um bem apto a satisfazê-la). Ainda sobre o dispositivo em tela, Venosa afirma que sua origem remonta ao Direito Romano, em um estágio social em que se pretendeu evitar a exploração de menores. Aliás, a proteção aos interesses patrimoniais dos menores não é exclusividade do Direito Civil, mostrando-se presente também no Código Penal, no art. 173, que trata do abuso de incapazes. Página 86 / 176 O contrato de mútuo se extingue, em regra, como seu cumprimento, consistente na restituição de coisa do mesmo gênero, quantidade e qualidade da coisa dada em empréstimo. Pode haver resilição do contrato. Na falta de previsão expressa no contrato, a extinção do contrato é regulada pelo art. 592. O descumprimento do avençado também pode ensejar a extinção do contrato. Oportuna a observação de Venosa, no sentido de não se aplicar ao mútuo a regra que permite pedir restituição antes do prazo, na hipótese de necessidade superveniente, imprevista e urgente. Tal só é aplicável ao comodato. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ( arts. 593 a 609 CC) O contrato de prestação de serviços de que trata o Código Civil tem caráter residual, ou seja, são regulados pelas determinações do código somente àqueles sobre os quais não dispões leis especiais, a exemplo de contratos trabalhistas e àqueles regulados pelo código do consumidor, que obedecer às suas respectivas normas próprias. Com o intuito de evitar trabalhos em regimes demasiadamente longos, a ponto de tornar-se um “regime de escravidão”, os contratos de prestação de serviços por prazo determinado a que se refere o Código Civil não poderão ter duração superior a quatro anos. Dispõe o código que a prestação de serviço, que não estiver sujeita às leis trabalhistas ou à lei especial, reger-seá pelas disposições nele contidas. Em princípio poderia se indagar que tipos de atividade ou serviço poderiam ser contratados entre o prestador e o recebedor dos serviços. Sob o aspecto legal, toda espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, pode ser contratada mediante retribuição como contraprestação ao trabalho realizado. A contratação dos serviços deve ser feita preferencialmente mediante contrato escrito. Na hipótese de qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo, ou seja, assinado por outra pessoa e subscrito por duas testemunhas. Quanto ao valor a ser cobrado na prestação dos serviços, este deverá ser previamente estabelecido. Entretanto, não tendo sido estipulado, nem chegado a acordo as partes, fixar- se-á por arbitramento a retribuição, segundo o costume do lugar, o tempo de serviço e sua qualidade. Quanto ao momento do pagamento da remuneração, estabelece o artigo 597 do código civil que deverá ser feito depois de prestado o serviço, se, por convenção, ou costumes, não houver de ser adiantada, ou paga em prestações. O contrato deve conter uma cláusula tratando da prazo da prestação dos serviços, que não poderá ser demasiadamente longo. Neste sentido o artigo 598 do código determina que a prestação de serviço não se poderá convencionar por mais de 4 (quatro) anos, embora o contrato tenha por causa o pagamento de dívida de quem o presta, ou se destine à execução de certa e determinada obra; neste caso, decorridos 4 (quatro) anos, dar-se-á por findo o contrato, ainda que não concluída a obra. Observe-se que embora o referido artigo não faça menção ao contrato por prazo indeterminado, este poderá durar indefinidamente, considerando que qualquer dos contratantes poderá rescindir o contrato a qualquer tempo, não estando assim atrelado aos referidos quatro anos. Essa conclusão está corroborada pelo dispôs no artigo 599, cuja redação estabelece que “não havendo prazo estipulado, nem se podendo inferir da natureza do contrato, ou do costume do lugar, qualquer das partes, a seu arbítrio, mediante prévio aviso, pode resolver o contrato”. Neste caso complementa o parágrafo único do citado artigo sobre o aviso prévio que deverá ser dado observando os seguintes prazos: I - com antecedência de 8 (oito) dias, se o salário se houver fixado por tempo de 1 (um) mês, ou mais; II - com antecipação de 4 (quatro) dias, se o Página 87 / 176 salário se tiver ajustado por semana, ou quinzena; III - de véspera, quando se tenha contratado por menos de 7 (sete) dias. Destaque-se que não se conta no prazo do contrato o tempo em que o prestador de serviço, por culpa sua, deixou de servir. Quanto a abrangência do trabalho pactuado, não sendo o prestador de serviço contratado para certo e determinado trabalho, entender-se-á que se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com as suas forças e condições, e mais, o prestador de serviço contratado por tempo certo, ou por obra determinada, não se pode ausentar, ou despedir, sem justa causa, antes de preenchido o tempo, ou concluída a obra. Por outro lado, se ele se despedir sem justa causa, terá direito à retribuição vencida, mas responderá por perdas e danos. O mesmo dar-se-á, se despedido por justa causa. Havendo despedida sem justa causa por iniciativa do tomador dos serviços, este será obrigado a pagar ao prestador por inteiro a retribuição vencida, e por metade a que lhe tocaria de então ao termo legal do contrato. Ainda em relação ao pacto, findo o contrato, o prestador de serviço tem direito a exigir da outra parte a declaração de que o contrato está findo. Igual direito lhe cabe, se for despedido sem justa causa, ou se tiver havido motivo justo para deixar o serviço (CC, art. 604). Há uma particularidade a ser observada quanto a prestação dos serviços exigir habilitação legal, a exemplo de engenheiro, contador e outras profissões legalmente regulamentadas. Determina o artigo 606 do código que “se o serviço for prestado por quem não possua título de habilitação, ou não satisfaça requisitos outros estabelecidos em lei, não poderá quem os prestou cobrar a retribuição normalmente correspondente ao trabalho executado. Mas se deste resultar benefício para a outra parte, o juiz atribuirá a quem o prestou uma compensação razoável, desde que tenha agido com boa-fé”. Observe-se que pelo parágrafo único do referido artigo não se aplica a segunda parte deste artigo, quando a proibição da prestação de serviço resultar de lei de ordem pública. Quanta a extinção da avença, contrato de prestação de serviço acaba com a morte de qualquer das partes. Termina, ainda, pelo escoamento do prazo, pela conclusão da obra, pela rescisão do contrato mediante aviso prévio, por inadimplemento de qualquer das partes ou pela impossibilidade da continuação do contrato, motivada por força maior. Referências: GOMES, Orlando. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2008. RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: dos contratos e das declarações unilaterais da vontade. De acordo com o novo Código Civil (Lei n. 10.406, de 10/01/2002). 30.ed. São Paulo: Saraiva, 2007. RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. Rio de Janeiro: Forense. VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos. v.2, Atlas: São Paulo, 2007. GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: contratos e atos unilaterais. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2008. v.3. Página 88 / 176 DIREITO CIVIL III – Contratos Profa. Janaína Machado Sturza CONTRATO DE MANDATO O direito das obrigações define o mandato como a modalidade contratual pela qual alguém (mandatário) recebe de outrem (mandante), poderes para praticar ato ou administrar interesses. E, muito embora o artigo 653 do Código Civil Brasileiro aponte que a procuração é o instrumento do mandato, ou seja, que o mandato somente seria formalizado em documento público ou particular, autorizador dos poderes desta representação, o artigo 656 do mesmo código, estabelece que o mandato, em verdade, pode ser expresso ou tácito, verbal ou escrito. Assim, para melhor compreensão do tema, vale especificar que os poderes outorgados, realmente poderão ser expressos quando dados por escrito ou verbalmente, desde que pré-existentes no mundo dos fatos, ou seja, outorgados antes de qualquer ato praticado pelo mandatário em nome do mandante. O mandato será tácito quando se constatar que resulta de atos realizados pelo mandatário em nome do mandante, sem a prévia autorização deste, porém com sua aprovação; e será verbal quando os poderes forem transmitidos por qualquer modo de comunicação oral ou não escrita. De todo modo, convém lembrar que o mandato seja em que modalidade for somente confere poderes de administração, pois, conforme advertido pelo § 1º do artigo 661 do mencionado Código, para alienar, hipotecar, transigir ou praticar quaisquer atos que exorbitem dessa administração (rotulada como ordinária pelo legislador), é preciso procuração com poderes especiais ou expressos. Ainda no âmago desse tema, vale rememorar que o mandato pode ser gratuito ou oneroso; isto é, sem ou com retribuição (contraprestação ou pagamento), tendo o mandatário o direito de reter do objeto da operação que lhe foi cometida (exemplificativamente por ofício ou profissão lucrativa, artigo 658 do Código Civil), até quanto baste para o pagamento que lhe for devido (artigo 664 do Código Civil). Nessa linha de pensamento, cumpre observar que a outorga de uma procuração pelo proprietário do imóvel à administradora/corretora faz nascer o binômio mandante x mandatária, cuja relação colhe respaldo, preponderante, na legislação civil aqui já comentada, vez que, aquela (administradora), ao agir, o estará fazendo em nome e no lugar do mandante (proprietário do imóvel); decorrendo daí algumas conseqüências fundamentais que convém desde logo ter em vista: 1) os atos da mandatária vinculam o mandante, desde que dentro dos poderes constantes da procuração, ainda que contravenham suas instruções; Página 89 / 176 2) se a mandatária obrar em seu próprio nome, não vincula o mandante, exceto se por ele (mandante) forem ratificados; 3) os atos da mandatária, praticados após a extinção do mandato, são incapazes de vincular o mandante. Ainda, a título de mera ilustração e até para ressaltar a importância de uma representação exercida via mandato (embora existam casos em que há representação sem que haja mandato, como na hipótese do representante legal ou judicial), importa dizer que em regra, todos os atos podem ser realizados por meio de procurador, exceto uns poucos vedados por lei, que exigem a intervenção direta da pessoa (a exemplo do testamento, do exercício de cargo público ou da prestação do serviço militar). Igualmente oportuno, se faz comentar que mesmo o casamento pode ser celebrado mediante procuração que outorgue poderes especiais ao mandatário para receber, como consorte e em nome do outorgante, o outro contraente. De todo modo, pertinente é enfatizar que a principal obrigação da mandatária é a de agir em nome do mandante, com o necessário zelo e diligência, transferindo-lhe as vantagens que em seu lugar auferir e prestando-lhe contas de sua gestão, sendo seus principais deveres: 1) agir em nome do constituinte, dentro dos poderes constituídos na procuração; 2) agir com o zelo necessário e a diligência habitual na defesa dos interesses do mandante - respondendo pelos prejuízos que este experimentar, quando resultarem de culpa do representante; 3) transferir ao mandante todas as vantagens granjeadas no negócio; 4) prestar contas de sua gerência ao mandante; 5) prosseguir no exercício do mandato até concluir o negócio já começado ou até ser substituído, mesmo depois da extinção do mandato por morte, interdição ou mudança de estado do constituinte se, da sua inação, puder advir prejuízo para o mandante ou seus herdeiros (CC, art. 674). Já no que se relaciona a figura do mandante, suas obrigações são de natureza diversa, pois, essencialmente se relacionam ao dever de honrar o assumido em seu nome pelo mandatário (dentro dos poderes conferidos no mandato), e a responsabilidade de caráter patrimonial (reembolso as despesas efetuadas pelo mandatário, indenização pelos prejuízos experimentados na execução do mandato e pagamento da remuneração, se assim se ajustou). Página 90 / 176 CONTRATO DE COMISSÃO A Comissão é o contrato pelo qual uma pessoa (comissário) adquire ou vende bens, em seu próprio nome e responsabilidade, mas por ordem e por conta de outrem (comitente), em troca de certa remuneração, obrigando-se para com terceiros com quem contrata (CC, art. 693). Observe-se que neste tipo de contrato as partes podem ser pessoas de cunho jurídico ou natural. Comissão é a remuneração calculada por meio de um percentual aplicado sobre as vendas. Não estipulada a remuneração devida ao comissário, será ela arbitrada segundo os usos correntes no lugar (CC, art.701). Comissário ou comissionado é a pessoa que, em um negócio, age por ordem de outrem e recebe comissão em decorrência da prática do ato. Quanto a estas determinações e ordens a serem cumpridas, salvo disposição em contrário, pode o comitente, a qualquer tempo, alterar as instruções dadas ao comissário, entendendo-se por elas regidos também os negócios pendentes. Comitente é a pessoa que encarrega outra (comissário) de fazer qualquer ato, mediante o pagamento de uma comissão. O comissário obriga-se, portanto, perante terceiros em seu próprio nome, figurando no contrato como parte. Neste, em geral não consta o nome do comitente, porque o comissário age em nome próprio. Entretanto, segundo entendimento de outros juristas, pode haver interesse mercadológico na divulgação do comitente, como fator de dinamização das vendas ou negócios em geral. Parte da doutrina entende que a comissão é um mandato sem representação, considerando que o comissário negocia em seu próprio nome, embora à conta do comitente. O contrato de comissão é bilateral, consensual, oneroso e não solene. O contrato de comissão tem por objeto a aquisição ou a venda de bens pelo comissário, em seu próprio nome, à conta do comitente. Assim, segundo o artigo 694 o comissário fica diretamente obrigado para com as pessoas com quem contratar, sem que estas tenham ação contra o comitente, nem este contra elas, salvo se o comissário ceder seus direitos a qualquer das partes. Embora o comissário desempenhe sua atividade em seu próprio nome, não tem liberdade absoluta. Está ele obrigado a agir de conformidade com as ordens e instruções do comitente. Na hipótese de não dispor das orientações e determinações do comitente, ainda assim, não poderá agir arbitrariamente, devendo nestes casos, proceder segundo os usos em casos semelhantes. Ainda quanto à conduta do comissário, além da obrigação evidente de não praticar atos ilícitos no exercício de sua atividade, deverá, no desempenho das suas incumbências, agir com cuidado e diligência, não só para evitar qualquer prejuízo ao comitente, mas ainda para lhe proporcionar o lucro que razoavelmente se podia esperar do negócio. Assim, responderá o comissário, salvo motivo de força maior, por qualquer prejuízo que, por ação ou omissão, ocasionar Página 91 / 176 ao comitente. Por outro lado como regra, o comissário não responde pela insolvência das pessoas com quem tratar, exceto em caso de culpa e no do artigo seguinte. Como exceção no que tange a responsabilidade do comissário, pelas determinações do artigo 698 do Código Civil, se do contrato de comissão constar a cláusula del credere, responderá o comissário solidariamente com as pessoas com que houver tratado em nome do comitente, caso em que, salvo estipulação em contrário, o comissário tem direito a remuneração mais elevada, para compensar o ônus assumido. A remuneração poderá ser parcial obedecendo a critérios proporcionais. No caso de morte do comissário, ou, quando, por motivo de força maior, não puder concluir o negócio, será devida pelo comitente uma remuneração proporcional aos trabalhos realizados (CC, art.702). Havendo rescisão do contrato, ainda que tenha dado motivo à dispensa, terá o comissário direito a ser remunerado pelos serviços úteis prestados ao comitente, ressalvado a este o direito de exigir do comissário eventuais prejuízos provocados por ele. Se houver a rescisão do contrato (dispensa do comissário) sem justa causa, terá direito a ser remunerado pelos trabalhos prestados, bem como a ser ressarcido pelas perdas e danos resultantes de sua dispensa. No que se refere à movimentação financeira entre os dois quanto à exigência de juros, assemelha-se ao contrato de mútuo com finalidade econômica. Assim, de acordo com o artigo 706, o comitente e o comissário são obrigados a pagar juros um ao outro; o primeiro pelo que o comissário houver adiantado para cumprimento de suas ordens; e o segundo pela mora na entrega dos fundos que pertencerem ao comitente. Destaque-se ainda que, para reembolso das despesas feitas, bem como para recebimento das comissões devidas, tem o comissário direito de retenção sobre os bens e valores em seu poder em virtude da comissão. Por fim, são aplicáveis à comissão, no que couber, a regra sobre mandato (CC, artigos 798 e 709). Referências: GOMES, Orlando. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2008. RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: dos contratos e das declarações unilaterais da vontade. De acordo com o novo Código Civil (Lei n. 10.406, de 10/01/2002). 30.ed. São Paulo: Saraiva, 2007. RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. Rio de Janeiro: Forense. VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos. v.2, Atlas: São Paulo, 2007. GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: contratos e atos unilaterais. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2008. v.3. Página 92 / 176 DIREITO CIVIL III – Contratos Profa. Janaína Machado Sturza AGÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO (arts. 710 a 721 CC) CAPEL FILHO, Helio. Diferenciando contrato de agência e contrato de distribuição no novo Código Civil. Disponível em: http://br.monografias.com/trabalhos910/diferenciando-contrato-agencia/diferenciando-contrato-agencia.shtml. Acesso em: 25 de maio de 2010. O contrato de agência A majoritária doutrina vem trabalhando com a hipótese de ser o contrato de agência uma nova intitulação para o contrato de representação comercial, pela natureza que lhe confere o art. 710 e pela menção á legislação especial de que trata o art. 721. Cabe informar que a representação comercial foi instituída pela Lei n. 4.886, de 9 de dezembro de 1965 e teve alterações conferidas pela Lei n. 8.420, de 08 de maio de 1992, donde se pinça o seguinte conceito: Art. 1.° Exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprego; que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios. Já o art. 710 do Código Civil assim define o contrato de agência: Art. 710. Pelo contrato de agência, uma pessoa assume, em caráter não eventual e sem vínculos de dependência, a obrigação de promover, a conta de outra, mediante retribuição, a realização de certos negócios, em zona determinada, caracterizando-se a distribuição quando o agente tiver à sua disposição a coisa a ser negociada. Se a agência - de que trata o Código Civil - e a representação comercial - instituída pela lei especial são a mesma forma de contratação, é assunto para se tratar em estudo mais aprofundado, eis que dificilmente se conseguirá, a esta altura, agrupar razões fundamentadas para negar a tendência doutrinária, mormente face ás afirmações que neste sentido fizeram autores que participaram diretamente da tramitação do anteprojeto de Agostinho Alvim, que culminou na nova codificação civil, a exemplo do deputado Ricardo Fiúza e do então assessor de relatoria Jones Figueiredo Alves. Mas para o conteúdo e objetivo da presente pesquisa, este mérito é irrelevante. O que se pretende aqui é conceituar o contrato de agência, para posteriormente diferenciá-lo do de distribuição. Agência então pode ser definida como negócio jurídico pelo qual uma das partes - o agente -, se obriga a promover, num exercício continuado ou não eventual, os negócios mercantis da outra parte - o agenciado, proponente, dono do negócio ou, como pretende alguns, "representado" -, sem caracterização de vínculo de emprego ou dependência hierárquica, em troca de remuneração, nos limites territoriais pactuados. O contrato de distribuição Escorado em definição do espanhol Carlos Alberto Ghersi, Silvio de Salvo Venosa conceitua Distribuição como: Página 93 / 176 [...] contrato pelo qual uma das partes, denominada distribuidor, se obriga a adquirir da outra parte, denominada distribuído, mercadorias geralmente de consumo, para sua posterior colocação no mercado, por conta e risco próprio, estipulando-se como contraprestação um valor ou margem de revenda. Este membro da Academia Paulista de Magistrados diferencia ainda contrato de distribuição do contrato de concessão, afirmando que neste último existe subordinação técnica e econômica ampla por parte do concessionário ao concedente e, no primeiro, o distribuidor conserva sua autonomia. Distribuição é a "atividade de revenda de produtos, mercadorias ou artigos que compra ao fabricante e distribui com exclusividade, comercializando-os em certa zona, região ou área". Cita também Fábio Konder Comparato, que pugna a idéia de que concessão mercantil e franquia são espécies do gênero distribuição. Tomou-se a liberdade de citar o trabalho do referido discente, sem maiores títulos, não em desmerecimento dos consagrados autores que aqui se fazem pares, mas na sincera demonstração de amor á pesquisa, posto não se tratar de uma monografia qualquer, mas o trabalho vencedor de prêmio de relevância, o que confere ao autor características de bom pesquisador, que assim deve ser reconhecido e respeitado. Natália Assis Melo veio afirmar que o contrato de distribuição do Código Civil é o próprio contrato de concessão mercantil, consagrado no direito estrangeiro, mas que no Brasil era contrato atípico até a promulgação da Lei n. 6.729/79, agora renomeado pela legislação civil, passando a designar-se contrato de distribuição. Humberto Theodoro Junior repele a idéia de que o contrato de distribuição se identifica com o de concessão mercantil, até porque, já se ressaltou, entende o respeitado professor que agência e distribuição são uma só modalidade de contrato. Eis o que afirma: Mesmo quando a lei admite que o agente atue também como distribuidor (art. 710 do Código Civil), ele não se transforma num concessionário comercial. é que a mercadoria que o fornecedor coloca em poder do agente-distribuidor é objeto apenas de depósito ou consignação. O representante não a adquire do representado, de modo que a venda para o consumidor não assume a natureza de uma revenda. Juridicamente quem vende é o fornecedor e não o agente-distribuidor. A interferência deste na pactuação e execução do negócio final é de um mandatário e não de um revendedor. Da mesma forma explanada no tópico anterior, cumpre apontar também aqui a irrelevância, para o presente estudo, da discussão acerca da identificação ou não do contrato de distribuição com o contrato de concessão. Imperioso por ora é demonstrar que o contrato de agência e o de distribuição são modalidades distintas de contrato, assunto que passamos agora a abordar. Agência e distribuição - contratos distintos As similitudes entre os dois institutos por certo foi a razão de se apresentarem agrupados na ordem legislativa. A teleologia permite crer que o legislador os agrupou em razão de serem semelhantes, como de fato são. Assim é que, vale frisar, os contratos de agência e de distribuição são igualmente consensuais, bilaterais, onerosos, comutativos, nominados (hodiernamente o segundo, como pretendem alguns), típicos, intuitu personae, de duração e informais. Ambos se prestam ao mesmo objeto mediato: promover de forma Página 94 / 176 continuada ou não eventual, os negócios mercantis do proponente, sem dependência hierárquica, em troca de remuneração a base de comissões, dentro de zona pré-determinada. Mas duas relevantes questões saltam ao intelecto: a) então, qual é a diferença entre eles? e b) qual a importância em diferenciá-los? Para responder á primeira questão, tomaremos o art. 710 do Código Civil, para análise de seu conteúdo: Art. 710. Pelo contrato de agência, uma pessoa assume, em caráter não eventual e sem vínculos de dependência, a obrigação de promover, á conta de outra, mediante retribuição, a realização de certos negócios, em zona determinada, caracterizando-se a distribuição quando o agente tiver á sua disposição a coisa a ser negociada. (grifou-se) Imperioso notar que o legislador usou o colado dispositivo para conceituar o contrato de agência e, ao final, aponta uma hipótese em que, caso somado á agência, o fator modificador - a posse da coisa a ser comercializada - o contrato caracteriza-se distribuição. A norma permite, desta forma, acreditar que, se o agente tiver á sua disposição a coisa a ser negociada, o contrato não será mais o de agência, mas de distribuição. A declaração de existência deste efeito, de transfiguração contratual de uma forma para outra, por parte do legislador, não permite crer se tratar de uma só modalidade contratual, posto que impossível transformar-se em si mesmo. Inaceitável a hipótese de, na ontologia, um objeto sofrer interferências do meio para, ao final, transfigurar-se nele próprio. Portanto, o contrato de agência e o contrato de distribuição são, na verdade, instrumentos distintos dos quais a empresa poderá lançar mão com o fito de escoar sua produção ou estoque. Contudo, vale lembrar que, conforme disposição dos bens nessa relação, poderá estar desvirtuado o objeto contratual, que poderá passar a ser regido por outras vias legais. O art. 721 trás uma complicação a mais: "Art. 721. Aplicam-se ao contrato de agência e distribuição, no que couber, as regras concernentes ao mandato e à comissão e as constantes de lei especial". Em menção ao silogismo aristotélico, caso vencedoras as teorias afirmadoras de que, a) agência e representação comercial são a mesma coisa e, b) agência e distribuição são só uma modalidade de contrato, será o mesmo que afirmar que distribuição é representação comercial. Ao conferir aplicação da lei especial para agência e para distribuição, estaria o art. 721 garantindo, por exemplo, ao distribuidor, os mesmos direitos e deveres reservados ao representante comercial, o que causaria no mercado usuário desses meios verdadeira baderna jurídica. Na esteira da segunda questão, vale lembrar de antemão que não é novidade jurídica a descaracterização contratual que resulte em outra modalidade de pacto, mesmo sem a vontade das partes, até porque essas teorias comportam relevantes discussões judiciais em magníficos embates jurídicos diante dos tribunais. Assim é que milhares de ações ocupam o judiciário com questões como a do contrato de leasing e a descaracterização do arrendamento mercantil e sua transformação em compra e venda; também os caso de parceria rural que, por desvirtuação do objeto, passa a ser arrendamento; ainda, o mútuo que, de forma de empréstimo passa a ser locação caso receba característica de onerosidade. Aqui, o contrato de agência se transforma em distribuição caso o agente passe a levar consigo a coisa a ser comercializada. A importância desta distinção se apega em diversos fatores, mormente nesta fase de Página 95 / 176 busca por pacificação das interpretações da norma. São questões, na maioria, de ordem prática que poderiam causar confusão e quebra de confiança no contrato. Para fomentar debates, afirma-se, por exemplo, que o agente que leva consigo um mostruário e cede parte dele em entrega de venda não será distribuidor, mas, se o produto que lhe é entregue tem destinação á venda, descaracterizada estará a agência, tratar-se-ia de distribuição. Outra questão relevante se monta no fato onde uma empresa atacadista de secos e molhados, como única distribuidora - exclusiva - dos produtos de indústria que assim a abastece, pode passar a ter direito a aviso-prévio de 90 dias, no mínimo, mais indenização, se o proponente, sem justa causa, cessar o atendimento das propostas ou reduzi-lo de forma a tornar antieconômica a continuação do contrato. Os tribunais terão papel de suma importância na pacificação de questões como estas e outras, que surgirão com o tempo, mas a comunidade científica, formada por atentos investigadores, tem responsabilidade ainda maior, pois estará dotando os tribunais de instrumentos doutrinários, para que estes decidam escorados em seus fundamentos. Bibliografia BULGARELLI, Waldirio. Contratos mercantis. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. DINIZ, Maria Helena. Tratado teórico e prático dos contratos. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. 3 v. FIÚZA, Ricardo. (Org.). Novo código civil comentato. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. LILLA, Paulo Eduardo. O abuso de direito na denúncia dos contratos de distribuição: o entendimento dos tribunais brasileiros e as disposições do novo código civil. Revista de Direito Mercantil, industrial, econômico e financeiro, São Paulo, v. 127. p. 229-247, jul./set. 2002. MELO, Natália Assis. A problemática da indenização decorrente da rescisão do contrato de distribuição em razão do tratamento dado pelo novo Código Civil. Revistas ESMAPE - Escola Superior da Magistratura de Pernambuco, Recife, n. 15, 2003. Disponível em <http://www.esmape.com.br/revista/ natalia_assis_rev15.htm>. Acesso em 03 dez. 2003. MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil: direito das obrigações. 34. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2003. THEODORO JÚNIOR, Humberto. Do Contrato de Agência e Distribuição no novo Código Civil. Mundo Jurídico, Rio de Janeiro, 2003. Disponível em <http://www.mundojuridico.adv.br/html/artigos/documentos/texto301.htm>. Acesso em 11 nov. 2003. VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil - contratos em espécie. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2003. Página 96 / 176 CONTRATO DE CORRETAGEM (arts. 722 a 729 CC) ANTUNES JÚNIOR, Antonio Carlos. Contrato de corretagem no novo Código Civil. Texto extraído do Jus Navigandi. Disponível em: http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=3901. Acesso em: 18 de maio de 2010. DO CONTRATO DE CORRETAGEM 1. Introdução e Conceito. Devemos salientar inicialmente que o código civil de 1916 nada dispôs em seus 1807 artigos sobre o contrato de mediação ou, também denominado, contrato de corretagem. Porém, o primeiro dispositivo legal que tratou da corretagem foi o Código Comercial, mas este instituto legal em nenhum momento disciplinou sobre o contrato. O Código Comercial tão somente regulamentou, em caráter geral, a profissão dos corretores, abordando em seus artigos 36 a 67, seus direitos e suas obrigações. Desta forma, há uma lacuna legal deixada pelo Código Comercial e pelo Código Civil de 1916 quanto ao Contrato de Corretagem, a qual somente foi sanada pelo novo Código Civil promulgado pela Lei 10.406 que entrará em vigor somente em 11 de janeiro de 2003. O Código Civil de 2002 em seus artigos 722 a 729 passa a disciplinar o Contrato de Corretagem, abrangendo todas as modalidades de corretagem, deixando para o Código Comercial e para as leis específicas a regulamentação da profissão do Corretor. Desta forma, mister se faz trazermos a baila as disposições do novo Código para a conceituação do instituto em estudo, visto que anteriormente havia um vácuo na lei. O artigo 722 do novo Código dispõe que "pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas". Portanto, o Contrato de Corretagem é contrato pelo qual uma pessoa, sem que haja contrato de mandato, compromete-se a uma obrigação de fazer: de obter um ou mais negócios, para outra pessoa, conforme as instruções passadas anteriormente, mediante o pagamento de uma remuneração. Para o professor e doutrinador Marco Aurélio Viana (1) o "Contrato de Corretagem é aquele pelo qual uma parte obriga-se para com outra a aproximar interessados e obter a conclusão de negócios, sem subordinação e mediante uma remuneração". Do conceito podemos estabelecer o devedor, o credor e o objeto da relação jurídica em tela. O Devedor será o Corretor, o qual possui a obrigação de aproximar pessoas que pretendem contratar, realizando desta forma uma intermediação, colocando o contratante em contato com pessoas interessadas em celebrar algum ato negocial (2). Do outro lado da relação jurídica, teremos o Comitente como credor da obrigação, o qual contrata o corretor para buscar pessoas interessadas em com ele realizar algum ato negocial. O objeto do contrato de corretagem é uma obrigação de fazer, que se desenvolve mediante esforços empregados para a convergência de interesses de outras pessoas (3). Os requisitos de validade do contrato de corretagem são os mesmos essenciais aos contratos em geral, ou Página 97 / 176 seja, são necessários: agente capaz (capacidade genérica ou especial), objeto possível e lícito e, forma não defesa ou prescrita em lei (4). 2. Características Jurídicas do Contrato de Corretagem. O Contrato de Corretagem possui as seguintes características jurídicas: bilateralidade, acessoriedade, onerosidade, aleatoriedade e consensualidade (5). O contrato é bilateral, visto que gera obrigações mútuas entre comitente e o corretor, posto que este deverá executar o encargo e aquele deverá remunera-lo. A mediação tem caráter acessório, posto que a sua existência está atrelada a um outro contrato, o qual deverá ser concluído. Será oneroso, posto que no adimplemento do contrato de mediação haverá ônus, vantagem e benefício patrimonial à ambos os contraentes, posto que assiste ao corretor direito ao recebimento de remuneração, geralmente variável (6). Trata-se de um contrato aleatório pelo fato de que o direito do corretor e a obrigação do comitente dependerão da conclusão do negócio principal, ou seja, dependerão de um fato futuro e incerto (7). E por último, é consensual visto que completa-se através do consenso mútuo, independente de forma, já que o novo Código, seguindo a posição jurisprudencial existente, não exigiu nenhuma forma legal. 3. Dos Corretores O corretor tem a função de aproximar pessoas que pretendem contratar, e deverá aconselhar a conclusão do negócio, informando as condições de sua celebração, a fim de conciliar os interesses (8). Para o ilustre jurista Orlando Gomes (9) a atividade do Corretor consiste em aproximar pessoas que desejam contratar, pondo-as em contato. Visando melhor elucidação, mister se faz citar as lições do professor Marco Aurélio Viana (10) que diz que "o corretor desenvolve um trabalho de intermediação, pondo o outro contratante em contato com pessoas que se interessam em celebrar algum contrato". Veremos, sucintamente, as espécies de corretores as quais foram objeto de compilação pela ilustre jurista Maria Helena Diniz em sua obra Curso de Direito Civil Brasileiro, 3o.Volume. Vale frisar que não adentraremos afundo na análise exposta pela renomada professora, posto que o nosso foco são os corretores imobiliários e a exigibilidade do contrato de corretagem para que estes façam jus à remuneração. 3.1. Espécies de Corretores (11). Nos ensinamentos da ilustre professora, os corretores são divididos em duas principais categorias, os Corretores Oficiais e os Corretores Livres. Os Corretores Oficiais são aqueles corretores que gozam de prerrogativas de fé pública inerente ao ofício disciplinado por lei, entre eles podemos citar como exemplo os Corretores de operações de câmbio; os de navios; os de seguros e os de valores mobiliários Já os Corretores Livres são aqueles que exercem o ofício de intermediadores continuadamente, porém sem nenhuma designação oficial, e assim encontramos nesta categoria os corretores de espetáculos públicos; os de artistas; os de esportistas profissionais; e os de bens móveis, entre outros. Quanto ao Corretor de Imóveis a lei 6.530/78, que foi regulamentada pelo Decreto 81.871/78, disciplina a sua Página 98 / 176 profissão e o funcionamento de seus órgãos fiscalizadores. Vale frisar que o Corretor Imobiliário é possuidor do título de "Técnico em Transações Imobiliárias", o qual deve ser obtido em curso especializado. 4. Das Obrigações do Corretor. 4.1. Das Obrigações do Corretor à luz do Código Comercial. Em virtude da atividade do corretor, a qual consiste em aproximar e conciliar interesses visando a conclusão do negócio desejado pelo comitente, a sua obrigação primordial é desenvolver os esforços necessários para que o negócio pretendido seja alcançado pelo comitente (12). Os artigos 36 e seguintes do Código Comercial, que tratam da profissão do Corretor, dispõem sobre as suas obrigações, as quais são: a) Sendo Corretor Oficial, deverá se matricular no Tribunal de Comércio de seu domicílio segundo o art. 38 do Cód. Comercial; e para exercer seu ofício deve prestar fiança, de acordo com os artigos 40 a 44 do mesmo diploma legal. b) Deverá o Corretor, à luz dos artigos 47 e 48, fazer assento exato e metódico de todas as operações em que intervier, tomando nota de cada uma que for concluída, sob pena de ser condenado à indenizar as partes do prejuízo que causar, além de ser multado em um quarto do valor da fiança e de sofrer suspensão de três a seis meses, como dispõe o artigo 51. c) Sendo exigido por alguma das partes, o corretor será obrigado a assistir à entrega das coisas vendidas por sua intermediação, sob pena de ser multado em cinco por cento do valor da fiança (art. 53). Também serão obrigados, em negociação de letras ou qualquer outro papel de crédito endossável ou Apólice Pública, a havê-los do cedente e a entregá-los ao tomador, bem como receber e entregar o preço (art. 54). d) Deverão, os corretores, garantir a entrega material do título ao tomador e do valor ao cedente, responsabilizando-se pela veracidade da última firma de todos e quaisquer papéis de crédito negociados por sua intervenção, e pela identidade das pessoas que intervierem nos negócios celebrados por sua mediação (art. 55) (13). e) Deverá guardar sigilo nas negociações, sob pena de ser condenado ao ressarcimento dos prejuízos causados, e de perder metade da metade da fiança e do ofício, conforme dispõe o artigo 56. f) No exercício de sua atividade, o corretor não deve usar de fraude, ou empregar cavilação ou engano, sob pena de sofrer as mesmas penalidades do artigo 51 (art. 57). g) Os corretores devem dar a cada um das partes contraentes, ultimada a transação de que tenham sido encarregados, cópia fiel do assento da mesma transação, por ele assinada, dentro do prazo de quarenta e oito horas úteis, sob pena de perder o direito à remuneração, e de indenizar as partes de todos os danos causados (art. 58). h) O Corretor, de acordo com as disposições dos incisos I a III do artigo 59, não podem : negociar em seu nome ou no de outrem; contrair sociedade de qualquer denominação ou classe e ter parte em navios ou carga, sob pena de perder o ofício e ter declarado o contrato nulo; encarregar-se de cobranças ou pagamentos por conta alheia; adquirir, para si ou parente, coisa cuja venda lhe foi incumbida ou a algum outro corretor. Vale apontar que o artigo 60 excetua desta disposição a aquisição de apólices da dívida pública de ações de sociedades anônimas, das quais o corretor não pode ser diretor, administrador ou gerente (14). 4.2. Das Obrigações à Luz do Novo Código Civil. Quanto às inovações do Novo Código Civil referente às obrigações do Corretor, devemos trazer a baila o Página 99 / 176 estudo do art. 723 o qual dispõe: "Art. 723 - O corretor é obrigado a executar a mediação com a diligência e prudência que o negócio requer, prestando ao cliente, espontaneamente, todas as informações sobre o andamento dos negócios; deve, ainda, sob pena de responder por perdas e danos, prestar ao cliente todos os esclarecimentos que estiverem ao seu alcance, acerca da segurança ou risco do negócio, das alterações de valores e do mais que possa influir nos resultados da incumbência". Assim, o Corretor tem como dever : a) Ser prudente e diligente ao executar o objeto do contrato, ou seja, a mediação do negócio, devendo agir sem que propicie a realização de contratos nulos e anuláveis; b) Prestar todas as informações sobre o andamento dos negócios, sempre de forma espontânea, visto que faz parte das suas atribuições de intermediador de negócios; c) Prestar todos os esclarecimentos sobre a segurança ou risco do negócio, as alterações de valores, e demais fatores que possam influir no resultado realização do negócio, sob pena se não o fizer, de responder por penas e danos causados em razão da omissão de algum fator que estava ao seu alcance; 5. Dos Direitos do Corretor. 5.1. Da Remuneração. Em razão do serviço que presta, colocando em relação duas ou mais pessoas para a conclusão do negócio que desejam contratar, o corretor terá direito a receber uma remuneração (15). De acordo com os ensinamentos da ilustre professora Maria Helena Diniz, a remuneração, que normalmente é designada como Comissão, pode ser Fixa : quando o seu quantum for uma importância certa, independente do valor do negócio; e Variável : quando proporcional ao valor da transação conseguida, respeitando o limite mínimo (16). O Novo Código Civil dispõe em seu artigo 724 que se a remuneração do corretor "não estiver fixada em lei, nem ajustada entre as partes, será arbitrada segundo a natureza do negócio e os usos locais". Assim, o artigo em tela dispõe que na ausência de estipulação legal ou contratual do quantum da comissão, esta deverá ser fixada de acordo com os Usos e Costumes em razão da natureza do negócio. Podemos citar como exemplo os contratos de mediação em negócios imobiliários, nos quais o costume fixa a comissão em 06% (seis por cento) do valor contratado. 5.2. Requisitos Legais que ensejam o Direito à Remuneração. Como regra geral, o corretor fará jus à sua comissão caso tenha aproximado as partes e estas tenham efetivado o contrato, conforme dispõe o artigo 725 do novo Código. Vale frisar que mesmo se as condições do negócio foram posteriormente alteradas o corretor terá direito à sua remuneração, visto que exerceu a sua principal obrigação e atingiu o resultado previsto no contrato de mediação, ou seja, a aproximação dos interessados para a realização do negócio. A remuneração também será devida quando, aproximada as partes, o negócio não se implementar em razão do arrependimento dos interessados, conforme dispõe a segunda parte do artigo 725 do novo Código. Vale frisar que iniciado e concluído o negócio entre as partes, o corretor não fará jus à comissão, porém caso o contrato de mediação tenha expressa a cláusula de exclusividade, a remuneração será devida, conforme o disposto no artigo 726 do novo Código. O mesmo artigo 726, dispõe que na hipótese acima exposta, o corretor que tiver exclusividade não terá direito à comissão se provada a sua inércia ou ociosidade. Página 100 / 176 Vale salientar que esta exceção poderá ensejar diversas controvérsias e dúvidas durante o exercício diário do direito, visto que qual seria o parâmetro de conduta para determinar o que seria inércia e ociosidade do corretor? O artigo 727 dispõe que "se, por não haver prazo determinado, o dono do negócio dispensar o corretor e o negócio de realizar posteriormente, como fruto da sua mediação, a corretagem lhe será devida; igual solução se adotará se o negócio se realizar após a decorrência do prazo contratual, mas por efeito, mas por efeito dos trabalhos do corretor". Desta forma, nos casos de contrato de mediação sem prazo determinado, se o comitente dispensar o corretor, mas o negócio se realizar a posteriori em virtude da mediação do corretor, a comissão lhe será devida, como dispõe o artigo em tela. A mesma solução é adotada pelo artigo em estudo nos casos de contratos de corretagem com tempo determinado, em que o negócio se realizou após o término do prazo, e em virtude dos trabalhos exercidos pelo corretor. O artigo 728 dispõe que "se o negócio se concluir com a intermediação de mais de um corretor, a remuneração será paga a todos em partes iguais, salvo ajuste em contrário". A exceção aberta no final do artigo, entendemos que diz respeito à cláusula de exclusividade no contrato de corretagem, a qual tem como objetivo dar ao corretor de perceber a integralidade da remuneração ajustada. Vale frisar, por último, que no entendimento do ilustre doutrinador Orlando Gomes (17) o Corretor perderá o direito à remuneração se o contrato for nulo, e a anulabilidade somente seria oponível ao corretor se a causa fosse de seu conhecimento. 5.3. Quem deve pagar a remuneração do Corretor? (18) Em tese, a comissão do corretor é devida pelas partes, visto que usufruem igualmente do trabalho por ele desenvolvido para a conclusão do negócio. Vale apontar que não trata-se de obrigação solidária, mas entende-se que trata-se de duas relações distintas com as partes, sendo cada qual obrigada a pagar a sua quota. Porém, se somente uma das partes encarregou o corretor de procurar o negócio determinado, esta será incumbida de pagar a referida remuneração. Vale salientar que se a lei ou o contrato não determinar quem deve pagar a comissão de corretagem, devemos buscar nos usos e costumes a solução para tal. Usualmente, no nosso direito, quem paga a comissão é quem procura os serviços do corretor, como, por exemplo, nos contratos de compra e venda, o vendedor é quem terá a referida incumbência. A solução adotada, parece ser a mais lógica, visto que aquele que contrata o corretor, é quem deve remuneralo pelo serviço prestado, visto que o terceiro não estabelece nenhuma relação jurídica com este. NOTAS 01. VIANA, Marco Aurélio¸ Curso de Direito Civil, p. 533. 02. DINIZ, Maria Helena, Curso de Direito Civil Brasileiro, 3o. Volume, p. 458. 03. DINIZ, Maria Helena, Curso de Direito Civil Brasileiro, 3o. Volume, p. 458. 04. Conforme veremos adiante, o contrato de corretagem não possui forma prescrita em lei. 05. DINIZ, Maria Helena, Curso de Direito Civil Brasileiro, 3o. Volume, p. 459. Página 101 / 176 06. GOMES, Orlando, Contratos, p. 381. 07. DINIZ, Maria Helena, Curso de Direito Civil Brasileiro, 3o. Volume, p. 459. 08. GOMES, Orlando, Contratos, p. 461. 09. GOMES, Orlando, Contratos, p. 380. 10. VIANA, Marco Aurélio¸ Curso de Direito Civil, p. 533. 11. DINIZ, Maria Helena, Curso de Direito Civil Brasileiro, 3o.Volume, p. 460. 12. VIANA, Marco Aurélio¸ Curso de Direito Civil, p. 534. 13. DINIZ, Maria Helena, Curso de Direito Civil Brasileiro, 3o.Volume, p. 465. 14. DINIZ, Maria Helena, Curso de Direito Civil Brasileiro, 3o.Volume, p. 466. 15. GOMES, Orlando, Contratos, p. 380. 16. DINIZ, Maria Helena, Curso de Direito Civil Brasileiro, 3o.Volume, p. 463. 17. op. cit., p. 381. 18. GOMES, Orlando, Contratos, p. 382. BIBLIOGRAFIA DINIZ, Maria Helena, Curso de Direito Civil Brasileiro, Teoria das Obrigações Contratuais e Extracontratuais, 12a. Edição, São Paulo: Saraiva, 1997. VIANA, Marco Aurélio¸ Curso de Direito Civil, Vol. 5, Belo Horizonte: Libraria Del Rey Editora, 1996. GOMES, Orlando, Contratos, 24ª. Edição, Rio de Janeiro: Editora Forense, 2001. Página 102 / 176 CONTRATO DE TRANSPORTE (arts. 730 a 756 CC) 1 – ASPECTOS GERAIS O Artigo 730 do Código Civil conceitua os contratos de transporte como o pacto pelo qual “alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar, de um lugar para o outro, pessoas ou coisas.” VENOSA (2003, p. 481), em sua obra Direito Civil – Contratos em Espécie, conceitua o instituto como “negócio pelo qual um sujeito se obriga, mediante remuneração, a entregar coisa em outro local ou a percorrer um itinerário para uma pessoa.” Assim, podemos chegar à conclusão de que é contrato de transporte todo pacto pelo qual alguém, seja pessoa física ou jurídica, compromete-se a trasladar de um local para outro, pessoas ou coisas, mediante recebimento de remuneração. Do conceito obtido, devemos traçar algumas considerações de suma importância. Primeiramente, deve-se observar que para que se configure o contrato de transporte cujas regras gerais serão dadas pelos artigos 730 a 756 do Código Civil, há de ser obrigatória que o mesmo se faça mediante retribuição para o transportador, caso contrario estaríamos diante do transporte gratuito, que falaremos adiante, em tópico próprio. Oportuno esclarecer que não há a necessidade de que o transporte seja feito apenas mediante pagamento em espécie. O próprio Código Civil, no parágrafo único do art. 736, considera como contrato oneroso os que, ainda que feito sem remuneração, tragam vantagens indiretas ao transportador. Outra matéria que deve ser tratada quando se aduz o conceito deste tipo de contrato é a sua diferenciação para as outras espécies de contratos que tragam o transporte como meio acessório para o seu cumprimento. A essência do contrato de transporte é o traslado de pessoas e bens, constituindo esse deslocamento o núcleo, a natureza jurídica do contrato. O deslocamento é o objetivo fim do contrato. Outrossim, existem outras modalidade de contratos que utilizam-se do transporte apenas como meio acessório para cumprimento de determinada obrigação. É o que podemos observar no contrato de compra e venda de determinado bem móvel, onde o vendedor se compromete a entregar o objeto em sua residência. Podemos citar como exemplo a hipótese corriqueira da compra de uma geladeira em determinada loja de eletrodomésticos, onde a esta se compromete a fazer a entrega do bem. Caso a objeto sofra algum dano ou avaria durante esse transporte, a loja será responsabilizada de acordo com as normas vigentes ao contrato de compra e venda, e não ao contrato de transportes, haja vista que trata-se daquela modalidade de contrato, sendo o transporte apenas um meio acessório para a sua execução. Tratando-se de transporte exercido por meio da autorização, concessão ou permissão, institutos do ramo de Direito Administrativo, o art. 731 do Código Civil dita que os mesmos serão regidos pelas normas regulamentares e pelo que for estabelecido naqueles atos. Nesse ínterim, o art. 21, inciso XII, d e e, da Carta Magna, traz a competência da união, in verbis: “art. 21 – compete à União: [...] XII – explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão: [...] Página 103 / 176 d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de Estado ou Território; e) os sérvios de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros;” O art. 30, insico V, também da Constituição Federal, passa a tratar da competência do município em matéria de transportes, aduzindo que lhe compete “organizar a prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial.” (grifamos) Ao Estado a Constituição lhe atribui a competência remanescente, através do § 1º do art. 25. 2 – CARACTERÍSTICAS Voltando ao estudo da Teoria Geral dos Contratos, podemos observar que o contrato de transporte, assim como todos os demais contratos típicos, possui suas características próprias, que passarão a ser analisadas individualmente. Trata-se de uma contrato sinalagmático (bilateral), ao passo que gera obrigações para ambas as partes contratantes, ficando o transportador obrigado a percorrer o trajeto para o passageiro ou remetente do bem, e estes, por sua vez, ficam obrigados a efetuar o pagamento do deslocamento. É oneroso, haja vista que ambas as partes buscam vantagens recíprocas; o pagamento para o transportador; e o deslocamento para o contratante. Por se tratar de um negócio jurídico, cujo núcleo principal de existência e validade é a livre declaração de vontade, o contrato de transporte é consensual, pois aperfeiçoa-se com essa declaração. È comutativo, pois as parte devem conhecer desde o início do contrato os limites de suas obrigações, não dependendo o mesmo de evento futuro e incerto. É um contrato de duração, pois o mesmo não de inicia, executa e conclui em apenas um ato, dependendo de certo lapso temporal para que o mesmo seja cumprido. Também possui a característica de ser típico, haja vista ter sido expressamente tipificado pelo Código Civil de 2002. E, por último, trata-se de contrato não solene, vez que não necessitado de maiores formalidades, podendo ser pactuado verbalmente, o que ocorre na grande maioria dos casos. 3 – MODALIDES DE TRANSPORTE Quanto ao objeto, o contrato de transporte poderá ser: a) De pessoas; b) De coisas . Já quanto ao meio empregado, o transporte poderá ser: a) Terrestre; § Rodoviário § Ferroviário b) § Aquático; Marítimo Página 104 / 176 § Hidroviário § Fluvial c) Aéreo. 4 – RESPONSABILIDADE CIVIL Diz o art. 734, do CC/02 que “o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente de responsabilidade”. Pela leitura do artigo em estudo, podemos concluir que o legislador, ao normatizar as regras do contrato de transporte, imputou ao transportador a responsabilidade civil objetiva no caso dos danos causados. Chegamos facilmente a essa conclusão ao analisar a primeira parte do artigo, onde apenas atribui a responsabilidade ao transportador, não se preocupando em avaliar se o nexo causal existente entre a ação/omissão e o dano efetivamente causado foi eivado de culpa ou dolo. Inclusive institui que qualquer cláusula que exclua tal responsabilidade será considerada nula, seguindo orientação transcrita pela sumula 161 do STF, in verbis: “Em contrato de transporte, é inoperante a cláusula de não indenizar.” O art. 735, também do Código Civil, vem para reforçar a atribuição da responsabilidade objetiva ao transportador, ao afirmar que “a responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageira não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva.”. Nesse aspecto, o legislador apenas trasladou para o Código Civil um entendimento já sumulado pelo STF, através de sua sumula n.º 187. Um exemplo clássico para essa situação é aquele em que um passageiro sofre danos materiais decorrente de um acidente com o ônibus que o transportava, acidente esse provocado por veículo de um terceiro que avançou o semáforo fechado em seu sentido. Nesse caso, o passageiro recorre judicialmente à empresa de transporte, cabendo a ela uma ação regressiva em face do motorista causador do acidente. Assim, está claro que o objetivo do legislador é proteger o hiposuficiente da relação contratual. 5 – TRANSPORTE DE PESSOAS O transporte de pessoas é aquele pelo qual o transportador se obriga a trasladar o passageiro até o destino objetivado. São partes no contrato o transportador e o passageiro. Essa é a modalidade de contrato mais utilizado no cotidiano de uma pessoa. Alguns trabalhadores pactuam esse contrato, ainda que sem conhecimento, pelo menos quatro vezes ao dia. Exemplo clássico é o transporte coletivo urbano. O passageiro, mediante bilhete de passagem, contrata com o transportador o seu deslocamento para o lugar de seu destino. Esse bilhete poderá ser nominal, como ocorre com as passagens para transporte aéreo, ou ao portador, como acontece quando compramos uma passagem interestadual rodoviária. Vale lembrar que no caso de passagem rodoviária intermunicipal, as empresas exigem o preenchimento de documento contendo o nome Página 105 / 176 e dados documentais do passageiro, o que não torna o bilhete um titulo nominal, haja vista que esse preenchimento é valido apenas a titulo de identificação e controlo dos passageiros. Conforme já mencionado, trata-se de um contrato sinalagmático, gerando, portanto, obrigação para ambas as partes. Assim passaremos a analisar algumas dessas obrigações. 5.1 Passageiro Reza o art. 740 e §§, que o passageiro poderá rescindir, unilateralmente, o contrato de transporte, sendolhe devida a restituição, em três hipóteses: a) Antes de iniciar a viagem, desde que faça a comunicação ao transportador em tempo hábil; b) Após iniciada a viagem, tendo direito apenas à restituição do valor referente ao trecho não utilizado e desde que fique provado que outra pessoa viajou em seu lugar; c) Caso não se apresente para o embarque e desde que fique provado que outra pessoa viajou em seu lugar. Nas situações apresentadas nas letras b e c, o passageiro somente teria direito a restituição caso ficasse provado que outra pessoa viajou em seu lugar. Isso foi fixado visando proteger as empresas do prejuízos, haja vista que com a venda do bilhete ao passageiro, a mesma deixou um lugar reservado ao mesmo, e, no caso de sua desistência, teria ela prejuízo, caso tivesse que devolver o valor e a poltrona fosse vazia. No que tange à prova, por tratar-se de prestação de serviços e, portanto, inerente às normas do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, cabe ao transportador provar que outra pessoa viajou no lugar do passageiro, haja vista o instituto da inversão do ônus da prova, presente no inciso VIII, do art. 6º. Tem o passageiro direito à franquia de bagagem, entendendo-se esta como bem acessório ao transporte de pessoas. Assim, ao realizar contrato de transporte de pessoas, o passageiro adquire o direito ao transporte acessório de suas bagagem, não constituindo o mesmo um contrato paralelo de transporte de coisas. Outros direitos cabem ao passageiro, oriundos do próprio núcleo do contrato de transporte, como por exemplo: - Exigência de transporte incólume; - Usufruição dos serviços oferecidos pelo transportador; - Ocupação no lugar mencionado n bilhete; Em contrapartida, como em todo contrato bilateral, tem o passageiro a obrigação de cumprir com seus deveres, como, por exemplo, o pagamento da tarifa, sendo esta a obrigação principal. Outros deveres: - Apresentação pontual para embarque; - Procedimento adequado ao transporte; - Sujeição às normas legais da empresa; 5.2 Transportador Passamos, agora, a analisar os direitos e os deveres do transportador. Entre os direitos, destacamos o direito de retenção de bagagem. Assim como ocorre na classe de hotelaria, caso o pagamento do contrato de transporte se dê na conclusão do mesmo, não adimplindo o Página 106 / 176 passageiro com sua obrigação, estará o transportador no direito de reter a bagagem do mesmo, até o limite da obrigação daquele. Outro direito de suma importância é o direito de reter 5% (cinco por cento) do valor da passagem no caso de desistência do passageiro elencados nos § 1º e 2º do art. 740. Isso se dá pelo fato de que o transportador possui outros gastos com a emissão de bilhete de passagem, como, por exemplo, o papel utilizado, a tinta da máquina de imprimir, a hora de trabalho do funcionário que vendeu a passagem, dentre outros. Assim, essa retenção serve para amenizar essas despesas suportadas pelo transportador. O transportador poderá impedir o embarque de passageiro mal trajado ou sob o efeito de álcool e entorpecentes, ou substância que gere dependência físico-psíquica. Poderá, ainda, determinar o desembarque, na próxima escala, do passageiro inoportuno ou inconveniente, que não esteja respeitando as normas legais impostas pela empresa. O principal dever do transportador é contratar seguro para os passageiros. Outros deveres: - Responsabilidade por danos aos passageiros; - Responsabilidade por atrasos; - Transporte diligente e incólume; - Ceder franquia de bagagem. 6. TRANPORTE DE COISAS No transporte de coisas as partes contratantes são remetente, pessoa depositária do objeto e que contrata o transporte ao seu destino, e transportador. Alguns renomados autores, dentre eles Washington de Barros Monteiro, incluem o consignatário (pessoa destinatária do objeto) como parte nessa modalidade de contrato. Não seguimos essa linha, pois entendemos que o consignatário apenas sofre alguns dos efeitos do contrato, mas não se insere como parte do mesmo. Inclui-se no contrato de transporte de coisas o transporte de animais. Nessa modalidade de contrato, a responsabilidade do transportador será limitada ao valor constante no conhecimento, que é o documento emitido quando da entrega do objeto ao transportador. É o correspondente ao bilhete de passagem no transporte de pessoas. O Conhecimento possui a característica da literalidade, ou seja, o que estiver escrito no mesmo valerá como lei. Outra característica é a de ser um documento endossável, a exceção de possuir cláusula “não à ordem”. Passaremos, agora, à análise dos direitos e deveres das partes envolvidas. 6.1 Remetente O principal direito do remetente é a chamada variação de consignação, que é a troca de destino do objeto. Por esse instituto, poderá o remetente alterar o local de entrega da mercadoria, para outro diverso do anteriormente estipulado, desde que seja feita a solicitação antes da entrega ao destinatário. Assim, se o objeto já encontra-se na cidade de destino, porém em armazém do transportador, não sendo feita a entrega ao destinatário, poderá o remetente alterar o local de entrega para outro diverso daquele. Outro direito do remetente é o que diz respeito à indenização por perda, furto ou avaria da coisa, incluindo-se neste o vício redibitório, previsto no art. 441 do Código Civil. Outrossim, no que diz respeito Página 107 / 176 ao vício redibitório, o parágrafo único do art. 754, prevê que o prazo prescricional para reclamar é de 10 (dez) dias, contados da entrega do objeto. Nesse ponto, o Código Civil não foi tão generoso como o Código de Defesa do Consumidor, que prevê que o prescrição começa a contar da data que o consumidor descobre o vicio redibitório. Dentre os deveres do remetente estão: - Declaração do valor e da natureza das mercadorias acondicionadas em embalagens fechadas; - Acondicionamento satisfatório da mercadoria; 6.2 Transportador Dentre os direitos do transportador, podemos citar o direito de retenção. Semelhante ao que ocorre no transporte de pessoas, poderá o transportador reter a mercadoria transportada, a título de pagamento de frete, caso tenha sido pactuado para ser feita no destino e encontra-se inadimplida. Poderá, ainda, o transportador reajustar o frete, em caso de exercício do direito de variação de consignação por parte do remetente. Outro direito que caberá ao transportador será o de efetuar o transporte cumulativo, meio pelo qual o transportador “terceiriza” o transporte em determinado trecho, que será feito por empresa distinta da contratada. Nesses casos, conforme preceito do art. 733, cada transportador será responsabilizado pelos danos causados ao objeto relativamente ao respectivo trecho percorrido. O art. 746 elenca as hipóteses em que o transportador poderá recusar o transporte de mercadorias, inserindo-se tais hipóteses numa faculdade do transportador, cabendo a ele próprio avaliar os riscos e decidir pela aceitação ou não do transporte. Já o art. 747 traz o rol de hipóteses nas quais o transportador deverá recursar o transporte de mercadorias, constituindo em dever legal, não cabendo ao transportador a análise pela aceitação ou não do transporte. Dentre os deveres do transportador, elencamos: - Expedição de conhecimento; - Aceitação da variação de consignação. 7. TRANSPORTE GRATUITO O transporte desinteressado, feito por mera cortesia, não possui suas regras ditadas pelos contratos de transporte previsto nos art. 730 a 756. A súmula 145 do STJ, dita que: “No transporte desinteressado, de simples cortesia, o transportador se será civilmente responsável por danos causados ao transportado quanto incorrer em dolo ou culpa grave.” Com isso, mudamos a figura da responsabilidade civil, passando-se a adotar a modalidade subjetiva, haja vista que o transportador somente será responsabilizado caso incorra em dolo ou culpa grave. Assim, o condutor de veículo somente será responsabilidade pelo danos causados a uma pessoa a qual dê carona, caso esteja em alta velocidade, caso em que restará comprovada a imprudência, uma das modalidades de culpa. Página 108 / 176 Assim, em qualquer que seja a situação, o transportado deverá, além de comprovar o dano e a ação/omissão da agente causador, provar que o mesmo agiu com dolo ou culpa grave, para aí sim ter direito à reparação de seus danos. BIBLIOGRAFIA - AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria Geral das obrigações. 2. ed. São Paulo: Hemeron, 1978. - DINIZ, Maria Helena. Tratado Teórico e Prático dos Contratos. São Paulo: Saraiva,1993.5 v. - GOMES, Orlando. Contratos. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense: 1983. - MONTEIRO, Washington de Barros. Tratado de Direito Privado. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 1980 v.5: Direito das Obrigações: 2ª parte. - VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: contratos em espécie. São Paulo: Atlas, 2003. (Elaborado em julho/2005) Página 109 / 176 CONTRATO DE SEGURO (arts. 757 a 802 CC) LOUREIRO, Carlos André Guedes. Contrato de seguro. Texto extraído do Jus Navigandi. Disponível em: http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=3777. Acesso em: 18 de maio de 2010. 1. INTRODUÇÃO De acordo com o art.757 do Novo Código Civil (NCC), a definição legal de seguro é: contrato pelo qual o segurador se obriga a garantir, contra riscos predeterminados, interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou à coisa, mediante o pagamento do prêmio por este. Como veremos mais adiante, apesar do número relativamente elevado de artigos do NCC que tratam da matéria (ao todo 45, do art. 757 ao 802), existe uma grande quantidade de legislação extravagante, resultado do campo de abrangência dos seguros. Não poderia, contudo, ser de outra forma, pois a necessidade social fez com que os seguros fossem utilizados para garantir os mais diversos interesses: dos mais tradicionais (v.g., bens móveis e imóveis) até os mais impensados (e.g. voz de cantores, membros de atletas e, até mesmo, seios e nádegas de artistas), bem como de interesses relativos a bens que ainda nem existem (pode-se fazer seguro de aplicações de bolsas de futuros). Apesar da regulamentação trazida no Código Civil, provavelmente, o campo de maior abrangência dos seguros seja o do Direito Comercial, sendo que, de acordo com os historiadores, o berço deste contrato foi exatamente o comércio. 2. CONTRATO DE SEGURO 2.1 Definição Sendo um contrato típico na sistemática do Direito pátrio, o contrato de seguro vem definido no art. 1.432 do Código Civil de 1.916 (CC) como "aquele pelo qual uma das partes se obriga para com a outra, mediante a paga de um prêmio, a indenizá-la do prejuízo resultante de riscos futuros previstos no contrato". Esta disciplina não difere materialmente da dada pelo NCC, que, em seu art. 757, define este contrato como aquele pelo qual "o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados". Em ambos os casos encontramos os mesmos elementos: partes e o objeto. Contudo, a redação no NCC apresenta uma técnica mais apurada já que evita utilizar-se do verbo "indenizar" que, no entendimento de Sílvio Venosa, é imprópria, pois envolve a idéia de inadimplemento de obrigação e culpa, quando, no contrato em questão, é contraprestação contratual. Apesar disso, chama-se a quantia paga ao segurado de indenização. As definições apresentadas no CC e NCC para o contrato de seguro são genéricas, assim como todo o tratamento dado por estes diplomas legais ao instituto. Tendo em vista o imenso campo de abrangência dos seguros na sociedade hodierna e a rápida evolução das necessidades sociais, o legislador preferiu deixar para a legislação extravagante a disciplina das diversas subespécies de seguro. Ao Código restou a disciplina geral deste contrato, que, pela sistemática brasileira, é unitário, embora integrado por espécies diferentes. Página 110 / 176 É sabido que com o advento do NCC, também será revogado o Código Comercial de 1.850, o que não significará a abolição da dicotomia do Direito Privado e do Comercial, sobre tudo porque o novo diploma traz em seu Livro II a disciplina do Direito Empresarial. Entretanto, apesar do contrato de seguro não estar disciplinado neste livro do NCC e, atualmente, estar disciplinado no CC, sua natureza é mercantil. E isto se deve não apenas a sua origem histórica. De acordo com Orlando Gomes, o seguro é contrato mercantil, pois, por imposição legal, só "‘empresas’ organizadas sob forma de ‘sociedade anônima’ podem celebrá-lo na qualidade de segurador.... A natural exigência de que o segurador seja uma sociedade por ações desloca o contrato do Direito Civil para o Direito Comercial, tornando-o um ‘contrato mercantil’". Ao contrato de seguro também é aplicada as regras do Código de Defesa do Consumidor. É o que se depreende da análise do caput do art. 2º e do art. 3º, parágrafo 2º deste diploma legal: Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. (...) Art. 3º... § 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. (grifo nosso) Da definição do NCC depreende-se a existência de duas partes: o segurador e segurado, que, no entanto, não são as únicas, uma vez que pode surgir a figura do beneficiário, terceiro que receberia a indenização no caso de seguros de vida e obrigatório contra acidentes de trabalho em que resultasse a morte do segurado. Este estaria contido na expressão "interesse legítimo do segurado", mostrando mais uma vez a redação mais apurada no NCC, já que no CC, a estipulação em favor de terceiro tem que vir expressa nos dispositivos que tratam de seguro de vida. O objeto do contrato de seguro, segundo C. M. da Silva Pereira, é o risco, que, por enquanto, limitar-nos-emos a defini-lo como o evento futuro e incerto, o qual, em se concretizando, ensejará o cumprimento da contraprestação de "indenizar" por parte do segurador. Estes elementos do contrato de seguro, junto com os outros ainda não apresentados serão objeto de análise aprofundada, a qual procederemos mais abaixo. 2.2 Caracteres Jurídicos Da análise da definição do contrato de seguro podemos apontar os seus caracteres: 1-) BILATERALIDADE ou SINALÁGMA: todo contrato, por sua natureza convencional, envolve em sua formação dois ou mais centros de interesse, logo são geneticamente bilaterais (bilateralidade do consentimento). No caso, o contrato de seguro é bilateral devido aos efeitos por ele gerados que, exatamente, a constituição de obrigações para ambos os contraentes, ou seja, há reciprocidade de obrigações (sinalágma). As partes, segurado e segurador, são sujeitos de direitos e deveres: um tem como uma de suas prestações a de pagar o prêmio e o outro tem como contraprestação pagar a indenização em se concretizando o risco (ocorrência do "sinistro"). 2-)ONEROSIDADE: não há dúvida que o seguro traz vantagens a ambos os contraentes, frente a um sacrifício patrimonial de parte a parte: o segurado passa a desfrutar de garantia no caso de sinistro e o Página 111 / 176 segurador recebe o prêmio. O fato da não ocorrência do sinistro, caso em que o segurador não teria que pagar a indenização, não descaracterizaria a onerosidade, visto que, ainda assim o segurado desfrutará da vantagem de gozar de proteção patrimonial. 3-)ALEATÓRIO: como expusemos acima, pode acontecer de não se fazer necessário o pagamento da indenização em não ocorrendo o sinistro ou, vamos mais além, a depender do seguro, pode não se fazer necessário o pagamento do valor integral da contraprestação a que se tem direito. Em sendo assim, é impossível, de antemão, proceder-se a qualquer avaliação quanto às prestações devidas de parte a parte. A equivalência ou não das obrigações fica a cargo da álea (sorte) que, em última análise, determinará a ocorrência ou não do sinistro e sua extensão, baseado no qual se pagará a indenização. Já existe um posicionamento mais inovador que aponta o caráter comutativo do contrato de seguro, afirmando que a contraprestação da seguradora é certa e que consiste na garantia, ou seja, em suprimir os efeitos de um fato danoso, ao menos quanto ao seu conteúdo econômico. 4-)DE ADESÃO: com a expansão do campo de atuação dos seguros (não só no que diz respeito aos interesses protegidos, mas ao número de segurados), este contrato passou a ter cláusulas e condições préestabelecidas impossibilitando o debate e transigência entre as partes. Dessa forma, no momento de sua celebração, apenas caberá ao segurado aderir ao que lhe é proposto. Tal situação não se deve apenas ao fato do segurador, muitas vezes, ser economicamente superior ao segurado, podendo assim impor sua vontade. Elementos como mutualidade e os cálculos de probabilidades (fundamentais ao seguro) são necessários para definir o prêmio, a indenização e os riscos a serem cobertos e não permitem que com cada segurado seja celebrado um contrato distinto. O fato de ser contrato de adesão não impede a aposição de cláusulas outras acordadas com o segurado, especialmente porque, normalmente, os contratos de seguro já são padronizados trazendo todas as cláusulas necessárias. Não podem, todavia, modificar substancialmente o conteúdo do contrato. Também devido a sua natureza de contrato de adesão, a tendência legislativa é de favorecer o segurado, uma vez que se encontra numa posição de inferioridade frente a seguradora, não lhe cabendo outra alternativa a não ser aderir às condições estabelecidas pelos seguradores. Pelas mesmas razões a máfé não se presume, devendo sempre ser demonstrada por provas nos autos e, na dúvida, o segurador deve responder pela obrigação (RT, 585:127). O art. 423 do NCC traz a disposição expressa de que "Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente" e, no caso específico dos seguros, é confirmado pela jurisprudência. 5-)DE EXECUÇÃO CONTINUADA: o seguro é feito para ter uma certa duração, ao longo da qual se protegerá o bem ou a pessoa. Enquanto o contrato estiver vigente, o segurador é obrigado a garantir os interesses do segurado. 6-)CONSENSUAL: grande parte da doutrina afirma que o contrato de seguro está perfeito e acabado quando se der o acordo de vontades (consenso das partes). Numa primeira análise do art. 758 do NCC, poder-se-ia concluir que o seguro seria formal devido à necessidade do documento. Todavia, percebe-se facilmente que o documento exigido não faz parte da substância do ato, possuindo apenas caráter probatório. Página 112 / 176 No entanto, a posição de que o contrato de seguro seria contrato FORMAL também é defendida por juristas não menos importantes, como C. M. da Silva Pereira. Maria Helena Diniz, baseada no art. 1.433 do CC, afirma "ser obrigatória a forma escrita, já que não obriga antes de reduzido a escrito,…. A forma escrita é exigência para a substância do contrato". Parece-nos, todavia, mais lógica a posição defendida pela maioria da doutrina, a qual esposamos e analisaremos mais detidamente quando tratarmos dos requisitos formais do seguro. 7-)DE BOA-FÉ: a boa-fé é inerente a qualquer contrato, como princípio basilar. No NCC, a previsão da boa-fé contratual vem expressamente prevista no art. 422: "Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé". No entanto, ao se dizer que o seguro é um contrato primordialmente de boa-fé, o faz-se tendo em vista que o Código traz, em dispositivos específicos deste instituto que reforçam que ambas as partes devem agir de boa-fé. O segurado deve manter uma conduta sincera e leal em suas declarações feitas a requerimento do segurador, sob pena de receber sanções em procedendo de má-fé. A má-fé de qualquer uma das partes não se presume sendo necessária a sua comprovação. Além dos dispositivos do NCC que exigem a boa-fé, pelo fato deste contrato se encontrar também sobre a chancela do Código de Defesa do Consumidor, tem-se reforçada esta exigência, principalmente por parte do segurador. Ou seja, se a boa-fé é importante para todo e qualquer contrato, no de seguro é mais ainda. 2.3 Elementos e Requisitos 2.3.1 Sujeitos 2.3.1.1 Segurador O segurador é a parte no contrato de seguro que, mediante o recebimento do prêmio, assume o risco e passa a ter como contraprestação pagar a "indenização" no caso da ocorrência do sinistro. O parágrafo único do art. 757 do NCC, logo após definir o que é seguro, determina que: "Somente pode ser parte, no contrato de seguro, como segurador, entidade para tal fim legalmente autorizada". Dessa forma, não é qualquer pessoa que pode figurar no contrato de seguro como segurador, sendo a limitação trazida no Código, apenas uma das várias que figuram no ordenamento jurídico pátrio naquilo que diz respeito ao exercício da atividade securitária. C. M. da Silva Pereira diz que as entidades que podem ser seguradoras possuem capacidade de segurador. Pode-se dizer que esta capacidade vem definida no art. 1º do Decreto-lei 2.063 de 7 de março de 1940, que dispõe: Art. 1ºA exploração das operações de seguros privados será exercida, no território nacional, por sociedades anônimas, mútuas e cooperativas, mediante prévia autorização do Governo Federal. Parágrafo único. As sociedades cooperativas terão por objeto somente os seguros agrícolas, cujas operações serão reguladas por legislação especial. Baseados neste dispositivo legal, poderíamos tentar definir a capacidade de segurador, ainda que de forma bastante genérica, como: a capacidade de sociedades anônimas, mútuas e cooperativas de explorar as operações de seguros privados, desde que previamente autorizadas pelo Governo Federal. Repetimos que esta é uma definição genérica, uma vez que o próprio Decreto-lei 2.063, e a legislação extravagante traz Página 113 / 176 ainda disposições mais específicas sobre os requisitos a serem preenchidos para que se possa explorar a atividade securitária. Apesar de não ser completa, da definição apresentada acima, podemos obter uma série de conclusões. Apenas pessoas jurídicas podem ser seguradoras, de maneira que pessoas físicas somente podem figurar no pólo de segurado do contrato. Não basta, todavia, simplesmente ser pessoa jurídica, mas ser das espécies que a lei exige: sociedades anônimas, cooperativas e mútuas. Este rol, no entanto, ficou mais reduzido ainda com o advento do Decreto-lei nº 73 de 1963, que só passou a admitir sociedades anônimas e cooperativas, sendo que no caso destas, somente para seguros agrícolas e de saúde. As sociedades mútuas, previstas nos arts. 1.466 ao 1.470 do CC, do que se depreende do Decreto-lei nº 73, não mais são autorizadas a explorar a atividade securitária. As que existiam ao tempo deste Decreto, todavia, foram autorizadas a continuar funcionando. Estas sociedades, também chamadas de sociedades de seguro mútuo, são bastante semelhantes às primeiras formas de proteção contra os riscos de que faziam uso os mercadores marítimos há vários séculos. Consistem em grupos de pessoas que se unem para se proteger de determinados prejuízos através da dispersão do evento danoso entre seus vários membros. Estes, por sua vez, contribuem para a sociedade mútua (tornando-se detentores de apólices e não de ações) de forma a poderem fazer frente aos riscos que venham se concretizar para seus sócios. Estas sociedades, segundo Sílvio S. Venosa, na medida em que não tinham fim lucrativo, não faziam com que seus diretores se empenhassem como empresários, de maneira que, ao contrário do que ocorre em outros países, não tiveram o sucesso esperado, sendo por fim abolidas pelo legislador. Além das exigências quanto à espécie da pessoa jurídica a exercer a atividade securitária, podemos ainda apontar outros fatores para a aquisição da capacidade de segurador. O parágrafo único do art. 757 enuncia que a entidade deve estar legalmente autorizada, o que consiste em ter a autorização do Ministério da Fazenda e tornar-se sujeita a fiscalização da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). A autorização, por sua vez, será específica quanto ao ramo de seguros permitidos à sociedade explorar. A sociedade seguradora também fica vedada de explorar qualquer outro ramo de atividade econômica. No que diz respeito a sua constituição, organização e funcionamento, a seguradora deve seguir as regras gerais de sociedades anônimas e cooperativas, bem como as estabelecidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP). Dentre as condições exigidas pelo Decreto-lei nº 2.063 para o funcionamento da seguradora podemos apontar: a constituição do capital mínimo exigido para o início do funcionamento da sociedade; depósito inicial do capital já efetivado no Banco do Brasil; exemplar do Estatuto da sociedade; e fiscalização pela SUSEP. Surgida a sociedade seguradora, fica ela sujeita a liquidação extrajudicial, não sujeita a falência nem concordata. 2.3.1.2 Segurado O segurado é a pessoa física ou jurídica "que tem interesse direto e legítimo na conservação da coisa ou pessoa, fornecendo uma contribuição periódica e moderada, isto é, o prêmio, em troca do risco que o segurador assumirá de, em caso de incêndio, abalroamento, naufrágio, furto, falência, acidente, morte, perda de faculdades humanas etc., indenizá-lo pelos danos sofridos" (acréscimo nosso). Dessa forma, ao contrário do que se dá com o segurador, qualquer pessoa pode figurar na posição de segurado, sendo necessário, em princípio, ter capacidade civil. Página 114 / 176 Dependendo da situação, o segurado pode estar figurando nesta posição em virtude de uma imposição legal, como mais à frente veremos quando tratarmos das espécies de seguro. Desde já, meramente a título exemplificativo, podemos apontar como obrigatórios os seguros arrolados no Decretolei nº 73/66: Art. 20. Sem prejuízo do disposto em leis especiais, são obrigatórios os seguros de: a) danos pessoais a passageiros de aeronaves comerciais; b) responsabilidade civil dos proprietários de veículos automotores de vias terrestre, fluvial, lacustre e marítima, de aeronaves e dos transportadores em geral; c) responsabilidade civil do construtor de imóveis em zonas urbanas por danos a pessoas ou coisas; d) bens dados em garantia de empréstimos ou financiamentos de instituições financeiras públicas; e) garantia do cumprimento das obrigações do incorporador e construtor de imóveis; f) garantia do pagamento a cargo de mutuário da construção civil, inclusive obrigação imobiliária; g) edifícios divididos em unidades autônomas; h) incêndio e transporte de bens pertencentes a pessoas jurídicas, situados no País ou nele transportados; i) crédito rural; j) crédito à exportação, quando concedido por instituições financeiras públicas. 2.3.1.3 Beneficiário O beneficiário é uma figura que exsurge nos contratos de seguro de vida e no obrigatório de acidentes pessoais em que ocorrer morte por acidente e que consiste na pessoa a quem é pago o valor do seguro, a "indenização". Preferimos não definir beneficiário como sendo um "terceiro a quem é pago o valor do seguro", pois, no caso do seguro de vida, este pode ser relativo à vida do segurado, ou à vida de terceiro. Naquele, o beneficiário é um terceiro, já que resultaria impossível o segurado morto (risco coberto pelo seguro) receber a indenização; neste, no entanto, o beneficiário é o próprio estipulante. O estipulante, por sua vez seria quem paga o prêmio, mas não seria a sua vida o objeto da garantia do seguro, mas a de um terceiro, que não é parte do contrato. Nos casos em que o beneficiário é um terceiro, ou seja, um estranho a relação contratual (exceção ao princípio da relatividade, segundo o qual os efeitos do contrato só se produzem em relação às partes, não afetando terceiros) estaremos diante de um caso de estipulação em favor de terceiro. Tal estipulação ocorre quando uma pessoa convenciona com outra que esta concederá uma vantagem ou benefício em favor daquele, que não é parte no contrato. Não é outra coisa que ocorre nos seguros de vida em favor de terceiro: o estipulante convenciona com o segurador que ocorrendo o sinistro (morte da pessoa segurada), o valor do seguro será pago a um terceiro. Não é qualquer pessoa que pode figurar como beneficiário. O CC em seu art. 1.474 dispõe que "Não se pode instituir beneficiário pessoa que for legalmente inibida de receber a doação do segurado". O NCC, não traz nenhum dispositivo de redação semelhante, trazendo, na verdade, o entendimento já consagrado na jurisprudência, no art. 793: "É válida a instituição do companheiro como beneficiário, se ao tempo do contrato o segurado era separado judicialmente, ou já se encontrava separado de fato." Logo, Página 115 / 176 como se percebe, a segunda parte do dispositivo traz a mesma regra do CC, apenas na forma mais abrandada pelos Tribunais. Também não poderá ser instituído como beneficiário aquele que estiver incapacitado de suceder , previstas no CC no art. 1.595 e no NCC, no art. 1.814. Tal situação é explicada pelo fato do terceiro beneficiado receber uma liberalidade do segurado (seguro em benefício de terceiro) devendo assim guardar o dever de gratidão para com este; ou, no caso do seguro de vida de terceiro, o estipulante-beneficiário tem que ter interesse na preservação da vida do segurado, também sendo incompatível com as situações listadas nos artigos supra citados. 2.3.3. Forma Ao tratarmos das características do contrato de seguro, grande parte da doutrina defende que ele é consensual, ou seja, basta o acordo de vontade entre as partes para a conclusão do contrato. A posição defendida por alguns doutrinadores, como M. Helena Diniz e C. M. da Silva Pereira, de que o seguro é contrato formal, surge da redação do art. 1.433 do CC: "Art. 1.433. Este contrato não obriga antes de reduzido a escrito, e considera-se perfeito desde que o segurador remete a apólice ao segurado, ou faz nos livros o lançamento usual da operação". C. M. da Silva Pereira, esposando o entendimento de Clóvis Beviláqua, afirma, num primeiro momento, ser o contrato de seguro formal, uma vez que a forma escrita faz parte da substância do ato. Contudo, em seguida, afirma, apoiado no posicionamento de Orlando Gomes, que a tendência é considerálo contrato consensual. E explica que isto ocorre, pois o instrumento escrito do seguro, a apólice ou o bilhete do seguro, é seu elemento de prova, que pode ser suprida por outro meio de prova. O renomado autor considera inclusive conveniente a possibilidade de outros meios de prova "...como a perícia nos livros do segurador, pois é a que se compadece com as circunstâncias da própria vida, como no caso de perecer a apólice no sinistro a que visa cobrir, ou extraviar-se em lugar ignorado pelos beneficiários". O NCC, não alheio a esta celeuma, deu uma redação mais clara ao dispositivo que trata da importância da apólice, adotando o posicionamento da maioria da doutrina, quanto ao caráter probatório deste instrumento. "Art. 758. O contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio". Com o Decreto-lei 73/66, arts. 9º e 10 , passou-se a se admitir também como instrumentos do seguro a proposta e o bilhete do seguro. Este pode ser substitutivo da apólice quando a lei o permitir. A proposta é considerada instrumento do seguro baseado na Teoria Geral dos Contratos (art. 1.080 CC e art. 427 NCC, sendo este cópia ipse litteris daquele) quando se afirma que "a proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso". O Código de Defesa do Consumidor, por sua vez, amplia o alcance da proposta em seu art. 30 dispondo que "toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado". A proposta geralmente é formal e contém os elementos do contrato a ser concluído. Assinada a proposta, quer pessoalmente, quer por meio de representante, o segurado possui ainda 90 dias para decidir Página 116 / 176 se a aceita ou recusa. A proposta pode ser tácita quando se deseja a continuação de um contrato, devendo, para tanto, o segurador emitir nova apólice ou declarar a prorrogação da primeira e o segurado pagar o prêmio. Caso o interessado não desista da proposta, emite-se a apólice ou bilhete, considerando-se este o momento da formação do contrato, ainda que sua vigência tenha início em outro. Considera-se perfeito o contrato de seguro com a entrega da apólice. Esta, por sua vez, é de grande importância na fase de execução contratual, posto que, como já foi dito, o contrato de seguro é de interpretação restritiva, não sendo admitida nenhuma presunção ainda que baseada em suas cláusulas . Destarte, todo e qualquer aspecto da relação contratual a ser celebrada deve estar inserido na apólice, ou seja, deve apresentar todas as condições gerais, inclusive as vantagens objeto da garantia dada pelo segurador. Ao lado destas, tanto o CC (art. 1.434) como o NCC (art. 760) determinam que também sejam mencionados os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia, o prêmio a ser pago e, nos casos em que se fizer necessário, o nome do segurado e o do beneficiário. No caso de co-seguro, a apólice deverá indicar o segurador que administrará o contrato, representando os demais. Estando o contrato de seguro sobre a égide do Código de Defesa do Consumidor, devem ser respeitadas as disposições desse diploma legal quanto à redação de suas cláusulas. Dentre as várias poderíamos destacar: vedação de cláusulas redigidas de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance (art. 46); vedação de cláusulas que autorizem o segurador (fornecedor) alterar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato, após sua celebração, bem como variar o preço de maneira unilateral (art. 51, XIII e X, respectivamente); redação em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, de maneira a tornar mais fácil a sua compreensão ao consumidor (art. 54, § 3º); as cláusulas que limitarem direitos do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão (art. 54, § 4º). A apólice, dependendo das características que possua pode ser classificada de várias maneiras. Ambos os Códigos Civis trazem a previsão de que as apólices podem ser nominativas, à ordem ou ao portador, conforme a forma que podem ser transferidas (art.1.447 CC e art. 760 NCC), sendo as três formas iguais às dos títulos de crédito. Contudo, nos casos de seguros de vida, não se admite a transferência por simples tradição, logo, a apólice não pode ser ao portador (art. 1.447 caput 2ª parte CC, que fala em seguro de vida e não pessoas, e art. 760, parágrafo único NCC). 2.4 Classificação dos Seguros "Não obstante a variedade de espécies, predomina em nosso direito positivo o conceito unitário do seguro, segundo o qual há um só contrato que se multiplica em vários ramos ou subespécies, construídos sempre em torno da idéia de dano (patrimonial ou moral), cujo ressarcimento ou compensação o segurado vai buscar, mediante o pagamento de módicas prestações (…), ao contrário do conceito dualista que separa os de natureza ressarcitória (seguros de danos) daquele em que está presente apenas o elemento aleatório (seguro de vida), sem a intenção indenizatória (…) ou visando a uma capitalização (…)". Sendo assim, as várias classificações apresentadas pela doutrina visam a reunir os diversos seguros em categorias de acordo com as semelhanças que estes guardem entre si. Como todas as classificações, as que apresentaremos na seqüência não são certas ou erradas, mas apenas úteis ou não, de acordo com o critério adotado. Quanto ao número de segurados, existem os individuais e os coletivos (ou em grupo). Quanto à Página 117 / 176 liberdade de contratar, os seguros podem ser facultativos ou obrigatórios, no caso deste último, e.g., aqueles do art. 20 do Decreto-lei nº 73/66 (vide supra 3.3.1.2. Segurado). Os seguros podem ser sociais ou privados: estes são facultativos e dizem respeito a pessoas e coisas; já aqueles são obrigatórios, realizados pelo Estado diretamente ou por via de entidades autárquicas e visam à tutela de determinadas classes de pessoas, por exemplo, acidentados no trabalho ou idosos. Decreto-lei nº 73/66, Art. 3º Consideram-se operações de seguros privados os seguros de coisas, pessoas, bens, responsabilidades, obrigações, direitos e garantias. Parágrafo único. Ficam excluídos das disposições deste Decreto-lei os seguros do âmbito da Previdência Social, regidos pela legislação especial pertinente. Apesar das diversas classificações que poderíamos apresentar, daremos mais enfoque a uma daquelas que tratam do objeto do contrato de seguro, em outras palavras, do interesse segurável (ou na opinião de outros, do risco) e que é trazida no NCC. Classifica-se assim em seguros de dano e seguros de pessoa. Os seguros de dano são aqueles que visam à cobertura de danos ocorríveis com coisas (daí também serem chamados de seguros de coisas) resultantes de roubos, acidentes, incêndios, fenômenos da natureza e de todo e qualquer evento danoso. Já apresentamos em várias partes deste texto alguns dos regramentos a que se sujeitam os seguros desta espécie, como: a indenização não pode resultar em lucro para o segurado, logo, o seu valor deve ser o correspondente ao dano; não é permitido mais de um seguro total sobre o mesmo bem quanto aos mesmos riscos; não se inclui na garantia o sinistro provocado por vício intrínseco da coisa segurada e não declarado pelo segurado. O NCC traz o regramento deste seguro nos arts. 778 ao 787. Os seguros de pessoa, por sua vez, visam a "garantir a pessoa humana no que se refere a sua existência e higidez física", conforme descrito abaixo: Seguro de Pessoa O NCC traz nos arts. 789 a 802 a matéria relativa ao seguro de pessoa, também comumente chamado de seguro de vida. Este seguro, eminentemente privado, consiste no "contrato pelo qual o segurador se obriga, em contraprestação ao recebimento do prêmio, a pagar ao próprio segurado ou a terceiro, determinada quantia sob a forma de capital ou de renda, quando da verificação do evento previsto". Apesar de muitos haverem considerado imoral realizar estipulações envolvendo a vida ou morte de uma pessoa, hodiernamente, o seguro de pessoa é a espécie securitária que ganhou maior utilização. Sendo a vida um bem inestimável, não há limite ao valor a ser pago (que nos seguros de pessoas é chamado de "prestação") e que deve ser aquele constante na apólice. Da mesma forma, não há vedação a contratação de mais de um seguro sobre o mesmo interesse, com o mesmo ou diversos seguradores (art. 789 NCC). A vida a ser objeto do seguro pode ser a do próprio segurado como a de um terceiro, desde que provado o interesse do proponente na preservação da vida do segurado (art. 790 NCC). O art. 791 traz a presunção juris tantum de que há interesse na preservação da vida do cônjuge, dos ascendentes e descendentes do proponente. Os seguros de pessoas ou de vida, costumam ser subdivididos em: seguro de vida propriamente dito e seguro de sobrevivência. Neste o segurador se obriga a pagar certa quantia ao segurado, no caso dele Página 118 / 176 chegar a determinada idade ou se for vivo a certo tempo; naquele o pagamento da prestação está condicionado a morte do próprio segurado ou do terceiro durante a vigência do contrato. A prestação pode ser um valor fixo ou ser na forma de renda a ser entregue ao beneficiário designado. Não sendo a causa do seguro a garantia de uma obrigação, o estipulante terá liberdade de substituir o beneficiário, por ato entre vivos ou de última vontade (art.791 NCC), independente da anuência do beneficiário preterido. Não estando o beneficiário designado na apólice, ou não sendo possível prevalecer a escolha feita, a prestação será paga metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado de acordo com a ordem da vocação hereditária (art. 792 caput NCC). Se ainda assim, não se identificar nenhuma dessas pessoas, considerar-se-á beneficiário quem quer que prove que com a morte do segurado ficou privado dos meios necessários à sobrevivência (art. 792 parágrafo único). Ainda no que diz respeito aos beneficiários o art. 793 do NCC inova ao admitir a instituição de companheiro como beneficiário, desde que o segurado já fosse separado judicialmente ou de fato ao tempo do contrato. No caso dos seguros de vida e nos de acidente de trabalho em que houver a morte do segurado, a prestação devida pela seguradora não está sujeita às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito (art. 794 NCC). Dessa maneira, o valor pago nestes casos é impenhorável, o que também é previsto no CPC: "Art. 649. São absolutamente impenhoráveis:(…); IX – o seguro de vida". Também não se admite (é nula) qualquer transação para o pagamento do capital devido que resulte em sua redução (art. 795 NCC). De acordo com o número de pessoas o seguro de vida poderá ser: individual, quando há apenas um segurado; ou coletivo ou em grupo, quando a cobertura abrange várias pessoas. Neste último caso, os segurados podem estar nominalmente referidos na apólice (apólice simples) ou apenas designados como um grupo (v.g., os funcionários de uma indústria), podendo os segurados variarem pela simples entrada ou saída desta coletividade (apólice flutuante), nos termos do art. 801 do NCC. Sempre foi objeto de grande celeuma a questão da morte voluntária no que tange ao seguro de vida. Isto ocorre porque o risco coberto nesta espécie de contrato, como já foi dito, é o evento morte do segurado e risco por definição é um acontecimento futuro e incerto. Ora, se o segurado morre voluntariamente, o evento deixa de ser incerto, imprevisível. O CC, ao tratar do assunto no art. 1.440 parágrafo único, enuncia: "Considera-se morte voluntária a recebida em duelo, bem como o suicídio premeditado por pessoa em seu juízo". A jurisprudência, também atenta à questão, editou a súmula 105 do STF: "Salvo se tiver havido premeditação, o suicídio do segurado no período contratual de carência não exime o segurador do pagamento do seguro". Tudo isto é feito num esforço de se evitar o mau uso do contrato de seguro. Visando tornar mais difícil a realização desta prática escusa, o NCC, no art. 789, prevê que o beneficiário não terá direito a receber a prestação no caso de suicídio do segurado nos dois primeiros anos de vigência do contrato. A seguradora, contudo, deverá entregá-lo a quantia referente aos prêmios já pagos até a ocorrência do suicídio. Não dão ensejo ao não-pagamento da prestação: o suicídio não premeditado, a recusa de se submeter a tratamentos para manter-se vivo ou a pratica de atividades arriscas. Ao tratarmos do caso acima, inevitavelmente, nos vem a situação em que o segurado, sabendo lhe restar pouco tempo de vida devido a alguma enfermidade, realiza um seguro de vida de maneira a não deixar sua família desassistida. Nesta situação a morte não teria sido voluntária. Estaria a seguradora Página 119 / 176 obrigada ao pagamento da prestação? Apesar da morte não ser voluntária, a seguradora não estará obrigada a nada, visto que ao realizar o contrato, o segurado, de má-fé, omitiu informações que influenciariam na aceitação da proposta (art. 766 NCC). Outra situação, a qual vale ressaltar, é aquela em que o beneficiário é autor do homicídio do segurado. Neste caso, o beneficiário não recebe o valor, segundo C. M. da Silva Pereira, não só por falta de causa moral para a obrigação, como também, de acordo com o CC art. 120 e o NCC art. 129, considera-se não verificada a condição maliciosamente provocada por aquele a quem esta aproveita. 2.5 Obrigações e Direitos Em sendo um contrato bilateral, o seguro apresenta obrigações tanto para o segurador quanto para o segurado. As obrigações do segurador estão compreendidas do art. 1.449 ao art. 1.457 do CC e as do segurado, do art. 1.458 ao 1.465. No NCC, elas não se encontram delineadas como no outro Código. Não obstante, em nenhum dos dois diplomas, pretende-se esgotar as obrigações das partes num rol taxativo. O que os Códigos apresentam, assim como tudo que diz respeito aos seguros, é de caráter genérico, podendo a legislação extravagante trazer novos deveres aos contraentes a depender do caso específico. 2.5.1 Do Segurador A principal obrigação do segurador, advinda do contrato de seguro, consiste em garantir o interesse legítimo do segurado (obrigação de garantia). Parece-nos equivocado apontar como obrigação principal do segurador o pagamento em dinheiro do valor segurado (obrigação de pagar), dentro dos termos da apólice, tal como o faz C. M. da Silva Pereira e Carlos Roberto Gonçalves . Se o seguro é contrato bilateral (caracterizado pela reciprocidade das prestações) está sujeito a exceptio inadimpleti contractus (condição resolutiva tácita), logo, se uma das partes não cumpre a sua prestação, a outra não fica obrigada à contraprestação. Se admitirmos ser a obrigação do segurador um pagamento, uma vez este não sendo realizado, o segurado não teria que pagar o prêmio podendo inclusive resolver o contrato. Raciocinando baseados nestes pressupostos, o contrato de seguro seria impossível. O prêmio é uma porcentagem da indenização. A seguradora só pode pagar os valores devidos nos casos em que houver o sinistro se possuir fundos, os quais são o resultado da reunião de todos os prêmios pagos. Logo, se mesmo quando os riscos não se concretizassem, a seguradora não ficasse com o que lhe foi pago, não teria condições de pagar as indenizações. O problema não ocorre se admitimos que a obrigação da seguradora é de garantia. Obrigação de garantia é aquela cujo conteúdo "‘é eliminar um risco que pesa sobre o credor’. A simples assunção do risco pelo devedor da garantia representa, por si só, o adimplemento da prestação". Logo, o contrato não é descumprido se a indenização não vem a ser paga por inocorrência do sinistro, continuando o segurado obrigado ao prêmio. O pagamento, em ocorrendo, seria forma de execução contratual. Este parece ser o posicionamento mais acertado, não desnaturando a bilateralidade do seguro, nem o tornando impossível. Ocorrido o sinistro, o segurador, uma vez que assumiu o risco na apólice, deverá pagar em dinheiro, se outra forma não foi convencionada, o prejuízo resultante do evento danoso (art. 1.458 CC e art. 766 NCC). Nos seguros de bens materiais a indenização não terá de corresponder à quantia declarada, sendo esta o limite da cobertura. Destarte, o valor a ser pago dependerá de apuração real do prejuízo, pois o Página 120 / 176 seguro não tem finalidade lucrativa (vedação do sobre-seguro: aquele que vai além do valor do efetivo prejuízo). No entanto, nos seguros pessoais, a indenização será paga pela importância constante da apólice, porque os bens cobertos são inestimáveis. A menos que haja expressa previsão na apólice, inclui-se na garantia todos os prejuízos resultantes ou conseqüentes do risco, ocasionados para evitar o sinistro, minorar o dano ou salvar a coisa (art. 779 NCC e art. 1.461 CC). A mora do segurador em pagar o sinistro enseja correção monetária, sem prejudicar a inclusão de juros de mora (art. 772 NCC). O segurador se exime do pagamento provando que houve dolo do segurado quanto ao sinistro (art. 781 NCC). Da mesma forma não está obrigado ao pagamento nos casos: de segundo seguro da mesma coisa pelo mesmo risco e valor (art. 778 NCC); inexistência de cobertura para o sinistro ocorrido; caducidade da apólice pelo não-pagamento do prêmio; descumprimento de obrigações por parte do segurado, dentre as quais podemos destacar a falta de comunicação do agravamento dos riscos e de ocorrência do sinistro. Apesar dessas hipóteses em que se permite o não-pagamento da indenização, a jurisprudência não admite a resilição unilateral por parte da seguradora (RT 431:152) O art. 784 do NCC (art. 1.459 CC) exclui da garantia o sinistro decorrente de vício intrínseco da coisa segurada (defeito próprio da coisa, que não se encontra normalmente em outras da mesma espécie). Entretanto, da mesma forma que este dispositivo protege o segurador, o art. 773 (ipse litteris o art. 1.446 CC) determina que "o segurador que, ao tempo do contrato, sabe estar passado o risco de que o segurado se pretende cobrir, e, não obstante, expede a apólice, pagará em dobro o prêmio estipulado". O art. 786 do NCC determina que "paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano". Apesar do CC não trazer disposição de mesmo teor, a legislação extravagante e a jurisprudência já haviam suprimido tal omissão. A súmula 188 do STF traz: "O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato". O § 1º do artigo citado acima enuncia uma exceção ao caput, prevendo que "salvo dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge do segurado, seus descendentes ou ascendentes, consangüíneos ou afins". 2.5.2 Do Segurado A primeira obrigação do estipulante é a de pagar o prêmio acordado no ato de receber a apólice ou conforme tenha sido ajustado. O descumprimento desta obrigação dá ensejo à rescisão contratual ou a caducidade da apólice. O pagamento pode ser anual e adiantado, o mais comum, ou em quotas mensais. Admite-se a concessão de um prazo de graça, geralmente de 30 dias, após o recebimento da apólice a fim de que o prêmio seja pago. Também se aceita a reabilitação do segurado em mora através do regate do débito acrescido dos juros de mora. A lei, todavia, prevê que não terá o direito de indenização o segurado que estiver em mora no pagamento do prêmio em ocorrendo o sinistro antes que ela seja purgada (art. 763 NCC). A não verificação do risco previsto no contrato não exime o segurado do pagamento do prêmio (art. 764 NCC e art. 1.452 CC). A diminuição do risco no curso do contrato, a menos que de maneira diversa haja sido acordado, não acarreta redução do prêmio estipulado (art. 770 NCC). Todavia, se a redução do risco for considerável, caberá ao segurado exigir revisão do contrato ou resolvê-lo. Já se o segurado intencionalmente agrava o risco perderá o direito à garantia (art. 768 NCC e art. 1.454 CC). Página 121 / 176 Quando da celebração do contrato, fica o segurado ou seu representante obrigado a fazer declarações (informar) exatas e completas, incluindo todas as "circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio" (art. 766 NCC e art. 1.444 CC). A inobservância deste preceito por má-fé do segurado o faz perder o direito à garantia além de obrigá-lo a pagar o prêmio vencido. Não havendo má-fé o segurador terá a opção de resolver o contrato ou cobrar a diferença do prêmio mesmo depois de ocorrido o sinistro. O segurado deverá informar o segurador, o mais prontamente possível, sobre incidente que possa agravar o risco coberto. O descumprimento desta determinação trazida no art. 769 NCC implica na perda ao direito de receber a indenização. No caso da ocorrência do sinistro, o segurado fica obrigado a informá-lo o quanto antes ao segurador, permitindo-o tomar as providências imediatas para evitar ou minorar as conseqüências. No caso de omissão, se o segurador provar que oportunamente avisado poderia ter evitado o sinistro, poderá se exonerar. BIBLIOGRAFIA 1-BRUNO, Marcos Gomes da Silva – Resumo Jurídico de Obrigações e Contratos, volume 10 – Editora Quartier Latin do Brasil – 2002. 2-CAVALCANTI, Flávio de Queiroz Bezerra – Caso fortuito e força maior frente a técnica securitária – texto obtido na internet in www.jusnavigandi.com.br. 3-COELHO, Luis – História do Seguro – texto obtido na internet in www.terravista.pt/Nazare. 4- DEOCLECIANO, TORRIERI & GUIMARÃES – Dicionário Técnico Jurídico – Editora Rideel Ltda – 2ª Edição. 5- DINIZ, Maria Helena – Curso de Direito Civil Brasileiro, volume 3 – Editora Saraiva – 9ª Edição – 1994. 6- DINIZ, Maria Helena – Tratado Teórico e Prático dos Contratos, volume 4 – Editora Saraiva – 2ª Edição – 1996. 7- FONSECA, Suiane de Castro – Seguro de Vida - texto obtido na internet in www.jusnavigandi.com.br. 8- GONÇALVES, Carlos Roberto – Sinopses Jurídicas, Direitos das Obrigações 6, Parte Especial, Tomo I – Contratos – Editora Saraiva – 6ª Edição – 2002. 10- MORETTI & SILVA, Luciana Biembengut & Sirvaldo Sturnino – Do contrato de seguro no Direito brasileiro e a interpretação das cláusulas limitativas em face ao Código de Defesa do Consumidor - texto obtido na internet in www.jusnavigandi.com.br. 11-PEREIRA, Caio Mário da Silva – Instituições de Direito Civil, vol. III – Editora Forense – 10ª Edição – 2001. 12- VENOSA, Sílvio de Salvo – Direito Civil II – Editora Atlas S.A. – 2001. 13- VENOSA, Sílvio de Salvo – Direito Civil III – Editora Atlas S.A. – 2ª Edição – 2002. Página 122 / 176 DIREITO CIVIL III – Contratos Profa. Janaína Machado Sturza CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE RENDA – arts 803 a 813 CC/2002 Na lição de CLÓVIS BEVILÁQUA, renda vem a ser “a série de prestações em dinheiro ou em outros bens, que uma pessoa recebe de outra, a quem foi entregue para esse efeito certo capital”. Logo, a constituição de renda seria o contrato pelo qual uma pessoa – rendeiro ou censuário – se obriga a fazer certa prestação periódica à outra – o instituidor – por um prazo determinado, em troca de um capital que lhe é entregue e que pode consistir em bens móveis, imóveis ou dinheiro. Nesse contrato, A transfere a B a propriedade de um capital, por não estar seguro de que vai apurar renda suficiente para a sua sobrevivência; B deverá, então, pagar uma renda, vitalícia ou não, ao próprio instituidor ou a terceiro, que será o beneficiário. B se comprometerá, portanto, a efetuar uma série de prestações periódicas, em dinheiro ou em outros bens, durante prazo certo ou incerto. Será certo, quando o termo final for dies certus, e incerto, se relacionado a um fato certo, mas de ocorrência incerta, como a hipótese do falecimento do beneficiário. Há uma troca de renda por um capital. Portanto, dois são os seus titulares: o censuário ou rendeiro, que recebe o capital com o encargo de pagar certa renda; é o devedor da renda e o adquirente do capital; e o censuísta ou instituidor, que entrega o capital e constitui renda em benefício próprio ou alheio; é o credor da renda. O contrato pode adquirir o caráter de plurilateral, pelo desdobrar-se da pessoa do instituidor. Com efeito, é possível que o instituidor se proponha a transferir um capital ao censuário, a fim de que este pague uma renda vitalícia a terceira pessoa, que assume o nome de beneficiário. Desse negócio, que em tudo constitui uma estipulação em favor de terceiro, surgem relações complexas. Para o censuário o negócio continua a ser oneroso e bilateral, porque lhe cumpre fornecer uma renda, em troca de um capital que adquire. Nas relações entre o instituidor e o beneficiário, o negócio pode ser oneroso ou gratuito, conforme este último deva, ou não, àquele, qualquer contraprestação. Se a estipulação foi feita sem qualquer retribuição, o negócio é gratuito, equiparando-se a uma doação. Caso contrário, é oneroso. Assim é definido esse negócio pelo Novo Código Civil (lei 10.406/2002) no art.803: “Art.803. Pode uma pessoa, pelo contrato de constituição de renda, obrigar-se para com outra a uma prestação periódica, a título gratuito”. Complementa o art. 804, in verbis: “Art.804. O contrato pode ser também a título oneroso, entregando-se bens móveis ou imóveis à pessoa que se obriga a satisfazer as prestações a favor do credor ou de terceiros”. Página 123 / 176 Só a titulo comparativo, o Código de 1916 assim conceituava esse negócio: “Art. 1.424. Mediante ato entre vivos, ou de última vontade, e título oneroso, ou gratuito, pode constituirse, por tempo determinado, em benefício próprio ou alheio, uma renda ao prestação periódica, entregando-se certo capital, em imóveis ou dinheiro, a pessoa que se obrigue a satisfazê-la”. CARACTERÍSTICAS A constituição de renda é instituto de difícil caracterização jurídica, podendo assumir aspectos diversos conforme o ângulo pelo qual seja examinada. É um contrato que pode ser: A) Bilateral ou Unilateral: será bilateral se ambos os contraentes tiverem direitos e deveres, e unilateral, se só um deles tiver vantagens. Parece contraditório afirmar que tal contrato possa ser unilateral. Mas não é. Autores como ORLANDO GOMES(1998), MARIA HELENA DINIZ(2002) e CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA(2002) afirmam existir a sua unilateralidade. Consoante seja oneroso ou gratuito, toma o aspecto de bilateral ou unilateral, respectivamente. Ou seja, é bilateral quando oneroso, e unilateral quando gratuito; B) Oneroso ou Gratuito: na constituição de renda a título gratuito, o devedor institui a renda por liberalidade, sem receber a tradição de um capital da parte do beneficiário, caso em que à constituição da renda inter vivos se aplicam as regras da doação, e causa mortis as do testamento. Por não importar em obrigações correspectivas, se reveste de caráter unilateral; na a título oneroso, o seu caráter é bilateral ou sinalagmático; no primeiro caso, título gratuito, surge como uma figura autônoma, enquanto que, sendo a título oneroso, assume o aspecto de uma comprar e venda, de um empréstimo ou ainda de uma forma particular de contrato, gerando benefícios ou vantagens para ambas as partes, o que justifica a sua bilateralidade, pois haverá uma contraprestação; C) Comutativo ou Aleatório: será comutativo se o devedor da renda, ao receber o capital, ficar obrigado a efetuar certo número de prestações por tempo fixo; e aleatório se, sendo oneroso, sua obrigação se estender por toda a vida do devedor, mas não a do credor, seja ele o contratante, seja o terceiro, caso em que poderá ser vantajoso ou não para um e outro contraente, uma vez que, sendo incerta a data da morte do rendeiro, ganhará a parte obrigada a pagar a renda se for curto o período de vida, e perderá se for longo. A aleatoriedade decorre da incerteza em relação à duração da vida do credor da renda; D) Real ou Consensual: a maioria dos autores, quer estrangeiros, quer nacionais, entende que se trata de contrato real que só se aperfeiçoa pela tradição do capital ou da transcrição do instrumento translativo no Registro de Imóveis, quando o mesmo consistir em um imóvel. Há autores, como SERPA LOPES (1999), que contestam tal ponto de vista, entendendo que o mero consenso das partes obriga ao cumprimento do prometido, ficando desde logo aperfeiçoado o contrato, mesmo antes da transferência do capital. SILVIO RODRIGUES (2003) acha justa tal concepção e afirma que se o contrato fosse real, ele deixaria de ser bilateral, isso porque, uma vez entregue o capital pelo instituidor ao censuário, não haveria para aquele qualquer outra obrigação. Convém observar, entretanto, que os bens dados em compensação da renda caem, desde a tradição, no domínio da pessoa que por aquela se obrigou.(CC, art.809); Página 124 / 176 E) Temporário: não sendo permitida a sua perpetuidade, deverá ser convencionado por tempo certo ou incerto, isto é, enquanto viver o instituidor ou o beneficiário, caso em que se terá renda vitalícia, que cessará com o falecimento do credor da renda, não se transmitindo a seus herdeiros. Quando a constituição de renda é vitalícia, o negócio se revela aleatório, pois a prestação do censuário será maior ou menor, conforme a vida do beneficiário se prolongue mais ou menos. O Código Civil de 1916 não cuidava da renda vitalícia, e sim, se referia a uma renda por prazo determinado, parecendo, portanto, afastar a álea desse tipo de negócio. Afirma o autor JOÃO LUIZ ALVES (RODRIGUES, 2003) que a expressão usada pelo legislador não proibiu que se determinasse ser a renda devida durante a vida do beneficiário. Pois por prazo determinado não se deve entender apenas um número de dias, meses ou anos, mas um prazo que tenha não só um início como também um termo fixado na convenção, termo este que pode ser incerto, como a morte do beneficiário. Neste caso, é incerta a duração do negócio, mas é determinada a época da extinção da obrigação. Tal entendimento foi consagrado no art. 806 do Código de 2002, que expressamente admite a constituição de renda vitalícia; F) Formal: por se exigir forma especial para a sua celebração; mas, se o capital for imóvel, será necessária a escritura pública, e, além disso, pela sua finalidade impõe-se que se perfaça também por instrumento público, quando se tratar de entrega de capital em dinheiro ou bem móvel. MODOS CONSTITUTIVOS A renda pode ser constituída: Por ato “inter vivos”, isto é, por contrato a título oneroso ou gratuito. Será oneroso se uma das partes der o capital, para que a outra lhe pague uma renda, e gratuito, se o instituidor celebrar contrato com o intuito de fazer uma liberalidade em benefício do credor da renda, aproximando-se da doação; Por ato “causa mortis”, ou seja, por testamento. A hipótese ocorreria quando o testador, transferindo bens a um herdeiro ou legatário, condicionasse a validade da disposição a que o sucessor fornecesse, a terceira pessoa, determinada renda. Ou seja, quando o testador lega a alguém um bem com o encargo de pagar, durante certo lapso de tempo, certa renda a determinada pessoa; A renda apenas poderá ser instituída e mantida em favor de pessoa viva, sob pena de nulidade. Se o beneficiário morre no momento seguinte ao ajuste, mas em conseqüência de outro mal, de que não padecia no instante anterior, o negócio é válido, porque não se impediu a incidência da álea. Por sentença judicial, proferida em ação de responsabilidade civil, que condene o réu a prestar alimentos ao ofendido ou a pessoa da família deste, como disciplinam os art.948, II e art.950 do Código Civil de 2002. O art.950 trata de indenização por ofensa que resultar em defeito físico, determinado a fixação de pensão, assim como a indenização por homicídio tratado no art.948,II. O Código de Processo Civil no seu art.602 versa sobre a indenização por ato ilícito que inclui prestação de alimentos, onde o juiz, quanto a esta parte, condenará o devedor a constituir um capital, cuja renda assegure o seu cabal cumprimento. A execução de sentença condenatória de prestação alimentícia é uma execução por quantia certa, subordinada, em princípio, ao mesmo procedimento das demais dívidas de dinheiro(art.732, caput). Dada a relevância do crédito por alimentos e as particularidades das prestações a ele relativas, o Código acrescenta ao procedimento comum Página 125 / 176 algumas medidas tendentes a tornar mais pronta a execução e a atender certos requisitos da obrigação alimentícia. A primeira delas refere-se à hipótese de recair a penhora em dinheiro, caso em que o oferecimento de embargos não obsta a que o exequente levante mensalmente a importância da prestação (art.732, parágrafo único), o que será feito independentemente da caução. Outras são a possibilidade de prisão civil do devedor e o desconto da pensão em folhas de pagamento, o que, evidentemente, importa certas alterações no procedimento comum da execução por quantia certa. EFEITOS DO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE RENDA Forma de pagamento Quando não for estipulado pagamento antecipado, a renda deverá ser paga pontualmente, sendo seu caráter de fruto civil. O credor terá direito à renda dia a dia, de valor proporcional à quantia total de certo período, devendo ser cobrada apenas após o esgotamento de cada período determinado. Se a prestação não for paga antecipadamente, no início dos períodos pré-fixados, o atraso gerará pleno cumprimento da obrigação, inclusive na hipótese de morte do beneficiário nesse meio tempo. Quando se tratar de prestação alimentícia o pagamento deverá ser antecipado. Início do cumprimento O cumprimento da obrigação estabelecida contratualmente poderá se iniciar na data de formação desta, em dia pré-fixado ou quando ocorrer a morte do instituidor, e esta determinar o início do cumprimento contratual. Se deixada renda a título de alimentos, o pagamento deverá ser adiantado, salvo se o testador se manifestar de modo divergente. Perecimento O rendeiro arcará com eventual perecimento do objeto transferido, por serem seus os riscos da coisa. Já a evicção será sempre de responsabilidade do instituidor. Inadimplemento O rendeiro inadimplente poderá ser obrigado ao pagamento de parcelas atrasadas e garantia do pagamento das demais, sob pena de rescisão contratual. Também poderá ser exigida garantia de cumprimento da obrigação quando a situação financeira do rendeiro gerar dúvidas. Direito de Resgate Caberá ao devedor o direito de resgate, reembolsando o capital, sem possibilidade de oposição pelo credor. Dos Credores Página 126 / 176 Se a renda for instituída para mais de uma pessoa sem determinação da quantia a ser paga a cada uma, presumir-se-ão equivalentes às cotas devidas. Não cabe aumento de cota dos sobreviventes em função de falecimento dos demais, assim como não é justificada a extinção contratual por esse motivo, salvo se os contraentes estipularam tal beneficiamento, ou quando os beneficiários forem cônjuges. Possibilidade de impenhorabilidade A isenção no que se refere às execuções pendentes e futuras poderá ser determinada por ato do instituidor quando o contrato for gratuito, dada a independência entre este e credores do rendeiro, e a necessidade de satisfação do crédito. Nas hipóteses dos montepios e pensões alimentícias estará presumida a impenhorabilidade, justificada pelo caráter assistencial deste contrato. Desapropriação Se houver desapropriação do imóvel sobre o qual vai incidir a obrigação, poderá ser exigida do devedor da renda a aquisição de outro imóvel, que se sub-rogará neste ônus. CAUSAS EXTINTIVAS DA CONSTITUIÇÃO DE RENDA A Constituição de Renda poderá se extinguir com o advento do termo, em função desta necessidade legal por prazo determinado. Caso ocorra morte do beneficiário antes da constituição ou nos trinta dias subseqüentes (se a causa for moléstia pré-existente, não incidindo neste caso as hipóteses e gravidez e velhice), ensejará nulidade da constituição de pleno direito, posto que será contrato estabelecido sem sujeito, é impossível o cumprimento das prestações, o que representaria também benefício indevido. Já o resgate é a faculdade do devedor de cumprimento antecipado da obrigação (antes tempus X pro rata tempore). Poderá, entretanto, ser ajustado entre as partes. Normalmente é voluntário, mas poderá ser necessário quando ocorrer a falência do censuário. Conforme GOMES (1998) a quitação do compromisso vinculado a imóvel deverá se dar de modo que o rendimento do bem, no caso imóvel, liberado assegure o recebimento da renda pelo credor. Se não for vinculada a imóvel poderá assegurar o pagamento de determinado capital, correspondente ao que seria percebido durante a duração do contrato. O falecimento do devedor também poderá determinar sua extinção, se a constituição foi feita em função de sua vida, ou por meio de doação. Se a renda for vitalícia e o devedor morrer antes de seu cumprimento, a obrigação permanecerá perante herdeiros. Quando houver morte do credor antes da morte do devedor, os herdeiros terão direito até o advento do termo fixado. Poderá ocorrer rescisão contratual, nas hipóteses de atraso de prestações vencidas, quando o devedor, acionado para pagamento e garantia, não cumprir decisão judicial, e quando não houver prestação de garantia quando a situação econômica do rendeiro ensejar dúvidas quanto à possibilidade de cumprimento de suas obrigações. Poderá ser declarada a ausência do credor, o que desobriga o rendeiro, desde que cumpridas as devidas formalidades legais. Página 127 / 176 Poderá ocorrer ainda inoficiosidade, quando de tratar de constituição de renda gratuita – aplicação direta de princípio característico do instituto da doação. Se determinada condição resolutiva, seu implemento extinguirá o contrato. Se a renda estiver vinculada a imóvel, sobre o qual recaia perecimento ou destruição, o contrato também estará extinto, salvo se houver sub-rogação no valor do seguro. O credor pode adquirir o imóvel vinculado à renda. Assim, por estarem duas funções concentradas numa só pessoa, a propriedade passa a ser plena, não mais recaindo nenhum ônus sobre ela. Essa hipótese é de confusão ou consolidação. O devedor poderá invocar algumas prestações devidas equivalentes à renda a ser paga, o que representaria uma compensação de dívidas. Outras hipóteses de extinção: por caducidade; renúncia de ambos contraentes; falência ou insolvência do devedor; execução judicial do prédio gravado; prescrição (prazo de três anos sobre pretensão de receber as prestações vencidas, tanto sobre rendas temporárias como vitalícias – art. 206, §3º, II do NCC). REFERÊNCIAS DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. Volume 3. São Paulo: Editora Saraiva, 2002. DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. Volume 4. São Paulo: Editora Saraiva, 2001. GOMES, Orlando. Contratos. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1998. GOMES, Orlando. Direito Reais. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1999. JÚNIOR, Humberto Theodoro. Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2004. JÚNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999. MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil. São Paulo: Editora Saraiva, 2000. NEGRÃO, Theotonio. Código Civil e legislação civil em vigor. São Paulo: Editora Saraiva, 2003. PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Volume 3. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2002. RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. Volume 3. São Paulo: Editora Saraiva, 2003. RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. Volume 5. São Paulo: Editora Saraiva, 2001. SERPA LOPES, Miguel Maria de. Curso de Direito Civil. São Paulo: Livraria Freitas Bastos Editora S.A., 1999. VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Contratos em espécie. São Paulo: Editora Atlas, 2003. WALD, Arnold. Curso de Direito Civil Brasileiro. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1998. CONTRATO DE FIANÇA – arts. 818 a 839 CC/2002 Contrato acessório que para sua existência necessita da realização de um contrato principal. Via de regra, o fiador sempre responde subsidiariamente, quando o devedor principal se tornar insolvente, se o fiador cumprir a obrigação que garante terá a seu favor a possibilidade de ajuizar uma ação contra o devedor principal, chamada ação de regresso. O contrato de fiança tem natureza unilateral, o fiador se obriga perante o credor, mas este não assume nenhum compromisso para com o fiador. A priori é um instituto gratuito, porém nada impede que exista uma remuneração. O fiador é responsável nos exatos termos em que se obrigou e caso não haja o pagamento da dívida responderá com seus bens patrimoniais pessoais. Se o devedor não pagar a dívida ou seus bens não forem suficientes para cumprir a obrigação, o credor poderá voltar-se contra o fiador, reclamando o pagamento. Página 128 / 176 Podem ser fiadores: Todos aqueles que são maiores ou emancipados e que tenham livre disposição de seus bens. O cônjuge sem anuência expressa não poderá assumir esta responsabilidade, exceto no regime de separação absoluta de bens. Efeitos da fiança: O fiador só poderá ser acionado para responder pela dívida afiançada após o descumprimento da obrigação pelo devedor principal. Benefício de ordem: É um direito que tem o fiador de só responder pela dívida se, primeiramente, for acionado o devedor principal e este não cumprir a obrigação de pagar. Exoneração da fiança: Ainda que a fiança não tenha limite temporal, poderá o fiador dela se exonerar se assim lhe convier, responsabilizando-se por todos os efeitos dela decorrentes, ficando obrigado por todos efeitos da fiança durante sessenta dias. Obs.¹: Para que isto ocorra torna-se necessário ao menos enviar uma notificação ao credor cientificando-o da sua decisão. Obs.²: Se o contrato foi assinado por tempo determinado e vindo a se transmudar para tempo indeterminado, o fiador deve ser comunicado para que venha a se manifestar na sua concordância em continuar ou não a prestar fiança, pois não havendo expressa manifestação de vontade do fiador a fiança não é válida mesmo que exista no contrato cláusula de não renunciar. Extinção da fiança: I- Moratória concedida pelo credor ao devedor, sem consentimento do fiador. II- Frustração do fiador na sub-rogação nos direitos do credor em relação ao devedor, é quando se extingue uma previsão do fiador da possibilidade de reaver o que pagou ao credor, junto ao devedor. III- Dação em pagamento, que constitui forma de pagamento ainda que indireta. IV- Retardamento do credor na execução em que se alegou benefício de ordem, é o retardamento da execução que vem a resultar que o devedor venha a ficar em estado de insolvência. Morte do fiador: No caso do fiador de determinada obrigação falecer, tal obrigação é repassada aos herdeiros até o montante da própria herança. Obs: lapso temporal sobre o qual os herdeiros terão responsabilidade. A responsabilidade pelo cumprimento da obrigação, então, abrangerá desde o período em que a fiança foi prestada até o dia do falecimento do fiador. Página 129 / 176 Art. 836. A obrigação do fiador passa aos herdeiros; mas a responsabilidade da fiança se limita ao tempo decorrido até a morte do fiador, e não pode ultrapassar as forças da herança. Fiança na locação imobiliária: A fiança é a modalidade mais usual nos contratos de locação imobiliária. A fiança imobiliária abrange o aluguel e despesas acessórias ao aluguel como o condomínio e os tributos que incidirem sobre o imóvel. O fiador também se responsabilizará por quaisquer danos que o imóvel sofrer. Importante destacar que a lei de locação, Lei nº8.245/91, em seu art. 39 determina que a fiança se estenda até a efetiva entrega do imóvel. CONTRATO DE GARAGEM Texto disponível em: http://www.escritorioonline.com/webnews/noticia.php?id_noticia=3007& Acesso em: 26 de maio de 2010. O contrato de garagem se caracteriza quando uma pessoa, denominada GARAGISTA, se obriga à guarda e custódia de um veículo, em local determinado ou não, durante certo tempo, mediante pagamento de certo preço, veículo este trazido por outra pessoa denominada USUÁRIO, o qual de acordo com sua necessidade, pode retirá-lo do local quando lhe aprouver, definindo assim quando e o quanto irá se utilizar do serviço. Dentre os contratos atípicos, regulados apenas pelos princípios gerais do Código Civil de 2002, destacamos o contrato de garagem. O automóvel e os veículos em geral incorporaram-se definitivamente à vida do homem no século XX. Entre os vários problemas trazidos pelos automotores acentua-se a questão da guarda dos veículos por períodos mais ou menos longos. Também as embarcações e as aeronaves se incluem na problemática do contrato de garagem: portos, marinas e embarcadouros para as primeiras e hangares, pátios de manobras ou equivalentes para os últimos. O contrato de garagem destina-se, pois, a essa categoria de bens e precipuamente aos veículos terrestres, em particular aos automóveis. Contrato de garagem é aquele pelo qual uma pessoa, denominada garagista, obriga-se à guarda e custódia de um veículo trazido por outra pessoa, denominada usuário, quando esta desejar, proporcionando um local para tal durante certo tempo, mediante o pagamento de preço geralmente em dinheiro. Modernamente, a atividade de garagista requer certa organização empresarial, sendo cada vez mais privativa de pessoas jurídicas especializadas. A obrigação do garagista, para guarda e custódia do veículo, surge conforme a necessidade do usuário, que pode retirá-lo do local quando lhe aprouver. Desse modo, cabe ao usuário e não ao garagista definir quando pretende utilizar-se da garagem. Como guardador e custodiador do veículo, o garagista assume responsabilidade ampla. Não se confunde o contrato de garagem, com o espaço e local físico denominado garagem, que pode ou não ser destinado a esse contrato. No contrato de garagem, o garagista pode deixar à disposição do usuário uma vaga fixa, ou simplesmente um local indeterminado, sem que o negócio se descaracterize, em que pese a proximidade com os contratos de locação de coisas, locação de serviços, empreitada e depósito. Também Página 130 / 176 nesse pacto, podem as manobras internas do veículo na garagem ser atribuídas a prepostos do garagista ou ao próprio usuário. Tal distinção poderá refletir apenas na responsabilidade por eventuais danos causados no veículo do usuário ou por este em outros bens, mas não desnatura o contrato de garagem. Não há necessidade nem que o garagista seja proprietário do imóvel, bastando que tenha validamente sua posse, nem que o usuário seja dono do veículo, bastando-lhe a simples detenção. A obrigação do usuário de pagar o preço tem em vista o tempo em que o espaço de custódia permanece à disposição do usuário, ainda que por ele não seja utilizado. Nessa hipótese, distingue-se o contrato que estabelece pagamento por longos períodos, por semanas, meses, anos, daqueles de curto lapso, cujo pagamento é estabelecido pelo número de horas de utilização. Na essência, não existe distinção entre ambas as modalidades, embora possa denominar-se de estacionamento o contrato por curto período, e de garagem propriamente dito aquele de longo prazo. Nada obsta que no mesmo local convivam as duas modalidades, cujo regime jurídico e as responsabilidades do garagista são basicamente idênticas. Se o local destinado ao veículo é aberto, sem proteção, e disto tem conhecimento o usuário, o garagista não responderá por danos decorrentes de intempéries. O garagista pode também ser a Administração Pública, em locais de sua propriedade, explorados diretamente ou por terceiros concessionários, estabelecendo-se o preço por tarifa. Não se confunde o contrato de garagem com os estacionamentos em via pública, mediante pagamento de preço ao Poder Público ou quem lhe faz as vezes, em parquímetros automáticos ou com selos e talões, cuja finalidade é apenas assegurar maior rotatividade, possibilitando utilização por número mais elevado de veículos, sem obrigação de custódia e guarda. Nesse negócio, regido pelo direito público, não existe a figura do garagista, porque garagem inexiste. Apenas é atribuído um local para a colocação do veículo do usuário, por tempo determinado, assumindo este todos os riscos representados pelo estacionamento em via pública, porque nesse negócio não existem os deveres de guarda e custódia do bem. Como regra, embora não se exija a forma escrita, o contrato prova-se por uma modalidade de escrito, cupom ou tíquete, comprobatório da entrega do veículo. A falta do documento, porém, pode ser suprida pelos meios permitidos no ordenamento. Concorrem na garagem elementos da locação de coisa, empreitada, depósito e prestação de serviços. Não existe, em princípio, contrato de garagem autônomo quando a localização do veículo, em determinado local, decorre de outro contrato, do qual o estacionamento é parte integrante. Assim, por exemplo, quando se aluga unidade autônoma de condomínio que possui vaga de garagem. Da mesma forma ocorre com os estabelecimentos comerciais que oferecem estacionamento aos consumidores. Tal se insere na atividade comercial do fornecedor de produtos e serviços, sendo o estacionamento um acessório desse arcabouço. As regras a serem aplicadas, primordialmente, nesses negócios são as do contrato principal; o negócio de garagem aplicará suas regras apenas subsidiariamente. Embora pareça que a preponderância na garagem seja do contrato de depósito, não há como se divisar uma proeminência. As características do depósito decorrem dos princípios de custódia e guarda, mas, salvo manifestação expressa, não se considera o garagista depositário típico, submetido às rigorosas regras desse instituto. Página 131 / 176 Características principais do contrato em exame são a guarda do veículo e o espaço a ele destinado. Sendo o espaço primordial, há, portanto, acentuada característica de locação de coisa. Secundariamente, a garagem absorve princípios da empreitada e da prestação de serviços. O contrato de garagem, no entanto, é muito mais amplo do que a simples locação de coisa, pois oferece princípios inafastáveis do depósito e dos contratos referidos. Desnatura-se o contrato como garagem se o agente limita-se a oferecer serviços de manobrista e estacionamento em via pública, ainda que ofereça serviços de vigilância (valet parking), responsabilizandose pelo bem. Nessa hipótese, sobreleva-se a prestação de serviços. Não há garagem, porque não existe local colocado à disposição do veículo. Entretanto, o contrato de garagem pode ter em seu bojo o serviço de manobrista, inserindo-se aí a prestação de serviço, quando o garagista recebe o veículo e encarrega-se de estacioná-lo no local próprio. Sendo, portanto, contrato atípico, suas regras são aferidas nesses contratos próximos. Para determinar-lhe o direito aplicável, ter-se-ão em conta a autonomia da vontade, o subsídio dos contratos semelhantes, as regras do Código de Defesa do Consumidor, se presente, como geralmente ocorre, a relação de consumo. Quanto ao usuário, sua principal obrigação é pagar o preço, como visto, geralmente fixado por período de hora, dia ou mês. O garagista terá direito de retenção para receber o preço. É direito do usuário utilizar o local determinado ou indeterminado para posicionamento do veículo. Por seu lado, o garagista deve proporcionar ao usuário a possibilidade de estacionamento do automotor, seja determinado ou não. Como exposto, terá as obrigações de locador, bem como as de depositário em face da guarda e custódia a que se compromete, embora não subordinado às penas específicas do ordenamento quanto ao depósito, salvo se assim foi expressamente acordado. Quando a garagem é estabelecida por período longo, deve facultar a entrada e saída do veículo a qualquer tempo, segundo as necessidades do usuário. O garagista deve, portanto, restituir o bem sempre que solicitado. Responsabiliza-se pelos danos e perda do automotor, salvo se provar caso fortuito ou força maior (artigo 1.277 do Código Civil, novo, artigo 642). A exemplo do que sucede no depósito, é vedado ao garagista utilizar-se do veículo, sem licença expressa do usuário, sob pena de responder por perdas e danos (artigo 1.275, novo, artigo 640). Se ao contrato de garagem agregarem-se outras obrigações como lavagem, abastecimento ou reparos, devem ser objeto de exame em separado. A obrigação assumida pelo garagista é, portanto, de resultado, pois deve manter a coisa consigo durante certo tempo e restituí-la íntegra. Recebendo coisa com a obrigação de restituir, o garagista responde pelos danos e deterioração, salvo caso fortuito ou força maior, que deverá provar, no entanto, como anteriormente enfatizado. Não obtido o resultado, em princípio aflorará o dever de indenizar. O garagista responde tanto por fato próprio como por fato de terceiro. Para eximir-se da indenização com fundamento em caso fortuito ou força maior, o garagista tem o ônus de prová-los, quando não houve culpa exclusiva do usuário. Desse modo, sendo o dever de incolumidade ínsito à obrigação de custódia e guarda assumida, o furto total ou parcial do veículo ou de objetos em seu interior não podem ser considerados caso fortuito. O roubo à mão armada poderá exonerá-lo da indenização se provar que tomou todas as cautelas do bom depositário. O garagista, porém, não se libera do dever de indenizar, mesmo perante o roubo do veículo, quando os meios de segurança e o pessoal de Página 132 / 176 vigilância que colocou no local se mostraram insuficientes ou inadequados, facilitando a prática do delito em prejuízo do usuário. Outra questão continuamente discutida diz respeito às cláusulas limitativas de responsabilidade do garagista, as quais, em princípio, não se amoldam, sendo proibidas pelo Código de Defesa do Consumidor. O contrato de garagem, como se vê, levanta série enorme de discussões e merece um estudo mais profundo, aliás, ausente na doutrina nacional. Referências: GOMES, Orlando. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2008. RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: dos contratos e das declarações unilaterais da vontade. De acordo com o novo Código Civil (Lei n. 10.406, de 10/01/2002). 30.ed. São Paulo: Saraiva, 2007. RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. Rio de Janeiro: Forense. VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos. v.2, Atlas: São Paulo, 2007. GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: contratos e atos unilaterais. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2008. v.3. Página 133 / 176 DIREITO CIVIL III – Contratos Profa. Janaína Machado Sturza CONTRATO DE LOCAÇÃO O estudo do contrato de locação é divido em três seções autônomas: da locação de coisas - 565 a 578 da prestação de serviços – 593 a 609 da empreitada – 610 a 626 A locação experimentou mais do que qualquer outra matéria tratada no Código Civil, modificações profundas impostas pelo transcurso do tempo. A locação de prédios e a de serviços sofreram brutal transformação nos anos que se seguiram a vigência da codificação. CONCEITO E NATUREZA JURÍDICA A locação é o contrato pelo qual uma das partes, mediante remuneração que a outra paga, se compromete a fornecer-lhe, durante certo lapso de tempo: *ou o uso e gozo de uma coisa infungível (art. 85 CC, não podem ser substituídas por outras) - (locação de coisas); *ou a prestação de um serviço - (locação de serviços) – art. 593/609; *ou a execução de algum trabalho determinado - (empreitada) – art. 610/626. Trata-se de um contrato: a)BILATERAL – porque envolve prestações recíprocas de cada uma das partes; b)ONEROSO – dado o seu propósito especulativo; c)CONSENSUAL – porque independe da entrega da coisa para seu aperfeiçoamento, opondo-se, assim, aos contratos reais onde a tradição é o elemento constitutivo do contrato. d)COMUTATIVO – porque cada uma das partes, desde o momento da feitura do ajuste, pode antever e avaliar a prestação que lhe será fornecida e que, pelo menos subjetivamente, é equivalente da prestação que se dispõe a dar. e)NÃO-SOLENE – porque a lei não impõe forma determinada para o seu aperfeiçoamento. Página 134 / 176 Assim, destacam-se 3 elementos: -TEMPO -PREÇO -OBJETO DO NEGÓCIO. As partes no contrato de locação são denominadas: -LOCADOR (proprietário) -LOCATÁRIO (inquilino) A locação é negócio de duração variável, podendo ser convencionada por tempo determinado ou indeterminado. Quando for por tempo DETERMINADO – há que distinguir entre: a) a locação de coisas (a que a lei não fixa limite de vigência); b) a locação de serviços (onde o legislador tendo em vista a inalienabilidade da liberdade humana, impõe um máximo de 4 anos para a sua duração) – art. 598 CC. +++Os contratos fixados por tempo determinado cessam de pleno direito quando findo o prazo estipulado, independente de notificação ou aviso. +++Os contratos fixados por tempo indeterminado cessam por deliberação de qualquer das partes, notificada a outra, com antecedência prevista na lei. A locação pode ter por objeto: UMA COISA SERVIÇOS FORNECIMENTO DE TRABALHO E MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – art. 593/609 CC Página 135 / 176 A locação de serviços pode ter por objeto um trabalho físico ou intelectual, ou ainda a empreitada de uma obra onde o locador promete fornecer apenas seu trabalho, ou o seu trabalho e material.O preço na locação de serviços é chamado de SALÁRIO OU SOLDADA. DA LOCAÇÃO DE COISAS – art. 565/578 CC ART. 565 CC - Na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder a outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de coisa não-fungível, mediante certa retribuição. FUNGÍVEL – que se gasta A locação de coisas pode recair sobre coisas móveis ou imóveis. Se tratando de bens móveis – estes devem ser INFUNGÍVEIS, pois se a coisa cujo uso se concede é fungível, o contrato se degenera em mútuo feneratício – tem que devolver outra coisa mesmo gênero, qualidade e quantidade. O preço na locação de coisas é chamado de RENDA OU ALUGUEL. OBRIGAÇÕES DO LOCADOR – proprietário ART. 566 CC - o locador é obrigado: I. a entregar ao locatário a coisa alugada, com suas pertenças, em estado de servir ao uso a que se destina, e a mantê-la nesse estado, pelo tempo do contrato, salvo cláusula expressa em contrário; II. a garantir-lhe, durante o tempo do contrato, o uso pacífico da coisa . 1. O locador tem que entregar a coisa para o locatário, mas entregá-la em estado de servir ao uso a que se destina – art. 566, I Ex. falta água ao prédio alugado, tal fato constitui causa bastante para a rescisão da avença, pois o mesmo não se encontra em estado de servir ao uso a que se destina. 2. Cabe ao locador custear as reparações dos estragos advindos à coisa e que não derivem de culpa do locatário Este aspecto trás uma problemática muito grande sobre a questão da responsabilidade pelas reparações que a coisa alugada venha a necessitar. Página 136 / 176 ART. 567 CC – Se, durante a locação, se deteriorar a coisa alugada, sem culpa do locatário, a este caberá pedir redução proporcional do aluguel, ou resolver o contrato, caso já não sirva a coisa para o fim, a que se destinava. Portanto o locatário terá duas opções em caso de deterioração: ++rescindir o contrato – se a deterioração for de tal tamanho que frustre a sua utilização; ++solicitar redução do preço do aluguel – Mas a lei não fala da hipótese de se exigir se proceda às reparações necessárias. Silvio Rodrigues diz que tal alternativa é evidente, mas deve-se fazer uma diferenciação: ++quando são pequenas reparações, de estragos que provenham da natureza, naturalmente do tempo e do uso da coisa locada, incumbem ao locatário, sendo todas as outras encargo do locador. Ex. vazamento vaso sanitário. Ex. desentupimento de canos. Ver ART. 23 da Lei 8.245 (agora LEI Nº 12.112, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2009) Assim, se o locador se negar a reparar a coisa alugada, compete ao locatário: ++reclamar a rescisão do contrato com perdas e danos, nos termos do art. 476 e 477 CC ++recorrer a ação competente, com fundamento nos arts. 632 e seguintes do CPC, pleiteando a autorização para executar tais reparos às expensas do locador, de acordo com o art. 249 CC e 634 CPC. 3. O locador deverá garantir ao locatário o uso pacífico da coisa – portanto, o locador deve abster-se da prática de qualquer ato que possa afetar ou comprometer o uso e gozo da coisa alugada, garantindo o locatário contra perturbações de terceiros. ART. 566 CC – O locador é obrigado: Página 137 / 176 I. entregar ao locatário a coisa alugada, com suas pertenças, em estado de servir ao uso a que se destina, e a mantê-la nesse estado, pelo tempo do contrato, salvo cláusula expressa em contrário; II. a garantir-lhe durante o tempo do contrato, o uso pacífico da coisa. DAS OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO – inquilino 1.O locatário é obrigado a zelar pela coisa alugada como se fosse sua - se não conservar a coisa com prudência, o locador poderá promover a rescisão da locação ou pedir indenização; 2.Deve usar a coisa alugada para os fins convencionados - ou para aqueles que decorrerem de sua natureza, sendo que não poderá modificá-los sem a autorização do locador, sob pena de rescisão do contrato; Ex. se alugou um automóvel para passeio não poderá usá-lo para disputar corridas de velocidade. Ex. não pode o locatário de um imóvel residencial transformá-lo em comercial; A coisa alugada destina-se, por natureza, a um determinado fim, e assim deve ser utilizada, ou seja, de acordo com a forma convencionada. Se isso não ocorrer há um inadimplemento contratual, e de acordo com o art. 570, poderá o locador além de pedir a rescisão reclamar perdas e danos. ART. 570 CC - Se locatário empregar a coisa em uso diverso do ajustado, ou do que a que se destina, ou se ela se danificar por abuso do locatário, poderá o locador, além de rescindir o contrato exigir perdas e danos. 3.O locatário tem que pagar o aluguel no prazo legal ou no ajustado - pois esta prestação por ele devida é que constitui a causa das prestações fornecidas pelo locador. 4.O locatário quando terminar a locação deverá restituir a coisa no estado em que a recebeu - salvo as deteriorações naturais ao seu uso regular. 1ª. parte do art. - Portanto, finda a locação ex locato, não tem o locatário qualidade de conservar a coisa, devendo devolvê-la. Até o final do prazo da locação a posse que desfrutava e havida por título precário por conta da locação, que era direta e justa, tornar-se-á injusta se não devolver a coisa reclamada pelo locador. Assim, se o locatário não devolver a coisa, sua posse é viciada, caracterizada por esbulho. Página 138 / 176 2ª. parte do art. - consta a obrigação do locatário de devolver a coisa em bom estado de conservação, exceto as deteriorações naturais e esperadas. Se a coisa for devolvida em mal estado o locador poderá recusar-se de recebê-la, até que submeta a vistoria, onde verifique sua condição, para depois apurar o montante da reparação que terá direito de exigir do locatário. DO TERMO FINAL DA LOCAÇÃO – prazo determinado ou indeterminado A locação de coisas poderá ser ajustada por prazo determinado ou indeterminado. TEMPO DETERMINADO DE DURAÇÃO – nesta hipótese a relação ex locato cessa de pleno direito com o advento do termo, independentemente de notificação ou aviso, impondo-se assim ao locatário o dever de devolver a coisa. ART. 573 CC – A locação por tempo determinado cessa de pleno direito findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso Se a devolução não se perfaz, o locador deve reclamá-la através de notificação judicial ou extrajudicial dirigida ao locatário, a fim de colocá-lo em mora, pois, caso contrário, seu silêncio poderá ser interpretado como concordância com a prorrogação do contrato, por igual prazo, mas sem prazo determinado. ART. 574 CC – Se, findo o prazo, o locatário continuar na posse da coisa alugada sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação pelo mesmo aluguel, mas sem prazo determinado. Se com a notificação o locatário não restituir a coisa, sua mora poderá provocar dupla sanção: 1. Pagará o aluguel que o locador, na própria notificação arbitrar – a lei dá ao locador um meio compulsório para forçar o locatário a cumprir sua obrigação. Algumas jurisprudências tem entendido que esta multa não poderá ultrapassar ao dobro do aluguel convencionado. 2. Responderá pelo dano que a coisa venha a sofrer, embora proveniente de caso fortuito ART. 575 CC – Se, notificado, o locatário não restituir a coisa, pagará, enquanto estiver em seu poder, o aluguel que o locador arbitrar e responderá pelo dano, que venha a sofrer, embora proveniente de caso fortuito. Página 139 / 176 Parágrafo único. Se o aluguel arbitrado for manifestamente excessivo, poderá o juiz reduzi-lo, mas tendo sempre em conta o seu caráter de penalidade. Mas, de outro lado, deve-se esclarecer que antes do vencimento do prazo, o locador não poderá reaver a coisa alugada, senão ressarcindo aos locatários os prejuízos resultantes, nem o locatário poderá devolver, a menos que pague os aluguéis pelo tempo que faltar. Caso fortuito - evento humano, alheia vontade devedor -impedimento relacionado a pessoa do devedor ou com sua empresa – fato interno Força Maior – fatos naturais, fogem ao controle do devedor. - fato externo. - ordens de autoridades (fait du prince) - fenômenos naturais (raios, terremotos) - ocorrências políticas (guerras, revoluções) ART. 570 CC - Se locatário empregar a coisa em uso diverso do ajustado, ou do que a que se destina, ou se ela se danificar por abuso do locatário, poderá o locador, além de rescindir o contrato exigir perdas e danos. ART. 571 CC – Havendo prazo estipulado à duração do contrato, antes do vencimento não poderá o locador reaver a coisa alugada, senão ressarcindo ao locatário as perdas e danos resultantes, nem o locatário devolvê-la ao locador senão pagando, proporcionalmente, a multa prevista no contrato. Parágrafo único – o locatário gozará do direito de retenção, enquanto não for ressarcido. Mas, claro que o contrato poderá ser rescindo por qualquer das partes, ante o inadimplemento de outro contratante. Ex. O locador que não garante ao locatário o uso pacífico da coisa, ou se o locatário empregar a coisa em uso diverso do ajustado ou daquele para que se destina. Veja-se art. 8. da Lei do Inquilinato – 8245/91 (agora LEI Nº 12.112, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2009) – com este artigo esta regra perdeu parte de sua importância: ART. 8. – Lei 8245/91(agora LEI Nº 12.112, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2009) – Se o imóvel for alienado durante a locação, o adquirente poderá denunciar o contrato, com o prazo de 90 dias para a desocupação, salvo se a locação for por tempo determinado e o contrato tiver cláusula de vigência em caso de alienação e estiver averbado junto a matrícula do imóvel. Página 140 / 176 Par. 1º Idêntico direito terá o promissário comprador e o promissário cessionário, em caráter irrevogável, com imissão na posse do imóvel e título registrado junto à matrícula do mesmo. Par. 2º - a denúncia deverá ser exercitada no prazo de 90 dias contados do registro da venda ou do compromisso, presumindo-se, após esse prazo, a concordância na manutenção da locação. TEMPO INDETERMINADO DE DURAÇÃO – cessará desde que qualquer das partes resolva dar fim. Se tratar-se de prédios urbanos deve-se analisar o art. 78 da lei 8245/91 (agora LEI Nº 12.112, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2009). ART. 78 da Lei 8245/91 – As locações residenciais que tenham sido celebradas anteriormente a vigência desta lei e que já vigorarem ou venham a vigorar por prazo indeterminado, poderão ser denunciadas pelo locador, concedido o prazo de 12 meses para a desocupação. Parágrafo único – na hipótese de ter havido revisão judicial ou amigável do aluguel, atingindo o preço do mercado, a denúncia somente poderá ser exercida após 24 meses da data da revisão, se esta ocorreu nos 12 meses anteriores à data da vigência da lei. DO DIREITO DE RETENÇÃO DO LOCATÁRIO – O direito de retenção é a faculdade, concedida pela lei ao credor, de conservar em seu poder a coisa alheia que já detenha legitimamente, além do momento em que deveria restituir, em garantia de um crédito que tenha contra o devedor e decorrente de despesas feitas ou perdas sofridas em razão da coisa. É um meio direto de defesa, concedido ao credor de determinadas prestações, com o objetivo de lhe proporcionar um meio compulsivo de maior eficácia, contra o devedor relapso. Recusando-se a entregar a coisa sem antes receber o que em razão dela lhe é devido, o detentor estimula o dono, que a reclama, a saldar seu débito. A lei confere ao locatário o direito de receber o valor das benfeitorias necessárias e o das úteis quando expressamente autorizadas, assim muniu desse eficiente instrumento de defesa, que é direito de retenção. Assim o locatário poderá recusar a devolução da coisa alugada, após o vencimento do contrato, até que o locador o indenize por aquelas benfeitorias. Página 141 / 176 DA LOCAÇÃO DE PRÉDIOS – LEI DO INQUILINATO 8245/91 – (agora LEI Nº 12.112, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2009) Endereços eletrônicos: LEI Nº 12.112, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2009 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12112.htm LEI No 8.245, DE 18 DE OUTUBRO DE 1991 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8245.htm ART. 1º. - A locação de imóvel urbano regula-se pelo disposto nesta Lei. Parágrafo único. Continuam regulados pelo Código Civil e pelas leis especiais: a) as locações: 1. de imóveis de propriedade da União, dos Estados e dos Municípios, de suas autarquias e fundações públicas; 2. de vagas autônomas de garagem ou de espaços para estacionamento de veículos; 3. de espaços destinados à publicidade; 4. em apart-hotéis, hotéis-residência ou equiparados, assim considerados aqueles que prestam serviços regulares a seus usuários e como tais sejam autorizados a funcionar; b) o arrendamento mercantil, em qualquer de suas modalidades. A lei 8.245/91 (agora LEI Nº 12.112, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2009) trata das locações urbanas, residenciais e não residenciais. A doutrina diz que é totalmente errônea a designação da seção I, quando fala em locação em geral, pois por locação em geral estariam incluídas as locações de coisas e serviços e a locação de obra (empreitada), quando a lei VISA REGULAMENTAR APENAS AS LOCAÇÕES DE IMÓVEIS URBANOS (residencial e não residencial). Os doutrinadores dizem que a designação deveria ser “as locações de imóveis urbanos em geral”. ART. 2º. - Havendo mais de um locador ou mais de um locatário, entende-se que são solidários se o contrário não se estipulou. Página 142 / 176 Parágrafo único. Os ocupantes de habitações coletivas multifamiliares presumem-se locatários ou sublocatários. Expõe o princípio da solidariedade. Em caso de mais de um locador ou locatário, a lei é clara, existe a solidariedade se nada foi estipulado ao contrário. Obrigação solidária é aquela em que havendo vários credores ou vários devedores, cada credor terá direito à totalidade da prestação, como se fosse o único credor, ou cada devedor estará obrigado pelo débito todo (arts. 264 e 265 CC) O credor pode exigir de qualquer devedor a dívida por inteiro, e o adimplemento da prestação por um dos devedores liberará todos ante o credor comum. A solidariedade é incompatível com o fracionamento da obrigação. Por exemplo se cada credor tiver o direito de exigir apenas uma parcela do débito, não existirá solidariedade. ART. 3º. – O contrato de locação pode ser ajustado por qualquer prazo, dependendo de vênia conjugal, se igual ou superior a dez anos. Parágrafo único. Ausente a vênia conjugal, o cônjuge não estará obrigado a observar o prazo excedente. O prazo do contrato pode ser ajustado por qualquer prazo, mas se por ventura for igual ou superior a 10 anos precisará a assinatura de ambos os integrantes do casal (vênia conjugal). Se não existir a assinatura de um dos cônjuges, aquele que não assinou não estará obrigado a observar o prazo excedente. Subordinação da vontade do locador ao interesse da família. Se não existir justificativa para não prestar a vênia, pode-se requerer o suprimento judicial. Aquele que não assinou poderá requerer a anulabilidade do contrato. ART.4º. - Durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador reaver o imóvel alugado. O locatário, todavia, poderá devolvê-lo, pagando a multa pactuada, segundo a proporção prevista no artigo 924 do Código Civil e, na sua falta, a que for judicialmente estipulada. REVOGADO Página 143 / 176 Parágrafo único. O locatário ficará dispensado da multa se a devolução do imóvel decorrer de transferência, pelo seu empregador, privado ou público, para prestar serviços em localidades diversas daquela do início do contrato, e se notificar, por escrito, o locador com prazo de, no mínimo, trinta dias de antecedência. NOVA REDAÇÃO - Art. 4º Durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador reaver o imóvel alugado. O locatário, todavia, poderá devolvê-lo, pagando a multa pactuada, proporcionalmente ao período de cumprimento do contrato, ou, na sua falta, a que for judicialmente estipulada. Durante o prazo o locador não poderá reaver o imóvel objeto da locação, mas o locatário poderá devolver o imóvel pagando uma multa pactuada ou judicialmente fixada (art. 413 CC). Ocorrerá isenção da multa no caso de transferência do locatário, em razão de relação empregatícia, desde que notifique o locador por escrito com 30 dias de antecedência. ART. 5º. – Seja qual for o fundamento do término da locação, a ação do locador para reaver o imóvel é a de despejo. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica se a locação termina em decorrência de desapropriação, com a imissão do expropriante na posse do imóvel. Estabelece a ação competente – despejo – para o locador reaver o imóvel objeto da locação. Objetivo da ação de despejo é a desocupação do imóvel locado com o conseqüente desalojamento do locatário, rompendo-se assim a relação jurídica obrigacional. – RESCISÃO DO CONTRATO LOCATÍCIO PELA RETOMADA DO PRÉDIO ALUGADO. ART. 6º. – O locatário poderá denunciar a locação por prazo indeterminado mediante aviso por escrito ao locador, com antecedência mínima de trinta dias. Parágrafo único. Na ausência do aviso, o locador poderá exigir quantia correspondente a um mês de aluguel e encargos, vigentes quando da resilição. O locatário de contrato INDETERMINADO poderá notificar o locador com no mínimo 30 dias de antecedência do seu desinteresse de permanecer com a relação contratual. Se por ventura não ocorrer a notificação o parágrafo único abre a possibilidade do locador exigir a quantia correspondente a um mês de aluguel mais encargos. É uma forma de cessação da relação contratual por prazo indeterminado. Página 144 / 176 O locatário poderá desligar-se do vínculo contratual desfazendo a relação ex locato, SEM QUALQUER JUSTIFICAÇÃO. ART. 7º. – Nos casos de extinção de usufruto ou de fideicomisso, a locação celebrada pelo usufrutuário ou fiduciário poderá ser denunciada, com o prazo de trinta dias para a desocupação, salvo se tiver havido aquiescência escrita do nu-proprietário ou do fideicomissário, ou se a propriedade estiver consolidada em mãos do usufrutuário ou do fiduciário. Parágrafo único. A denúncia deverá ser exercitada no prazo de noventa dias contados da extinção do fideicomisso ou da averbação da extinção do usufruto, presumindo-se, após esse prazo, a concordância na manutenção da locação. Este artigo refere-se ao limite da locação celebrada pelo usufrutuário e fiduciário, em razão do caráter temporário do usufruto ou fideicomisso. O usufrutuário pode locar a coisa, mas cessando o usufruto, extingue-se a locação. A relação contratual só poderá ter validade enquanto durar o usufruto. Ex. se a locação foi celebrada pelo usufrutuário, terminará com a dissolução do usufruto, exceto se o nuproprietário deu seu consentimento, ou, se a propriedade se consolidar em mãos do usufrutuário-locador. USUFRUTO – art. 1.390 e seguintes CC FIDEICOMISSO – art. 1.951 e seguintes CC No caso do fideicomisso, o fiduciário tem propriedade resolúvel do imóvel que locou, com o advento da condição resolutiva, cessará o fideicomisso e conseqüentemente não existirá possibilidade de continuar a locação. Ex. se o locador era o fiduciário, e vem a falecer, não se terá transferência de contrato de locação, sem que o fideicomissário tenha dado sua expressa autorização, pois haverá extinção da locação. ART. 8º.- Se o imóvel for alienado durante a locação, o adquirente poderá denunciar o contrato, com o prazo de noventa dias para a desocupação, salvo se a locação for por tempo determinado e o contrato contiver cláusula de vigência em caso de alienação e estiver averbado junto à matrícula do imóvel. § 1º. Idêntico direito terá o promissário comprador e o promissário cessionário, em caráter irrevogável, com imissão na posse do imóvel e título registrado junto à matrícula do mesmo. Página 145 / 176 § 2º. A denúncia deverá ser exercitada no prazo de noventa dias contados do registro da venda ou do compromisso, presumindo-se, após esse prazo, a concordância na manutenção da locação. Refere-se a hipótese de transferência da posição jurídica do titular do domínio, mediante alienação. Quando se fala em alienação, deve-se entender de forma ampla, por exemplo doação, permuta, execução forçada... Se ocorrer a alienação o adquirente não terá dever algum em respeitar o contrato locatício, seja para fins residenciais ou não, em que não foi parte – DENÚNCIA IMOTIVADA O adquirente PODERÁ DENUNCIAR, DANDO PRAZO DE 90 DIAS PARA A EVACUAÇÃO, SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA (denuncia vazia), SALVO SE EXISTIR PRAZO CONTRATUAL (locação por tempo determinado) E O CONTRATO EXTIVER AVERBADO JUNTO AO CRI – publicidade - (junto a matrícula do imóvel), EXISTIR CLÁUSULA DE VIGÊNCIA EM CASO DE ALIENAÇÃO. ART. 9º. – A locação também poderá ser desfeita: I - por mútuo acordo; II - em decorrência da prática de infração legal ou contratual; III - em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos; IV - para a realização de reparações urgentes determinadas pelo Poder Público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário no imóvel ou, podendo, ele se recuse a consenti-las. Este artigo apresenta os modos extintivos da relação ex locato. a)distrato ou resilição bilateral – mútuo acordo b) resolução por inexecução voluntária do contrato – infração de qualquer cláusula contratual (falta de pagamento - sublocação) c)resolução por inexecução involuntária – devido à necessidade de realização de reparos urgentes, que não possam ser executadas com a permanência do inquilino no imóvel ou se ele se recusar. ART. 10º. – Morrendo o locador, a locação transmite-se aos herdeiros. Morrendo o locador, a locação se transmite aos herdeiros. Não é intuito personae, logo a morte do locador não extingue a locação. Página 146 / 176 Ocorre a transferência dos direitos do locador para seus herdeiros. ART. 11º. – Morrendo o locatário, ficarão sub-rogados nos seus direitos e obrigações: I - nas locações com finalidade residencial, o cônjuge sobrevivente ou o companheiro e, sucessivamente, os herdeiros necessários e as pessoas que viviam na dependência econômica do de cujos, desde que residentes no imóvel; II - nas locações com finalidade não residencial, o espólio e, se for o caso, seu sucessor no negócio. No caso de morte do locatário, os direitos e obrigações decorrentes do contrato são transmissíveis. Assim existirá o direito de continuidade, ocorrendo a sub-rogação. a)na pessoa do cônjuge sobrevivente ou seu companheiro e sucessivamente aos herdeiros necessários e as pessoas que vivam na dependência financeira do de cujus DESDE QUE RESIDENTES NO IMÓVEL. b)quando a locação não for residencial os direitos e obrigações se sub-rogam ao espólio e ao seu sucessor no negócio ou atividade empresarial por ele desempenhada, se for o caso. Até que ocorra a partilha cabe ao espólio a sub-rogação. REVOGADO - ART. 12º. – Em casos de separação de fato, separação judicial, divórcio ou dissolução da sociedade concubinária, a locação prosseguirá automaticamente com o cônjuge ou companheiro que permanecer no imóvel. Parágrafo único. Nas hipóteses previstas neste artigo, a sub-rogação será comunicada por escrito ao locador, o qual terá o direito de exigir, no prazo de trinta dias, a substituição do fiador ou o oferecimento de qualquer das garantias previstas nesta Lei. NOVA REDAÇÃO - Art. 12. Em casos de separação de fato, separação judicial, divórcio ou dissolução da união estável, a locação residencial prosseguirá automaticamente com o cônjuge ou companheiro que permanecer no imóvel. § 1o Nas hipóteses previstas neste artigo e no art. 11, a sub-rogação será comunicada por escrito ao locador e ao fiador, se esta for a modalidade de garantia locatícia. § 2o O fiador poderá exonerar-se das suas responsabilidades no prazo de 30 (trinta) dias contado do recebimento da comunicação oferecida pelo sub-rogado, ficando responsável pelos efeitos da fiança durante 120 (cento e vinte) dias após a notificação ao locador.” (NR) Página 147 / 176 Casos de separação a locação persistirá relativamente ao cônjuge que permanecer no imóvel. A retirada de um dos membros do lar não chegará a extinguir a locação. Aquele que ficar no imóvel será responsabilizado pelo pagamento do aluguel e demais taxas. ART. 13º. – A cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel, total ou parcialmente, dependem do consentimento prévio e escrito do locador. § 1º. Não se presume o consentimento pela simples demora do locador em manifestar formalmente a sua oposição. § 2º. Desde que notificado por escrito pelo locatário, de ocorrência de uma das hipóteses deste artigo, o locador terá o prazo de trinta dias para manifestar formalmente a sua oposição. A cessação, a sublocação e o empréstimo do imóvel locado são modos translativos inter vivos do contrato de locação SEMPRE DEPENDENTES de anuência expressa e escrita do locador. Se houver a transferência estará eivada de ilicitude. É inadmissível o silêncio tácito, não se fala em presunção do consentimento. É dever do locatário pedir prévio consentimento expresso do locador para sublocar, ceder ou emprestar o imóvel locado. Se ocorrer a transferência sem autorização o locador poderá rescindir o contrato em razão da infração legal. ART. 14. – Aplicam-se às sublocações, no que couber, as disposições relativas às locações A sublocação é proibida a não ser se houver consentimento expresso. A sublocação é um contrato de locação que se efetiva entre o locatário de um bem e o sublocatário (terceira pessoa), com a prévia autorização do locador. Equivale a uma nova locação. A sublocação é regida pelas mesmas regras da locação. Página 148 / 176 O locatário na sublocação transfere a terceiro o gozo da coisa locada, MAS SEM CONTUDO FAZER-SE SUBSTITUIR NA SUA POSIÇÃO CONTRATUAL, CONTINUANDO RESPONSÁVEL PELA CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL E PELO PAGAMENTO DO ALUGUEL. Em caso de venda do imóvel objeto da sublocação O SUBLOCATÁRIO TERÁ O DIREITO DE PREFERÊNCIA. ART. 15. Rescindida ou finda a locação, qualquer que seja sua causa, resolvem-se as sublocações, assegurado o direito de indenização do sublocatário contra o sublocador. Incide o princípio de que o acessório segue o principal . A sublocação como contrato acessório sofrerá os mesmos efeitos impostos à locação, que é negócio principal. Extinta a locação rescindida estará a sublocação. ART. 16º. – O sublocatário responde subsidiariamente ao locador pela importância que dever ao sublocador , quando este for demandado , e , ainda, pelos aluguéis que se vencerem durante a lide. Na sublocação contém duas relações distintas: -uma entre locador e locatário -entre sublocador e sublocatário. Mas não existe qualquer liame de ligação entre locador e sublocatário, assim inadmissível ação diretamente de um e outro. O locador só poderá demandar diretamente o locatário (sublocador) pois o sublocatário responde subsidiariamente ao locador não só pelo quantum correspondente ao aluguel devidos ao sublocador, quando este for acionado, como também pelos que, na pendência da lide se vencerem. ART 17º. – É livre a convenção do aluguel, vedada a sua estipulação em moeda estrangeira e a sua vinculação à variação cambial ou ao salário mínimo. Parágrafo único. Nas locações residenciais serão observados os critérios de reajustes previstos na legislação específica. Página 149 / 176 O preço do aluguel deverá ser certo e determinado, estando vetada toda e qualquer vinculação à variação cambial ou salário mínimo. É proibida qualquer estipulação em moeda estrangeira. ART. 18º. – É lícito às partes fixar, de comum acordo, novo valor para o aluguel, bem como inserir ou modificar cláusula de reajuste. As partes contratantes possuem total liberdade para ajustar o quantum do aluguel, bem como inserir ou alterar cláusula de reajuste na vigência do contrato. ART. 19º. – Não havendo acordo, o locador ou o locatário, após três anos de vigência do contrato ou do acordo anteriormente realizado, poderão pedir revisão judicial do aluguel, a fim de ajustá-lo ao preço de mercado. Se por ventura não ocorrer acordo entre locador e locatário, as partes poderão requerer a revisão judicial do valor locativo, mas só poderá ser pleiteada a partir de três anos da data do contrato ou do acordo anteriormente feito. ART. 20º. – Salvo as hipóteses do artigo 42 e da locação para temporada, o locador não poderá exigir o pagamento antecipado do aluguel. Neste artigo a lei inquilinária veio proibir a cobrança antecipada do aluguel, pois constitui contravenção penal. O locador apenas estará autorizado a cobrar antecipadamente se: a)a locação não estiver assegurada por caução real, fiança. Hipótese em que o locador poderá exigir do locatário o pagamento antecipado. b)locação de imóveis para temporada, com prazo não superior a três meses. ART. 21º. – O aluguel da sublocação não poderá exceder o da locação; nas habitações coletivas multifamiliares, a soma dos aluguéis não poderá ser superior ao dobro do valor da locação. Parágrafo único. O descumprimento deste artigo autoriza o sublocatário a reduzir o aluguel até os limites nele estabelecidos. Página 150 / 176 O locatário possui o direito de sublocar o imóvel desde que haja uma autorização expressa do locador, mas não libera-se do liame contratual, continuando obrigado pelo contrato celebrado com o locador, assim, a sublocação não poderá ser celebrada com prazo superior a locação e nem o valor da sublocação poderá ser superior ao da locação. Quando o artigo fala em habitações coletivas fala de cortiços, pensões, repúblicas, onde a soma dos aluguéis não poderá exceder ao sobro do valor da locação. ART. 22º. – O locador é obrigado a: I - entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina; II - garantir, durante o tempo da locação, o uso pacífico do imóvel locado; III - manter, durante a locação, a forma e o destino do imóvel; IV - responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação; V - fornecer ao locatário, caso este solicite, descrição minunciosa do estado do imóvel, quando de sua entrega, com expressa referência aos eventuais defeitos existentes; VI - fornecer ao locatário recibo discriminado das importâncias por este pagas, vedada a quitação genérica; VII - pagar as taxas de administração imobiliária, se houver, e de intermediações, nestas compreendidas as despesas necessárias à aferição da idoneidade do pretendente ou de seu fiador; VIII - pagar os impostos e taxas, e ainda o prêmio de seguro complementar contra fogo, que incidem ou venham a incidir sobre o imóvel, salvo disposição expressa em contrário no contrato; IX - exibir ao locatário, quando solicitado, os comprovantes relativos às parcelas que estejam sendo exigidas; X - pagar as despesas extraordinárias de condomínio. Parágrafo único. Por despesas extraordinárias de condomínio se entendem aquelas que não se refiram aos gastos rotineiros de manutenção do edifício, especialmente: a) obras de reformas ou acréscimos que interessem à estrutura integral do imóvel; b) pintura das fachadas, empenas, poços de aeração e iluminação, bem como das esquadrias externas; c) obras destinadas a repor as condições de habitabilidade do edifício; d) indenizações trabalhistas e previdenciárias pela dispensa de empregados, ocorridas em data anterior ao início da locação; e) instalação de equipamentos de segurança e de incêndio, de telefonia, de intercomunicação, de esporte e de lazer; f) despesas de decoração e paisagismo nas partes de uso comum; g) constituição de fundo de reserva. São os deveres do locador I)... Página 151 / 176 ... VIII)pagar não só impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana e taxas municipais, mas também valor do prêmio de seguro complementar contra incêndio. Relativamente a este dever deve-se esclarecer que as partes podem estipular ao contrário. ... X)a lei arrola quais as despesas consideradas extraordinárias. ART. 23º. O locatário é obrigado a: I - pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato; II - servir-se do imóvel para o uso convencionado ou presumido, compatível com a natureza deste e com o fim a que se destina, devendo tratá-lo com o mesmo cuidado como se fosse seu; III - restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal; IV - levar imediatamente ao conhecimento do locador o surgimento de qualquer dano ou defeito cuja reparação a este incumba, bem como as eventuais turbações de terceiros; V - realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel, ou nas suas instalações, provocados por si, seus dependentes, familiares, visitantes ou prepostos; VI - não modificar a forma interna ou externa do imóvel sem o consentimento prévio e por escrito do locador; VII - entregar imediatamente ao locador os documentos de cobrança de tributos e encargos condominiais, bem como qualquer intimação, multa ou exigência de autoridade pública, ainda que dirigida a ele, locatário; VIII - pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e esgoto; IX - permitir a vistoria do imóvel pelo locador ou por seu mandatário, mediante combinação prévia de dia e hora, bem como admitir que seja o mesmo visitado e examinado por terceiros, na hipótese prevista no artigo 27; X - cumprir integralmente a convenção de condomínio e os regulamentos internos; XI - pagar o prêmio do seguro de fiança; XII - pagar as despesas ordinárias de condomínio. § 1º. Por despesas ordinárias de condomínio se entendem as necessárias à administração respectiva, especialmente: a) salários, encargos trabalhistas, contribuições previdenciárias e sociais dos empregados do condomínio; b) consumo de água e esgoto, gás, luz e força das áreas de uso comum; c) limpeza, conservação e pintura das instalações e dependências de uso comum; d) manutenção e conservação das instalações e equipamentos hidráulicos, elétricos, mecânicos e de segurança, de uso comum; Página 152 / 176 e) manutenção e conservação das instalações e equipamentos de uso comum destinados à prática de esportes e lazer; f) manutenção e conservação de elevadores, porteiro eletrônico e antenas coletivas; g) pequenos reparos nas dependências e instalações elétricas e hidráulicas de uso comum; h) rateios de saldo devedor, salvo se referentes a período anterior ao início da locação; i) reposição do fundo de reserva, total ou parcialmente utilizado no custeio ou complementação das despesas referidas nas alíneas anteriores, salvo se referentes a período anterior ao início da locação. § 2º. O locatário fica obrigado ao pagamento das despesas referidas no parágrafo anterior, desde que comprovadas a previsão orçamentária e o rateio mensal, podendo exigir a qualquer tempo a comprovação das mesmas. § 3º. No edifício constituído por unidades imobiliárias autônomas, de propriedade da mesma pessoa, os locatários ficam obrigados ao pagamento das despesas referidas no § 1º deste artigo, desde que comprovadas. Trata das obrigações do locatário. I)... ... IV)levar imediatamente ao conhecimento do locador o aparecimento de qualquer dano ou defeito, cuja reparação deve ser feita pelo locador, por ser o proprietário, e, também, as turbações de terceiros, por exemplo, o proprietário vizinho que se recusa a permitir o exercício de uma servidão de passagem V)fazer reparos em estragos não provenientes do desgaste natural. Ex. desentupimento de canos, colocação de fechaduras quebradas, substituição de vidros partidos. ART. 24º. – Nos imóveis utilizados como habitação coletiva multifamiliar, os locatários ou sublocatários poderão depositar judicialmente o aluguel e encargos se a construção for considerada em condições precárias pelo Poder Público. § 1º. O levantamento dos depósitos somente será deferido com a comunicação, pela autoridade pública, da regularização do imóvel. § 2º. Os locatários ou sublocatários que deixarem o imóvel estarão desobrigados do aluguel durante a execução das obras necessárias à regularização. § 3º. Os depósitos efetuados em juízo pelos locatários e sublocatários poderão ser levantados, mediante ordem judicial, para realização das obras ou serviços necessários à regularização do imóvel. Na locação de imóveis de habitação coletiva e multifamiliar se a construção for considerada precária pelo Poder Público competente seus locatários e sublocatários poderão fazer o depósito judicial não só dos aluguéis como dos encargos locatícios devidos, para se evitar o despejo obrigando o locador a fazer a reforma. Página 153 / 176 ART. 25º. – Atribuída ao locatário a responsabilidade pelo pagamento dos tributos , encargos e despezas ordinárias de condomínio , o locador poderá cobrar tais verbas juntamente co o aluguel do mês a que se refiram . Parágrafo Único. Se o locador antecipar os pagamentos , a ele pertencerão as vantagens daí advindas , salvo se o locatório reembolsá-lo integralmente. Se as partes estipularam que o locatário é responsável pelo pagamento de tributos, encargos e despesas com condomínio o locador deverá cobrá-las juntamente com o aluguel. ART. 26º. – Necessitando o imóvel de reparos urgentes, cuja realização incumba ao locador, o locatário é obrigado a consenti-los. Parágrafo único. Se os reparos durarem mais de dez dias, o locatário terá direito ao abatimento do aluguel, proporcional ao período excedente; se mais de trinta dias poderá resilir o contrato. Casos de reparos urgentes que devem ser feitos pelo locador, o locatário deve obrigatoriamente consentir. Se ultrapassar mais de 10 dias, poderá ocorrer um abatimento no valor do aluguel. Por exemplo se as reformas durarem 15 dias o abaterá 5/30 do aluguel. Se durar mais de 30 dias poderá ocorrer a rescisão contratual. ART. 27º - No caso de venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de direitos ou dação em pagamento, o locatário tem preferência para adquirir o imóvel locado, em igualdade de condições com terceiros, devendo o locador dar-lhe conhecimento do negócio mediante notificação judicial, extrajudicial ou outro meio de ciência inequívoca. Parágrafo único. A comunicação deverá conter todas as condições do negócio e, em especial, o preço, a forma de pagamento, a existência de ônus reais, bem como o local e horário em que pode ser examinada a documentação pertinente. DIREITO DE PREFERÊNCIA. Este artigo confere ao locatário o direito pessoal de preferência na aquisição de imóvel locado, destinado a fins residenciais ou não. ART. 28º. – O direito de preferência do locatário caducará se não manifestada, de maneira inequívoca, sua aceitação integral à proposta, no prazo de trinta dias. O locatário perderá o direito de preferência (caducará) se não se manifestar dentro do período de 30 dias. Página 154 / 176 ART. 29º. – Ocorrendo aceitação da proposta, pelo locatário, a posterior desistência do negócio pelo locador acarreta, a este, responsabilidade pelos prejuízos ocasionados, inclusive lucros cessantes. Se o locatário aceitar a proposta, ou seja, exercer o seu direito de preferência, e o locador cair fora do negócio, acarretará ao locador responsabilização pelos prejuízos sofridos pelo locatário, inclusive lucros cessantes. Só haverá responsabilização se tiver ocorrido dano, ou seja, se existir danos a reparar. Se não existir dano não há o que reparar. ART. 30º. – Estando o imóvel sublocado em sua totalidade, caberá a preferência ao sublocatário e, em seguida, ao locatário. Se forem vários os sublocatários, a preferência caberá a todos, em comum, ou a qualquer deles, se um só for o interessado. Parágrafo único. Havendo pluralidade de pretendentes, caberá a preferência ao locatário mais antigo, e, se da mesma data, ao mais idoso. Quando ocorrer a sublocação também teremos o direito de preferência, tanto para os locatários como para os sublocatários, mas a lei estabeleceu uma ordem de preferência. Primeiramente o direito de preferência é do sublocatário e depois do locatário, já que o sublocatário é o ocupante do prédio. A lei prevê também a hipótese de vários subinquilinos, prevendo o direito de preferência conjunto entre eles, ou àquele que se interessar, portanto, o direito de preferência será em favor de todos. Se vários forem os interessados primeiramente o locatário mais antigo e após o mais velho. ART. 31º. – Em se tratando de alienação de mais de uma unidade imobiliária, o direito de preferência incidirá sobre a totalidade dos bens objeto da alienação. Se se tratar de venda de mais de uma unidade imobiliária, o preferente deverá adquirir a totalidade do imóvel. A jurisprudência entende que se o dono de um edifício quiser vender várias unidades, ele não terá de efetuar a notificação dos seus inquilinos sobre cada uma das áreas ocupadas, quando na verdade pretende a venda em um único ato de várias unidades Página 155 / 176 ART. 32º. – O direito de preferência não alcança os casos de perda da propriedade ou venda por decisão judicial, permuta, doação, integralização de capital, cisão, fusão e incorporação. Parágrafo único. Nos contratos firmados a partir de 1º de outubro de 2001, o direito de preferência de que trata este artigo não alcançará também os casos de constituição da propriedade fiduciária e de perda da propriedade ou venda por quaisquer formas de realização de garantia, inclusive mediante leilão extrajudicial, devendo essa condição constar expressamente em cláusula contratual específica, destacando-se das demais por sua apresentação gráfica O direito de preferência é próprio em casos de alienação onerosa, logo, não poderá ser exercido na alienação forçada e nos atos de liberalidade. O direito de preferência não é possível em casos de venda judicial, permuta, doação, entre outros... ART. 33º. – O locatário preterido no seu direito de preferência poderá reclamar do alienante as perdas e danos ou, depositando o preço e demais despesas do ato de transferência, haver para si o imóvel locado, se o requerer no prazo de seis meses, a contar do registro do ato no Cartório de Imóveis, desde que o contrato de locação esteja averbado pelo menos trinta dias antes da alienação junto à matrícula do imóvel. Parágrafo único. A averbação far-se-á à vista de qualquer das vias do contrato de locação, desde que subscrito também por duas testemunhas. Este artigo trata da hipótese do descumprimento por parte do locador do dever de dar direito de preferência ao inquilino. Se o locatário for preterido do direito de preferência, e o seu contrato estiver a pelo menos 30 dias antes da alienação, registrado na matrícula imobiliária, a lei permite: -ação com índole indenizatória, desde que se comprove o efetivo prejuízo -ação adjudicatória, a fim de invalidar a alienação feita pelo locador a estranho O locatário tem um prazo de 6 meses para reclamar o seu direito, tal prazo pe decadencial. ART. 34º. – Havendo condomínio no imóvel, a preferência do condômino terá prioridade sobre a do locatário. Se por ventura no imóvel houver condomínio, o direito de preferência será primeiramente do condômino. Trata-se de uma ordem de prioridade. Página 156 / 176 ART. 35º. – Salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção. Trata das benfeitorias. As necessárias não precisam ser autorizadas pelo locador – são as de conservação do imóvel, para evitar a deterioração. Ex. reforço das fundações. O locatário terá o direito de ser indenizado e também de reter o bem em seu poder se não receber o valor dos gastos. As úteis precisam de autorização – são as obras ou despesas que se fazem no imóvel para melhorá-lo, aumentando ou facilitando o seu uso. Ex. instalação de aparelhos hidráulicos ou sanitários modernos, construção de uma garagem. Se foi autorizado expressamente tem condições de requerer uma indenização, com o direito de retenção. Se, não existir autorização são consideradas benfeitorias de má-fé e não darão ao locatário o direito de receber a indenização. ART. 36º. – As benfeitorias voluptuárias não serão indenizáveis, podendo ser levantadas pelo locatário, finda a locação, desde que sua retirada não afete a estrutura e a substância do imóvel. Trata das benfeitorias voluptuárias que são aquelas obras ou despesas feitas no imóvel apenas para embelezálo. Tais benfeitorias não aumentam o uso habitual do imóvel, apenas o tornam mais agradável. Ex. revestimento de mármore em um piso de cerâmica, construção de uma quadra de tênis, construção de uma piscina. Estas não são indenizáveis, terminada a locação o locatário poderá levantá-las, desde que, não haja detrimento do imóvel, ou seja, desde que não prejudique a sua estrutura. ART. 37º. – No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia: I - caução; II - fiança; III - seguro de fiança locatícia. Parágrafo único. É vedada, sob pena de nulidade, mais de uma das modalidades de garantia num mesmo contrato de locação. Este artigo trata das garantias locatícias, que poderão ser prestadas através da fiança, caução ou seguro de fiança locatícia. Página 157 / 176 Caução real é a garantia real do exato adimplemento dos deveres decorrentes do contrato. Constitui-se um bem do locatário, móvel, imóvel ou dinheiro, que servirá de garantia preventiva. Fiança, também chamada de garantia pessoal ou fidejussória. É a caução prestada por uma terceira pessoa perante o locador, para garantir as obrigações assumidas pelo devedor. Seguro de fiança locatícia é o pagamento de uma taxa, correspondente a um prêmio mensal ou anual que se ajustar, tendo por fim garantir o pagamento de certa soma ao locador.O inquilino pagará mensalmente uma quantia à Companhia Seguradora, para que ela pague indenização cobrindo possíveis e eventuais prejuízos. ART. 38º. - A caução poderá ser em bens móveis e imóveis. § 1º. A caução em bens móveis deverá ser registrada em Cartório de Títulos e Documentos; a em bens imóveis deverá ser averbada à margem da respectiva matrícula. § 2º. A caução em dinheiro, que não poderá exceder o equivalente a três meses de aluguel, será depositada em caderneta de poupança, autorizada pelo Poder Público e por ele regulamentada, revertendo em benefício do locatário todas as vantagens dela decorrentes por ocasião do levantamento da soma respectiva. § 3º. A caução em títulos e ações deverá ser substituída, no prazo de trinta dias, em caso de concordata, falência ou liquidação das sociedades emissoras. A caução poderá ser de imóvel (hipoteca) ou móvel (penhor), e, se for referente a usufruto desse imóvel será anticrese. REVOGADO - ART. 39º. – Salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garan-tias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel. NOVA REDAÇÃO - Art. 39. Salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, por força desta Lei.” (NR). A garantia oferecida pelo locatário ao locador persistirá, salvo cláusula em contrário, até a devolução efetiva do imóvel. Nada impede que a garantia seja por tempo certo e determinado. ART. 40º. – O locador poderá exigir novo fiador ou a substituição da modalidade de garantia, nos seguintes casos: I - morte do fiador; II - ausência, interdição, falência ou insolvência do fiador, declaradas judicialmente; REVOGADO Página 158 / 176 NOVA REDAÇÃO - II – ausência, interdição, recuperação judicial, falência ou insolvência do fiador, declaradas judicialmente; III - alienação ou gravação de todos os bens imóveis do fiador ou sua mudança de residência sem comunicação ao locador; IV - exoneração do fiador; V - prorrogação da locação por prazo indeterminado, sendo a fiança ajustada por prazo certo; VI - desaparecimento dos bens móveis; VII - desapropriação ou alienação do imóvel. NOVA REDAÇÃO X – prorrogação da locação por prazo indeterminado uma vez notificado o locador pelo fiador de sua intenção de desoneração, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante 120 (cento e vinte) dias após a notificação ao locador. Parágrafo único. O locador poderá notificar o locatário para apresentar nova garantia locatícia no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desfazimento da locação.” (NR) Este artigo permite a transformação da garantia pessoal em caução real, e vice-versa. Se a caução real for insuficiente permite-se que seja reforçada com novos bens ou com outras garantias. O locador poderá exigir novo fiador ou a substituição do mesmo no caso de morte... ART. 41º. – O seguro de fiança locatícia abrangerá a totalidade das obrigações do locatário. O seguro de fiança locatícia garantirá as obrigações do locatário oriundas do contrato de locação em sua integralidade. O prêmio do seguro será devido por inteiro, com pagamento fracionado ou à vista pelo contratante do seguro. ART. 42º. - Não estando a locação garantida por qualquer das modalidades, o locador poderá exigir do locatário o pagamento do aluguel e encargos até o sexto dia útil do mês vincendo. Se o locador não tiver garantias arroladas no art. 37 poderá exigir que o locatário pague o aluguel e demais encargos até o 6º. dia útil do mês vincendo. Ex. o aluguel de maio que venceria no 6º. dia de junho passará a vencer no sexto dia útil de maio. ART. 43º. – Constitui contravenção penal, punível com prisão simples de cinco dias a seis meses ou multa de três a doze meses do valor do último aluguel atualizado, revertida em favor do locatário: Página 159 / 176 I - exigir, por motivo de locação ou sublocação, quantia ou valor além do aluguel e encargos permitidos; II - exigir, por motivo de locação ou sublocação, mais de uma modalidade de garantia num mesmo contrato de locação; III - cobrar antecipadamente o aluguel, salvo a hipótese do artigo 42 e da locação para temporada. Penalidades criminais ou civis. Trata da responsabilidade criminal do locador ou sublocador que violar norma ou obrigação, causando dano não apenas ao inquilino ou subinquilino mas também a sociedade. ART. 44º. - Constitui crime de ação pública, punível com detenção de três meses a um ano, que poderá ser substituída pela prestação de serviços à comunidade: I - recusar-se o locador ou sublocador, nas habitações coletivas multifamiliares, a fornecer recibo discriminado do aluguel e encargos; II - deixar o retomante, dentro de cento e oitenta dias após a entrega do imóvel, no caso do inciso III do artigo 47, de usá-lo para o fim declarado ou, usando-o, não o fizer pelo prazo mínimo de um ano; III - não iniciar o proprietário, promissário comprador ou promissário cessionário, nos casos do inciso IV do artigo 9º, inciso IV do artigo 47, inciso I do artigo 52 e inciso II do artigo 53, a demolição ou a reparação do imóvel, dentro de sessenta dias contados de sua entrega; IV - executar o despejo com inobservância do disposto no § 2º do artigo 65. Parágrafo único. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas neste artigo, poderá o prejudicado reclamar, em processo próprio, multa equivalente a um mínimo de doze e um máximo de vinte e quatro meses do valor do último aluguel atualizado ou do que esteja sendo cobrado do novo locatário, se realugado o imóvel. Este artigo trata de quatro crimes omissos próprios, ou seja, a simples omissões, em que o agente desobedece norma que lhe ordena fazer algo, não fazendo o que deve. Portanto, a inércia é punida, pela desobediência do preceito. ART. 45º. – São nulas de pleno direito as cláusulas do contrato de locação que visem a elidir os objetivos da presente Lei, notadamente as que proíbem a prorrogação prevista no artigo 47, ou que afastem o direito à renovação, na hipótese do artigo 51, ou que imponham obrigações pecuniárias para tanto. Trata das nulidades de todas as cláusulas contrárias aos objetivos da lei do inquilinato. ART. 46º. – Nas locações ajustadas por escrito e por prazo igual ou superior a trinta meses, a resolução do contrato ocorrerá findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. Página 160 / 176 § 1º. Findo o prazo ajustado, se o locatário continuar na posse do imóvel alugado por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação por prazo indeterminado, mantidas as demais cláusulas e condições do contrato. § 2º. Ocorrendo a prorrogação, o locador poderá denunciar o contrato a qualquer tempo, concedido o prazo de trinta dias para desocupação. Início do capítulo II – locações residenciais § 2º. Denúncia vazia ou imotivada. Denuncia IMOTIVADA – art. 46 – igual ou mais de 30 meses Denuncia MOTIVADA – art. 47 – menos de 30 meses. Trata das locações residenciais, feitas por escrito com prazo superior ou igual a 30 meses, que cessará de pleno direito, independentemente de prévia notificação ou aviso. Se o inquilino no vencimento do prazo ajustado não devolver o imóvel, equiparar-se-á ao possuidor de má-fé, e, pelo inadimplemento do seu dever legal de restituir o imóvel, poderá ser acionado pelo locador que poderá ingressar com a ação de despejo sem a necessidade de notificação premonitória. Existem doutrinadores que sustentam ser necessária a notificação. O locatário do prédio residencial não está mais protegido pela denúncia vazia ou imotivada, que é a prerrogativa que se concede ao senhorio de propor o despejo sem qualquer justificativa. O locador não está obrigado a demonstrar a plausibilidade do despejo, já que a lei lhe confere este direito independentemente da necessidade, sem apresentação de qualquer motivo. Se o locatário, com o vencimento do prazo contratual, quiser entregar o prédio e o locador se recusar a recebê-lo, o inquilino, deverá efetuar o depósito judicial, evitando assim a continuidade da locação. Vencido o prazo sem a entrega do imóvel, nem promovendo o locador a retomada do prédio locador, se o inquilino continuar na posse do bem por mais de 30 dias sem que o locador se oponha, presumir-se-á prorrogada a locação, mas sem prazo determinado. Trata-se da prorrogação voluntária tácita. Poderá, neste caso, alterar-se o valor do aluguel e a cláusula de reajuste. Página 161 / 176 Se, por ventura, ocorrer esta prorrogação contratual por tempo indeterminado, poderá o locador SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA, a qualquer momento, denunciar a locação, dando por fim a avença locatícia, desde que, conceda ao inquilino o prazo de 30 dias para desocupação. ART. 47º. – Quando ajustada verbalmente ou por escrito e com prazo inferior a trinta meses, findo o prazo estabelecido, a locação prorroga-se automaticamente, por prazo indeterminado, somente podendo ser retomado o imóvel: I - nos casos do artigo 9º; II - em decorrência de extinção do contrato de trabalho, se a ocupação do imóvel pelo locatário estiver relacionada com o seu emprego; III - se for pedido para uso próprio, de seu cônjuge ou companheiro, ou para uso residencial de ascendente ou descendente que não disponha, assim como seu cônjuge ou companheiro, de imóvel residencial próprio; IV - se for pedido para demolição e edificação licenciada ou para a realização de obras aprovadas pelo Poder Público, que aumentem a área construída em, no mínimo, vinte por cento ou, se o imóvel for destinado a exploração de hotel ou pensão, em cinqüenta por cento; V - se a vigência ininterrupta da locação ultrapassar cinco anos. § 1º. Na hipótese do inciso III, a necessidade deverá ser judicialmente demonstrada, se: a) o retomante, alegando necessidade de usar o imóvel, estiver ocupando, com a mesma finalidade, outro de sua propriedade situado na mesma localidade ou, residindo ou utilizando imóvel alheio, já tiver retomado o imóvel anteriormente; b) o ascendente ou descendente, beneficiário da retomada, residir em imóvel próprio. § 2º. Nas hipóteses dos incisos III e IV, o retomante deverá comprovar ser proprietário, promissário comprador ou promissário cessionário, em caráter irrevogável, com imissão na posse do imóvel e título registrado junto à matrícula do mesmo. Inciso I – casos art. 9º.: -reparos urgentes -determinação Poder Público -mútuo acordo -infração legal ou contratual Trata das locações com prazo inferior a 30 meses e ajustadas verbalmente ou por escrito. Nesta hipótese findo o prazo contratual prorroga-se automaticamente, por prazo indeterminado, sendo que só poderá ocorrer a retomadas nas seguintes hipóteses: I. Página 162 / 176 (...) III.se tiver necessidade do imóvel para uso próprio, de seu cônjuge ou companheiro, para uso residencial de ascendentes ou descendente, que não dispuser, nem o respectivo cônjuge ou companheiro de imóvel residencial próprio. ART. 48º. – Considera-se locação para temporada aquela destinada à residência temporária do locatário, para prática de lazer, realização de cursos, tratamento de saúde, feitura de obras em seu imóvel, e outros fatos que decorram tão-somente de determinado tempo, e contratada por prazo não superior a noventa dias, esteja ou não mobiliado o imóvel. Parágrafo único. No caso de a locação envolver imóvel mobiliado, constará do contrato, obrigatoriamente, a descrição dos móveis e utensílios que o guarnecem, bem como o estado em que se encontram. Da locação por temporada. Trata da locação por temporada, aquela para férias, descanso, estudos, tratamento de saúde... Temporada significa época do ano propício ou escolhida para determinadas realizações por parte do locatário. A figura da temporada não se restringe aos imóveis situados em estâncias climáticas, hidrominerais ou na orla marítima. Pouco importa a localização do imóvel, o que interessa é -ter locação finalidade residencial temporária; -conter prazo de duração não excedente a três meses; -atender a necessidade específica do inquilino, como: lazer, descanso, tratamento de saúde... Se o imóvel for mobiliado deverá constar no contrato a descrição dos móveis e utensílios, com o estado em que se encontram. ART. 49º. – O locador poderá receber de uma só vez e antecipadamente os aluguéis e encargos, bem como exigir qualquer das modalidades de garantia previstas no artigo 37 para atender as demais obrigações do contrato. Na hipótese de locação por temporada o locador terá direito de cobrar antecipadamente o aluguel e os encargos locativos, e, também, exigir garantias como caução, fiança... Página 163 / 176 ART. 50º. – Findo o prazo ajustado, se o locatário permanecer no imóvel sem oposição do locador por mais de trinta dias, presumir-se-á prorrogada a locação por tempo indeterminado, não mais sendo exigível o pagamento antecipado do aluguel e dos encargos. Parágrafo único. Ocorrendo a prorrogação, o locador somente poderá denunciar o contrato após trinta meses de seu início ou nas hipóteses do artigo 47. Nas locações por temporada se findo o prazo o locatário permanecer no imóvel por mais de 30 dias, estará prorrogada a locação por tempo indeterminado, perdendo o locador o direito do pagamento antecipado do aluguel. PASSARÁ O CONTRATO A REGER-SE PELAS DISPOSIÇÕES DAS LOCAÇÕES RESIDENCIAIS. Se ocorrer a prorrogação o locador poderá retomar o imóvel denunciando o contrato após 30 meses do seu início ou baseando-se no art. 47, ou seja, poderá pedir a retomada intentando ação de despejo mediante denúncia cheia ou motivada. ART. 51º. – Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito a renovação do contrato, por igual prazo, desde que, cumulativamente: I - o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado; II - o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de cinco anos; III - o locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos. § 1º. O direito assegurado neste artigo poderá ser exercido pelos cessionários ou sucessores da locação; no caso de sublocação total do imóvel, o direito a renovação somente poderá ser exercido pelo sublocatário. § 2º. Quando o contrato autorizar que o locatário utilize o imóvel para as atividades de sociedade de que faça parte e que a esta passe a pertencer o fundo de comércio, o direito a renovação poderá ser exercido pelo locatário ou pela sociedade. § 3º. Dissolvida a sociedade comercial por morte de um dos sócios, o sócio sobrevivente fica sub-rogado no direito a renovação, desde que continue no mesmo ramo. § 4º. O direito a renovação do contrato estende-se às locações celebradas por indústrias e sociedades civis com fim lucrativo, regularmente constituídas, desde que ocorrentes os pressupostos previstos neste artigo. § 5º. Do direito a renovação decai aquele que não propuser a ação no interregno de um ano, no máximo, até seis meses, no mínimo, anteriores à data da finalização do prazo do contrato em vigor. Trata das locações não residenciais. Trata da renovação do contrato de imóveis comerciais. Página 164 / 176 Na renovação o contrato existente não se estende no tempo, pois sempre se terá um novo contrato, que se justapõe ao anterior, ao contrário da prorrogação, resultante de vontade das partes ou da lei. A lei exige determinadas condições: I.para ação renovatória é imprescindível a apresentação do contrato escrito. II.o prazo mínimo de locação a renovar seja por 5 anos; a locação comercial por prazo indeterminado não está sujeita a renovatória. III.exige-se o triênio pois em prazo menor não se poderá presumir formação de clientela. Além dos 3 anos exige-se o contrato escrito pelo prazo de 5 anos, sendo inadmissível a sua prova por meio de testemunha. Inadmissível será a renovação de contratos verbais, por tempo indeterminado ou por prazo menor a 5 anos. ART. 52º. – O locador não estará obrigado a renovar o contrato se: I - por determinação do Poder Público, tiver que realizar no imóvel obras que importarem na sua radical transformação; ou para fazer modificação de tal natureza que aumente o valor do negócio ou da propriedade; II - o imóvel vier a ser utilizado por ele próprio ou para transferência de fundo de comércio existente há mais de um ano, sendo detentor da maioria do capital o locador, seu cônjuge, ascendente ou descendente. § 1º. Na hipótese do inciso II, o imóvel não poderá ser destinado ao uso do mesmo ramo do locatário, salvo se a locação também envolvia o fundo de comércio, com as instalações e pertences. § 2º. Nas locações de espaço em shopping centers, o locador não poderá recusar a renovação do contrato com fundamento no inciso II deste artigo. § 3º. O locatário terá direito a indenização para ressarcimento dos prejuízos e dos lucros cessantes que tiver que arcar com a mudança, perda do lugar e desvalorização do fundo de comércio, se a renovação não ocorrer em razão de proposta de terceiro, em melhores condições, ou se o locador, no prazo de três meses da entrega do imóvel, não der o destino alegado ou não iniciar as obras determinadas pelo Poder Público ou que declarou pretender realizar. REVOGADO A lei neste artigo aponta os casos em que o locador poderá pedir a retomada do imóvel não residencial. ART. 53º. – Nas locações de imóveis utilizados por hospitais, unidades sanitárias oficiais, asilos, estabelecimentos de saúde, e de ensino autorizados e fiscalizados pelo Poder Público, bem como por entidades religiosas devidamente registradas, o contrato somente poderá ser rescindido: I - nas hipóteses do artigo 9º; II - se o proprietário, promissário comprador ou promissário cessionário, em caráter irrevogável e imitido na posse, com título registrado, que haja quitado o preço da promessa ou que, não o tendo feito, seja autorizado Página 165 / 176 pelo proprietário, pedir o imóvel para demolição, edificação licenciada ou reforma que venha a resultar em aumento mínimo de cinqüenta por cento da área útil. Trata das locações privilegiadas de prédios utilizados para hospitais, unidades sanitárias, asilos, estabelecimento de saúde e ensino. Tais locações apenas poderão ser rescindidas nas hipóteses do art. 9º. ou II..... ART. 54º. – Nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping center, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos e as disposições procedimentais previstas nesta Lei. § 1º. O empreendedor não poderá cobrar do locatário em shopping center: a) as despesas referidas nas alíneas a, b, e d do parágrafo único do artigo 22; e b) as despesas com obras ou substituições de equipamentos, que impliquem modificar o projeto ou o memorial descritivo da data do habite-se e obras de paisagismo nas partes de uso comum. § 2º. As despesas cobradas do locatário devem ser previstas em orçamento, salvo casos de urgência ou força maior, devidamente demonstradas, podendo o locatário, a cada sessenta dias, por si ou entidade de classe exigir a comprovação das mesmas. Trata das locações entre lojistas e empreendedores de shopping center (centro comerial planejado, composto por várias lojas que exploram vários ramos do comércio, ficando os lojistas sujeitos a normas contratuais padronizadas que visam à conservação do equilíbrio da oferta e da procura) ART. 55º. – Considera-se locação não residencial quando o locatário for pessoa jurídica e o imóvel destinarse ao uso de seus titulares, diretores, sócios, gerentes, executivos ou empregados. Define a locação não residencial. ART. 56º. - Nos demais casos de locação não residencial, o contrato por prazo determinado cessa, de pleno direito, findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. Parágrafo único. Findo o prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado. Se a locação for não-residencial, não preenchendo o locatário os requisitos do art. 51, sendo por prazo determinado, como a renovação pode ser impedida pelo locador, o contrato extingue-se de pleno direito, findo o prazo da vigência estipulado, independentemente de notificação. Página 166 / 176 Se o locatário permanecer no imóvel por mais de 30 dias, sem que o locador se oponha, ter-se-á a prorrogação voluntária tácita da locação, por prazo indeterminado. ART. 57º. – O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação. Por esta disposição legal a denúncia vazia ou imotivada ainda está adstrita a contratos de locação de imóvel para fins não residenciais por prazo indeterminado. Se a locação não residencial for convencionada por prazo indeterminado ou sofrer prorrogação voluntária, o locatário poderá ser levado a desocupar o imóvel dentro de 30 dias, mediante denúncia feita por escrito pelo locador. ART. 58º. – Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do artigo 1º, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar-se-á o seguinte: I - os processos tramitam durante as férias forenses e não se suspendem pela superveniência delas; II - é competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato; III - o valor da causa corresponderá a doze meses de aluguel, ou, na hipótese do inciso II do artigo 47, a três salários vigentes por ocasião do ajuizamento; IV - desde que autorizado no contrato, a citação, intimação ou notificação far-se-á mediante correspondência com aviso de recebimento, ou, tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, também mediante telex ou fac-símile, ou, ainda, sendo necessário, pelas demais formas previstas no Código de Processo Civil; V - os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo. Disposições gerais. I.os processos de despejo, consignação em pagamento de aluguel e seus acessórios, revisionais e renovatórias correm nas férias forenses. II.a sede do imóvel é o foro competente III. o valor da causa é de 12 meses de aluguel IV. (...) V.os recursos serão recebidos apenas com efeito devolutivo, ensejando, desde já, o cumprimento da sentença, o que não impedirá a concretização dos efeitos decorrentes da sentença recorrida. Página 167 / 176 ART. 59º. – Com as modificações constantes deste Capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1º. Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: I - o descumprimento do mútuo acordo (artigo 9º, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento; II - o disposto no inciso II do artigo 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia; III - o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato; IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do artigo 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei; V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário. NOVA REDAÇÃO - VI – o disposto no inciso IV do art. 9o, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las; VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. § 2º. Qualquer que seja o fundamento da ação dar-se-á ciência do pedido aos sublocatários, que poderão intervir no processo como assistentes. NOVA REDAÇÃO § 3º No caso do inciso IX do § 1o deste artigo, poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62.” (NR) Das ações de despejo. Página 168 / 176 Concessão de liminar para desocupação e, 15 dias, independente de audiência sempre prestando caução equivalente a três meses de aluguel. ART. 60º. – Nas ações de despejo fundadas no inciso IV do artigo 9º, inciso IV do artigo 47 e inciso II do artigo 53, a petição inicial deverá ser instruída com prova da propriedade do imóvel ou do compromisso registrado. Art. 9º.: -reparos urgentes determinados pelo Poder Público Art. 47: -pedido de demolição A petição inicial da ação de despejo deverá ser instruída com a prova da propriedade do imóvel. ART. 61º. – Nas ações fundadas no § 2º do artigo 46 e nos incisos III e IV do artigo 47, se o locatário, no prazo da contestação, manifestar sua concordância com a desocupação do imóvel, o juiz acolherá o pedido fixando prazo de seis meses para a desocupação, contados da citação, impondo ao vencido a responsabilidade pelas custas e honorários advocatícios de vinte por cento sobre o valor dado à causa. Se a desocupação ocorrer dentro do prazo fixado, o réu ficará isento dessa responsabilidade; caso contrário, será expedido mandado de despejo. Este artigo se aplicam em casos de pedido de despejo em razão da denúncia do locador, quando concede 30 dias para desocupação e nas hipóteses de necessidade do prédio locado para uso próprio do locador, de seu cônjuge...., e, em casos de reformas aprovada pelo Poder Público com aumento da área construída em mais de 20% Nestes casos se o locatário, no prazo da contestação, concordar com a desocupação do imóvel, o juiz acolherá o pedido de despejo, fixando 6 meses para desocupação, a partir da citação, condenando-se o locatário ao pagamento das custas e honorários. Mas se o locatário desocupar no prazo estabelecido não arcará com os ônus fixados na sentença. Se não desocupar além dos ônus será despejado sumariamente. ART. 62º. – Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, observar-se-á o seguinte: REVOGADO Página 169 / 176 NOVA REDAÇÃO - Art. 62. Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, de aluguel provisório, de diferenças de aluguéis, ou somente de quaisquer dos acessórios da locação, observar-se-á o seguinte: I - o pedido de rescisão da locação poderá ser cumulado com o de cobrança dos aluguéis e acessórios da locação, devendo ser apresentado, com a inicial, cálculo discriminado do valor do débito; II - o locatário poderá evitar a rescisão da locação requerendo, no prazo da contestação, autorização para o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, incluídos: REVOGADO NOVA REDAÇÃO II – o locatário e o fiador poderão evitar a rescisão da locação efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, incluídos: Jurisprudência Vinculada a) os aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua efetivação; b) as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis; c) os juros de mora; d) as custas e os honorários do advogado do locador, fixados em dez por cento sobre o montante devido, se do contrato não constar disposição diversa; III - autorizada a emenda da mora e efetuado o depósito judicial até quinze dias após a intimação do deferimento, se o locador alegar que a oferta não é integral, justificando a diferença, o locatário poderá complementar o depósito no prazo de dez dias, contados da ciência dessa manifestação; REVOGADO NOVA REDAÇÃO - III – efetuada a purga da mora, se o locador alegar que a oferta não é integral, justificando a diferença, o locatário poderá complementar o depósito no prazo de 10 (dez) dias, contado da intimação, que poderá ser dirigida ao locatário ou diretamente ao patrono deste, por carta ou publicação no órgão oficial, a requerimento do locador; IV - não sendo complementado o depósito, o pedido de rescisão prosseguirá pela diferença, podendo o locador levantar a quantia depositada; REVOGADO NOVA REDAÇÃO - IV – não sendo integralmente complementado o depósito, o pedido de rescisão prosseguirá pela diferença, podendo o locador levantar a quantia depositada; V - os aluguéis que forem vencendo até a sentença deverão ser depositados à disposição do juízo, nos respectivos vencimentos, podendo o locador levantá-los desde que incontroversos; VI - havendo cumulação dos pedidos de rescisão da locação e cobrança dos aluguéis, a execução desta pode ter início antes da desocupação do imóvel, caso ambos tenham sido acolhidos. Parágrafo único. Não se admitirá a emenda da mora se o locatário já houver utilizado essa faculdade por duas vezes nos doze meses imediatamente anteriores à propositura da ação. REVOGADO Página 170 / 176 NOVA REDAÇÃO - Parágrafo único. Não se admitirá a emenda da mora se o locatário já houver utilizado essa faculdade nos 24 (vinte e quatro) meses imediatamente anteriores à propositura da ação.” (NR) Trata das ações de despejo por falta de pagamento. I. O pedido de rescisão poderá ser cumulado com cobrança, sempre apresentando-se memória de débito discriminada; II. poderá ser evitado o despejo se no prazo da contestação o locatário pagar o débito. ART. 63º. – Julgada procedente a ação de despejo, o juiz fixará prazo de trinta dias para a desocupação voluntária, ressalvado o disposto nos parágrafos seguintes. REVOGADO NOVA REDAÇÃO - Art. 63. Julgada procedente a ação de despejo, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, ressalvado o disposto nos parágrafos seguintes. § 1º. O prazo será de quinze dias se: a) entre a citação e a sentença de primeira instância houverem decorrido mais de quatro meses; ou b) o despejo houver sido decretado com fundamento nos incisos II e III do artigo 9º ou no § 2º do artigo 46. REVOGADO NOVA REDAÇÃO – b) o despejo houver sido decretado com fundamento no art. 9o ou no § 2o do art. 46. § 2º. Tratando-se de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público, respeitado o prazo mínimo de seis meses e o máximo de um ano, o juiz disporá de modo que a desocupação coincida com o período de férias escolares. § 3º. Tratando-se de hospitais, repartições públicas, unidades sanitárias oficiais, asilos, estabelecimentos de saúde e de ensino autorizados e fiscalizados pelo Poder Público, bem como por entidades religiosas devidamente registradas, e o despejo for decretado com fundamento no inciso IV do artigo 9º ou no inciso II do artigo 53, o prazo será de um ano, exceto nos casos em que entre a citação e a sentença de primeira instância houver decorrido mais de um ano, hipótese em que o prazo será de seis meses. (Redação dada ao parágrafo pela Lei nº 9.256, de 09.01.1996) § 4º. A sentença que decretar o despejo fixará o valor da caução para o caso de ser executada provisoriamente. Se for julgada procedente a ação de despejo o juiz fixará 30 dias para desocupação voluntária, prazo contato da notificação, excluindo-se o dia do começo e incluindo o do vencimento Página 171 / 176 ART. 64º. – Salvo nas hipóteses das ações fundadas nos incisos I, II e IV do artigo 9º, a execução provisória do despejo dependerá de caução não inferior a doze meses e nem superior a dezoito meses do aluguel, atualizado até a data do depósito da caução. REVOGADO NOVA REDAÇÃO - Art. 64. Salvo nas hipóteses das ações fundadas no art. 9o, a execução provisória do despejo dependerá de caução não inferior a 6 (seis) meses nem superior a 12 (doze) meses do aluguel, atualizado até a data da prestação da caução. § 1º. A caução poderá ser real ou fidejussória e será prestada nos autos da execução provisória. § 2º. Ocorrendo a reforma da sentença ou da decisão que concedeu liminarmente o despejo, o valor da caução reverterá em favor do réu, como indenização mínima das perdas e danos, podendo este reclamar, em ação própria, a diferença pelo que a exceder. O locador que vencer a demanda, notificado o locatário, vencido na ação de despejo, sem que desocupe o imóvel, estando pendente recurso de apelação, poderá pleitear a redução a termo da caução prestada a fim de lavrado obter imediatamente a desocupação do imóvel. Se for reformada a decisão o valor da caução reverterá a favor do locatário. ART. 65º. – Findo o prazo assinado para a desocupação, contado da data da notificação, será efetuado o despejo, se necessário com emprego de força, inclusive arrombamento. § 1º. Os móveis e utensílios serão entregues à guarda de depositário, se não os quiser retirar o despejado. § 2º. O despejo não poderá ser executado até o trigésimo dia seguinte ao do falecimento do cônjuge, ascendente, descendente ou irmão de qualquer das pessoas que habitem o imóvel. No momento em que terminar o prazo para desocupação será efetuado o despejo, através dos Oficiais de Justiça, utilizando-se força pública (polícia civil ou militar) ART. 66 - Quando o imóvel for abandonado após ajuizada a ação, o locador poderá imitir-se na posse do imóvel. Se após o ajuizamento da ação o locatário vier a abandonar o imóvel, no curso do processo, abandonando-o o imóvel, o locador poderá emitir-se na posse. Não precisa aguardar sentença, poderá através de petição expositiva do fato, requerer a expedição de mandado de imissão de posse. Página 172 / 176 ART. 67º. – Na ação que objetivar o pagamento dos aluguéis e acessórios da locação mediante consignação, será observado o seguinte: I - a petição inicial, além dos requisitos exigidos pelo artigo 282 do Código de Processo Civil, deverá especificar os aluguéis e acessórios da locação com indicação dos respectivos valores; II - determinada a citação do réu, o autor será intimado a, no prazo de vinte e quatro horas, efetuar o depósito judicial da importância indicada na petição inicial, sob pena de ser extinto o processo; III - o pedido envolverá a quitação das obrigações que vencerem durante a tramitação do feito e até ser prolatada a sentença de primeira instância, devendo o autor promover os depósitos nos respectivos vencimentos; IV - não sendo oferecida a contestação, ou se o locador receber os valores depositados, o juiz acolherá o pedido, declarando quitadas as obrigações, condenando o réu ao pagamento das custas e honorários de vinte por cento do valor dos depósitos; V - a contestação do locador, além da defesa de direito que possa caber, ficará adstrita, quanto à matéria de fato, a: a) não ter havido recusa ou mora em receber a quantia devida; b) ter sido justa a recusa; c) não ter sido efetuado o depósito no prazo ou no lugar do pagamento; d) não ter sido o depósito integral; VI - além de contestar, o réu poderá, em reconvenção, pedir o despejo e a cobrança dos valores objeto da consignatória ou da diferença do depósito inicial, na hipótese de ter sido alegado não ser o mesmo integral; VII - o autor poderá complementar o depósito inicial, no prazo de cinco dias contados da ciência do oferecimento da resposta, com acréscimo de dez por cento sobre o valor da diferença. Se tal ocorrer, o juiz declarará quitadas as obrigações, elidindo a rescisão da locação, mas imporá ao autor-reconvindo a responsabilidade pelas custas e honorários advocatícios de vinte por cento sobre o valor dos depósitos; VIII - havendo, na reconvenção, cumulação dos pedidos de rescisão da locação e cobrança dos valores objeto da consignatória, a execução desta somente poderá ter início após obtida a desocupação do imóvel, caso ambos tenham sido acolhidos. Parágrafo único. O réu poderá levantar a qualquer momento as importâncias depositadas sobre as quais não penda controvérsia. Trata da ação de consignação de aluguel. A ação de consignação de aluguel e acessórios da locação ou depósito judicial da dívida locatícia é um procedimento especial de jurisdição contenciosa que equivalerá ao seu pagamento – CPC art.s 890 e seguintes Consiste num pagamento forçado, o locatário compele ao locador para receber o débito locatício, quando o mesmo não quiser receber Página 173 / 176 ART. 68 - Na ação revisional de aluguel, que terá o rito sumaríssimo, observar-se-á o seguinte: I - além dos requisitos exigidos pelos artigos 276 e 282 do Código de Processo Civil, a petição inicial deverá indicar o valor do aluguel cuja fixação é pretendida; II - ao designar a audiência de instrução e julgamento, o juiz, se houver pedido e com base nos elementos fornecidos pelo autor ou nos que indicar, fixará aluguel provisório, não excedente a oitenta por cento do pedido, que será devido desde a citação; REVOGADO NOVA REDAÇÃO - II – ao designar a audiência de conciliação, o juiz, se houver pedido e com base nos elementos fornecidos tanto pelo locador como pelo locatário, ou nos que indicar, fixará aluguel provisório, que será devido desde a citação, nos seguintes moldes: a) em ação proposta pelo locador, o aluguel provisório não poderá ser excedente a 80% (oitenta por cento) do pedido; b) em ação proposta pelo locatário, o aluguel provisório não poderá ser inferior a 80% (oitenta por cento) do aluguel vigente; III - sem prejuízo da contestação e até a audiência, o réu poderá pedir seja revisto o aluguel provisório, fornecendo os elementos para tanto; IV - na audiência de instrução e julgamento, apresentada a contestação, que deverá conter contraproposta se houver discordância quanto ao valor pretendido, o juiz tentará a conciliação e, não sendo esta possível, suspenderá o ato para a realização de perícia, se necessária, designando, desde logo, audiência em continuação. REVOGADO NOVA REDAÇÃO - IV – na audiência de conciliação, apresentada a contestação, que deverá conter contraproposta se houver discordância quanto ao valor pretendido, o juiz tentará a conciliação e, não sendo esta possível, determinará a realização de perícia, se necessária, designando, desde logo, audiência de instrução e julgamento; § 1º. Não caberá ação revisional na pendência de prazo para desocupação do imóvel (artigos 46, § 2º e 57), ou quando tenha sido este estipulado amigável ou judicialmente. § 2º. No curso da ação de revisão, o aluguel provisório será reajustado na periodicidade pactuada ou na fixada em lei. NOVA REDAÇÃO - V – o pedido de revisão previsto no inciso III deste artigo interrompe o prazo para interposição de recurso contra a decisão que fixar o aluguel provisório. Trata da ação revisional de aluguel. Se não ocorrer acordo entre locador e locatário, poderão após 3 anos de vigência do contrato, pleitear em juízo a revisão do preço estipulado para o aluguel. Página 174 / 176 A legitimidade ativa para promover a ação revisional poderá ser do locador – se a variação da estimativa percentual for para mais, como do locatário – se for para menos. ART. 69º. – O aluguel fixado na sentença retroage à citação, e as diferenças devidas durante a ação de revisão, descontados os alugueres provisórios satisfeitos, serão pagas corrigidas, exigíveis a partir do trânsito em julgado da decisão que fixar o novo aluguel. § 1º. Se pedido pelo locador, ou sublocador, a sentença poderá estabelecer periodicidade de reajustamento do aluguel diversa daquela prevista no contrato revisando, bem como adotar outro indexador para reajustamento do aluguel. § 2º. A execução das diferenças será feita nos autos da ação de revisão. O valor do aluguel fixado na sentença retroage à citação, assim o aluguel reajustado será devido a partir desse instante ART. 70º. – Na ação de revisão do aluguel, o juiz poderá homologar acordo de desocupação, que será executado mediante expedição de mandado de despejo. No curso da ação revisional poderá ocorrer a transação ou conciliação das partes que requerem a homologação judicial. ART. 71º. – Além dos demais requisitos exigidos no artigo 282 do Código de Processo Civil, a petição inicial da ação renovatória deverá ser instruída com: I - prova do preenchimento dos requisitos dos incisos I, II e III do artigo 51; II - prova do exato cumprimento do contrato em curso; III - prova da quitação dos impostos e taxas que incidiram sobre o imóvel e cujo pagamento lhe incumbia; IV - indicação clara e precisa das condições oferecidas para a renovação da locação; V - indicação de fiador quando houver no contrato a renovar e, quando não for o mesmo, com indicação do nome ou denominação completa, número de sua inscrição no Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, endereço e, tratando-se de pessoa natural, a nacionalidade, o estado civil, a profissão e o número da carteira de identidade, comprovando, em qualquer caso e desde logo, a idoneidade financeira; REVOGADO NOVA REDAÇÃO - V – indicação do fiador quando houver no contrato a renovar e, quando não for o mesmo, com indicação do nome ou denominação completa, número de sua inscrição no Ministério da Fazenda, endereço e, tratando-se de pessoa natural, a nacionalidade, o estado civil, a profissão e o número da carteira de identidade, comprovando, desde logo, mesmo que não haja alteração do fiador, a atual idoneidade financeira; Página 175 / 176 VI - prova de que o fiador do contrato ou o que o substituir na renovação, aceita os encargos da fiança, autorizada por seu cônjuge, se casado for; VII - prova, quando for o caso, de ser cessionário ou sucessor, em virtude de título oponível ao proprietário. Parágrafo único. Proposta a ação pelo sublocatário do imóvel ou de parte dele, serão citados o sublocador e o locador, como litisconsortes, salvo se, em virtude de locação originária ou renovada, o sublocador dispuser de prazo que admita renovar a sublocação; na primeira hipótese, procedente a ação, o proprietário ficará diretamente obrigado à renovação. Ação renovatória. Como vimos a renovação das locações comerciais e industriais pode ser extrajudicial (acordo) ou judicial (inexistindo acordo) ART. 72º. – A contestação do locador, além da defesa de direito que possa caber, ficará adstrita, quanto à matéria de fato, ao seguinte: I - não preencher o autor os requisitos estabelecidos nesta Lei; II - não atender, a proposta do locatário, o valor locativo real do imóvel na época da renovação, excluída a valorização trazida por aquele ao ponto ou lugar; III - ter proposta de terceiro para a locação, em condições melhores; IV - não estar obrigado a renovar a locação (incisos I e II do artigo 52). § 1º. No caso do inciso II, o locador deverá apresentar, em contraproposta, as condições de locação que repute compatíveis com o valor locativo real e atual do imóvel. § 2º. No caso do inciso III, o locador deverá juntar prova documental da proposta do terceiro, subscrita por este e por duas testemunhas, com clara indicação do ramo a ser explorado, que não poderá ser o mesmo do locatário. Nessa hipótese, o locatário poderá, em réplica, aceitar tais condições para obter a renovação pretendida. § 3º. No caso do inciso I do artigo 52, a contestação deverá trazer prova da determinação do Poder Público ou relatório pormenorizado das obras a serem realizadas e da estimativa de valorização que sofrerá o imóvel, assinado por engenheiro devidamente habilitado. § 4º. Na contestação, o locador, ou sublocador, poderá pedir, ainda, a fixação de aluguel provisório, para vigorar a partir do primeiro mês do prazo do contrato a ser renovado, não excedente a oitenta por cento do pedido, desde que apresentados elementos hábeis para aferição do justo valor do aluguel. § 5º. Se pedido pelo locador, ou sublocador, a sentença poderá estabelecer periodicidade de reajustamento do aluguel diversa daquela prevista no contrato renovando, bem como adotar outro indexador para reajustamento do aluguel. Trata da contestação a ação renovatória. Página 176 / 176 ART. 73º. – Renovada a locação, as diferenças dos aluguéis vencidos serão executadas nos próprios autos da ação e pagas de uma só vez. Se a ação for julgada procedente, e renovada a locação as diferenças de aluguel serão executadas nos próprios autos. ART. 74 - Não sendo renovada a locação, o juiz fixará o prazo de até seis meses após o trânsito em julgado da sentença para desocupação, se houver pedido na contestação. REVOGADO NOVA REDAÇÃO - Art. 74. Não sendo renovada a locação, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, se houver pedido na contestação. Não sendo renovada a locação o locatário tem até 6 meses para desocupar o imóvel.
Download