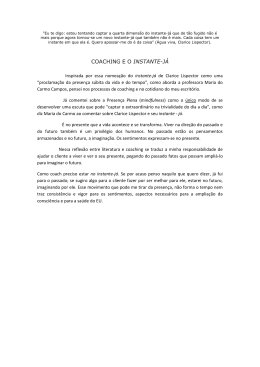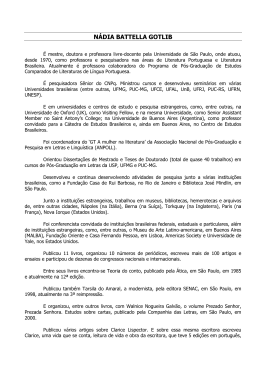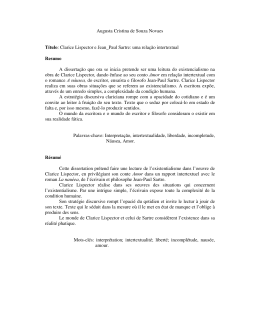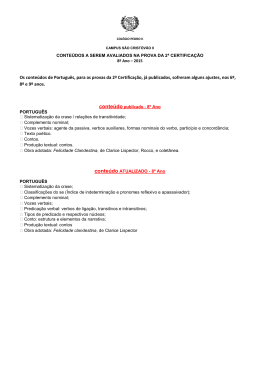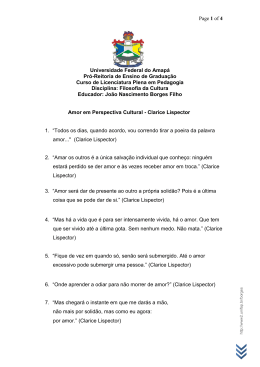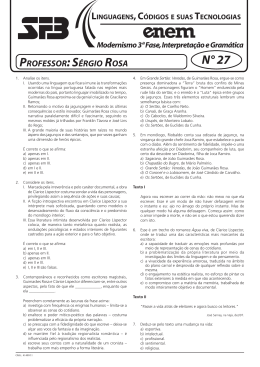CLARICE LISPECTOR E A DERIVA DOS CONTINENTES: DA
DESCOBERTA DO MUNDO À ENCENAÇAO DA ESCRITA
Mayara Ribeiro Guimarães
Rio de Janeiro
Março de 2009
CLARICE LISPECTOR E A DERIVA DOS CONTINENTES: DA DESCOBERTA
DO MUNDO À ENCENAÇAO DA ESCRITA
Mayara Ribeiro Guimarães
Tese de Doutorado apresentada ao
Programa de Pós-Graduação em Letras
Vernáculas da Universidade Federal do
Rio de Janeiro – UFRJ, como quesito
para a obtenção do Título de Doutor em
Letras Vernáculas (Literatura Brasileira).
Orientador: Prof. Doutor Ronaldes de
Melo e Souza
Rio de Janeiro
Março de 2009
2
Clarice Lispector e a deriva dos continentes: da descoberta do mundo à encenação da
escrita
Mayara Ribeiro Guimarães
Orientador: Prof. Doutor Ronaldes de Melo e Souza
Tese de Doutorado submetida ao Programa de Pós-Graduação em Letras Vernáculas da
Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como parte dos requisitos necessários
para a obtenção do Título de Doutor em Letras Vernáculas (Literatura Brasileira).
Examinada por:
Presidente, Prof. Doutor Ronaldes de Melo e Souza - UFRJ
Prof. Doutor Carlos Mendes de Sousa – Universidade do Minho
Prof. Doutor João Camillo Penna – UFRJ
Prof. Doutor Sérgio Martagão Gesteira – UFRJ
Prof. Doutor Godofredo de Oliveira Neto - UFRJ
Prof. Doutor Antonio Jardim – UFRJ, Suplente
Prof. Doutor Adauri Bastos – UFRJ, Suplente
Rio de Janeiro
Março de 2009
3
A Simone e Roberto Cláudio, origem
4
AGRADECIMENTOS
Agradeço ao meu orientador, Prof. Doutor Ronaldes de Melo e Souza com profunda
admiração e respeito, a quem devo minha formação acadêmica, por guiar, com
paciência e atenção, a feitura desta tese;
Ao Prof. Doutor Carlos Mendes de Sousa, cuja tese inspirou e conduziu esta pesquisa,
pela gentileza em aceitar meu convite e se propor ao diálogo além-mar;
Ao Prof. Doutor João Camillo Penna, pelo afeto e diálogo constantes, pela amizade,
pela generosidade intelectual e humana;
Ao Prof. Doutor Sergio Martagão Gesteira, pelo fino olhar, pela leitura que sempre
descobre a surpresa nas entrelinhas, a quem devo meu primeiro olhar de leitora crítica
sobre a obra de Lispector na pós-graduação;
Ao amigo e Prof. Dr. Godofredo de Oliveira Neto, por permanecer sempre perto, antes e
agora;
A Maria Lúcia Guimarães, pelo apoio e carinho;
A Simone Ribeiro, ouro, berço, amparo,
A Roberto Cláudio, a difícil e sutil arte de exercitar a diferença no seio do amor; depois
de muita procura, o reconhecimento – de ti jamais me separarei;
A Evangelina Ribeiro, glória, tradição, raízes;
A Yasmin Ribeiro, meu profundo afeto e respeito;
A Gabriela Ribeiro, a fraternidade sempre presente no carinho e na paciência;
A João Ângelo, anjo;
A Silvia Nogueira, “meu amor de prata, meu amor de ouro”, a quem devo a calma
aprendizagem da essência;
A Izabela Leal, irmã, amiga, cúmplice, cuja existência pulsa viva bem próxima de meu
coração;
5
A Márcia, Joseli, Marcos, Ricardo, Sonia, Paulinha, Pedro, Wilson, Dani, pelas tâmaras
compartilhadas nas noites de quinta-feira, pelo mar largo do amor, sim, obrigada!, não
sei como agradecer mais plenamente;
A Arif - certeza;
A Luis Maffei, pelo exercício da amizade amorosa, pelos profundos laços de afeto, tua
presença é música;
A Sebastião, Raquel, Ricardo, pela amizade, pela troca, pelo diálogo;
A Sandra e Antônio Cláudio, pelo apoio que desde o início guiou e definiu percursos,
jamais saberia agradecer apropriadamente;
A Marcelo Jacques, com quem aprendi a apreciar o fino e sutil exercício da crítica, suas
aulas eram pérolas;
A Alberto Pucheu, em profunda admiração;
Aos meus queridos professores que me ensinaram o caminho para chegar até aqui:
Wellington, Eucanaã, Rosa, Dau;
A todos os professores que me ajudaram nesse percurso: Célia, Afrânio, Ângela Beatriz,
meu carinho sempre;
Aos professores do Programa de Pós-Graduação em Letras Vernáculas, o meu
agradecimento;
A todos os meus alunos, com quem muito aprendi a ensinar e a escutar, em especial
aqueles que se tornaram amigos;
Por fim, a Kurt, porque o trabalho das estrelas se realizou.
Em especial, ao CNPq, por ter me concedido a bolsa de pesquisa sem a qual a
elaboração desta tese teria enfrentado grandes dificuldades e ao Programa de PósGraduação em Letras Vernáculas da Faculdade de Letras da UFRJ, pelo apoio
constante.
6
O Autor, de quem é o oráculo de Delfos,
Não diz nem subtrai nada, assinala o retraimento
(Fragmento93) - Heráclito
7
O brave poets, keep back nothing;
Nor mix falsehood with the whole!
Look up Godward! Speak the truth in
Worthy song from earnest soul!
Hold, in high poetic duty,
Truest Truth the fairest Beauty!
Pan, Pan is dead.
Elizabeth Barrett Browning
8
RESUMO
Clarice Lispector e a deriva dos continentes: da descoberta do mundo à encenação da
escrita
Mayara Ribeiro Guimarães
Orientador: Prof. Doutor Ronaldes de Melo e Souza
Resumo da Tese de Doutorado submetida ao Programa de Pós-Graduação em Letras
Vernáculas da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como parte dos
requisitos necessários para a obtenção do título de Doutor em Letras Vernáculas
(Literatura Brasileira).
A partir da leitura dos romances A Paixão Segundo G.H. (1964) e Uma Aprendizagem
ou o Livro dos Prazeres (1969), como objetos centrais desta exegese, Água Viva (1973),
A via crucis do corpo (1974) e A descoberta do mundo (1991) e dos livros de contos
como obras periféricas, a presente tese visa apontar a maneira pela qual a poética
elaborada pela narrativa de Clarice Lispector desnarra a tradição judaico-cristã, que
ensina a cisão metafísica entre corpo e alma, causa da ferida aberta na subjetividade.
Esta fratura, que paralisa o ser, inscreve-se ontológica, cultural e esteticamente e
interfere na relação que se estabelece entre sujeito e mundo, encenando o drama do
desamparo da subjetividade face o fracasso da missão humana. Da experiência de
falência introduz-se o cenário da culpa e a impotência do indivíduo revela-se como
fracasso da linguagem, refletida no cenário da noite, do abjeto, da morte e do informe.
Pela atualização destas forças na narrativa, a escrita se despe da herança da tradição e se
torna abstrata e metatextual. A referência ao ato criativo leva ao questionamento da
linguagem e ao limite da nomeação. Por sua vez, a interrogação do nome conduz à
formação de novas imagens, expressão do sensível, de forma que o entrelaçamento do
pensamento conceitual com o imagético suspenda a cisão entre abstrato e o sensível, o
expressivo e o inexpressivo. O equilíbrio entre o pensar-sentir torna-se necessário para
que a exposição da ferida se refaça pelo artifício da escrita. A constatação de que a
ferida se atualiza como fronteira entre o mistério e a criação provoca um movimento de
recomposição do ser descarnado, pela poesia. Assim, a obra clariciana realiza a
encenação das máscaras – do artista, do personagem, do autor, da escrita – que o sujeito
utiliza para lidar com a ferida aberta. Após a inscrição da palavra na tradição segue-se o
desnarrar da letra por meio do despojamento e lento apagamento da escrita. Na
alternância entre o vestir o nome, que é também máscara, e o despi-lo, que é também o
vazio, entrevê-se a busca do nome que não é dado, mas inventado, inscrição da Poesia.
Palavras-chaves:
Literatura brasileira, tradição, memória, encenação, poiesis
Rio de Janeiro
Março de 2009
9
ABSTRACT
Clarice Lispector and the continental drift: from the discovery of the world to the drama
of writing
Mayara Ribeiro Guimarães
Orientador: Prof. Doutor Ronaldes de Melo e Souza
Abstract da Tese de Doutorado submetida ao Programa de Pós-Graduação em Letras
Vernáculas da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como parte dos
requisitos necessários para a obtenção do título de Doutor em Letras Vernáculas
(Literatura Brasileira).
From the reading of Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres (1969), and A Paixão
Segundo G.H. (1964), as the main objects of this research, and of Água Viva (1973), A
via-crucis do Corpo (1974) and the chronicles written between 1967 and 1973 as
parallel objetcs of interpretation, this thesis tries to show how Clarice Lispector
developes a deconstruction of the christian and jewish tradition, which introduces the
metaphysical drift between body and soul that results in a forever open wound in
subjectivity. This cut, which petrifies the being, conveys itself as na onthological,
cultural and aesthetical cut and it interferes in the relationship between the self and the
world, causing the narrative to stage drama of the abandonemment of the self before the
failure of the human mission. From the experience of failure the author introduces guilt
to the central drama of existence. And the guilt leads the individual to facing his
weaknesses, which is reflected in the faileure of tha language to communicate. This
failure finds its reflection in the fuundational images of the night, the grotesque, death
and the Nameless. By renewing operation of such forces in the narrative, the writing
frees itself from the burden of tradition and instead of repeating it, it becomes abstract
and metalingusitic. By referring to the very act of literary creation, the text leads to the
questioning of language and poetic writing, and to the limits of its conveyance. Such
doubts, on the other hand, lead to the creation of new images to try and express
sensitity, in a way that the fusion between conceptual and poetic thinking discontinuous
the dissociation between the abstract and the concrete, as well as the expressive and the
inexpressive. The balance between the thinking-feeling concepto of writing in
Lispector’s work becomes necessary in order for the metaphysical wound to be solved
by writing. By considering the wound as the limit between mistery and creation the
individual may find a way of recomposing its wound by poetic writing. Clarice
Lispectr’s narratives stages the masks that constitute the artist, the characters, the author
and the writing, used by the individual in facing the wound. After the dialogue with the
western tradition, Lispector’s writing blurs its herritage by erasing and depriving itself
from this tradition.
Keywords: Brazilian literature, tradition, memory, drammatization, poiesis
Rio de Janeiro
Março de 2009
10
CLARICE LISPECTOR E A DERIVA DOS CONTINENTES: DA
DESCOBERTA DO MUNDO À ENCENAÇÃO DA ESCRITA
SUMÁRIO
PRÓLOGO DOS DESASTRES
Ato I _______________________________________________________________ 12
Ato II ______________________________________________________________ 22
CAPÍTULO 1
1.1 - Da encenação de uma paixão ________________________________________ 26
1.2 – Só voa alto o que tem peso: a perigosa lição dos adoradores _______________ 51
CAPÍTULO 2
2.1 - Da memória de Eros como encenação de uma tradição ___________________ 104
2.2 - Do anúncio da escrita: a divina sombra de Ulisses _____________________ 117
2.3 – Eros cosmogônico: a hierofania do sensível
_________________________ 127
CAPÍTULO 3
3.1 – Da descoberta do mundo à encenação da escrita _______________________ 168
3.2 –Do mundo da imagem à imagem da escrita ___________________________ 178
3.3 Da via crucis do corpo à noite da imagem
____________________________ 214
O RUMOR DA FERA ENTRE AS FOLHAGENS ________________________ 233
BIBLIOGRAFIA __________________________________________________ 241
11
PRÓLOGO DOS DESASTRES
ATO I
O tema da paixão de Cristo já foi extensamente estudado por críticos da obra de
Clarice Lispector, uma vez que a própria autora concedeu-lhe caráter privilegiado na
elaboração de romances como A paixão segundo G.H., explicitamente, ou alusivamente
em A hora da estrela e A maçã no escuro, e ainda em livros de contos como A viacrucis do corpo. A edição crítica de A paixão segundo G.H., coordenada por Benedito
Nunes na década de oitenta, foi conduzida com o propósito de apontar o diálogo que a
obra estabelecia com o texto bíblico. Tom semelhante orientou o artigo de Olga de Sá,
“Paródia e metafísica”, da mesma edição, a partir de uma interpretação parodística da
via-crucis de G.H. como inversão da paixão de Cristo “do plano da transcendência para
o plano da imanência” (SÁ, 1979: 220). Vilma Arêas, por sua vez, constata que o tema
era inclusive uma obsessão pessoal de Clarice, para quem a “paixão de Cristo”
configurava-se como condição irrevogavelmente humana (ARÊAS, 2005: 46). No
entanto, se este episódio bíblico foi um tema recorrente na obra de Lispector, surgindo
como fundo estruturador de várias obras, quero agora resgatar outra passagem bíblica
com o fim único de servir como metáfora comparativa ao modo – forma – que a escrita
clariciana concebe não só este mesmo tema, mas todos os outros que se entrecruzam em
seu conjunto literário. O episódio a que me refiro é aquele que sucede à narrativa da
paixão: a revelação de Cristo a Maria Madalena.
Conhecida também pela expressão Noli me tangere, a cena bíblica descrita pelo
Evangelho Segundo São João (João, 20:1-18) foi amplamente retratada por pintores da
escola bizantina medieval, dos Renascimentos veneziano, florentino e alemão e do
12
Século de Ouro europeu. Giotto, Ticiano, Bronzino Dürer e Rembrandt são alguns
deles 1 . A intenção é que este prólogo seja conduzido pela leitura do conto “Os desastres
de Sofia” por meio da qual apresentarei os pontos abordados nesta tese e as alusões
referentes ao Noli me tangere.
Por que introduzir este episódio nesta apresentação? Primeiro porque na releitura
de uma tradição, seja ela bíblica, mítica ou literária, alguns aspectos desta mesma
tradição são ressignificados, ganhando novos sentidos e instaurando novos referentes a
uma dada realidade. Este movimento, entretanto, quer-se duplo porque ao mesmo tempo
em que se revisita um passado cultural, efetua-se também a sua crítica. A tradição em
“Os desastres de Sofia” chega por duas vias: pela releitura da tradição de contos
moralistas do século XIX e pela alusão bíblica ao par Jesus e Maria Madalena.
A tradição literária a que me refiro retorna à cena pela referência que Clarice faz
ao livro escrito pela Condessa de Segur, no século XIX, intitulado Les malheurs de
Sophie. Como todas as narrativas moralistas dirigidas ao público infantil desta época,
textos desta tradição não dissociavam a educação sentimental da criança de uma
aprendizagem moral rigorosa, de cunho religioso, em que a figura encaminhadora dos
ensinamentos era geralmente representada pela mãe ou por um educador. Através da
narração dos ensinamentos, julga-se e condena-se a criança que não corresponde ao
papel esperado, com a intenção de promover um modelo ideal de adulto. No conto de
Clarice, invertem-se os termos desta escola da desaprendizagem.
A figura de ordem é um professor que já de início indica a sua condição de nãolugar, rompendo com a estética classicizante de símbolo de autoridade e conhecimento:
“Qualquer que tivesse sido o seu trabalho anterior, ele o abandonara, mudara de
profissão, e passara pesadamente a ensinar no curso primário: era tudo o que sabíamos
1
As referências à cena da revelação de Jesus a Madalena ao longo desta apresentação são inspiradas na
fina e diligente análise feita por Jean-Luc Nancy acerca do episódio em questão e dos artistas
mencionados, na obra Noli me tangere – Essai sur la levée du corps (Paris: Bayard, 2003).
13
dele” (LISPECTOR, 1999: 11). Entretanto, é esta condição de desterritorializado que
introduz a transgressão necessária e suficiente para que se estabeleça um movimento de
atração e repulsa por parte de Sofia. Aproximação do mesmo, repulsa do diferente. E a
relação
professor-aluno
repudia
a
clássica
articulação
repasse-recepção
da
aprendizagem vinculada a este par social. Estabelece-se inversamente uma relação de
salvação-perdição em que “o projeto de salvação do professor” revela um movimento de
“salvar-se a si mesma” (ROSEMBAUM, 1999: 55), como afirma Rosembaum, para ao
fim converter-se em processo de transformação e auto-descoberta de ambos os
personagens. Por trás deste mecanismo, parece-me configurar-se uma verdade mais
complexa que a narrativa clariciana não cansa de atualizar a cada novo texto: o jogo de
destruir para construir.
No centro desta trama, outro fio narrativo aprofunda a camada textual que se
estabelece sobre a relação adulto-criança. Nesta etapa de leitura, fica evidente o
desastre: as inversões expõem o desamparo do real. A criança rebelde tenta corrigir a
“vida errada” do professor, que reconhece como sendo a sua própria, porque “ter
nascido era cheio de erros a corrigir” (LISPECTOR, 1999: 14). Neste jogo de destruição
e construção, a violência da transformação, que conduz ao lento desaparecimento da
criança e ao ritual iniciático no “mundo dos adultos”, acontece no abismo de uma visão.
Visão do incompreensível e inominável. O que antes era do domínio de um
conhecimento, de uma sophia, se converte em não-entendimento, ignorância. Em
imagem. Neste ponto, o primeiro dos dois aspectos centrais do Noli me tangere é
convocado.
O episódio bíblico representa o momento em que Jesus aparece pela primeira
vez depois de sua morte, apresentando-se a Maria Madalena na forma de um jardineiro,
reconhecido apenas no momento em que pronuncia seu nome. Ao tentar tocar Jesus com
14
as mãos, o mestre recua e diz: Noli me tangere, convidando o espectador a participar do
nascimento de uma visão. O interesse esbarra no sentido que esta cena carrega: a
revelação, em abordagem laica, vem apresentar a “identidade do revelável e do revelar”,
do “divino” lado a lado “do humano” e “mundano” (NANCY, 2003: 9-10). Em outras
palavras, vem anunciar a atualização de um mistério: a identidade do que é visível
chega ao mesmo tempo em que a identidade do invisível. E, se este episódio anuncia
uma atualização, quer com isso indicar que a verdade não se finda com a revelação em
si e tampouco com sua interpretação, porque é múltipla e infinita.
Noli me tangere, que pode ser traduzido por “Já não podes tocar-me”, ilustra o
aparecimento de um desmaio e evoca uma interdição violenta de contato. Mas,
sobretudo, o que mais importa neste episódio é a construção de um delicado exercício
de visão que se ergue na observação da cena retratada em imagens e que percorre não
apenas o conto aqui referido, mas toda a obra de Clarice Lispector. A escrita desta tese
foi a tentativa de mergulhar nesta visão e em todos os abismos que nela se apresentam.
José Miguel Wisnik já acusara este exercício no artigo “Iluminações profanas
(poetas, profetas, drogados)”. A propósito do conto “O ovo e a galinha”, Wisnik busca
identificar uma poética do olhar na escrita de Clarice em que a visão introduz uma fenda
por meio da qual “aquilo que se esconde no visível” apareça ao olhar como “pura
presença” (WISNIK, 2006: 286). Mas para que isso ocorra, antes, o “olhar” e o
“pensamento” precisam esvaziar-se de forma que possam tocar “a coisa” (idem). A
partir deste ponto, o invisível se mostra como “desvelamento do real” 2 e enreda a
palavra a construir um “texto que glosa ilimitadamente a margem entre o vazio e a
palavra” (idem). Ou ainda, entre o visível e o invisível. Entre a presença e a ausência. A
potência do texto clariciano reside, portanto, no “deslocamento do olhar” que força a
2
O cuidado referido à palavra “real” é apontado pelo próprio Wisnik: “embora a palavra real também
tivesse que ser apagada e zerada para que sobreviesse um contato com um algo real, não-prescrito, nãocodificado, não-trilhado de antemão” (WISNIK, 2006: 286)
15
desterritorialização do próprio ser. Este deslocamento promove o contato entre dois
universos distintos, um concreto e o outro inefável, que se aproxima bastante de um
movimento engendrado pela estética do Surrealismo.
Ainda que este encontro imponha um recuo, antecipa também uma
aproximação, uma vez que a negação de seu significado expresso só aumenta a
afirmação do gesto oposto. A anunciação daquilo que se deseja tocar, mas que se fecha
em sua interdição, no entanto, chega com mais força até nós, até o ponto da visão, no
caso de Sofia. O corpo, e poderíamos dizer: o real, que é uma verdade tangível, mas se
apresenta como intangível, se esquiva ao contato e revela que a verdade está neste
recuo. Porque o recuo dá a medida da presença. Estamos no campo da visão. Ao se
apresentar por meio da interdição, o objeto aponta para uma presença que não está onde
se acredita que esteja porque imediatamente já está em outro lugar. Lembremos que a
visão é a do corpo ressuscitado que acusa um “túmulo vazio”, como aponta Nancy
(NANCY, 2003:40). Já nesta imagem, vida e morte se tocam, neste outro. Entretanto,
com a interdição do toque por parte do sujeito, a própria imagem se desloca e toca o
ponto mais vivo do sujeito que é a morte. Vida e morte se tornam um presente porque
“morrer é ininterrupto” (LISPECTOR, 1999: 22).
O desvelamento do real, nos termos de Wisnik, chegará para Sofia e para G.H,
como para muitos personagens claricianos, por meio da visão. Uma visão que, como
Madalena diante do túmulo, acontece no registro de um duplo olhar. O olhar na
presença de um túmulo revela uma ausência – e desde o túmulo vazio o olhar retorna.
Retorno da morte. Mas a ausência não é de todo vazia, uma vez que Jesus encontra-se
presente, porém sob outro aspecto. Neste sentido, conforma-se uma dificuldade de
reconhecimento, não tanto pela intangibilidade, invisibilidade ou indivisibilidade do
objeto, como o coloca Wisnik, mas porque o real diante do indivíduo é o mesmo já
16
sendo outro, revelando uma dissociação de aspecto, e uma ausência de rosto. O
paradoxo da visão, no entanto, ocorre no ponto em que no reconhecer há o desaparecer.
Assim como as reencenações do episódio pela pintura, a escrita de Lispector é, da
mesma forma, uma tentativa de enfrentar o invisível de frente, dar continuidade ao
gesto de ver e conduzi-lo até o cegar do olho e a incandescência da imagem. “O que vi,
vi de tão perto que não sei o que vi. Como se meu olho estivesse colado ao buraco da
fechadura e em choque deparasse do outro lado com outro olho colado me olhando. Eu
vi dentro de um olho. O que era tão incompreensível como um olho” (LISPECTOR,
1999: 21). Ver se sobrepõe ao dizer, ao compreender e ao tocar. Mas no reconhecer há
o desaparecer. Por isso esta realidade que morre congrega em si a presença de uma
morte e de um viver.
Voltemo-nos agora para o sujeito desta ação. O episódio da revelação de Jesus a
Madalena envia-nos também a mensagem de que só os iniciados enxergam dentro do
túmulo vazio. Dentro da morte. O que não é para ser visto só se deixa ver por poucos,
por olhos que um dia já souberam ver dentro da noite. Por aqueles que se mantiveram
de pé dentro e diante da morte. Para Sofia e para G.H.
E o conto abre uma nova camada textual: aquela que se estabelece entre o
homem e a mulher. A escrita da desaprendizagem de Sofia (de G.H. e de Lori, como
busquei mostrar nos capítulos I e II) é também narrativa da desconstrução de mitos e
papéis sociais erguidos durante séculos de civilização. “Em superfície de tempo fora
um minuto apenas, mas em profundidade eram velhos séculos de escuríssima doçura”
(LISPECTOR, 1999: 12). O tempo sofre corte vertical e se divide entre a narração de
uma invenção (conto) e a invenção de uma cultura (tradição). Esta cultura reaparece no
conto simbolizada pelo par homem-mulher, não mais pelas figuras da aluna e do
professor. A narrativa entre Sofia e o professor é apenas “um dos motivos” do conto,
17
que não termina nunca porque é uma longa história, encenada em diferentes tempos por
diferentes protagonistas. “É que outros fazem outras histórias” (LISPECTOR, 1999:
26), afirma a narradora do conto, indicando que o motivo continua o mesmo ainda que
com outra aparência.
Com o corte temporal, a narrativa é remetida ao par de Noli me tangere: a
prostituta e o santo. “Sem saber que eu obedecia a velhas tradições, mas com uma
sabedoria com que os ruins já nascem – aqueles ruins que roem as unhas de espanto -,
sem saber que obedecia a uma das coisas que mais acontecem no mundo, eu estava
sendo a prostituta e ele o santo” (LISPECTOR, 1999: 12). A prostituta, neste exemplo,
segue o modelo daquela que está desviada do caminho reto, daquela que está em
contato com o sujo e o imoral e que carrega também as marcas de Satã. Se seguirmos
com a alusão a Madalena, a prostituta de quem Jesus afastou sete demônios, segundo o
Evangelho de São Lucas (Lc, 8:2), então esta personagem, Maria Madalena ou Maria
de Magdala, foi também aquela que mais se aproximou do divino por conhecer alguns
de seus segredos. Como aponta Nancy (NANCY, 2003: 63-72), além da associação que
lhe é feita ao papel da mãe de Jesus, abordado mais adiante, alguns episódios revelam
seu contato com o divino, de dentro do mais baixo plano em que pode se encontrar o
homem, lembrando que Madalena era a única a conviver com os aleijados, leprosos,
mendigos e doentes de todos os tipos, a única que junto de si estabelecia um vínculo
com o reino da morte, a quem os mortos não deixavam de acompanhar e para quem a
morte não se restringia ao fim da vida. Como aponta Nancy, Madalena será a única a
ocupar o lugar e a tarefa de lavar os pés de Jesus com água e ungir seus pés com óleo
perfumado. Segundo o filósofo, este gesto é uma prefiguração do episódio da revelação
porque ungir com óleo é também prática realizada para embalsamar os mortos e a única
que responde ao título de Cristo nos batismos. Portanto, Madalena é o símbolo do
18
indivíduo iniciado que nesta vida e neste mundo mantém a proximidade com aquilo que
não é deste mundo. Com aquilo que é do universo intangível, invisível e indivisível,
nos termos de José Miguel Wisnik.
A referência feita à prostituta no conto de Clarice seguirá como um mote
repetindo-se três vezes ao longo da narrativa. Nessas repetições, nota-se que a imagem
da prostituta vai confundindo seus limites com a imagem da virgem anunciada,
descrição que remete à figura de Madalena e de Maria, mãe de Jesus. A prostituta de
alma convertida pelo santo representante do rei da Criação. E, como Madalena, Sofia
representa vários papéis, o principal – “ser matéria d’Ele”, papel que só seria perdoado
pelo próprio Deus porque “só Ele sabia do que me fizera e para o quê” (LISPECTOR,
1999: 13) – transforma-a em uma adoradora da matéria e dos prazeres, motivo que a
aproxima ainda mais da figura de Madalena, e que une as pontas do divino e do
profano. Não se pode esquecer que a referência ao rei da Criação, este Deus que
desenha e conduz os papéis encenados por suas criaturas, associa-se à figura do escritor
que, tanto quanto Deus, só ele conhece os segredos e razões condutores de suas
criaturas, e ao professor, figura de autoridade e conhecimento que, mais uma vez, vem
inverter estes mesmos sentidos.
Para Madalena, o reconhecimento daquele real disfarçado e fugidio acontece
com a proclamação do nome. Maria só reconhece Jesus quando este a chama pelo nome
porque outrora soubera ver dentro do túmulo e antecipar a morte de Jesus, ungindo seus
pés. Como afirma Nancy, “Madalena vê a vida na morte porque já viu a morte na vida”
(NANCY, 2003: 71). Mas o fundamental no episódio relido pelo filósofo francês não
reside na condição que o iniciado tem de poder enxergar dentro das trevas, mas de
“abrir os olhos dentro das trevas para que sejam invadidos por ela” (idem) – e se
queimem, como “o santo se queima até chegar ao amor do neutro” (LISPECTOR,
19
1979: 164).
O momento de escuta do nome é também, para Sofia, o que une dois extremos,
tanto para professor, quanto para aluna: o da morte, despojamento da “crosta” que
recobre a vida esmagada do professor que ocorre simultaneamente ao seu nascimento,
também uma revelação. Note-se que aquela “matéria inerte”, que lentamente se ergue
diante dos olhos da menina, é comparada a “um grande morto-vivo”, não no sentido
fanstasmagórico, mas no sentido do tangível dentro do intangível. Mas a metamorfose é
também da menina, portanto, dupla, porque a nomeação é um rosto. Presença dentro da
ausência. A revelação do nome chega junto com a anunciação do rosto. “Foi quando
ouvi meu nome” (LISPECTOR, 1999: 18).
Como no episódio bíblico, este é o momento em que se introduz o único diálogo
entre o par. Explicitamente, esta cena contém um dado que a faz aproximar-se de outra
passagem bíblica, contextualizada em alusão a um episódio distinto dos anteriores: o da
Anunciação. No momento em que o professor pede a Sofia para aproximar-se e pegar
seu caderno, ocorre a anunciação. “Um arrependimento estóico manteve erecta minha
cabeça. Pela primeira vez a ignorância, que até então fora o meu guia, desamparavame. Meu pai estava no trabalho, minha mãe morrera há meses. Eu era o único eu.”
(LISPECTOR, 1999: 19). Como é comum na obra de Lispector, algumas frases,
parágrafos e mesmo textos completos (como será visto nos capítulos II e III desta tese)
se repetem ao longo da obra, como reescrituras ou mesmo como motes, reencenações
do mesmo no outro. Esta última frase – “Eu era o único eu” – reaparece no conto “Miss
Algrave”, de A via crucis... e é interpretado por Vilma Arêas. Em sua leitura dos
índices reproduzidos hereticamente ao longo da obra, o da Anunciação aparece no
conto mencionado através das núpcias entre Ixtlan, ser extraterrestre do planeta
Saturno, e a secretária virgem e recatada que se transforma em prostituta, invertendo os
20
termos do episódio em questão. Ao se apresentar a Ruth Algrave, depois de entrar pela
janela como um enviado de Deus, Ixtlan se autodefine, como Sofia, da seguinte
maneira: “Eu sou um eu” (LISPECTOR, 1991: 29). Segundo Arêas, esta frase é “um
claro simulacro do “sou o que sou”, palavras de Jeová a Moisés” (ARÊAS, 2005: 66),
isto é, da anunciação de Deus ao profeta (Ex, 3:14).
Em “Os desastres de Sofia”, ela se torna clara anunciação da prostituta que se
transformará em santa. Depois deste encontro, que se apresenta quase como uma viacrúcis da criança e do professor, a ressurreição: “Estava sozinha, na relva, mal em pé,
sem nenhum apoio, a mão no peito cansado como a de uma virgem anunciada”
(LISPECTOR, 1999: 24). E aqui então a figura de Madalena se confunde com a de
Maria, mãe de Jesus. E mais adiante, a repetição:
Ali estava eu, a menina esperta demais, e eis que tudo o que em mim
não prestava servia a Deus e aos homens. Tudo o que em mim não
prestava era o meu tesouro. Como uma virgem anunciada, sim. Por
ele ter permitido que eu o fizesse enfim sorrir, por isso ele me
anunciara. Ele acabara de me transformar em mais do que o rei da
Criação: fizera de mim a mulher do rei da Criação. (LISPECTOR,
1999: 25-6).
Assim, Madalenas, Sofias, G.Hs. e Lóris iniciam-se como neófitas no universo
do duplo domínio porque mergulham e permanecem naquela zona em que o descortínio
do real é também o seu afastamento. E o gesto torna-se mais importante do que a
imagem, ponto de abandono: abandonar-se a uma presença, ou a uma visão, que nada
mais é do que seu próprio retirar-se, seu apagamento, é o mesmo que enxergar a glória,
que, por sua vez, é ao mesmo tempo treva (NANCY, 2003: 72). Onde os olhos se
abrem, sem medo da cegueira. De chofre se explica para que se nasce com olhos e
garras, sem nojo da visão. É que outros olhos fazem outras histórias.
21
Não à toa, é a notícia da morte que introduz a escrita. Uma escrita elaborada em
estrutura de mise-en-abîme introduz, por sua vez, pequenas mortes, seja nos distintos
planos de relato, como aponta Rosembaum (ROSEMBAUM, 1999: 53), seja no plano
do discurso, elaborado sobre paradoxos, pares opositivos, inversões. Uma vez que o
sujeito se constrói na própria elaboração da linguagem e por isso devém escrita, pareceme que essa estrutura em espiral quer mostrar que não há construção definitiva do
discurso e por isso repete o movimento de contínua e inexaurível metamorfose do ser.
ATO II
A presente tese de doutoramento busca avaliar o processo de criação das obras
produzidas pela autora especificamente nas décadas de sessenta e setenta, entendendo
que a elaboração de um projeto estético-literário na obra de Clarice Lispector é fruto de
um processo de construção literária que convoca necessariamente toda a sua obra para
uma melhor interpretação narrativa, pois a intratextualidade presente na poética da
autora revela a unidade de significação de um universo próprio constituído na e a partir
da obra.
Para tal, a tese divide-se em três capítulos, nos quais se efetua uma leitura de A
paixão segundo G.H. (1964), Uma aprendizagem ou o Livro dos prazeres (1969), o
datiloscrito elaborado entre os anos 1972 e 1973, intitulado “Objeto gritante”, Água
viva (1973) e A via-crúcis do corpo (1974). Ao longo dos capítulos utilizei as crônicas
escritas pela autora entre os anos 1967 e 1973 como comentários críticos e
metaficcionais acerca de sua própria obra literária, além do único ensaio escrito pela
autora, apresentado em congressos dentro e fora do Brasil, intitulado “Literatura de
vanguarda no Brasil”.
22
No primeiro capítulo busco narrar a desconstrução do mito antropocêntrico do
homem grego que institui o indivíduo e sua singularidade como centros totalizadores
das realidades e diferenciações. O pensamento lógico-racional é tomado como critério
único de verdade, o conhecimento da realidade passa a ser assegurado pela razão e por
princípios lógicos e leis universais necessárias que asseguram o conhecimento da
realidade pela razão até sua aceitação como verdade última e absoluta. Neste mesmo
cenário surge a filosofia platônica que se disseminou como a base da tradição cristã,
instituidora das idéias de Deus e da moral fundadora dos valores de conduta
posteriormente introjetados pela sociedade ocidental. O caminho reto em direção ao
que é certo conduz à salvação humana - ensinamento legado à humanidade. Do
platonismo, a abdicação ao mundo sensível, a predileção pelo supra-sensível e pelo
mundo das idéias, a metafísica, a idealidade. O destino do homem está pré-assinalado
no Logos divino e todo indivíduo deve se submeter à ordem divina, que prega,
inclusive, a participação do homem na perpetuação do modelo do bem. Na busca pela
verdade absoluta, cujo propósito é atingir a forma ideal da realidade, aquele universal
aceito por todos, o platonismo abandona o particular e o mundo sensível, e introjeta na
civilização a cultura do dualismo psicofísico, que a narrativa clariciana desconstruirá e
que esta tese abordará nos capítulos I e II. A verdade platônica opõe-se à realidade
particular concreta, fundamentada na experiência que garante a existência do real, uma
vez que, no platonismo, essa realidade apresenta-se como parcial, transitória e mutável.
No segundo capítulo, faço a leitura de Uma Aprendizagem ou o Livro dos
Prazeres buscando observar de que maneira Clarice Lispector transforma a herança
mítica do mito cosmogônico do nascimento de Afrodite em nova mitologia,
reinventando os próprios referentes e efetuando uma crítica ao legado cultural
perpetuado por essa mesma tradição. Neste capítulo, busco mostrar como a autora
23
manipula a tradição pedagógica da iniciação amorosa herdada do platonismo, a partir do
casamento simbólico entre Lóri e Ulisses, reencenando o mito do nascimento de Eros e
propondo uma aprendizagem amorosa que inverte os termos dessa tradição. Para isso,
mostrarei como a figura mítica de Eros nasce enquanto força teogônica nos versos de
Hesíodo, adquire função filosófica e pedagógica por meio da maiêutica platônica e
como é introduzida no cenário da narrativa clariciana como potência cosmogônica,
desnarrando a função moral inculcada pela tradição.
De 1967 a 1973, Clarice inicia um trabalho como cronista do Jornal do Brasil
que marcará profundamente a maneira como desenvolve o seu fazer literário,
concretizando um projeto de escrita já fragilmente manifestado desde a década de 50
em carta a Fernando Sabino. É também neste período de produção que, sentindo a
necessidade de uma renovação artística, inicia fase em que a escrita toma novos rumos.
Para que se forme esta poética, cujo comentário crítico e metanarrativo é feito pela
autora em suas próprias crônicas, o pensamento começa a refletir sobre si próprio, e a
linguagem se torna metaficcional e abstrata, preocupada com o questionamento de um
fazer literário mais do que com o resultado de sua produção. Verifica-se que neste
período Clarice escreve o seu único ensaio crítico sobre literatura intitulado “Literatura
de vanguarda no Brasil”, texto apresentado em diversos congressos, nacional e
internacionalmente, em que estabelece um conceito do que seja vanguarda, fazendo
comentários sobre estética, revelando muito sobre a construção do seu próprio modo de
elaboração literária.
No terceiro capítulo desta tese, que realiza a leitura de Água viva, “Objeto
gritante” e A via-crucis do corpo, buscou-se verificar de que modo tais alterações têm
início com um projeto que discute o espaço e a tradição literária a partir da introdução
de traços da estética surrealista. Entre tais características encontram-se a prática de
24
colagem ou justaposição paratática de textos que mesclam estilos de escrita distintos, a
alternância de tom da narrativa como conseqüência do uso de distintas marcas
estilísticas, a alteração do estatuto da enunciação a partir da elaboração de um narrador
que se aproxima da figura do próprio autor e o desenvolvimento de uma escrita
diarística e confessional, na qual incluem-se dados circunstanciais sobre o momento e a
produção de sua escrita. Com isso Clarice estabelece uma narrativa que desestrutura a
forma do romance, afirmando-se como anti-literária, estabelecendo uma relação de
ambigüidade entre o universo da ficção e da realidade e questionando a tradição
literária romanesca.
Além disso, avalio de que modo o exercício da visão é conduzido pela
mobilidade de blocos imagéticos criados pela poética dionisíaca de Lispector e pelo
forjamento de um universo textual elaborado sobre imagens-conceito. Por meio destas,
a abstração do pensamento lógico-conceitual (o pensar) se associa em movimento de
intercâmbio com o pensamento poético e imagético (o sentir), formando uma escrita do
pensar-sentir, nos termos da própria autora.
Em seguida, verifico de que modo as transformações encaminhadas na obra de
1964 se configuram no universo da imagem e das referências ao fazer literário em
“Objeto Gritante” e Água viva para, finalmente, se apresentarem como encenações da
linguagem, colocando-a como a grande protagonista do universo de A via crucis do
corpo, e debatendo suas faces realista, autobiográfica e grotesca.
25
CAPÍTULO I
1.1 DA ENCENAÇÃO DE UMA PAIXÃO
Em “A poética dionisíaca de Clarice Lispector” (SOUZA, 1997: 123-143),
Souza apresenta ao leitor o projeto estético clariciano em seus dois grandes romances,
Perto do coração selvagem e A paixão segundo G.H.: narrar a passagem de uma ordem
existencial estrangulada por uma subjetividade totalitária e autoritária, que separa o
sujeito da vida em si, para uma nova ordem que implica a travessia até o limiar da
paixão pelo neutro, de modo a atingir uma estrutura subjetiva por meio da qual o
sujeito só encontra o seu centro vital no acesso ao inumano. Assim, o texto clariciano
se constitui como busca de reformulação da existência através do contato com a
alteridade, e da neutralização do narrador enquanto suporte da narratividade e
representante da autoridade dentro da obra. Por meio do impacto causado pela
fascinação da alteridade, o homem é retirado do seu centro e colocado em movimento,
em direção a outro mundo e ao mundo em si. Em seguida, a linguagem repete esse
movimento e é neutralizada enquanto sistema de signos, para que possa nascer uma
nova palavra próxima do conteúdo de que trata: o neutro. Se os grandes personagens de
Clarice encenam o drama de uma subjetividade enclausurada em si mesma, é a partir de
A paixão segundo G.H. que o sujeito fraturado se reorganiza em nova forma de
linguagem. Todos os personagens claricianos são marcados pela dupla carência de já
não serem o que eram e de ainda não serem o que serão, porém G.H. é o exemplo
máximo do personagem que rompe a ordem pré-estabelecida e passa de uma fase de
liminaridade para uma fase de pós-liminaridade, na qual uma nova ordem vital e
lingüística é instituída.
26
Entendendo que a vida é trânsito para além dos limites da individuação, a nova
ordenação é viabilizada a partir do contato com a propulsão da força transformadora
que provém do outro, quebrando a rigidez da forma estagnante, lançando a personagem
ao abandono do cosmos constituído, seguido do livre trânsito no fluxo da vida em si
mesma. Na narrativa de G.H. isso significa abrir mão do sujeito imperial que segmenta
o homem para encontrar o estado coisal de que fala Manoel de Barros, o "estado
larvar", no qual o sujeito centralizador é despersonalizado para que possa falar
diretamente da sua condição de nadificação, anterior ao surgimento de uma nova
forma, condição expressa pela redução do nome às iniciais. Como constata Souza,
inicialmente, perder a forma humana significa desumanizar-se. Entretanto, se o mundo
em que G.H. se encontra é o mundo humano, a vida deve ser entendida como vida
humana. Por isso a narradora declara sua arte poética:
Quero o inumano dentro da pessoa; não, não é perigoso, pois de qualquer
modo a pessoa é humana, não é preciso lutar por isso: querer ser humano me
soa bonito demais. (...) Existe uma coisa que é mais ampla, mais surda, mais
funda, menos boa, menos ruim, menos bonita (LISPECTOR, 1979: 152-3).
Assim sendo, Souza situa A paixão segundo G.H. dentro da tradição da
literatura ocidental como uma narrativa que visa desnarrar: 1. o mito grego do homem,
i.e., o antropocentrismo, no qual o centro unificador que confere sentido ao mundo, à
natureza e ao homem é o próprio homem em sua individualidade, através do qual todos
os modelos e convenções de significado são instaurados; 2. o conceito platônico de
idealidade, que passa a não se sustentar mais em meio à nova configuração, pois a
catábase de G.H. implica abdicar à aspiração à idealidade, ao simulacro, à
representação que impede a experiência do vivo, e habitar o espaço de uma realidade e
de um real cuja experiência requer o consórcio dos opostos; e 3. o sujeito cartesiano,
27
que estabelece a subjetividade como fundamento absoluto da verdade, ratificadora da
razão e legitimadora do real. Ao optar pela despersonalização, G.H. caminha rumo à
destruição do simulacro que a terceira perna sustentava, rumo à “destituição do
individual inútil” (LISPECTOR, 1979: 170) (a subjetividade totalizante) e, para tal,
precisa descer aos infernos da desordem e do caos, realizando a catábase por meio da
qual se iniciará a desconstrução do sujeito. Essa descese ocorrerá dentro da “casa”
simbólica, desconstruída na narrativa, como será visto mais adiante.
Para destituir-se de sua individuação e adentrar o espaço da realidade concreta e
não idealizada, o narrador precisa vivenciar o seu “estado latente” encontrado na paixão
da noite. “Somos criaturas que precisam mergulhar na profundidade para lá respirar,
(...) só que minhas profundidades são no ar da noite” (LISPECTOR, 1979: 110). E a
noite, apresentada como espaço do vazio, do não-ser, da morte, do nada, revela-se na
obra clariciana como espaço fundador do ser e da escrita. “(...) Na noite a ansiedade
suave se transmite através do oco do ar, o vazio é um meio de transporte” (idem). A
noite habita o mesmo espaço que o inferno na trajetória de G.H., aparecendo
inicialmente como anunciação da transformação e traduzindo-se como a iniciação do
sujeito no reino do duplo domínio de opostos que se complementam. O apartamento de
G.H., portanto converte-se em “laboratório do inferno”, simbolicamente representando
uma entrada no reino da morte.
Realizar a travessia da idealidade à realidade é possibilitar a travessia do
humano ao inumano dentro do humano (SOUZA, 1997: 138); porém, não se trata de
uma inversão, isto é, abandonar o espírito para enclausurar-se na matéria. A
manducação da barata será analisada como ato voluntarioso, portanto, marcadamente
humano que, ao tentar desumanizar o ser, acaba violentando-o e violando sua
humanidade, para afirmar a animalidade da subjetividade. Sacrificar outro ser vivente é
28
sacrificar o outro para afirmar a si mesmo. Com o sacrifício da barata, G.H. descobre
que, para encontrar o núcleo da vida, é necessário atingir o inumano, exigindo,
portanto, um sacrifício de si mesmo e não do outro. Logo, para Souza, a manducação
da barata será uma “iniciação às avessas” (SOUZA, 1997: 139), que acentua a
subjetividade em detrimento de seu esvaziamento. A iniciação na pós-liminaridade só
acontece com o abandono da posição centralizadora do sujeito, ato maior de sacrifício
do humano dentro do humano, despojamento da máscara exterior. Só assim pode-se
experimentar a vida em si mesma. “Ser humano não deveria ser um ideal para o homem
que é fatalmente humano, ser humano tem que ser o modo como eu, coisa viva,
obedecendo por liberdade ao caminho do que é vivo, sou humana.” 3 A manducação da
barata se apresenta apenas como influxo da matéria sobre o espírito na tentativa de
livrar-se do simulacro, do homem demasiadamente humano. A personagem
erroneamente entende que para resolver o corte metafísico instituído pela subjetividade
totalizante deve devorar um outro ser, sem perceber que esse ato é uma repetição da
antropofagia que esmaga a alteridade e se confirma como ato máximo de afirmação de
uma subjetividade centralizadora e totalitária.
A leitura de Souza dialoga em parte com a crítica de Benedito Nunes que, em O
drama da linguagem, lembra que a barata esmagada é objeto de atração e repulsa da
personagem, pois ao enxergar a massa branca, a vida de um outro ser encarando-a,
G.H. vê a si mesma, condição que acusa sua identidade dominadora afirmando o sujeito
totalitário. Entretanto, o olhar assume duplo sentido expresso e, ao mesmo tempo em
que condensa o sujeito em si mesmo, acaba lançando-o à condição oposta de
esvaziamento, libertando sua impessoalidade. Ao mesmo tempo em que a barata a atrai,
3
Na obra de Clarice Lispector o termo liberdade ganha significado especial. Eduardo P. Coelho
(1989:149) vê na escrita clariciana a distinção entre dois tipos de pensamento: aquele que tem forma,
entendido como primário e transmissível, e aquele que não tem forma, chamado de liberdade, que "pensa
a si mesmo e atinge o seu objetivo no ato de pensar". Se Clarice pretende ver as coisas "do ponto de vista
das coisas" para isso desenvolve um "ponto de vista do pensamento", que seria a própria liberdade.
29
pois a lança em um movimento para fora de si, ela a repele, pois perder a
individualidade humana é ter de sacrificar a si mesmo, e não ao outro, é ter que
eliminar a terceira perna que sustenta o simulacro e impede a travessia. A metamorfose
revela a identidade pura (ou verdadeira), que a personagem ainda não compreende. O
"domínio da identidade pura" projeta um mundo de "figuras mutáveis" e reorganiza os
"contrastes inconciliáveis da existência" (NUNES, 1995: 59) em nova ordem no seio da
complementaridade: amor e ódio, santidade e pecado, sanidade e loucura, pureza e
impureza, humano e divino, inferno e paraíso, como menciona o pesquisador,
apresentam-se como opostos não mais antagônicos, mas complementares, que se
conjugam na nova forma.
Segundo Nunes, esses pólos em confluência "reduzem e suprimem as
diferenças", assim como abolem a separação, a divisão. Somente a partir da anulação
do sujeito dominante em nome da presença do objeto dominado e, ainda, após o erro da
manducação, G.H. passa por conversão radical no processo de metamorfose existencial,
através da experiência do sacrifício de sua subjetividade para dar origem a um novo ser
em constante posição de intercâmbio com a alteridade e com a natureza.
A despersonalização como a grande objetivação de si mesmo. A maior
exteriorização a que se chega. Quem se atinge pela despersonalização
reconhecerá o outro sob qualquer disfarce: o primeiro passo em relação ao
outro é achar em si mesmo o homem de todos os homens. (LISPECTOR,
1979:170)
Esse sacrifício liberta G.H. da superficialidade do ser para revelar-lhe o que a
própria narradora chama de "a mulher de todas as mulheres", e que a obra de 1969
(Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres) reatualizará no percurso de Lóri rumo à
descoberta de si enquanto “super-mulher”, assim como a barata se revela como o outro
30
de todos os outros. Este humano inumano aproxima-se do Übermensch nietzschiano,
desta busca do “tornar-se novamente homem” (MACHADO, 2001: 44) que pressupõe a
superação do humano e a reaproximação do indivíduo com a terra. O Übermensch é
aquele que se auto-supera, é o humano além-do-homem, cujo movimento, cuja posição,
ultrapassa a forma estática e encontra-se em trânsito, em processo de devir – o
transumano. O diálogo com o Zaratustra de Nietzsche é bastante presente a partir da
noção deste Übermensch, mas, e a morte de Deus? Porque existe um Deus na obra
clariciana. Mas existe um outro que morre. Portanto, há pelo menos duas referências
distintas à figura divina, senão uma terceira, criada pela própria Clarice. Mas há que se
perguntar que Deus é este que morre e que Deus é este que vive na obra. O Deus
deposto é o Deus da vertente da tradição judaico-cristã que sacrifica o corpo e enobrece
o espírito, instituindo e perpetuando o dualismo antagônico psicofísico que formará
toda a civilização ocidental. E o Deus que vive será, na exegese feita por esta tese, um
Deus dionisíaco, ctônico por excelência, um Deus que se aproxima do homem não por
ser humanizado, mas porque diviniza o homem, porque se apresenta em sua máscara
maligna, oculta, provocando espanto e horror. Como aponta Lóri: “Meu amor, você não
acredita no Deus porque nós erramos ao humanizá-Lo. Nós O humanizamos porque
não O entendemos, então não deu certo. Tenho certeza de que Ele não é humano. Mas
embora não sendo humano, no entanto, Ele às vezes nos diviniza” (LISPECTOR,
1991a: 181-2). Portanto, o inumano no humano. Um Deus ligado à terra, um Deus
próximo ao homem.
E se antes da morte de Deus, tal qual realiza Nietzsche, o delito maior cometido
pelo homem era contra Deus, com a sua deposição, o delito é contra a natureza, mas
também contra o próprio ser humano do homem. Para Clarice, “humanidade” e
“humanização” são termos insuficientes para explicar “a coisa vivente” dentro do
31
Comentário: Verificar depois o
Deus em PCS, “Perdoando Deus”,
OEN
homem e pertencem ao mesmo universo dos “acréscimos” e “sentimentações”, de tudo
aquilo que é simulacro, aparência, mimese. O vivo, que é o neutro e inumano, não tem
absolutamente qualquer relação com os termos referidos acima. “Humanidade” e
“humanização” são entendidas como construções distantes da “identidade das coisas”,
embotadas pela civilização, portanto, a identidade é algo anterior ao civilizado, à
cultura, algo larvar e germinal, algo ctônico. A “humanidade está ensopada” de uma
“falsa humanização” que “impede o homem e impede a sua humanidade”, afirma G.H.
(LISPECTOR, 1979: 153). Então, trata-se de pensar uma humanidade tão anterior
quanto o homem anterior.
Nunes aponta a dor e o paradoxo de uma experiência que se traduz como perda
e ganho de si mesma simultaneamente. Pela negação, G.H. alcança a realidade
verdadeira. O outro se apresenta como espelho e revela ao mesmo tempo o simulacro e
o oculto, sendo este último o único espaço no qual o sacrifício de si mesmo pode
acontecer.
Comentário: Lindo!!!
A paixão de G.H. é o amor pelo neutro, e este, por sua vez, é o consórcio dos
duplos. A partir da associação de contrários complementares, cada parte age com a
mesma intensidade e totalidade. “Quando uma pessoa é o próprio núcleo, ela não tem
mais divergências” (LISPECTOR, 1979: 111). Em outras palavras, com a abdicação
dos dualismos antagônicos identificados nos pares caos x cosmos, ordem x desordem,
ser x não-ser, início x fim, nascimento x morte, silêncio x palavra, cede-se espaço ao
indelimitado, que não diferencia os opostos porque age a partir de sua interação.
E mais, quando entende que para atingir o inumano precisa primeiro atingir o
núcleo vivo, descobre que é necessário inventar uma linguagem que possa dar forma ao
inexprimível – o neutro – através da palavra, e que não repita a expressividade
tradicional da obra de arte. Com isso, a narradora percebe que a única forma de
32
expressão do vazio, do neutro - que é o mais profundo núcleo vivo - é o inexpressivo.
“Quando a arte é boa é porque tocou no inexpressivo, a pior arte é a expressiva”
(LISPECTOR, 1979: 138). Para Lispector, o expressivo é a forma artística representada
pela subjetividade que define o belo, a ordenação da forma e os valores: “Também não
quero a minha sensibilidade porque ela faz bonito; (...) não quero o amor bonito. Não
quero a meia-luz, não quero a cara bem-feita, não quero o expressivo. Quero o
inexpressivo” (LISPECTOR, 1979: 152). A única linguagem capaz de exprimir o
inexpressivo é a da palavra poética que evoca o enigma. A realidade de G.H., portanto,
torna-se a realidade do múltiplo, que contém em si a afirmação e a negação do enigma.
Em vez de tentar dar forma voluntariosa ao que não é passível de forma, ao
inexpressivo, a narradora apenas deixa-se existir dentro desse núcleo de forças.
Na experiência da verticalidade, vivida por G.H. em sua travessia rumo ao
inumano, aprendemos com Bachelard que não é possível separar o impulso para o alto
da queda para baixo. A queda está associada à vertigem e ao abismo e é descrita pelo
filósofo francês como “a nostalgia inexpiável da altura” (BACHELARD, 1997: 95).
Uma das imagens associadas à queda é representada, no romance, pelo desmaio ou pela
vertigem associados à imagem do abismo e da morte, que necessariamente abre espaço
para o surgimento da vida. Não se trata do domínio do sonho porque, como já apontara
Coelho, o sonho é um pensamento primário, com uma forma, ainda que incoerente ou
incongruente, mas transmissível, da ordem da comunicabilidade. Trata-se, no entanto,
da abertura para o reino do pensamento que não tem forma e que Coelho chama de
“pensamento do sono”, próximo ao vazio experimentado pelo abismo, pela vertigem –
aberturas para o reino da morte. No sono “o sujeito não pensa” (COELHO, 1984: 213),
apenas vive o atrás do atrás do pensamento, como se esse domínio preenchesse a cena,
e não mais a subjetividade, “des-autorizando” a subjetividade do personagem e do
33
Comentário: Talvez seja o
caso de citar A Doença como
metáfora, creio que da Susan
Sontag- Um espaço de não-vida e
não-morte.
próprio autor (idem). A morte, que traz o aniquilamento do ser, é pressentida no
desmaio. Porém, a impressão da queda essencial, no limite da morte e do abismo, não
pode deixar de ser associada ao esforço de ascensão e à tomada de consciência da
vertigem. "Só voa alto o que tem peso" (LISPECTOR, 1979:137), diz a narradora.
O esvaziamento do sujeito em sua forma humana construída culturalmente é
condição fundamental para o eclodir de uma identidade reconciliada com a vida em si
mesma, isto é, mergulhada na corrente vital do universo, que já não permite que
esquemas dicotômicos separem o indivíduo da natureza, da alteridade e do mundo, uma
vez que o “eu”, ou o sujeito, na obra de Lispector “é apenas um dos espasmos
instantâneos do mundo” (LISPECTOR, 1979: 174). Em outras palavras, o sujeito, já
livre de sua montagem humana, está reconciliado a tudo aquilo que constitui o seu nãoser, uma vez que a realização da “super-mulher” ou do “super-homem”, como aponta
Ulisses em Uma aprendizagem..., é a recuperação do inumano dentro do humano para
que o homem saia de si mesmo para o mundo. Para G.H., “talvez eu agora soubesse
que eu mesma jamais estaria à altura da vida, mas que minha vida estava à altura da
vida” (LISPECTOR, 1979:174). Exteriormente, esta reconciliação se efetua com a
Natureza, os indivíduos, até que se permita a união de tudo que estava separado.
Ulisses anuncia o projeto que, anteriormente, fora anunciado por G.H.:
- Lóri, você é agora uma supermulher no sentido em que eu sou um superhomem, apenas porque nós temos coragem de atravessar a porta aberta.
Dependerá de nós a chegarmos a ser o que realmente somos. Nós, como
todas as pessoas, somos deuses em potencial. Não falo de deuses no sentido
divino. Em primeiro lugar, devemos seguir a Natureza, não esquecendo os
momentos baixos, pois que a Natureza é cíclica, é ritmo, é como um coração
pulsando. Existir é tão completamente fora do comum que se a consciência
de existir demorasse mais de alguns segundos, nós enlouqueceríamos. A
solução para esse absurdo que se chama “eu existo”, a solução é amar um
34
outro ser que, este, nós compreendemos que exista. (LISPECTOR, 1979:
177)
Já em G.H. o sentido do ser se apresenta pela reconciliação com o não-ser. “Por
não ser, eu era. Até o fim daquilo que eu não era, eu era. O que não sou eu, eu sou.
Tudo estará em mim, se eu não for” (LISPECTOR, 1979: 174). Esta zona de existência
implica inclusive a experiência do baixo, que para G.H. é o ínfimo. E o mundo é o
ínfimo, não o superior, o que aproxima o sentido de divino do homem e desconstrói a
noção de heroísmo, afirmação da subjetividade ou da individualidade, e a de santidade,
afirmação de superioridade.
Oh, Deus, eu me sentia batizada pelo mundo. Eu botara na boca a matéria de
uma barata, e enfim realizara o ato ínfimo. Não o ato máximo, como antes eu
pensara, não o heroísmo e a santidade. Mas enfim o ato ínfimo que sempre
me havia faltado. Eu sempre fora capaz do ato ínfimo. E como o ato ínfimo,
eu me havia deseroizado. Eu, que havia vivido do meio do caminho, dera
enfim o primeiro passo de seu começo (ibidem)
Na introjeção da história da civilização ocidental, a negação da natureza do e no
homem era um dos sacrifícios introduzidos ao sujeito. Como aponta Adorno, esta
negação
constituiu
o
“núcleo
de
toda
a
racionalidade
civilizatória”
(ADORNO/HORKHEIMER, 1985: 60) e provoca o exercício constante da dominação,
seja da natureza do homem e do homem na natureza, seja do social, do material e do
espiritual sobre outros indivíduos, impedindo a realização da própria vida. “O domínio
do homem sobre si mesmo, em que se funda o seu ser, é sempre a destruição virtual do
sujeito a serviço do qual ele ocorre; pois a substância dominada, oprimida e dissolvida
nada mais é senão o ser vivo” (idem, 61). Este exercício é transferido para a sua relação
com o mundo e o homem repete o mesmo gesto com o exterior. Destruir todas essas
35
Comentário: Dante, “no meio
do caminho...”
camadas sedimentadas durante séculos é tarefa do escritor comprometido com sua obra
e com a vida. Internamente, a reconciliação se realiza na dissolução dentro do atonal e
do neutro.
A narrativa cosmogônica, ao narrar o nascimento de um novo cosmos e um
novo homem no plano do conteúdo, promove, no plano da expressão, a criação de uma
nova linguagem isomorficamente elaborada para engendrar o projeto estético do autor,
como no caso de Clarice Lispector. É essa idéia de literatura como instância
desestabilizadora dos discursos autoritários da tradição literária que retira a autoridade
do autor e do leitor e coloca-a na palavra.
A filosofia grega, diferentemente da pré-grega, isto é, de povos orientais,
define-se a partir de dois princípios elementares: a ruptura com o elemento míticoreligioso e a explicação racional da origem das coisas e do mundo, ao contrário do
pensamento mítico marcantemente presente nas sociedades arcaicas, que narram a
origem das coisas e do mundo a partir da ação ordenadora de uma força divina e oculta,
por meio de uma linguagem mágica permeada de metáforas e analogias. A filosofia
grega, ao racionalizar e laicizar a narrativa mítica, abandona o passado poético para
instituir o presente científico, no qual o indivíduo e sua singularidade passam a ser o
centro totalizador da realidade e das diferenciações.
Ao divorciar o homem da unidade primordial, a filosofia grega cria unidades
separadas e com realidades próprias capazes de dar origem a elementos diferenciados,
porém descomprometidos com a integração. O homem passa a ter domínio do seu
destino e das leis. Com o surgimento das cidades livres e organizadas, o poder
decisório passa para as mãos do indivíduo e a razão (o pensamento) é tomada como
critério da verdade. A função do lógos é buscar, por meio do discurso, respostas que
possam ser provadas e demonstradas, além de princípios lógicos universais que
36
Comentário: Proto, os présocráticos. Cita o comentário do
Nietzsche acerca do Sócrates.
garantam a efetivação de um pensamento ordenado e sua aceitação como verdade
última. Cresce a idéia de que pensamento e discurso estão estruturados e organizados
por leis necessárias que asseguram o conhecimento da realidade pela razão e pela
linguagem. Fertiliza-se o solo para a fundação do mito antropocêntrico do homem
grego como centro das idéias do próprio homem, da natureza e do mundo, com noções
absolutas de verdade, rebaixando a segundo plano a verdade múltipla apresentada pelo
pensamento mitopoético.
Como lembra Chauí (CHAUÍ, 2001: 27), a filosofia para Nietzsche começa e
termina com os pré-socráticos, uma vez que a dualidade e o conflito para estes filósofos
eram o núcleo da realidade. Para Nietzsche, estes gregos foram os criadores da tragédia,
antes mesmo da filosofia. Entenda-se por tragédia a narrativa da morte e renascimento
do deus Dioniso, expoente das lutas subterrâneas entre as forças titânicas, fazendo surgir
a organização da forma a partir da indiferenciação caótica. E Anaximandro, como présocrático cujo pensamento exalta como elemento primordial o apeiron, o
indiferenciado, anuncia que o espaço da indiferenciação apaga as contradições sem
desfazer as tensões. “O devir é esse movimento ininterrupto da luta entre os contrários e
terminará quando forem todos reabsorvidos no apeiron” (CHAUÍ, 2001: 61). No estudo
da narrativa clariciana a imagem do apeiron anaximândrico, pneuma lispectoriano,
desponta como dimensão que conduzirá ao neutro, que é também o inexpressivo na
palavra.
O lado sombrio e desordenado das forças da natureza e dos homens
apresenta-se na desmesura e na luta de contrários, que marca o interminável jogo dos
opostos. Para Nietzsche, o princípio dionisíaco aparece ao lado do princípio apolíneo
da clareza, harmonia, perfeição e individuação de modo a guiar a tragédia grega. O que
separa os seres de sua unidade originária é a individuação, impedindo que retornem ao
37
Comentário: Herberto
Helder!!!!
primordial indiferenciado. Portanto, observa-se que a filosofia dos pré-socráticos
diferencia-se do pensamento desenvolvido a partir de Sócrates, quando nasce o
racionalismo, perde-se a proximidade com a força vital da natureza e a razão passa a
atuar como princípio único do real e da conduta humana. Originam-se aí também os
valores do belo, do bem e do justo, que devem reinar entre os homens e servir de
modelo para domar o espírito agonístico da alma humana.
Lembremos que o “anseio do feio”, para Nietzsche, é anterior ao “anseio de
beleza” (NIETZSCHE, 1992: 17), buscado pelos gregos, e caminha lado a lado com o
mito trágico, o terrível, o enigmático e o fatídico. Este outro lado gera a maligna beleza
do sublime, e o dionisíaco é aquilo que coroa o universo do riso, da dança e da loucura
precisamente como forças de afirmação da vida, ao contrário do desenvolvimento de
um pensamento lógico-científico que culminou na “velhice” e “fadiga fisiológica” dos
gregos. O que de mais vital e jovial existiu, de algum modo, também sempre esteve
presente no reino dionisíaco...
É aqui que Clarice Lispector se apresenta como autora de uma narrativa
dionisíaca por natureza, que desnarra a tradição da separação psicofísica ao criar
narrativas que tratam principalmente da interação dos contrários, de modo a renovar a
afirmação da vida em si mesma integrada à natureza, tendo, como isso, que aniquilar o
sujeito atomizador do real. A realidade, bem como a vida e o mundo, não é
satisfatoriamente resolvida unicamente pela razão, pois há um limite que o rigor da
norma e das classificações não consegue atingir: a fronteira do real intangível, do
mistério e do segredo. A narrativa clariciana utiliza a linguagem mitopoética para falar
deste segredo, presente no tempo e espaço primordiais, instâncias nas quais se realiza a
reconciliação de forças antagônicas em nome da formação de uma identidade
subjacente aos princípios opostos e que garante a permanência em meio à
38
multiplicidade porque “é precisamente isto o que está em jogo: a desvalorização do
humano enquanto espaço de complementaridade e harmonia, enquanto equívoco
absorvente dos sentimentos, de toda a soma de causas e razões com que se vai
embebendo a existência” (COELHO, 1984: 205).
A realidade da vida em si, não a “pretensa realidade do homem civilizado”
(NIETZSCHE, 1992: 57), de que fala Nietzsche em O nascimento da tragédia, abre-se
para uma poesia que está necessariamente dentro do mundo, apesar de se apresentar
como a “realidade do neutro” (LISPECTOR, 1979: 96), segundo G.H.. Somente nessa
experiência o sujeito poderia alcançar a realidade e ser tão real quanto ela. Fora dessa
experiência, o real toma dimensões de irrealidade e a obra conduz ao tema central:
desnarrar o “mito da verdade” (idem, 96). Desnarrar o mito da verdade requer antes
desnarrar o mito do homem e buscar realizar o humano não como um fim, mas como
uma passagem, abandonando a organização subjetiva construída pela tradição
dicotômica para encontrar o “antes do humano”, este homem anterior que, segundo
Zaratustra, é:
Uma corda, atada entre o animal e o além-do-homem – uma corda sobre um
abismo.
Perigosa travessia, perigoso a-caminho, perigoso olhar-para-trás, perigoso
arrepiar-se e parar.
O que é grande no homem é que ele é uma ponte e não um fim: o que pode
ser amado no homem é que ele é um passar e um sucumbir. (NIETZSCHE,
2006: 38)
Em outras palavras, o homem é homem humano e finito; a reconciliação do elo
entre homem e natureza não subtrai a ferida e a falha lançando-o à zona da totalidade,
apenas instaura a tensão necessária para a manutenção do enigma e do movimento,
“corda” sobre o “abismo”, arrepio, percurso, “ponte”. Assim, o homem deve superar o
39
“ser homem” e encontrar este “anterior” do humano a que se refere a narradora de A
Paixão..., que é também o “demoníaco” (LISPECTOR, 1979: 97), e é “vida préhumana divina” (idem). Em outras palavras, a subjetividade passa pela experiência do
dionisíaco e, ao fazê-lo, perde suas fronteiras. Porque o demoníaco é uma das máscaras
do dionisíaco. Estar “perto do demoníaco” é “passar a viver” isto é, estar do lado do
selvagem coração da vida.
O “mito da verdade” na obra de Lispector, que está diretamente vinculado ao
real, esbarra antes na constituição da subjetividade, uma vez que é este sujeito em sua
relação com o mundo que confere sentido à realidade. Portanto, desconstruir o mito da
verdade pressupõe antes de tudo desconstruir a noção de homem demasiadamente
humano erguida durante séculos e séculos de civilização ocidental. Por isso a
desmontagem do edifício, da “monstruosa” “máquina”, “superestrutura” erguida “havia
séculos”, que é resultado de um “acúmulo” “pesado” demais, leva ao questionamento
do “quem é, quem não é?” e à inevitável busca da “identidade mais última” do ser e das
coisas, soterrada e impedida de eclodir devido à “grossa humanidade que sempre fora
feita de conceitos grossos” (LISPECTOR, 1979: 128). Essa busca, que se constitui
como experiência de destruição, conduzirá inevitavelmente à experiência da linguagem.
E em que consiste esta experiência para Lispector? Ainda que este experimentum
lenguae encontre equivalente que o resuma na linguagem do “inexpressivo”, parece-me
que a obra lispectoriana esbarra no problema de que os limites da linguagem não são
buscados fora da linguagem, como aponta Agambem, em uma zona do indizível e do
inefável, como a crítica gosta de apontar, mas precisamente no de dentro desta mesma
linguagem. Não significa que o inominável não seja atingido ou desejado, apenas que a
obra lispectoriana não pára neste ponto. Nas palavras de Agambem, o inefável é
“aquilo que a linguagem deve pressupor para poder significar” (AGAMBEM, 2005:
40
11). Mas o que se realiza está para além desta zona de reconhecimento. A escrita de
Lispector parece-me buscar justamente os limites da linguagem naquilo que a torna
matéria “supremamente dizível”, na língua tangível, corpórea, viva, precisamente na
relação entre experiência e linguagem.
Dentro dessa óptica, a identidade é muito mais do que a substância
individualizante. No jogo dialético de ocultação e revelação, no qual cada princípio não
poderia existir sem o seu oposto, a identidade espraia-se na multiplicidade. "Deus é o
que existe, e todos os contraditórios são dentro do Deus, e por isso não O contradizem"
(LISPECTOR, 1979: 155). A identidade, portanto, é o Deus-neutro. A vida traz dentro
de si a morte, o dia traz dentro de si a noite, o bem traz dentro de si o mal, assim como
o humano traz dentro de si o inumano, que é também o divino. Deus reside no
indiferenciado. Iniciar-se no conhecimento do inumano é ritualizar vida e mundo. “O
ritual é o próprio processar-se da vida do núcleo, o ritual não é exterior a ele: o ritual é
inerente. (...) O ritual é a marca do Deus” (LISPECTOR, 1979: 111-12). O homem
cumpre o seu destino divino quando desintegra a estrutura que o aprisiona nas
categorias do mundo inteligível e ultrapassa a fase de liminaridade através do gesto
ritualístico que se concretiza no “ato de consumição própria” (LISPECTOR, 1979:
111), que é também ritual dionisíaco e garante a entrada no reino do duplo domínio dos
contrários – o núcleo da vida. E, “quando uma pessoa é o próprio núcleo, ela não tem
mais divergências” (idem), ela é a própria “marca do Deus”. Essa é a verdadeira
identidade a que se chega após abandonar-se a organização humana. “A identidade – a
identidade que é a primeira inerência – era a isso que eu estava cedendo? era nisso que
eu havia entrado?” (LISPECTOR, 1979: 95), questiona-se a narradora, pois dentro da
verdade absoluta da tradição estabelecida o pecado original é conhecer a identidade real
da coisa em si, por isso a narradora reconhece: “A identidade me é proibida” (idem). O
41
processo de reconstituição pelo qual o sujeito vai passar é anunciado pela narradora:
“Mas me reorganizarei através do ritual com que já nasci” (ibidem) porque a identidade
é “o plasma do Deus”.
Para atingir o neutro, que não se encontra na categoria da humanização do
homem por conta da interposição dos esquemas de inteligibilidade entre o sujeito e a
realidade sensível, para viabilizar a experiência do real em si, é necessário desintegrar
essa estrutura que garante a “montagem humana”. Ao fazê-lo, abre caminho para o
caos, pois desintegrar a ordem é também desintegrar a forma e a norma para entrar no
informe. Ao esvaziar-se de conteúdos humanos, G.H. perde a forma anterior, refletida
na abreviação do próprio nome que a distingue enquanto sujeito e a opõe ao outro, e
inicia a busca por uma nova possibilidade de experiência humana que revele a vida em
si, não mais pautada pela inteligibilidade e pelo sujeito totalizador.
Inaugurar a trajetória da desintegração do sujeito cartesiano, que gera o
princípio da subordinação da totalidade do real pelas categorias da inteligibilidade, é ter
que retornar ao processo da humanização histórica desenrolado na Grécia arcaica,
berço da civilização européia e da tradição do pensamento ocidental, que gerou também
o conceito platônico da divisão do mundo em sensível e inteligível e postulou as idéias
de Deus, do bem, do infinito e do belo. A obra de Clarice Lispector, incluindo contos e
romances, visa, em seu conteúdo, refutar a ordem instituída pela metafísica que deu
origem ao pensamento hegemônico e à separação das categorias inteligíveis e sensíveis
como instâncias dicotômicas e antagônicas. No entanto, confutar essa ordem não
significa reagir ou se rebelar e, tampouco, instaurar a desordem, mas instituir uma nova
ordem onde os extremos contrapolares coexistam em complementaridade na voz da
poesia. Assim sendo, destacamos os conceitos de ordem, verdade e sujeito
desintegrados por G.H. para apresentarmos aqueles que sua narrativa institui.
42
Comentário: Talvez a
abreviação do nome deva ser mais
desenvolvida também. Sim,
deve!!! E aqui não deixe de ver
uma dicção, talvez na negativa,
romântica.
Considerar a verdade como absoluta e eterna remonta aos idos da filosofia
platônica que se disseminou como a base da tradição cristã, instituidora das idéias de
Deus e da moral fundadora dos valores de conduta posteriormente introjetados pela
sociedade ocidental. O caminho reto em direção ao que é certo conduz à salvação
humana, este o ensinamento legado à humanidade. Do platonismo, a abdicação ao
mundo sensível, a predileção pelo supra-sensível e pelo mundo das idéias, a metafísica,
a idealidade. O destino do homem está pré-assinalado no Logos divino e todo indivíduo
deve se submeter à ordem divina que prega, inclusive, à participação do homem na
perpetuação do modelo do bem.
O cerne da discussão platônica recai sobre a possibilidade do conhecimento da
realidade, conseqüentemente, do mundo tal como ele é e de suas relações, de modo a
identificar com o valor de bem todo esse conhecimento produzido. Na busca pela
verdade absoluta, cujo propósito é atingir a forma ideal da realidade, que é também o
universal aceito por todos, o platonismo abandona o particular e o mundo sensível,
atrofiando todo o legado trágico e constituindo um discurso legitimador de todos os
valores e crenças. A verdade platônica opõe-se à realidade particular concreta,
fundamentada na experiência que garante a existência do real, pois para o platonismo
essa realidade apresenta-se como parcial, transitória e mutável.
A filosofia platônica, por conseguinte, compromete-se com a busca da verdade
e saber absolutos, adotando critérios definidos e argumentação lógico-racional para tal
fim. E é essa verdade que forma e valida a linguagem para expressar o conhecimento
através de suas regras e princípios discursivos. Portanto, para conhecer a natureza
essencial (sua forma ou idéia) do ser e das coisas em seu sentido eterno, objetivo
máximo da teoria das idéias desenvolvida por Platão, é necessário desenvolver uma
teoria de conhecimento que defina o tipo de compreensão da realidade e paute a ação
43
humana. Com isso, a reflexão filosófica torna-se contemplativa e se afasta do mundo da
experiência imediata e concreta, posição oposta à proposta de reflexão instaurada pela
narrativa clariciana.
É certo que a obra de Platão em si mesma aponta para uma complexidade que
esta tese não visa contemplar. Ainda que aponte também para uma tradição filosófica
própria, o Eros platônico de O Banquete em certos aspectos se diferencia do Eros mais
embriagante e mântico de Fedro. Da mesma forma, assim como em A República Platão
aparece como detrator das artes, no Íon a poesia é colocada como tema central do
diálogo, pensando a si mesma. Entretanto, como se trata de ler o texto clariciano pela
ótica do dionisíaco, não é possível deixar de fora o comentário de Nietzsche acerca do
influxo causado por Sócrates na história universal. Instaurando uma “rede conjunta de
pensamentos” que promove o “estabelecimento de leis para todo um sistema solar”
(NIETZSCHE, 1992:94) que enfraquece o “prazer de viver” e impõe o “saber” e o
“conhecimento” como remédios para a correção do “erro”, da “aparência” sensível e do
“inesclarecível” (idem, 95), apenas o “conhecimento trágico” (ibidem) pode se fazer
circular. É na “ilusão” e no “instinto”, considerados como faltas que, para Sócrates,
reina a desestabilidade do homem. Pela “correção” (NIETZSCHE, 1992: 85) desse erro
da existência, Sócrates funda uma cultura que busca eternamente a felicidade na
repetição dessa correção.
Para Clarice, no entanto, a escrita, enquanto práxis artística diária, retira seu
vigor e força justamente da intuição e do instinto. Em crônica intitulada “Forma e
conteúdo”, diz: “Só a intuição toca na verdade sem precisar nem de conteúdo nem de
forma. A intuição é a funda reflexão inconsciente que prescinde de forma enquanto ela
própria, antes de subir à tona, se trabalha” (LISPECTOR, 1994: 271). Precisamente
aquilo que Nietzsche chama de “força afirmativa-criativa” (NIETZSCHE, 1992:86).
44
Em outra crônica a autora nos confia a força afirmativa de sua escrita, que se sustenta
pelo livre movimento no fluxo vital. Clarice diz que, durante um tempo, o sofisma era
“uma forma de raciocínio” com alguma atração para seu ofício de escritora e que a
razão disso residia no fato de o sofisma ser um belo instrumento para a defesa e não, ao
contrário, para a afirmação da vida que inclui o erro, a incongruência, a falha e a ilusão,
inclusive. A escrita clariciana, portanto, é aquela que se afirma pelo abandono e
desistência, não pela defesa, porque a vida em si mesma não precisa de defesas. Será?
Conclui a autora que “De agora em diante eu queria me defender assim: é porque eu
quero” (LISPECTOR, 1994: 329). O caminho do “raciocínio-sofisma” é aquele que
“faz ganhar muito em discussões” (idem). Porém, no diálogo poético não há, no
entanto, perdas e ganhos. Há acontecimentos.
Os princípios e valores universais, abstratos e permanentes, pré-determinados
pelos racionalismos, que conduzem à existência do indivíduo em um universo
equilibrado e regulado, impedem a ação do caótico e da imprevisibilidade como forças
que impelem o humano. A distância que separa o idealismo da realidade da matéria
presente no mundo sensível, na trilogia de mitos encontrada em A República, é abissal.
Na teoria platônica, o homem comum, prisioneiro da matéria, enxerga a realidade de
maneira limitada, distorcida e parcial e deve aspirar à plenitude da forma ideal do ser
que lhe garantirá o conhecimento da totalidade do real. Essa posição segmenta o mundo
em duas partes: a da matéria e a do espírito. O homem, não sendo espírito ideal, está
preso à matéria sensível e animal.
O sujeito que constitui a forma anterior da qual G.H. se desfez é o exemplo de
sujeito platônico refutado e acusado pela narrativa clariciana como aquele que aprisiona
o homem e pauta sua existência segundo as convenções e regras instituídas. É também
o caso de Joana, de Perto do coração selvagem. Nesta obra inaugural, o drama do
45
dualismo psicofísico encenado por Joana apresenta-se por meio de uma estratégia
estrutural que jamais abandonará a obra de Clarice e que será uma das características
principais de sua escrita: a da narrativa que privilegia uma sucessão de
descontinuidades apresentadas por blocos de imagem justapostas. O drama é narrado
por construções imagéticas que complexificam a leitura uma vez que interrompem o
processo de consecutividade e instauram um movimento de segmentos descontínuos.
Esse procedimento se realiza como reflexo da descontinuidade que é a vida de Joana. A
existência é comandada pelo sujeito enclausurado e ilhado em si mesmo, cindido pelo
dualismo que afirma o desejo da matéria só para apontar a prisão do espírito na
idealidade. Essas vozes reverberam na voz de Joana como a tradição que a condena. E
o movimento de isolamento vivido pelo sujeito enclausurado encontra equivalência na
estrutura formal erguida pela narrativa em blocos de descontinuidade. O movimento de
insulamento vivido por Joana é repetido pelo movimento paratático da narrativa. O
impacto desta dinâmica é intensificado pela técnica da criação de correlatos objetivos
desenvolvida por Clarice, onde o drama interior da personagem encontra confluência
imagética em referências do mundo externo.
Um dos capítulos centrais do romance, intitulado “...O banho...”, expõe esse
deslocamento. Dividido em quatro movimentos, o primeiro descreve o diálogo entre
Joana e a tia após Joana ter roubado um livro. A cena é introduzida para mostrar que a
noção de “roubo” é deslocada e desconstruída pelo romance. O roubo enquanto delito
que detrata o caráter humano - um dos cernes dos mandamentos divinos é “Não roubar”
- aparece como característica de desmoralização da personagem e de seu pertencimento
ao reino do mal e à dimensão do noturno, do caótico. A origem do mal na obra
clariciana é intencional e visa desconstruir a tradição de uma ordem construída
racionalmente pela cultura e que conduz o homem à ordenação solar da existência. Ao
46
pronunciar o caótico e a desordem, Clarice vem “sublinhar a noite da personagem”
(SOUSA, 2000:174), como aponta Carlos Mendes de Sousa em Clarice Lispector:
Figurações da escrita, isto é, uma “experiência do andar no escuro”, que direciona o
sujeito para o “encontro com a coisa” (idem). Esta experiência permite “o acesso à
visão transfiguradora” (SOUSA, 2000: 175) e reafirma a potência do misterioso.
O segundo movimento confirma o primeiro, na cena em que Joana conversa
com o professor. O episódio gira em torno da diferença entre “o que é bom e o que é
mau” (LISPECTOR, 1998c: 53) e vem a estabelecer uma distinção entre viver, não
viver e morrer, instâncias completamente distanciadas. Para Joana os registros da
tradição se invertem: o bom é associado à vida e o mal é associado a tudo aquilo que
desautoriza a vida. Mas o que desautoriza a pulsão da vida também é pura construção.
E na obra de Lispector essas construções são as interdições a tudo que pulsa. Também a
morte vem assumir-se como vetor da ordem vital e não terminal porque “morrer é
diferente do bom e do mau” (idem), diz Joana.
O terceiro movimento vem justamente exemplificar, a partir da dinâmica de
imagens, a reflexão proposta por Clarice em torno da personagem Joana. O terceiro
movimento é a cena do banho de Joana e o quarto movimento direciona o leitor para o
momento de Joana vivendo no internato e não mais na casa da tia. Em ambas as cenas a
dimensão imagética elaborada por Lispector é profundamente complexa. Vejamos.
A primeira cena se desenvolve sobre duas sensações opostas: a da alegria,
descoberta ligada a imagens de contato com o corpo, e a da tristeza, ligada a imagens
do universo do inteligível. A primeira frase da cena introduz, por adjetivação que
apaga do corpo tudo que é indício de inteligibilização, o elemento do qual nasce o
corpo e que transformará tudo que é sólido em líquido: “A água cega e surda mas
alegremente não-muda brilhando e borbulhando de encontro ao esmalte claro da
47
banheira” (LISPECTOR, 1998c: 64). O que pertence ao universo sensível confere
prazer e alegria a Joana, e a cena conduz à epifania do corpo. O efeito do corpo em
contato com a água reflete o interior da personagem e o desejo de escape da
subjetividade que estrangula a vida resultante deste apreço pelo sensível. “A moça ri
mansamente de alegria de corpo” (idem). O corpo “se alonga”, “se espreguiça”,
“refulge na meia escuridão” e nasce das águas. “Alisa a cintura, os quadris, sua vida”.
A coordenação sintática dos termos equivale a uma gradação que apresenta a equação
do mundo sensível na qual a vida se reduz à experiência do corpo. Mas esta é apenas
uma das experiências da subjetividade enclausurada em si, em um dualismo que não
permite o acontecimento da vida a partir da complementaridade, mas da divisão, e por
isso à epifania do corpo se interpõe a contraposição sistemática de pares opositivos.
Aquele quarto de banho, pleno de vida, torna-se “indeciso, quase morto”
(LISPECTOR, 1998c: 66) e se dilui em fumaça. O quente e morno da água agora
subitamente “esfriam” e fazem este mesmo corpo “estremece(r) de medo e
desconforto” (idem). O mundo de riso, alegria e brilho converte-se em tristeza, frio e
escuridão. O drama da impossibilidade de intecambiação entre os elementos
constitutivos da vida por conta da subjetividade encarcerada leva ao autoreconhecimento do pertencimento à divisão entre dois mundos simetricamente opostos.
Uma divisão que não é puramente pessoal, mas que encerra um complexo cultural
revelado na narrativa pelo embate entre duas culturas, a que privilegia o antagonismo e
a que entrona a reconciliação. “Fechada dentro de si, não querendo olhar (...) desliza
pelo corredor”, “cerra as janela do quarto”, cerra as janelas do ser – “não ver, não
ouvir, não sentir” (idem), mortificação humilhante da vida.
O quarto movimento repete o mesmo drama. Dessa vez, o influxo não é pela
queda no sensível, mas através do apelo do espírito. Joana está no dormitório do
48
internato e mira as “estrelas grossas, sérias e brilhantes” (LISPECTOR, 1998c: 67), e a
tentativa de comunicação entre a menina e esse mundo distante do espírito se torna
impossível. O desejo de beijar, de morder as estrelas, provoca um estranhamento e o
desejo de rezar. “Estrelas, estrelas, rezo” (idem). A reza evoca o desejo de purificação
do corpo em espírito porque, no código cultural, o sujeito deambula entre extremos sem
se compreender, convulsionando a existência, dirimindo a possibilidade de afirmação do
vivo. O estrangulamento da vida faz o sujeito desmoronar na sua máxima negação. O
quarto do dormitório transforma-se numa cela onde jazem cadáveres de virgens.
Que importa que em aparência eu continuasse nesse momento no dormitório,
as outras moças mortas sobre as camas, o corpo imóvel? Que importa o que
é realmente? Na verdade, estou ajoelhada, nua como um animal, junto à
cama, minha alma se desesperando como só o corpo de uma virgem pode se
desesperar. (LISPECTOR, 1998c: 67)
De repente, em cena descontínua, dirige-se a narrativa para outra justaposição,
agora de “corça(s) na planície”. E eis Joana “de volta ao corpo” (idem, 68), ao toque do
cavalo que a faz sentir a vida “latejante e quente do animal” (idem, 71), a felicidade
reafirmada pela água, pelo “céu de verão”, pela brisa. E a dura surpresa do
reconhecimento de que o sujeito tem “limites”, é “recortado” e “definido” (idem) e de
que é precisamente o drama de ter sido construído assim que impede a entrada em uma
zona “além do conhecido”. Essa descoberta a faz relembrar-se de “outros segredos”, que
a tornam então “ilimitada”. Finaliza o capítulo mais uma vez rezando, dessa vez, dentro
da catedral. A contraposição das imagens do banho, na qual o corpo entra em epifania, e
da igreja, que estrangula o sensível, aponta para a solidão do sujeito que não encontra
nem “a lembrança de algum ser humano”, nem a de si mesmo, isto é, se vê
impossibilitado de estabelecer relações intersubjetivas ou mesmo de contato com sua
49
identidade. Reconhece-se então na “solitude branca e ilimitada” da prisão “entre
montanhas fechadas”, incapaz da liberdade, incapaz daquilo que é mais que o pouco da
liberdade, “daquilo que ainda não tem nome” (LISPECTOR, 1998c:70). De profundis.
Anunciação do novo tempo. Enterro do irremediavelmente perdido (SOUSA,
2000:174). Como aponta o pesquisador, a repetição do salmo penitencial “integrado no
Ofício de Defuntos da Igreja Católica” (idem), no capítulo “Viagem”, anuncia a
abertura para “o mundo e para a morte” (idem, 196).
A chama em que se consome a antiga forma introduz na narrativa o diálogo
com a memória de um dos filósofos pré-socráticos privilegiados por Nietzsche:
Heráclito de Efeso. O entendimento do mundo e da vida humana como fluxo
permanente encontra na imagem do fogo o símbolo do incessante devir da vida, da
realidade como instância dinâmica e tensa e constantemente em formação, que favorece
a coexistência de forças contrárias, que se sucedem umas às outras, e reformulam o ser
e sua mundividência. O fogo é a presença e ausência contínuas do movimento que
permite o devir permanente de tudo. Quando uma forma se desfaz, logo ela cede lugar à
constituição de sua forma oposta que novamente será desfeita, e assim sucessivamente
com todas as coisas. É o movimento da chama da vela, com suas exalações de claro e
escuro, de vivacidade e esmorecimento. Esse movimento garante, ao mesmo tempo, as
leis da permanência e da mudança. Às primeiras, associam-se as idéias de luz, vida, sol,
beleza, conhecimento e às últimas, as trevas, a morte, a noite, a feiúra, a ignorância, o
mal. Invoca-se o divino para a morte e não para a vida, para que se ultrapasse a
“vontade de humanidade” (LISPECTOR, 1998c:201) e o indivíduo renasça “forte e
belo como um cavalo novo” (idem, 202), sem a “terceira perna” anunciada em A
Paixão..., com as pernas livres para correr e trotar feito a besta de caçada “do rei do
sabá”, roubada com arrepio e alegria por uma adoradora.
50
1.2 SÓ VOA ALTO O QUE TEM PESO: A PERIGOSA LIÇÃO DOS
ADORADORES
As primeiras páginas de A Paixão... já não repetem a divisão interna de Joana,
mas, ao contrário, introduzem uma narradora em movimento, já na travessia de
desintegração da subjetividade. Quanto mais se distancia do humano, mais se aproxima
do limiar que elimina o ser anterior e viabiliza a eclosão do ser posterior. Diz a
narradora de A paixão segundo G.H.:
Eu era a imagem do que eu não era, e essa imagem do não-ser me cumulava
toda: um dos modos mais fortes é ser negativamente. Como eu não sabia o
que era, então "não ser" era a minha maior aproximação da verdade
(LISPECTOR, 1979:28).
A personagem já se apresenta na sua fase de liminaridade, na primeira página
da obra, na qual observamos o processo de desintegração de sua forma e imersão no
Comentário: Ótimo!!!
vazio, após já ter perdido a estrutura da subjetividade. O uso do gerúndio, combinado
com o verbo auxiliar estar, marca o aspecto durativo do processo verbal, indicando que
uma ação está em curso no momento da sua ocorrência: “------ estou procurando, estou
procurando” (LISPECTOR, 1979:7). A narradora encontra-se no centro de um processo
de busca; os dois sintagmas verbais que compõem a frase inicial, introduzida por
travessões, sugerem que a ação já estava em progresso antes mesmo de ser expressa.
Em seguida, a travessia, que distingue um estado anterior de idealidade e um
estado posterior de realidade, é anunciada pelo par opositivo entender x viver. Já de
início, a estrutura da narrativa, construída na dualidade de traços contrastantes que
compõem uma modalidade de existência baseada no conflito de opostos antagônicos, é
apresentada ao leitor. A primeira categoria é desenvolvida dentro do campo semântico
51
Comentário: E aqui não tem a
questão do livro incabado do
Mallarmé? Lispector sabe que
pertence à história da literatura,
das artes!!!!!
de “organizar”, “confirmar”, “achar”, “encontrar”, todos os vocábulos em consonância
com o termo “idéia”. A segunda categoria se estrutura dentro do campo semântico
oposto em “desorganizar”, “perder”, “acontecer”, “desorientar”, que relata a
experiência sensível do ser e aponta a construção de uma narrativa mergulhada no
contraste, na dualidade e no movimento.
G.H. diz não querer mais o acréscimo que antes acreditava fazer parte da sua
forma humana, algo essencial, sustentação do ser. O que quer que tenha perdido gerou
uma nova forma constantemente em movimentação e formação, em contraste com a
forma anterior. Diz a narradora:
Perdi alguma coisa que me era essencial, e que já não me é mais. Não me é
necessária, assim como se eu tivesse perdido uma terceira perna que até
então me impossibilitava de andar, mas que fazia de mim um tripé estável
(LISPECTOR, 1979:7-8).
Ao narrar seu passado de maneira a elucidá-lo a si mesma, distanciando com
verbos no pretérito o eu que apresentava uma forma formada e organizada do novo eu
que se encontra em constante reatualização de si mesmo, como mostra o uso do
presente e do gerúndio, entende-se que o presente está ligado ao caos, à desorganização
do ser e o passado à sua forma fixa e pré-ordenada. Diz a narradora: “O que eu era
antes, não me era bom. Mas era desse não-bom que eu havia organizado o melhor: a
esperança. De meu próprio mal eu havia criado um bem futuro” (LISPECTOR,
1979:9). O tripé sustentador gera um equívoco, e nada mais que a idéia de uma
realidade, a ilusão de um sentido que o novo estado não garante, pois o sentido possível
deixa de ser o de pertencimento a um “sistema” e passa a ser o do acontecimento.
E voltei a ser uma pessoa que nunca fui. Voltei a ter o que nunca tive: apenas
52
duas pernas. Sei que somente com duas pernas é que posso caminhar. Mas a
ausência inútil da terceira me faz falta e me assusta, era ela que fazia de mim
uma coisa encontrável por mim mesma, e sem sequer precisar me procurar
(LISPECTOR, 1979:8).
Comentário: Cadê o Kafka?
G.H. perde a “montagem humana” - estabilidade garantida pelo racional e pela
ordem - para entrar na travessia do indistinto, do homem verdadeiro, dual como as duas
pernas que o sustentam. “Perder-se significa ir achando e nem saber o que fazer do que
se for achando. As duas pernas que andam, sem mais a terceira que prende”
(LISPECTOR, 1979:9). Existir na travessia, “meio de entrada”, rumo à dissolução da
cisão interna, consiste na grande tragédia humana, pois achar a si mesmo é na verdade
entregar-se “à desorientação” e à “desorganização” que desmontam a “idéia de pessoa”
adquirida com a “terceira perna”.
Habituado a arrumar depressa “um modo de me achar, mesmo que achar-me
seja de novo a mentira de que vivo” (idem, 8) o sujeito organiza e dá forma às coisas
classificando-as e conferindo-lhes um desígnio. A “vida humanizada”, como é
nomeada por G.H., classifica o real em fórmulas que possam ser substituídas, que se
reproduzem “fácil como capim” em verdades compreensíveis, porque “sem dar uma
forma, nada me existe” (LISPECTOR, 1979:10), até o ponto máximo do desígnio de
uma missão humana que preencha a solidão e o constrangimento da falsa humanidade.
Aceitar o desafio de ser ponte e não fim, de “passar” e “sucumbir” qual Zaratustra, que
opõe o espaço da pré-liminaridade, na forma fixa, em relação ao espaço da pósliminaridade, na forma originária, é pisar o solo movente da terceira margem, dimensão
do sem forma, vazio do sem rosto, para voltar a ser "uma pessoa que nunca fui" e voltar
"a ter o que nunca tive: apenas as duas pernas" (LISPECTOR, 1979:8).
Ao tentar localizar no tempo o momento em que cria a terceira perna e perde a
forma de criança, que é a mais parecida com a nova organização, G.H. revela a marca
53
que opõe um nível de existência a outro. A forma humana, infinitamente repetida pelo
forjamento de “verdade”, que se figura como “perna protetora”, contrapõe-se ao rosto
de criança que dá surgimento ao novo ser e se sustenta “nas duas pernas que andam”. A
verdade tripé de que fala G.H. é a forma fixa instituída pelo racionalismo que
fragmenta o ser e tenta garantir uma verdade absoluta. Já no fim do romance a
narradora diz que deseja encontrar na sua forma adulta e humana o rosto de criança,
liberta dos grilhões que aprisionam o ser na idealidade: “quero o adulto que é mais
primitivo e feio e mais seco e mais difícil, e que se tornou uma criança-semente que
não se quebra com os dentes” (LISPECTOR, 1979:152).
As questões da idealidade e verdade absolutas, no pensamento platônico, estão
intimamente associadas à problemática do bem e da moral, lembrando que o conceito
platônico de verdade, revisto e rediscutido pelos filósofos medievais, mais
precisamente por Santo Agostinho, apresenta-se como precursor da verdade do sujeito
cartesiano, tema que tratarei em seguida. A idéia do bem conduz todas as verdades à
verdade absoluta e, na tradição filosófica do medievalismo cristão, a fonte e essência da
verdade repousam em Deus, ser infinito e eterno, pelo qual todo o bem é sempre bem.
A relevância de se incluir o pensamento agostiniano na presente tese consiste em situar,
sem amplos vôos, as idéias de Deus, bem e moralidade que marcaram o pensamento
ocidental e, ainda, o germe da subjetividade do cogito cartesiano. Ora, Clarice
questiona não apenas a idealidade platônica, mas o Deus cristão e suas leis.
Lembremos do alerta de G.H.: a verdade pode aparecer sob diferentes ângulos.
Ela é puramente expressiva e, ao contrário da lógica predicativa da identidade, em
Clarice, a única lógica possível é a relacional, da diferença, que consiste na lógica do e,
que guarda duas faces, portanto, duas verdades. “Não posso me resumir porque não se
pode somar uma cadeira e duas maçãs. Eu sou uma cadeira e duas maçãs. E não me
54
somo” (LISPECTOR, 1978a: 75). O enigma suporta a obscuridade, mas a verdade, no
conceito dessacralizado, não. A palavra clariciana é enigma, é intensidade mortal e
sexual e depende exclusivamente da alteridade. Sua relação com o ouvinte como
intérprete do indizível e do invisível é primordial e intensa. A palavra clariciana é
luminosa e obscura ao mesmo tempo.
Como visto pela tríptica desagregação a que a narrativa clariciana nos conduz, o
abandono da forma humana pré-estabelecida, a partir da destruição do sujeito imperial,
lança a personagem em viagem catabática pelo reino infernal do informe. A fase de
liminaridade em que G.H. se encontra ao iniciar sua travessia consiste na fase de
nadificação do sujeito e é seguida pela entrada no reino do neutro, que é também o
domínio da complementaridade de opostos contraditórios. Esse movimento apresentase como condição primordial para a personagem alcançar a fase de pós-liminaridade
quando, para fazer eclodir o novo ser, G.H. mergulha na transumanização de si mesma.
E aqui, como apontam críticos como Schwarz, a desmontagem humana de G.H. se
aproxima muito da metamorfose kafkiana no sentido de que se narra a perda de uma
individualidade por meio do apagamento do sujeito, que passa a ingressar no espaço
enigmático de um devir. O enclausuramento maquínico do ser o impele rumo a uma
espécie de movimento libertador, de maneira a desmontar a estrutura rígida e
estagnante. Enquanto a experiência kafkiana se constitui como uma transformação sem
volta, o "entrave absoluto" (SCHWARZ, 1981:61) que aponta uma ausência de sentido
e desarvora o homem, a metamorfose clariciana trata do encontro de uma interioridade
mais legítima que confronta e substitui uma outra superficial e falsa.
A narrativa clariciana, como muitas das grandes obras da literatura ocidental,
atualiza a narrativa mitopoética do ser que, para ser iniciado nos mistérios da vida,
precisa passar do mundo profano ao mundo sacralizado, trajetória que envolve a
55
Comentário: Posso incluir
texto da Judith Ryan sobre Kafka
travessia para o outro mundo, isto é, uma descida ao reino do indelimitado, onde os
pólos contrários se complementam para dar nova forma ao ser.
Carlos Mendes de Sousa caracteriza as figuras da escrita de Clarice por meio da
força de imagens que irrompem no texto. Aponta o lúdico das cores e palavras
presentes nas figuras animadas ao longo de seus textos. A origem do ato da escrita está
nas imagens que se formam, mancham-se e devêm escrita, universo sinestésico
preenchido de sensações, impressões e estados interiores. A obra completa de Clarice
Lispector é um grande questionamento sobre a literatura, acompanhando sempre o
processo de autoconhecimento que se desenvolve paralelamente ao ato de
desvelamento da escrita. Questionar o literário é questionar a si mesmo e ao mundo,
pois no texto está o mundo. Portanto, falar da criação do mundo é falar da criação da
escrita, por meio da escrita, através de sua figuração. Algumas dessas figurações se
apresentam sob a forma de paisagens fundadoras como a noite, os animais, o caos, o
ovo e a terra (Gaia), a partir das quais se possa falar sobre o entendimento do eu e da
escrita. O delinear de uma figura aponta sempre para o delinear de escrita.
Do informe à figura, ou da figura para dizer o informe. Figurar o nãofigurável, a escrita como energeia, processo cujas implicações mais fundas
envolvem um horizonte de violência no qual se percebem os movimentos
desterritorializadores que imprimem vida à escrita: aí - na busca do nome neutralizam-se as hierarquias; a palavra enfrenta o mundo; o eu encontra-se
com o não-eu, o que não pode ser nomeado; o interior invisível dialetiza-se
com o visível nas zonas de fronteira cuja figura mais eloqüente em Lispector
é o neutro, o insosso, o it, a coisa (SOUSA, 2000:55).
No quinto capítulo de sua tese de doutoramento, Sousa se volta para o que
chama de “quadros” de Clarice e sobre como a tópica do texto ganha diferentes
metáforas. A primeira de suas interpretações é de que, a partir de recorrentes imagens
56
de letras sendo desenhadas ou gravadas em alguma superfície, ora no chão, ora na
parede, algum elemento perturbador vem desarranjar o que se mostra em estado de
harmoniosa ordenação. A forma como as letras se inscrevem na superfície se aproxima
do que Sousa chama como sendo a “figuração da escrita” de Clarice Lispector. Esse ato
pode ser lido como um ato de prefiguração à questão da assinatura do nome. O que se
vê em quadros ou cenas de inscrição do nome é o desenrolar de uma assinatura seguida
de uma rasura. A marca do erro no processo de escrita aparece como queda interior,
ruptura com a ordem da personalização ou como estilhaçamento da letra.
Como toda a obra de Lispector é uma ficcionalização do real, e a construção do
mundo ocorre por meio de simulações, seja pela encenação de tradições, seja por
referências autobiográficas que nada mais são do que ficcionalizações do sujeito, seja
inclusive pela encenação da própria escrita, comecemos pelo tema da oikía 4 , por uma
poética da habitação desenvolvida em A Paixão.... G.H. é uma mulher que mora em um
apartamento em uma cidade grande. Um corpo que é a moradia de uma subjetividade;
um apartamento que é símbolo de uma habitação. Lispector lança um corte vertical
nessas duas construções culturais e conduz a dimensão da superfície à profundeza. Do
apartamento e da estrutura ontológica. Até que a morada se converta no mundo.
Corporalmente G.H. habita o apartamento. E o que esse corpo diz é que vive apenas na
superfície, não conhece os fundos, apenas a frente – fachada. Mas o que este corpo não
sabe é que sairá da crosta para o magma.
Quero pensar agora que corpo e casa se tornam aos poucos elementos que
abandonam um topos e adquirem certa atopia, possibilitando a interpretação dessas
duas zonas como espaços de permanente abertura para um fora, em pleno movimento.
No caso do corpo do sujeito, essa atopia tem a função de abrir para a vida, uma vida
4
οἰκία, οἶκος, ου, ὁ: do grego, casa, vivienda; habitación, cuarto; sala, comedor; templo; jaula, nido;
residencia; bienes, propiedad, hacienda, fortuna; familia, linaje; servidumbre, criados; patria. Diccionario
Manual Griego Clásico-Español. Barcelona: Ed. Vox, 2000.
57
entendida como zoé no sentido de uma vida intransitiva, sem limites, que não se opõe à
morte, que não morre, em oposição a bios, entendida como a vida individual, com
delimitações, que encontra seu limite na morte. Portanto, este corpo, que encontrará sua
deriva na barata, experimentará o fim do fechamento sobre si, enquanto que a casa,
continente do corpo, será o mundo enquanto estiver aberta. Nessa conjugação, a perda
das fronteiras encontra equivalência na desterritorialização da linguagem. Porque a
escrita abre espaços no mundo que o mundo não nos mostra. O topos da própria
linguagem torna-se agora a configuração de um novo lugar para si: o não-lugar do
lugar.
G.H. dirige-se aos fundos, rumo ao quarto da empregada Janair. Para chegar até
o aposento, passa por um “corredor escuro”, ponte que conecta o mundo dos vivos ao
reino das trevas, prefiguração da nekya 5 realizada por G.H., que espera encontrar
“escuridão” e “sujeira”, o caos, e depara-se com luz e ordenação: a ordem da alteridade.
Como tela em que se projetam imagens, o quarto destoa da realidade de G.H. e instaura
a sua própria. “O quarto parecia estar em nível incomparavelmente acima do próprio
apartamento” (LISPECTOR, 1979:34), ainda que implique um deslocamento aos
fundos daquela casa, uma descida simbólica. Entretanto, o quarto torna-se lugar
sagrado, centro do mundo, templo em cujos domínios ocorrerá o ritual de metamorfose
da personagem - a prece de todas as preces - decorrente do contato com o neutro centro pulsante e gerador da vida. Habitar a casa é habitar o centro dinâmico da
existência. Se o centro atua como lugar que irradia sentido, essa imagem torna-se,
portanto, metáfora da morada do corpo e da alma. Aquele que não habita sua morada é
um exilado de si mesmo e, para G.H., o quarto, que é dos fundos e está em nível acima
do apartamento, torna-se metáfora temporal e psíquica – é “deformado”, “erro de
5
νέκυια, ας, ἡ = do grego, evocación de los muertos.
58
visão”, “ilusão de ótica”, é “quarto-minarete”, o que significa dizer que o quarto não é
apenas a “realidade material” exposta à sua frente e, tampouco, lugar homogêneo. Esse
espaço está plantado no centro do mundo qual árvore no centro da terra, fuga e
evocação do que está acima e abaixo ao mesmo tempo: “O quarto não tinha um ponto
que se pudesse chamar de seu começo, nem um ponto que pudesse ser considerado o
fim. Era de um igual que o tornava indelimitado” (LISPECTOR, 1979:41). Sendo
assim, o real se manifesta a partir de duas formas: da realidade material e da
existencial. É cortado em dois: um lado de sombras e outro de luz, um trevoso e outro
nítido, um subterrâneo e outro visível, divisão esta que inicialmente compõe o ser
bipartido, mas que posteriormente se tornará anunciação da dualidade integrada que
rege o mundo neutral e que revelará o enigma da linguagem. “Da porta eu via o sol fixo
cortando com uma nítida linha de sombra negra o teto pelo meio e o chão pelo terço”
(LISPECTOR, 1979:34).
O quarto descrito como “quarto-minarete” está “solto acima de uma extensão
ilimitada”, como se “não estivesse incrustado no apartamento nem no edifício”,
expandindo-se para um espaço já de desterritorialização, abertura para o mundo.
Porque não era “um quadrilátero regular: dois de seus ângulos eram ligeiramente mais
abertos” (LISPECTOR, 1979:34). O minarete, torre alta e fina que se estende no topo
da mesquita de onde os fiéis são chamados para a oração, é também, segundo sua
etimologia, o lugar de onde provém a luz, o farol que ilumina e direciona o caminho.
Lembremos que, do corredor escuro, G.H. vai dar no quarto que “era um quadrilátero
de branca luz” (LISPECTOR, 1979:33), “próprio lugar do sol, fixado e imóvel, numa
dureza de luz como se nem de noite o quarto fechasse a pálpebra” (LISPECTOR,
1979:38). Além de ser o próprio lugar da luz, da consciência, o minarete é o ponto mais
alto de uma mesquita e ponto fixo, centro do templo sagrado. É, portanto, espaço que
59
representa a vontade de fundação de um novo mundo e servirá como alegoria da
construção de um espaço sagrado. A imagem de pilar proporcionada pela imagemminarete é porta que estabelece comunicação com o Céu, portanto, rotura na
homogeneização do espaço, comunicação com o transcendente. A realidade material do
quarto aparece como deformada pela visão, provocando a impressão de que o quarto
não fazia parte do apartamento ou edifício, isto é, do restante do cosmo. Essa ruptura,
na realidade, estabelece uma abertura através da qual mundo superior e mundo inferior
se comunicam. Inicia-se a deriva dos continentes.
O incômodo de G.H. com o quarto provém do fato de que, nesse espaço, há uma
ordem subjacente do silêncio que violenta as “aspas” de sua cobertura e convoca a
desorganização latente na personagem. “Como explicar, senão que estava acontecendo
o que não entendo. O que queria essa mulher que sou? O que acontecia a um G.H. no
couro da valise?” (LISPECTOR, 1979:40) O caos instalado causa terror, pois o espaço
desconhecido que se impõe diante da personagem representa o espaço do não-ser. G.H.
não sabe ainda que esse não-ser é parte integrante do ser. A dissolução no caos ameaça
a extinção no vazio ôntico. Ao entrar no quarto, G.H. diz parecer ter entrado “em
nada”. As camadas superficiais do ser iniciam seu lento desabamento, queda de
cavernas seculares. O primeiro desabamento é o do estrato cultural ocidental, calcado
no obsoleto e estagnante fundamento da subjetividade totalitária como ratificadora da
verdade absoluta, legitimadora do real.
Já estava havendo então, e eu ainda não sabia, os primeiros sinais em mim
do desabamento de cavernas calcárias subterrâneas, que ruíam sob o peso de
camadas arqueológicas estratificadas – e o peso do primeiro desabamento
abaixava os cantos de minha boca, me deixava de braços caídos
(LISPECTOR, 1979:40).
60
O sentimento de repulsa se acentua e desencadeia o impulso de destruir e matar,
ao qual seguirá o “crime” praticado pela narradora. Esse desejo é, na verdade, vontade
de dar forma pronta ao que ameaça os altos píncaros da sua subjetividade. Seguem as
manifestações desse desejo: “tudo teria que ser modificado” (idem), “jogaria no quarto
vazio baldes e baldes de água”, “jogaria água no guarda-roupa para ingurgitá-lo num
afogamento até à boca” e, depois, “o enceraria para dar-lhe algum brilho”, “rasparia da
parede a granulada secura do carvão”, desincrustaria à faca, apagaria e destruiria os
desenhos na parede. O desejo de extirpar “à faca” tudo o que lhe causa pavor por trazer
à tona suas entranhas e por desmoronar as aparências nas quais o sujeito está
estruturado é manifestação de repúdio à transformação. O sujeito se contorce em suas
raízes identitárias em jogo de forças contra a desorganização iminente no qual se repete
o ato tão familiar do “talento de arrumar”, de querer dar forma por meio das próprias
mãos. Nesse momento, dá-se o desdobramento do duplo da narradora, que é o próprio
tu ao qual a narrativa se dirige: “O que me acontecia? Nunca saberei entender, mas há
de haver quem entenda. E é em mim que tenho de criar esse alguém que entenderá”
(LISPECTOR, 1979:40).
O homem apresenta em sua “área interna” “um amontoado oblíquo de
esquadrias, janelas, cordames e enegrecimentos de chuvas, janela arreganhada contra
janela, bocas olhando bocas”. O homem real é aquele que mora abaixo das camadas
superficiais desse edifício - símbolo da construção humana, “império” de
“sentimentação”, “intoxicação de sentimentos” que irá “desmoronar”. A configuração
da área interna do apartamento como um “amontoado” de angulações, que contribui
mais para a confusão do quadro do que para a sua clareza, prefigura o amontoado
humano que é G.H. “A miniatura da grandeza de um panorama de gargantas e canyons:
ali fumando, como se estivesse no pico de uma montanha, eu olhava a vista”. Como em
61
tomada cinematográfica, a lente se fecha saindo da amplidão do olhar anterior para
reter o olhar sobre a personagem: a vida humana, representada por G.H., é “edifício
sólido” construído pelo “lento acúmulo de séculos automaticamente se empilhando”
(LISPECTOR, 1979:64). Enquanto a mulher antes era engolida pela “garganta”, agora
ela se encontra no “pico da montanha”. A mudança de perspectiva gera movimento e
alternância de pontos de vista e da própria ordenação seqüencial. O mesmo acontece
quando, logo após o desmoronamento do edifício, o que era apenas uma construção
erguida se torna “uma grande cidade” e depois império, imagens que representam, em
escala gradativa, G.H., o homem humano, a sociedade, o mundo, a civilização.
Emergindo do fundo, a barata surge em cena como ameaça à estrutura da
personagem por apresentar o perigo iminente do confronto com o “irremediável”.
Emergir do fundo é subir das profundezas (psíquicas) para a superfície da consciência.
Nesse capítulo, desenvolve-se uma das imagens de tensão dialética mais fortes em toda
a obra clariciana: a da amplidão em oposição à restrição, que é também altitude em
contraste com profundidade. “Anteriormente, quando eu me localizava, eu me
ampliava. Agora, eu me localizava me restringindo” (LISPECTOR, 1979:46). A
imagem de amplidão é a mesma de expansão e ascensão, todas freqüentemente usadas
no texto e, no pólo oposto, restrição liga-se à imagem da contração e da profundidade.
Vejamos a imagem descrita por G.H. no início de sua travessia, antes de entrar no
quarto, quando no capítulo dois diz: “estava a um passo da descoberta de um império”
(LISPECTOR, 1979:19), que se apresentará mais tarde como sendo o império da vida
humanizada pelo sujeito coroado, que estabelece valores e modelos de vida baseados
em sua própria arbitrariedade. A personagem lembra-se de uma frase antiga que lera
em revista e anos depois vem à memória. Como é de costume em textos claricianos, o
cotidiano lido em jornais e revistas, a vida costumeira e prosaica, aparece como
62
contraponto para o real oculto em suas entrelinhas. “Perdida no inferno abrasador de
um canyon uma mulher luta desesperadamente pela vida” (LISPECTOR, 1979:19).
Como se fosse uma sinopse do drama vivido por G.H., a frase destaca, em perspectiva
panorâmica, o elemento reduzido no foco da câmera em meio à amplidão do vazio. A
sensação de vastidão criada pelo contraste amplidão x restrição logo é realçada no
plano da expressão não só por meio dos contrastes, mas pela inflexibilidade da língua
para acompanhar o vôo das imagens.
Em rápido movimento de angulação, a estratégia de contrastes é repetida no
capítulo seguinte quando, já dentro da viagem catabática, G.H. lança o olhar sobre a
área interna e externa do prédio em que mora, e revela ao leitor a imagem concreta do
que será a pré-figuração de sua própria história. “Por fora meu prédio era branco, com
lisura de mármore e lisura de superfície” (LISPECTOR, 1979:31). Ora, a
“superestrutura” do sujeito aparente, que representa o falso homem e vive imerso em
“supercamadas” e cuja configuração G.H. está prestes a desmontar, constitui-se como
estrutura do homem que externamente se constrói sobre a retidão de um plano
fragilmente elaborado, porém aparentemente “firme e compacto” (LISPECTOR,
1979:64).
A imagem do ser como “superestrutura” ou “edifício” pode ser lida
Comentário: !!!!!
metonimicamente pela matéria de que é composto um edifício: o concreto. E, nesse
caso, lembremos das acepções da palavra: concreto é a massa feita de cimento e água
que se transforma em matéria resistente, inflexível e inerte para erguer do chão uma
estrutura sólida - casa, morada. No entanto, a estrutura erguida mostra-se bastante
instável, apesar do tripé, pois seus “alicerces vergam” e “num instante não anunciado
pela tranqüilidade” verá suas vigas cederem. Há o “desmoronamento” – reivindicação
do mundo à sua “própria realidade” - e o concreto é desfeito. A segunda acepção é a do
63
concreto como designando o real e verdadeiro, imagem revelada como falsa. O real não
é apenas o visível e material, mas precisamente a sua conjunção com o ideal e o
abstrato. Esse falso concreto passa a ser “dado histórico”, já que não se impõe mais
como organização do humano. “... a pior descoberta foi a de que o mundo não é
humano, e de que não somos humanos” (LISPECTOR, 1979:65) - o humano está para
além da matéria. A vida em si conjuga o real captado pelos sentidos ao ideal detectado
pelo inteligível, pois somente na integração pode o ser retornar ao fluxo da vida através
do constante realizar-se.
Se a estrutura que rui é “construção sentimentária e utilitária”, que pauta o real
apenas pelos sentidos, então o que surge exige um desapego. G.H. vê-se “na era
primeira da vida”, que reivindica o “começo dos tempos”, primordialidade originária,
para narrar o começo do eu integrado. Lembremos que esse eu, abandonado em algum
ponto da existência, guardou as reminiscências do seu tempo em que era ainda unidade,
pois o “inumano”, a “parte coisa da gente”, é que fará a reivindicação do ser
verdadeiro, como que a convocar o ser larvar. Essa estrutura rebenta e a imagem da
destruição é construída sobre o símbolo do dilúvio mítico, a partir do qual a origem do
mundo e dos homens tem início.
Se em mim tudo se quebrava à passagem da força, não é porque a função
desta era a de quebrar: ela só precisava enfim passar pois já se tornara
caudalosa demais para poder se conter ou contornar – ao passar ela cobria
tudo. E depois, como após um dilúvio, sobrenadavam um armário, uma
pessoa, uma janela solta, três maletas (LISPECTOR, 1979:66).
Atente-se para o ritmo violento que a composição e repetição dos verbos
“quebrar”, “passar”, “conter”, “contornar”, “cobrir”, “sobrenadar” compõem a fúria da
“força” “caudalosa” das águas do dilúvio. Essa energia vital lança o ser ao inferno:
64
“destruição de camadas e camadas arqueológicas humanas.” O inferno revela-se como
o próprio caos, o não-ordenável, uma vez que confere ausência de sentido ao mundo e
ao homem. O capítulo fecha com a ruptura: o ato proibido de G.H. é tocar no imundo e
a barata aparece como ser listado entre os impuros, não por ser animal imundo, apenas
porque é “jóia”, é “a maçã”, chave para a compreensão e iniciação do ser.
Muitas são as tradições do dilúvio, a do Gênesis bíblico é apenas uma delas. O
que tais tradições carregam de fundamental e central é a idéia da instauração de uma
nova época que traz uma nova humanidade. Evidenciam uma concepção cíclica da
formação do mundo e do ser, na qual a catástrofe vem abolir um tempo esgotado e
inerte de maneira que a nova era instaure o novo homem. Esse é também o tempo do
primeiro silêncio, quando dentro das tradições religiosas, o criador se cala depois de
originar o mundo e os seres. Porém, seguindo a imagem do dilúvio, os seres que
surgem a partir de inundações são seres iniciados, pois o neófito precisa “morrer” a fim
de “reviver”. Este é um tema mítico netuniano (ELIADE, 1998:171) que se manifesta
na reintegração cíclica da criação nas águas primordiais do dilúvio com o propósito da
regeneração. Se esta atualização não acontecesse, o ser esgotaria sua capacidade
criadora e desapareceria para sempre. Mas, como ensina Eliade, “a imersão nas águas
não equivale a uma extinção definitiva, mas somente a uma reintegração passageira no
indistinto” (ELIADE, 1998:172).
Na edição crítica do romance de 1964, coordenada por Benedito Nunes, a obra é
interpretada sob o viés do simbolismo cristão referente à paixão de Cristo narrada nos
evangelhos, o que nos leva a entender a paixão de G.H. como a narrativa que relata a
via-crúcis do homem dentro da tradição da literatura ocidental. Ao longo do texto,
Nunes chama atenção para expressões, citações e imagens do universo bíblico. No
entanto, não é do interesse dessa tese refazer tal leitura, porém, não se pode deixar de
65
mencionar referências expressamente bíblicas encontradas no texto para fins de
elucidação da narrativa. Entenda-se com isso que o texto clariciano parte de narrativas
mítico-religiosas para tratar dos mistérios iniciáticos da vida, criando para isso um
discurso único, singular e intertextual. As referências não são apenas bíblicas, porém
míticas em geral e ecoam as vozes gregas e pré-gregas, que tratam da origem do ser e
do mundo. A Bíblia é mais um dos textos com o qual a narrativa clariciana interage em
diálogo explícito.
O capítulo 10 inicia com referências explícitas ao Livro Sagrado da tradição
cristã e uma citação, transcrita entre aspas, que indica ter sido retirada do
Deuteronômio, onde se lê: “Mas não comereis das (criaturas) impuras: quais são a
águia, e o grifo e o esmerilhão” (LISPECTOR, 1979:68). Em seguida, agora não mais
como citação, a autora prossegue com a referência interferindo na criação do texto
sagrado, reafirmando o seu papel de criadora do mundo textual e afetando a ordenação
pré-definida, arrolando os nomes de outros animais que aparecem no Livro das Leis,
porém fugindo da ordem listada na Bíblia e inventando a sua própria. Deseja com isso
indicar o quê?
O Deuteronômio é considerado o “Livro da Lei” por narrar a lei instituída por
Moisés aos seus seguidores, pouco antes de sua morte, no Sinai. Essa narrativa é escrita
em forma de discurso ao povo de Israel e, por meio dela, Moisés apresenta as leis a
serem seguidas na Terra Prometida. O versículo encontrado em A paixão segundo G.H.
se refere ao ato da devoração, quase que prefigurando a ação da personagem-narradora.
Eu fizera o ato proibido de tocar no que é imundo. (...) Eles dizem tudo, a
Bíblia, eles dizem tudo – mas se eu entender o que eles dizem, eles mesmos
me chamarão de enlouquecida. (...) "Mas não comereis das impuras: quais
são a águia, e o grifo, e o esmerilhão." E nem a coruja, e nem o cisne, e nem
o morcego, e nem a cegonha, e todo o gênero de corvos. Eu estava sabendo
66
que o animal imundo da Bíblia é proibido porque o imundo é a raiz (...)
(LISPECTOR, 1979:68)
A narradora deseja apresentar sua própria lei que rege a escrita autofágica e que
consiste na lei do neutro. O inexpressivo precisa da devoração para se regenerar a cada
nova representação, sem conservar formas fixas. A lei mencionada por G.H. refere-se
às normas alimentares do povo escolhido, na qual estão selecionados, dentre o reino
animal, os seres que podem e não podem ser comidos. Além daqueles mencionados
pela narradora, incluem-se também os insetos. Diz a Bíblia: “Qualquer inseto é impuro
para vós; não o deveis comer” 6 . G.H., porém, não menciona em sua lista justamente o
inseto que será objeto da manducação. Contudo, a proibição segue uma lei explicitada
pela própria narradora: “Eu estava sabendo que o animal imundo da Bíblia é proibido
porque o imundo é a raiz” (LISPECTOR, 1979:68). Ser a raiz é manter-se inviolável
desde o momento da criação, isto é, original, completo, indissociável: se o imundo é a
raiz, significa que o proibido é a raiz. Isso implica as seguintes leituras. Se a imagem
concreta da raiz remete à estrutura sólida, base que liga um elemento a outro e que, em
sentido figurado, é também a parte oculta, fonte e origem das coisas primordiais,
entende-se que o imundo (lugar fora do mundo) tocado através da barata, é exatamente
a ponte que liga o real ao ser original, ofuscado pela estrutura cindida. Assim, garantese a existência e identidade do ser verdadeiro, fonte de vida. Igualmente, não podemos
esquecer que a raiz é também o mínimo segmento lexical que forma a base de uma
palavra e dá origem a formas posteriores de novas palavras, ou seja, palavras que
formam textos que plasmam novos textos que se entrelaçam. Nesse sentido,
entendemos que a raiz se destaca pelo elemento potencializador de reatualização que
carrega em si, é “fruto do bem e do mal”, “matéria viva”, chave do conhecimento
6
A Bíblia Sagrada, Petrópolis: Vozes, 1981, Dt, 14, 19-20.
67
gnosiológico do ser e do mundo. E a lei dos homens, há muito seguida pela estrutura
construída de G.H., “manda que só se fique com o que é disfarçadamente vivo”.
Portanto, à narradora é proibido conhecer o imundo ou, diga-se, a vida em si.
Outra lei instituída pelos homens é a da norma lingüística, que conserva
inflexibilidades e ordenações em nome do bem escrever. Se entendermos a raiz como
unidade mínima lexical, a unidade máxima discursiva é o próprio texto. Se a raiz, que é
a base e origem das palavras, compõe unidades máximas de sentido, e é proibida e
imunda, então a própria palavra poética carrega-se da atmosfera de proibição e,
conseqüentemente, de sacralidade, pois é a única palavra a tocar o centro vivo do real
que se revela em intervalos mudos e fulgurantes, para logo em seguida se ocultar. É a
denúncia de que aquele que detém o conhecimento poético detém também a chave do
conhecimento da vida e da morte, fruto do bem e do mal.
Não é possível comer a raiz porque ela é a própria origem e, se a raiz dá origem
a novas palavras, comê-la é descobrir que o texto pode devorar o próprio texto, criando
novas linguagens, de maneira a se regenerar e refazer até que se encontre a linguagem
original, decifração do enigma, que devora a si mesma, reinventando-se infinitamente.
Esse conhecimento é imundo porque é proibido (e vice-versa) e só deve ser provado
(em ambos os sentidos) por aqueles iniciados nos mistérios da vida (e da linguagem),
“Pois quem comer do imundo sabendo que é imundo – também saberá que o imundo
não é imundo” (LISPECTOR, 1979:69). A barata converte-se no fruto do pecado
original, é a “maçã” que garantirá o conhecimento do bem e do mal. Portanto, a lei que
a narrativa clariciana institui é a lei da dialética de contrários que se complementam no
indiferenciado, na qual o imundo deixa de ser imundo e proibido e passa a ser não só
permitido, mas também divino e sublime. Além disso, imundo é também estar fora do
mundo (do prefixo negativo –i) e comer do de fora do mundo é comungar com o outro
68
lado, é mergulhar em outra lei, contrária à lei estabelecida, tanto da norma lingüística,
como da estrutura do ser. É negar a lei que rege o eu atomizado em sua subjetividade.
O quarto-minarete, agora já inferno, anuncia-se contrário à idéia cristã de reino
da punição, do sofrimento e fogo eternos; o inferno compartilha dos mesmos atributos
que o diabólico e o demoníaco. “Eis o inferno: não há punição” (LISPECTOR,
1979:117), este se transforma em “êxtase de riso com lágrimas” e “esperança de gozo”.
Somente para além do humano, no “outro lado da humanização” (outro lado também da
tradição cristã) é que o inferno pode existir como espaço agregador. Ao longo do
romance, o inferno é designado como o “núcleo”, o “neutro”, a "tortura de uma
alegria”, lugar do indiferenciado, espaço dos contrastes máximos, que recebe o ser
desagregado e, pela força caótica contida em si, reintegra as partes dissociadas porque
se converte em espaço do caos primordial. Já com sentido existencial e não mais
espacial, “O inferno é a dor como gozo da matéria, e com o riso do gozo, as lágrimas
escorrem de dor. E a lágrima que vem do riso de dor é o contrário da redenção”
(LISPECTOR, 1979:116). Como se vê, nessa sucessão de paradoxos, Clarice interfere
diretamente na semântica do texto ao criar o oxímoro inferno prazeroso, “horrível” e
“bom” ao mesmo tempo, já que é zona do indistinto.
No inferno de G.H., o homem é o espaço do duplo, refletido pela escrita. O
texto do corpo já não delimita mais corpo e alma, que passam a refletir uma só forma
inseparável, chama incessante. “No inferno, o corpo não me delimita, e a isso chamo de
alma? Viver a vida que não é mais a de meu corpo – a isto eu chamo de alma
impessoal?” (LISPECTOR, 1979:118). Se o corpo se desloca, flutuando sobre o
magma, em sua deriva, da mesma forma, o corpo do texto também sofrerá suas
comutações e abolições, rizoma.
Em cena que lembra a metamorfose kafkiana de Gregor Samsa em
69
Comentário: Inferno – Blake,
songs of experience, Dante?
inseto, no capítulo 21 da obra, após adentrar o reino subterrâneo, o quarto-minarete
agora se converte em outro espaço ainda, desta vez alquímico: o laboratório do inferno.
O capítulo é a preparação para o ritual de morte e transmutação do sujeito em nova
categoria de vida, e inicia com inversões paradoxais que prefiguram o ciclo de
fechamento de uma forma de vida e a abertura de outra, revelando ainda a
transformação abismal sofrida pela linguagem. A barata, com sua “máscara de ritual”,
dá tom ao movimento e apresenta-se como etapa preparatória da conversão de G.H.:
“amar mais o ritual de vida que a si próprio” (LISPECTOR, 1979:116), isto é, despojarse da vida que "é tão pouco cabível dentro de meu corpo” (LISPECTOR, 1979:118)
para tocar a fronteira do que “já não é eu”. Esta fronteira que delimita o fim do eu,
anuncia o início do outro. Trata-se do ritual pré-orgíaco, realizado no estado latente da
noite, “orgia do inferno”, evocação das forças da coletividade, que culmina na
“apoteose do neutro”.
Mircea Eliade aponta que o ritual orgíaco é celebração da hierogamia divina,
integração dos pares divinos Sol e Lua, Céu e Terra, etc., na qual a individualidade
humana se perde em nome da unidade viva. Experimenta-se o estado da
indiferenciação, estado primordial do caos que precede a criação. O ritual orgíaco
simboliza a reintegração do homem na unidade, estado também noturno, de maneira a
assegurar a continuidade da vida e quebrar as barreiras entre homem, sociedade,
natureza e divino. "O que estava fragmentado reintegra-se na unidade" (ELIADE,
1998:289).
A festividade noturna do “sabá” celebra a “alegria de perder-se no atonal” e tem
como guia o Deus neutro criado pela narradora que se parece muito com o Satã
dionisíaco, demolidor de diferenças e formas, ambos partes integrantes do ser, unidos
no ritual orgíaco da noite. O atonal é também o limite final da palavra, quando sua
70
Comentário: A questão, então,
passa pela metamorfose: torna-se
um pecado quase capital não estar
aqui o Kafka!!!!!
possibilidade de existir termina e chega a voz do silêncio.
No inferno neutralizante, a despersonalização do sujeito se acentua em
direção à sua total desumanização - esse o destino a ser cumprido. “O mistério do
destino humano”, diz G.H., é conhecer sua fatalidade e ter a “liberdade de cumprir ou
não” (LISPECTOR, 1979:120). E mesmo tendo a liberdade de escolha, fatalmente
escolhe-se realizar o “nosso destino fatal”, pois não cumpri-lo é ficar do lado de fora da
“natureza especificamente viva” (idem). Encontrar a medida da humanidade dentro da
espécie humana sem, contudo, “sufocar-se de acréscimos”, eis a tragédia de G.H. Para
cumprir seu destino deve habitar o “núcleo neutro e vivo” dentro da própria espécie
humana, e não pela manducação do inseto inumano, puro influxo da subjetividade na
radicalização da matéria sensível. Essa a hybris do próprio herói grego, conhecedor de
seu destino trágico, que se entrega ao combate e ao próprio erro de julgamento –
conseqüência de sua natureza humana - e o cumpre até o fim, mesmo que isso lhe custe
a vida, pois a queda evidencia as limitações de sua própria humanidade.
G.H. precisa viver sua desmedida, mesmo que só venha a saber qual sua medida
depois da queda; assim o trágico da obra clariciana. Sacrifício máximo. A barata, por
outro lado, não escolhe, já nasce com seu destino inumano e por isso não vive o erro, a
hamartia do herói. A marcha trágica da heroína deseroizada é cruzar a travessia do seu
destino cometendo a hybris que lhe garante o poder de visão da verdade e da vida.
“Mas de mim depende eu vir livremente a ser o que fatalmente sou. Sou dona de minha
fatalidade e, se eu decidir não cumpri-la, ficarei fora de minha natureza
especificamente viva” (LISPECTOR, 1979:120). A revelação da “missão secreta” da
vida depende da escolha feita, porque “se eu cumprir meu núcleo neutro e vivo, então,
dentro de minha espécie estarei sendo especificamente humana” (LISPECTOR,
1979:120). Esse o destino do homem: ser a vida em si como homem, sem ideais de
71
acréscimo, apenas subtração. “A despersonalização como a grande objetivação de si
mesmo” (LISPECTOR, 1979:170). Por isso, ao fim de sua trajetória, G.H. entende que
o caminho para cumprir esse destino é o da desistência da parte voluntariosa e
encharcada de humanização; que o verdadeiro trabalho a ser feito é a “gradual
deseroização de si mesmo”, pois é esta que “mina subterraneamente” o edifício. Até
que o homem não seja nem mesmo designado pelo seu próprio nome, já que, com a
destruição do sujeito totalitário, desaparece também a aspiração ao nome e a nova
condição passa a ser a de uma aspiração à palavra sem nome, aquela que é coisa. A
desistência, portanto, é “uma escolha”, “o verdadeiro instante humano. E só esta é a
glória própria de minha condição” (LISPECTOR, 1979:172). É no inferno que o
“primeiro esboço” do ser é revelado.
A obra clariciana, como obra poética e cosmogônica que institui a si mesma e
ao universo de que fala, constrói seus próprios significados, explicitados e autorizados
pela narrativa. Um deles é o sentido de mal associado a inferno, diabólico, demoníaco,
ao desejo de matar e, em última instância, ao pecado original. Essas idéias possuem um
universo próprio de significados dentro do texto, como parte de uma teia que entrelaça
cuidadosamente diferentes conceitos. Apesar de privilegiar o tema do mal no viés
psicanalítico, por meio da manifestação de uma “linguagem do sadismo” que
desconstrói a sintaxe tradicional e transgride a convencionalidade da narrativa para
exprimir o sujeito “pulverizado e descentrado”, Yudith Rosembaum destaca o conceito
de mal como força demolidora de um universo forjado no simulacro, que busca em sua
afirmação a “potência destruidora das estruturas acomodadas e conservadoras”
(ROSEMBAUM, 1999:19), rumo à transformação do ser e da linguagem.
O mal aparece como força potencializadora por destruir e pulverizar as
estruturas fixas e estáticas do ser, encaminhando-o à transformação. Thanatos é
72
Comentário: Meu Deus, CADÊ
O KAFKA!!!!!! É gravíssima esta
ausência!!!!!! Deus, Deus, o
Kafka!!!!!! Deus!!!!!
movimento vital e confrontação do mundo estagnado, que desorganiza o sujeito e a
narrativa, através do seu princípio disjuntivo e propiciador da diferença, nos termos de
Garcia-Roza (Garcia-Roza, apud ROSEMBAUM, p. 19). É através da manifestação do
mal que a tensão da narrativa é exposta.
A travessia pelo reino do diabólico dá ênfase à experiência do divino no
humano, através da qual o ser caminha por uma metamorfose existencial, em viagem de
autognose. A barata institui relação conflituosa com G.H., pois, nesse confronto, o
mundo humano da personagem desmorona e oferece a visão de uma “nova e angustiosa
realidade” (LISPECTOR, 1979:130). O homem começa a se abrir para a alteridade. O
desmoronamento do sujeito permite que outra forma seja dada à sua existência dentro
da realidade que se estrutura diante de si. Assim o é com a escrita. O conflito comporta
a luta entre a experiência vivida, que beira o indizível, e a palavra, de maneira a
encontrar a expressão que melhor defina o indefinido. Emerge uma das principais
problematizações do texto clariciano: como dar forma ao núcleo vital de força
propulsora da imaginação? A escrita, bem como o sujeito por meio do qual ela toma
forma, encontra-se dentro de movimento de constante destruição e reconfiguração.
Ao tentar dar forma àquilo que deseja nomear – o inominável - a palavra se
aproxima daquilo que quer designar - o indizível. Essa palavra será por isso
fragmentada, entrecortada, interrogativa, mas também repetida (note-se a repetição da
última frase de cada capítulo na abertura do capítulo seguinte, além de verbos em
diferentes tempos verbais e frases), numa busca incessante pela palavra que manifeste o
ser e as coisas, ou o ser das coisas. Em outras palavras, manifestar o que foi nomeado é
nomear a physis do que é verbalizado, ou seja, manifestar a totalidade da natureza na
singularidade do individual. A linguagem leva a palavra às ultimas conseqüências
matando a tradição da nomeação para que apenas o vigor do que está dado se repita, e
73
Comentário: Não te esqueças
de que diabólico é desviante. Citar
o “Inferno” , o Dante. Também o
Campos, “Poema em linha reta”
não o seu simulacro.
Durante a travessia pelo inferno, a personagem de A paixão segundo G.H. sofre
o impacto da força de duas emoções opostas que a envolvem e que serão o ponto de
partida para o desenvolvimento de outros pares opositivos: a atração e a repulsão pela
nova forma. G.H. perde-se e reconstrói-se em uma nova existência que visa a constante
auto-formação. “Caminho em direção à destruição do que construí, caminho para a
despersonalização” (LISPECTOR, 1979:169). O tema da busca da identidade introduz
uma dialética que se quer constante e interminável. Para atingir o mais profundo do
humano, há que se recorrer a um jogo de ocultamento e revelação da identidade pelo
forjamento de máscaras. Seguindo esse princípio, a narrativa se forma através do jogo
de contrastes lingüísticos e semânticos. Trata-se de um construir e destruir da narrativa
que, a cada movimento, revela mais nitidamente o ser e o não-ser do humano, bem
como a palavra e a não-palavra do texto. O jogo de fazer e refazer a si mesmo refletese, assim, na elaboração de uma escrita que reconstrói a si mesma, ao passo que abole
suas formalizações, inventando uma linguagem própria. “Eu tenho à medida que
designo – e este é o esplendor de se ter uma linguagem. Mas eu tenho muito mais à
medida que não consigo designar” (LISPECTOR, 1979:172). É no jogo de
mascaramento da verdade e da palavra que o enigma da natureza dual do ser e das
coisas se deixa entrever. O nomear a si e ao outro garante a existência das formas no
mundo interpretado pelas categorias do sujeito, mas desistir de dar uma forma ou nome
ao informe, e que por ser informe preserva sua força vital anônima, é reconhecer, ao
mesmo tempo, a impotência e o fracasso do sujeito ao tentar aprisionar o que é
indomesticável, além de reafirmar o caráter insubjugável da palavra poética. Por isso, a
palavra poética se aproxima do inexpressivo, prece de todas as preces e que, além de
não poder ser expressa, acima de tudo, é sagrada: “o mudo oratório inumano”
74
(LISPECTOR, 1979:156).
Mais uma vez Dioniso. Destruidor do homem humano, Dioniso, que é máscara
e deseja o homem verdadeiramente homem cuja vida implica morte, cuja força vital
surge do contraste de forças opositivas e complementares, mais uma vez introduz o
confronto, a presença da superfície e do aparente, no seu oposto, a ausência. O
encontro, do qual não se pode retroceder, promove o contato do permanente e imutável
com o transitório e movente, revelando que a natureza do real pertence ao domínio do
duplo.
Em outras palavras, o real é aquilo que está e não está ao mesmo tempo, o
visível e o invisível que somente a arte consegue capturar, simultaneamente alcançável
e inalcançável. Na mesma realidade, a presença esconde a ausência, e a ausência revela
a presença. E este movimento é um assalto às sensações, impondo a urgência e o eterno
enigma da dualidade. “Eu chamava ‘máscara’ de mentira, e não era: era a essencial
máscara da solenidade”, porque a solenidade vem do fato de que “viver é sempre
questão de vida e morte” (LISPECTOR, 1979:112). Os segredos do ser e do não-ser
assolam o homem de maneira monstruosa e selvagem, trazendo fascinação e loucura.
Para Carlos Mendes Sousa, o não-ser está próximo das referências ao que
é “mole” e “úmido”, que equivale ao “neutro vivo da coisa”, e é nesse indeterminado
que a identidade se perde, mantendo com a língua uma relação de intensa simbiose,
pois “a identidade se constrói tropologicamente como um efeito de linguagem”
(SOUSA, 2000:29). Sendo assim, a identidade se molda junto ao texto e à obra.
O espaço, portanto, torna-se um espaço heterogêneo: se, ao entrar no quarto,
este ainda é um quarto, ao passo que as digressões da protagonista aumentam, o
aposento passa a ser "quarto-minarete", “deserto”, “laboratório do inferno” e, depois,
“mudo oratório”. Se espaço e tempo assumem equivalência de valor dentro da obra,
75
também os dois sujeitos da narrativa (eu e tu) se aproximam (Mim és tu. (...) Mas eu
não é tu.). As delimitações se confundem e o sujeito só pode existir no outro se
abandonar a si e se direcionar ao interlocutor, como indicado pelo pronome oblíquo
mim. Eu e tu são pronomes pessoais que designam sujeito, mas mim é o eu em função
de objeto, é eu em direção ao outro, é eu-objeto. Só na interação de opostos
complementares é que sujeito e objeto podem coexistir. O eu-narrante não é o mesmo
eu-narrado.
O último momento contém em si o tema principal de toda narrativa catabática: a
metamorfose do ser em travessia que se revela como constante atualização e
reorganização em um novo sujeito, por meio do qual a união de pólos opostos acontece,
reconfiguração dos continentes. Se a fusão da relação entre sujeito e objeto se
desenvolve promovendo a não distinção de pares opositivos, no nível temático,
resultam conseqüências no nível da narrativa, com problematizações no encadeamento
sintagmático e discursivo, para os quais a indistinção temática é transportada. Nesse
sentido, o sujeito que constrói a narrativa é conseqüentemente por ela construído. Ao
narrar as identificações de pares opositivos, a autora concebe uma forma discursiva que
realça o caráter enigmático do texto e suscita novas associações. Uma das técnicas
utilizadas para dar fluxo a essas indistinções é a repetição, donde se tem que uma
enunciação repetida jamais terá o mesmo sentido que a anterior, será sempre variação.
A repetição se dá a partir de nomes, verbos e advérbios (no plano lexical), de estruturas
sintagmáticas (no plano sintático), estendendo-se na dimensão da frase, do parágrafo ou
Comentário: Deveria entrar
exemplo da repetição.
do capítulo, até atingir o plano semântico.
Ao tratar do tempo, Clarice é precisa: o tempo é o agora. Já em A paixão
segundo G.H., presenciamos a ruptura com as definições tradicionais do romance
prescritas pelo tempo cronológico e o avanço para além das minúcias do tempo
76
psicológico. A autora narra o tempo poético: “Era simplesmente agora” (LISPECTOR,
1979:76). O tempo é “superficial” e se propaga como em ondulações rítmicas no
espaço aéreo, além de ser descrito como “maduro” e “inchado” de transitoriedade. No
primeiro parágrafo do capítulo 12, a narradora não está a descrever ações ou contar
histórias. A exemplo do tema de Lispector, o parágrafo está a falar do próprio tempo,
questionando a noção eternamente mimetizada nos romances tradicionais. Quase não
há períodos com verbos de ação, e a maioria é construída com verbos de ligação, no
presente e passado, intensificando a criação de metáforas temporais. “Era assim: o país
estava em onze horas da manhã. Superficialmente como um quintal que é verde, da
mais delicada superficialidade. Verde, verde – verde é um quintal. Entre mim e o verde,
a água do ar. A verde água do ar” (LISPECTOR, 1979:76). O quintal é verde porque há
água, matéria fertilizadora. Porém se a água cessa e a aridez se impõe, o quintal deixa
de ser verde e vivo e passa a ser seco e estéril, como Otávio em Perto do coração
selvagem, como a vida anterior de G.H. O tempo da narrativa clariciana é o intervalo
entre dois estados do ser, entre um momento e outro, resultando na transitoriedade. Não
há “profundidade” no sentido cronológico, mas intermitência. Pausa na passagem do
tempo e abertura para a travessia do ser. “O tempo freme como um balão parado”
(LISPECTOR, 1979:76). O “ar fertilizado”, como que recipiente para o nascimento das
transformações do ser, cede espaço para as transições da paisagem interior que,
inevitavelmente, acontecem na escuridão da noite. Nas palavras do crítico:
É o abrir-se para a dimensão figural que vai ganhando terreno, de tal forma
que se produz um efeito de esbatimento – como que se desfocam ou se
diluem os indicadores de transição e as noites se abrem ao que nelas é o
noturno da noite ou o noturno do ser ou o noturno do não humano: sombra,
cegueira, insônia, interior, fluxo, fadiga, sangue, desrazão, excesso (Sousa,
2000:212).
77
Nesse sentido, verifica-se que a ação do romance é conseqüentemente nula, o
que permite a maior atenção do texto sobre as personagens. Como afirma Sousa, A
Paixão... é um romance de personagens no sentido de que a narrativa gira em torno da
vivência e experiência de transformação de cada um deles e não de ações
desempenhadas ao longo do processo de efabulação. No romance de 1964, a única ação
desempenhada pela personagem se dá no início do romance, quando esta se desloca de
uma parte do apartamento para os seus fundos e quando ingere a barata. Além dessas,
as ações são lentas e limitam-se ao ‘encostar-se na parede’, ‘sentar na cama’, ‘fechar a
porta’. A narrativa é alimentada pelos rompantes epifânicos dos personagens e suas
transformações interiores. O tempo é quase estático e sua superficialidade só vem
acrescentar à imobilidade que marca a passagem do tempo, a mulher e a barata. “Onze
horas não tem profundidade” (LISPECTOR, 1979:76); não há movimento assim como
não há designações para o silêncio, e tampouco para descrever o movimento interno do
eu. A linguagem é falha e superficial para relatar as revelações que acometem os
personagens. O período de tempo em que se passa a narrativa de G.H. acontece dentro
do espaço de uma manhã e que se torna o espaço do deserto, da vastidão, da linguagem.
Daí ser a narrativa de A paixão segundo G.H. escrita “autofágica” que narra o processo
do eu encontrando-se consigo mesmo e da palavra encontrando o silêncio. O deserto
figurado é também representação do vazio interior da personagem que, sentada sobre a
cama, desenrola seu monólogo no intervalo entre o estado de vigília em que se encontra
e o sonambulismo – intervalo onírico.
Tome-se como exemplo a imagem do fechar dos olhos. A primeira associação a
ser feita é com a cegueira. Nos contos e romances da autora, a cegueira é sempre sinal
de ruptura do ser, que resulta no aguçamento da visão do mundo e de si e,
conseqüentemente, em autoconhecimento. “Mas ser cego é ter visão contínua”
78
(LISPECTOR, 1997:217), diz o personagem Martim de A maçã no escuro. Por isso, a
cegueira também proporciona ângulos de visão que antes eram obscuros; oferece a
abertura de frestas escondidas anteriormente. O ‘ver pouco’, portanto, e o ‘ouvir quase
nada’ referem-se ao mergulho na escuridão (na penumbra) e no silêncio – espaços de
contato com o invisível e o indizível. A visão proporcionada pela cegueira é para
poucos, Édipos. Ritual iniciático. Uma vez mais, a tensão dialética se instaura: da
escuridão total vem a iluminação do mundo e das coisas. “Do mundo enfim úmido de
onde eu emergia, abri os olhos e reencontrei a grande e dura luz aberta” (LISPECTOR,
1979:50). Recupere-se aqui a figura da criança, aquela que se associa à noite, ambas
representantes do indiferenciado. Se a criança é o ser em constante formação, para
quem a segmentação ainda não se definiu e instalou, a noite é o espaço que dissolve as
divisões e as formas (assim será a escrita) e torna os seres (seja do mundo animal ou
vegetal) e as coisas, todos, semelhantes. Tornar a realidade distinta um espaço do
indistinto é instaurar a lógica relacional, na qual cada pólo de pares opositivos mantém
sua característica individual atuando, porém, em complementaridade com o seu oposto.
A linguagem transposta para o papel é consciência da experiência do real,
transmitida em símbolos, que não encontra articulação na língua por ser fugidia. O
momento de rompimento do ser de um estado anterior para a nova forma acontece
quando a consciência do eu atinge a existência do outro, ruindo com a estrutura
subjetiva imperativa e absoluta. A existência passa a ser possível apenas com a
condição de se incluir a existência do outro em via aberta de troca. “Mas se seus olhos
não me viam, a existência dela me existia – no mundo primário onde eu entrara, os
seres existem os outros como modo de se verem” (LISPECTOR, 1979:72). O olhar
devolve o outro.
Ao confrontar a barata, imediatamente verificam-se dois movimentos: o do
79
fechar os olhos, que indica movimento de escrita voltado para o sonho e para uma certa
ignorância benfazeja, e a realização do ‘crime’ de G.H.: matar a barata. Se a narrativa
clariciana gira em torno da temática do duplo, nesse capítulo, a barata é o outro que
emerge do subterrâneo da personagem. Junto a Janair, a barata se torna o duplo de G.H.
e ambas possibilitam o retorno daquilo que secreto deveria permanecer. Esse ‘outro’ é
só olhos e boca e também aquele que por meio do impulso de morte trará a vida
subterrânea à tona. Logo no início do sexto capítulo, o movimento de ‘abaixar ou
esconder os olhos’, isto é, o desvio do olhar, antecipa o movimento do fechar dos olhos
que seguirá à frente. Fechar os olhos para a realidade é também abrir as portas do
imaginário para o devaneio, segundo Bachelard. O sentimento de potência latente que
toma todo seu ser e sugere a ameaça iminente faz a personagem desviar o olhar. O
medo se agiganta e aprofunda e, como um caracol, retrai a personagem para o centro de
si. A retração a faz se concentrar no desejo embriagante do sujeito: o desejo de morte.
Como a barata é o duplo da personagem, o desejo de matar o outro se reflete no desejo
de matar em si para que a vida pulsante possa despertar. Portanto, o desejo de morte
não é do outro, mas de si por si mesmo, para que possa brotar aquilo que está encoberto
sob camadas arqueológicas profundas. A rapacidade é o primeiro sentimento de
voracidade que emerge do sujeito. O desejo de matar, junto com o sentimento de
rapacidade e a devoração, que mais tarde tomará forma, pertence ao que a própria
personagem chama de “entrega ao mal”. Esse mal é, como já foi dito, potência
destruidora que surge enquanto energia vital de transformação, assumindo papel de
centro irradiador de força.
No momento da concretização do golpe fatal, que não se realizará como tal,
acontece o fechar dos olhos. Nesse instante, a personagem pergunta-se não o que fizera
ao outro, mas o que fizera a si mesma. Se considerarmos que, precisamente nesse gesto,
80
Comentário: Meu Deus!!!
Outro Kafka, agora O processo!!!
a consciência do sujeito irrompe, podemos pensar que o golpe não matara, mas
acordara o que estava latente, isto é, a própria vida. O ato de matar promove a vida, em
vez da morte. Vida que é necessariamente ato de morte do estagnado, do rígido e do
velho. A dialética é princípio que rege toda a obra, alertando para o fato de que nada é
apenas o que aparenta. A palavra é plurissignificativa, polissêmica, transformadora e
contém em si mundos ocultos. “Que fizera eu de mim? Com o coração batendo, as
têmporas pulsando, eu fizera de mim isto: eu matara” (LISPECTOR, 1979:50). Esse ato
rompe o invólucro do ser verdadeiro e, junto ao abrir dos olhos, torna-se ato de
nascimento para um mundo reordenado e para o novo ser, no qual a esterilidade do que
era vida seca brota na fertilidade do úmido. “Ter matado abria a secura das areias do
quarto até a umidade, enfim, enfim, como se eu tivesse cavado e cavado com dedos
duros e ávidos até encontrar em mim um fio bebível de vida que era o de uma morte”
(LISPECTOR, 1979:50).
Ainda nesse mesmo capítulo, inicia-se um diálogo textual entre o duplo barataG.H. Ao erguer o braço na segunda tentativa de matar a barata, agora já preparada para
dar o golpe final e acabar com a vida do inseto, eis que se insere um movimento
cadenciado de alternância entre parágrafos que falam ora da barata, ora de G.H., para
no fim, incluir parágrafos que aproximam as duas, como que apresentando a interação
dual dos dois seres. Logo após o momento em que G.H. vai desferir o golpe final, a
mão que mata é suspensa em função da visão do rosto da barata. Em seqüência
altamente dramática, a mão erguida no alto lentamente se desloca à altura do estômago
da mulher. Segue uma breve descrição: o estômago recua, a boca seca, os lábios se
tornam ásperos, quase uma transmutação. O parágrafo seguinte inicia com a descrição
da barata. Instala-se a vertigem. “Era uma cara sem contorno” (LISPECTOR, 1979:51).
Observe-se, no entanto, que a partir de então, o que é dito da barata vale para
81
Comentário: Por que não o
Borges do El outro?
G.H.: o rosto sem contorno era também o rosto da mulher, que agora perdia a forma em
dissolução do eu. Segue a descrição da antigüidade da barata e de sua atualização
mítica. O que mais chama atenção é a boca: ela se insinua ante os olhos da mulher. O
parágrafo seguinte inicia com o olhar da narradora: “Eu nunca tinha visto a boca de
Comentário: E isto é poético.
uma barata” (LISPECTOR, 1979:51). A oração seguinte é bastante ambígua: ao dizer
que sempre “tivera repugnância pela sua antiga e sempre presente existência – mas
nunca a defrontara, nem mesmo em pensamento” (LISPECTOR, 1979:52), está G.H. se
referindo à barata ou ao seu eu verdadeiro que só nesse momento é confrontado, ou a
ambos? Os três últimos parágrafos mantêm a ambigüidade já vista. G.H. descobre que a
barata é feita de camadas de cascas que comprimiam todo o seu ser entre essas
“camadas finas de asas”. Não é ela também feita de cascas e mais cascas, as quais
formam um invólucro que agora é quebrado com a dissolução do eu? A barata se torna
então só olhos e boca. Olhos dentro de olhos dentro de olhos.
Vale dizer que os olhos do inseto aparecem como espelhos a refletir os olhos da
protagonista. Os olhos revelam, porém, o centro do segredo de si mesma e ultrapassam
a máscara. A temática do espelho não é nova e se apresenta como a vontade de
autoconhecimento. Porém, ver o eu verdadeiro é também confrontar a morte, pois a
imagem refletida implica revelação do oculto mediante aniquilamento do exposto, do
externo. Até que, metonimicamente, o olho represente toda a barata. E são olhos
radiosos, isto é, olhos que irradiam luz, portanto, da escuridão surge a luz que permite a
visão oculta dos iniciados. Além disso, abrem-se as portas para a metáfora da devoração
e da visão contínua.
A técnica da figuração confere movimento à progressão do romance que, com a
imagem do fechar dos olhos, possibilita a externalização e projeção do oculto e invisível
na forma de desenhos. Os motivos literários mantêm seus sentidos originais, sem deixar
82
de se misturarem, como na música, uns com os outros, em diferentes combinações em
direção a um desenvolvimento maior ao longo do texto. Um deles é o do espelho
representando o encontro do eu consigo mesmo, onde o herói vê a imagem universal de
si mesmo. O espelho revela primeiramente a personalidade dual ou plural, em suas
múltiplas facetas. O encontro com o eu verdadeiro, através do olhar dentro da alma do
sujeito, despoja o indivíduo de todas as suas mascaras e papéis de maneira que esteja
preparado para a transmutação final ou para a falha, o fracasso. Quer a alegoria do
espelho dizer com isso que o ser não é apenas dual, mas infinitamente múltiplo, sendo
cada uma de suas máscaras apenas fragmentos ou aspectos diferenciados de um único
ser, não o ser eterno, mas o eterno Ser, o Homem em sua integridade e completude?
Sendo assim, as personagens, constantemente intermediárias em conflito entre um
mundo de bipartições representado pela máxima sensibilidade da matéria ou pelo
máximo racionalismo do intelecto, viventes entre mundo real e mundo dos sonhos,
internalização aprisionadora e externalização opressiva, encontram a comunhão apenas
em si mesmas, na movimentação ininterrupta de despersonalização e despojamento do
universo bipolar para integração no universo complementar.
A presença do espelho mostra a natureza dual que pode sugerir a
correspondência platônica entre sujeito e imagem, universal e particular, real e ideal. O
reflexo do sujeito na água, no vidro ou em qualquer outra superfície que tenha as marcas
de anteparo, traz imediatamente à tona a idéia da bipartição entre mundos opostos.
Como ensina Freedman (FREEDMAN, 1971: 86), a alegoria do espelho pode se
aprofundar e a sua superfície tornar-se um palco onde se desenrola o teatro mágico. O
sujeito se torna a testemunha de sua própria vida fraturada em numerosas partes,
espectador e ator da sua própria história. O sujeito que olha é diferente do sujeito
refletido, que assiste à sua metamorfose em diferentes personas, até a máxima
83
despersonalização para o posterior ressurgimento em um ser único, uma única imagem
que contém todas as outras. A divisão na estrutura da vida real é substituída pela
integração na obra de arte. Se o espelho é recurso por meio do qual se refratam os
contrastes e oposições internas, mostrando os cismas e cataclismos de um mundo
dividido, com valores partidos e conceitos feridos, ele também reflete a imagem ideal
do ser, com a qual o homem pode se integrar e se transfigurar a partir da visão exterior
de si na imagem refletida no espelho. A jornada pelo mundo infernal do eu fragmentado
é uma viagem por uma janela infinita de espelhos e somente pela progressão contínua
de auto-retratos, máscaras desocultadas, até a desfiguração última é que o sujeito pode
encontrar o seu eu original.
É do contato com o inseto que surgem as núpcias negras entre o sujeito e o seu
Comentário: Desdobrar o uso
de “negras”.
objeto, ou entre humano e inumano, arcaico e contemporâneo. Esse casamento,
realizado pelo ritual de “missa negra”, é também matrimônio com o mal. Como foi
visto, para Rosembaum, em toda obra clariciana, o mal atua como força propulsora e
deflagradora do trânsito do mundo interno para o mundo externo das personagens, isto
é, força que impulsiona o ser para a comunhão com a alteridade. É através da
manifestação do mal que a tensão narrativa é exposta. O parto, que tem como fim
último o nascimento do novo ser, advém do contato com o mal, que já não é visto com
repulsa, porém como fonte geradora de vida:
Sem nenhum pudor, comovida com minha entrega ao que é o mal,
sem nenhum pudor, comovida, grata, pela primeira vez eu estava sendo
a desconhecida que eu era – só que desconhecer-me não me impediria
mais, a verdade já me ultrapassara... (LISPECTOR, 1979:49).
Romper o invólucro da barata era romper o seu próprio. Para descobrir o eu real
84
Comentário: A idéia de
verdadeiro eu pode soar
demasiado platonista. Assim,
talvez seja o caso de fazer
comentários mais detidos acerca
disto.
teria que assassinar a si mesma, já que o eu de agora reconhece que, ao criar o
simulacro, tivera que assassinar um dia seu eu verdadeiro. “Que fizera eu de mim?
Com o coração batendo, as têmporas pulsando, eu fizera de mim isto: eu matara”
(LISPECTOR, 1979:50). Para gerar vida seria preciso promover a morte. O assassinato
é o antídoto para a recuperação da vida que um dia fora aniquilada. No entanto, para
sua surpresa, G.H. defronta-se com a vida, em vez da morte que seu ato acabara de
anunciar. O ato de assassinar o outro e a si mesmo antecipa o que se verá nos próximos
capítulos: que o outro é reflexo de si mesmo. Ressurgem do caos a barata e G.H: “Ter
matado” era “como se eu tivesse cavado e cavado com dedos duros e ávidos até
encontrar em mim um fio bebível de vida que era o de uma morte” (LISPECTOR,
1979:50). E já então pode "abrir" "devagar os olhos", pois a visão lhe foi restituída.
A equação da narrativa de G.H. se estabelece por meio de inversões, onde uma
estrutura equivale ao seu oposto. Exemplo: “O que nela (a barata) é exposto é o que em
mim eu escondo: de meu lado a ser exposto fiz o meu avesso ignorado” (LISPECTOR,
1979:73). Nessa frase, resume-se a travessia existencial e narrativa de A paixão
segundo G.H.: o outro expõe o que há de subterrâneo no sujeito por refletir em si esse
avesso que nele, no outro, configura-se como real e não como avesso. Portanto, o
sujeito só passa a existir como sujeito verdadeiro quando incorpora o outro à sua
existência, já que a alteridade se mostra parte dele mesmo, persona. A barata não era
um rosto, “era uma máscara”. A barata expõe a máscara social de G.H. denunciando o
eu subterrâneo da personagem. Os olhos da barata, que confrontam e reivindicam a
verdade, como máscara dionisíaca, são dois “ovários” que “fertilizam” a esterilidade da
mulher morta, isto é, reivindicam a capacidade produtiva de inventar a vida a partir da
reinvenção de si mesmo e da linguagem. Os olhos que fertilizam são também
“salgados” – mar – traço recorrente nos textos de Clarice, que transfere característica
85
de fecundidade e vitalidade à esterilidade do deserto e da aridez. O desejo de ‘tocar
com a boca’ os ‘olhos salgados da barata’ não seria talvez uma variação do ato de Lóri
em Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres ao engolir a água do mar em busca de
fecundidade com a vida, como se o mar fosse o sêmen que promove vida? Nesse
deserto estéril, G.H. “descobria a vida e o seu sal” (LISPECTOR, 1979:73).
Depois do sal, a noite.
Lembramos que a noite é imagem precípua na escrita clariciana porque
representa o espaço de eclosão da fundação da escrita e do novo ser. É também vivida
como o meio de transporte na travessia do ser rumo às profundezas da experiência de
perda da individualidade e apagamento do sujeito. “Somos criaturas que precisam
mergulhar na profundidade para lá respirar, (...) só que minhas profundidades são no ar
da noite” (LISPECTOR, 1979:110). Respirar é a condição principal para a existência
da vida, e situação primeira do nascimento do ser, por isso a noite é entendida como
“nosso estado latente”, vida que acontece na dimensão noturna do tempo. A noite
habita o mesmo espaço que o inferno na trajetória de G.H., aparecendo inicialmente
como anunciação da transformação e traduzindo-se como a iniciação do sujeito no
reino do duplo domínio de opostos que se complementam. A entrada no reino infernal
da noite é também o momento no qual se cria o interlocutor ‘tu’, a quem se pede
auxílio durante toda a travessia.
Para adentrar este reino, representado pelo outro lado, G.H. tem que “atravessar
os portões que estão sempre abertos”, a partir de onde as distinções perdem seus
contornos e “não haveria diferença entre mim e a barata”, assim como não haveria
diferença entre “paraíso”e “inferno”. Esse espaço é caracterizado como o nada, o
núcleo, o pneuma, no qual a vastidão, ao invés de separar, une e complementa. Nesse
espaço não homogêneo, caracterizado pela noite e pelo quarto, o que antes era teto “se
86
arredondara e transformara-se no que me lembrava uma abóbada” (LISPECTOR,
1979:78). Oratório. É no espaço sagrado do oratório que se entoa o “cântico” “surdo”
em “ação de graças” pelo “assassinato de um ser por outro ser”. O “cântico surdo” é
também a escrita que tenta, em construções oximóricas e contrastantes, dar conta do
inexpressivo que narra. E é, por isso, ato de aniquilamento, “modo de relação” que se
estabelece em “ligação de ferocidade mútua”, tanto entre sujeito e objeto, como na
narrativa que aniquila a si mesma para fazer surgir outra narrativa. Palimpsesto.
A imagem da noite mescla-se com a imagem do dia, como se o caráter fundador
da noite atingisse também a claridade do dia. A travessia ao reino subterrâneo acontece
na luz diurna e não na escuridão noturna. Porém, se a noite originária do ser verdadeiro,
encoberto pelo subterrâneo do homem, é espaço de fundação do mundo e do ser nos
textos da autora, em A paixão segundo G.H. a vida acontece “à luz do sol”. A própria
narradora reconhece que o mundo que “se revolvia lentamente” no escuro da noite era
o mesmo que acontecia em suas “próprias entranhas”, sem diferenciação entre mundo
externo e interno, ou dia e noite. “Mas agora a vida estava acontecendo de dia” porque
a claridade da luz nada encoberta e a tudo ilumina. E na clareza do dia acontece o pacto
fáustico que leva à danação a alma sedenta de curiosidade. A troca de um futuro com
garantias, sob a construção tríplice do mundo externo, pelo conhecimento de si e do
mundo, que acontece somente no ato fulminante do instante de lucidez onde se deve
abandonar tudo, inclusive o futuro, para renascer em novo instante, é o pacto de G.H. A
metamorfose de G.H. acontece no momento de choque com o ‘já’, o ‘instante’, isto é,
com o agora que é ‘atualidade’ e reivindica toda a existência para reinaugurar uma
nova forma de vida, na qual a “hora de morrer” e a “hora de viver” se equivalem em
intraduzibilidade para o sistema lingüístico porque são fenômenos do real intocável. A
exigência da morte em vida, que só acontece no instante da atualização, coloca o ser em
87
contato com ele mesmo, pois “entre a atualidade e eu não há intervalo: é agora, em
mim” (LISPECTOR, 1979: 74). A atualidade, momento em que o ser se complementa
com os seus opostos, é inexpressiva, e por isso denuncia a falência da língua para dizer
o real, exigindo o nascimento de uma nova linguagem que expresse o nada, pois “a
hora de viver” “é o nada”. O nada é também o eu que primeiro se despersonaliza para
poder reassumir um rosto. “Aquilo que eu chamava de ‘nada’ era, no entanto, tão
colado a mim que me era... eu?” (LISPECTOR, 1979:75). Ao sucumbir, o eu conhece a
atualização. “Talvez eu soubesse que eu mesma jamais estaria à altura da vida, mas que
minha vida estava à altura da vida. Eu não alcançaria jamais a minha raiz, mas minha
raiz existia.” (LISPECTOR, 1979:75).
O presente do hoje, para a narradora, será o mesmo que o presente do futuro e
do passado porque se converte em espaço atemporal de atualização do ser. Para falar do
tempo contínuo, Clarice utilizará nesse romance o recurso que simula a utilização de
uma câmera cinematográfica ao abrir e fechar o foco de acordo com a cena e com o
olhar da narradora 7 . “O presente abria gigantescas perspectivas para um novo presente”
(LISPECTOR, 1979:103). A cartografia textual erguida por Clarice começa por referirse ao “último troglodita” “há cinco milhões de anos”, que habitava uma “montanha” e
que, por sua vez, depois de muita erosão, virou “área vazia” onde se ergueram
“cidades”, que foram povoadas por “diversas raças”. Do primeiro homem, “último
troglodita”, constituem-se raça e vida humanas, para depois colapsarem e, sob as pedras
desabadas, surgir aquele que, julgado morto, viria para reconstituir a nova vida e ser
novamente o último dos homens.
Se a narradora relata a passagem do tempo por milênios e civilizações até a
7
A escrita clariciana de parte da década de sessenta e toda a década de setenta deixa entrever
características de uma escrita de caráter híbrido, que mescla diferentes linguagens como a poética, a
filosófica, a jornalística, e variados recursos como o uso de cortes cinematográficos, reportagens, cartas,
diários, crônicas.
88
formação do ser em sua constituição atual, então esse novo tempo no qual G.H. é “a
primeira pessoa a pisar” é a “pré-história de um futuro”, isto é, o tempo do novo
homem. E assim como o real passa a abrir perspectivas para um novo real, o texto abre
perspectivas para o entendimento e a reescritura do próprio texto, pois o enigma
explica-se a si mesmo para logo depois repetir-se. A busca de si mesma é também via
de explicação do enigma e a resposta chega em “um cálice de ouro”. O cálice é o
tesouro da cidade. Se considerarmos a cidade como o texto, o último dos trogloditas
como o poeta, a área vazia e erosada como o papel e as diversas raças como os diversos
estilos e linguagens poéticas, podemos entender que a busca pelo cálice de ouro é a
busca pela palavra que é feita “de ouro e pedra” e também de “cascalho”. O texto é,
portanto um laboratório alquímico, onde se mistura o elemento mais puro e nobre ao
elemento mais impuro e adulterado. Para encontrar o tesouro, resposta do próprio
enigma, é preciso elaborar uma cartografia do texto. “Aquela cidade estava precisando
de um trabalho de cartografia” (LISPECTOR, 1979:104). Se a cidade for entendida
como texto 8 , onde as palavras são seus “habitantes”, é necessário desenvolver a leitura
da planta da cidade-texto para encontrar a chave de leitura do império clariciano. O
estudo dos mapas textuais revela os continentes, mares e bacias da escrita clariciana.
Imediatamente, com o distanciamento do olhar, erguem-se “blocos de edifício”
que formam “um desenho pesado ainda não indicado num mapa” (LISPECTOR,
1979:104). Novamente, o olhar da câmera oferece ao leitor a chave: procurando o
melhor ângulo que possa ver “os restos de alguma muralha fortificada”, do topo da
colina imaginária, os olhos da narradora e do leitor, em vista panorâmica,
‘circunavegam’ pela paisagem. E é de um “círculo em torno de semi-ruínas” que temos
notícia do segredo que esconde a resposta para o enigma: “ali poderia ter outrora vivido
8
Como sugere Sousa em relação ao texto de A Cidade Sitiada, por meio do jogo figurativo entre cidade e
texto, instala-se o jogo de decifração e mascaramento, envolvendo a construção e conseqüente demolição
da cidade-texto.
89
uma cidade”. Em outras palavras, o texto exposto oculta cifras que somente a “visão
imparcial” pode enxergar. A geografia da escrita forma um desenho que revela ao olhar
a linguagem hieroglífica constituidora de uma narrativa que comporta várias camadas
textuais, como o desenho na parede do quarto de G.H. Essas várias camadas são feitas
não só de imagens, mas de diálogos intertextuais com os grandes autores da literatura
canônica e intratextuais, com ecos de outras narrativas claricianas. Para reerguer a nova
cidade, isto é, o novo texto, é necessário derrubar os quinhões das construções antigas e
saber que “quando se derruba uma cidade” “muitas vezes, no meu trabalho ao
descampado, eu teria que partilhar meu leito com o gado”. Em outras palavras, no seu
ofício de artesã da escrita, quando se ‘demole’ uma estrutura rígida, perde-se o abrigo
do sistema organizado e inicia-se um trabalho órfão rumo à reconstrução de uma nova
linguagem. Nessa tarefa, são necessários também “uma perfuratriz de doze metros,
camelos, cabras e carneiros”, força motriz animal e maquinária, símbolo do impulso
criativo na obra clariciana. A narradora requisita a força da criação para que no subsolo
do deserto árido da língua, possa encontrar o “lago de água potável”, a vida submersa,
isto é, o texto submerso, a “taça de ouro” pela qual se frui a vida. É na “umidade do
deserto” que se encontrará a vida protozoária, puro neutro, necessário para o
desenvolvimento do ser verdadeiro. A arqueologia da língua de “velhas colonizações”,
antes mesmo da construção da tradição do pensamento ocidental, revela o
desenvolvimento de uma “agricultura próspera”, a mesma que se encontra no subsolo
interior do homem e fecunda a vida, na “região do medo”, aquela do enigma e não
separação dos contrários.
Entretanto, a consciência da narradora sabe que o trabalho de edificação da
nova estrutura em meio ao deserto passa necessariamente pelo aprendizado através do
erro, pois a “brecha” para o horizonte da liminaridade é a abertura para o erro se tornar
90
o caminho certo, “o caminho de uma verdade”. “O erro é um dos meus modos fatais de
trabalho” (LISPECTOR, 1979:108), diz a narradora. Nessa aresta se revela o
desconhecido e oculto, a “verdade” poética que não está sujeita às leis do entendimento
porque é mistério e por isso se torna maior e real. As bipartições humanas enquadram
as verdades (ou seria o contrário, as verdades bipartidas enquadram os homens?) e
impedem que se perceba a amplidão e indelimitação do real. O erro propicia o encontro
do homem com o real porque é lapso, desvio que os aproxima, oposto de justeza e
exatidão. “A verdade tem que estar exatamente no que não poderei jamais
compreender” (LISPECTOR, 1979:106), portanto, exatamente na falha. E a falha é
precisamente um ato humano inconsciente e que afirma seu caráter de humanidade.
Assim, o capítulo inicia-se com o desejo da amplidão, partindo do espaço restrito do
quarto, e termina com a amplitude do deserto, espaço originário que garante a conexão
com a fonte de vida e a memória do nada. O deserto se torna “terra além das regiões da
pastagem”, isto é, terra mítica, símbolo da primordialidade.
No capítulo seguinte, a narradora novamente restringe o olhar e volta-se para o
interior do quarto. A técnica do contraste entre amplitude e restrição do olhar tem um
sentido específico de uso, sentido esse que é exposto no capítulo dezenove e é revelado
pela própria narradora como chave de leitura para a arqueologia de sua escrita. Diz
G.H. que, mesmo em toda digressão anterior, “não estivera enlouquecida” ou fora de si.
Tudo é apenas um exemplo de decodificação da escrita hieroglífica, a mesma da
parede: uma “meditação visual” (LISPECTOR, 1979:108). Portanto, o que vem
fazendo ao longo de toda sua narrativa é meditar visualmente, isto é, associar o que a
meditação tem de mais perigoso – a reflexão e inteligibilização – e o que tem de menos
perigoso – a visualização de imagens que não requer palavras, categoria do sensível: “o
menos perigoso é, na meditação, “ver”, o que prescinde de palavras de pensamento”
91
(LISPECTOR, 1979:108). Desse modo, Clarice associa palavras a imagens na tentativa
de construir o conhecimento de si e do mundo revelando uma escrita sinestésica que
está para além do sistema lingüístico convencionado e que ganhará expressão máxima
na estrutura de Água viva..
Outro exemplo:
Sei que existe agora um microscópio eletrônico que apresenta a imagem de
um objeto cento e sessenta mil vezes maior do que o seu tamanho natural mas não chamarei de alucinatória a visão que se tem através desse
microscópio, mesmo que não se reconheça mais o pequeno objeto que ele
monstruosamente engrandeceu (LISPECTOR, 1979:108).
Ampliar a matéria microscópica é aprimorar o olhar sobre o que não é visível a
olho nu, método da escrita metonímica de Clarice Lispector, revelando a geografia
interna do texto. Clarice amplia o tema palimpsesticamente de modo que os diversos
assuntos que o preenchem sejam desocultados através de imagens que desenrolam
imagens que desenrolam temas e questões. Em que consiste essa técnica? Consiste em
enxergar além de um só lado, além das “visões puramente óticas” que definem “uma
cadeira” ou “um jarro”, que definem a realidade inteligível das coisas porque tal visão é
limitadora. O engano causado pelo entendimento apresenta-se como um dos “modos
fatais de trabalho” uma vez que a partir dele enxerga-se o lado oculto que se alimenta
do lado exposto da verdade multifacetada. A inadequação da linguagem clariciana que
causa estranheza e assombro no leitor mostra sua face oculta, onde a palavra foge às
categorias normativas, interferindo nas regras lingüísticas e provocando contraste
semântico. A inexatidão e o desvio são o solo onde a poesia mais se espraia.
No exato momento em que fala sobre o erro como método de criação, surge a
barata e, sem querer, o pensamento de que “a barata é comível como uma lagosta” –
92
prefiguração do erro que cometerá ao provar a massa branca do inseto. A esse
pensamento segue-se a imagem da noite que cai abruptamente sobre a escrita. A noite é
o meio de transporte do solilóquio que G.H. inicia. A ambigüidade da voz enunciadora
deste monólogo gera dúvidas sobre sua natureza: é a narradora falando, é a
humanidade, a barata? Diz a voz: “Há muito tempo fui desenhada contigo numa
caverna, e contigo nadei de suas profundezas escuras até hoje” (LISPECTOR,
1979:110). A mesma ambigüidade é transferida para o interlocutor que pode ser a
própria narradora, o leitor, o amante ou a mesma humanidade. Lê-se:
Se tu puderes saber através de mim, sem antes precisar ser torturado, sem
antes teres que ser bipartido pela porta de um guarda-roupa, sem antes ter
quebrados os teus invólucros de medo que com o tempo foram secando em
invólucros de pedra, assim como os meus tiveram que ser quebrados sob a
força de um tenaz até que eu chegasse ao tenro neutro de mim
(LISPECTOR, 1979:111).
Mas a manducação da barata refaz-se ainda como ato expressamente humano,
como aponta Souza, que violenta o ser ao tentar desumanizá-lo por meio da comunhão
com o sujo, sem conseguir, porém, atingir o transumano. “Eu não precisava ter tido a
coragem de comer a massa da barata. (...) Entendi que eu já havia feito o equivalente de
viver a massa da barata – pois a lei é que eu viva com a matéria de uma pessoa e não de
uma barata” (LISPECTOR, 1979:165).
G.H., ainda dividida entre uma condição anterior de simulacro e outra posterior
ao autêntico exprimir-se, incorre no equívoco de entender prematuramente que a única
maneira de “ser além do humano” é desumanizar-se na violência e voluntarismo
humano de ingerir o inumano da barata, ato de expresso fortalecimento da
subjetividade. Como indica Souza, o sujeito “não reconhece outra alternativa para
93
humanitas, senão animalitas” (SOUZA, 1989, 138-9). Somente depois do erro é que
entende que essa ação humana ainda repete o simulacro imposto pelo aprisionamento
do homem às categorias da individuação. Conscientiza-se de que para atingir o
“transumano” ou “inumano” dentro de si mesma, “núcleo neutro e vivo de força”, não
deve sacrificar outro ser vivente, mas unicamente sua própria forma humana construída
como simulacro. Somente depois da manducação, a personagem se liberta da
consciência metafísica e se entrega ao despojamento e sacrifício de si mesma. O
inumano é o humano fora da metafísica da subjetividade.
A condição em que se encontra, no estado intermediário de consciência e
onirismo, é a condição máxima para afastá-la do demasiado humano que atomiza o real
e enclausura o sujeito. G.H. deseja demover-se da consciência plena que compreende a
separação, as limitações e os segmentos da “carne cortada em pedaços” e distribuída de
acordo com as necessidades. “Ser é ser além do humano. Ser homem não dá certo, ser
homem tem sido um constrangimento” (LISPECTOR, 1979:168). Sua jornada está
cifrada na tentativa de dar forma ao informe, adentrando o reino do duplo domínio.
Entretanto, a forma humana que conhece não lhe permite ultrapassar as limitações, pois
“Antes, sempre que eu havia tentado, meus limites me davam uma sensação física de
incômodo, em mim qualquer começo de pensamento esbarra logo com a testa”
(LISPECTOR, 1979:10). O sensível transforma-se na própria barreira para o
pensamento, pois a “sentimentação” engrossa e intoxica. Diz G.H.: “A humanidade está
ensopada de humanização, como se fosse preciso, e essa falsa humanização impede o
homem e impede a sua humanidade” (LISPECTOR, 1979:153). A denúncia do falso
homem humano que limita seu próprio horizonte de humanidade é golpe mortal à
subjetividade exacerbada. O impedimento para a humanidade do homem é a sua
própria humanização.
94
Quando é lançada à desorganização, a personagem sabe que precisará dar
contorno ao informe e debate-se entre não “substituir a perda”, reconhecendo que
“fatalmente” sucumbirá “à necessidade de forma” originada do “pavor de ficar
indelimitada”, e a consciência de que “pelo menos eu tenha a coragem de deixar que
essa forma se forme sozinha”, numa tentativa de não-voluntarismo do sujeito. Se este
se mostra como o centro totalizador dos valores e decisões, então forjar uma forma
específica, uma verdade, é novamente pré-estabelecer o real. O esforço e a coragem de
G.H. de “resistir à tentação de inventar uma forma” (LISPECTOR, 1979:11) revelam a
preocupação em não recriar a terceira perna, que assume também a figuração de um
“alguém” para quem “fingisse escrever”. A coragem de G.H. consiste em manter o ato
não-voluntarioso de “usar um coração desprotegido e de ir falando para o nada e para o
ninguém”, sem forma pré-estabelecida.
O transumano consiste em ir além dos limites possíveis do humano sem deixar
de sê-lo, rompendo as margens demarcadoras da potência humana. Em outras palavras,
só se atinge o núcleo neutro da vida através do despojamento do humano dentro do
humano: sacrifício de si mesmo, alargamento máximo dos limites da visão e do
contorno do horizonte. “Mas agora, eu era muito menos que humana – e só realizaria o
meu destino especificamente humano se me entregasse, como estava me entregando, ao
que já não era eu, ao que já é inumano” (LISPECTOR, 1979:174-5). Esse seria o ato
máximo de divinização do homem. A manducação da barata não deve ser entendida
como sacrifício, como ensina o crítico, mas como o ponto máximo de negação do
humano. “Entendi que, botando na minha boca a massa da barata, eu não estava me
despojando como os santos se despojam, mas estava de novo querendo o acréscimo”
(LISPECTOR, 1979:165). O sacrifício de que fala a obra consiste em tornar sagrado
aquilo que não é, em afirmar a humanidade no humano.
95
Desistir é o verdadeiro instante humano. (...) Desisto, e terei sido a pessoa
humana. (...) Chego à altura de poder cair, escolho, estremeço e desisto, e,
finalmente, me voltando à minha queda, despessoal, sem voz própria,
finalmente sem mim – eis que tudo o que não tenho é que é meu
(LISPECTOR, 1979:172-3).
Fazer da complementaridade de opostos um projeto divino e gerador da vida,
tornar a separação uma comunhão sagrada, eis a travessia de G.H. O neutro é o duplo
integrado e a paixão de G.H. é o amor ao neutro, aquilo que liga o que está separado,
aquilo que é indiferente às delimitações. E o que é indiferente às bipartições e fronteiras
é o que devém, pois é sempre multiplicidade em fusão e movimento constante. O real
se torna divino porque todas as coisas possuem um neutro.
Segundo Benedito Nunes, há dois níveis diferentes de discurso no debate
suscitado pela escrita clariciana: o que versa sobre a linguagem e a arte, que indica o
caminho da narrativa rumo ao inexpressivo, e o que versa sobre a existência. Para o
crítico, a ruptura com o sistema, que engloba o esvaziamento do sujeito e da linguagem,
o contato com a identidade pura e a equivalência entre sujeito e objeto, constitui-se em
sucessivos atos de transgressão. O sujeito passa a existir no outro que é mundo, e a vida
reflete o sujeito a partir do seu desdobramento. Ensina o crítico: mim é o sujeito
refletido no outro e vice-versa; é a primeira pessoa existindo enquanto terceira pessoa.
“As asas mesmo do negror eu as uso e as suo, e as usava e suava para mim – que és Tu,
tu, fulgor do silêncio. Eu não sou Tu, mas mim és Tu. Só por isso jamais poderei Te
sentir direto: porque és mim” (LISPECTOR, 1979:126). Na ausência de sujeito, o
narrador fala com o outro, que é ele mesmo, porque sofre processo de identificação. Na
tentativa de exprimir essa identidade dupla, que seria a identidade pura, a narradora
chega ao limite da linguagem (ao inexpressivo) onde não pode mais narrar porque
96
atingiu o inenarrável e daí em diante o domínio não é mais da palavra, porém do
silêncio.
“Só que ter descoberto súbita vida na nudez do quarto me assustara como se eu
descobrisse que o quarto morto era na verdade potente” (LISPECTOR, 1979:46). Descobrir é retirar o véu que encobre, desvelar é desnudar o que antes era oculto. Nesse
caso, deixar a vida brotar no que se considerava morto é apenas desocultar o que estava
latente em potência, revelando que, na verdade, vida e morte fazem parte de um mesmo
todo. A ausência de cobertura vinda de dentro do quarto urge em G.H. o desnudar da
estrutura aprisionada em si mesma, e apresenta-se também como ato de retirar as aspas
que impedem a originalidade do ser e da forma em formação, além de eliminar o
movimento que encerra o ser em margens delimitadoras. O que mais chama atenção na
barata é o fato dela ser um inseto cujas origens não se pode especificar (é “imemorial”)
e, no entanto, exercer seu caráter de atualização: “elas se repetiam sem se
transformarem”. A visão da barata remete à infância (no contato da personagem com o
animal) e à memória de uma antigüidade mítica, tanto dos seres vivos como da escrita.
“Era uma barata tão velha como um peixe fossilizado. Era uma barata tão velha como
salamandras e quimeras e grifos e leviatãs. Ela era antiga como uma lenda”
(LISPECTOR, 1979:51). A barata é a existência na nudez. “Quando o mundo era quase
nu, elas já o cobriam vagarosas” (LISPECTOR, 1979:44).
Despersonalizar e assassinar o humano para fazer surgir o verdadeiramente
humano é ofício divino. É preciso matar a formação humana anterior (uma ilusão?)
para tornar a ser o que nunca fora: ela mesma. “O divino para mim é o real”
(LISPECTOR, 1979:164). No capítulo em que G.H. vê a barata “emergir do fundo”,
imediatamente as palavras “fundo” e “armário” tornam-se imagens especiais, revelando
o mundo psíquico, desconhecido e secreto do ser. O inseto que sai do armário torna-se
97
o duplo de G.H., “duas baratas incrustadas na barata”, ser original que emerge do
subterrâneo da personagem. O ato de esmagar a barata entre a porta do guarda-roupa
apresenta-se diante dos olhos do leitor como o parto do eu verdadeiro, já que a barata
“ia se modificando à medida que ela engrossava para fora". A matéria branca do inseto
pesa sobre seu corpo, tal qual carga (ou casa) que se carrega rumo à eliminação, e
anuncia a morte do homem velho que é nascimento do novo homem: a gravidez e o
parto da própria vida. O golpe de morte direcionado à barata não a mata e, por não
matá-la, faz irromper a vida que confronta o eu estéril de G.H. Cariátide imobilizada,
ela sustentava por cima do próprio flanco empoeirado “a carga do próprio corpo”. A
barata é o ser parturiente e sua massa branca é o fruto recém-nascido e sem forma,
visão denunciadora do nascimento de G.H., do novo homem.
A barata se revela como o eu-objeto de G.H., a alteridade altamente fecunda lembremos que os olhos da barata são descritos como dois “ovários” e como “olhos de
noiva”, além de denunciar o filho abortado de G.H., diga-se, a vida abortada pelo
mesmo ato voluntário que constrói (e destrói) a si mesmo. “É que eu olhara a barata
viva e nela descobria a identidade de minha vida mais profunda” (LISPECTOR,
1979:53). Daí o medo do confronto com a morte e com o ato de matar em declaração
explícita. Diz a narradora: “Eu me embriagava pela primeira vez de um ódio tão
límpido como de uma fonte, eu me embriagava com o desejo, justificado ou não, de
matar.” (LISPECTOR, 1979:49) O primeiro grito de vida desperta a nova existência, e
“desencadeia uma vida”, ameaça contida na palavra poética que inaugura a poesia,
suscita novas interpretações e sentidos de mundo e existência. “Se eu gritasse acordaria
milhares de seres gritantes que iniciariam pelos telhados um coro de gritos e horror. Se
eu gritasse desencadearia a existência – a existência de quê? A existência do mundo”
(LISPECTOR, 1979:59). O ser, ao dar seus primeiros passos, não se reconhece mais
98
Comentário: Isto é uma idéia
alquímica: mas será que cabe a
alquimia em tua reflexão? Talvez
não, talvez sim...
como personagem passivo, cujo enredo é traçado por outros e do qual só restam os
“escombros” de uma “civilização” fundamentada pelo subjetivismo exacerbado. O ser
revela a experiência da morte em vida. “Era como se eu já tivesse morrido e desse
sozinha os primeiros passos em outra vida” (LISPECTOR, 1979:59). Experiência de
solidão que se apresenta como gloriosa, repetindo o momento em que sozinho o sujeito
vivencia a descoberta do conhecimento e do autêntico exprimir-se.
O silêncio é como um bálsamo que cobre o corpo e batiza o novo ser. A água
sacia a sede do morto e o dissolve, abolindo sua condição humana. O ser não morre
definitivamente, mas adquire nova existência a partir da regressão à condição larvar.
Daí G.H. se descrever como um “protozoário”, representada pelos “cílios” que
contornam seu ser. A sede é o sofrimento do corpo que agoniza, e a água, o bálsamo
que prepara o corpo para a extinção da vida humana em favor de um novo nascimento.
O ritual de libação pelo silêncio inaugura a existência no nada e garante a comunhão
dos opostos.
A metamorfose do eu antigo no eu novo causa confusão e desreferencialização,
por meio da qual se perde e se ganha o ser. O abismo existente entre o nome e o que ele
designa é o mesmo que separa as iniciais do nome da personagem, apenas abreviações
do ser verdadeiro, do ser encoberto e latente. É a entrega ao Outro que viabiliza a
indelimitação da nova forma no abrigo do ser já reconstituído que já não possui mais
um contorno humano. O não-organizável – o novo ser em si que não permite a
organização rígida – não pode ser traduzido “em termos humanos”, dentro de uma
linguagem humana, porque o que se sucedeu não é representável no código lingüístico
rígido do homem. Há a necessidade de se criar outra linguagem – a do inumano – que
possa dar conta do inenarrável.
Assim, o código lingüístico recriado pela escrita clariciana desenvolve uma
99
Comentário: A metamorfose
também é alquímica. Ainda não
estou certo se cabe ou não a
alquimia em tua autora, talvez
suspeite que não.
estrutura dorsal única e inconfundível: inventa-se a linguagem do neutro, que em Água
viva se desenvolverá como a linguagem do it, para se falar da indistinção de formas e
do ser deveniente. Contudo, para se erguer a nova organização, é preciso que a
“superestrutura” tombe, a mesma que é entendida como montagem humana ditada pela
repetição de modelos idênticos vindos de fora e não pelo desenvolvimento do ser
verdadeiro em sua potência máxima. Essa é uma condição não apenas da personagem,
mas de toda uma estrutura humana que “havia séculos vinha acontecendo”, desmontada
por G.H. e pelas grandes personagens claricianas, já que o drama existencial vivido por
G.H., bem como por Joana, Lóri, Martim, entre outros personagens de contos e
romances da autora, é o drama da existência humana enclausurada e fragmentada em
compartimentalizações, afastadas do centro vital e do contato com a alteridade.
Reconhecer a queda, aceitá-la e escolhê-la consiste no sacrifício de si mesmo,
do próprio nome (que, mais uma vez, designa), enfim, do que é pessoal. A queda é o
ato máximo de vida, a verdadeira “condição” humana possível e desejada, a “missão
secreta” do ser de todos os seres. E isso “era quase um nada” (LISPECTOR, 1979:173).
É a partir da queda interior que a personagem reconhecerá dentro de si o rosto de
criança que revela o nascimento da nova existência, assim como só encontrará a
linguagem primordial representativa do ser em formação ao abolir o expressivo e
reivindicar o inexpressivo. Este, também silêncio, constitui o outro lado da palavra,
necessário para fazer emergir o ser e a palavra originários. Por isso, a narradora inicia o
último capítulo dizendo que “A desistência é uma revelação”. Desistir torna-se o
“grande sacrifício” porque é abrir mão da força – qualidade daquele que subjuga - e
permitir que o mundo caiba nas mãos dos fracos, dos adoradores. Desistir é o único ato
voluntarioso que não é violento e segregador por natureza (“Desistir é a escolha mais
sagrada de uma vida”) é, na verdade, quase o seu oposto, renúncia, eliminação da
100
Comentário: Falar da queda.
Portanto, do conhecimento, duma
outra ciência.
subjetividade - categoria esta que garante o direito de posse (“poder de construção”) e
reitera a totalidade ditatorial e exclusivista do sujeito. Desistir é renunciar à pessoa
humana forjada pelo falso e pelo nome, agente totalizante do sujeito pelo caráter
classificatório, excludente e desagregador que carrega em si. “Eu tenho à medida que
designo” (LISPECTOR, 1979:172) – ter é característica altamente subjetiva e
cumulativa (o acréscimo).
A característica de ter também pode transferir sua cumulação para a palavra: a
linguagem do acréscimo é a linguagem do superficial, do convencional e do totalizante:
“A linguagem é meu esforço humano”. “À medida que designo” revela a medida da
representação, da denominação ou dominação daquilo que não se deixa aprisionar. Se
com a designação busca-se a representação do real e, contudo, obtém-se o erro,
podemos pensar que a constatação da realidade é tarefa quase impossível já que o real
escapa e não se deixa encarcerar, cabendo ao homem apenas a tarefa de realizar ou
viver o real. “A realidade é a matéria-prima, a linguagem é o modo como vou buscá-la
– e como não acho” (LISPECTOR, 1979:172). O fato de não achar o objeto de cobiça
promove, mais uma vez, o ato de renúncia (agora talvez não dependa mais do sujeito) à
tentativa de aprisionamento e classificação do que é estado bruto. Não encontrar é o
golpe final no sujeito que, respaldado e inchado de suas certezas, crê encontrar uma vez
mais aquilo que suprirá a necessidade de dominação e o gozo de subserviência tão
íntimos à subjetividade.
Desse ritmo do buscar e não encontrar nasce o desconhecido, característica do
que ainda não caiu nas dependências e garras do sujeito racionalizador. “Mas é do
buscar e não achar que nasce o que eu não conhecia”. O prêmio do homem verdadeiro,
o seu “tesouro que está escondido onde menos se espera, que é só descobrir”
(LISPECTOR, 1999:20) é o nada, desistência e abdicação da subjetividade totalizante.
101
O destino do homem verdadeiro é voltar “com as mãos vazias” do orgulho humano,
porém cheias do “indizível”, do sagrado, do nada, da ausência de sujeito e de vontade.
O fracasso da palavra, por meio do despojamento da linguagem, que acompanha o
despojamento do sujeito, permite a rachadura que leva ao desmoronamento da
construção, a abertura para o plurissignificativo, o outro lado da palavra que não se
quer explicativa e delimitadora, porém libertária e revolucionária. “O indizível só me
poderá ser dado através do fracasso de minha linguagem. Só quando falha a construção,
é que obtenho o que ela não conseguiu” (LISPECTOR, 1979:172) e o que não
conseguiu é o segredo escondido, a forma primária e original do ser e da palavra. Digase de passagem que a construção do sujeito é a mesma da linguagem. O que se ganha
não é definível em palavras porque o que se ganha é a si mesmo e ao próprio texto. “A
via-crúcis é a passagem única”, profundidade e verticalidade, instrumento e meio,
provação que aflige o ser, mas que lhe garante “o gosto do vivo”.
Somente na fase de pós-liminaridade G.H. entende, unindo o inteligível ao
sensível, que o ato de botar a barata na boca foi “ato ínfimo”, isto é, ato inferior e
baixo, “não o ato máximo” que é “heroísmo e santidade”. Apesar disso, esse ato é
fundamental para o processo de desvelamento do ser, pois se o sujeito é lançado na
mais rasa existência, no abismo do eu, é precisamente essa descida que promove a
subida às alturas do ser sem limites. A idéia nietzschiana de abismo converte-se na
descida ascensional: “subida horizontal” de G.H. O movimento de subida implica o seu
oposto, bem como para ser era necessário, antes de tudo, permitir-se não-ser. “Tudo
estará em mim se eu não for; pois “eu” é apenas um dos espasmos instantâneos do
mundo” (LISPECTOR, 1979:174). Outros espasmos podem se apresentar na forma do
outro ou mesmo da natureza. Se a vida não tem somente o sentido humano e é
entendida como além-horizonte, ela perde as medidas humanizadoras que asseguram
102
apenas a fragmentação do real e assume a dimensão de um todo “inumano”. Agregar-se
na e à desagregação é a verdadeira entrega e reinserção em si mesmo e na roda
primordial da vida porque o “ultrapassamento” jamais “exclui”. O ser reintegrado à
vida e a si é visto agora como amplo e restrito ao mesmo tempo, movimento de sístole
e diástole, pneuma humano: “Eu estava agora tão maior que já não me via mais. Tão
grande como uma paisagem ao longe. Eu era ao longe. Mais perceptível nas minhas
mais últimas montanhas e nos meus mais remotos rios” (LISPECTOR, 1979:175).
103
CAPÍTULO II
2.1 DA MEMÓRIA DE EROS COMO ENCENAÇÃO DE UMA TRADIÇÃO
Na história das artes e da literatura, o mito sempre existiu como formador de
imagens e na literatura do século XX, século apelidado de “era mítica” por Hermann
Broch (WHITE, 1971), o retorno ao mito, seja pela recuperação de formas antigas, ou
por referências, citações, diálogos, seja como produto da psicologia, atua na construção
de uma memória e no contraste entre dois universos distintos. O paralelo mitológico
realizado pelos romances do século XX aparece como um motivo na obra, descrevendo
o mundo moderno a partir de modelos da Antiguidade. A diferença entre obras míticas e
obras com motivos mitológicos consiste no fato de que as primeiras permanecem no
mundo dos mitos e fazem dele o seu princípio estrutural e articulador e a obra se torna
uma cosmogonia poética, na qual mito e poesia se fundem. Entretanto, incluir motivos
mitológicos não significa necessariamente criar ou ressuscitar um mito, mas utilizá-lo
como prefiguração literária para a crítica do mundo moderno e de seus valores estéticomorais e histórico-sociais, uma vez que tais prefigurações podem se apresentar como
um sistema analógico de comentários simbólicos.
Uma vez que o mito é formador de imagens e empresta plasticidade à
linguagem, o romance moderno encontra na mitologia e tradição antiga a porta para o
diálogo entre novos valores e novos símbolos erguidos por esse mesmo mundo
moderno. O romance, depois de consolidar um novo estatuto para a linguagem por
influência do Simbolismo e, pouco depois, pelas vanguardas do século XX, ganhou
independência formal e estatutária, libertando-se das tradicionais normas literárias.
Parte dessa transformação ocorre por conta do surgimento do sujeito evanescente, que
104
se apaga dentro de sua fragmentação e que recolhe, na linguagem, as estratégias mais
distintas para dar conta desta nova condição. À parte o trabalho com a forma, o romance
encontra-se livre para introduzir metáforas, referências explícitas a mitos, diálogos, que
funcionam como motivos prefiguradores para a problematização da função estética da
linguagem e para a criação de mensagens. O romancista introduz seus motivos por meio
de referências ou analogias de modo que uma determinada situação moderna seja
enfatizada e convide a leitura à interpretação de novas experiências sob a luz de fontes
tradicionais.
Portanto, o papel do mito dentro da ficção passa a importar mais do que o mito
em si, uma vez que atua como um padrão gradualmente revelado pela referência a
personagens, por títulos ou capítulos pontuais que introduzem um determinado motivo
de forma a explicar outros possíveis capítulos ou eventos, ou por algum comentário
inicial do narrador ou personagens, por citações, nomes alegóricos, com a função de
realizar a crítica à tradição. Em Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres Clarice
Lispector transforma a herança mítica grega em nova mitologia, reinventando os
próprios referentes e efetuando uma crítica ao legado cultural perpetuado por essa
mesma tradição. Neste capítulo, buscarei mostrar como a autora manipula a tradição
pedagógica da iniciação amorosa herdada do platonismo, a partir do casamento
simbólico entre Lori e Ulisses, reencenando o mito do nascimento de Eros e propondo
uma aprendizagem amorosa que inverte os termos dessa tradição. Para isso, mostrarei
como a figura mítica de Eros nasce enquanto força teogônica nos versos de Hesíodo,
adquire função filosófica e pedagógica por meio da maiêutica platônica e como é
introduzida no cenário da narrativa clariciana como potência cosmogônica, desnarrando
a função moral inculcada pela tradição.
105
A verdadeira “contribuição do pensamento” oferecida pelo escritor, de que fala
Antonio Candido em “No raiar de Clarice Lispector”, que assegura a durabilidade da
obra e realiza a síntese entre um movimento de pensar a linguagem associado à
sensibilidade no tratamento dado a essa linguagem, estabelece-se na obra de Lispector a
partir do que a autora chama de “pensar-sentir”. Na crônica “Sensibilidade inteligente”,
publicada em 1968, Lispector explica o que entende ser a característica que diferencia
sua forma de escrita. Diz a autora que em seu processo de escrita e relação com o
mundo usa esta sensibilidade inteligente como uma sensibilidade que “não só se
comove” como também “pensa sem ser com a cabeça” apenas (LISPECTOR,
1994:152). Na mesma página, talvez em crônica que dê continuidade ao pensamento
desenvolvido na anterior, intitulada “Intelectual? Não”, ao pensar o que significa ser
intelectual, Lispector diz não se considerar intelectual porque usa a intuição e o instinto
e não apenas a inteligência racional, uma vez que a intelectualização é viver fora do
corpo. A compreensão “atrás do atrás do pensamento” que a narradora de Água viva
ensina e que toda a obra clariciana busca desenvolver consiste em fazer a experiência do
pensa-sentir pelo corpo, absorvendo-a em cada célula. Longe da intelectualização e
também do excesso de sentimentação de que a narradora de A paixão segundo G.H. vai
tratar. Porque “ser intelectual é, sobretudo, usar a inteligência” (idem) e “ter cultura”. E
conclui afirmando: “sou tão má leitora que, agora já sem pudor, digo que não tenho
mesmo cultura” (LISPECTOR, 1994:152). Assim é que ao se considerar alguém que
utiliza a sensibilidade inteligente para “pôr em palavras um mundo ininteligível” (idem,
153), entendo que a obra de Lispector busca desocultar não só a psiquê do homem, mas,
sobretudo, pensar a cultura a que pertence e a tradição na qual está inserida.
A poética elaborada pela narrativa clariciana, portanto, projeta em sua escritura a
desorganização de um complexo cultural que estabelece as interdições e leis que regem
106
as relações do homem no mundo. Exercendo o papel de crítica definido por Machado de
Assis em “Ideal do crítico”, Clarice conhece muito bem a matéria de que fala e a
descarna a tal ponto que apresenta a ferida ao leitor, que não sabe o que fazer diante do
assombro. Segundo Machado, a obrigação de todo crítico é “saber a matéria em que
fala, procurar o espírito de um livro, descarná-lo, aprofundá-lo, até encontrar-lhe a alma,
indagar constantemente as leis do belo” (ASSIS, 1959:17), com a diferença de que a
crítica realizada por Lispector é a do Livro do Mundo, a da tradição do dualismo
antagônico psicofísico presente na filosofia platônica, na tradição mítica da Grécia, na
moral judaico-cristã e na tradição literária da escrita canônica. A exemplo do próprio
Machado, a crítica a que se refere não é apenas a do profissional (ou intelectual, como
queiram) – o crítico literário – mas fundamentalmente a do escritor envolvido com o
pensar, com a cultura, com o fazer literário, com a tradição; com a invenção, as
doutrinas, a história, as belezas e os senões. Só assim o gosto se apura e educa, e a
literatura pode sair mais “forte e viçosa, e se encaminha(r) para os altos destinos que a
esperam” (ASSIS, 1959:137), possibilitando, portanto a “criação superior do espírito” à
qual Candido fará referência, em um texto crítico que aponta Clarice Lispector como
um dos poucos autores de superior criação que seguiram as pistas deixadas por
Machado.
Portanto, a desconstrução realizada por Lispector institui o alargamento da
língua e dos valores da cultura do Ocidente, fissura aberta que revela a instauração de
um ato genesíaco, instituidor do novo e do genuíno. Este gesto não é mera repetição da
origem ou a nostalgia de um passado originário que não pode ser mais recuperado e que
veria na poesia a porta para a sua renovação. O gesto consiste em reatualizar o que é
inaugural, não apenas pela recuperação e construção de um mito novo e próprio, de
modo a repetir o gesto originário, mas pelo diálogo realizado entre passado e presente e
107
uma possível e desejada operação mútua de alteração. A cada nova reatualização do
inaugural pela cultura, instaura-se um dado novo que provoca conseqüências e
alterações no próprio mito.
A desmontagem de que trata Lispector em Uma aprendizagem ou o Livro dos
prazeres não diz respeito apenas à reformulação da subjetividade. Toda a obra
clariciana é uma desmontagem da cultura teísta judaico-cristã que cultua o dualismo
psicofísico, da noção de indivíduo burguês e da introjeção do sacrifício instituídos no
pensamento ocidental e que levam ao esmagamento de tudo o que é vivo e natural.
O estabelecimento do pensamento racional implica o aniquilamento do vínculo
entre homem e natureza. Sexo, corpo, matéria são elementos desvalorizados dentro da
vertente teísta mencionada, que funda a sociedade patriarcal, uma vez que a razão mata
tudo aquilo que é sensível. A cultura cosmobiológica, herdada do mundo mediterrâneo,
entende que transcendência e imanência são experiências equivalentes não dissociadas
no mundo do vivo e que o universo não é uma criação de Deus, mas uma manifestação
da matéria divina, que se transforma de acordo com o aspecto que este Deus assume em
determinada cultura. Deus é entendido como ser cósmico e por isso encerra em si
espírito e matéria como elementos constitutivos do homem. Assim, torna-se um aspecto
do mundo que varia em cada cultura e, no caso das obras literárias que ressignificam o
mítico, o universo poético fundado por cada autor pode aparecer sob o efeito de um
determinado sortilégio. É o caso da obra fragmentária de Safo de Lesbos, na qual
Afrodite se mostra como a potência que no mundo mediterrâneo aparece como
divindade cosmobiológica. No universo poético sáfico, a divindade surge como força
que provoca a erotização de tudo e reestabelece o vínculo entre homem e natureza,
através do qual qualquer esfera humana é erotizada. Mas esta potência não se satisfaz
com o imanente apenas e se apresenta como a divindade que sacraliza o corpo, o
108
Comentário: Desnarracao do
mito do homem como centro, que
aniquila o sensível pq transforma
em conceito, transformar imagem
em conceito para colocar o
homem no centro de tudo,
vontade de poder.
espírito e o próprio Amor. Entretanto, no mundo grego e depois latino, formadores da
civilização ocidental, Afrodite começa a se apresentar com uma divisão interna que
segmenta toda a relação estabelecida com o corpo desde então. Já se vê a divindade em
duas formas distintas: Uranos ou Celeste; Pandemos ou Vulgar. Clarice Lispector
representa ficcionalmente o drama de uma polaridade vivida pelo indivíduo que o
fragmenta e oprime sua subjetividade, desvendando a encenação do mito de Eros nas
vertentes teísta e cosmobiológica e buscando a realização total da força erótica que
rompe com a tradição do dualismo antagônico psicofísico na relação amorosa entre Lóri
e Ulisses, em seu romance de 1969.
Buscarei mostrar de que modo, em Uma aprendizagem..., a memória de Eros
atua na construção do sujeito, do real e da linguagem, uma vez que esta obra se constitui
em torno da cena central que recompõe o mito cosmogônico do nascimento de Afrodite
em linguagem ecfrástica, iniciando portanto pelo primeiro dos textos arcaicos de que se
tem notícia e que narra a gênese do mito e do universo dos deuses gregos: a Teogonia,
de Hesíodo. Como diálogo intertextual, observarei de que modo Uma aprendizagem...
recupera uma memória literária que recompõe o mito cosmogônico do nascimento de
Afrodite 9 narrado por Hesíodo, reelabora a divisão entre finitude e infinitude humana e
repensa a importância de Afrodite e Eros no desenrolar de uma literatura dos sentidos e
do sensório, isto é, da experiência do corpo.
Apesar da obra de Lispector pertencer a um período literário profundamente
marcado por narrativas intimistas e romances psicológicos, a força com que nasce e
instaura seu reino dual faz surgir um universo bastante complexo e delicado, que
9
Em artigo intitulado “Aprendizado de Clarice Lispector”, nos idos de 1975, em que realiza uma leitura
de Uma aprendizagem ou o Livro dos prazeres, Lucia Helena já apontara que a personagem Loreley
“guarda do símbolo elementos de sua vertente mítica” como, por exemplo, “o relacionamento com o
mar”. (LUCIA HELENA, 1975: 102).
109
conjura os espectros do maravilhoso em seu conteúdo terrível e sublime, encantado e
mágico, transportando mundo e ser do Não-Vivo para o Vivo.
No estudo dos mitos e ritos dos deuses gregos realizado por Walter Otto em
Dionysus, Myth and Cult (1981), verifica-se que a evolução das representações dos
deuses, na verdade, não pode ser explicada pelas escolas da antropologia e da filologia,
por exemplo, uma vez que para falar da existência de uma deidade grega o discurso
evolucionista mostrar-se-á mais interessado no estudo de formas simples ou complexas,
mas não na evolução que surge do Não-Vivo para o Vivo. Isso ocorre porque a crença é
a fé em um Ser existente, como Dioniso, ou Hermes, ou Afrodite, e não em um conceito
de deus. Portanto, a crença em um Ser Vivo era a crença em uma Substância, um Algo,
uma coisa vivente, com existência verdadeira e, nesse caso, as características que davam
personalidade aos deuses – que para as escolas mencionadas não passavam de idéias
acrescidas e desenvolvidas a partir do modo de vida dos seus cultuadores – seriam
sempre as mesmas, reveladas pelo mito, e não apenas estágios evolucionistas. Portanto,
generalidades veiculadas por locuções adjetivas como “Dioniso – o deus da vegetação”
ou “o deus da morte”, quando aplicadas às deidades vivas, dão origem a conceitos e não
a uma existência gerada pelo Vivo, uma vez que somente essa condição poderia
preencher as exigências da devoção e do espírito, erigindo as formas do culto e
motivando o espírito criativo da genialidade grega. (OTTO, 1981: 7-11).
Otto, portanto, estuda o mito de Dioniso sob um viés que pensa os deuses gregos
como aspectos do mundo, de modo que o mundo não foi criado pelos deuses, mas cada
um deles se transforma no próprio mundo, de acordo com uma determinada força, e por
isso constitui-se como o próprio mundo. E o universo todo pode estar regido pelo efeito
de um poder – para Afrodite é o poder de Eros, para Hermes o da morte, para Dioniso é
o mundo revelado como complementaridade dos contrários.
110
Se o culto se tornou a testemunha da crença religiosa, o mito nada mais é que
pura poesia (idem, 13). Otto deseja denunciar o pensamento corrente entre os mitólogos
de que o propósito do culto, na Antiguidade, girava em torno da obtenção de benefícios,
recompensas e favores dos deuses cultuados por interesse pessoal pelo homem
religioso, o que revelaria um comportamento bem conhecido do mundo moderno e
capitalista que retrata a relação patrão-empregado. Assim, os conceitos de utilidade e
interesse estariam na base da prática religiosa e serviriam genuinamente como razão
suficiente sob os olhos dos estudiosos modernos.
Se assim fosse de fato, como explicar então o assombro, o êxtase e a devoção do
homem diante da palavra “Deus” na Antiguidade? Assim é que a dimensão do
assombroso, resultante do maravilhoso, perdeu-se no mundo secular virando apenas
dogma. E, sendo o mito simplesmente poesia, e não um ato arbitrário da imaginação,
pode-se dizer que o mito (o mito para Derrida é aquilo que se repete e será sempre
repetido mesmo que o homem não saiba) era algo vivo por si mesmo, como a poesia,
preenchido do espírito da verdade artística que, nesse momento, se confundia e fundia
com a verdade religiosa. Poetas da Grécia antiga como Homero, Hesíodo e, mais tarde,
da poesia mélica como Safo, Alceu, Anacreonte, tinham como premissa básica o mundo
do mito. Os cultos, por sua vez, pressupondo a existência do mito, constituíam-se como
uma realidade viva, contendo representações de acontecimentos míticos e não simples
imitações. Assim é que Otto elenca o culto como uma criação humana que, junto à
arquitetura, à poesia, à arte e à música, uma vez serviu à religião, constituindo uma das
linguagens pela qual o homem fala ao divino, não por outra razão senão a de um
impulso maior que ele, que o coloca em estado de entrega, de devoção e de assombro. O
homem se curva diante do maravilhoso e enche seu peito, suas mãos, seu espírito do
poder criativo que dirige seus atos. Catedrais, templos, poemas, esculturas, pinturas,
111
sinfonias, formas plásticas e sonoras engendradas pela mente e pelo espírito do homem
embevecido pelo maravilhoso são tão somente expressões do homem tocado pelo divino
(OTTO, 1981:18-19).
A intertextualidade sutil que permeia o texto clariciano leva o leitor e o
pesquisador um pouco mais além do reino do subjetivo psicologizante a que remetem os
manuais de literatura. Como aponta Eduardo Prado Coelho, “não se trata de produzir
uma gramática das substâncias psicológicas ou sociológicas que definem estas
personagens, mas de inventar, a partir delas, dos seus movimentos e velocidades, das
suas paralisias e precipitações, uma geometria dos afectos” (COELHO, 1984:203). Sem
dúvida a obra de Lispector trata de sujeito, identidade, real e imaginário – categorias
que certamente passam pelo filtro psicológico e pelas dimensões interna e externa do
mundo, categorias dadas ou descobertas pela cultura e que dividem o mundo em
segmentos bem definidos e opostos; essas mesmas dimensões que não são inerentes à
natureza humana, mas que apreendemos pelo exercício da cultura. Esse universo
dicotômico, no entanto, não é o mesmo presente no mundo arcaico e mais
especificamente na obra de Hesíodo, o que coloca uma distância quase intransponível
entre o contemporâneo e o arcaico.
No entanto, a obra de Lispector evoca um deslumbramento, um fascínio que
reencanta o mundo dentro de um profundo desencantamento do mundo. Com isso,
desenvolve-se uma narrativa que reencena o tumulto que o mistério causa à razão,
“acontecimentos que nenhuma narrativa pode contar” (COELHO, 1984:209), como diz
Coelho, como se por um breve momento o mundo todo e a vida vivessem sua noite
abissal. O mistério será também, na narrativa de Uma aprendizagem..., o mistério que
revolve o mito. Eudoro de Sousa, em seu livro Origem da poesia e da mitologia, aponta
que, a partir da impossibilidade de conciliação entre o racional e o apelo da fé, e dos
112
problemas em adequar um pensamento filosófico grego à crença cristã, conflito evidente
na filosofia patrística medieval, revela-se o enfrentamento entre duas “concepções”
opostas de “divindade” (SOUSA, 2000: 182). Essas atitudes ir-se-ão prolongar e
alternar, de tempos em tempos, na história do pensamento e literatura ocidentais. Apesar
de terem origens históricas que remetem a sociedades primitivas, a concepção teísta
pressupõe o culto de um ser supremo e transcendente e a cosmobiológica entende a
transcendência como etapa mediada pela imanência. O mistério da fé seria precisamente
a convergência de ambas as atitudes, em relação de complementaridade e não de
conflito. O drama de uma civilização dividida entre dois apelos – o do corpo e o do
espírito – que nascem do dualismo antagônico entre essas duas forças é reencenado nas
artes e na literatura ao longo da história e, especificamente, no que concerne a esta tese,
na escrita clariciana.
E, nesse registro, o mito cosmogônico de Afrodite interessa na medida em que
origina uma longa tradição que envolve os domínios da deusa e a marca de Eros na
história da literatura ocidental, ou seja, em suas representações textuais, iconográficas,
ritualísticas e inclusive na rede de relações sociais reencenada pela literatura. Nesse
sentido, Eros é entendido como uma força que opera em diferentes níveis enquanto
agente ético e mítico.
Quero apontar um fator fundamental para se ler a escrita de Lispector que
consiste em entender a linguagem e as imagens com as quais elabora suas narrativas
como campos de força que instauram e determinam seu espaço e tempo próprios, sua
sintaxe e sua semântica, seu colorido e suas sombras. Um universo que passa a existir
enquanto presença viva no primeiro segundo em que é instaurado porque se afirma pela
força poética e não pela repetição mimética da realidade previamente dada. E desde o
instante em que se forma esse universo, com suas noções específicas de Deus, de
113
Comentário: A literatura não é
mimética, realidade previamente
dada, é poética pq instaura novo
sentido, diferença entre tradição
mimética e poética.
indivíduo, de tempo, de espaço, de real, as relações que dele advém, o que a ele
concerne e o que nele se manifesta surgem dessa força originária de si mesma. Nesse
sentido, iniciar pelo mito fundador do nascimento de Afrodite é também dizer que essa
leitura é fundada pelo universo de Eros. Eros, enquanto memória viva, também será
substância, assim como o Deus das narrativas claricianas, elemento fundador que
originará e conduzirá o texto e a linguagem, instituindo-se como manifestação, como
presença; o Deus que “é substantivo como substância”, como aponta Lóri
(LISPECTOR, 1991a: 153). Um Deus já forjado em A paixão... e que se inscreve em
Uma aprendizagem... como o Deus da coalescência, representado em tudo, vivo em
todas as coisas e seres. É o Deus-neutro, concreto e não-concreto, humano e divino.
No romance de 1969, a ruptura se realiza a partir do processo gnosiológico
vivido por Lori e pela via da relação amorosa, espaço de reformulação da própria
existência. A pergunta que conduz o romance – “Quem sou eu?” (LISPECTOR, 1991a:
26) – não se dissocia da pergunta “Quem são as pessoas” (idem), ou Quem é o outro? E
inevitavelmente conduz à distância de apenas “um passo da morte da alma”
(LISPECTOR, 1991a: 151). Essa simbólica dissolução do sujeito é vivida pela
experiência de um “estado de graça” que anuncia o casamento do sujeito com o mundo
e garante o “ganhar um corpo e uma alma”, “a terra e o céu” (LISPECTOR, 1991a:
156), algo que “parecia redimir a condição humana, embora ao mesmo tempo ficassem
acentuados os estreitos limites dessa condição” (LISPECTOR, 1991a: 158). Mas a
dissolução é também vivida pela experiência erótica que primeiro conduz à nudez “de
corpo e alma” (idem, 177), para depois garantir o “prazer perigoso de ser” (idem, 169).
Se a relação amorosa é a via, a linguagem se torna o ponto de chegada para a
reconstrução da subjetividade, do sujeito e da própria literatura. Em Uma
aprendizagem..., é Ulisses quem anuncia, ao fim do romance, o tema para o qual a
114
Comentário: Na verdade, o
Deus de CL é o concreto + o nao
concreto que vai dar no neutro.
Quando começa a entrar na
metafisica, CL foge pela imagem.
O seu Deus é o da coalescencia,
que está representado em tudo,
que é a vida de tudo, o que está
vivo em todos os seres e coisas.
escrita de Lispector se abre na década de setenta: “Escreverei sem estilo” porque
“escrever sem estilo é o máximo que, quem escreve, chega a desejar” (LISPECTOR,
1991a: 178). Esse desejo, ou tarefa, a que se dedica a autora e sua narrativa não
significa apenas problematizar as noções de alta literatura e literatura menor, mas
implica trazer para o centro do palco a simulação da escrita, anunciada já na década de
sessenta. Além disso, o apagamento entre real e ficcional já se evidencia no momento
em que a personagem apresenta o projeto da autora, isto é, a própria criatura encena o
papel do seu autor. Esse apagamento ficará mais evidente na obra da década de setenta
uma vez que, por meio da encenação de um novo realismo, a autora ficcionaliza a
própria vida, introduzindo aspectos autobiográficos na narrativa, criando paratextos que
apagam os limites entre o factual e o fictício. A ficção interfere na construção do real.
Como aponta Nilze Reguera: “os pólos de produção e de recepção são abalados em sua
própria dinamicidade: quem está falando é a “escritora canonizada”? uma personagem?
Ou, até mesmo, nós, leitores, a partir de nossa interpretação?” (REGUERA, 2006: 76).
Em A paixão..., a autora já havia revelado que a palavra introduz no real a
dimensão da fratura, por meio da coexistência entre verdade e erro, abrindo espaço para
o abismo. Como a linguagem é insuficiente para dar conta do ser e do real, ela encontra
no erro, na falha, no fracasso, a forma de falar com mais vigor, o que permite a abertura
para uma nova verdade. “Eu tenho à medida que designo – e este é o esplendor de se ter
uma linguagem”, diz a narradora de A paixão... (LISPECTOR, 1979: 172), porque à
medida que o indivíduo é índice, que representa e significa, ele pode nomear, classificar
e fazer juízos. Mas o sujeito descobre que tem muito mais à medida que não consegue
designar. “A realidade é a matéria-prima, e a linguagem é o modo como vou buscá-la –
e como não acho” (idem). O nomear a si e ao outro garante a existência das formas no
mundo interpretado pelas categorias do sujeito, mas desistir de dar forma ou nome ao
115
informe é reconhecer a força vital do anônimo, da impotência e do fracasso na palavra
poética. Portanto, introduzir um corte por meio do fracasso é possibilitar o contato com
a morte, com o abismo. Neste sentido, o ato de escrita é abertura para outra ordem: a da
paixão, acontecimento poético que introduz o domínio do amor pelo duplo. Ainda nesse
sentido, a literatura se abre para o acesso a outras linguagens que possam contribuir para
a formação desse universo: a palavra busca amparo na imagem. E é a imagem que
servirá de fio condutor para o retrato de Eros pintado no romance de 1969.
Dessa forma, visando pensar os processos de criação literária elaborados pela
autora, há três dimensões distintas do tratamento dado a Eros na obra clariciana. Os
núcleos temáticos visam recuperar a relação homem-natureza a partir da dimensão
sensória recobrada pelo contato com o desejo. Após anunciar que ambos conseguiram
atingir a potencialidade divina enquanto seres humanos pela descoberta amorosa,
Ulisses indica que: “devemos seguir a Natureza, não esquecendo os momentos baixos,
pois que a Natureza é cíclica, é ritmo, é um coração pulsando” (LISPECTOR, 1991a:
177). Além disso, a obra desnuda o ponto de contato entre a morte e a paixão veiculado
na figura ambivalente de Eros, que ensina que o amparo é não prescindir jamais do
desamparo. Por fim, a tese busca avaliar de que modo esse mesmo aspecto do mundo
(Eros) é introjetado pela cultura como agente pedagógico pelas questões desenvolvidas
pelo pensamento platônico, uma vez que o amor que envolve o par Lóri-Ulisses provoca
um questionamento sobre o valor social da liberdade a que Eros condiciona. Clarice
conjuga os afetos, o fazer literário e o confronto do indivíduo com as interdições
impostas por todos os tipos de poder e moral em um único romance.
116
Comentário: Condição de
possibilidade, o neutro é condição
de possibilidade do masc e fem,
neutro em relação às
especificações, gêneros, da vida
em geral e não só puramente
humamna, da vitalidade cósmica.
Sexo e Eros é sexual e cósmico,
integração sexual com o cosmos e
não so hom e mul, so produz dor,
culpa, etc e cl joga isso para o ar
2.2 DO ANÚNCIO DA ESCRITA: A DIVINA SOMBRA DE ULISSES
A partir dessa anunciação, é de fundamental importância estabelecer neste
momento um diálogo com as proposições explicitadas no Excurso I da Dialética do
Esclarecimento, no que diz respeito à afirmação da consciência do eu sobre si,
entendendo a viagem de Ulisses como uma viagem em direção à conservação de sua
identidade. Ainda que o conhecimento adquirido pelo eu parta do mergulho em todas as
experiências de dissolução e desvio, tirando sua essência delas, expondo-se ao abismo
da morte, perdendo-se, o resultado disso é a conservação de si, e não o abandono ao
desregramento
e
ao
apagamento
do
eu.
Horkheimer
e
Adorno
(ADORNO/HORKHEIMER, 1985) apontam para o fato de que a divisão interna vivida
pelo sujeito ao se entregar aos desvios só o impulsiona ao uso da violência contra a
natureza do coração e do corpo. As vitórias de Ulisses serão sempre o reflexo da vitória
da cultura sobre a natureza. A própria impotência do herói, cujo sentido mais valioso é a
abertura para a potência, acaba levando o indivíduo à exploração do desconhecido até
que ele se torne não só conhecido, mas decifrável.
O Ulisses homérico que funda a cultura do sacrifício, condicionada sempre por
uma “astúcia da dominação” (idem, 55), como apontam os filósofos, enfraquece o
sujeito diante das forças da natureza e, para sobreviver, acaba tendo que reafirmar a
consciência de si próprio, isto é, de sua subjetividade totalitária. O retorno à pátria e aos
bens é o esforço de auto-conservação que o sujeito impõe a si. As aventuras que se
apresentam diante do herói são tentativas de afastá-lo de sua trajetória lógica, mas que
só fazem afirmar cada vez mais a sua subjetividade. O herói usa a máscara adquirida
com as experiências, mas nunca mergulha por completo porque não pode seguir o curso
do coração. Este herói afirma sua racionalidade e individualidade por trás das máscaras.
117
Vive as aventuras porque elas o colocam na experiência do limite, da iminência do
abismo, mas, nessa posição, o conhecimento – marca identitária do herói – se acentua e
garante sua sobrevivência. O eu precisa negar a dissolução que chega com este limite e
com isso reafirma-se em sua forma fixa. Ele se abandona e se perde na natureza apenas
para crescer nessa experiência como juiz e subjetividade imperial. O enfraquecimento
da individualidade, quando ocorre, resvala para a narrativa da viagem, do deslocamento
e é nesse espaço que nosso Ulisses clariciano transita: “ele próprio dizia de si mesmo
que estava em plena aprendizagem” (LISPECTOR, 1991a: 49).
Portanto, ambos os filósofos apontam que o protótipo do herói burguês já surge
em Homero na figura do herói errante – caminhante solitário - e apontam a obra
homérica como obra ordenadora e definidora de um cosmos que perdurará e formará
toda a cultura ocidental, destruindo o mito ao lhe impor uma ordem racional. Tudo que
é vivo, portanto, deverá ser oprimido (ADORNO/HORKHEIMER, 1985: 54). É claro
que este é apenas um posicionamento entre tantos acerca do Ulisses homérico. O mais
importante da leitura de Adorno e Horkheimer reside na diferenciação entre mito
heróico e mito dionisíaco instituída na literatura ocidental a partir da figura do Ulisses
homérico. Ora, essa é exatamente a posição oposta tomada pelo Ulisses clariciano. Ao
afirmar a comunhão com a natureza, Ulisses se coloca como formador de uma outra
tradição – a dos adoradores da vida.
Na mesma trilha dessa diferenciação, Jeanne-Marie Gagnebin reconhece o valor
da interpretação feita pelos filósofos, mas aponta para uma outra leitura de Ulisses que
deve ser recuperada ao lado daquela feita por Adorno e Horkheimer. Nesta leitura,
Gagnebin chama atenção para a associação da figura do herói à do poeta, ou aedo, ao
ressaltar a importância do canto poético no exemplo do mito das Sereias. Afirma que,
neste episódio, não é possível ler os gestos de Ulisses apenas como estratégia astuciosa
118
para ludibriar as Sereias. Para Adorno e Horkheimer, é preciso sobrevier às forças do
canto das Sereias porque são elas que dissolvem a “identidade clara, delimitada e fixa
que constitui o ideal egóico racional” (GAGNEBIN, 2006: 33). Mas esta mesma
potência representa simultaneamente “as forças dissolventes e mortíferas da arte”
(idem) que prometem, por sua vez, “superar os limites do eu” (ibidem). Gagnebin quer
sublinhar, com isso, o fato de que Ulisses é, ao mesmo tempo, o “vencedor” e o
“herdeiro” das Sereias (GAGNEBIN, 2006: 36). Assim, a vitória sobre as potências
mortíferas é também uma garantia do canto, da capacidade de rememoração que o torna
um aedo, o mais especial de toda poesia arcaica. Um poeta que busca manter “a
lembrança gloriosa dos mortos” (GAGNEBIN, 2006: 27) como uma força viva e
presente no mundo dos vivos. Nesse sentido, Ulisses se torna, tanto quanto Madalena,
aquele que aproxima o mundo invisível do mundo visível no reino da literatura e
garante uma definição de cultura apontada para o reconhecimento de “nossa condição
mortal” que é “tão incontornável como a exigência que ela implica: cuidar da memória
dos mortos para os vivos de hoje” (idem).
O Ulisses clariciano aproxima-se deste papel de poeta identificado na leitura de
Gagnebin, no sentido de que a ênfase na narração e na auto-narração conduz à
constituição de um sujeito que não necessariamente renuncie ao próprio desejo e
tampouco à rigidez da individualidade (GAGNEBIN, 2006, 37). Por isso, em Uma
aprendizagem..., Ulisses será aquele a anunciar a Lori o seu nome batismal, vindo de
uma lenda popular. “Loreley é o nome de um personagem lendário do folclore alemão,
cantado num belíssimo poema por Heine. A lenda diz que Loreley seduzia os
pescadores com os seus cânticos e eles terminavam morrendo no fundo do mar”
(LISPECTOR, 1991a: 114). Ulisses é o personagem mítico que anuncia a inversão do
próprio mito, uma vez que, segundo a lenda e o poema, a sereia, Musa inspiradora do
119
poeta na criação do Belo que virará poesia, tem potencial destrutivo porque conduz o
marinheiro à morte. No caso de Uma aprendizagem..., é a própria sereia que morrerá
pelo canto dos marinheiros. Simbolicamente, Clarice anuncia a morte de certa tradição
literária para que ocorra o seu renascimento já como nova forma. Nessa imagem, tempo
histórico se desprende da noção de espaço e isso constitui o esquema do tempo mítico.
Tempo mítico é o tempo histórico desprendido da idéia de espaço e isso fica mais
evidente na imagem da viagem.
Já passou o tempo em que o tempo não contava. A era moderna vive a
abreviação do tempo e de tudo, inclusive do eu, abreviação no sentido das experiências
de troca e de autognose. A marca da abreviação do nome tem de certa forma esse
sentido – abreviação da experiência. Busca-se entrar em outro tempo que não implicava
abreviação. “Contar histórias sempre foi a arte de contá-las de novo” (BENJAMIN,
1994: 205). Repetir o traço, o sulco na pedra, reescrever a palavra, é processo que
reinventa e põe em circulação esse tempo não abreviado. A autoridade dos mortos chega
pela possibilidade que a experiência de morte oferece ao inesquecível, à transmissão das
histórias: no momento da morte é que se transmite o transmissível. Por isso, convidar a
morte cada vez mais para o reino dos vivos, mostrando sua convivência, é permitir a
entrada neste outro tempo que é mítico e que independe da noção de tempo histórico e
que não é abreviado.
Agora como porta-voz do criador, do poeta, Ulisses afirma que a nova forma,
sem estilo, apresenta-se como “arrebatamento de um pensamento-sentimento”
(LISPECTOR, 1991a: 108). Esta nova forma de escrita anunciada por Ulisses, agora já
confundido com a própria autora, se afirma da seguinte maneira: “Meus poemas são
não-poéticos, mas meus ensaios são longos poemas em prosa, onde exercito ao máximo
minha capacidade de pensar e intuir. Nós, os que escrevemos, temos na palavra humana,
120
escrita ou falada, grande mistério que não quero desvendar com o meu raciocínio que é
frio. Tenho que não indagar do mistério para não trair o milagre” (LISPECTOR, 1991a:
108-9)
Segundo Piero Boitani, em A sombra de Ulisses (2005), a figura mítica de
Ulisses é relida em suas distintas representações literárias enquanto discurso da
civilização ocidental, origem do homem europeu e do logos cultural que permaneceu na
História da tradição do pensamento no Ocidente. Os cortes paradigmáticos que este
símbolo cultural sofreu dentro da literatura e da ciência, da história e da filosofia, são
revistos e apresentados por Boitani a partir da idéia de maravilhoso, uma espécie de
encantamento que cerca a imagem do herói e permite a união entre o Ulisses antigo e o
moderno. Símbolo de uma episteme e civilização fundada no mar, Ulisses comporta
sentidos que são preenchidos com as características de cada cultura ao longo do tempo,
sob o viés filosófico, ético, político e literário. Paradigma de conhecimento do mundo e
do indivíduo, herói da continuidade e da metamorfose enquanto viajante, representante
da máxima sabedoria enquanto símbolo da retórica, e imagem da invenção e da técnica
no campo da ciência, a presença de Ulisses na imaginação ocidental aponta para o
fascínio e mistério que o constituem como uma sombra refletida sobre a cultura do
Ocidente.
O amor pelo mito, que une pensamento filosófico e palavra poética, nasce do
encantamento proporcionado pelo maravilhoso como estupor que atordoa e se apresenta
como elemento perturbador, o das Unheimiliche freudiano (BOITANI, 2005: xviii).
Este elemento se configura, portanto, como força noturna que provoca horror e
perplexidade, configurações da psiquê que introduzem a tensão trágica necessária para o
processo de devir deste homem ocidental. Nesse sentido, a sombra de Ulisses que a
tradição cultural do Ocidente carrega apresenta-se, enquanto travessia interna no
121
horizonte ontológico, sob a forma de uma viagem catabática e anabática, no horizonte
histórico, enquanto viagem externa ao Novo Mundo.
Duas das projeções desta sombra nasceram com a Odisséia homérica e
permanecem
como
espaço
simbólico
revisitado,
deslido
e
ressignificado
recorrentemente na cultura e literatura ocidental contemporâneas. Uma delas é a viagem
de Odisseu ao reino de Hades, jornada limítrofe que conduz ao fim do cosmos, uma vez
que o Hades é o reino dos mortos, e a outra é a viagem ao princípio do cosmos, já que a
única maneira de reordenar o cosmos para prosseguir sua viagem de retorno à casa é
seguindo a profecia de Tirésias. Entretanto, a descida ao limiar da vida e a nekya –
evocação dos mortos – apresentam-se como uma jornada pela morte e em direção à
morte, que significa também cruzar os limites aos quais o homem jamais teve acesso,
transpor a barreira que separa o ser do não-ser. Segundo Boitani, a viagem ao Hades
revela a mesma mensagem encontrada no episódio das Sereias: “conhecer é perecer”. O
homem, portanto, é um ser que caminha para a morte. A experiência literária encenada
pelo poema homérico apresenta-se como experiência do extremo, sugerindo que o
empreendimento da viagem e a exploração do desconhecido implicam um mergulho nos
domínios de Hades e a conseqüente transposição dos umbrais da morte.
Portanto, a interpretação mitopoética acerca da figura literária de Ulisses que
interessa a esta tese é a do marinheiro errante, personagem descentrado porque
introdutor da noção da viagem como experiência, na qual o processo de auto-formação
da subjetividade e da coletividade se abre para a incessante dinâmica do devir, um
Ulisses mais próximo ao personagem do Inferno de Dante. A travessia do marinheiro
Ulisses, motivada desde o início pelo objetivo do retorno à pátria, será talvez, acima de
tudo, uma viagem em direção aos mortos e à morte. Nesse aspecto, Ulisses se torna o
arquétipo da liminaridade, símbolo que une os pólos da vida e da morte, único ser
122
mortal a ultrapassar os limites proibidos a qualquer ser humano, sem perecer, o que lhe
confere o desígnio de visitante dos reinos das trevas e da luz e anuncia a morte como
potência efetiva no percurso do homem. O elemento do maravilhoso apontado por
Boitani conduz à fusão entre mito e logos e à força do arrebatamento diante da natureza.
Como aponta o estudioso italiano, as figurações de Ulisses enquanto
prefigurações do “verdadeiro poético” e do “real histórico” nascem das contradições,
ambigüidades e excessos que o texto de Homero, na passagem em que narra a profecia
de Tirésias, deixa em aberto para os séculos seguintes. A profecia revela o retorno de
Ulisses já muito velho, em nau estrangeira, solitário, sem nenhum de seus companheiros
de viagem, todos mortos, e aponta para outra previsão que não se concretiza nas páginas
do poema homérico, mas deixa espaço para a reformulação feita pelas gerações
posteriores.
Além de prever que Ulisses retornará para casa antes de morrer, Tirésias revela
como se dará a morte tardia de Ulisses, vinda de longe e não do mar. E uma última
viagem a um país estrangeiro, depois de ter retornado a Ítaca, uma viagem “até onde um
povo nada saiba do mar, nem coma sal, nem tenha visto nunca naves púrpuro-cavas,
nem os remos-asas das naus” (BOITANI, 2005: 196). Nesta terra, ainda um último
sacrifício deverá Ulisses realizar: “quando um outro viajor, contigo se cruzando, disser
que sobre a espádua resplendente levas um joeirador de grãos, então finca na terra o
remo bem-lavrado, sacrifica ao rei Posêidon um carneiro e um touro, e um javali
garanhão de javardas” (idem). Além da viagem ao Hades, domínio dos mortos, tarefa
vital para o retorno ao conhecido – a pátria - a viagem final de Ulisses apresenta-se no
entanto como um sacrifício que conduz o herói a um espaço desconhecido, como sujeito
desconhecido e anônimo, onde um remo ganha o significado de joio. Nada mais é dito
por Homero sobre esta última viagem e sua morte, que não acontece porque o poema
123
termina com o retorno do herói a Ítaca. A tese de Boitani reside justamente na sombra
que esta profecia proferida lança sobre uma última viagem que jamais acontece. Que
viagem seria essa?, pergunta-se Boitani. E a sombra lhe acena apontando para toda a
tradição que surge em torno da morte do herói. A derradeira viagem talvez seja a
abertura legada à posteridade por Homero, para que a história continuasse a ser contada.
A profecia, portanto, surge como uma passagem que marca uma abertura para o
futuro, ao mesmo tempo já condenada a ter outro significado, condenada ao “outro”. A
profecia, segundo Boitani, prevê um Odisseu apagado pela anonimidade, pelo
anonimato, imagem do viajante desconhecido. A narrativa fala de uma figura de
Odisseu como representante de uma civilização que se apagará, que se tornará anônima,
unindo a máxima referência ao completo anonimato. E ao delinear essa teia, “o nãoreconhecimento (de Odisseu) funciona como sinal muito claro do reconhecimento”
(BOITANI, 2005: 9), isto é, o reconhecimento de um signo que seguirá aberto a
diferentes significados, que constituirá seu próprio sistema de valores segundo o
reconhecimento de cada época e cultura. A anonimidade permite portanto a participação
(a inclusão) maior dentro da história porque o sentido é dado de acordo com espaço e
tempo históricos. “Ele apresenta um outro ao explodir sua própria episteme” (idem).
Assim sendo, qual o sentido do personagem Ulisses construído por Lispector em
Uma aprendizagem... e de que maneira dialoga com a sombra da tradição cultural que
perpetuou sua viagem? Inicialmente, o personagem revela a Lóri que “não tinha a
menor intenção de ensinar-lhe um modo de viver ‘filosófico’ ou ‘literário’”
(LISPECTOR, 1991a: 49). Parece-me que o projeto anunciado pela narradora de Uma
aprendizagem... afirma o desejo de se desvincular da tradição do pensamento ocidental
que fixa Ulisses como símbolo do novo homem europeu de origem grega, transformado
124
Comentário: Será que isso tem
a ver com a ideia do estrangeiro
de que fala Bertha Waldman com
relaçao ao judaísmo na obra de
CL?
em representante da razão totalizante e da técnica, para que ganhe contorno próprio
dentro desta escrita, sem, contudo, abdicar do diálogo com esta mesma tradição.
Há no mínimo duas hipóteses de leitura para este romance. A primeira é
considerá-lo uma história de aprendizagem amorosa entre dois personagens que se
apresentam como par ancestral, representado pelo “sábio Ulisses” (LISPECTOR,
1991a: 176) e Lóri, de “forte herança agrária vinda de longe no seu sangue” (idem, 49),
uma “sacerdotisa”, “de uma linha de Loreleys para as quais o mar e os pescadores eram
o cântico da vida e da morte” (idem, 117). O personagem Ulisses forjado pelo universo
clariciano apresenta-se não como símbolo da racionalização, da lógica, da técnica, mas
como “limite entre o passado e o que viesse” (LISPECTOR, 1991a: 49). Releitura do
passado, ressiginificação no presente, abertura para o futuro. Desprende-se do
significado que adquire com a tradição não só filosófica, mas inclusive literária, para
nascer com novo significado criado dentro da obra lispectoriana. Este novo universo
converte-se em espaço de reformulação da própria existência, pela via da relação
amorosa, uma vez que no Outro – espaço da diferença – e na linguagem reflete-se o
sintoma do eu. Se a relação amorosa é a via, a linguagem se torna o ponto de chegada
no qual o sentido da existência pode ser alcançado, mesmo que parcialmente. Para
Lacan, a palavra introduz no real a dimensão da verdade e do erro e, como a linguagem
é insuficiente para dar conta do ser, ela pode encontrar no erro a forma de falar com
mais vigor, o que permite a abertura para uma nova verdade. Assim, portanto, o tema de
toda a vida literária da autora, desde Perto do coração selvagem, publicado em 1943,
até A hora da estrela, última obra lançada em 1977, e mesmo nos textos inéditos
publicados depois de sua morte, como Um sopro de vida e A bela e a fera, é um e o
mesmo, do início ao fim, e fundamentalmente o tema da filosofia e da poesia em geral:
a existência. A pergunta pelo ser é a pergunta pela subjetividade e inevitavelmente
125
esbarrará na subjetividade do outro, implicando um pensar a si no mundo. Mas tão
importante quanto a busca ontológica, este questionar-se, transposto para a literatura,
será também o questionar-se da própria escrita, o que nos leva à segunda hipótese de
interpretação do romance. Ao fazer a pergunta “Quem eu sou?”, a pior pergunta que um
ser humano pode fazer a si mesmo, segundo Ulisses (LISPECTOR, 1991a: 180) e que
não se deve responder, não posso deixar de pensar que a pergunta se abre para a
reflexão metacrítica sobre si mesma. Nessa segunda leitura, Ulisses parece surgir como
voz que anuncia o projeto de transformação da escrita que a obra clariciana sofrerá,
modificação esta apontada por vários críticos.
126
2.3 EROS COSMOGÔNICO: A HIEROFANIA DO SENSÍVEL
O drama das narrativas claricianas vem de que as três dimensões de Eros a todo
tempo cruzam a sua obra, alternando-se e sobrepondo-se uma à outra em diferentes
momentos. A primeira delas é a dimensão em que as duas concepções de Eros –
adquiridas pela cultura judaico-cristã e pela cosmobiológica - encontram-se em conflito
no centro do coração do homem. Nesse ponto, a autora ainda admite que existe o mal e
que o ser é bipartido. E o mal nesta leitura é interpretado pelo código teísta como força
demoníaca. É o drama de Joana, que entende que a verdade é telúrica e vive a rebelião
de um espírito cativo, saindo da prisão do sujeito esquizofrênico em direção à
recuperação do sujeito sadio. Quando consegue, a linguagem assume a forma do
monólogo narrado, uma vez que se apresenta como fluxo contínuo e reflete a vida já em
livre movimento. E a cada nova publicação, Lispector vai modificando mais e mais a
sua forma de escrita. Quanto mais liberta, mais a forma rompe com todas as normas e
modelos estabelecidos, tornando-se mais fluida. A segunda dimensão é aquela em que o
sujeito sai do extremo mal, do puro sensível e entra no seu oposto contrapolar, o puro
espírito. Nesse ponto, Eros se torna agente moralizante no aprendizado amoroso,
conduzindo a subjetividade para o caminho do puro racional. Ao declarar que não quer
ser platônica em relação a si mesma e que, por isso, afastara-se do contato com as
pessoas (LISPECTOR, 1991a: 160), Lóri revela que o mesmo temor se impõe na
relação erótica com o outro, uma vez que ou vivia o puramente sensível, ou a extrema
intelectualização amorosa. A única coisa em que dava certo antes de viver a experiência
amorosa com Ulisses era no sexo. O perigo de viver uma relação platônica consigo
mesma estende-se para o seu relacionamento com o mundo. A conseqüência da
127
Comentário: O mal só é mal pq
interpretado pelo código teísta. A
segunda dimensão é Tb a q sai do
espírito para o sensivel
separação metafísica produz um senso de derrota na relação do homem com o mundo e
do homem consigo mesmo.
Sou profundamente derrotada pelo mundo em que vivo. Separei-me só por
uns tempos por causa de minha derrota e por sentir que os outros eram
também derrotados. Então fechei-me numa individualização que se eu não
tomasse cuidado poderia se transformar em solidão histérica ou
contemplativa (LISPECTOR, 1991:160).
A mesma individualização que já havia aparecido em 1964 em A paixão... sob a
forma de sentimentação. Porque o corte metafísico provoca tanto a extrema
individualização e racionalização da vida quanto a exacerbada sentimentalização das
experiências vitais, que impedem a experiência de contato com a essência da identidade
e impede a humanidade do homem. Em A paixão..., a narradora explica que sentir, de
fato, o amor é tarefa extremamente difícil porque o indivíduo se acostuma com a grossa
sentimentação e quando prova o “gosto da identidade real” (LISPECTOR 1979: 99) das
coisas, inclusive do amor, experimenta apenas a profunda insipidez. E, ainda, que essa
mesma sentimentação é hábito que nasce do “inicial e primordial” e que “fez com que
certas coisas chegassem ao ponto de aspirar a serem humanas” (idem, 156), ou seja, ao
“amor neutro” - “a parte humana mais difícil”. “Foi dessa fonte que começou a nascer
aquilo que depois foi se distorcendo em sentimentações a tal ponto que o núcleo ficou
sufocado pelo acréscimo de riqueza e esmagado em nós mesmos pela pata humana”
(ibidem). A terceira dimensão é, portanto, aquela em que Lispector realiza a unidade
polar de coexistência espírito-corpo, esquizofrênico-sadio, doente-xamânico, sensívelinteligível, dimensão em que o sexo e o amor já não são mais proibidos aos amantes,
antes tornam-se uma ameaça à sociedade. Nessa dimensão da poética dionisíaca de
Lispector, o escritor realiza o que Ulisses preconiza em seu discurso: o fazer literário é
128
Comentário: O reino de Deus é
deste mundo PSGH p. 145
um exercício da alma, não apenas da linguagem, o que o torna “exercício mais
profundo”. Enquanto ofício, essa tarefa revela prescindir de um tema, mas não das
incongruências e, quando tornado prática, o ofício deixa de ser função apenas do poeta,
e se torna cultivo do indivíduo. “Faço poesia não porque seja poeta, mas para exercitar
minha alma, é o exercício mais profundo do homem. Em geral sai incongruente, e é raro
que tenha um tema: é mais uma pesquisa de modo de pensar” (LISPECTOR, 1991:179).
E isso é uma profunda ameaça aos interditos da tradição, uma vez que “provoca o
desencadeamento de outras liberdades” (idem) e se trona um risco para a sociedade.
A obra de Lispector, portanto, efetua o que Octavio Paz chama de princípio
poético da analogia, que se constitui como um articulador central que aproxima
elementos antagônicos em pares complementares, base do movimento encontrado no
universo, ao aproximar mito e literatura. Neste sentido, a concepção do poeta como um
tradutor do Livro do Mundo retira-o de sua posição de autor único de um texto único e
desloca o foco para a linguagem. A linguagem, por sua vez, passa a ser entendida como
uma tradução a serviço da interpretação do universo, plural e interminável, a única
autora do Livro do Mundo. Nesse sentido é que o texto se torna um ato, como aponta
Paz, que se autorecria, ao passo que conduz o poeta a uma própria reinvenção de si
mesmo. Ao repetir o mesmo gesto, o leitor torna-se um continuador do ato produtivo,
revelando que a tarefa oculta da poesia é escapar à conclusão finita, encarnando-se na
história e constituindo o movimento próprio da poesia moderna.
De todas as divindades da tradição grega, Eros é a que abarca a todas as esferas:
a dos seres mortais e imortais, a de todas as coisas vivas, inclusive sobre o mundo das
bestas e sobre as partes constitutivas do universo - o céu, a terra, as águas. Chamado de
Phanes pelos órficos, nascido do ovo cósmico, é também associado à Physis, a
Natureza, para os gregos. Ou Poesia, segundo a filosofia heideggeriana que se apóia no
129
Comentário: Aqui cabe algum
Heidegger.
pensamento pré-socrático. O domínio de Eros é o mesmo de Afrodite, também
reconhecida como Cypris ou Cyprogenia, por se considerar Chipre a sua ilha natal.
Claude Calame, em The poetics of Eros in Ancient Greece, realiza uma ampla pesquisa
sobre o universo de Eros nas artes da Grécia arcaica e clássica, destacando suas
representações, ações, simbologia, seus espaços e efeitos na literatura e apontando de
que maneira este legado contribuiu para o desenvolvimento de uma prática erótica de
conteúdo e atuação moralizante na sociedade pelos séculos seguintes até o mundo
moderno. Inclui, entre suas fontes, os poetas mélicos, os hinos homéricos, os textos
teogônicos, as tragédias gregas, a poesia helênica, as fórmulas mágicas dos Mistérios de
Elêusis.
Na dimensão destes textos arcaicos, Eros e Afrodite são compreendidos como
duas entidades equivalentes, participantes do mesmo domínio, representadas na maior
parte das vezes uma em companhia da outra e cuja atuação engendra forças
semelhantes. E para esta pesquisa, ambas as entidades serão de extrema relevância, uma
vez entendidas como forças que constituem visões de mundo formadoras do tecido
mítico sobre o qual toda a cultura e literatura ocidentais se apóiam, enquanto fonte,
referência, história, memória. Sob a herança de tais visões constituir-se-á o universo
clariciano, preenchido de sereias, Penélopes, Ulisses, profetas cegos, viagens
catabáticas, Cristos e Madalenas transfigurados.
Os pontos fundamentais que aproximam a narrativa clariciana do texto hesiódico
são dois e dizem respeito à fase cósmica das Origens, a partir da apresentação do
domínio dos seus elementos constitutivos e do primeiro momento da partilha das
honras, em que se assiste ao nascimento de Afrodite, das Erínias, das Ninfas Mélias e
dos Gigantes.
130
Comentário: Definir a hipótese
da tese.
Iniciando pelo segundo momento, o texto hesiódico narra a primeira partilha de
honras localizada no segmento que canta a história de Céu e Cronos e o nascimento de
Afrodite. O ardil armado entre Terra e Cronos para pôr término à regência de Céu
conduz ao início de uma nova fase, não mais de fecundação direta pelo sêmen celestial
no ventre da Terra, ou seja, de linhagem direta dos seres primordiais, mas já por uma
nova forma de união que gera Deuses e homens, ou seja, a partir da interferência de
Afrodite enquanto força coercitiva de acasalamento entre Deuses e entre Deuses e
homens. Diz o poeta:
Assim falou. Exultou nas entranhas Terra prodigiosa,
Colocou-o oculto em tocaia, pôs-lhe nas mãos
A foice dentada e inculcou-lhe todo o ardil.
175
Veio com a noite o grande Céu, ao redor da Terra
Desejando amor sobrepairou e estendeu-se
A tudo. Da tocaia o filho alcançou com a mão
Esquerda, com a destra pegou a prodigiosa foice
180
Longa e dentada. E do pai o pênis
Ceifou com ímpeto e lançou-o a esmo
Para trás. Mas nada inerte escapou da mão:
Quantos salpicos respingaram sanguíneos
A todos recebeu-os a Terra; com o girar do ano
Gerou as Erínias duras, os grandes Gigantes
185
Rútilos nas armas, com longas lanças nas mãos,
E Ninfas chamadas Freixos sobre a terra infinita.
O pênis, tão logo cortando-o com o aço
Atirou do continente no undoso mar,
Aí muito boiou na planície, ao redor branca
Espuma da imortal carne ejaculava-se, dela
Uma virgem criou-se. Primeiro Citera divina
Atingiu, depois foi à circunfluida Chipre
E saiu veneranda Deusa, ao redor relva
131
190
Crescida sob esbeltos pés. A ela. Afrodite
195
Deusa nascida de espuma e bem-coroada Citeréia
Apelidaram homens e Deuses, porque da espuma
Criou-se e Citeréia porque tocou Citera,
Cípria porque nasceu na undosa Chipre,
E Amor-do-pênis porque saiu do pênis à luz.
200
Eros acompanhou-a, Desejo seguiu-a belo,
Tão logo nasceu e foi para a grei dos Deuses.
Esta honra tem dês o começo e na partilha
Coube-lhe entre homens e Deuses imortais
As conversas de moças, os sorrisos, os enganos,
205
O doce gozo, o amor e a meiguice.
(HESÍODO, 2003:115-117).
Elementos associados a Afrodite portanto são a espuma, que remete, ao mesmo
tempo, ao mar e ao sêmen e o próprio mar, uma vez que de dentro das águas “undosas”
da “circunfluida” ilha de Chipre e da costa de Creta ela surgiu, como apontam seus
epítetos. E os epítetos de Afrodite tornam-se chaves de leitura para a compreensão dos
domínios da Deusa. Kípris, crisocoroada Deusa, nasce com relva sob seus pés, o que lhe
proporciona uma associação à vegetação e ainda ao amor sexual, carnal, por ter nascido
diretamente do pênis cortado de Cronos. Além disso, na primeira partilha de honras
coube-lhe atuar no reino da persuasão, dos enganos, do gozo, da beleza e doçura, do
amor.
Entretanto, se Afrodite nasce com qualificativos positivos, da esfera da vida, ela
é irmã das forças mais destrutivas que existem na primeira linhagem de Cronos,
compartilhando das forças de aniquilamento provindas das Erínias, que impõem a dike
divina, Justiça mantenedora do equilíbrio por meio de ações compensatórias, e dos
Gigantes e Ninfas Mélias, que são potências guerreiras e mortíferas. Como aponta
Torrano, “toda descendência é uma explicitação do ser e natureza da Divindade
132
genitora” (TORRANO, 2003: 41). Dessa forma, contendo em si o germe dos seres dos
quais descende, Afrodite compartilha a astúcia de Cronos, a justiça das Erínias 10 e a
força destrutiva dos Gigantes e Ninfas11 , além de ter nascido de uma mutilação, cisão
que gera os descendentes do sangue e a única descendente do esperma, secreções
sagradas e fecundadoras, que impõem morte e vida desde a origem, ser e não-ser. Nesse
ponto, Afrodite se aproxima do universo dionisíaco ao conter em si o germe da
complementaridade de opostos antagônicos. O fato é que a linha de poetas,
comentadores e pensadores que associam o nascimento de Afrodite ao mar passa por
Hesíodo, Anacreonte, Pausânias, Ovídio, Sêneca, Nonnus, entre outros, descendência
esta registrada desde cedo também pela iconografia e que prossegue pelos séculos até,
por exemplo, os tempos modernos, com a Vênus de Eduard Manet.
Entretanto, para esta pesquisa, interessa em um primeiro momento um único
aspecto do mito cosmogônico de Afrodite, aquele que trata de seu nascimento realizado
nas águas do mar. Porque parto da hipótese de que o mito de Afrodite é reencenado em
Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres, de forma a instaurar um mundo cujas
fronteiras tangem os domínios da Deusa e de Eros, seu companheiro, em sua tradição
mais antiga. Neste universo, o texto clariciano põe no centro do debate a tradição de
uma cultura, uma ética e uma estética de Eros nos tempos modernos.
Em cosmogonias antigas, como na Teogonia de Hesíodo, Eros e Afrodite
apresentam uma dimensão cósmica, constituindo-se como forças de teor mais
construtivo do que destrutivo, apesar de Eros ser nomeado como “solta-membros”,
aquele que subjuga e que derrete o coração de mortais e imortais segundo o Hino
10
Em Hipólito, Afrodite é aquela que pune aqueles que não lhe prestam homenagens ou a desrespeitam
No culto a Afrodite em Esparta, a deusa aparece sentada em sua armadura e recebe o nome de Areia,
aquela que gosta de guerrear, esposa de Ares, um de seus pares amorosos. Além da guerra, Afrodite é
também a divindade que, nos Hinos Órficos, enfeitiça os monstros, as feras; para Pausânias provoca o
incesto, o estupro, a luxúria e a loucura amorosa e para Sêneca, introduz o sexo excessivo, que conduz à
morte
11
133
Homérico 5, característica também sutilmente trabalhada por Safo e outros poetas
mélicos. Eros é aquele que, por força violenta, “doma” o coração, o espírito e a vontade,
não apenas de mortais e imortais, mas inclusive do Céu e da Terra. Nas cosmogonias
arcaicas, como em Hesíodo, assume-se como força construtiva, enquanto na lírica
arcaica de Safo, por exemplo, assume caráter dual, colocando em circulação um aspecto
de diligência e ambigüidade na relação direta com o corpo. Nas tragédias gregas, no
entanto, como em Hipólito de Eurípides ou Antígona de Sófocles, costumeiramente,
Eros/Afrodite assumem caráter destrutivo e, pouco tempo depois, vem se apresentar
como força moralizante nos diálogos platônicos. Por fim, para poetas latinos como
Ovídio, Eros volta a assumir um aspecto dual pela figura de Vênus Pandemos e Venus
Celeste. Está instituída a metafísica e a literatura ocidental para sempre ficará atada à
dualidade inerente a este pensamento. A escrita de Lispector alterna entre o rechaço a
essa separação e a angústia de pertencer a esta tradição. É precisamente esse embate que
é encenado em Uma aprendizagem..., como será visto mais adiante. Em Hesíodo, não
sendo originário de nenhuma força geradora, Eros nasce ele mesmo como princípio
gerador, junto ao Caos, à Terra e ao Tártaro e, com exceção da segunda linhagem de
entidades físicas (Érebos e Noite), é pela força de Eros que as próximas cosmogonias se
realizam, é ele que inspira os laços que fazem Uranos deitar com Gaia, dando início à
primeira teogonia:
Sim bem primeiro nasceu Caos, depois também
Terra de amplo seio, de todos sede irresvalável sempre,
Dos imortais que têm a cabeça do Olimpo nevado,
E Tártaro nevoento do fundo do chão de amplas vias,
E Eros: o mais belo entre Deuses imortais,
Solta-membros, dos Deuses todos e dos homens todos
Ele doma no peito o espírito e a prudente vontade.
134
120
Comentário: Procurar
fragmento de Safo que se refira a
Eros solta-membros.
Do Caos Érebos e Noite negra nasceram.
Da noite aliás Éter e Dia nasceram,
Gerou-os fecundada unida a Érebos em amor.
Terra primeiro pariu igual a si mesma
Céu constelado, para cercá-la toda ao redor
E ser aos Deuses venturosos sede irresvalável sempre.
Pariu altas montanhas, belos abrigos das Deusas
Ninfas que moram nas montanhas frondosas.
130
E pariu a infecunda planície impetuosa de ondas
O Mar, sem o desejoso amor. Depois pariu
Do coito com céu: Oceano de fundos remoinhos...
(HESÍODO, 2003: 111-113)
Observa-se, neste prólogo, que Eros comporta-se como força construtiva,
responsável por novas gerações. No entanto, na passagem do período arcaico para o
clássico, Eros tenderá a assumir dois aspectos qualificativos mais definidos: a de uma
entidade primordial que une os elementos necessários para a geração do ser,
apresentando com essa característica um aspecto simbólico, portanto, de ligação; e a de
um princípio metafísico, que separa por meio da interferência de Neikos, a Discórdia,
que sempre o acompanha, ou de Himeros, princípio de negação de Eros, muitas vezes
identificado como Anteros. Assim, desde o início da literatura ocidental, Eros apresenta
uma dupla, senão múltipla, genealogia, além de atuar em funções variadas. Apenas
depois de seu nascimento, Afrodite, acompanhada por Eros, Himeros – o Desejo – e
Philotes, assumirá seu trabalho e desígnio.
No poema de Hesíodo, primeira elaboração formal de uma teogonia, ainda que
Eros seja em si uma força geradora unindo as primeiras entidades originárias, a
divindade permanece, no entanto, como força inativa no processo cosmogônico, se
135
Comentário: Será que a palavra
metafisico aqui nao levaria a
equivocos uma vez que esta
intimamente associada a Platao?
comparada aos outros três elementos (Caos, Terra e Tártaro). Apesar de Noite e Érebos
nascerem de um processo de partenogênese, o que os une na geração do Éter e do Dia é
uma relação que se estabelece pela força erótica, chamada de philotes, a mesma que une
Terra e Céu originando os deuses primordiais. É, portanto, essa força que proporciona a
“transição de uma cosmogonia para uma teogonia”, como aponta Claude Calame
(CALAME, 1999:178).
Eros teogônico provoca o mesmo efeito vigente na poesia lírica arcaica: é o Eros
desmembrador, que atua não apenas no coração dos homens, mas também no coração
dos deuses. O desejo gera o nascimento de novos seres a partir da união do
diferenciado, do separado. E desta união surge novamente a divisão, as distinções
proporcionadas pelo trabalho erótico, princípio unificador que engendra a pluralidade.
Afrodite assume posteriormente a função iniciada por Eros que, como Philotes, nasce
sem nenhuma união sexual e, igualmente, promove associações produtivas e férteis.
(CALAME, 1999:178/9).
Mas até este momento, Eros é uma entidade divina, que atua na formação
teogônica e se constitui como uma força cósmica. Há ainda uma importante marca do
caráter de Eros enquanto agente do processo de unificação e diferenciação dos seres: o
Comentário: Aqui já pulou
para a metaafisica
seu poder demiúrgico. Nesse sentido, Eros apresenta-se como uma criatura entre a
natureza divina e a humana e, por este aspecto, passará a atuar como disseminador das
representações filosóficas do cosmos, ou seja, como força ordenadora equilibrando o
tecido cívico e a ordem social, como aponta Calame (idem, 180). Fato é que, depois da
concepção platônica de Eros apresentada no Fedro e em O Banquete, estes dois
Comentário: Que 2 aspectos?
aspectos complementares, porém garantidores da tensão dialética, perdem-se na crítica
neoplatônica em nome do corte metafísico introduzido pelos diálogos. Antes das
considerações feitas por Platão, Parmênides e Empédocles já viam em Eros o deus
136
responsável pelo processo de reprodução teogônica, eterno princípio que mescla os
quatro elementos primordiais e sofre a separação posterior por intermédio de Neikos
(idem, 180). Como entidade primordial, Eros une em complementaridade o que está
separado e, como princípio metafísico, separa o que antes estava unido. O aspecto dual
de Eros foi amplamente veiculado pela poesia mélica da Grécia arcaica.
O Eros platônico que se estabelece no Fedro introduz noções distintas do
tratamento a ele dado na poesia mélica arcaica. Uma dessas noções, aponta Calame
(idem, 181), situa o Amor como a “fusão erótica” entre a “pluralidade limitada” e a
“unidade efêmera”. As narrativas simpóticas servem como espaço para a revisão de uma
tradição filosófica, poética e narrativa em curso antes do surgimento dos textos
platônicos. Por isso em Fedro, Eros é apresentado no discurso ao mesmo tempo como
princípio cosmogônico (divino e uno) e como força moral e ética que estabelece as
relações sociais entre os pares amorosos (ibidem). A distinção entre corpo e alma é
introduzida por meio da qualidade moralizante dada a Eros. Quando se transforma em
força ética e moral é que se torna metafísico e ordenador. Quando é apenas princípio
cosmogônico, apesar de ser também força estática e positiva, leva à união de opostos
que atuam em alternância sem deixar de manter a força da discórdia, vigor tensitivo
necessário à dinâmica e à abertura para o destrutivo, o dionisíaco.
Em revisão da tradição literária e filosófica grega, Calame (CALAME,
1999:182) aponta a associação Afrodite-Eros Uranus x Pandemos desencadeada por
Pausânias. Na Teogonia de Hesíodo, Eros é representado como um dos deuses
primordiais, acompanhante de Afrodite, nascida posteriormente. Para Pausânias (Apud,
CALAME, 1999:182), Afrodite ganha dupla genealogia posteriormente - uma
genealogia associada a Eros: a de Afrodite Urania e a de Afrodite descendente de Zeus e
que será depois associada à Afrodite Pandemos. Segundo Calame, Pausânias sugere
137
que, a partir da apropriação da dupla genealogia de Afrodite, Eros passava a ter duas
designações distintas: a de Uranio e a de Pandemos. Trata-se de uma teoria moralizante,
na avaliação do crítico, que se apropriou dos cultos atenienses a Afrodite para classificar
Eros. Os cultos devotados à deusa a consideravam filha de Urano e, numa outra
linhagem, descendente de Zeus, o que pela visão de Pausânias sugeria uma interpretação
semântica de Cypris como tendo duas origens distintas: o amor celeste passa a ser
atribuído à alma e o amor vulgar ao corpo. Afrodite Urania presidia as relações
amorosas socialmente aceitas e ligadas à virtude e Afrodite Pandemos, nascida da união
de um ser mortal com um ser imortal, presidia as relações ligadas à gratificação física.
A dupla genealogia de Afrodite introduz, portanto, a metafísica de Eros e o seu caráter
ético-moral-educativo ou, em outras palavras, a distinção entre amor físico ou terreno e
amor espiritual ou celeste, distinção metafísica que não existia na poesia lírica arcaica.
Cada Afrodite e cada Eros simbolizariam, assim, um dos mundos da teoria de Platão.
O mais importante para esta tese, entretanto, é que todos os diálogos de O
Banquete levam ao discurso em que Sócrates cita Diotima. Na conclusão de que o Amor
é o guia criativo para a poesia e de que há uma equivalência entre os efeitos do amor e
os efeitos da poesia (Agathon), introduz-se a fala de Diotima (CALAME, 1999:184). “A
poesia é substituída pelo encantamento, pela adivinhação, pela iniciação. (...) A questão
do Belo, do Bom e do Divino se torna a questão da Beleza” e do aprendizado da Beleza,
este o problema filosófico apresentado pelo Eros platônico. A única mulher introduzida
no diálogo é também estrangeira e prega “um retorno da dualidade e da pluralidade à
unidade corporificada na beleza abstrata” (idem, 185). Eros, como guia na iniciação à
Beleza, assume papel ético-moral. A função de Eros torna-se, portanto, pedagógica.
Quando deixa de ser pedagógica, no sentido de iniciação do eromenos, torna-se
moralizante porque vira iniciação na compreensão e apreensão da Beleza. “O amor é
138
Comentário: Voltar ao texto de
Americo Pessanha, “As faces de
Eros”.
impulso ascensional do sentimento e da fala” (PESSANHA, 1987: 86) A questão da arte
torna-se a questão do Logos.
Calame aponta que, para a compreensão da obra platônica, é importante observar
a profunda mudança realizada na passagem de O Banquete para Fedro, envolvendo os
“procedimentos argumentativos” e as proposições acerca do Amor. Não mais voltado
para a divindade do Amor, como em O Banquete, o foco no segundo diálogo concentrase na “função de enamoramento” (CALAME, 1999:186) proporcionada por Eros. A
proposta é abandonar o aspecto pedagógico e moral de Eros e mergulhar na sua natureza
divina.
Em um primeiro momento do discurso, como mostra Calame, o tema se
apresenta em torno do estado de enleio amoroso que se aproxima de um estado de
loucura e toma conta do adivinho, introduzindo a arte do delírio. A loucura que se
apossa do amante – a mania – por sua etimologia se aproxima da loucura que se apossa
do adivinho – a mantike – arte da adivinhação. Arte da adivinhação (mantike) associa-se
à arte do delírio (manike). Diotima é a sábia adivinha ao mesmo tempo possuída pelo
delírio (nesse caso, amoroso) e pela adivinhação. É também apresentada como
estrangeira introduzida por Sócrates, porque vem de fora, mediada pelo filósofo, mas é
também a única que pode falar com propriedade porque viveu a loucura do amor.
Aponto o dado de estrangeirização porque a concepção de Diotima como aquela que
vem de outras terras, que está em travessia, introduz a característica do deslocamento,
também encontrado nos efeitos da loucura, uma vez que implica um indivíduo em
constante mover-se. A loucura amorosa provoca deslocamentos necessários para o
processo de metamorfose do homem. “Em essência, apenas as mulheres podem lidar
com a possessão divina. (...) A mania – loucura – inspirada pelos deuses e que dá acesso
ao domínio dos deuses é superior ao tipo de sabedoria que depende do homem”
139
(CALAME, 1999:187). A loucura é de domínio superior porque dá acesso ao reino dos
deuses. O trânsito necessário para o homem assumir sua natureza mutável e mutante.
Nesse ponto, a natureza de Eros se cruza com a dimensão dionisíaca do pandemônio. E
o pandemônio, segundo Otto, é o estado de êxtase religioso próximo à loucura; o rugido
selvagem seguido do silêncio, som e intervalo, duplo movimento que revela apenas
duas diferentes formas do Inominável, que despedaça o ser em violência calada.
O domínio do homem é o reino do conhecimento, o domínio dos deuses é o
reino da loucura, ao mesmo tempo transfiguração, adivinhação, encantamento. Tudo
aponta que “a natureza da loucura erótica é divina” (CALAME, 1999:187). Mas a
dimensão divina de Eros continua sendo moralizante no diálogo porque ainda assim a
possessão divina age sobre o homem de forma que, tomado pela memória da verdade,
ele “caminhe em direção à realidade” (idem, 188) e abandone o violento êxtase do
pandemônio. Nessa busca platônica, a loucura amorosa é a porta para a visão da Beleza,
uma vez que, em contato com os deuses, o homem pode vislumbrar o Belo e a
reminiscência da verdade, participando dessa maneira da realidade transcendente
(ibidem). É assim que o amor dá acesso à filosofia, segundo Calame. O Eros metafísico
de Platão é, até o fim, pedagógico porque é um Eros intelectual, com objetivo e valores
morais e sociais, sobrepondo a aspiração espiritual ao desejo físico (idem, 187/188), um
Eros que abandona a humanidade e se torna divino. Um Eros que faz Ulisses, “o sábio
Ulisses”, em Uma aprendizagem..., representante da civilização do Ocidente, do
conhecimento racional, “perder a tranqüilidade ao encontrar pela primeira vez na vida o
amor” (LISPECTOR, 1991:176). Após reconhecer que é preciso “não esquecer e
respeitar a violência que temos” (idem, 115), no centro do selvagem coração da vida,
Ulisses “perdera o tom de professor e sua voz agora era a de um homem apenas” (idem,
176). Ulisses se humaniza.
140
Comentário: Aqui pode entrar
a análise deste Eros intelectual em
Clarice, já que citei Diotima.
Portanto, o aspecto iniciático de Eros ultrapassa o código platônico, que é
metafísico e moral: ele passa da dualidade à unidade e depois novamente à
multiplicidade, em processo de geração e diferenciação, distinto do que é proposto por
Platão, que permanece na unidade, isto é, da pluralidade de corpos terrestres redescobrese a unidade na contemplação do que está além. Segundo a sugestão de Calame, este
outro código de Eros será chamado de “místico” e seguirá a tradição dos Mistérios de
Elêusis e do pensamento órfico, por meio das cosmogonias e teogonias que se
desenvolvem a partir desta tradição, e que entendem a natureza de Eros como sendo
dual, bissexual. Este ser que nasce do ovo colocado por Cronos é associado a Phanes,
ou Pan, símbolo da criação de todas as coisas, organizador do cosmos e que é também
Eros. “Esta bissexualidade é reminiscência da natureza paradoxal dos aspectos
contrários creditados a Eros pela poesia arcaica” (CALAME, 1999:195). Eros condutor
da relação amorosa em Uma aprendizagem... não tem “modos nem formas”
(LISPECTOR, 1991:174) porque é “luz de ouro” (idem, 175) e beleza “funda e escura”
(idem, 174), “alegria” e “angústia” (idem, 166), “amparo” e “desamparo” (idem, 164),
pobreza e plenitude, o absoluto da morte e o abismo do prazer (idem, 141), o “óbvio” e
o “extraordinário” (idem, 106).
De acordo com os mistérios órficos (CALAME, 1999:195-197), a genealogia
cosmo-teogônica remete ao início de tudo como vindo de um estado de indiferenciação
(identificado à Noite e Urano), a partir do qual será criada a diferenciação que
distinguirá todos os seres e coisas, mediado por Sol e Cronos. Zeus intervém, e, em
gesto antropofágico engole o pênis de Sol – a deglutição aparecerá como modo de
participação de um ser no outro – e a partir de então todas as coisas são forçadas a
nascer em explosão. Para Calame, esse ato de Zeus é essencial para a compreensão do
sistema místico porque aponta para uma dinâmica que parte de um estado primeiro de
141
Comentário: Isso é muito
Calame.
indiferenciação, seguido de uma diferenciação e da intervenção da sexualidade por meio
de Eros, atingindo, por fim, o retorno ao estado de unidade por meio da interferência de
Zeus. Zeus deixa de ser o rei que originará a diferenciação porque está sob a influência
de Eros quando o engole. Mas este Zeus, apesar de restaurar todos os seres ao seu
estado original de unidade, é concebido como um ser dual, que concentra em si a terra e
o céu, princípio masculino e feminino, sendo por isso associado a Eros multifacetado.
Só a possibilidade de retorno à unidade por meio de um ser que contivesse em si uma
constituição dual poderia gerar os outros seres. Eros é visto como um “mediador entre a
indiferenciação – de onde veio – e a diferenciação – para onde conduzirá as gerações
Comentário: Mediador entre
GH e Lori
futuras” (CALAME, 1999:197). Eros deixa de ser apenas uma força iniciática das
relações sociais e morais, dos papéis sexuais e passa a constituir uma ‘energia’, uma
força de indiferenciação perseguida pelos místicos, em busca da unidade perdida. Ele
passa a conter em si todos os contrário, tudo que existe. Nesse sentindo, as narrativas de
Comentário: Aqui tem uma
quebra. Está solto.
Clarice Lispector põem em circulação a recuperação de uma identidade perdida a partir
da reorganização do desejo pela participação do corpo na constituição do ser, por meio
da força mística de Eros cosmogônico, dociamargo, dionisíaco; que desloca,
desorganiza e movimenta. Note-se que em A paixão..., o ponto de partida é o desamparo
da separação amorosa que leva o sujeito a um processo de autognose, enquanto que em
Uma aprendizagem..., primeira obra publicada após o romance de 1964, depois de um
intervalo de cinco anos sem publicações, a trajetória é inversa.
No entanto, nas cosmogonias gregas, Eros e Afrodite assumem o papel de
forjadores de relações sociais porque, através do casamento e da educação, os laços
sociais são criados, o que constitui um viés construtivo e produtivo (e não destrutivo) da
força erótica. Calame aponta como Eros deificado passou de uma função teogônica para
outra filosófica muito por conseqüência do seu papel institucional, em práticas
142
Comentário: Nas cosmogonias
é construtivo, na lirica arcaica é
dual, exceçao de Safo para quem é
Eros/Afrodite trazem o aspecto
diligente, aproxima do corpo e é
ambiguo. Nas tragedias gregas,
aspecto destrutivo, Platao
construtivo moral, para os latino
Eros é duplo – Venus Pandemos e
Celeste, intitui-se a metafisica e a
literatura ocidental fica presa e
atada à dualidade metafica. CL
alterna.
educacionais de iniciação e ritos de passagem para a maturidade e “na manutenção de
uma malha social dentro da comunidade cívica”, ordenadora das coisas e dos valores
(CALAME, 1999:177-178). Observa-se que, em Uma aprendizagem..., a força de Eros
se torna uma ameaça à malha social constituída dentro da sociedade judaico-cristã uma
vez que põe em circulação o novo. O reconhecimento de que o “sábio” Ulisses,
representante-fundador da cultura racional do ocidente, “perdera a sua tranqüilidade ao
encontrar pela primeira vez na vida o amor” (CLARICE, 1991a: 176), e é abalado em
seu cerne pela força erótica, faz ecoar esta tradição e a ruptura dos laços sociais por ela
delineados. Ulisses perde sua carga mítica e torna-se apenas um homem em Uma
aprendizagem..., abandona o desejo de retorno para a casa e se lança imberbe à praia
desconhecida. Porque Eros concede humildade à razão ou, em outras palavras,
humaniza o inteligível. E porque Eros é filho de Penia (a Pobreza), neste ponto,
encontra-se uma porta para que a linguagem esclareça a que veio. Em afirmação
metatextual Ulisses – o Logos – aponta seu desempenho: “Escreverei sem estilo (...).
Escrever sem estilo é o máximo que, quem escreve, chega a desejar”. O Logos, tocado
por Eros, perde sua majestade e se torna humilde. Anônimo. Interessa observar como
em Uma aprendizagem... a força erótica se torna uma ameaça a este condicionamento
social ao instituir uma nova forma, não só de existência, mas de linguagem. A
experiência erótica leva ao questionamento de toda a malha social construída durante
séculos e culturas até a pergunta sobre o valor social não só do homem ou da mulher,
mas do próprio sentido de Eros. É como se Lispector desse voz ao próprio demiurgo
quando, da boca de Lori, soa a pergunta: “Você acha que eu ofendo a minha estrutura
social com a minha enorme liberdade?” (LISPECTOR, 1991a: 179). Uma vez mais,
Eros é o aspecto do mundo por meio do qual o divino se manifesta. Se na vertente
judaico-cristã Eros se assume a partir da oposição entre Pandemos e Urano, na vertente
143
cosmobiológica, os dois aspectos fazem parte da mesma cosmovisão, como forças
complementares. Assim como Dioniso se assume furioso, selvagem e intempestivo
quando rejeitado por Penteu em As Bacantes, Afrodite acaba hiper-enfatizando a força
total do sensível quando desprezada em Hipólito, gerando violência. Assim é que a
liberdade de Eros é ameaçadora porque evoca a sacralização da vida a partir do
corpóreo em união com o espiritual no indivíduo. “O sexo e o amor não te são
proibidos”.
Eros
Pandemos
e
Eros
Celeste,
quando
unidos,
provocam
o
“desencadeamento de muitas outras liberdades” (LISPECTOR, 1991a: 179), o que se
torna um risco para a sociedade.
Parece-me que Clarice vem expor um problema cultural que escandaliza e choca
a tradição judaico-cristã do dualismo psicofísico da qual todos fazemos parte. Um
problema que esbarra na compreensão da existência de um descompasso próprio do
indivíduo, herança para sempre irreparável e irreversível, que se apresenta como um
desacerto filosófico-religioso recorrente nos tempos modernos. Este desajuste se
apresenta na coexistência de duas formas de estar no mundo, de se relacionar e de
pensar a existência humana. Uma forma que pressupõe a compreensão da direta
conexão entre a divindade e o homem e outra que dessacraliza essa relação e introjeta
no mito do viajante solitário a cultura do sacrifício, própria da sociedade patriarcal, no
momento da formação de toda a tradição do pensamento ocidental herdada e
reatualizada até os dias de hoje.
No entanto, na década de sessenta, com a publicação do romance A paixão... e
do livro de contos A legião estrangeira, em 1964 e, mais tarde, em 1969, com o
romance Uma aprendizagem..., a autora inicia um novo processo de elaboração textual
que culminará no romance-poema Água viva, na obra metaliterária Um sopro de vida,
nos contos-iluminação de Onde estivestes de noite e A via crucis do corpo. As
144
Comentário: Talvez saber mais
sobre esse desconcerto
camoninano.
alterações são de ordem microtextual, envolvendo, por exemplo, a invenção de
vocábulos que expressem idéias próprias, como é o caso da referência ao “neutro”,
também chamado de it em Água viva, a quase obsessão da repetição de palavras,
sintagmas, frases, e de ordem macrotextual, como na estrutura de A paixão... em que
cada capítulo fecha com uma sentença que se repete abrindo cada novo capítulo e
servindo como mote ou glosa para o desenvolvimento do romance como um todo; ou na
elaboração de Água viva, que rompe com todas as estruturas fechadas e sistematizadas
da língua. Tais repetições, que enfatizam a preocupação com a forma do narrar, tomam
grande proporção a partir do romance de 1964 e se desenvolvem em procedimento de
colagem de textos que se justapõem e superpõem uns aos outros qual quadros
imagéticos reescritos e reaproveitados a cada nova aparição. É o caso dos contos que
aparecem em A legião estrangeira e Felicidade clandestina e das crônicas que Clarice
passa a publicar no Jornal do Brasil. Em princípio, a autora apenas repete narrativas,
alterando os títulos, como é o caso dos contos “A evolução de uma miopia” e “Viagem
a Petrópolis”, entre tantos outros que aparecem novamente em Felicidade clandestina
com os títulos “Miopia progressiva” e “O grande passeio”, consecutivamente; os contos
“Tentação” e “Os desastres de Sofia”, recolhidos em A descoberta do mundo com os
títulos “O intransponível” e “Travessuras de uma menina”. E, finalmente, o conto “As
águas do mundo” (Felicidade clandestina - 1971) que se repete em Onde estivestes de
noite (1974) sob o título “As águas do mar” e aparece como crônica, em1968, sob o
título “Ritual”. Esta mesma passagem será desenvolvida como capítulo central no
romance de 1969, com consideráveis alterações. Antes de entrar na avaliação destas
mudanças, cabe apontar ainda que em A legião estrangeira aparecem criações como “O
ovo e a galinha” que, como aponta o ensaio poético de Roberto Corrêa dos Santos,
permite-se ler em forma vertical, já que se trata de poesia em estado bruto. Da mesma
145
forma Vilma Arêas interpreta a matéria poética no conto “A mensagem”, também de A
legião estrangeira.
As alterações realizadas na passagem da crônica para o romance são de três
tipos, classificadas por ordem de importância estrutural, sendo que as primeiras
interferem em escala mais superficial, sofrendo apenas adaptações de ordem verbal,
uma vez que no romance fazem parte de estrutura mais ampla e interligada por capítulos
que o precedem e sucedem. Como exemplo, note-se a frase de abertura do texto que, em
A descoberta do mundo, apresenta-se como: “Aí está ele, o mar, a mais ininteligível
das existências não humanas. E aqui está a mulher, de pé na praia, o mais ininteligível
dos seres humanos.” (LISPECTOR, 1994: 120) Em Uma aprendizagem..., alterações
quase imperceptíveis são realizadas e, considerando a obra clariciana, diríamos que
mudanças mínimas como a preferência por determinados pronomes e até por artigos
definidos ou indefinidos em detrimento de outros são fundamentais para a construção de
uma palavra que se inscreve magia, pela alteração de conceitos e expressões e pela
interferência na mínima parte da língua. Assim é que da crônica para o romance, o
excerto inicia-se da seguinte forma: “Aí estava o mar, a mais ininteligível das
existências não humanas. E ali estava a mulher, de pé, o mais ininteligível dos seres
vivos.” (LISPECTOR, 1991a: 91) Pensando no conjunto de frases, nota-se que sua
cadência foi alterada, passando de um ritmo quebrado e desagregado para um fluir mais
compacto, coeso, como que a dar notícias do ritmo das águas do mar. Não fosse a
importância que a musicalidade e a imagem passam a ter nas obras da década de setenta,
poderíamos pensar que tais alterações não passariam de simples ajustes. Mas, como
demonstrarei mais adiante, a associação da escrita com a pintura terá papel fundamental
e fundacional nesta obra.
146
Se reduzíssemos o foco, saindo do amplo para o restrito, repetindo o gesto de
escritura clariciana, e privilegiássemos não mais o conjunto das frases, mas seus
componentes mínimos, como os dois dêiticos que introduzem o posicionamento da
mulher diante do mar – aqui e ali – poderíamos apontar na mínima parte um dos
processos que atingem a macroestrutura do texto: o da visualidade. Note-se que a
escolha de aqui na primeira frase, para definir o posicionamento da mulher, objeto da
narração, associa-se ao narrador deste fragmento de forma a interferir na situação de
enunciação. A autora trabalha com a dimensão dêitica dos dois advérbios de forma que
possa chamar atenção para a relação que se institui entre a expressão lingüística e o
elemento externo ao enunciado, que é a noção de tempo e espaço. O dêitico, enquanto
sinal que tem função de designar e apontar, mostra a presença do emissor no enunciado,
como se no texto da crônica o sujeito estivesse envolvido na cena, perto da mulher,
integrando-se na escrita como dado de constituição da experiência, o que corrobora o
tom mais informal e direto da crônica. No romance, o dêitico utilizado aponta para um
afastamento do sujeito enunciador, que agora deixa de estar envolvido na cena para
tornar-se seu pintor. Lispector, ao alterar ambos os advérbios, interfere na construção do
tempo e do espaço narrativos uma vez que identifica o momento da enunciação. O
advérbio aqui ganha conotação de tempo também e aponta para o momento presente, do
instante da fala, acrescentando valor ao posicionamento do narrador, além de se referir
ao espaço desta fala. Assim, o uso destes dêiticos como complementos circunstanciais
define a orientação e o gesto do sujeito enunciador se associado ao tempo verbal
utilizado na mesma frase: o presente indicando tempo, para a crônica, e o pretérito
imperfeito para o quadro imagético, apontando mais para um estado da cena do que para
um tempo. Esses dados se tornam relevantes uma vez que a intenção em Uma
aprendizagem... é trabalhar no limite da imagem.
147
Mas uma imagem que se quer dinâmica e, portanto, por culpa desse desígnio, o
verbo manter-se, de valor estático, é substituído pelo verbo tornar-se, além da
contribuição do adjetivo delimitado no seguinte excerto:
Seu corpo se consola de sua própria exigüidade em relação à vastidão do mar
porque é a exigüidade do corpo que o permite tornar-se quente e
delimitado, e o que a tornava pobre e livre gente, com sua parte de liberdade
de cão nas areia. (LISPECTOR, 1991a: 91-92)
Seu corpo se consola com sua própria exigüidade em relação à vastidão do
mar porque é a exigüidade do corpo que o permite manter-se quente e é essa
exigüidade que o torna pobre e livre gente, com sua parte de liberdade de cão
nas areia. (LISPECTOR, 1994: 120)
Aponto esta modificação porque ela é realizada justamente na passagem mais
significativa de todo o romance. A importância recai sobre o fato do narrador elaborar
neste capítulo o tema e arte poética da obra. Um pouco antes, Lóri afirma, em discurso
direto livre, que sua busca consiste em conjugar a “impersonalidade soberba do mundo”
(LISPECTOR, 1991a: 85) à sua “individualidade de pessoa” (idem) de forma que uma
nova condição de existência pudesse surgir. Na cena diante do mar, o que se apresentou
como conteúdo da expressão agora surge como modificação na forma. O corpo exíguo e
delimitado é fragmento, fração, delimitação, obstáculo, se o tomarmos enquanto corpo
que reencena a separação metafísica, da alteridade, do mar ou do mundo, representados
pela infinitude, pela extensão, pela vastidão. O confronto do homem moderno e de sua
identidade passa sempre pelo elemento da alteridade. Fato é que tal segmentação atinge
a linguagem, recorta o olhar que tenta buscar seu foco, alternando entre amplidão e
restrição. E o ritual que dá título à crônica congrega distintas camadas de sentido. A
primeira delas é a do ritual de fecundidade por meio do nascimento de Eros. A segunda
148
a do nascimento do novo homem ou do super-homem (ou da supermulher, como aponta
Ulisses no romance), a terceira é a da erotização da linguagem que entra em epifania.
Essas três dimensões tomam a forma imagética de um quadro que evoca o mito de
Afrodite Anadiômena, tema pintado por diversos artistas, entre eles Botticcelli.
Nota-se que as repetições realizadas pela autora apontam quase sempre para
quadros imagéticos que reiteram sentimentos ou idéias centrais na obra. A justaposição
destas cenas (como nas páginas 37-39) é responsável, nesse processo, pela construção
de um texto que pode ser lido como se fosse um quadro, com imagens centrais em torno
das quais se desenvolve a narrativa. E a colagem de imagens permite a expansão de
temas e a mudança de ritmos internos ao texto. Vista como expressão instantânea de um
sentimento, a lírica, ao justapor detalhes e imagens elaboradas pelo poeta, pode
propiciar a leitura de um texto literário como fosse um quadro. Nesse sentindo, a autora
encara o poema ou texto narrativo como um todo que se desloca de imagem a imagem,
seguindo sua própria progressão e atuando por meio da variação e expansão de temas,
da mudança de ritmos e da elaboração de imagens, de maneira a alcançar um clímax
onde se realiza a visão do poeta. Com esse recurso, pode-se facilmente simular o tempo
e a ação das narrativas tradicionais, utilizando ambas as categorias como objetos de
deformação, de modo a proporcionar uma modulação de imagens 12 . Na obra de
Lispector, esta progressão existe ao passo que a narrativa é construída, eliminando
gradativamente a relação temporal de causa e efeito – recurso que é espinha dorsal dos
romances tradicionais e que vê sua hegemonia reduzida com o advento do romance
moderno do século vinte. A seqüência de ações passa a ser cada vez mais simbólica e
menos presente, o que resulta no aumento de um ambiente textual de extrema
12
A avaliação de lírica e romance tomada nessa dissertação segue as idéias de Ralph Freedman dedicadas
ao estudo do romance lírico. Como observado pelo autor, o recurso de modulação de imagens é chamado
por Wolfgang Kayser de “processo lírico”.
149
Comentário: Isto está igual à
pagina 111.
ambigüidade. Assim, interfere-se na ordem da casualidade, regente da narrativa
tradicional, e institui-se a ordem da casualidade.
A progressão no tempo dentro da narrativa lírica é entendida por Freedman
como barreira que limita e dificulta a progressão lírica desviando a atenção do leitor.
Entretanto, o que se apresenta como um possível impedimento do processo se revela
como veículo de exploração da expectativa criada pela narrativa transformada em seu
oposto: o próprio processo lírico. O leitor supõe que a progressão narrativa é
determinada pela progressão temporal, o que é um erro, pois se existe progressão no
tempo da narrativa lírica esta só se apresenta como construção de complexos esquemas
de imagens sobrepostas ou justapostas que, subitamente, levam a um movimento de
isolamento da progressão, pois não há desfecho e tampouco conclusão: a narrativa se
torna uma irrupção em direção ao que não existe. A progressão da narrativa é na
narrativa lírica a seqüência de imagens, que se torna simbólica e representa, ao fim, a
busca do personagem. Para o autor, a consecutividade é simulada pela linguagem lírica
e sua irrupção até uma intensidade maior só enfatiza os acontecimentos já existentes,
gerando seqüência de repetições e intensificações de temas recorrentes: as ações se
convertem em cenas.
É a narradora de A paixão... que explicita, em 1964, a chave de leitura para
decodificação da escrita hieroglífica que se inscreve como desenho na parede na obra
de 1964 e como breves iluminuras que percorrem a narrativa de Uma aprendizagem....
Esta estratégia consiste em encarar o texto como uma “meditação visual”
(LISPECTOR, 1979:108), que associa o que a meditação tem de mais perigoso: a
fixidez do pensar e do inteligibilizar ao que possui de menos perigoso: a visualização
de imagens sem o auxílio das palavras e do pensamento: “o menos perigoso é, na
meditação, “ver”, o que prescinde de palavras de pensamento” (LISPECTOR, 1979:
150
108). Mas a imagem também pode atuar como uma narrativa na construção do
conhecimento de si, do mundo e do real. A descrição do quarto de Janair, em A
paixão..., revela sua arte poética. “Em alguns trechos o risco se tornava duplo como se
um traço fosse o tremor do outro.” (LISPECTOR, 1979: 35). O risco, que pode ser
traço de desenho ou desenho da letra, abre-se em dois, como se das imagens moldadas
pudéssemos ler o oculto que a palavra poética revela: “O desenho não era um
ornamento: era uma escrita.”: a imagem revela a escrita – o proscrito. A imaginação
criadora assume o privilegiado papel de articulador central no texto, possibilitando a
objetivação de diferentes realidades do sujeito e concedendo função literária à imagem
como linguagem complementar no tratamento da matéria pura e inacessível da poesia.
Em Uma aprendizagem..., observa-se à página 37 o desenvolvimento da
confluência–conversão entre palavra e imagem a partir de alterações que apontam para
a eliminação de marcas gramaticais de concretização e precisão do discurso, o que leva
a uma maior abstração do cenário e da cena, que é também ritual de erotização e
iniciação do corpo e da palavra na zona da imagem. Da página 37 a 39, desenvolvem-se
capítulos que são quase iluminuras, antecipando a cena central do banho de mar de
Lori. Pela imagem, a narradora introduz o tema sobre o qual falará, no qual se
converterá todo o percurso da personagem e da linguagem: a “super-realidade do que é
verdadeiramente real” conduzida pelo “prazer pré-sexual” do universo mediado pelas
“terras desconhecidas de Vênus” (LISPECTOR, 1991a: 37). A função iluminativa do
quadro se intercala no capítulo seguinte, composto de apenas uma única palavra –
“Luminescência” (idem, 38) – auto-explicativa, que atua como uma espécie de legenda,
inscrição da cena que narrará o nascimento da deusa, ato genesíaco e cosmogônico
realizado pela obra. O cenário de nascimento será convertido também em cenário de
morte, explicitado pela iluminação seguinte, à página 38, em que outra imagem se
151
instala: a da queda, associada à experiência de verticalidade vivida por G.H. na
travessia do humano ao inumano (que é divino) na obra de 1964. Seguindo as pistas de
Bachelard e, antes, de Nietzsche (a referência é extremamente relevante uma vez que a
própria Clarice evoca o super-homem em Uma Aprendizagem...), não é possível separar
o impulso para o alto da queda para baixo. A capacidade de ver a super-realidade do
verdadeiro real só será realizada pelo super-homem (ou, como afirma Ulisses, pela
supermulher) que se só se ergue em direção ao alto e à claridade ao passo que antes se
realiza como árvore, pendendo para a terra e suas profundezas. A profecia de G.H. – só
voa alto o que tem peso – é a mesma de Lóri – quereria, mesmo com medo, subir cada
vez mais alto ou descer cada vez mais baixo. Esta imagem vem anunciar que “em pleno
dia se morre” (p. 39) e que o nascimento da Vênus é também prefiguração da morte da
montagem humana, em nome do surgimento do humano dentro do humano. A premissa
que finaliza a iluminura da página 38 – “A mais premente necessidade de um ser
humano era tornar-se um ser humano” – se repete na cena do banho de mar, à pagina
87, e se afirma como a aprendizagem a que o título do romance faz referência,
aprendizado conduzido pela via de Eros, mas que, antes, parte da proposição da
solidão, em A paixão..., uma vez que esta estrutura desmorona no romance de 1964 e
pela via da autognose.
Um dos temas privilegiados por este sujeito transfinito é o do contraste entre a
finitude do homem e a infinitude cósmica, veiculado por meio de um movimento
constante de alternância entre a amplitude e a restrição de um olhar que se volta ora para
a realidade externa, ora para o universo interno e revela o comportamento do sujeito na
sua relação com o mundo. No texto de 1969, este tema toma a forma do contraste entre
o que a narradora chama de impersonalidade soberba do mundo (a mesma do mar e que
152
Comentário: O sujeito está em
extase com relaçao ao mundo todo
figura como a infinitude do universo) e a extrema individualidade da pessoa, que marca
a matéria e a finitude humana.
Elaborando proposições em torno deste tema durante todo o texto, a narradora
deseja apontar que aquilo que na verdade atua em pólos opostos de contraste deve, no
entanto, unir seus extremos e atuar como um casamento entre partes complementares
em beneficio da descoberta da essência e da possibilidade de liberdade. Nesse sentido,
narrará a história de uma aprendizagem amorosa cujos subtítulos são “A origem da
primavera” ou “A morte necessária em pleno dia”.
Assim é que os subtítulos do romance esclarecem as duas imagens articuladoras
da obra e referidas mais acima: a do nascimento de Vênus e a da catábase vivida por
Lori e conduzida por Ulisses, universos que põem em circulação o diálogo entre mito e
filosofia, entre duas culturas e pensamentos originários que compuseram, ao longo dos
séculos e da história do pensamento ocidental, duas formas distintas de consciência e
constituição da vida e da sociedade. Carlos Mendes de Sousa confirma a importância da
relação entre palavra e imagem e aponta de que modo a referência ao mito coloca em
contato o universo divino e o humano.
Num enquadramento próximo dos cenários pré-rafaelitas, a apresentação da
figura de Lori apóia-se em esquemas míticos, mais ou menos
subliminarmente pressupostos em todo o texto. Essa configuração mítica
conduz-nos até o domínio da atemporalidade – quando recorrentemente se
vem falando de “mulher antiga” (na fala de Ulisses) ou em “rainha egípcia”,
“mulher bíblica”, formulações amplificadoras – até à esfera da eternização
próxima do divino. Tratar-se-á de uma forma de procurar resolver a tensão
entre o tempo humano, que é finito, e a aspiração a um tempo divino que é
infinito (SOUSA, 2000: 200).
153
Nestes dois subtítulos Lispector já assinala os domínios de Afrodite e o diálogo
que manterá com a tradição literária ocidental, incluindo a sugestão a uma filiação que
remete aos poetas arcaicos já mencionados. “A origem da primavera” refere-se não só
ao mito de Afrodite, uma vez que a Deusa está intimamente ligada às flores, sendo
chamada de deusa floral e mostrando afinidades com a vegetação, mas ao nascimento da
própria personagem. Pela origem narrada por Hesíodo, o nome da deusa ganha duas
outras marcas que lhe designam: o sexo e a forte relação que a deusa mantém com o
mar.
Um dos epítetos que aparecem na literatura grega anterior e posterior a Safo é
poikilothron – de flóreo manto furta-cor – invenção exclusiva de Safo, segundo
Giuliana Ragusa (2005), sem antecedentes na literatura pré ou pós-sáfica, mas que faz
ecoar outros epítetos encontrados na épica homérica, principalmente pela noção de
furta-cor, do brilho e das cores. Nos versos 437-41 da Ilíada, canto XXII, Andrômaca
tece para Heitor um manto purpúreo com flores furta-cor, além do cinto da deusa
descrito nos versos 215-16 do canto XIV da Ilíada também guardar a dimensão do furtacor e a referência aos encantos da sedução. Portanto, a esfera de Afrodite é a do
encantamento amoroso, seja na forma de adornos ricamente elaborados ou do manto
furta-cor. O argumento de Ragusa para a memória da deusa na literatura grega arcaica é
poético e não histórico e, portanto, concentra-se no estudo de metáforas e descrições
que possam destacar a deusa na literatura.
A importância destes dados para a narrativa de Uma Aprendizagem.... reside na
aproximação da personagem Lori à linhagem de personagens do universo feminino
como Penélope e Andrômaca, por exemplo, que à espera de seus pares amorosos fiam
os mantos representativos dos domínios da Deusa, tal qual Lori. Da mesma forma, Lori,
cujo par amoroso é Ulisses – e a referência explícita ao personagem homérico convoca
154
o diálogo com a tradição estabelecida após Homero - “faz de conta que fiava com fios
de ouro as sensações” (LISPECTOR, 1991a: 20), imediatamente remetendo ao
elemento áureo que qualifica a Deusa, e ao ato de fiar, que remete às personagens
homéricas. Além disso, Lóri fia: “há uma semana que ela bordava uma toalha de mesa,
e com as mãos ocupadas e destras conseguia passar os longos dias das férias escolares.
Bordava, bordava” (LISPECTOR, 1991a: 73). Outro epíteto utilizado por Safo para
descrever Afrodite é o termo dolóploke que significa “a tecelã de ardis”, referência que
na lírica aparecerá três vezes na poesia de Safo. Este epíteto sugere o uso da sedução
amorosa por meio do engano e do ardil como desígnios do reino de Afrodite. Dolo:
artimanha, e ploke: arte de tecer e tramar fios. O disfarce como estratégia de sedução
será transposto para o domínio da linguagem na escrita de Lispector, entendida como
espaço de sedução e coerção (RAGUSA, 2005:163).
Por sua vez, o capítulo que inicia à pagina 87, anterior à cena do banho de mar,
evoca o cenário de Afrodite/Vênus e a técnica da escrita clariciana que comporta a
extensão e restrição do olhar, para introduzir a dialética entre a amplidão cósmica e a
solidão humana. Esta estratégia persuasiva resolve a divisão metafísica no homem por
meio da mundividência complementar do todo.
Segue-se dessa construção temática uma composição imagética elaborada pela
cena central do banho de mar protagonizado pela personagem em aprendizado – Lori que se mostrará como a reencenação do mito cosmogônico do nascimento de Afrodite.
A recuperação desse mito cosmogônico pelo texto clariciano tem a função de atuar
como elemento de reconfiguração de uma subjetividade fragmentada de modo a
reinventar a identidade do sujeito enquanto indivíduo e cultura.
O sujeito reconstruído se torna ameaça à estrutura burguesa entendida como
sistema fechado e opressor que define os valores e significações, desejos e sentimentos
155
que descaracterizam as diferenças mantenedoras das identidades. Assim, Lispector
recupera a memória de uma tradição cultural pela recusa do individualizante em nome
da instauração de um passado comum e originário ao homem. A autora funde a
sensação de amplitude cósmica, que impõe o ilimitado, o infinito e o Uno, ao olhar
restritivo da solidão humana, que intensifica a condição de mortalidade do homem
diante do Todo. Com isso, o Novo Homem, de cuja linhagem Lori é representante, dá
forma a um sujeito herdeiro de uma tradição mais antiga que confere a mesma
legitimidade tanto ao racional – representado por Ulisses – e à tradição científicofilosófica, quanto ao sensível – representado por Lori – e à tradição mitopoética, que
privilegia o corpo, o sensório, o sensível, a terra. Note-se a cena cosmogônica
reencenada por Lori:
“Aí estava o mar (...). E ali estava a mulher (...). Ela e o mar.” (p. 91)
“O cão livre hesitava na praia, o cão negro”. (idem)
“Vai entrando”. (p. 92)
“Avançando, ela abre as águas do mundo pelo meio”. (p. 93)
“Abaixa a cabeça dentro do brilho do mar, e retira uma cabeleira que
sai escorrendo toda sobre os olhos salgados que ardem”. (idem)
“Agora sabe o que quer: quer ficar de pé parada no mar. Assim fica,
pois”. (idem)
“Depois caminha dentro da água de volta à praia, e as ondas
empurram-na suavemente ajudando-a a sair”. (p. 94) (LISPECTOR,
1991a).
Por meio de linguagem sintomaticamente plástica, pode-se notar que o espaço
eleito pela autora remete ao topos clássico da natureza ordenada, marcado pela presença
do mar, dos animais, da água, espaço esse sacralizado e que atua como veículo para a
percepção do mundo pelos sentidos. O cenário é ao mesmo tempo natural, sinestésico e
156
sagrado, marcado pela força erótica que atua nos domínios da deusa. A cena de banho
concede caráter ritualístico e iniciático à personagem e atua simultaneamente como
batismo do novo ser e da nova identidade, e ainda como ritual pré-nupcial de
fertilização, evocando a toilette de Afrodite antes do matrimônio com seus pares
amorosos. Este ritual entroniza não só o casamento entre Lori e Ulisses, mas, ainda a
união da tradição mitopoética com a filosófica, da poesia com o pensamento científicoracional. Pessanha aponta que a obra de Lispector mobiliza uma visão de mundo que
reproduz “o itinerário do despertar da consciência filosófica dentro do mundo da
cultura: a partir da mentalidade “primitiva”, “mitopoiética””, confirmando o casamento
dos dois discursos na obra lispectoriana. (PESSANHA, 1989: 183)
As representações poética e iconográfica de Eros e Afrodite, ao longo da
tradição ocidental, permitem que se conheçam não só as suas práticas, mas seu valor
histórico e social uma vez que os produtos simbólicos de toda a cultura ocidental
gerarão as suas realidades sociais, valores e instituições. Assim, as representações
sociais, poéticas, imaginárias, iconográficas e religiosas de Eros permitiram que ele se
constituísse como um agente ético e mítico, operando na imaginação poética e no
discurso como agente iniciático. Sua manifestação na escrita de Lispector aparece como
a de Eros dociamargo, função corrente na poesia de Safo, Anacreonte, Píndaro, por
exemplo, percebido pelos sentidos e que surge com sua força inexorável de doçura e
prazer, mas principalmente de loucura e violência. A esse reino do duplo, do contraste e
do contraditório pertence Afrodite.
Após cumprir a coragem de abdicar da terrível máscara ficcionalizante do
sujeito, no coração do desamparo, Lóri marcha ao encontro desse Outro que é memória
e cultura, em busca de uma identidade própria, de um nome. A memória da
ancestralidade leva à revisitação de mitos e figuras da tradição literária ocidental: a
157
esfinge, Ulisses, Penélope, as sereias. A revisitação, no entanto, tem um objetivo:
inverter os mitos da tradição, criando o seu próprio. Nomeadamente e não por acaso,
Clarice menciona que o “nome” de sua personagem origina-se de um lendário
personagem do folclore alemão imortalizado por Heinrich Heine e, depois, celebrado
em inúmeras composições musicais e referências artísticas. Trata-se do poema
“Loreley” ou “Die Lorelei”, que evoca o mito das sereias, seres que seduzem os
pescadores com sua formosura e seu canto, levando-os à morte. Se, na tradição, a Musa
eternizada pela imagem da sereia tem caráter destrutivo e, ao mesmo tempo,
encantatório, no mito clariciano é a sereia – símbolo da imortalidade e da harmonia
celeste – que morre pelo cântico do mar e dos pescadores somente para renascer como
Poesia e com nova identidade. Como afirma Lucia Helena, “Lori é idêntica a si
própria”, ainda que tenha que traçar sua própria via-crucis de auto-descoberta. Por isso,
a narrativa conduz a um “repúdio da diferença nome/pessoa, personagem/figura real,
Lori/eu. Lori e Loreley não são uma e outra. São, ambas e unas, o Mesmo” (LUCIA
HELENA, 1975: 103). Lóri deve ser abandonada para ressurgir Loreley. O nome
introduz a identidade.
Assim é que a memória cultural retorna em função do ressurgimento do novo
homem, senhor de seu próprio destino, como forma de alteração do presente. O mito da
sereia refaz-se como anúncio do encontro do divino dentro do humano; transcendência
na imanência. Depois da investigação da alma humana, a autora deixa explícita a sua
arte poética ou, em outras palavras, por que razão o texto (criatura) – palavra, nomeação
- foi trazido ao mundo pelas mãos do escritor (criador). A palavra poética possibilita o
exercício da alma e a investigação do pensar-sentir transportado pelo texto, que deve ser
também música porque é arrebatamento. Somos deuses em potencial, mas somos
homens antes de tudo. Em direção ao humano divinizado encontra-se o super-homem
158
ou, como aponta Ulisses, a supermulher. Mas a condição a que se deseja chegar só pode
ser alcançada a partir da não separação corpo-alma e da aceitação do mal, do erro, do
temporário como necessários à realização do ser. Só quando o humano atingisse os
limites divinos, qual Zaratustra, é que poderia encontrar o novo homem.
A abertura a outras liberdades que ameaçam, por exemplo, a estrutura da
burguesia, os valores e morais ético-religiosas que vitimizam tanto Macabéa, quanto as
personagens de A via crucis do corpo, bem como as empregadas, taxistas, e mesmo o
escritor, que se submete à pressão do mercado e das editoras, à literatura de massa, ao
consumo/produção acelerados de coisas e sentimentos. O fato das denúncias saírem da
boca de personagens burgueses como Lóri, Ulisses, Joana, G.H., entre outros que
ironizam sua própria condição, ou de oprimidos e vítimas de violência social, não
diminui a potência da denúncia. Aproximar o estatuto do escritor do personagem criado
por ele – e para fazer a mimese da realidade deve-se vestir por vezes a roupa de capataz
ou de vítima - leva ao questionamento da própria ficção: é ela de fato pura invenção ou
se torna o real? O escritor se torna vítima do seu personagem, da fúria de sua narrativa,
do fragor de sua compulsão.
Em Uma aprendizagem... ou em A paixão..., as personagens ironizam a classe
burguesa à qual pertencem, buscando o abandono das máscaras sociais de forma a
caminhar em direção à alteridade, ou ao outro de si mesmo. Quem tem fome vive o
amor, ou só os privilegiados? Abandonar a estrutura humanizante não é tarefa agradável
e, muitas vezes, requer ir ao encontro do subterrâneo de si mesmo, das maldades e
sadismos, angústias e assassinatos diários. Dos nossos mortos. Não é só a vida do
oprimido que afronta os olhos da sociedade, mas a vida de qualquer um porque a vida
em si é um soco no estômago. As forças que esmagam Macabéa, despossuída,
nordestina, retirante, são as mesmas que oprimem o indivíduo universalmente, seja ele
159
uma criança (Joana), uma dona de casa burguesa (G.H.), uma fazendeira (Lucrécia), um
escritor (Rodrigo S. M.).
Clarice impede que quaisquer de suas dramatica persona (autor, leitor, narrador,
personagem) ocupem posição confortável porque sua tarefa, sua urgência, é escrever os
irrespiráveis. O desamparo é de todos. A fome também. Não só o oprimido é
massacrado, mas aquele cuja existência é um pouco menos bruta e insensível, um pouco
mais suave e vulnerável. O homem, enquanto autor de suas próprias ficções e afecções,
pode matar ou salvar o outro, uma vez que o poder de construção e destruição a ele
delegado é o mesmo condicionado ao escritor.
Mas a travessia deve ser universal e particular ao mesmo tempo ou, diríamos,
social e individual - esse o posicionamento ético e político de Clarice. A revolução
interna e subjetiva deve ser também revolução externa e coletiva. Nesse sentido, Clarice
foi mal compreendida. Considerar que sua obra toca no tema social apenas em A hora
da estrela é um erro. O social mostra-se, no desenvolvimento da obra, como o que
revoluciona uma estrutura fechada, fazendo-a superar sua condição estática e limitada,
seja ela de burguês ou desfavorecido, tornando-o livre das convenções e valores
constituídos por essa mesma humanidade perdida. Clarice é, do início ao fim de sua
obra, uma autora que trabalha o homem como animal político, uma vez que ofende a
estrutura social com a enorme liberdade que faz nascer na alma de cada personagem, na
busca incontida de cada um por libertar-se não só dos tabus sexuais, no caso de Uma
aprendizagem..., mas dos condicionamentos e valores instituídos do belo, do bem, da
verdade, da vida. Essas liberdades provocam o desencadeamento de muitas outras
liberdades, como diz Ulisses, o que constitui um risco para a sociedade.
Uma aprendizagem... não realiza apenas a desconstrução mítica de Eros e
Afrodite, mas também realiza um desleitura de um dos Livros Sapienciais do Antigo
160
Comentário: Liberação da
cultura secular e não do social e
preconcetio momentano, liberação
das intolerâncias etc
Testamento, mais especificamente o “Cântico dos Cânticos”, ou, na tradução de Fiama
Hasse Pais Brandão, “Cântico Maior atribuído a Salomão” 13 , reencenando o ritual prótalâmico e as bodas nupciais entre Salomão e Sulamita. O Livro dos Prazeres escrito por
Lispector oferece-se como um Cântico dos Cânticos entre Lori e Ulisses, que se
configura, ainda, como metáfora para a representação da figura do autor e de sua escrita,
da tradição lógica e da tradição mitopoética. O Cântico dos Cânticos apresenta inúmeras
exegeses e seu sentido está longe de ser óbvio. De acordo com diferentes interpretações,
pode-se compreender este Livro como um poema amoroso, de origem oriental, que
exalta a sacralidade do matrimônio; ou simplesmente como um texto que canta o amor
conjugal ou mesmo como um livro pagão que narra a hierogamia entre um deus (o Céu)
que morre ao procurar sua amada no reino dos mortos, e uma deusa (a Terra), que se
apresenta como deusa do amor e da guerra (BÍBLIA, 1981:799). A encenação deste
casamento ancestral tem representação cultual e implica a comemoração cíclica da
fecundidade da terra. Ao explorar a manifestação amorosa dos noivos, o Cântico dos
Cânticos revela que o comportamento dos namorados se estabelece a partir da iniciativa
que o amado faz em procurar a amada, sem anunciar suas visitas ou justificar suas
ausências (idem, 801), conduzindo o desenrolar da relação amorosa, frustrando as
expectativas e os apelos da amada, que “entre vigílias e sobressaltos noturnos, sofre e se
angustia” (ibidem). A experiência amorosa se torna assim um processo doloroso, mas ao
mesmo tempo de êxtase supremo, que visa à união a partir de uma via de doação sem
que isso implique o perecer, com a garantia da felicidade plena, uma vez que esta
alegoria do amor humano é, simbolicamente, a expressão do amor divino de Deus por
13
Gostaria de chamar atenção para o comentário feito pela poetisa portuguesa sobre sua tradução do
Canto Maior, ainda que tenha preferido manter a versão bíblica nesta tese. A admiração especial de Fiama
pelo poema está na maneira como o texto “cabe na pupila”, isto é, na força poética de sua visualidade
que, ao justapor imagem e palavra, põe em circulação o simultâneo. Somente a potência aí contida é que
permite “a Visão multiforme do Conhecimento”. Penso que a obra de Lispector se direciona cada vez
mais a esse ponto de contaminação - o simultâneo - que aproxima visível e invisível porque só a
simultaneidade pode dar conta da visão. Esse movimento de escrita começa a se tornar mais forte, a meu
ver, em Uma aprendizagem... por todas as referências imagéticas a que o mito se permite.
161
seu povo. Na busca pela transcendência, este amor torna o homem portanto imagem e
semelhança de Deus.
Vejamos a encenação realizada em Uma aprendizagem. Enquanto Livro que
canta a iniciação da vida através do prazer, nota-se que a aprendizagem do romance é
“pré-sexual”, rito de passagem para a preparação da cena nupcial e para a transformação
de Lori em Loreley, isto é, batismo do indivíduo que renasce em nova forma. A
angústia e a morte serão transformadas em vida pela via do prazer, que resolve e garante
a experiência do mundo. O texto clariciano constrói a noção de prazer associado à dor.
Neste Livro, no entanto, é a mulher que se ausenta do homem. Lori inicia o texto na
dúvida se “continuaria ou não vendo Ulisses” (LISPECTOR, 1991a: 22), às vezes
“faltava sem avisar-lhe nada” (idem, 26) e Ulisses é o amado que “estava habituado a
vê-la faltar e não avisar sequer” (idem, 28). Com isso quero dizer que, se,
aparentemente, Ulisses é apresentado como o guia da aprendizagem amorosa de Lori, a
autora na verdade o conduz como mero disfarce, uma vez que é a própria Lori que
conduz o desenrolar da relação. Sua vigília torna-se iniciação na noite, espaço em que
angústia e dor são anuladas pelo prazer. A “via sacra” de Lori é uma travessia que
implica o constante uso e abandono da persona, o que significa perder e recuperar o
rosto próprio. No romance, a máscara exprime o papel que o homem assume no palco
do teatro. Lori se fascina pela máscara porque acreditava que “a máscara era um dar-se
tão importante quanto o dar-se pela dor do rosto” (idem, 100). O que fascina nas
máscaras da persona não é apenas o fato de que a máscara era “representação” de um
papel não genuíno. Mas de que há máscaras involuntárias, que se colam ao rosto do
indivíduo amedrontado, e máscaras voluntárias, escolhidas pelo próprio indivíduo.
Nesse sentido, a fascinação reside não na máscara, mas na troca delas, na mutabilidade
inerente à persona. Porque “Lori sabia que uma das qualidades de um ator estava nas
162
mutações sensíveis do rosto” (ibidem). Mais uma vez o deslocamento do ser converte-se
em deslocamento da linguagem. A linguagem que encena as tradições. Não e à toa que
Lispector menciona o teatro grego em sua obra. Note-se que a linguagem começa a se
mover para o centro do teatro alquímico clariciano, o que nos permitirá ler ainda Ulisses
como metáfora que converte o técnico em artista – e todas as referências metanarrativas
da obra são realizadas por Ulisses – e Lori como a criatura, o texto, a poesia. A
compreensão se perturba, uma vez que os papéis agora já se despregam dos rostos
originais e confundem a fronteira entre real e ficcional, mudando suas máscaras. As
relações de sentido se forjam na malha textual e as convenções desde já começam a ser
perturbadas.
Ainda que Uma aprendizagem... encene “uma travessia direcionada para um
encontro e serenizada como em nenhum outro lugar do universo clariciano”, como
aponta o crítico português (SOUSA, 2000: 199), não há garantia plena de felicidade.
Este Cântico revela que a felicidade é um espasmo – a felicidade pode se tornar um
vício e, assim, um “perigo social” – por isso, precisa permanecer um mistério. A
felicidade é portanto a felicidade do desconhecido, que não conduz à plenitude, mas à
dor, ao espanto, ao dilaceramento. Caso contrário torna-se “a compreensão e o resumo
da vida”.
Por fim, este Cântico não conduz o indivíduo à experiência da transcendência do
espírito, mas à transmanência do ser, que consiste na transfiguração do homem coletivo
e social em homem humano, na potência divina dentro do homem, na experiência do
sublime dentro do corpo.
Ulisses inventa um sistema de iniciação de Lori no universo do prazer. “O que
não soubesse ou não pudesse dizer, escreveria e lhe daria o papel mudamente”
(LISPECTOR, 1991a: 21). E o Livro sapiencial de Lori começa a ser escrito como
163
acesso ao prazer: “escreveu num papel algumas palavras que lhe dessem prazer” (idem,
35). Dessa forma inicia-se a escrita do primeiro canto do Livro dos Prazeres: “Existe um
ser que mora dentro de mim como se fosse casa dele, e é. Trata-se de um cavalo preto e
lustroso” (idem, 36). A narração principia pela divisão interna entre um ser livre e outro
supostamente preso. O ser livre é identificado com um cavalo. Segundo Sousa, em
Cidade sitiada, o tema da fundação da escrita pela imagem da cidade-texto (SOUSA,
2000: 151-165) e do escritor como aquele que reescreve o grande teatro do mundo e das
tradições já se firma na obra da escritora desde a década de cinqüenta e aponta para o
processo de busca e descoberta do nome possível para a possível construção de um
mundo. A casa é uma metonímia da cidade, e se “os homens fazem e refazem cidades
(textos) com a mesma matéria, a palavra, que aponta o nome das coisas” (SOUSA,
2000: 153), esta casa é também o texto. Dentro dela habita o cavalo. Os eqüinos, nas
palavras do pesquisador, “reaparecerão sempre associados à origem da cidade” (idem, p.
85) e, portanto, da escrita, representando “o excessivo, a energia incontida”, o
nascimento do texto. Só que a casa é também “corpo-casa” e sendo assim o corpo do
texto conduz à fundação do texto que é “escrita-corpo que irrompe poderosa numa
intensa concentração do limitado e do infinito” (idem, 407). Só esta escrita resolverá a
solidão do homem que, “com a eternidade à sua frente e atrás”, vive a separação de sua
própria humanidade e da “exigüidade do (seu próprio) corpo” (LISPECTOR, 1991: 91)
em relação à “vastidão do mar”, isto é, a eterna divisão entre o ser humano limitado e
finito e a infinitude do universo.
Depois de escrever o primeiro texto de seu Livro, Lori consegue escrever algo
mais: “Como se uma manada de gazelas transparentes se transladassem no ar do mundo
ao crepúsculo – foi isso o que Lori conseguiu várias semanas depois” (LISPECTOR,
1991: 37). Em uma primeira referência aos cânticos salomônicos, o noivo é comparado
164
a uma gazela ágil durante a primavera, que vai preencher a nostalgia da amada com sua
aparição inesperada.
Atenção! É o meu amado:
Eis que ele vem saltando pelos montes,
Transpondo as colinas,
O meu amado parece uma gazela, uma cria de gamo”
(Cântico dos Cânticos, 2:8,9, p. 804)
“O meu amado é todo meu, e eu sou dele.
Ele é um pastor entre lírios.
Antes que expire o dia e cresçam as sombras,
Volta, meu amado,
- imitando a gazela ou sua cria –
Para os montes escarpados!
(Cântico dos Cânticos, 2:16,17, apud, BÍBLIA, 1981:804)
A semelhança do apelo feito pela noiva ao seu amado antes do cortejo nupcial
realizado no casamento bíblico aponta para o casamento a se realizar no romance. O
Livro dos Prazeres é um livro de aprendizagem amorosa, mas também de ritual prénupcial. “A vitória translúcida foi tão leve e promissora como o prazer pré-sexual”
(LISPECTOR, 1991a: 37), diz a narradora de Uma aprendizagem....
A terceira incursão do Livro dos Prazeres, que se segue à referência ao ritual
pré-nupcial, introduz o reino da noite, dimensão do caos informe, imagem fundadora na
obra clariciana. E o vazio do silêncio. “O silêncio é a profunda noite secreta do mundo.
E não se pode falar do silêncio como se fala da neve: sentiu o silêncio dessas noites?
Quem ouviu não diz. Há uma maçonaria do silêncio que consiste em não falar dele e de
adorá-lo sem palavras” (idem, 44). Em sua tese, Sousa aponta o caos como sendo uma
165
das figuras fundadoras erguidas na narrativa de Lispector, à qual pode ser associada a
imagem da noite, que conduz à instituição de uma nova ordem do mundo e das coisas: a
desordem criadora. Este seria o “programa de escrita” lispectoriano. “Depreende-se que
é na desordem que se vai encontrar aquilo a que pode chamar-se a ordem natural das
coisas” (SOUSA, 2000: 112). E o caos é o espaço de um não-programa, uma aparente
ausência de forma, que então se revelará não como uma arbitrariedade, mas como uma
sucessão contínua de estados de ordenação. Da ordem ao caos, da desordem à
reformulação do real. Um jogo formulado na narrativa, uma encenação, desatinada pelo
movimento do olhar, ora centrado na parte, ora no todo.
Mas este primeiro silêncio [...] ainda não é o silêncio. [...] Mas há um
momento em que do corpo descansado se ergue o espírito atento, e da Terra
e da Lua. Então ele, o silêncio, aparece. E o coração bate ao reconhecê-lo:
pois ele é o de dentro da gente (LISPECTOR, 1991: 45)
Dois silêncios. O primeiro, desabitado, força estática, noite, o Nada. O segundo,
habitado, dinâmico, vivo, preenchido de memórias, de fantasmas, de som. Este silêncio
vem acompanhado de um diálogo com a tradição e delineará a forma de um Deus
inventado pela narrativa. O Deus da tradição dualista judaico-cristã ensina ao homem
que a queda é um pecado com o qual o indivíduo nasce e que o conduz à prisão do
julgamento, à exigência do cumprimento da missão humana e à fatal culpa erguida do
fracasso da missão. A ferida é a necessidade de uma justificativa para a existência
quando nada explica a fratura. Como a ruína de Jó. E o homem forja existências e
punições para explicar a queda. A culpa é uma delas. A necessidade de ser perdoado,
outra. “Tão suave é para o ser humano mostrar sua indignidade e ser perdoado com a
justificativa de que se é um ser humano humilhado de nascença” (LISPECTOR, 1991a:
45). O Silêncio dual que aparece no Livro dos Prazeres não exige o cumprimento de
166
nenhuma missão, não julga o indivíduo, e por isso não adota o perdão. O Silêncio
torna-se então Inferno, espaço que coexiste com a Noite na “orla da morte”. Em A
paixão..., o inferno é espaço simbólico no qual se desdobra o drama gnosiológico de
GH. Para além da imagem cristã de reino de punição, sofrimento e fogo eterno, o
inferno da narrativa clariciana compartilha dos mesmos atributos que o diabólico e o
demoníaco reconfigurados: “Eis o inferno: não há punição” (LISPECTOR, 1979: 117).
Transforma-se em “êxtase de riso com lágrimas” e “esperança de gozo”. Apenas no
“outro lado da humanização” o inferno existe como espaço agregador. Designado como
“núcleo”, “neutro”, "tortura de uma alegria”, lugar de ambivalência, o inferno recebe a
desordem e desagregação do ser e do mundo porque se apresenta como espaço do caos
fundador, paisagem “horrível”, “boa” e “prazerosa”; indistinta. “O inferno é a dor como
gozo da matéria, e com o riso do gozo, as lágrimas escorrem de dor. E a lágrima que
vem do riso de dor é o contrário da redenção” (LISPECTOR, 1979: 116). Na
experiência de G.H., a subjetividade se reescreve pela letra e o corpo já não delimita o
homem, aproximando-se da “alma impessoal” na própria imanência corpórea, mas se
refaz em infinitas combinações e comutações, tal qual o corpo do texto.
167
CAPÍTULO III
3.1 DA DESCOBERTA DO MUNDO À ENCENAÇÃO DA ESCRITA
A imaginação, nos termos de Bachelard em O Ar e os Sonhos (2001), é
apresentada como faculdade deformadora da reunião de imagens, de maneira que a
explosão criativa decorrente dessa união dê origem a uma ação imaginante. A
mobilidade resultante desse fluxo garante o vôo poético para além do horizonte
imaginado. Ao poema corresponde, portanto, a abertura e aspiração à novidade,
traduzidas em horizonte possível para além da realidade, promovendo a viagem
iniciadora de uma vida literária com suas próprias leis. A partir do fluxo, surge um
movimento que tem como principal característica destacar a mobilidade gerada pelo
curso de imagens construídas ao longo da obra, que se manifestam como a própria
fecundidade, a própria vida. Este curso nutre-se da linguagem viva e, através dele, a
literatura se torna imaginação criadora, dando novas formas ao pensamento, tornando-o
o devir do próprio homem e acima de tudo da linguagem.
Assim sendo, cada autor faz ao leitor o convite a uma viagem pelo seu mundo
literário particular, onde se podem experimentar novas formas de existência e de
Comentário: !!!!!
sentido para o real. Assim o é com Clarice Lispector e sua poética dionisíaca. Os
quadros imagéticos criados pelo texto clariciano promovem um ritmo vital com
movimento próprio, instaurando um novo mundo condutor do olhar dinâmico do leitor
e convidando-o a integrar-se como co-partícipe do processo criativo. Nessa
composição, constitui-se o trajeto que vai do real ao imaginário e sua investigação
revela as matérias que fundam as imagens e garantem o dinamismo através do qual se
forma a composição orquestrada por cada autor.
A estrutura arquitetônica que se ergue do texto clariciano produzido a partir de
168
A paixão... visa forjar um universo vibrante de imagens-conceito, em que ambos os
termos deixam de ser pensados separadamente para reverberarem uma poética de
blocos fulgurantes, na qual o pensamento lógico-conceitual, ao invés de se sobrepor,
encontra-se em situação de igualdade e intercâmbio com o pensamento poético e
imagético. Nesse ponto, a estranheza e o impacto causados pelas inversões e
conversões engendradas pela narrativa clariciana se mostram sob um dos eixos de
enlace da exegese feita por Lucia Helena: no eixo que se desenvolve entre o
vazio/inominável e o real/figurativo.
É neste ponto que se verifica o movimento da dobra do pensamento sobre si,
promovendo a reflexão sobre o ato poético e a escavação do Eu sobre o Eu. A
imaginação torna-se protagonista do movimento que proporciona a interação entre
espírito e poesia e a principal arma associada à atividade mental da romancista, em
busca de uma escritura que põe em circulação o que Lucia Helena chama de “vocação
para o abismo”. Esta postura da linguagem clariciana condiz com a violência de uma
escrita que implode qualquer tipo de distinção e faz emergir uma “experiência do
limite”, por meio da qual os opostos são colocados em junção. Este movimento do
pensamento é responsável ainda pelo papel de articulador central e difusor da mescla de
linguagens e gêneros que se dá à imaginação.
A tentativa de conceituar a obra da autora por critérios de classificação em
gênero literário torna-se, no entanto, “inútil”, como já foi amplamente apontado por
críticos de sua obra a partir da reivindicação da própria Lispector. O percurso
hermenêutico a que a potência criadora de sua narrativa naturalmente conduz leva à
compreensão de uma idéia central levantada pelo estudo de sua obra. Esta idéia está no
fato de que sua força literária não reside tanto no tema de uma narrativa, já que o tema é
um e o mesmo em todo o conjunto – a metamorfose existencial, confirmada por Lucia
169
Helena (2000), que se associa à busca pelo sentido da vida, nos termos de Gilda de
Mello e Souza, (SOUZA, 1989: 171) – e à conseqüente desconstrução de um gênero,
como a própria narrativa aponta. Reside, fundamentalmente, na capacidade que a obra
tem de causar um impacto para além de si mesma, trespassando os limites da ficção e se
instalando nas margens do próprio real, provocando o deslocamento da linguagem, da
literatura, da tradição cultural, e dos participantes dessa tradição. Com isso quero dizer
que sua obra aponta mais para o questionamento sobre um fazer literário, que conduz à
investigação da razão de se efetuar este fazer. Para Lucia Helena este questionamento
interno da obra se configura nos termos de um “por que narrar” e do “como narrar”, que
se tornam mais importantes do que “o que narrar” ou “para que narrar”. Ou ainda, em
outras palavras, o corte vertical vigente em sua obra surge de profundos
questionamentos sobre a causa e não o fim da literatura, isto é, o que move um escritor
em seu ofício e não o resultado a que este trabalho chega. Para esta reflexão a própria
Clarice oferece respostas: a escrita nasce de uma urgência e uma incumbência, e o seu
resultado deixa de importar a partir do momento em que a obra entra em circulação. Em
carta a Lúcio Cardoso diz: “Estou tentando escrever qualquer coisa que me parece tão
difícil para mim mesma que eu me contenho para não me desesperar. É alguma coisa
que nunca será gostada por ninguém, mas não posso fazer nada” (LISPECTOR, 2002:
66). Um deslocamento que aponta ao mesmo tempo para a afirmação de quem somos e
a estranheza de nossas diferenças. Um estranhamento que resulta, como proposto por
Lúcia Helena, da “contempla(ção) da História como fragmento” ou “ruína”, nos termos
benjaminianos, (HELENA, 2000), e de sua inscrição na narrativa como personagem.
Buscando percorrer e depreender o trajeto de uma “história da experiência
literária” na obra de Lispector, Carlos Mendes de Sousa 14 , em sua tese de
14
SOUSA, Carlos Mendes de. Clarice Lispector. Figuras da Escrita. Braga, Universidade do
Minho/Centro de Estudos Humanísticos, 2000.
170
Comentário: VAI PARA O
SEGUNDO CAPÍTULO, JUNTO
COM APONTAMENTOS DE
Jaime Guinzburg
doutoramento, recupera e desenvolve o diálogo que a obra estabelece com conceitos
originários dos textos filosóficos de Gilles Deleuze, como o de devir, rizoma, linhas de
fuga, entre outros. Não interessa a esta tese repetir o percurso já realizado pelo crítico,
mas concentrar-se apenas em um destes conceitos: o de desterritorialização. Ainda que
tais conceitos estejam intrinsecamente ligados uns aos outros, permiti-me um
deslocamento para fins metodológicos uma vez que não pretendo ler a obra clariciana
sob a ótica da filosofia deleuziana.
Sousa inicia a análise do universo narrativo de Lispector assinalando a temática
do não-lugar na obra da autora. Segundo o crítico, "O caminho para a apresentação
absoluta do puro sentir e da imanência é simplesmente a fazenda, é o mar simplesmente,
ou seja, um modo radical de apresentar o vasto espaço da escrita" (SOUSA, 2000:25).
Este vasto espaço é composto de referências não-específicas, como o quarto da
empregada em A paixão segundo G.H., o mar em que Lóri se banha, a fazenda com a
casa e o celeiro de A maçã no escuro, o banheiro em Perto do coração selvagem, ou
pequenos espaços habitáveis, sem serem expressamente urbanos, cenários estes que
servirão de ponto de partida para o desvelar de metamorfoses existenciais. Trata-se do
lugar da abstração, espaço em que as imagens-conceito se firmam para que o texto não
se restrinja apenas a ser palco do devir do homem, mas se converta em solo do devir da
escrita, a representar a encenação da linguagem. O não-lugar é mantido porque este
território se torna mais propício ao deslizar e à convulsão das medidas e dos limites
entre sujeito, objeto, real, imaginário, interno, externo. Confirma-se, assim, o que Lucia
Helena chamou de “crise da representação figurativa”, responsável pelo “exame da
auto-referencialidade literária” que desestabiliza os limites do real na obra clariciana. O
trecho retirado do romance de 1964 exemplifica este cenário:
171
O quarto não era um quadrilátero regular: dois de seus ângulos eram
ligeiramente mais abertos. E embora esta fosse a sua realidade material, ela
me vinha como se fosse minha visão que o deformasse. Parecia a
representação, num papel, de como eu poderia ver um quadrilátero: já
deformado nas suas linhas de perspectivas. A solidificação de um erro de
visão, a concretização de uma ilusão de ótica. Não ser inteiramente regular
nos seus ângulos dava-lhe uma impressão de fragilidade de base como se o
quarto-minarete não estivesse incrustado no apartamento nem no edifício.
(LISPECTOR, 1979:34)
O espaço em que se desenrola a narrativa começa inicialmente como um quarto
dos fundos do apartamento de G.H.; porém, em sua descrição inicial, as proporções do
ambiente se mostram irregulares, em movimento de desfiguração e em certa imprecisão
e incertitude que aqui caracterizam o abstrato. Este território esfumaçado abre espaço
para a ambigüidade textual, que é intensificada pelo uso que Clarice faz do pacto
autobiográfico e da confluência entre espaço e tempo. Aos poucos, o leitor será
introduzido a um movimento quase vertiginoso que, como o delírio de Brás Cubas,
constitui-se como uma viagem que começa no quarto da casa e se dirige a tempos
imemoriais, configurando-se primeiro como um quarto-minarete, passando a laboratório
do inferno até definir-se em paisagem pré-histórica que remete aos primórdios da
civilização. Até que a verdadeira conformação se desvele: o espaço privilegiado pela
obra é o próprio sujeito e o seu curso de transformação até a transfiguração total,
encenando um processo de metamorfose que se aproxima muito da busca e objetivo dos
alquimistas em seus laboratórios à procura da pedra filosofal que garanta a imortalidade.
O não-lugar inicialmente é expresso por meio de uma desconfiguração espacial,
onde o quarto, espaço concreto, aos poucos vai se transformando até perder sua forma
referencial e se projetar para um espaço inaugural, que se confunde e converte em
tempo inaugural. A narrativa consegue com isso mover e mobilizar a linguagem, e
172
dirigir o foco para a potência de fazer e desfazer que a linguagem contém. A imagemconceito se torna movimento, música, e a visão deforma o real de acordo com a força da
ação imaginante. O quarto “morto” torna-se uma potência indelimitada e ilimitada. A
trasmutação do quarto aponta para a idéia de que este espaço se torna metáfora para a
vastidão do mundo em oposição à finitude do homem, o que imediatamente remete para
o contraste entre viver e perecer.
Como bem demonstra Sousa, os espaços escolhidos estão em tensão com a
língua e, sendo a língua móvel, o espaço também sofre a ação da mobilidade. O que
poderia se apresentar como espaço de territorialização mostra-se como “trabalho de
desterritorialização” e “abstração desreferencializadora” 15 , na escrita clariciana, já que
não se define, e tampouco se apresenta como espaço concreto. O não-lugar é projetado
no território da escrita. A desterritorialização se associa a linhas de fuga que saltam do
texto provocando o surgimento de pequenos universos temáticos dentro da obra com o
poder de desconfigurar o que antes se achava em forma fixa e estática. Nesse
movimento de ruptura, deslizamento, ou alargamento, podem-se “conjugar fluxos
desterriotializados”
(20).
Ambos
os
conceitos
de
desterritorialização
e
desreferencialização apontados pelo crítico nascem da estranheza e paradoxo do
choque de personagens que revelam um descompasso entre indivíduo e mundo, que faz
com que a condição do estar-no-mundo se confunda com um sentimento de ser o
mundo.
O cenário abstrato cresce em A paixão..., configurando-se na dimensão espacial,
temporal e lingüística de uma escrita que dá ênfase ao drama da consciência mais do
que à encenação dos fatos, numa narrativa em que tempo e espaço desprendem-se de
formulações miméticas e devêm escrita. O exílio interior torna-se um tema e abre
15
Os conceitos de desterritorialização e desreferencialização, bem como as linhas de fuga e dobras que
aparecem ao longo do texto, seguem terminologia definida por Gilles Deleuze e Félix Guatarri em Mil
Platôs, apud Carlos Mendes Sousa.
173
Comentário: Aqui não é o
caso de citar um Guattari e
Deleuze?
caminho para a perscrutação da interioridade e para a travessia da paixão. A obra se
constrói a partir da narração de personagens, narradores, temas e tradições que também
devêm escrita. O não-lugar, o sem território, está dentro de nós.
Portanto, sua escrita será não somente sobre a incumbência de se buscar um
lugar estabelecido no percurso da travessia que leve ao questionamento do sujeito no
mundo, mas principalmente do escritor enquanto construtor de realidades e da escrita
enquanto espaço de devir. Para Sousa, o universo literário de Clarice Lispector se dá na
tensão entre o efeito do não-lugar e a instauração de um espaço nos limites da língua a
que deseja pertencer. É na própria língua que se dá a travessia (SOUSA, 2000: 27). “O
vazio é um meio de transporte” (LISPECTOR, 1979:110) que conduz a trajetória do
sujeito aos limites em que a linguagem tangencia a voz, até que o percurso se realize ao
mesmo tempo nos domínios do ser e da palavra. “Existe a trajetória, e a trajetória não é
apenas um modo de ir. A trajetória somos nós mesmos” (LISPECTOR, 1979: 172).
Neste sentido, o vazio condutor do percurso nasce como vazio positivo e vital - o vazio
neutral - espaço da imagem da noite, e a desmontagem da cisão revela-se não como
ponto final da narrativa clariciana, mas como grau zero de sua escrita. Como aponta
Luciana Stegagno Picchio, “talvez tenha razão Haroldo de Campos quando afirma que
a escritura de Clarice não é caracterizada pela ênfase ao significante [...], mas nasce
ainda sob o signo do significado” (PICCHIO, 1989: 17). “Uma escrita grau zero”
(idem). A narrativa de Lispector, principalmente da década de setenta, é na verdade
uma narrativa que movimenta tanto o significante quanto o significado a partir da
elaboração
de
suas
imagens-conceito,
usando
não
apenas
alternada,
mas
simultaneamente “a palavra” e “o pincel”. Picchio afirma ainda que “o pólo de Clarice
é sempre e só aquela fronteira indefinível de alma [...] em que vida e morte, Deus e eu,
tudo e nada, mas também angústia e prazer, alma e corpo, espírito e carne, tocam-se,
174
fundem-se e são uno, indivisível” (idem).
Eduardo Prado Coelho é o único a apontar que, na verdade, depois de A
paixão...¸ o problema da subjetividade deixa de ser central uma vez que o indivíduo já
não se enclausura mais em sua subjetividade monádica, mas, em livre trânsito com a
alteridade, se realiza na multiplicidade. “Depois de A paixão..., a primeira pessoa
dominante é o domínio da pessoa nenhuma [...], o extremo da consciência de si é o
extremo da inconsciência de si, e o fechamento monádico é, acima de tudo, a afirmação
da escrita como explosão, e destruição [...], de qualquer clausura” (COELHO, 1984:
211). O espaço de reversibilidade que a escrita clariciana encontra e adentra a partir da
obra de 1964 institui a idéia de que o sujeito já não é mais único e totalitário, mas no
mínimo dois, múltiplo, e esse tema será desenvolvido literariamente enquanto
ficcionalização dos agentes presentes na obra. Portanto, “o um não é pensável sem a
precedência do dois (e, portanto, qualquer monólogo é um falso monólogo¸ e qualquer
primeira pessoa é uma falsa primeira pessoa)” (idem). Assim, Coelho aponta que a
alteração entrevista na obra lispectoriana ocorre não “segundo G.H.”, mas “depois de
G.H.” (idem). Portanto, uma mudança no estatuto da escrita clariciana começa a ter
início no romance de 1964.
Entretanto, ainda que Sonia Roncador (2002) aponte o projeto da nova escrita
“sem estilo” como tendo início em A paixão..., ao mostrar que a experiência de
desintegração vivida por G.H. conduz à reorganização de uma “forma” apresentada nos
termos de uma narração desta mesma forma – das transformações ontológica e
lingüística - esta obra ainda se inclui dentro do conjunto que trata do tema metafísico.
Além disso, este romance separa autor e narrador e cria personagens bem definidas, ao
contrário das obras da década de setenta, que precipitam cada vez mais o debate
reflexivo sobre o fazer literário a partir da encenação da própria escrita e do apagamento
175
entre as fronteiras autor-narrador, e das silhuetas de personagem e enredo. Roncador
afirma que a forma de escrita “do nada para ninguém” (RONCADOR, 2002: 29), que
implica a negação de um sujeito narrativo e de um receptor, seja ele personagem ou
interlocutor, já manifesta o desejo de uma escrita “sem a elaboração de um estilo e/ou a
formulação de um tema” (idem). Como conseqüência, esta forma não poderia se
submeter às normas da “boa forma narrativa”, uma vez que a libertação do imperialismo
da subjetividade monádica, no universo literário clariciano, motiva a libertação não
apenas da forma, mas do “medo do feio”, “da falta de bom gosto”, e da “falta de uma
estética” (idem).
O que já fora apresentado em termos de pesquisa de autognose passa a se
direcionar à reflexão do próprio fazer literário mais do que ao problema da
subjetividade, configurando-se nos limites de uma encenação da escrita. Clarice
Lispector passa a se dedicar mais ao intercâmbio entre o abstrato de uma escrita
metaficcional e o sensível de uma linguagem imagética, seja em referências míticas,
como visto na interpretação de Uma aprendizagem..., seja em referências abstratas
como em Água viva, abrindo espaço para o que se segue na década de setenta. A
linguagem, a essa altura, mascara-se em distintos registros para dar conta então não
mais da busca de autoconsciência de personagens em confronto com o mundo, mas dos
limites em que as subjetividades, os sentidos e visões de mundo, as identidades se
mostram como construções da linguagem. Com A via crucis do corpo, Onde estivestes
de noite e A hora da estrela, a escrita clariciana “se traveste de uma linguagem realista”
de modo que a nova escrita possa questionar “as relações entre realidade e ficção”,
como aponta Reguera (REGUERA, 2006: 52).
A escrita, nesta etapa, lança-se para além das fronteiras e margens definidas
pela vertente da tradição dualista e inclui o intercâmbio entre as diferentes linguagens e
176
estilos, de modo que a classificação em gênero torna-se impossível e o assombro do
leitor diante do texto exposto passa a se justificar pela dissolução dos modelos da
construção cultural e literária. Emerge uma literatura cujo compromisso não é com a
fruição ou o engajamento, mas com a reflexão crítica sobre as convenções que regem a
construção das visões de mundo, de cultura, do Amor, as relações do indivíduo em
sociedade, de seu intercâmbio com a natureza, e com o próprio conceito de literatura.
Coelho apontará ainda (COELHO, 1989:148) uma aproximação entre as obras de
Clarice Lispector e Marguerite Duras da ordem do "crime que desencaminha a
linguagem da vocação institucional e de sua compostura literária". Lispector concebe
uma escrita da destruição, da palavra capaz do assassínio, capaz de cumprir-se
criminosa apenas para ultrapassar a destruição e as ruínas e conceber a criação de algo.
É no ato deste crime que a escrita se concebe como artifício, em gesto de tamanha
transgressão que apenas a encenação do drama da própria linguagem pode suceder este
movimento. No terceiro capítulo desta tese, avalio de que modo as transformações
encaminhadas na obra de 1964 se configuram no universo da imagem e das referências
ao fazer literário em “Objeto Gritante” e Água viva para, finalmente, se apresentarem
como encenações da linguagem, discutindo a linguagem como a grande protagonista do
universo de A via crucis do corpo, em sua face realista, autobiográfica e grotesca.
177
Comentário: Passe.aqui, ainda
que brevemente, pelo noveau
roman
3.2 DO MUNDO DA IMAGEM À IMAGEM DA ESCRITA
Os últimos quinze anos de vida de Clarice Lispector, que incluem parte das
décadas de sessenta e setenta, até seu falecimento em 1977, presenciam a atuação da
autora como cronista do Jornal do Brasil, no período de 1967 a 1973, e uma radical
mudança estrutural e estilística em seus textos literários, entre contos e romances. Nesse
período, que abrange algumas das obras mais representativas como A paixão segundo
G.H. (1964), Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres (1969), Água viva (1973), A
hora da estrela (1977), e outras pouco agraciadas pela crítica, como Onde estivestes de
noite e A via crucis do corpo (1974), e o póstumo Um sopro de vida (1978), sua
produção literária revela uma alteração na estrutura e técnicas narrativas, culminando no
desenvolvimento de uma forma de expressão que, além de visar o abstrato, dialogando
com a pintura e a música, inclui as marcas da lírica, da crônica, do diário e da
autobiografia. A mudança começa a ser notada em obras como Uma Aprendizagem ou o
Livro dos Prazeres, na qual surge em cena um dos novos processos de organização da
narrativa – a colagem de textos de diferentes gêneros em processo de bricolagem ou
justaposição paratática, como foi visto no capítulo anterior. Mas a mudança é registrada
e marcada principalmente por um datiloscrito disponível no Arquivo Clarice Lispector,
que se encontra na Fundação Casa de Rui Barbosa. O datiloscrito, intitulado “Objeto
gritante”, produzido entre os anos de 1971 e 1972, foi considerado, por diversos
críticos, como diário ou versão de Água viva e até mesmo como programa de escrita
completamente distinto do texto de 1973.
A nova escrita elaborada por Clarice revela uma ruptura definitiva com o
modelo de escrita convencionado pelas normas estéticas, com o objetivo de rever as
verdades impostas pela cultura ocidental, enquanto tema, e pela linguagem, enquanto
178
forma. Se, no plano compositivo e temático, os retratos das personagens desenhadas
apontam para o desconcerto do mundo e a incomunicabilidade intersubjetiva, no plano
estilístico-formal a linguagem também sofrerá o mesmo desconcerto e inadequação
vigentes na obra. Entretanto, talvez o tema principal dos últimos quinze anos seja a
reflexão sobre o próprio ato de escrita e sobre as noções e os limites do que seja
literatura, envolvendo o diálogo com a pintura e a música, que se acentua em Água viva
e Um sopro de vida e que revela transformação radical no datiloscrito de “Objeto
gritante”. Tais obras deixam entrever uma crescente preocupação, por parte da autora,
em questionar a literatura como repositório de gêneros e estilos pré-estabelecidos e em
inventar uma linguagem que dê conta de tais questionamentos e mudanças.
Assim, a poética clariciana deste período torna-se, mais do que na primeira fase,
acentuadamente dialógica, convidando o leitor à elaboração dos sentidos fabricados
pela obra, afirmando-o como participante da estrutura narrativa, seja pelos constantes
paratextos que a ele se dirigem 16 , seja por sua participação exigida no corpo do texto,
mas, em todos os casos, sempre pela exigência da construção de sentidos que o texto
deixa em suspenso. Com isso, a narrativa problematiza o seu referente a partir do
questionamento do narrador como ponto central de referência, uma vez que o olhar da
literatura se volta para a alteridade, seja ela entendida como indivíduo, interlocutor
literário, passado (ou presente) histórico-social ou tradição literária. Visa-se a inserção
do outro no contexto narrativo pela aceitação das diferenças e o reconhecimento de que
16
O primeiro romance em que Clarice introduz uma Nota ao Leitor é A paixão segundo G.H., de 1964.
Em seguida, as notas se repetem em Uma aprendizagem..., de 1969, A via crucis..., de 1974, e finalizam
com a “Dedicatória” em A hora da estrela, de 1977. Ainda que não haja nenhuma nota ou dedicatória em
Água viva, de 1973, a epígrafe é quase uma nota explicativa ao leitor, cujo efeito final é a sobreposição de
vozes autorais. Verifica-se que em ambos os livros da década de sessenta a fronteira geográfica
estabelecida pela referência autoral mantém seus limites entre o de dentro e o de fora da construção
ficcional, inscrevendo-se no circuito de comunicação entre autor e leitor. Já nas obras da década de
setenta, a crítica não cansa de apontar importantes modificações como a de uma capacidade performativa
de ambos os textos, que acaba conferindo uma condição de abertura suficiente para levá-los à inclusão no
corpo literário como criações ficcionais. A voz autoral passa a se confundir com a voz do personagem,
ofuscando os limites entre real e ficcional.
179
a realidade vivida pelo homem moderno e suas experiências urbanas são estruturadas
por múltiplos discursos. Nota-se a preocupação em construir uma narrativa que
privilegie menos as experiências do narrador enquanto entidade centralizadora do
conhecimento e mais a própria linguagem. A informação narrada é elaborada como
ênfase do olhar sobre os indivíduos, fatos e incidentes cotidianos e pelo distanciamento
do narrador tradicional. É essa consciência distanciada que permite o “conhecimento”
da vida e experiências alheias e abre a via para o trabalho de construção da linguagem.
Apresenta-se, nesse ponto, uma das questões mais privilegiadas da narrativa moderna: a
da autenticidade. O ofício do ficcionista é construir o real a partir do exercício da
linguagem, oscilando entre diferentes registros discursivos, como o da crônica, o da
historiografia, o ficcional, o jornalístico, de forma que a fronteira entre vida e arte se
obscureça e a autenticidade das ações romanescas se confunda.
No exercício literário lispectoriano, o intercâmbio entre os fazeres permite que
do gesto de pintar surja o desejo da escrita e vice-versa, sugerindo que para Lispector a
arte é um ato de criação ininterrupto e inseparável da vida, e todas as expressões se
tornam uma só experiência que conduz à explosão criativa. A narradora de Água viva
revela a atitude de escrita que pauta todo o texto:
Comecei estas páginas também com o fim de preparar-me para pintar. Mas
agora estou tomada pelo gosto das palavras, e quase me liberto do domínio
das tintas; sinto uma voluptuosidade em ir criando o que te dizer. Vivo a
cerimônia da iniciação da palavra e meus gestos são hieráticos e triangulares
(LISPECTOR, 1978a: 18-19).
A iniciação à leitura da palavra literária lispectoriana requer que se
compreenda o gesto de escrita instituído por seu universo, que implica o misterioso de
uma escrita hieroglífica e hierofânica, portanto reservada tanto ao grafismo quanto ao
180
misterium tremendum. O signo lingüístico motiva o significante por meio da construção
de imagens – que são a expressão do sensível – que se configuram como ideogramas, de
forma a destacar a materialidade da palavra, para dar conta, não obstante, de um
significado conceitual que não deixe de corresponder à densidade concreta da vida.
Desse momento em diante, Clarice elabora textos inclassificáveis em gênero, estilo e
forma, tornando-se inclassificável como seu próprio texto diz e como todos os grandes
autores que criam um mundo próprio a partir de uma linguagem fundadora e genesíaca.
Ainda que a obra de Clarice Lispector já tenha sido amplamente divulgada e
pesquisada, há textos que só receberam tratamento editorial e publicação recentemente,
e outros ainda de caráter inédito, distantes de um acesso direto do público leitor. Para
compreender a atitude literária desenvolvida por Clarice nas décadas de sessenta e
setenta, portanto, o pesquisador é convidado a investigar o datiloscrito encontrado no
Arquivo Clarice Lispector, situado à Fundação Casa de Rui Barbosa, intitulado “Objeto
gritante”. Além deste datiloscrito, a investigação conduz até textos recentemente
publicados, como o único ensaio crítico que Clarice escreveu sobre literatura e
vanguarda brasileira, intitulado “Literatura de vanguarda no Brasil” (LISPECTOR,
2005: 95-111). Guardado durante décadas em seu arquivo, o texto só recebeu
publicação no ano de 2005, junto a outras peças raras do arquivo pessoal de Clarice,
como o esboço da única peça teatral escrita pela autora e a entrevista concedida ao
Museu da Imagem e do Som, conduzida por Affonso Romano de Sant’Anna, Marina
Colasanti e João Salgueiro 17 . Parece-me de fundamental importância para a
compreensão da escrita de Clarice, e do seu fazer literário, a leitura e interpretação
17
De 1940 a 1941, Clarice trabalha como jornalista para a Agência Nacional. Na antologia Outros
escritos, além do ensaio e entrevista mencionados, encontram-se contos e artigos publicados antes de sua
estréia como romancista em diversos periódicos, como nas revistas Vamos Ler|, Dom Casmurro, A
Época, Senhor, Jóia no Diário do Povo, no periódico Pan, em O Comício. Dentre os artigos encontramse um sobre a tarefa de tradutora, exercida ao longo de sua vida, textos sobre Direito, de quando era
estudante universitária, artigo sobre a obra de Virginia Woolf, além da única peça teatral escrita pela
autora e publicada na primeira edição de A legião estrangeira, intitulada “A pecadora queimada e os
anjos harmoniosos”.
181
deste texto, uma vez que ao falar de literatura de vanguarda no Brasil e de escritores
como Mario de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto,
Manuel Bandeira, Clarice está subliminarmente falando de sua própria escrita. Este
texto, que ainda não obteve qualquer atenção mais detida da crítica além da análise de
Carlos Mendes de Sousa e Nádia Battella Gotlib parece-me revelar a base de um
pensamento crítico original, que não apenas discute uma teoria estética, mas realiza a
adequação entre teoria e prática literária, entre conteúdo e expressão. Explico-me
melhor.
Neste ensaio, a autora expõe o modo de funcionamento de sua escrita e de sua
compreensão do fazer literário, de como sua obra é ao mesmo tempo concebida para a
crítica e para a cena literária. Clarice realiza o que Machado aponta como sendo
fundamental para uma literatura nascente, em seu ensaio “Instinto de nacionalidade”:
aquele certo “sentimento íntimo” que a torna sujeito de seu tempo e país, ao mesmo
tempo em que trata de “assuntos remotos no tempo e no espaço” (ASSIS, 1959:135).
Clarice é clariciana em seu ensaio e em seu modo de ler e compreender os pares
literários eleitos, ainda que não fale especificamente de suas próprias obras, além de se
mostrar profundamente envolvida com assuntos nacionais, sem o ser diretamente em
sua escrita.
Em 1963, Clarice é convidada a dar uma palestra no XI Congresso Bienal do
Instituto Internacional de Literatura Ibero-americana, realizado na Universidade do
Texas, sobre literatura brasileira. Para este evento, escreve seu único texto crítico, que
foi reapresentado mais algumas vezes em conferências proferidas em Vitória, Belo
Horizonte, Campos, Belém do Pará e Brasília, até 1974 (LISPECTOR, 2005: 93-4). O
ensaio inicia com a afirmação de que a tarefa de escrever sobre literatura “cabe mais a
um crítico do que a um ficcionista” (idem, p. 95) para logo estabelecer uma
182
diferenciação entre a ficção realizada por sua narrativa e aquela produzida por uma
tradição. A autora usa seu próprio exemplo para afirmar a distinção entre uma linha de
escrita ficcional não propriamente tradicional, e outra, não explicitada, mas
evidentemente distinta daquela que pratica. Com isso depreende-se que Clarice está a
tratar de pelo menos dois tipos de ficção: aquela realizada por sua obra, que não pode
ser classificada, que se opõe a uma tradição de romance realista, regionalista e
intimista, que mescla uma “aura filosófica”, como sugere Lucia Helena, a uma
memória lírica, sem deixar de ser confessional, poética e narrativa; e uma outra linha,
do romance tradicional e canônico, classificado como alta literatura. Essa diferenciação
é apontada para justificar a distinção feita entre o papel do crítico e o papel do
ficcionista. Clarice entende que só tem autoridade para falar criticamente de literatura
aquele que está em uma posição distanciada da prática literária, uma vez que é
necessário “ter boa formação cultural”, “objetividade”, “visão panorâmica dos
diferentes setores da literatura” e capacidade de “estabelecer relações com outras artes”
(LISPECTOR, 2005: 95). Tudo que Clarice fará, ao longo de sua exposição,
contrariando suas próprias escusas. Ironia? Encenação? Ou um traço de escrita que se
verifica permanente e constante inclusive neste texto crítico? Depois de afirmar uma
idéia, passa a desmontá-la no próprio discurso contrariando aquilo que havia afirmado
antes.
Fato é que toda esta encenação conduz ao primeiro ponto de debate levantado
por seu ensaio: o da prática literária como exercício de vida. Clarice afirma o que
revelará mais tarde em uma de suas crônicas: que não é intelectual porque “para
escrever” usa “mais a intuição do que a inteligência” (LISPECTOR, 2005: 96). E que
por não se considerar intelectual então não teria o “hábito” ou “gosto” de “pensar sobre
o fenômeno literário”. No entanto, toda a sua obra, que sucede à escrita deste ensaio (de
183
1963), afirma e confirma o contrário. O principal, creio, reside no fato de que Clarice
deseja discutir o que seja literatura. Apresentar o modo de construção de seu fazer
literário é etapa concomitante à apresentação de um pensamento teórico sobre “o
fenômeno literário”. Ao afirmar que “literatura é o modo como os outros chamam o que
nós, os escritores, fazemos” (LISPECTOR, 2005: 96) e que lhe faltava encará-la “de
fora para dentro, como uma abstração” (idem), depreende-se que, para a autora, o fazer
literário não está dissociado do fluxo de vida, além de ser entendido como uma
experiência pessoal de total comprometimento e envolvimento do sujeito.
Além de Nádia Battella Gotlib, em 1995, Sousa é o único dos críticos de
projeção que realiza uma análise rigorosa e inaugural do ensaio escrito por Clarice. Em
consulta ao arquivo da autora, o crítico faz apontamentos sobre as rasuras e
modificações realizadas no datiloscrito, que até então ainda era inédito, tecendo finos
comentários sobre as principais questões levantadas por Clarice. Entre elas a de que “a
língua, entendida como campo de imanência [...] implica o trabalho do escritor
enquanto pessoa”, exigindo uma “entrega incondicional” para que a literatura se torne
“fonte de conhecimento” do sujeito e do mundo (SOUSA, 2000:92-95). É este fazer
que tomará a forma de algo distinto da tradição “de fora” considera como “literatura”.
Ela, escritora, que fala de dentro da experiência de criação, não está distanciada senão
profundamente envolvida a ponto de, com sua prática, interferir nas estruturas da língua
e nas bases do que seja literatura. Em “Objeto gritante” Clarice tentará encontrar uma
forma que explicite esta prática e em Água viva encontrará a interação entre fundo e
forma mais coerente com a sua compreensão de literatura para que possa declarar:
“Este não é um livro porque não é assim que se escreve”. (LISPECTOR, 1978a:12)
O segundo ponto central de seu ensaio inicia-se com a explicação do que para a
autora seja “vanguarda” e “vanguarda literária”. E Sousa chama atenção: o termo
184
vanguarda “é utilizado como eqüipolente de modernidade estética” (SOUSA, 2000: 95)
na exegese feita pela autora, no que tange a equivalência da experimentação artística
com experiência de vida, uma vez que “tudo passa pelo vital trabalho na língua”
(idem). “Vanguarda” é “experimentação” (LISPECTOR, 2005: 97). Porém somente
isso não a diferencia de uma definição do que seja arte. Já que ambas se aproximam
pela experimentação, o que as diferencia?, pergunta-se Clarice. Em resumo, a distinção
reside na experimentação que é verdadeira, aquela que se baseia no “direito permanente
de pesquisa estética”, nos termos marioandradinos, e outra que é simulacro e puro
experimentalismo, seja de qualquer tipo de vanguarda. A vanguarda a que Clarice se
refere é o “novo elemento estético” ou a “nova forma” que fosse “usada para rebentar a
visão estratificada e forçar, pela arrebentação, a visão de uma realidade outra – ou, em
suma, da realidade” (idem). A atenção se volta para a força do verbo rebentar (como
sugere Sousa) que, repetido em forma substantivada, aponta para a violência, explosão
e fragmentação de uma escrita que põe abaixo um sistema, um paradigma, um
universo, para reconstruir-se como escrita inaugural. Escrita que desencadeia o novo,
isto é, aquilo que, em diálogo com o passado, não existia e passa a interferir na forma
antiga. Desagregação visível na análise feita do primeiro parágrafo de A paixão... no
capítulo I desta tese. Ainda que a ênfase seja na força do assassínio, da destruição, do
crime, como apontou Eduardo Prado Coelho, não se trata de uma força negativa, mas
de afirmação e construção. Movimento. Deslocamento – sentido caro a Clarice. Tratase da força do magma que, em sua potência magnânima, rebenta sobre os costões
continentais e provoca o deslocamento da superfície terrestre, dissolvendo o que antes
era unido para aproximar territórios que um dia foram incomunicáveis. Deriva, aliança.
Movimento que apresenta duas faces de uma mesma realidade e que constitui a estética
de uma “tradição da ruptura”, nos termos Octavio Paz (PAZ, 1984).
185
Se “qualquer verdadeira experimentação” leva ao “maior autoconhecimento”
(LISPECTOR, 2005: 97), vanguarda seria mais um instrumento para a criação de
“novos conceitos” que se tornarão “clássicos” porque permanentes. Um novo conceito
muito próximo à pesquisa estética elaborada por Mario de Andrade e que se aplica
tanto à crítica quanto à criação literária. Como sugere Mario em ensaio intitulado “A
raposa e o tostão”, “Que o assunto seja, principalmente em literatura, um elemento de
beleza também, [...] apenas desejo que ele represente realmente uma mensagem [...].
Quero dizer: seja efetivamente um valor crítico, uma nova síntese que nos dê um
sentido da vida, um aspecto do essencial” (ANDRADE, 2002: 110). Em outras
palavras, o valor crítico a que se refere surge da síntese entre inovação na forma e
novidade de fundo.
O ponto central do texto de Lispector se configura, portanto, em torno do
problema de fundo e forma. Neste ensaio pode-se testemunhar o depoimento da autora
sobre a discussão central que sua obra movimenta. Mostrando desagrado na concepção
tradicional da dicotomia entre os conceitos de fundo e forma, afirma: “Essa expressão
‘forma-fundo’ sempre me desagradou vitalmente – assim como me incomoda a divisão
‘corpo-alma’, ‘matéria-energia’, etc.” (LISPECTOR, 2005: 98). O desconforto nasce
porque no pensamento estético-literário de Clarice não há dicotomias, senão núcleos de
força que penetram uns nos outros. Nesse sentido, o ensaio é uma exposição teórica de
sua própria atitude literária. O exemplo da vanguarda brasileira é claro: não é possível
que vanguarda seja apenas inovação da forma, isto é, que apenas a forma seja nova e o
conteúdo antigo. Vanguarda, para Clarice, constitui-se como inovação interativa entre
forma e conteúdo. O exemplo de Drummond explica: a face verdadeira da literatura é
composta não de uma face, mas de sete, de “certos rostos” (LISPECTOR, 2005: 101),
mil e um, inomináveis, de passagens à alteridade. Deslocamentos. Vanguarda é o
186
inaugural.
O exemplo de Graciliano Ramos me parece também bastante cristalino. A
vanguarda de Graciliano e José Lins do Rego não é inovação por conta do tema do
Nordeste, mas pela “apreensão de um modo de ser” (LISPECTOR, 2005: 105) que se
instaura nos limites de um fundo-forma, uma apropriação, um “novo ponto de vista”
que leva “a uma mudança formal” (idem). Portanto, Clarice inverte mais uma vez os
termos da tradição literária dizendo que a vanguarda não é uma inovação da forma, mas
do ponto de vista, do conteúdo, do interno que transforma o externo. E isso é inaugural.
Em crônica intitulada “Forma e conteúdo”, de 1969, a autora afirma que “a luta entre a
forma e o conteúdo está no próprio pensamento: o conteúdo luta por se formar”
(LISPECTOR, 1994: 271). A reflexão sobre fundo e forma, portanto, é algo já bastante
amadurecido na escrita clariciana. Em 20 de dezembro de 1969, data da crônica
publicada, Clarice já havia publicado Uma Aprendizagem... e já havia escrito o texto
sobre vanguarda. No entanto, se sua obra apenas invertesse os termos da tradição,
estaríamos diante de uma denúncia e até mesmo de uma transgressão. Mas Clarice vai
além disso e funda algo novo, para além de inversões e transgressões. Clarice é
claricianamente vanguarda. Na mesma crônica, afirma que a forma só se configura se o
pensamento já estiver pronto. “Não se pode pensar num conteúdo sem sua forma”
porque a forma só aparece “quando o ser todo está com um conteúdo maduro”
(LISPECTOR, 1994: 271). Mas não apenas depois que ele estiver pronto e sim ao
mesmo tempo. Forma e conteúdo surgem juntos por meio do trabalho da intuição. A
escrita de Lispector é a escrita da intuição porque por “tocar na verdade sem precisar
nem de conteúdo nem de forma” a intuição já começa o trabalho do informe “antes de
subir à tona”. Quando sobe, já está pronta, sem divisões. “A dificuldade de forma está
no próprio constituir-se do conteúdo, no próprio pensar ou sentir, que não saberiam
187
existir sem sua forma adequada e às vezes única” (idem).
Vanguarda é, por fim, o autoconhecimento que vem do fundo; este “pensar” a
língua que interfere na forma. Amplia o sentido de “pensar a língua” (LISPECTOR,
2005: 105-6) esgarçando os limites lingüísticos até as fronteiras do sociológico, do
psicológico e do filosófico: “[...] numa linguagem real, numa linguagem que é fundo e
forma, a palavra é na verdade um ideograma” (LISPECTOR, 2005: 106). O literário,
portanto, não é só forma, é também pensamento, reflexão, descoberta – “linguagem de
vida” (idem). E aqui Sousa esclarece que mesmo a linguagem utilizada no ensaio se
apóia em “imagens ou símiles inusitados” (SOUSA, 2000: 93), corroborando a idéia de
que, de fato, o “discurso” de Lispector se torna cada vez mais “invadido” por imagens.
Estas “servem as questões de base e imprimem o dinamismo, o ritmo discursivo, ao
anunciarem a idéia que passa a ser desenvolvida e confundida com as imagens” (idem).
Este esclarecimento parece-me de fundamental importância para a compreensão da
nova orientação na escrita de Lispector. Esse dinamismo pode ser ainda pendor
desenvolvido a partir do contato com a crônica, como sugere Sonia Roncador em
Poéticas do empobrecimento, comentado mais adiante.
Vanguarda brasileira será então aquilo que se reconhece como sendo
intimamente brasileiro, não apenas linguisticamente (ou seja, em sua forma), mas
principalmente em uma consciência brasileira, aquilo que revela sua essência na
superfície de sua aparência. Aquilo que torna Julio Cesar, Hamlet, Otelo e Romeu e
Julieta essencialmente obras inglesas sem que seu estrato espacial e temporal remetam
necessariamente ao território e sociedade inglesas, como aponta Machado de Assis
(ASSIS, 1959: 135). Assim é que Clarice considera vanguarda a invenção de um ser e
saber-se brasileiro, em fundo e forma. Universal e particular ao mesmo tempo. É esta a
“coisa em si”, o substrato de que fala e não a “coisa já literalizada” que move o
188
exterior, que faz com que a forma se curve a essa experiência. Clarice não separa
palavra de imagem.
Outro texto que tem atraído a atenção de alguns pesquisadores, e que aprofunda
a discussão e a compreensão da nova orientação de escrita, é “Objeto Gritante”, este de
fato inédito. Julgado por Alexandrino Severino como uma das versões de Água viva,
por Sonia Roncador como projeto literário abortado pela autora, e por Carlos Mendes
de Sousa como o diário de uma artista, o datiloscrito é contemplado por todos os pontos
de vista como importante chave de leitura para a compreensão do processo de criação
literária de Clarice. Sobretudo por apontar dados de reflexão sobre a mudança estrutural
no tocante à ruptura com o modelo tradicional de livro dentro do conjunto da obra
clariciana. O datiloscrito consiste em um texto de 188 páginas (quase cem páginas a
mais do que Água viva) com correções feitas à mão pela própria autora, originalmente
escrito em forma de diário, como se a autora desejasse registrar reflexões sobre o seu
ofício mescladas aos acontecimentos rotineiros do dia-a-dia de uma mulher. Sabe-se
que o datiloscrito sofreu inúmeras alterações, chegando a ter pelo menos três versões
diferentes, das quais a que se encontra no Arquivo é apenas uma.
O crítico Alexandrino Severino, em artigo publicado na revista Remate de
Males, revela que Clarice teria lhe encomendado, à época, a tradução para o inglês do
que viria a ser mais tarde o texto de Água viva. "Guardo até hoje uma primeira versão
de Água viva, que na ocasião se chamava "Atrás do Pensamento: Monólogo com a
Vida" (SEVERINO, 1989: 115). Sendo assim, temos notícia de pelo menos duas
versões anteriores à Água viva: a versão do Arquivo, intitulada “Objeto gritante”,
porém com três outros subtítulos escritos à mão na primeira página e rasurados, a saber:
“Monólogo com a vida”, “Uma pessoa falando” e “Carta ao mar[?]”, além da versão de
Severino, com 151 páginas. No entanto a própria Clarice declara sobre o seu “Objeto
189
gritante”, em entrevista, que “Esse livrinho tinha 280 páginas; eu fui cortando –
cortando e torturando – durante três anos. Eu não sabia o que fazer mais. Eu estava
desesperada. Tinha outro nome. Era tudo diferente.”18 . Diante dessas informações
acredita-se que houve mais uma versão, além das duas outras, de 280 páginas. Como
aponta o crítico português, pode-se observar, com o texto de “Objeto gritante”, a
transição de uma escrita confessional para uma narrativa, em Água viva, que visa a
reflexão sobre a própria escrita, por meio da técnica da figuração envolvendo o diálogo
com a pintura e a música, a partir de uma visível alternância entre a menção de fatos
pessoais e a reflexão artística. Trata-se de uma escrita que se liberta da necessidade de
uma estética – necessidade já sugerida em A paixão... - e inventa a si mesma, repetindo
o gesto do homem transumano que reinventa a própria noção de humanidade ao efetuar
o mergulho na vida em si mesma . Uma escrita, como dizia um dos títulos possíveis do
manuscrito de “Objeto gritante”, atrás do pensamento.
A partir da década de sessenta, os textos da autora passam a destacar o contraste
entre estilo lírico e coloquial, poesia e fatos domésticos, abstracionismo e figurativismo,
além de acentuar o diálogo com outras expressões artísticas como a pintura e a música,
resultando em uma narrativa que visa explicitar o processo criativo de composição. Este
método se baseia na colagem de textos de diferentes estilos e material heterogêneo:
crônicas, diário, poesia, narrativa de caráter fragmentário, sem definição de tema ou
forma, apenas em justaposição paratática. Com isso, produz-se uma escrita na qual o
objetivo é escrever o que vem à mão, concedendo caráter fragmentário e a-literário, com
efeito de improvisação sem, contudo, deixar de praticar a reflexão sobre a escrita. Para
tal, as referências ao ato da criação literária são a tentativa de preservar os rastros do
18
RONCADOR, S. Poéticas do empobrecimento. A escrita derradeira de Clarice Lispector. São Paulo:
Annablume, 2002, p. 52, apud Gotlib, 1995:410.
190
drama 19 e das circunstâncias de produção decorrentes de um combate entre criador e
criatura.
Em obras como Água viva, Um sopro de vida e Onde estivestes de noite, a autora
desestabiliza as noções clássicas da narrativa e questiona a tradição literária. Se, por um
lado, em termos de estrutura formal, Clarice inicia a ruptura com a narrativa tradicional
em A paixão segundo G.H., instituindo a transição para uma fase que acentuará a escrita
heterogênea na fusão de textos de diferentes estilos, é somente a partir de Água viva que
o texto clariciano radicaliza a nova composição, que não repete a estrutura diarística e
em tom confessional de “Objeto gritante”, mas que também não se prende aos
questionamentos de A paixão segundo G.H. É com Água viva que novos traços se
firmam, pois o marco de mudança estrutural havia sido lançado com “Objeto gritante”.
Clarice Lispector elabora projeto estético em “Objeto gritante”, abandona-o para dar
espaço a outro projeto estético em Água viva, porém carregando as marcas deixadas
pela criação do processo iniciado com A paixão segundo G.H.
Alguns dos críticos que estudam a obra clariciana parecem concordar que sua
escrita foi bastante influenciada pelo estilo da crônica, mudança decorrente de seu
trabalho como cronista do Jornal do Brasil na segunda metade da década de sessenta.
Essas transformações e influência ficam explícitas com a leitura do datiloscrito de
"Objeto gritante" e marcam o tom de praticamente a maioria dos textos publicados a
partir da década de setenta. Sonia Roncador divide a produção clariciana em dois
momentos: o primeiro, marcado por textos que, mesmo em face à ruptura de Clarice
com a tradição, mantêm certo conservadorismo da estrutura narrativa nos moldes
tradicionais, cobrindo o período anterior à década de setenta. O segundo momento inclui
textos que se inserem dentro de um projeto estético desenvolvido ao longo dos últimos
19
Sonia Roncador desenvolve sua análise nos termos de uma reflexão sobre o conceito de índice,
elaborado por Charles Peirce, que não será abordado nesta tese.
191
dez anos de vida da autora. Segundo Roncador, as obras situadas antes da década de
setenta, ainda apresentam características líricas e miméticas bastante típicas da narrativa
“tradicional” como, por exemplo, a presença de personagens bem definidos e narradores
que, apesar de carregarem traços do universo biográfico da autora, ainda assim se
distanciam da figura do autor, mantendo clara a distinção entre construção ficcional e
realidade. Isso incluiria as duas obras analisadas nos capítulos anteriores, dentro da
linha de pesquisa da ensaísta brasileira. No entanto, na década de setenta, a partir da
elaboração de "Objeto gritante", novas diretrizes estruturais, estilísticas e conteudísticas
começam a aparecer para ganhar solo firme no conjunto da obra clariciana.
Em sua tese, Roncador levanta duas questões importantes, a saber:
primeiramente, a de que haveria dois projetos estéticos completamente diferentes entre a
elaboração de "Objeto gritante" e a forma final de Água viva. Dentro dessa perspectiva,
a segunda questão se impõe: o que, em "Objeto gritante", foi eliminado e o que foi
incluído em Água viva, como e por que este segundo texto teria se transformado em
outro projeto estético, já que, com a escrita de "Objeto gritante", a nova atitude toma
rumo definitivo. E ainda, como a escrita de “Objeto gritante” influenciou a mudança
verificada no modo de escrita clariciano.
Roncador aponta que as alterações feitas no datiloscrito incluem acréscimos,
eliminações, transformações de ordem estrutural, temática e estética permitindo a
formação do que vem a chamar de "forma do nada para ninguém", isto é, um relato que
não apresenta direção, objetivo ou unidade, e tampouco estilo definidos ou narrador
imaginário. Quem narra é a própria Clarice, em narrativa de tom confessional, sem
personagens e tampouco sem destinatário, se tomarmos o texto como uma carta, como
192
Comentário: Buscar exemplos
do OG.
sugere um de seus títulos 20 , distinguindo-se, por exemplo, de Água viva ou Um sopro de
vida que se dirigem a um personagem quase inexistente porém onipresente, que é o par
amoroso ausente. Deseja-se elaborar uma escrita que aconteça de acordo com "o pulsar
da vida", sem que seja pré-concebida, organizada ou voluntariosa, para que não
precipite um sentido. Uma escrita com algumas características sugestivas da estética
surrealista 21 . Interessa neste momento unicamente a aproximação que se estabelece com
o pensar o modo como o surrealismo consolida um novo estatuto para a linguagem ao
operar no registro do acaso objetivo, do encontro fortuito que institui um pensamento
analógico e estabelece uma correspondência entre elementos diversos em comunicação
com o mundo. Nasce uma nova idéia de beleza estética, não mais aquela que reside na
realidade imediata, mas na aproximação de registros de realidade opostos e distintos de
modo que a surpresa do novo e do estranho, aquele mesmo Unheimilich freudiano
apontando no primeiro capítulo, possibilite a formação de novos sentidos e a fusão dos
limites que as distanciam. Assim como Picasso, em “Cuia com frutas, violino e taça de
vinho” (1912) e “Violão” (1913) introduz elementos como recortes de jornal ou pedaços
de outros materiais à tela de conteúdo fragmentário, em justaposição, Édouard Manet e
Claude Monet, ao simplificarem a superfície do quadro com pinceladas pouco definidas,
obliterando o foco da composição e tornando o ambiente impreciso, põem em
circulação o contraste com as pinturas de traços clássicos, empregando artifícios que
20
Na capa do datiloscrito há três outros títulos (ou subtítulos), além de “Objeto gritante”, à maneira do
que faz a autora em A hora da estrela, a saber: “Monólogo com a vida”, “Uma pessoa falando” e “Carta
ao mar”.
21
Roncador verifica uma atitude literária na obra clariciana semelhante à atitude encontrada nos textos
surrealistas de um “projeto de narrar o acaso” que provoca um efeito de casualidade na narrativa, além da
articulação entre duas realidades: a romanesca e a não-ficcional. Acrescente-se a esse programa uma
intenção de negar a forma do romance, a introdução de fatos autobriográficos com valor de documento,
sem organização formal prévia, e o registro no texto das “circunstâncias de sua produção” de forma que o
texto instaure uma “tauromaquia”, isto é, que o texto se torne uma ameaça ao autor, provocando um efeito
real e físico. Um livro como um “ato”. O resultado desse programa estético é a aparência de uma
“colagem” ou “fotomontagem”. (Cf. “Introdução”, pp. 11-45, e o capítulo II, “Um realismo positivo, ou
estilo e ruptura na ficção tardia de Clarice Lispector”, pp. 101-145, em Poéticas do empobrecimento. A
escrita derradeira de Clarice, São Paulo: Annablume, 2002).
193
revelam uma das características mais representativas da noção de modernidade: a
diferença. O mais importante, entretanto é que a maneira de exercitar essa diferença
recai no tratamento que o artista dá à sua obra, o que implica muito mais a preocupação
com a técnica utilizada na composição do que o tema propriamente dito. É como se o
tema de todos os diferentes movimentos fosse em si mesmo a técnica, o meio da
representação. A diferença, sempre anunciada por cada nova técnica empregada,
anunciava também aquilo que Baudelaire, por sua vez, acreditava expressar mais a idéia
de modernidade: o movimento, a dinâmica, o mutável - identidade da experiência
moderna. E que armava o cenário para o surgimento do Surrealismo, uma vez que a
diferença e a experiência do distinto eram as marcas que mais destacavam a estética
surrealista.
No centro desse processo, cada experiência surrealista desenvolvia a construção
de novos significados a partir da aproximação de elementos díspares, em técnica de
justaposição paratática, e sempre por meio da sugestão, e não pela afirmação lógica e
consciente. A intenção de fazer com que do encontro fortuito entre dois signos
surgissem novos significados interessa uma vez que esses significados permanecem no
limite entre o desconhecido e o possível. Deliberadamente enigmáticas, as relações que
decorrem deste evento introduzem ao mesmo tempo a destruição do antigo, impondo a
experiência da morte, e a reconfiguração de novos universos, proporcionando o contato
com o nascimento do novo. Morte e vida. Assassinato e progenitura. Palavra e rasura. A
impossibilidade de livrar-se dos duplos. A impotência de suspender os mortos, que
insistem em não morrer. E o trabalho de fantasmagoria dos mortos tem o efeito de
desorientar a ordem do real. Para os surrealistas, “não se tratava apenas de questionar a
‘realidade’, mas também de questionar a forma pela qual ela era normalmente
representada”, como aponta Briony Fer (FER, 1998: 172).
194
Assim, portanto, esse questionamento se apresentava como uma recusa às
normas e dogmas definidos por uma comunidade artística e uma tradição literária da
“boa forma narrativa”, como apontam Roncador (RONCADOR, 2002: 25) e Reguera
(REGUERA, 2006: 49). Parece-me que a intenção de Lispector ao escrever “Objeto
Gritante” era, por meio da justaposição de trechos de diferentes estilos, como uma
colagem de materiais lingüísticos distintos, primeiro criar uma obra que se destacasse
pela técnica literária utilizada, pelo meio de representação deste objeto22 .
Em seguida, o efeito decorrente deste ato – e o ato se impõe como
posicionamento do artista – concretizava-se como ataque aos dogmatismos, criando um
ambiente literário bastante ambíguo e esfumaçado, de modo que não se pudesse
classificar a obra como livro. E esse desejo virá expresso em Água viva como
mensagem da autora. Note-se que o gesto corrobora, de fato, uma atitude intencional
diante da escrita, uma atuação direta sobre a construção de conceitos como o de alta
literatura ou baixa literatura e na formação de um público, uma vez que a autora aponta
na capa do datiloscrito que se trata de um “anti-livro”, contrariando a elaboração de um
texto sem qualquer projeto de escrita.
Esse desejo permanece, porém de forma reconfigurada, em Água viva. Nessa
obra, a narradora, agora não mais retratada como a própria autora, mas, sugestivamente,
uma pintora, afirma: “Este não é um livro porque não é assim que se escreve. O que
escrevo é só um clímax? Meus dias são um só clímax: vivo à beira.” (LISPECTOR,
1978a: 12). O desejo de “criar uma anti-literatura” e “desmistificar a ficção”
22
Clarice parece pronta a experimentar o que já havia desejado fazer na década de quarenta, como revela
uma de suas cartas a Lucio Cardoso: “Eu queria fazer uma história cheia de todos os instantes, mas isso
sufocava o próprio personagem. Acho mesmo que meu mal é querer ter todos os instantes” (SABINO &
LISPECTOR, 2002: 63). Clarice, em “Objeto Gritante”, sufoca o personagem e também o narrador,
pulverizando as normas da narrativa tradicional.
195
Comentário: A mudança da
escrita não está na presença do
corpo, mas na referência à
imagem. CL passa a criar seus
textos mais sobre seqüências de
imagens, com referencias
explícitas à pintura, fotografia, a
um grafismo, a uma imagética, do
que em todos os romances
anteriores que se apresentam
como mais "tradicionais". Com
isso, elabora uma escrita cada vez
mais abstrata, apesar do grafismo.
Ver Sousa.
(RONCADOR, 2002: 113) veiculados em “Objeto Gritante” perturba a própria autora,
que envia o datiloscrito ao amigo José Américo Pessanha para uma avaliação e leitura.
A pesquisadora explica que, à época, Clarice pediu a ajuda do amigo José
Américo Pessanha como leitor crítico do texto, uma vez que não conseguia decidir se o
manuscrito deveria ser publicado ou não. As observações sobre “Objeto Gritante”
encontram-se em carta inédita enviada por Pessanha como resposta ao pedido de
Clarice. A carta data de 5 de março de 1972 e encontra-se no Arquivo Clarice Lispector.
Em sua reflexão acerca do manuscrito (RONCADOR, 2002: 55), Pessanha explica que
“desaprova” a publicação da obra por duas principais razões destacadas por Roncador.
A primeira delas é a de que, por utilizar novas técnicas de composição literária – como a
“bricolagem”, termo aplicado pelo próprio Pessanha, a autora “desapontaria a
expectativa de seus críticos” e “leitores”, ainda que revelasse uma radical originalidade
com a obra. Esta originalidade se aproximaria muito do esforço dos surrealistas na
rejeição do que sejam os artifícios empregados pela arte que, no caso da autora,
significaria um “repúdio ao trabalho da ficção” (RONCADOR, 2002: 56), de forma que
o tema da obra fosse a vida cotidiana da autora. Assim a obra poderia ser classificada
como sendo um diário ou carta pessoal (idem, p. 57). Clarice abandonaria a elaboração
formal
e temática, desobedecendo
“certas regras da
composição
artística”
(RONCADOR, 2002: 58), o que afrontaria a noção de livro proposta pela tradição
literária. Neste sentido, a obra de Clarice se configuraria como “a-literária”, como um
“anti-livro”, como aponta a própria autora na capa do manuscrito. Em segundo lugar,
Pessanha compara “Objeto Gritante” a outras obras de Clarice e afirma que haveria um
descompasso com a “unidade conceitual e estilística” das obras anteriores que havia
marcado a escrita de Clarice.
196
Para Roncador, o projeto de escrita de Clarice em “Objeto gritante” continha
marcas irrevogáveis de que o gênero da crônica havia influenciado a elaboração do
datiloscrito, uma vez que Clarice tenta apagar as marcas da ficção em nome de uma
escrita casual e heterogênea. O mais importante, parece-me, é que no processo de
reescrita de “Objeto gritante” ao que se tornará Água viva, a escrita que antes se
empenhara em repudiar o trabalho de ficção, desficcionalizando a linguagem e
incluindo o tom informal e casual de uma conversa, passa a se reficcionalizar. Quero
dizer com isso que a mudança na obra de Clarice implica uma ficcionalização de todas
as marcas que antes eram “reais” ou pertenciam ao universo autobiográfico, como será
avaliado mais adiante.
Os comentários do amigo desnorteiam ainda mais Clarice que, sem justificativa,
talvez desorientada pelas críticas feitas, resolve abandonar o projeto e modificá-lo por
completo. Pergunto-me então o que fez Clarice desistir de tal desafio? Penso que mais
do que o medo de perder um público leitor ou ser fulminada pela crítica, como aponta
Pessanha, talvez o posicionamento literário da autora estivesse demasiadamente
explícito. Reconfigurando seu projeto, poderia então abrir as portas para um
posicionamento mais sutil e sugestivo, porém não menos violento. Talvez porque fundo
e forma, em “Objeto gritante” ainda não estivessem em equivalência e a elaboração da
forma se sobrepusesse ao trabalho do fundo, resultando em um produto final com
marcas muito fortes de um experimentalismo literário mais do que de uma verdadeira
experiência artística. Penso que, com a publicação de A via crucis do corpo, Onde
estivestes de noite, A hora da estrela, a linguagem vai se tornar cada vez mais um
artifício, em dois sentidos: o primeiro no sentido de farsa, encenação, fingimento, como
uma máscara que ao mesmo tempo esconde o que é, apresentando um rosto falso, mas
jamais abdicando deste rosto como parte constitutiva do que ela é. Em segundo lugar,
197
entendendo artifício na sua acepção mais primitiva possível: o artifício é também um
processo do artefazer, nos termos marioandradinos, um meio único desenvolvido pelo
artista na elaboração de seu objeto artístico. E a referência a Mario de Andrade não se
apresenta sem propósito. Chamo atenção, no entanto, para o fato de que o convite feito a
Mario de Andrade, nesta tese, serve ao propósito de discutir o sentido do fazer poético e
não do compromisso moralizante e social envolvido no questionamento sobre a atitude
estética, nos termos propostos por Mario em sua aula inaugural dos cursos de Filosofia e
História da Arte, ainda que a própria Clarice afirme em carta a Fernando Sabino que
“trabalhar” (leia-se, escrever) “é a minha moralidade” (SABINO & LISPECTOR, 2002:
21).
Interessa a esta tese pensar a proposição de que a atitude estética do artista é da
mesma forma uma atitude diante da arte e diante da vida e está diretamente ligada à
relação do fazer com a matéria que o artista utiliza para realizar este fazer. Neste ponto
Mario recupera a aproximação que o artista tem com o artesão. A constatação de que
não se pode ensinar arte, apenas uma técnica, que será desenvolvida por meio do talento
de cada artista, desloca o foco de atenção do artista em si para o objeto, uma vez que a
técnica a ser empregada está intimamente associada à matéria com a qual o artista
trabalha. O ponto central desta idéia consiste em desviar o foco da ação individualista,
que privilegia o gênio do artista moderno para a obra de arte em si, no sentido de que o
que orienta a arte é a sua práxis, seu agir e fazer, e não um condicionamento subjetivo.
A poiesis ou o fazer poético, portanto, é mais uma ação que se refere ao exercício de
uma operação sobre um objeto do que a especulação sobre este fazer. Neste sentido, a
tese da indistinção da arte e do artesanato se vincula não apenas ao artista moderno, mas
a qualquer tempo histórico, centrando-se na relação mais genuína entre o artista e sua
obra. Segundo Eduardo Jardim, o interesse de Mario de Andrade reside “no embate com
198
a matéria e no reconhecimento pelo artista e pelo artesão do poder de determinação que
advém dela” e é aí que se encontra “a origem comum dos procedimentos artísticos e
artesanais” (JARDIM, 1999: 73).
Parece-me que se a marca da subjetividade e do artista ainda se encontra muito
presente na elaboração do datiloscrito, a atitude desenvolvida a partir da escrita de
“Objeto gritante” desloca o foco para a linguagem, para a matéria, para certo caráter
performático da escrita que acaba por embotar as fronteiras entre ficcional e nãoficcional. Em "Objeto gritante", a realidade irrompe na linguagem por meio do relato de
ações concretas do cotidiano da autora em tempo e espaço reais, introduzindo um relato
autobiográfico ao modo dos diários, de maneira que se possam indicar as circunstâncias
da produção do ato da escrita. Para Roncador, a elaboração de “Objeto gritante”
consiste na tentativa estética de questionar a arte e a literatura enquanto instituições, na
base de sua estrutura ordenada e fixa, construindo uma narrativa que explicite o
processo criativo de composição e aponte marcas temporais e espaciais do momento da
composição. Este método baseia-se no sistema de composição nomeado por José
Américo Pessanha (PESSANHA, 1989) de "bricolagem" de textos e material
heterogêneo de diferentes níveis de linguagem: crônicas, diário, poesia, narrativa de
caráter fragmentário, sem definição de tema ou forma, utilizando-se da prática de
justaposição paratática, que leva à produção de um texto heterogêneo e híbrido. Com
isso, produz-se uma escrita na qual o objetivo é escrever o que vem à mão, isto é, sem
elaboração precisa, concedendo caráter fragmentário e a-literário com efeito de
improvisação. Para tal, as referências ao ato da escrita são a tentativa de preservar os
rastros do drama e das circunstâncias de produção decorrentes de um combate entre
autor e texto. (RONCADOR, 2002:52). A influência de tais procedimentos na escrita
clariciana será abordada mais adiante. Neste momento interessa mostrar que o mesmo
199
caráter de improvisação que muitos críticos apontam como sendo parte constitutiva de
Água viva, nesta obra, diferentemente de “Objeto gritante”, nada mais é do que um
efeito estético criado propositalmente pela autora.
Para Roncador, Clarice inicia uma fase após a produção de "Objeto gritante" de
uma escrita menos “bela”, esteticamente falando, e cada vez mais “pobre”. É a escrita
“deflacionária” ou “empobrecida”, segundo as definições barthesianas propostas por
Roncador e que só aparecem de fato em 1974, com A via crucis.... Por outro lado, para
Sousa, a mudança decorre do fato de que o corpo passa a ter um impacto maior na
escrita, deixando marcas na identidade e, conseqüentemente, na própria literatura, já que
esta devém de um constante jogo de afirmações e negações que influencia a construção
de um eu que emerge da/na própria escrita 23 . De fato, os contos de A via crucis...,
chamados de “contos pornográficos” porque tratam de “assunto perigoso”
(LISPECTOR, 1991:19) problematizam a sexualidade e a relação do indivíduo com os
outros corpos. Ambos os críticos reconhecem uma radical mudança na atitude da autora
perante a escrita entre o fim dos anos sessenta e a década seguinte, porém com
justificativas opostas. Enquanto Roncador enxerga uma “deflação” na prosa clariciana,
Sousa aponta a acentuação do jogo de ocultamento e revelação do biográfico que devém
escrita, sem que isso se constitua uma "deflação estética" (RONCADOR, 2002:15)
(rebaixamento da potencialização do nível retórico). Dessa forma, enquanto A paixão
segundo G.H. é a escrita da desorganização, Água viva é a escrita da regeneração em
23
Em relação à imagem do corpo na literatura, Santos afirma que os romances do século XIX deixam
perceber a proliferação de doenças e casos de morte em personagens afetados por frustrações afetivas que
enfraquecem o corpo até a sua total degeneração. A dor do sofrimento é colocada de lado enquanto que a
dor do corpo se apresenta como mecanismo de defesa, pois a doença e a morte são "um desprazer menor a
substituir o desprazer maior" (SANTOS, 1999: 20). Nota-se que a escrita de Clarice rebate a dor da
solidão, do medo, da incomunicabilidade e do obscurecimento da expressão de afeto, por meio da
regeneração na escrita e "do exercício do viver as forças demoníacas em suas tonalidades particulares,
assustadoras, inebriantes, díspares" (SANTOS, 1999: 27).
200
Comentário: Entra nota sobre a
escrita.
termos da construção de uma identidade que devém escrita a partir da doação de si para
si mesma. A identidade é construção textual.
Entretanto, se Lispector decide não publicar “Objeto gritante”, por razões
desconhecidas, e transformá-lo em um programa de escrita completamente distinto, cujo
resultado final foi Água viva, nesta obra Clarice se liberta da dependência da norma,
elaborando uma escrita em que interligará os sistemas da literatura, pintura e música,
em direção à recuperação de uma linguagem mais abstrata, porém extremamente
sensível, para tratar do que chama de “neutro” ou it, isto é, o estado de ser deveniente,
instaurando um diálogo entre silêncio e palavra, imagem e conceito, concreto e abstrato,
fundo e forma. Ao convocar o ato de olhar para a leitura do texto, a narradora de Água
viva indica o caminho sinestésico que mobiliza o leitor em sua tarefa: “O que te digo
deve ser lido rapidamente como quando se olha” (LISPECTOR, 1978a: 17). Depreendese de tal gesto que o texto é construído não apenas para ser lido, mas para ser visto,
como se fosse um quadro.
A partir de Água viva, novos traços se firmam, pois o marco de mudança
estrutural havia sido lançado com "Objeto gritante". Clarice Lispector elabora projeto
estético em "Objeto gritante", abandona-o para dar espaço a outro projeto estético em
Água viva, porém carregando as marcas deixadas pela criação do projeto anterior. A
ruptura dos anos setenta não está desvinculada das incursões literárias anteriores.
Se, para a pesquisadora, a primeira fase da escrita de Clarice Lispector chega ao
seu ponto máximo e, ao mesmo tempo, ao término de um projeto estético com A paixão
segundo G.H., é a partir daí que se inicia, ou que se intensifica, outro programa de
escrita. Um aspecto bastante curioso que diferencia "Objeto gritante" de Água viva,
aproximando-os e, da mesma forma, afastando-os reside, por exemplo, no modo como
Lispector elabora referências sobre o universo da pintura. Sousa chama atenção para
201
algumas rasuras que começam a aparecer no meio do datiloscrito. Verifica que tais
rasuras se referem a termos ligados ao campo semântico da escrita, como 'escrever',
'escrita', 'texto', que, em uma fase de reescritura e tornando visível uma direção definida,
são alterados para seus equivalentes no campo semântico da pintura. Escritas à mão
estão as palavras 'pintar', 'pintura', 'tela'. "Não se trata do tipo de rasura que acompanhe
um processo, mas de um acrescento que releva de uma forte intencionalidade
programada" (SOUSA, 2000:306). Como exemplo do datilostcrito de "Objeto gritante"
cita:
Quanto a certo [romance] {pintura}, não me lembro mais onde foi o começo,
sei que não comecei pelo começo: foi por assim dizer [escrito] {pintado} ao
mesmo tempo. Tudo estava ali, ou parecia estar, como no espaço-temporal
de um piano aberto, nas teclas simultâneas de um piano.
[Escrever] {pintar} procurando com muita atenção o que se estava
organizando em mim, e que só depois [da quinta cópia paciente] é que passei
a perceber. Passei a entender melhor a coisa que queria ser dita.
Meu receio era de que, por impaciência com a lentidão que tenho em me
compreender, eu estivesse apressando antes da hora um sentido. Tinha a
impressão, ou melhor, certeza de que, mais tempo que eu me desse, e [a
história] {os meus quadros} diria{m} sem convulsão o que [ela]
precisava{m} me dizer (Lispector, fl. 146, apud SOUSA 2000: 308)
O pesquisador aponta a proximidade: se em um primeiro momento, a 'escrita' é
substituída pela 'pintura', em um segundo, ambas as linguagens aparecem em
coexistência, interpenetração e intercâmbio entre palavra e imagem, característica que é
a tônica de Água viva. Como aponta, à página 167 de "Objeto gritante" lê-se "De
qualquer modo, escrever é tantas vezes lembrar-se do que nunca existiu". Tal passagem
é, entretanto, reparada com um acréscimo onde se passa a ler: "De qualquer modo
escrever e pintar..." (Lispector, apud SOUSA, 2000: 308). O que se verifica é a
202
substituição de termos inicialmente integrados sem qualquer pré-determinação que, no
desvelar da escrita, vão demonstrando um processo programado de "duplicidade
polissêmica" (SOUSA, 2000: 307).
Portanto, o que para Roncador aparece como texto não voluntarioso, revela, por
meio do seu processo de reescrita, a metamorfose de um projeto estético em outro. Se o
efeito de improvisação provocado por "Objeto gritante" se deve ao fato deste se
apresentar em forma de diário, a escrita de Água viva mantém aparentemente esse
mesmo caráter de improvisação, revelando-se, contudo, após olhar mais atento, como
texto programadamente fragmentário e fortemente estruturado como se os "pedaços de
vida" descritos em "Objeto gritante" fossem agora expostos plasticamente em Água
viva. Ao contrário do que afirmam alguns críticos, só "aparentemente" Água viva
mantém caráter de improvisação, pois atrás do pensamento existe um ritmo, que
organiza e direciona toda a obra. Segundo Octavio Paz:
En el fondo de todo fenómeno verbal hay um ritmo. Las palabras se juntan y
separan atendiendo a ciertos principios rítmicos. Si el lenguaje es un
continuo vaivén de frases y asociaciones verbales regido por un ritmo
secreto, la reproducción de ese ritmo nos dará poder sobre las palabras. El
dinamismo del lenguaje lleva al poeta a crear su universo verbal utilizando
las mismas fuerzas de atracción y repulsión (PAZ, 2003: 53).
Sousa não é o primeiro a demarcar o estilo clariciano de expressar o sensível
por meio de técnicas visuais e plásticas. Olga de Sá 24 e Guilherme Figueiredo já
haviam chamado atenção para esse procedimento. Aponta para as linhas como
expressões do próprio pensamento e os círculos (ou espirais) como expressão da força
expansiva, do ato criador. Ao fazer bolinhas com o miolo do pão, enquanto se
24
Para Olga de Sá (SÁ, 1979) é o caráter limitador da discursividade que faz a pintora-narradora de Água
viva introduzir na linguagem os processos da pintura e da fotografia.
203
questiona sobre quem é, G.H. está a modelar sua própria forma, metáfora do autor e da
criação. E descreve, com isso, o processo de sua escrita: modelar o texto como se
modela a massa disforme e circular que é também o ser em busca de sua própria
expressividade, e a palavra que compõe o texto da vida ou o texto que é composto pela
palavra vital. Se, desde seu primeiro livro, encontramos referências explícitas a um
grafismo que começa a tornar-se mais expressivo, é ao longo de sua obra que podemos
notar mais claramente a presença e importância da imagem em sua forma artística. À
medida em que as imagens vão sendo desenhadas, esculpidas e pintadas, a
compreensão acerca do ser vai se estampando no papel. Modelar figuras em movimento
como estátuas vivas é refletir o interior no exterior. Por que arrumar a forma? Para quê?
Modelar uma forma é também relatar. Busca-se relatar o inexpressivo na forma
expressiva, gesto que refaz o ato criador e instituidor do novo mundo e do novo ser.
Para isso, antes, a palavra desarruma a construção erguida pela cultura.
Se em A Paixão... a busca é pela reconciliação do homem com o ser
pleno, em Água viva, a alusão à fundação do mundo e plenitude do ser é constante.
Passar "para o outro lado da vida" (LISPCETOR, 1978a: 19) é iniciar outra vida, espaço
onde ocorre o parto do novo ser. A imagem do nascimento é dominante em Água viva,
nascimento do ser que surge já sem o amparo da terceira perna, abolida em A paixão
segundo G.H. e que remeterá ao devir da escrita. Diz a narradora: "Ergo-me devagar,
tento dar os primeiros passos de uma convalescença fraca. Estou conseguindo me
equilibrar" (LISPECTOR, 1978a: 20). O momento em que o descortínio da vida se
realiza virá expresso no que Clarice chamará de “estado de graça” (idem, p. 88).
Através dele descobre-se que “realmente se existe e existe o mundo” (idem). Portanto, o
estado de graça manifesta a plenitude da existência - porque nesse momento
experimenta-se “ganhar um corpo e uma alma” (LISPECTOR, 1978a: 89) - e engendra
204
“a anunciação do mundo”. Em Água viva, este momento é seguido de uma reflexão
sobre a linguagem, uma vez que a narradora tentará “tornar eterna” a “felicidade” “por
intermédio da objetivação da palavra” (LISPECTOR, 1978a: 90), de forma que possa
“prender” o que lhe aconteceu “usando palavras” (idem). Portanto, a reflexão sobre a
vida está associada à reflexão do próprio fazer literário. Para explicar o estado de graça,
a autora começa a tratar do que seja a forma em que ele se apresenta e de como
expressar essa forma. A única maneira, diz, é através do “pensar-sentir” já que “o
verdadeiro pensamento se pensa a si mesmo” (ibidem), e por isso é livre de forma e
inclusive livre da figura pessoal de um autor. “O verdadeiro pensamento parece sem
autor” (LISPECTOR, 1978a: 91). E o estado de graça ou “beatitude” carrega “essa
mesma marca”. Portanto, ao falar de nascimento, a autora fala também de dissolução,
porque “a beatitude começa no momento em que o pensar-sentir ultrapassou a
necessidade de pensar do autor” (idem) e atingiu “o nada”. A integridade pessoal do
autor está ameaçada. E com ela vem a ameaça à desintegração dos limites entre real e
ficcional, e daqueles que classificam alta e baixa literatura 25 . Este é o ponto em que a
incomunicabilidade toca a comunicabilidade. E imediatamente a narradora passa a falar
de música e de voz, construindo “cenas” que retratem o abstrato daquilo que está dentro
de sua fala, quase que em aforismos.
Se no romance de 1964 o tom é de dissolução da subjetividade, em Água viva
Clarice coloca a arte e não a subjetividade no centro da reflexão, pois a narradora diz
que o nascimento do ser e do mundo "não acontece em fatos reais, mas sim no domínio
de – de uma arte?" (Idem) "Sim", responde a narradora, o texto que surge narra o
nascimento da arte.
25
Para Olga de Sá, o instrumental da escritura epifânica na obra de Lispector se coloca nos termos da
utilização de dois recursos complementares que se constituem como pólos de criação: o modo de
iluminação – glorioso e sublime – e o estilo humilde da anti-epifania ou da epifania crítica, resultando em
uma alternância entre estilo luminoso e estilo pobre, no qual surgem referências ao mole, ao demoníaco, à
violência e ao gosto pelo mal (SÁ, 1991: 205).
205
Na crônica intitulada “Temas que morrem”, de 24 de maio de 1969, a autora
explica o que mais tarde será apresentado ficcionalmente na elaboração de Água viva. A
crônica propõe que há tantos temas a serem tratados na literatura quanto os há na vida
porque todos são sempre experiência viva, isto é, nascem de uma experiência vital e,
portanto, jamais se esgotarão. Diz: “estou cheia de temas que jamais abordarei. Vivo
deles, no entanto”. No entanto. No entanto, tais temas se configuram como temas que
morrem porque “morrer” é “parte essencial da natureza humana, animal e vegetal”
(LISPECTOR, 1994: 207) e as “coisas morrem”. Assim como viver é parte essencial
dessa mesma natureza porque, como diz a narradora de Água viva, “antes da morte” há
o “delicado da vida” (LISPECTOR, 1978: 57). A reflexão se desenvolve, não obstante,
em direção à dificuldade de escrever sobre esses temas porque são todos “exíguos”,
quase abstrações. E pela sua exigüidade o que mais importa é o impulso que obriga o
autor a escrever, a força de criação. E é assim que rapidamente este impulso se torna o
tema central, e “a experiência de ser desorganizada”, a sensação de “estar gripada”, o
“beber mal”, o “comer”, o falar sobre “frutos e frutas” (LISPECTOR, 1994: 207-8), se
constituem apenas como temas periféricos. Entre fatos corriqueiros e assuntos de
densidade como a dor, a morte, o paraíso, a crônica tratará do processo de criação. Os
temas são temas que morrem porque o momento de criação é tão fulminante quanto a
morte. Toda obra de Clarice tenta dar conta deste “instante mínimo” (LISPECTOR,
1994: 207) em que simplesmente se sabe “como é a vida”, “como a arte deveria ser”
(idem). Executa-se um pacto entre escritor e escrita: o de “ver e esquecer para não ser
fulminada pelo saber” (ibidem). A escrita de Lispector é, portanto, uma escrita da visão
e da cegueira, do tudo e do nada, por isso forma-se uma escrita do estertor. A vida mais
corriqueira pode conviver, enquanto tema de escrita e exercício de vida, lado a lado da
vida mais profunda, assim como a miséria convive lado a lado da opulência, o abjeto do
206
puro, o baixo do elevado, e assim por diante. Creio que essa escrita quer dar conta de
um real que se mostra aos olhos do escritor por meio da apreensão de um universo que é
da ordem do haver, isto é, um real que simplesmente é. E junto ao é há o não-ser, junto
ao existir há o inexistir. Como a morte. Morrer, em sua acepção intransitiva, mais direta,
é simplesmente “deixar de ser”. Nesse sentido, existir e inexistir, morrer e viver, haver e
não-haver tornam-se condições intercambiantes e entremeantes porque são partes
essenciais de uma dada natureza. “E vem a idéia de que, depois de morrer, não se vai ao
paraíso, morrer é que é o paraíso” (LISPECTOR, 1994: 208). Assim como o paraíso
não sucede à morte, mas é contínuo ao próprio morrer, a autora deseja dizer que
“pintar” e “escrever” são partes constitutivas e intercambiantes de sua escrita,
desdobramentos de uma coisa só que é a criação literária, de um continuum inexaurível.
“Escrever não é quase sempre pintar com palavras?” (idem). Porque a realização do ser
e da arte não é a plenitude da vida ou da verdade, mas a sua contínua inesgotabilidade.
Em Água viva é no primeiro parágrafo que o leitor toma conhecimento do tema
a ser tratado na obra: o instante mínimo em que se constitui a criação, momento de
formação da escrita. A pergunta direcionada ao leitor: “O próximo instante é feito por
mim? Ou se faz sozinho?” (LISPECTOR, 1978a:9) é imediatamente respondida pela
narradora: “Fazemo-lo juntos com a respiração” (Idem).
O universo literário construído por Clarice Lispector envolve todas as faculdades
do sensível e todos os participantes desse acontecimento. Para além de sons, signos ou
imagens, Clarice instaura uma nova expressão que envolve inclusive o silêncio, ponto
de encontro onde todas as expressões se fundem para exprimir o inexprimível, o
impronunciável, o desconhecido: o núcleo vivo da vida. É na própria epígrafe de Água
viva que está contido o sentido da escrita clariciana:
207
Tinha que existir uma pintura totalmente livre da dependência da figura – o
objeto – que, como a música, não ilustra coisa alguma, não conta uma
história e não lança um mito. Tal pintura contenta-se em evocar os reinos
incomunicáveis do espírito, onde o sonho se torna pensamento, onde o traço
se torna existência 26
Uma pintura livre da dependência da figura é o abstrato? Uma pintura que não
ilustre, conte história ou lance mito, mas na qual sonho é o mesmo que pensamento, e
traço o mesmo que existência, é uma pintura cujo significado maior é o da experiência
em si. Trata-se da captura do movimento contido na experiência. As tentativas da
narradora de Água viva de capturar o instante-já, o segundo e todos os seus segmentos,
consistem em experimentar o instante que cabe em qualquer tempo - presente, passado e
futuro - pois não está contido em nenhuma medida de tempo ou espaço, é apenas vivido,
isto é, tem a dimensão da experiência.
A inscrição por meio de traços, palavras e letras busca capturar o momento de
queda que se torna rasura. Portanto a inscrição do ser sobre a parede no romance de
1964 pode ser também entendida como a escritura da vida no papel ou na tela. E a
existência gravada pelo traço sobre o fundo branco é corpo rasurado que revela o corpo
da escrita, também rasurada e desalinhada.
Ao buscar a união de sistemas de criação para dar conta de narrar a vida em si,
a autora une intelecto e sensibilidade, já que para si uma categoria não se dissocia da
outra, assim como o homem precisa das duas pernas para caminhar. As duas pernas que
“caminham juntas” em A paixão segundo G.H. referem-se às duas formas de existência
necessárias e indissociáveis para a integridade do ser. Ao dizer ao leitor que: “Não se
compreende música: ouve-se” (LISPECTOR, 1978a:10), a narradora está dizendo que a
26
Trecho de Michel Seuphor utilizado por Clarice como epígrafe de Água viva.
208
experiência musical é, acima de tudo, uma experiência sensível e que, tanto quanto a
audição, o ato da leitura convoca mais do que lógica e raciocínio: convoca o corpo .
Para tal, a composição que busca todo tipo de expressão em conjunto, como um todo,
fazendo uso da palavra, do traço e do som, ao mesmo tempo, é a composição que tenta
dar conta de algo inexprimível, impronunciável dentro de uma tradição ocidental
limitadora. A palavra intocada, aquela que é da quarta dimensão, só se realiza enquanto
traço ou som. A escrita de Lispector busca a expressão sinestésica para que as formas de
expressar o que é matéria vertente se ampliem e emprestem umas às outras os traços
necessários para a expansão delas mesmas. Ao narrar o tempo presente do "instante-já",
o próprio tempo discursivo acaba sendo alterado. Não há fábula porque há poesia.
É, por exemplo, na intercambiação entre pintura, escrita e música que se
mostra o abstracionismo da autora. Já que a palavra não é suficiente para expressar o
que deseja, para tocar o intocável, ver o invisível e dizer o indizível, a autora
sinestesicamente apropria-se da música e da pintura para narrar a vida, que é o neutro
vivo.
Estou te falando em abstrato e pergunto-me: sou uma ária cantabile? Não,
não se pode cantar o que te escrevo. Por que não abordo um tema que
facilmente poderia descobrir? (...) Minha história é a de uma escuridão
tranqüila, de raiz adormecida na sua força, de odor que não tem perfume. E
em nada disso existe o abstrato. É o figurativo inominável (LISPECTOR,
1978a: 82).
É preciso reinventar uma nova forma de escrever e de dar significado à
realidade. O signo lingüístico motiva o significante pela construção de imagens –
expressão do sensível – de forma que, na narrativa, a materialidade da palavra seja
destacada. Por meio dessa estratégia literária, a autora recupera o sensível abolido pela
tradição do dualismo psicofísico, agora já na dimensão da linguagem, e o faz interagir
209
com um conteúdo que se quer abstrato e conceitual, de sua própria estrutura literária. O
abstrato aponta para o aspecto conceitual da obra, e a autora realiza mais uma vez a
união entre o pensar-sentir. Em crônica intitulada “Abstrato é o figurativo”, Clarice
revela o funcionamento da escrita desenvolvida em Água viva: “Tanto em pintura como
em música e literatura, tantas vezes o que chamam de abstrato me parece apenas o
figurativo de uma realidade mais delicada e mais difícil, menos visível a olho nu”
(LISPECTOR, 1994: 340). Clarice busca nas artes plásticas uma maneira de explicar o
funcionamento da sua escrita. A escrita se dirige então para o entrelaçamento conceitual
e imagético na linguagem poética.
Sousa chama atenção para a atmosfera pictórica que invade a obra lispectoriana,
como nos jogos de luz e sombra, nas descrições, etc. É, no entanto, em Água viva que
essa referência mais se manifesta, quase que a cada período, apesar de aparecer em
muitos de seus contos e romances anteriores. O autor nos mostra que Clarice, na
maioria das vezes, utiliza-se de metáforas para se referir ao ato da escrita. O que são as
referências à noite, aos animais, ou à cidade senão modos de capturar ou figurar o ato de
escrever?
Partindo da técnica pictórica usada por Clarice em seus textos, o pesquisador
(SOUSA, 2000: 290) concentra sua análise na relação imagem/texto que se faz presente
in absentia, ou seja, a imagem que é apenas evocada no texto. Como podem ser
“evocadas” sem serem “nomeadas”? A resposta só pode ser: por meio de termos que
abrangem o campo semântico da pintura, como as inúmeras referências ao quadro, tela,
pintor, paisagem, artista, etc., ou por meio das descrições, das adjetivações, sendo esse
precisamente o gesto elaborado na construção da narrativa clariciana.
Para me interpretar e formular-me preciso de novos sinais e articulações
novas em formas que se localizem aquém e além de minha história humana.
210
Transfiguro a realidade e então outra realidade sonhadora e sonâmbula, me
cria (LISPECTOR, 1978a: 22).
Sendo constante a verificação de termos como "abstrato" e "figurativo" na obra
clariciana e na crítica literária sobre a autora, Sousa lembra que é nessa polaridade que
se forma uma das decifrações do enigma lispectoriano e que sua escrita se aproxima
mais de uma escrita abstracionista ou de um abstracionismo lírico. Explica-se: o
abstrato se concretiza na tentativa, mais explícita em Água viva, de fixar no papel o que
é incorpóreo e invisível, principalmente quando a autora usa expressões como “pinto
idéias”, “pinto o indizível”, “pinto pintura” (Lispector, 1978a: 16, apud SOUSA, 2000:
292). É, por exemplo, na intercambiação entre pintura, escrita e música que se mostra o
abstracionismo da autora. Já que a palavra não é suficiente para expressar o que deseja,
para tocar o intocável, ver o invisível e dizer o indizível (tudo que é abstrato), a autora
sinestesicamente apropria-se da música e da pintura para narrar a vida, que é o neutro
vivo. “Estou te falando em abstrato e pergunto-me: sou uma ária cantabile? Não, não se
pode cantar o que te escrevo” (LISPECTOR, 1978a: 82). Não se pode cantar apenas, ou
escrever ou pintar, pois só é possível tentar captar aquilo sobre o que deseja escrever
com a ajuda de todas essas vias de expressão. É preciso reinventar uma nova forma de
escrever, de dar significado à realidade. Ao mesmo tempo coexistem o abstrato e o
figurativo, pois somente em conjunto é que podem expressar o inexpressivo. Como
mostra o crítico português, Clarice busca nas artes plásticas uma maneira de explicar o
funcionamento da sua escrita. Ao falar de Água viva, enfatiza a importância do termo
gesto, como já havia feito anteriormente Helene Cixous, “é no gesto que melhor se
traduz a figuração”, diz o pesquisador (SOUSA, 2000: 294), pois o gesto é visual e
sugestivo. E aponta ainda para o fato de o gesto se alternar ora em gesto de escrita, ora
de pintura, exatamente como sugestão para a narração do indizível. É nessa obra que
211
primeiro se faz presente a dualidade escrever/pintar, referência que voltará a aparecer
em Um sopro de vida. Diz a narradora de Água viva:
É tão curioso ter substituído as tintas por essa coisa estranha que é a palavra.
Palavras – movo-me com cuidado entre elas que podem se tornar
ameaçadoras; posso ter a liberdade de escrever o seguinte: "peregrinos,
mercadores e pastores guiavam suas caravanas rumo ao Tibet e os caminhos
eram difíceis e primitivos". Com esta frase fiz uma cena nascer, como num
flash fotográfico (LISPECTOR, 1978a: 23).
Ao falar do processo da escrita clariciana, que substitui as tintas pelas palavras
nessa dualidade, Sousa afirma que o convite feito por Clarice para que o leitor participe
daquilo prestes a ser narrado, rendendo-se de corpo inteiro a esse movimento, pretendese equivalente ao estado de entrega com que é escrito o livro. Se a narradora pinta seus
quadros com o corpo, e esta atividade passa necessariamente pelo contato, pela
integração corpo/tinta, é também por meio desse contato que se faz a escrita e,
conseqüentemente, a leitura. Como fabricar cores com as palavras? Como reinventar a
tinta? Como envolver o corpo na escrita? A resposta é: convidando o leitor a participar
dessa fabricação através de experiências com a palavra. Tornar as palavras úmidas e
secas como a tinta por meio do som e imagem que evocam. “Quero como poder pegar
com a mão a palavra. A palavra é objeto? E aos instantes eu lhes tiro o sumo da fruta.
Tenho que me destituir para alcançar cerne e semente de vida. O instante é semente
viva” (LISPECTOR, 1978a: 12).
Tentar agarrar com a mão a palavra intocável, o abstrato, aquilo que escapa, é
tentar tocar o inatingível, processo iniciado e reiniciado constantemente pelos textos
claricianos. Atinge-se esse ponto por meio de um texto que se elabora no momento em
que se faz, no processo de fabricação da malha textual, na tentativa de se aproximar do
212
estado bruto da palavra, a “matéria-prima” com que se constrói o texto. "Não é um
recado de idéias que te transmito e sim uma instintiva volúpia daquilo que está
escondido na natureza e que adivinho" (LISPECTOR, 1978a: 24). Os fios se
desdobrarão, ao passo que a malha for tecida, em um jogo de desvelamento e
ocultamento, tal qual jogo de alternância entre som e silêncio, lembrando que a
experiência do encontro com a música evoca um estado de intervenção do ouvinte por
meio do corpo, pois o ato de ouvir passa necessariamente por essa instância, por isso
ouve-se e lê-se com o corpo.
Talvez Clarice seja uma beduína das palavras. Talvez sua escrita lembre a escrita
dos textos árabes da antiga Pérsia, no que diz respeito à busca pelo nome, pelo Deus,
pela palavra que contém palavras. Talvez seus contos e romances tenham contornos de
animais e rostos, que as letras árabes formam em pura consonância imagética. E, se não
existem letras, como ensinam os místicos, apenas a tinta que se auto-modifica, então a
realidade e o ser repetem esse gesto auto-formativo, e os quadros pintados por Clarice
se tornam transmutações, que se formam figuras e depois desmancham para que novas
formas possam surgir. Se os traços desenhados por Clarice flutuam na tinta original,
escrevendo rostos, vôos, ocasos, amores, que preenchem páginas divinas e infernais,
então o mundo reinventado pela autora é ao mesmo tempo abstração – fundo – e
certamente concretude – forma - celebração do Todo, do dois que se transforma em um
e em dois novamente, no movimento infinito da espiral e da vida. Sua escrita é um
tapete com fios de seda, que desenham estrelas de fogo, lâminas cortantes, corpos
embriagados e nus, que se agregam e formam um só sistema rumo à própria decifração.
Desse tapete origina-se o mundo. Do mundo, o homem. Do homem, a vida. Da vida: a
palavra.
213
3.3 DA VIA-CRUCIS DO CORPO À NOITE DA IMAGEM
Verificou-se que o romance de 1973 é elaborado como texto que realiza a não
dissociação das linguagens expressivas em sua totalidade, inclusive entre os
participantes dessas linguagens: aquele que escreve e aquele que lê. Como aponta
Reguera, o texto se transformará em palco onde se “dramatizam, de maneira
perturbadora, o choque, a oposição das noções vigentes no sistema literário e das suas
próprias negações: o literário e não-literário; criação e reprodução, mesmo e outro”
(REGUERA, 2006: 111). O entre-lugar em que a obra se situa surge por conta do
deslocamento dos perfis de gênero e do tipo de discurso construído e veiculado pela
literatura e por questionar a própria literatura como instância detentora de uma
“autoridade” artística pautada em uma superioridade moral ou epistemológica
(RONCADOR, 2002: 17), em oposição a um conhecimento provindo das experiências
vitais. Desestabiliza a noção tradicional de romance uma vez que o transforma não em
um gênero literário, mas em um meio onde se combinam os gêneros. Perpetua-se,
assim, a idéia de que o conhecimento e apreensão da “natureza verdadeira do mundo, do
sujeito, ou da própria linguagem” (idem), condicionado pelo texto, viriam de um
distanciamento das experiências imediatas.
O problema da autoridade se complexifica quando associado à questão da
autoria, uma vez que o texto que confunde os limites entre autor-personagem-obra,
interferindo nos sentidos do ficcional e do real, propõe-se na verdade à problematização
do ato de narrar a partir da sua representação. Assim desloca-se o poder de construção
de sentidos do autor-leitor para a própria linguagem. Colocando a linguagem como
personagem central das narrativas, isto é, pelos tratamentos possíveis que recebe,
Lispector desestabiliza os limites entre o ficcional e o real, uma vez que abre as portas
214
para a “encenação e ambigüidade” (ARÊAS, 2005: 54). É nesse sentido que Nilson
Dinis aponta o efeito da desterritorialização dentro da obra clariciana. Em diálogo com
o pensamento deleuziano, Dinis lê a obra de Lispector como obra que encena “os
devires que atravessam o escritor” (DINIS, 2004: 16) não como metáforas ou imitações
- o que nos permitiria ler um tom realista mais rigoroso na obra tardia de Lispector –
mas no sentido da dupla captura de que trata Deleuze, daquela “núpcia entre dois
reinos” (apud DINIS, 2004: 16). Penso que os estilos ou tons – maiores e menores –
utilizados por Clarice, principalmente em A via crucis... são na verdade
desterritorializações da língua que permitem a aparição de devires, afastando o universo
construído pelo texto dos padrões consagrados pela tradição.
Curioso é que a leitura das crônicas escritas por Clarice revela grande parte do
processo de escrita da autora, do seu modo de composição por meio de linguagem
metaficcional e dos temas privilegiados por sua obra. É como se Clarice fosse
comentarista de sua própria obra no conjunto de suas crônicas.
Um romance sem personagens é romance? A ficção pressupõe a criação de
personagens e fatos que de fato não existem? Ou poderiam existir uma vez que se
tornam vivos pela palavra? O que é ficção? Em crônica intitulada “Ficção ou não”
(LISPECTOR, 1994: 286), a autora revela o desejo de se libertar de uma “moldura” que
apenas serve para “tornar um livro atraente”, um truque, pura técnica. Despir a narrativa
dos “truques” e permanecer apenas com o atraente é a intenção literária clariciana. Em
seu fazer prefere “prescindir de tudo o que puder prescindir” (idem, 287). Assim, a
própria autora reconhece que sua escrita é farsa, uma vez que autobiográfico e
biográfico, enredo, personagens, registro de pensamentos e sensações, tudo se torna
pura construção literária, manipulada segundo a intenção do autor. Se o atraente em A
paixão... é justamente prescindir dos acréscimos, já em A via crucis... são os excessos –
215
encenações da linguagem - acréscimos dos quais a obra não pode prescindir. Esses
excessos, segundo Vilma Arêas, constituem-se como atitudes da linguagem que vão do
“burlesco deslocado do tom altissonante” ao “exagero coloquial” (ARÊAS, 2005: 54),
passando pela referência a “ideologias românticas”, “o pathos e o ridículo”, as
“crendices populares”, “folclore”, “narrativas baratas sobre misticismo”, “ficção
científica”, etc (idem, p. 55). Nessas encenações da linguagem, Arêas vê uma
aproximação da obra “aos gêneros dramáticos ligados à comédia popular” (idem, p. 58).
Desta relação farsesca engendrada na narrativa, nasce uma das imagens mais
comuns criadas pela escrita lispectoriana, apontada por Sousa, que se caracteriza pelo
desejo que as protagonistas apresentam de serem a mãe do mundo, metáfora para a
criação do universo e de seu criador, vinculando a esta alegoria a condição do artista
enquanto criador do universo textual. 27 Este sentimento é problematizado em alguns
dos contos de A via crucis do corpo como, por exemplo, em “O homem que apareceu”,
“Por enquanto” e “Dia após dia” que, junto à “Explicação” da autora, esfumaçam os
contornos entre real e ficcional ao incluírem a autora como personagem da ficção,
transformando-a em personagem ficcionalizado, portanto, criatura, e invertendo os
termos dessa narrativa.
O ato de narrar perpetuado pelas narrativas neo-realistas da época de Lispector
já não é suficiente para dar conta do problema lançado por sua escrita. A preocupação
com a criação do texto escrito se sobrepõe ao tema narrado, e concede espaço a uma
nova maneira de representação do real, não mais através de sua imitação, mas de sua
invenção. O realismo de A via crucis... é um artifício para colocar em cena o “embate
entre o dizer e o fazer,” como aponta Reguera (REGUERA, 2006: 88). A pesquisadora
mostra como Clarice aproveita um pedido do editor para escrever “histórias que
27
A referência a esta imagem percorre quase toda a obra lispectoriana, incluindo contos e romances como
“Os desastres de Sofia”, “Perdoando Deus”, alguns contos de A via- crúcis..., Uma aprendizagem..., Água
viva e A paixão segundo G.H.
216
realmente aconteceram” (LISPECTOR 19), em forma de “livro de contos eróticos”,
escrito “no dia 12 de maio de 1974”, a partir do pedido de seu editor, Álvaro Pacheco, e
o transforma em A via crucis..., em resposta a uma tradição composta por editores,
críticos literários e leitores, que julga e define os padrões de uma tradição dos discursos
da alta e nobre literatura e da escrita menor. Essa preocupação já havia aparecido em
Cidade sitiada, como aponta Sousa em sua interpretação sobre o romance, em um de
seus grandes projetos literários – o datiloscrito de “Objeto gritante” – e retorna à cena a
partir de A via crucis.... Apenas dessa vez Lispector abandona o pudor e a linguagem
alegórica, a preocupação com seu público leitor e despoja a linguagem.
Em sua tese, interpreta A cidade sitiada como uma alegoria sobre a formação e
afirmação da cidade como texto. Em abertura polissêmica, lê o romance como
apresentação de uma “poética implícita da escrita intencional que é a que preside à
elaboração deste romance – talvez não da escrita clariciana, mas do modo intencional
de erguer este texto concreto” (SOUSA, 2000: 86). A cidade é metáfora do texto e
todos os semas aí empregados remeterão ao universo literário. O “trabalho do criador”
converte-se em “paródia” do escrever dentro de uma tradição. Sousa deseja com isso
apontar que a escrita de Clarice trabalha com referências culturais precisas, seguindo
um impulso de escrita intencional, profunda e amplamente dialógica com a tradição.
Porque, de facto, a obra de Clarice não se constrói por cima de uma
saturação de referências culturais de qualquer espécie. Ver-se-á mais tarde a
componente mítica que aflora também num livro diferente dentro do
conjunto da sua produção: Uma aprendizagem ou o Livro dos prazeres; dá,
pois, a impressão de que, quando ela resolve parar e escrever
diferentemente, para dar uma resposta ou para visar um qualquer público ou
situação, é que afloram essas alusões de teor cultural mais explícito
(SOUSA, 2000: 87).
217
Comentário: Comentário de
Sousa sobre Cidade Sitiada
Seguindo essa mesma trilha crítica, Sonia Roncador apontará que, após a
tentativa de desenvolvimento de um projeto anti-literário com “Objeto Gritante”, a obra
de Lispector sofre uma espécie de deflação que deixa evidente uma “aversão à boa
forma narrativa” e um “descontentamento” com uma “prosa enfática, ou ‘inflada’, de
uma literatura de bom gosto” (RONCADOR, 2002: 88). A pesquisadora aponta ainda
que “Na crônica “Charlatães”, a autora menciona a vontade de produzir efeitos de ‘mau
gosto’ na sua escrita e comenta o ‘tipo horrível de bom gosto’ de uma certa tradição”
(idem). O método de “colagem” ou “justaposição paratática” de fragmentos que
compunha “Objeto gritante” criava uma “dissonância interna” engendrada pela prosa
diarística que paulatinamente abalava o ambiente poético e sublime característico da
escrita lispectoriana. Com isso o efeito de “deflação estética” atuava sobre um
“rebaixamento do nível retórico” (idem). A desreferencialização de mundo e de escrita
provoca o surgimento de uma narrativa híbrida e heterogênea na qual predomina a
ordem realizada pelo texto a partir da estranheza do paradoxo, interferindo nos
conceitos de alta literatura e na função da literatura. Reguera chama atenção para a
noção de “hibridismo” atribuída à narrativa clariciana não como “mau momento” ou
“desvio” na trajetória da escritora, mas como um “processo de (re)escritura de textos”
(REGUERA, 2006: 110) que coloca em circulação e contato o “mesmo” de textos já
publicados e o “novo” de textos inéditos. Assim, a singularidade do hibridismo
lispectoriano reside na manipulação das noções de “criação”, produção” e
“reprodução”, e nos sentidos de boa e má literatura a que tais termos remetem (idem).
A escrita, na década de setenta, torna-se a personagem central da narrativa.
Assim, a encenação da escrita na obra lispectoriana da década de setenta se
realiza a partir de dois vetores: o da complexificação da equação autor-narradorpersonagem, provocando um conseqüente apagamento entre as fronteiras do real e do
218
imaginário, e o da desmontagem da conceituação de “alta” ou “baixa” literatura. Com
relação ao primeiro vetor, o texto clariciano passa a ser preenchido de referências
autobiográficas que confundem os traços ficcionais dos narradores, que muitas vezes
vêm expressamente se afirmar como sendo a própria narradora, como é o caso de contos
de A via crucis..., da narradora de Um sopro de vida e do narrador de A hora da estrela.
Além disso, registros temporais e espaciais do momento da criação do texto mostram-se
como marcas do rastro da escrita e, principalmente, as referências ao ato da escrita e às
marcas ficcionais dessa escrita. Até mesmo o delinear de uma abordagem neo-realista
da narrativa aponta para a encenação da farsa clariciana. O segundo vetor interpreta o
hibridismo, a abordagem realista de cunho “erótico” e a referência ao abjeto como
fatores desencadeadores de uma perda de qualidade no valor estético-literário da obra,
que se tornaria, portanto, “inferior” se comparada com a obra de cunho “metafísico” das
décadas anteriores.
Fato é que existem certas alterações formais e conteudísticas de fundamental
importância para a compreensão do novo estatuto da narrativa clariciana que a
passagem da década de sessenta para a década de setenta apresenta. Em que consistem
essas alterações? Qual a intenção da autora com essa “nova” estrutura de escrita?
Para Roncador, a grande modificação sofrida na escrita de Lispector ocorre no
projeto estético elaborado em “Objeto gritante”, um programa de escrita que ainda que
não tenha sido publicado, gerou alterações de ordem de uma desintegração. Se esta
desmontagem inicialmente converge para a desintegração de uma identidade
individualizante com a exposição que a escrita diarística de “Objeto gritante” traria à
integridade pessoal da autora, em seguida ela se torna uma ameaça à integridade do real
e depois da própria literatura. O constante interesse de Clarice pelo “estado de graça” ou
“epifania” a que os encontros fortuitos narrados em seu texto conduzem é
219
imediatamente seguido do instante da morte – claramente uma ameaça à integridade do
ser. Por isso de dentro do sublime nasce o seu oposto abjeto, criando uma beleza
convulsa e mortal. Não à toa, a morte, a mortificação, a decrepitude do corpo ou da
mente rondam todos os contos de A via crucis... assombrando os vivos. Mas a que a
encenação da morte se refere? À “expiação das personagens que vivenciam o suplício
de sua carne/corpo” (LUCCHESI, 1991: 8) repetindo a paixão de Cristo, como aponta
Ivo Lucchesi? À morte do demasiadamente humano, como em A paixão... refletido na
subjetividade esmagadora do que é vivo e da diferença? Parece-me que a morte a que às
narrativas de A via crucis... fazem referência estão mais direcionadas para a morte de
noções tradicionais de literariedade e do que Reguera chama de uma “concepção
binária, típica do pensamento estruturalista” (REGUERA, 2006: 109) que qualifica as
obras da autora dentro de um parâmetro classificatório e redutor do “todo” literário
forjado pela obra de Lispector. Tal concepção conduz, por exemplo, à classificação de A
via crucis... como desvio da norma da boa narrativa.
Em Água viva, as referências ao estado de graça se justapõem aos índices
explicativos do funcionamento do processo de escrita em passagens que alternam entre
o abstrato e a exemplificação por meio de imagens. Nos momentos em que fala de sua
escrita e dos estados de graça revela-se que o conhecimento intuitivo da vida e da morte
chega junto com o conhecimento sobre o processo artístico.
Mas em A via crucis... tais índices se transformam em ficcionalizações e a
fronteira entre o que é ficção e o que não é ficção se confunde. Nesse ponto a
desintegração da pessoalidade se associa a situações de deslocamentos das fronteiras da
linguagem e das identidades que definem e distinguem narrador, autor e personagem. O
autor é introduzido no corpo do texto como personagem, ou seja, como ficcionalização,
contribuindo para a desconstrução da noção de boa e má literatura, uma vez que ensina
220
a estranheza e o deslocamento, desestabilizando a idéia de aprendizagem veiculada pela
literatura. A persona narrativa de Clarice aparece nos quatro contos que se mesclam
com um outro narrador condutor dos contos chamados “eróticos”. Essa dissociação
entre dois narradores distintos interfere também na construção do tipo de narrativa por
eles narrada.
Em “Explicação”, Clarice aparece como autora e narra as circunstâncias em que
foram escritas o livro, desde a “encomenda” feita por telefone por seu editor para a
escrita de “histórias que realmente aconteceram” (LISPECTOR, 1991b: 19), até o dia
em que a autora começou (11 de maio) e terminou (13 de maio) de escrevê-las. Em “O
homem que apareceu” as referências são mais domésticas do que das circunstâncias de
criação, como a menção de sua preferência por beber coca-cola e café, a referência ao
nome do filho de Clarice, o livro de história infantil escrito por Clarice. Em “Por
enquanto”, Clarice faz uso de ambos os recursos. Indicações de acontecimentos de seu
cotidiano como telefonemas recebidos, o almoço com o filho, lado a lado do comentário
feito sobre a carne dura do almoço, a menção aos compromissos sociais, como ir a uma
festa ou a um jantar com amigos, ou ao enterro de um amigo, além do momento em que
se senta para escrever, dão notícias de uma escrita diarística e confessional exercitada
em “Objeto gritante”. Estas referências diminuem o ambiente sublime ou metafísico das
narrativas anteriores e aumentam o caráter “fluido” da narrativa. Neste conto, Clarice
deixa claro que o assunto “perigoso” manipulado pela escrita e denunciado na
“Explicação” não se referia tanto ao conteúdo erótico e realista dos contos, mas ao
ataque à boa narrativa, ao mercantilismo da literatura, aos mitos criados pela indústria
cultural de massa e aos formadores dessa mesma indústria. Como aponta Reguera, a
encenação da escrita clariciana ocorre pela maneira como Clarice faz seu livro parecer
221
ser a escrita de contos eróticos, quando na verdade se revela como obra “metalingüística
e metaficcional” (REGUERA, 2006: 114).
Por fim, em “Dia após dia”, o perigo se explicita ao declarar abertamente que
sua obra não compactua com o mercado, com o sistema literário tradicional, com a
necessidade de alcançar um dado resultado estético que se sujeite às normas de gosto da
crítica e do público. O pacto autobiográfico e realista transforma-se em narrativa
paródica.
O mesmo propósito é realizado com as narrativas de estrutura neo-realista e
conteúdo “erótico”. Ao construir narrativas que veiculam um ar de mau gosto por meio
de temas abjetos e grotescos como em “O corpo”, “Ruído de passos” e “Mas vai
chover”, a narrativa de Clarice deseja apontar que tanto a referência autobiográfica,
quanto a construção literária que esbarra no mau gosto, no kitsch e no abjeto são
manipulações da linguagem, maneiras que o discurso encontra de se travestir e
denunciar as “molduras” classificatórias. Encenação. Como aponta Roncador, Clarice
questiona, em atitude crítica, o falso valor atribuído à literatura, à imagem do autor em
torno da obra (RONCADOR, 2002: 117), “mitos e pressupostos literários” (idem, 135),
o decoro de tom solene, sublime e sério em oposição ao banal, prosaico e grotesco. É
Roncador que aponta também uma certa ironia por parte de Clarice à sua própria obra,
uma vez que “parodia o modelo narrativo que havia gerado grande parte de seus
primeiros contos” (RONCADOR, 2002: 141).
A marca do autobiográfico presente em A via crucis..., A hora da estrela e Um
sopro de vida é tão somente a criação de mais uma ficcionalização que preenche as
páginas da narrativa com a intenção de confundir o leitor e confundir os limites entre
ficção e arte. A “personagem” Clarice, autora, participa como “narradora” em quatro
contos de A via crucis... nos quais se intromete apenas para dizer que a vida é uma
222
ficção tanto quanto a literatura. O realismo construído por meio do tema do “erotismo”
ou do “pornográfico” tão apontado por críticos de a via crucis... é apenas um jogo, uma
manipulação feita pela autora para poder dar conta daquilo que não é considerado alta
literatura, para desconstruir a tradição literária e a tradição dos participantes dessa
comunidade: leitores, críticos, editores, mercado consumidor, mídia. Para isso envolve o
leitor na construção dos sentidos. De fato, esta é uma das características adquiridas com
a escrita para o jornal. Em crônica intitulada “Escrever para jornal e escrever livro”, diz
que “num jornal nunca se pode esquecer o leitor” (LISPECTOR, 1994: 456). Clarice faz
disso uma estratégia para ficcionalizar a si mesma na construção das obras seguintes,
enganando e manipulando o leitor ao construir uma verdade, para depois desconstruí-la.
Nota-se que tanto em “Explicação”, quanto nos contos em que a figura da autora
reaparece, as construções ficcionais criadas por Clarice apenas aumentam o grau de
dúvida no leitor, com a intenção de gerar confusão quanto à veracidade e à neutralidade
do que é dito. A noção de autor implícito, proposta por Wayne Booth, serve, neste
momento, para nos fazer entender que, “enquanto escreve, o autor não cria
simplesmente um “homem em geral”, impessoal, ideal, mas sim uma versão implícita
de si próprio” (Booth, 1980: 88), podendo variar seu pontos de vista em quantas
posições lhe convier. Com isso, confuso e em dúvida, o leitor começa a se perguntar o
que é fato e o que é ficção. Compreende-se então que a imparcialidade e neutralidade do
autor já não se sustentam e a ficção já não é uma criação unilateral e tampouco
representa uma verdade única, apesar de aparecer sob o signo de uma única identidade
autoral. Assim, a tarefa da construção da narrativa não é realizada por um único autor,
mas se divide entre o autor e seu duplo (que é ele próprio) e, ainda, entre estes e o leitor.
Pode-se afirmar com isso que a ficção pode até mesmo mascarar o real, mas o real por
sua vez oculta a ficção. Porque para a autora a vida humana comporta suas faces de
223
“esplendor, miséria e morte” (LISPECTOR, 1994: 145), faces também encontradas em
seu “estilo” de escrita sem estilo.
Parece-me que a crônica intitulada “Estilo” é uma verdadeira síntese crítica do
que sejam a obra, a matéria e a composição da escrita lispectoriana. Nela, afirma que o
estilo de um autor é um “obstáculo a ser ultrapassado” porque é ele que confere uma
marca personalizada e pessoal a algo muito mais “depurado”, que consiste em retirar da
escrita a marca “natural” do autor para poder “apenas dizer” um dizer anônimo, voz,
que pudesse dar conta do “destino humano” em sua “pungência total” (LISPECTOR,
1994: 145).
Criar uma escrita que ao mesmo tempo exponha sua face grotesca, casual e
deflacionária, como apontam alguns críticos, e sua face sublime, bem composta e
poética é fazer com que a escrita encene “o prazer dentro da miséria” porque “o mundo
não me é fácil”; a “carne fatal do homem” faz com que realize “seu modo errado na
terra” somente para que depois exerça o perdão de sua “humilhação e podridão”
inerentes à sua condição humana. A podridão e miséria só surgem na escrita porque
nascem de dentro da morte e o esplendor de se ser homem é também pungência de se
saber vivo.
Em “O homem que apareceu”, a autora ficcionaliza a si mesmo e a dados de sua
própria vida criando a história de um encontro entre a autora e Claudio Brito,
“personagem-poeta” que se apresenta como uma espécie de disfarce da própria Clarice,
segundo Arêas (ARÊAS, 2005: 61). O elo de união entre ambos seria apontado pela
idéia de fracasso da literatura por conta de um estilo que define a poesia de Claudio
Brito, mas que, em tom ambíguo, poderia se referir à própria obra escrita por Clarice:
uma mistura de “palavrões com as maiores delicadeza” (idem, p. 55). Nesse mesmo
parágrafo, a narradora apresenta também um dos outros temas que A via crucis... vem
224
abordar: o questionamento de mitos criados “em torno da fama e do sucesso” como
aponta Roncador (RONCADOR, 2002: 117). Esses mitos estão relacionados aos
valores atribuídos à literatura, ao mercado cultural e à comunidade literária que
distingue os famosos dos fracassados, como Claudio Brito e Clarice Lispector, no que
tange a publicação de A via crucis.... A voz da autora que sente vontade de gritar que
“nós todos somos fracassados” (LISPECTOR, 1991b: 55) aponta para a polissemia
criada na narrativa. “O sucesso é uma mentira” (idem), denuncia a voz, assim como a
fama em torno do nome criada pelo culto à individualidade. A pergunta “O que importa
um nome?” (LISPECTOR, 1991b: 51) que aparece no início do conto, é refeita mais
uma vez pela mesma voz no conto “Por enquanto”, que ataca e denuncia não apenas o
culto em torno do indivíduo, mas a própria noção de uma literatura “maior” como
espaço de autoridade ou superioridade à vida. Diz a narradora: “Sei lá se este livro vai
acrescentar alguma coisa à minha obra. Minha obra que se dane. Não sei por que as
pessoas dão tanta importância à literatura. E quanto ao meu nome? Que se dane, tenho
mais em que pensar” (LISPECTOR, 1991b: 71). O desdém e ataque a uma comunidade
literária que cria e reforça as classificações de autores maiores e menores e que
caracterizará A via crucis... como um “desvio” na trajetória literária da autora, é
corroborado pela descompostura da linguagem violenta e direta presente na obra.
Em “O homem que apareceu”, no entanto, a constatação do fracasso leva ao
sentimento de impotência por parte do artista que é também o criador de personagens,
narradores, tramas e estilos. Não à toa, o conto termina com a referência à figura
materna. A autora diz que este conto – criatura - e os acontecimentos que narra
aconteceram na véspera do Dia das Mães. E a pergunta “Como é que posso ser mãe
para este homem?” seguida da constatação de que “não há resposta para nada”
(LISPECTOR, 1991b: 57) parece-me revestir-se de um tom metaficcional. A pergunta
225
esconde um questionamento da escritora Clarice Lispector diante de sua escrita. Como
fazer nascer uma obra que se ergue do fracasso da linguagem, da sua impotência e
descompostura? Os “procedimentos cômicos” baseados na “paródia” e no
“rebaixamento farsesco” (ARÊAS, 2005: 65) apontados pelo ensaio de Vilma Arêas,
justapostos ao “tom comovedor” e angustiado de contos como “O homem que
apareceu” inserem a obra em um universo tragicômico que revela o espetáculo do
drama humano.
Parece-me que o estatuto do narrador nesta obra de Lispector encontra uma
liberdade que até então não havia sido explorada. A mesma ambigüidade encontrada na
suposta voz autoral de “Explicação” reaparece, por exemplo, na voz narrativa de “O
homem que apareceu” por conseqüência do fingimento da narradora que acaba atuando
mais como atriz que dramatiza as várias vozes da literatura. É Clarice que revela ao
leitor a chave de interpretação de sua “escrita derradeira”, nas palavras de Roncador.
Em artigo intitulado “Traduzir procurando não trair” (LISPECTOR, 2005: 115-118),
onde fala sobre sua atuação como tradutora de várias obras literárias, afirma que: “todo
escritor é um ator inato” (idem, p. 116) porque “representa profundamente o papel de si
mesmo” (ibidem) e sua obra apenas reflete, “como num espelho”, sua “própria
fisionomia” (idem). Como aponta Souza, é característica do romance já nascer dotado
da “capacidade revolucionária de contestar os discursos canônicos da tradição literária”
(SOUZA, 2006: 25), capacidade esta que se reafirma vigorosamente no romance
moderno, desde Dom Quixote, até os contemporâneos. Aponta que:
(...) o romance grego, conforme demonstra Erwin Rhode, só se impõe como
forma com a desintegração dos gêneros clássicos da epopéia, da tragédia e
da comédia (Rhode, 1974). Reagindo ao princípio desintegrador que preside
à sua gênese, o romance grego não possui uma, mas, sim, duas formas
simétricas e opostas: uma empenhada na estilização e autocanonização, e a
outra devotada à paródia e descanonização. (SOUZA, 2006: 25)
226
A obra de Lispector parece atuar em um movimento que, mesmo já surgindo
dentro de um contexto de deslocamento do cânone, acaba criando certa aura de
canonização em torno de si mesma e que, a partir do projeto “Objeto gritante”, efetua o
movimento inverso, de destruição de si mesma, parodiando não apenas obras de
“gêneros ou narrações célebres”, como mostra o ensaio de Vilma Arêas, mas, sobretudo
a sua própria obra. A afirmação de G.H.: “caminho em direção à destruição do que
construí”, ainda que se refira no romance ao processo de despersonalização da
personagem, não deixa de ecoar crescentemente nas obras da década de setenta. E se A
paixão... é obra canonizada pela crítica, que tende à busca de fidelidade a um registro
nobre ou “alto”, na verdade, o romance configurar-se-á, dentro do espectro do conjunto
da obra lispectoriana, como uma de suas máscaras ficcionais.
O leitor também é contaminado pelas inversões, uma vez que precisa agora
participar da decisão sobre a autoria e construção ficcional, tornando-se ele mesmo um
dos participantes dessa criação. A experiência de impotência e incapacidade face o
fracasso e a falha na criação de um universo ficcional que mistura ficção e realidade,
confundindo esses termos, e de um conteúdo agora de cunho “erótico” e não
“metafísico”, “realista” e não “conceitual”, provoca, de início, um sentimento de culpa.
Em uma inspirada “nota ao leitor” que se intitula “Explicação” e que, ao contrário dos
paratextos encontrados nas obras anteriores de Lispector, inclui-se no corpo da
narrativa, constituindo-se como o décimo quarto conto de uma antologia de treze
narrativas, a autora se justifica pelas alterações na fundação de sua escrita, tentando
desculpar-se. Tudo simulação e mascaramento 28 .
O sujeito, no centro do desamparo, aponta para a insuficiência de uma
28
Se a idéia de paratextualidade vem complementar o estudo da obra ficcional por se constituir como uma
forma de texto fora do corpus ficcional e que remete, ao mesmo tempo, ao texto e aos outros paratextos,
acrescentando para o seu sentido e conteúdo, é também ela que contribui para o efeito de ambigüidade
entre real e ficcional, já que o paratexto não é, na maior parte dos casos, uma criação ficcional.
227
subjetividade (e da linguagem por ela expressa) refém de uma falsa garantia de
organização amalgamada pelo saber absoluto. A linguagem vive e manifesta a
inadequação ao sistema definido por códigos que já não dão mais conta da condição a
que chegou o sujeito. A condição a que anseia e se dirige G.H., por exemplo, consiste
em encontrar a forma da vida em si mesma, longe da forma demasiadamente humana,
introjetada pela civilização ocidental e que esmaga o centro mole e pulsante de vida. A
linguagem entra em crise e, como aponta Sousa, impõe a cena em que se passa o drama
das obras claricianas. A culpa toma a forma de uma grande e intransponível ferida, que
nem mesmo a liberdade buscada pelo sujeito resolve, apenas talvez a dinâmica
desempenhada por uma consciência que se abre no horizonte da ruína e da morte, do
erotismo e do desejo, na constituição da realidade. A culpa é apenas mais um
mecanismo introjetado pela cultura que se interpõe diante da relação homem-mundo e
impede a sua realização enquanto ser. No entanto, a literatura pode transformar esta
ferida em imagem e potência criadora. A ferida torna-se fronteira entre o ser, o não-ser
e a poesia, a via de acesso do eu descarnado a uma forma em permanente movimento
de recomposição do dualismo antagônico em dualidade complementar. A única
possibilidade de atingir a fusão entre eu e mundo ou entre o limitado e o infinito, como
se configura a equação clariciana, é pela abertura à alteridade, pelo abandono dos
suportes introjetados pela cultura ocidental, e entrega à desfiguração da ferida por meio
da escrita.
Mas, antes, a máscara - Dioniso.
O símbolo mais representativo de Dioniso, para a arte, é a máscara, não por
introduzir o disfarce, mas por representar a natureza dual, ambivalente, constitutiva do
deus. E é esta condição dual que faz reconhecer em Dioniso, único dos deuses de
linhagem olímpica a não ser incluído no Olimpo, uma vez que nasceu da relação entre
228
um deus e um ser humano, o aspecto divino e o humano, apontando para uma dualidade
que é também e, sobretudo do homem. Nesse ponto, a máscara é o elemento que
possibilita o afastamento de Dioniso da totalidade dos deuses olímpicos e da aura
sobre-humana, aproximando-o do homem. A máscara não é mero disfarce exterior;
serve para receber o próprio deus e não apenas representá-lo no rosto de um indivíduo
que a usa. Apenas deuses ctônicos apresentam-se na máscara, uma vez que pertencem à
terra. Assim, portanto, este deus está de tal maneira próximo ao homem que a ele se
apresenta nos termos de uma imediatez, que domina e arrouba. Que confronta. Que
revela porque devolve o olhar do homem ao homem. E com este retorno, o sujeito se
descobre dual, e o deus se confunde com o homem, já não sabemos se a máscara é
disfarce ou se, por fim, colou-se ao rosto.
Também para as personagens claricianas, a máscara é um elemento que revela
os pontos de contato entre simulacro e real e por meio deste elemento Lispector pode
discutir os limites não somente de sua própria arte, mas da arte em geral. Para Lori, em
Uma Aprendizagem..., a “máscara” introduz um gesto e um processo que aproxima o
verdadeiro do falso, elevando o simulacro a uma mesma condição e situação daquilo
que é verdadeiro. O mascarar-se é “um dar-se”, uma entrega “tão importante” e
legítima, tão fundadora de possibilidades reais “quanto o dar-se pela dor do rosto”,
gesto verdadeiro formado a partir de elementos reais (LISPECTOR, 1991: 63). Esse
mascarar-se completamente ganha complexidade em A via crucis... e Um sopro de vida
por meio do apagamento entre os limites entre persona e autor; narrador e personagem
se confundem e mesclam, e se tornam criações de uma mesma entidade: a linguagem.
A criatura devolve o olhar ao criador e o confronta. Dá-se um encontro, da ordem do
acontecimento, do evento. Mas não do tipo que a cultura contemporânea compreende e
empreende. Não algo que impressione do ponto de vista subjetivo, produzido pelas
229
relações humanas, mas um evento que capacite a imaginação a operar em outro nível.
Neste ponto, a narrativa adota a recusa da forma e do nome, como aponta Eduardo
Prado Coelho (COELHO, 1984:207), abandona a “ordem da vontade” e encena a
“ordem do encontro”. Essa máscara pode se assumir em suas formas “antropomórfica”
ou “teriomórfica”, como aponta Otto (OTTO, 1981:90). A pantera, o cavalo, a barata
confrontam o indivíduo, desnudam o sujeito, rondando-o, mostrando que ele é tão ele
mesmo quanto a sua diferença.
No capítulo em que trata da presença dos animais na escrita de Lispector,
Sousa acredita que a figura animal está identificada com o próprio processo de
formação, tanto da escrita como do ser, constituindo-se como força criadora, sendo a
barata, a galinha e o cavalo os principais representantes desse reino. Esses três seres
introduzem uma série de traços que confluem para a mesma direção: a da construção da
escrita - a irrupção dos cavalos constitui a energia do processo criativo; as galinhas
concebem, elaboram e expõem o ovo, assim como o poeta expõe o texto; e a barata,
como representante da ancestralidade dos seres existentes na terra, remete a um tempo
de formação da linguagem por meio dos sinais (SOUSA, 2000:235-6). Vale lembrar que
essa mesma força está presente na imagem da criança, ser de fundamental valor na
narrativa clariciana, e na imagem da noite. O homem devém em sua multiplicidade. Se
em todas as obras anteriores o homem se confrontava com uma alteridade que vinha do
mundo externo, em A via crucis... e Um sopro de vida o homem é a própria
multiplicidade dentro de si mesmo, e a alteridade vem agora representada pelo seu
próprio mundo interno, com os desdobramentos de suas múltiplas faces, inclusive de
uma persona autoral.
No entanto, a “ordem do encontro” é também dual porque não revela apenas a
presença manifesta; ela é a própria presença na ausência e vice-versa. Por isso fulmina.
230
A revelação é ao mesmo tempo o saber e o esquecer. O pacto com o Deus na escrita
lispectoriana é: “ver e esquecer”, porque tentar entender é um processo que depende “da
validação humana”, de um mecanismo lógico. Ver e esquecer tem a dinâmica sagrada
do manifesto e do ausente, do excruciantemente perto e absolutamente distante em uma
mesma realidade. Esta a orgia sabática de Clarice Lispector. A revelação, a epifania, o
acontecimento, o encontro – nomeiem como queiram – será sempre a grande e terrível
delícia secreta cultuada no ritual lispectoriano de magia negra, o segredo da existência e
da não-existência. Por isso a escrita é da ordem da urgência, do assalto e da necessidade,
não da vontade.
Em sua nova configuração, a palavra se torna, por fim, um artifício, fingimento
e encenação que o sujeito adquire face à ferida. As encenações percorrem a tradição do
pensamento ocidental que entroniza o dualismo antagônico entre matéria e espírito na
memória mítica grega, na tradição judaico-cristã e na própria tradição literária e são
expostas pelo universo literário de Lispector. O sujeito, em sua condição de estar no
mundo, ao perscrutar sua identidade expõe uma dialética entre aparência e essência,
que conduz à dinâmica do desvelar e ocultar a essência, esmagada pela forma humana
de vida, por meio das máscaras. “Falar é mascarar-se” (SOUSA, 2000:408) aponta o
crítico. O estar no mundo se apresenta na escrita clariciana dos anos setenta por meio
de uma poética do mascaramento. A escrita se mostra como palco, teatro, cujos atores
encenam o drama da vida esmagada pelo dualismo antagônico, sobre o qual se funda a
civilização ocidental. Se as grandes narrativas de Lispector, como Perto do coração
selvagem, A paixão segundo G.H., A maçã no escuro, Uma aprendizagem ou o Livro
dos prazeres ganham força nas décadas de 40, 50 e 60 porque elaboram tramas com
personagens que protagonizam papéis, na década de setenta é a linguagem que se torna
personagem principal do drama, no datiloscrito intitulado “Objeto Gritante”, em Água
231
viva, Onde estivestes de noite, A via crucis do corpo, Um sopro de vida.
232
O RUMOR DA FERA ENTRE AS FOLHAGENS
Ao longo desta tese observou-se que o informe apresenta-se como sintoma de
um trabalho de escavação que vai mais além do que o contato com o vazio e o indizível
da linguagem. Na prática da palavra poética, a experiência da falha, proporcionada no
instante em que o nome falta, abre as portas não apenas para o silêncio, mas para uma
experiência que se possa fazer na linguagem e que se configure como a busca de uma
Comentário: Aqui netra
Agambem – Infância e historia
voz. Constatou-se que a obra de Clarice Lispector se configura não apenas pela
aproximação do inominável, mas justamente pelo abeiramento de um rumor, um
barulho que só se ouve quando se encosta o ouvido à terra - o esquivo da fera entre as
folhagens. Por isso o cenário literário lispectoriano se compõe de espaços nãoespecíficos que se deixam existir como um modo de veicular o espaço da escrita. Com
isso, o ser se afigura como o espaço, a paisagem, o abismo em que as narrativas se
Comentário: (substitui a
teologia do inefável, nela não
existe essa tradição do inefável
mas na do inexaurível e o silencio
não é negativo ou negação da
palavra mas a condiçao da
possibilidade da palavra, dialogo
do som e do silencio subistiui o
sentido)
descerram, e o não-lugar é projetado no território da escrita e do Outro, de forma a
construir uma narrativa poética com ênfase na narração, mais do que no narrado, e nas
impressões e digressões, mais do que nos fatos ocorridos, na qual tempo e espaço
devêm escrita. Constatou-se que o exílio interior torna-se um tema que também a
experiência erótica proporciona e que abre caminho para a perscrutação da interioridade
e para a travessia da paixão. Esta travessia representa o percurso da liminaridade no
Comentário: Mas Joyce pode
entrar aqui Tb.
qual o indivíduo se configura como um viajante, em princípio solitário, mas sempre
rumo ao encontro da alteridade, muitas vezes estrangeiro e, portanto, habitante do
deslocamento contínuo gerado pela busca.
Berta Waldman (WALDMAN, 2004) chama atenção para aspectos da origem
judaica herdada por Clarice que contribuem para o tema da busca identitária presente
em suas narrativas, busca que nasce da própria biografia. A condição de imigrante
233
Comentário: Viagem como
liminaridade continua poque ai a
eistencia vive o crescikento
incessante. A realização não é a
plenitude, mas a continuidade,
travessia não tem termo, ai se
aproxima de rosa
Comentário: Multiplicidade do
sujeito vai de acordo com a da
expressao
estrangeira apontada pela pesquisadora acaba colocando a autora em uma posição de
transitoriedade definidora de alguns aspectos importantes de sua obra, como por
exemplo, dos questionamentos e posicionamentos que surgem a partir da noção de
“imigrante” e “viajante” no que concerne a noção de identidade e cultura. Estes temas
são também debatidos na obra de James Joyce, autor cuja escrita é recorrentemente
associada à narrativa clariciana. No conto intitulado “Os mortos”, último da coletânea
de Dublinenses, alguns pontos de discussão que interessam a esta tese são apresentados
no seguinte excerto:
His soul had approached that region where dwell the vast hosts of the dead.
He was conscious of, but could not apprehend, their wayward and flickering
existence. His own identity was fading out into a grey impalpable world: the
solid world itself, which these dead had one time reared and lived in, was
dissolving and dwindling (JOYCE, pp 197-8). 29
Percorrer uma Dublin imaginária, em busca do reconhecimento identitário, em
um período em que história e cultura sofriam graves impactos, aponta para o sentimento
de amor e ódio pela terra natal que a condição de exilado proporcionou a Joyce e que o
projetou em um espaço de constante redefinição deste senso de identidade intensificada
pelo sentimento de não-lugar e desterritorialidade. A travessia por espaços, personagens
e história de Dublin apresenta-se como uma jornada pelo território emocional e moral
do indivíduo e o último conto, “Os mortos”, reflete um dos temas da Modernidade: o
confronto do presente com o passado, por meio do contato com os mortos, e a
fragmentação do sujeito, desarticulação da identidade subjetiva, acentuada pelo
Surrealismo e pelo horror vivido no cenário das duas Grandes Guerras. A recusa da
29
“Sua alma havia se aproximado daquele território habitado pela vasta legião dos mortos. Ciente, mas
sem compreender suas existências vacilantes e instáveis. Sua própria identidade começava a desaparecer
em um mundo cinzento e impalpável: o mundo concreto, que estes mortos um dia criaram e onde um dia
moraram, agora se desfazia e encolhia”. (Tradução minha)
234
unidade do corpo resulta no esfacelamento da identidade, perseguida apenas como
ilusão, impulsionando as estéticas e poéticas da fragmentação que se desenvolvem com
grande força a partir do Surrealismo. A região de difícil apreensão e visibilidade, na
qual estão os anfitriões deste reino, põe em contato a dimensão da história e da cultura.
Nela insere-se o homem, junto ao reino dos mortos, dos antepassados, da mitologia,
sempre atemporal, introduzindo o contraste entre tempo cíclico e tempo linear, sempre a
partir de uma ruptura, de um deslocamento. Ao mesmo tempo em que a aproximação da
morte vem trazer notícias da dura certeza da mortalidade, ela também pode se
apresentar como a própria sugestão de mergulho nessa zona indefinida – aproximação e
afastamento: paradoxo moderno; a verdade de que o significado da existência humana
está escrito por seus mortos. Este contato busca introduzir uma dimensão de
reatualização do passado no presente, reintroduzindo um tempo cíclico incompatível
com o tempo linear. A história vê o seu próprio reflexo; é ela a zona trêmula da
indefinição que faz circular o tempo irreversível. O sólido mundo que desaba e encolhe
é a própria realidade do fenômeno, uma vez habitada por aqueles mortos, mas seu reino
é, na literatura, invadido pelo rito, pela festa, pela atualização, seguida também da
contradição. No mesmo instante em que se dissolve o tempo sólido, desaloja-se a
identidade e o real vive a partir de uma mescla de tempo finito e pessoal associado ao
tempo infinito e impessoal. O tempo irreversível que introduz a mortalidade,
acentuando seu caráter de finitude, acrescenta à narrativa a noção de heterogeneidade,
uma vez que se não se reatualiza, o objeto será sempre outro, sempre diferença.
É assim que a condição de imigrante coloca a identidade em trânsito, a partir da
vivência dos limites de pertencimento e não-pertencimento e da transformação desses
horizontes. No limiar da violência da desidentificação, a linguagem também imigra para
regiões sem fronteiras, assumindo o próprio lugar de território estrangeiro, zona de
235
mutação que interessa à literatura, pelos desenhos formados do encontro de extremos
contraditórios, e à escrita de Lispector, como foi visto ao longo da elaboração desta tese.
O jogo que se estabelece entre a expansão e retração das marcas da tradição para uma
subjetividade em trânsito, e do abandono de si para a mescla com a diferença, cria zonas
de interseção e entre-lugares. Em um primeiro movimento, atingir essa mescla é atingir
o domínio do desconhecido, do enigma, e, nesse ponto, o poeta torna-se um tradutor,
Comentário: Nessa transição
ocorre a tensão do antes e depois e
do entre, ai a dramaticidade,
encena não a resolução do drama
mas o drama em acao
como aponta Paz. Na sua dupla posição de receptor e condutor, atua na própria esfera da
analogia, sem suprimir a distância entre a cifra e a chave, a “cadeira” e as “duas maçãs”,
mas estabelecendo uma relação, puro tanger de cordas.
Em texto sobre o ato de traduzir, Lispector afirma que, nesta tarefa, o tradutor
“pode correr o risco de não parar nunca” (LISPECTOR, 2005: 115). Este é o risco que a
própria autora vive enquanto escritora, uma vez que o questionamento lançado por sua
obra, do início ao fim, é um e o mesmo, ainda que sob aparências distintas.
Lispector, tradutora de uma cultura tão antiga quanto a própria existência, instala
este novo vir-a-ser no universo da Modernidade. O que poderia ser lido como silêncio
inalcançável, inscrição da ausência, culmina no segundo movimento, o do disparo,
flecha que estilhaça o alvo em mil pedaços, abandono do fixo – o ego, a
emocionalização, a humanização encharcada - e se estabelece na zona do deslocamento,
da dissonância, do movimento dos sentidos. O fracasso e a falência, o desamparo e a
falha, deslocam o foco para a própria busca, o próprio marchar, e não para a plenitude –
impossível em sua totalidade. Mas é também nesse ponto em que a experiência com a
linguagem possível acontece. A obra não escrita de Agambem. O que se pode escrever
daquilo que é impossível escrever. Molde, experimento da voz. Nesse sentido, o retorno
à origem, nomeadamente a infância, nos termos de Agambem, apresenta-se como
movimento que se dirige não ao inefável da linguagem, uma vez que ele já é seu
236
Comentário: A obra não tem
nada a ver com teologia do
inefável mas com a ontologia do
inexaurível, que jamais se dix mas
permite o todo dizer, forma do
neutro. Neutro é o silencio que
antece ou sucede ou intervalo mas
como condição de possibilidade
da fala
pressuposto, mas ao dizível, o novo que acompanha a experiência. O acontecimento da
falha propicia não apenas conhecimento, mas o próprio gesto de constituição, formação
do ser que se basta em si mesma. A infância seria, portanto, algo acessível somente a
um pensamento que tenha eliminado o indizível na linguagem transformando-se naquilo
que se pode dizer, a coisa da linguagem, recuperando a relação entre experiência e
linguagem. O it clariciano. A palavra poética, assim, não visa ao silêncio, mas às rasuras
e atritos proporcionados pela experiência da falência.
A zona originária é espaço que introduz a linguagem enquanto experimento e
enquanto iminência de um acontecimento, cujos limites são buscados na própria
experiência, e não fora dela. Em outras palavras, a experiência não é de um objeto, mas
da própria linguagem, de sua existência. Trata-se, portanto, do espaço em que se busca
não o encontro da palavra com o silêncio, com a insuficiência do nome, mas exatamente
daquilo que se possa fazer na e com a linguagem.
Com a falência desse ato, instala-se a construção. O homem se situa no espaço
da escolha, podendo optar por falar ou não, uma vez dotado da faculdade ou da potência
de falar. Ainda que haja a impossibilidade da fala a partir de uma dada língua, a sua
ética consiste em encontrar a própria língua a partir da faculdade que possui.
A experiência com a linguagem em si e a partir da revisão de conceitos é a
própria maneira de mostrar que existe uma linguagem, mas somente o revelar-se dela na
sua ilatência, na qual se habita desde sempre, é que pode mostrar isso. Existir no mundo
é existir na linguagem. E a existência da linguagem é a própria existência a partir de um
ethos.
Na experiência clariciana, encontrar esse ethos implica entregar-se “à
desorientação” e à “desorganização” (ao desregramento de que falava Rimbaud!) que
desmontam a “idéia de pessoa” adquirida com a “terceira perna”. “Todo momento de
237
Comentário: Transito do
silencia à palavra q singulariza a
poética de cl, tema orfico,
sucitacao orfica do silencio
excessivo – rilke, Orfeu, canto
sem cérebro, canto do sensível e
não da cabeça
achar é um perder-se a si próprio” (LISPECTOR, 1979: 12), resume a narradora de A
paixão.... O sujeito só realiza sua despersonalização porque se encontra em fase de
liminaridade, distanciado temporalmente de sua organização subjetiva anterior e
desdobrando-se em diferentes objetos para que o processo de constante devir floresça.
Quando Rimbaud escreve suas famosas Cartas do Vidente, o poeta comenta a
própria escrita e aponta a tarefa do poeta vidente: “chegar ao desconhecido pelo
desregramento de todos os sentidos”. A criação poética implica, desde seu início, a ação
do caótico, do indeterminado e do obscuro, suspendendo o sujeito de sua consciência e
permitindo que o trabalho interno das tripas se realize. Em poucas linhas, Rimbaud
reafirma aquilo que se constituirá como imperativo do sujeito moderno: deslocar o eu
pensante para o eu pensado e permitir que a imaginação atue como articulador central
do heterogêneo.
As Cartas do Vidente convocam a vidência como tarefa de abertura ao
“monstruoso” da alma uma vez que “fazer-se vidente” é, ao mesmo tempo, perscrutar a
alma, investigando-a, aprendendo-a, cultivando-a a tal ponto que o vidente chegue
deliberadamente ao excesso no próprio desregramento, para que se cruze o limiar das
semelhanças em direção ao heterogêneo. O vidente deseja e aceita o máximo do
desregramento tornando-se o doente, o criminoso, o maldito, o fora de si, tudo que se
configura como um sintoma. Nesse ponto, despertam-se as forças noturnas do
inconsciente por meio das visões oníricas, convocando à cena o trabalho do informe.
Quando aí chega, o poeta vê as suas próprias visões, fantasmáticas, e, mais que isso,
deixa-se ser visto pelo grande inominável, decorrente do próprio excesso. O excesso,
por sua vez, desconcerta a subjetividade e permite que esse outro (o heterogêneo)
devolva-lhe o olhar. Nessa proximidade, o feio, o baixo, o impuro tornam-se não apenas
coexistentes, mas desejados. Entretanto, a distância não desaparece quando o
238
desconhecido se apresenta diante do olhar porque o inominável se torna visão, de forma
a garantir a presença constante de seu afastamento. O objeto olhado torna-se assim “o
índice de uma perda”, uma vez que nele convive ao mesmo tempo o que está “sob
nossos olhos”, mas “fora de nossa visão” (DIDI-HUBERMAN, 1998: 148). O sintoma
aparece para provocar tudo o que é resíduo e fragmento, resultando em uma fissura.
Essa ínfima cissura é a ruptura necessária para que a abertura da obra aconteça.
Nesse universo em que o sujeito esvazia a si mesmo e se despersonaliza, a única
saída para reconfigurá-lo é em parte a inclusão dos objetos e do mundo no reino do
imaginário e do desejo. Neste ponto, a herança modernista na obra de Lispector se
mostra presente, uma vez que, nas estéticas da vanguarda surrealista, a arte vive um
período de transição no qual os valores humanos começam a mudar e o objeto começa a
ser deslocado até ganhar sua dimensão fantasmática, recuperando a potência imaginária
Comentário: Falar mais do
surrealismo, O corpo impossível,
até chegar na cultura
cosmobiologica e em UALP
e garantindo a ação do desejo sobre ele, de modo que o real e a identidade sejam
reinventados.
Entretanto, a desmontagem de que trata Lispector não diz respeito apenas à
reformulação da subjetividade. Toda a obra clariciana é uma desmontagem do dualismo
psicofísico perpetuado pela cultura judaico-cristã, da noção de indivíduo burguês e da
introjeção do sacrifício instituídas no pensamento ocidental, que levam ao esmagamento
de tudo o que é vivo e natural. No entanto, o drama que a obra clariciana encena passa
menos pela resolução da tensão desta herança do que por sua ação.
O estabelecimento da lógica racional implica o aniquilamento do vínculo entre
homem e natureza. Sexo, corpo, matéria são elementos desvalorizados dentro da cultura
teísta, que funda a sociedade patriarcal, uma vez que abre espaço para o assassinato da
sensibilidade e o culto do racional. A cultura cosmobiológica, por sua vez, herdada do
mundo mediterrâneo, entende que transcendência e imanência são experiências
239
Comentário: Desnarracao do
mito do homem como centro, que
aniquila o sensível pq transforma
em conceito, transformar imagem
em conceito para colocar o
homem no centro de tudo,
vontade de poder.
equivalentes, não dissociadas no mundo do vivo, e que o universo não é uma criação de
Deus, mas uma manifestação da matéria divina, que se transforma de acordo com o
aspecto que este Deus assume em determinada cultura. Assim, Deus é relido pela obra
clariciana como um ser cósmico que, por isso, encerra em si espírito e matéria como
elementos constitutivos do homem. Deus se torna um aspecto do mundo que varia em
cada cultura e o universo poético fundado pela literatura concebe suas regras internas
segundo cada autor. Na obra de Lispector, Afrodite é a divindade que provoca a
erotização de tudo e reestabelece o vínculo entre homem e natureza, através do qual
qualquer esfera humana é erotizada. Mas esta potência não se satisfaz com o imanente
apenas e se apresenta como a divindade de Eros que sacraliza o corpo, o espírito e o
próprio Amor.
Dioniso, por sua vez, é a divindade que se manifesta como metáfora da máscara,
representando a natureza dual de todas as coisas em complementaridade. A máscara,
portanto, configura-se como símbolo que estabelece os pontos de contato entre o
simulacro e o real e, na obra de Clarice Lispector, possibilita o apagamento dos limites
entre autor-personagem-narrador, e entre real e ficcional. A descoberta deste
apagamento por meio da encenação da escrita denuncia a multiplicidade do real e a
impossibilidade de definição da verdade por meio de um discurso único. Defrontar-se
com a verdade de si e do real requer o encontro com o outro, assim como a escrita de
um texto passa pela escrita de uma tradição. A literatura, a partir da manipulação e do
trabalho com a linguagem, pode assim desfazer e alterar paradigmas ao trabalhar com
representações e valores construídos pela cultura de uma sociedade e pela própria
tradição literária.
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
240
DA AUTORA
LISPECTOR, Clarice. Outros escritos. Rio de Janeiro: Rocco, 2005.
______ Cadernos de literatura brasileira. Rio de Janeiro: Instituto Moreira Sales, 2004.
______ Correspondências – Clarice Lispector. Rio de Janeiro: Rocco, 2002.
______ A bela e a fera. Rio de Janeiro: Rocco, 1999a.
______ De corpo inteiro. Rio de Janeiro: Rocco, 1999b.
______ A hora da estrela. Rio de Janeiro: Rocco, 1999c.
______ A legião estrangeira. Rio de Janeiro: Rocco, 1999d.
______ Laços de família. Rio de Janeiro: Rocco, 1998a.
______ Onde estivestes de noite. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1998b.
______ Perto do coração selvagem. Rio de Janeiro: Rocco, 1998c.
______ A Paixão Segundo G.H. Ed. Crítica, Coord. Benedito Nunes. Col. Archives, v.
13,2. UNESCO – CNPq, 1996.
______ A descoberta do mundo. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1994.
______Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres. Rio de Janeiro: Francisco Alves
Editora, 1991a.
______ A via crucis do corpo. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1991b.
______ A Paixão Segundo G.H. 6ª ed., Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1979.
______ Água Viva. 3ª ed., Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1978a.
______ Um sopro de vida. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1978b.
______ Felicidade clandestina. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1975.
______ A Maçã no Escuro. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1961.
BIBLIOGRAFIA GERAL
241
AGAMBEN, Giorgio. Infância e História. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2005.
ANDRADE, Mario de. “A raposa e o tostão”. In: O empalhador de passarinhos. Belo
Horizonte: Itatiaia, 2002.
ASSIS, Machado de. Crítica Literária. São Paulo: Editora Mérito S.A., 1959.
BACHELARD, Gaston. O Ar e os Sonhos. 2ª ed., São Paulo: Martins Fontes, 2001
BARTHES, Roland. O óbvio e o obtuso. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990.
_______ O rumor da língua. São Paulo: Editora Brasiliense, 1988.
BATAILLE, Georges. O erotismo. São Paulo: Arx, 2004.
BENJAMIN, Walter. “Surrealismo. O último instantâneo da inteligência européia”. In:
Obras escolhidas. Magia e técnica, arte e política. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1994.
A BÍBLIA SAGRADA, Petrópolis, Vozes, 1981.
BLANCHOT, Maurice. A parte do fogo. Rio de Janeiro: Rocco, 1997.
BOITANI, Piero. A sombra de Ulisses. São Paulo: Perspectiva: 2005.
BROWNING, E. B. Aurora Leigh and other poems. England: Penguin Books, 1995.
CALAME, Claude. The poetics of Eros in ancient Greece. United Kingdom: Princeton
University Press, 1999.
CHAUÍ, Marilena. Introdução à História da Filosofia. Dos pré-socráticos a Platão.
São Paulo: Companhia das Letras, 2001.
COHN, Dorrit. Transparent Minds: Narrative Modes for Presenting Consciousness in
Fiction. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1978.
DELEUZE, Gilles e GUATTARI, Félix. Mil Platôs. Capitalismo e Esquizofrenia. Vol.
1. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1995.
_______ Mil Platôs. Capitalismo e Esquizofrenia. Vol. 4. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1997.
Diccionario Manual Griego Clásico-Español. Barcelona: Ed. Vox, 2000.
DIDI-HUBERMAN, Georges. O que vemos, o que nos olha. São Paulo: Ed. 34, 1998.
242
_______ Ouvrir Venus. Paris: Gallimard, 1999.
ELIADE, Mircea. Tratado de história das religiões. São Paulo Martins Fontes, 1998.
_______ Mefistófeles e o andrógino
FER, Briony [et alii] Realismo, Racionalismo, Surrealismo. A arte no entre-guerras.
São Paulo: Cosac & Naify Edições, 1998.
FRASCINA, Francis [et alii] Modernidade e Modernismo. A pintura francesa no século
XIX. São Paulo: Cosac & Naify Edições, 1998.
FREEDMAN, Ralph. La novela lírica. 1ª ed., Barcelona: Barral, 1971.
GAGNEBIN, Jeanne Marie. Lembrar, escrever, esquecer. São Paulo: Ed. 34, 2006.
GIMBUTAS, Marija. The living goddesses. Berkely: University of California Press,
2001.
HESÍODO, Teogonia. São Paulo: Iluminuras, 1995.
HORHEIMER, Max & ADORNO, Theodor. A dialética do esclarecimento. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar, 1985.
JOYCE, James. The Dubliners. Great Britain: Reed Books:1993.
LESBOS, Safo. Poemas de Safo de Lesbos. Trad.: Joaquim Brasil Fontes. São Paulo:
Iluminuras, 2003.
LIDELL, H. G. & SCOTT, R. Greek-English Lexicon. Oxford: Claredon Press, 1996.
MACHADO, Roberto. Zaratustra, tragédia nietzschiana. Rio de Janeiro: Jorge Zahar
Editor, 2001.
MORAES, Eduardo Jardim de. Limites do moderno. O pensamento estético de Mario de
Andrade. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1999.
MORAES, Eliane Robert. O corpo impossível. São Paulo: Iluminuras, 2002.
_______ Sade. A felicidade libertina. Rio de Janeiro: Imago, 1994.
NANCY, Jean-Luc. Noli me tangere. Essai sur la levée du corps. Paris: Bayard, 2003.
243
NIETZSCHE, Friedrich. Assim falou Zaratustra. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
2006.
_______ A origem da tragédia. São Paulo: Cia. Das Letras, 1992.
OTTO, Walter F. Dionysus. Myth and Cult. Dallas: Spring Publications, 1981.
_______ The Homeric Gods. Boston: Beacon Press, 1964.
PAZ, Octavio. Os filhos do barro. Rio de Janeiro: Nova Fronteira: 1984.
_______ El arco y la lira. 13ª ed., Mexico: Fondo de Cultura Económica, 2003.
PLATÃO, O Banquete. Lisboa: Edições 70, 1998.
_______ Fedro. Lisboa: Edições 70, 1998.
_______ Ião. In: Diálogos I. Trad. Carlos Alberto Nunes. Pará: UFPA, 1973.
RAGUSA, Giuliana. Fragmentos de uma deusa. A representação de Afrodite na lírica
de Safo de Lesbos. São Paulo: Ed. Unicamp, 2005.
RAYMOND, Marcel. De Baudelaire ao Surrealismo. São Paulo: Editora da
Universidade de São Paulo, 1997.
RIMBAUD, Arthur. Cartas do vidente. “Lettre à Paul Demey”. Em: RIMBAUD,
Arthur; CROS, Charles; CORBIÈRE, Tristan. Oeuvres poétiques complètes. Paris:
Robert Lafont, 1980, p. 186.
RYAN, Judith. The vanishing self. Early psychology and literary modernism.
University of Chicago Press. Chicago and London, 1991.
SANTOS, Roberto Corrêa dos. Modos de saber, modos de adoecer. 1ª ed., Belo
Horizonte: Ed. UFMG, 1999.
SCHLEGEL, Friedrich. O dialeto dos fragmentos. Trad., apresentação e notas: Marcio
Suzuki. São Paulo: Iluminuras, 1997.
SOUSA, Eudoro. Origem da poesia e da mitologia e outros ensaios dispersos. Rio de
Janeiro: Imprensa Nacional Casa da Moeda.
244
SOUZA, Ronaldes de Melo e. “Fichte e as questões da arte: A filosofia de Fichte e a
Poesia Moderna”. Em: A arte em questão. Org. Manuel Antonio de Castro. Rio de
Janeiro: 7Letras, 2005.
_______ O romance tragicômico de Machado de Assis. Rio de Janeiro: Ed. UERJ,
2006.
WHITE, John J. Mythology in the modern novel. New Jersey: Princeton University
Press, 1971.
ZIOLKOWSKI, Theodor. The novels of Hermann Hesse; a study in theme and
structure. Princeton: Princeton University Press, 1965.
BOOTH, Wayne. A retórica da ficção. São Paulo: Arcádia, 1980.
BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA
ALMEIDA, Joel Rosa. A experimentação do grotesco em Clarice Lispector. São Paulo:
Nankin Editorial, Editora da Universidade de São Paulo, 2004.
ANDRADE, Ana Luisa. “El cuerpo-texto cannibal en Clarice Lispector”. In: LusoBrazillian Review. N. XXXI, Wisconsin: University of Wisconsin System, 1994.
ARÊAS, Vilma. Clarice Lispector. Com a ponta dos dedos. São Paulo: Cia. das Letras,
2005.
BRANDÃO, Fiama H. Pais. Obra breve. Poesia reunida. Lisboa: Assírio & Alvim,
2006.
CANDIDO, Antonio. Vários escritos. São Paulo: Duas Cidades, 1970.
______ A educação pela noite e outros ensaios. São Paulo: Ática, 1987.
CIOUXS, Hélène. (1989) “Reaching the point of wheat, or A portrait of the artist as a
maturing woman”, Remate de Males, no 9, Campinas, Maio de 1989.
245
COELHO, Eduardo Prado. A noite do mundo. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da
Moeda, 1984.
_______ “A paixão depois de G.H.” Remate de Males, no 9, Campinas, Maio de 1989.
DINIS, Nilson. A arte da fuga em Clarice Lispector. Londrina :Ed. UEL, 2001.
DIOGO, Américo A. Lindeza. “Do apetite à fome”, In: Metamorfose, vol. 5. Rio de
Janeiro: Editorial Caminho, 2004.
DOURADO, Autran. Uma poética de romance. Matéria de carpintaria. Rio de Janeiro:
Rocco, 2000.
FITZ, Earl E. (1977) “Clarice Lispector and the lyrical novel: a re-examination of A
maçã no escuro”, Luso Brazilian Review, vol. 14, no. 2.
_______ (1978) “The leitmotif of darkness in seven novels by Clarice Lispector” in
Chasqui. Revista de Literatura Latinoamericana, 2, vol. VII.
_______ (1989) “O lugar de Clarice Lispector na história da literatura ocidental: Uma
avaliação comparativa”, Remate de Males, no 9, Campinas, Maio de 1989.
GOTLIB, Nádia Battella. Clarice. Uma Vida que se Conta. São Paulo: Ática, 1995.
_______ “Olhos nos olhos (Fernando Pessoa e Clarice Lispector)”, Remate de Males, no
9, Campinas, Maio de 1989.
FRIAS, Joana Matos. “Les liaison dangereuse: Clarice Lispector e Portugal”. In:
Metamorfose, vol. 5. Rio de Janeiro: Editorial Caminho, 2004.
GINZBURG, Jaime. “Clarice Lispector e a razão antagônica”. In: A ficção de Clarice:
nas fronteiras do (im)possível. Porto Alegre: Ed. Sagra Luzzatto, 2003.
GOMES, André Luís. Clarice em cena. As relações entre Clarice Lispector e o teatro.
Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2007.
246
GUIMARÃES, Mayara. R. Clarice Lispector: uma poética do erro. Dissertação de
Mestrado apresentada ao Departamento de Letras Vernáculas da Faculdade de Letras da
UFRJ, dezembro 2004.
_______
“Só
voa
alto
o
que
tem
peso”.
In:
Revista
Pequena
Morte.
http://pequenamorte.com/2007/03/so-voa-alto-o-que-tem-peso-mayara-ribeiroguimaraes/.
_______ “Canudos e Constestado: a ruptura na tradição”. In: Revista da Anpoll. No. 23.
Brasília: Ed. Da Anpoll, jul-dez 2007.
GULLAR, Ferreira. “Para não dizer o dizível”. In: Clarice Lispector: A hora da estrela.
Catálogo da Exposição “Clarice Lispector: A hora da estrela”. São Paulo: Museu da
Língua Portuguesa, 2007.
HELENA, Lucia. “Uma instintiva volúpia: reflexões em torno de Clarice Lispector”. In:
Metamorfose, vol. 5. Rio de Janeiro: Editorial Caminho, 2004.
_______ “Aprendizagem de Clarice Lispector”. In: Revista Littera. No. 13, Ano V. Rio
de Janeiro: Grito Edições, jan-jun 1975.
_______ “Um texto fugitivo em Água viva. Sujeito, escrita e cultura em Clarice
Lispector”. In: Revista de Literatura Brasileira/A Journal of Brazilian Literature. No.
12, Ano 7. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1994.
_______“Entrevista”.http://www.unisinos.br/ihuonline/index.php?option=com_tema_ca
pa
JOSEF, Bella. “Clarice Lispector – A recuperação da palavra poética”, In: Travessia, no.
14. 1987.
JR, Plínio W. Prado. “O impronunciável. Notas sobre um fracasso sublime”, Remate de
Males, no 9, Campinas, Maio de 1989.
LUCCHESI, Ivo. “A paixão do corpo entre os fantasmas e as fantasias do desejo”. In:
247
LISPECTOR, Clarice. A via-crúcis do corpo. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1991.
MELLO, Ana Maria Lisboa de. “Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres: Uma
trajetória de individuação”. Porto Alegre: Ed. Sagra Luzzatto, 2003.
NUNES, Benedito. O drama da linguagem. São Paulo: Ática, 1995.
PEIXOTO, Marta. Ficções apaixonadas. Gênero, narrativa e violência em Clarice
Lispector. Rio de Janeiro: Vieira e Lent, 2004.
PERRONE-MOISÉS, Leyla. Flores da escrivaninha. São Paulo: Cia. Das Letras, 1990.
PESSANHA, José A. Motta. “Clarice Lispector: o itinerário da paixão”, Remate de
Males, n. 9, Campinas, p. 181-198, maio de 1989.
_______ “Platão: As várias faces do Amor”. In: Sentidos da paixão.
PICCHIO, Luciana Stegagno. “Epifania de Clarice”. Remate de Males, n. 9, Campinas,
Maio de 1989.
REGUERA, Nilze M. de A. Clarice Lispector e a encenação da escritura em A via
crucis do corpo. São Paulo: Editora UNESP, 2006.
RONCADOR, Sonia. Poéticas do empobrecimento – A escrita derradeira de Clarice
Lispector. 1a. ed., São Paulo: Annablume, 2002.
ROSEMBAUM, Yudith. Metamorfoses do mal. Uma leitura de Clarice Lispector. São
Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: Fapesp, 1999.
SÁ, Olga. A Escritura de Clarice Lispector. Petrópolis-Lorena: Vozes, FATEA, 1979.
SABINO, Fernando, LISPECTOR, Clarice. Cartas perto do coração. Rio de Janeiro:
Record, 2002.
SANTOS, Roberto Corrêa dos. “Guindaste, Lispector”, In: Metamorfose, vol. 5. Rio de
Janeiro: Editorial Caminho, 2004.
_______ Clarice Lispector. São Paulo: Atual, 1987.
248
SCHWARTZ, Roberto. A Sereia e o Desconfiado. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 1965.
SEVERINO, Alexandrino. “As duas versões de Água Viva”, Remate de Males, no 9,
Campinas, Maio de 1989.
SOUSA, Carlos Mendes de. Clarice Lispector. Figuras da Escrita. 1ª ed., Braga,
Universidade do Minho/Centro de Estudos Humanísticos, 2000.
SOUZA, Gilda de M. e (1963) “O lustre”, Remate de Males, no 9, Campinas, Maio de
1989.
SOUZA, Ronaldes de Melo e. “A poética dionisíaca de Clarice Lispector”. Tempo
Brasileiro. (1997) 130-131: 123-143.
TEJADA, Cristina Sáenz. “The eternal non-difference: Clarice Lispector’s concepto f
androgyny”. In: Luso-Brazillian Review. N. XXXI, Wisconsin: University of Wisconsin
System, 1994.
VASCONCELLOS, Eliane. O Arquivo de Clarice Lispector. Inventário do Arquivo
Clarice Lispector. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa/Ministério da
Cultura, 1997.
WALDMAN, Berta. A paixão segundo Clarice Lispector. São Paulo: Escuta, 1993.
______ “Uma cadeira e duas maçãs: presença judaica no texto clariciano”. In: Cadernos
de literatura brasileira. Rio de Janeiro: Instituto Moreira Sales, 2004.
WISNIK, José Miguel. “Iluminações profanas (poetas, profetas e drogados”. In: Os
sentidos da paixão. Org. Adauto Novaes, São Paulo: Cia. das Letras: 2006.
249
Baixar