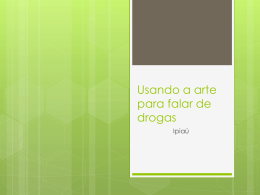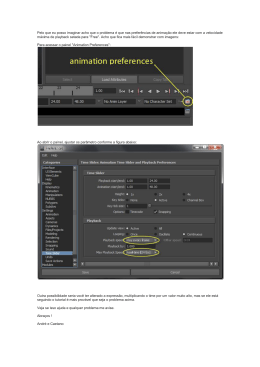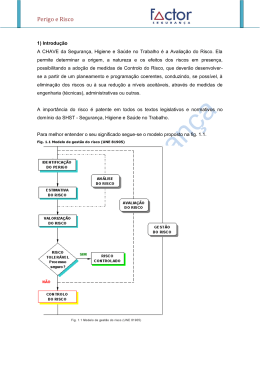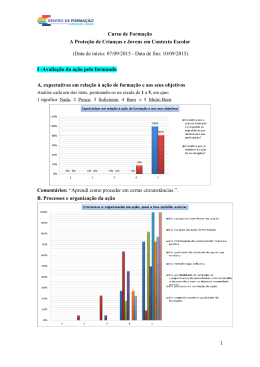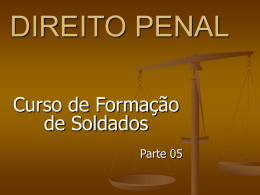Entrevista com Sérgio Valmário, psicólogo do Hospital Municipal Jurandyr Manfredini e psicanalista. 1) Como você vê o conceito de “perigo” presente hoje em nossa sociedade? Determinados grupos são entendidos como perigosos: menores de rua, louco infrator, travestis que fazem prostituição. Enfim, grupos tidos como marginais. Mas temos que pensar “perigo” para além da estigmatização desses grupos, como algo inerente à própria vida. Ou seja, não o perigo como normalmente se lê – a violência urbana, o aquecimento global, um asteróide que pode cair no planeta -, mas como uma coisa que funda a própria experiência humana. Por exemplo, quando pensamos nos grandes navegadores: em nome do desejo, eles se lançaram aos mares, ao desconhecido; o que estava em jogo ali era a dimensão do perigo. Quantos avanços deixariam de ser realizados em função de o sujeito se deter frente ao que ele entende como perigoso? Então, tem alguma coisa que diz respeito à própria experiência humana que envolve risco, que envolve poder apelar ao desconhecido. É impossível acordar de manhã e não ter claro que o “perigoso” é inerente à vida. A partir do momento em que se está vivo, há uma dimensão de perigo, de risco. Então, é tentar pensar uma maneira de abordar esse tema que tenha relação com a própria vida, positivar essa noção de perigo e apontar que o perigo não está só no outro, ele está, antes de tudo, em nos mesmos. Quantas dimensões do psiquismo nos convocam ao perigo? E, às vezes, não em uma abordagem tão positiva assim. Às vezes, o ser humano apela ao pior. E isso tem um sentido; por incrível que pareça, produz uma certa “estabilização instável” no nosso psiquismo. Por exemplo: o abuso de álcool e drogas. Existe aí uma dimensão de prazer, de gozo, em que o sujeito pode chegar às raias de flertar com a morte e, nem por isso, se convence a se afastar dessa experiência-limite. Então, é pensar que possibilidades temos ao falar do perigo como uma maneira não só de produzir a desestigmatização em relação a esses grupos, mas também como uma maneira de falar dessa pluralidade da qual o humano se constitui. 2) Que critérios costumam ser utilizados socialmente para identificar uma pessoa como “perigosa”? Acho que um grande critério é que “o outro” é sempre perigoso. E esse “outro” é tudo aquilo que marca a diferença. Há um texto do Freud chamado “O Estranho” em que ele fala exatamente o quanto o estranho tem alguma relação com o que lhe é familiar. Aquilo que é absolutamente diferente você nem reconhece, você passa batido, nem se dá conta de que alguma coisa compareceu ali. Se você minimamente reconhece, mesmo que produza o estranhamento, é porque algum registro daquilo você tem. Então, muitas vezes, quando você fala do estranho e aponta a diferença, você está falando de alguma possibilidade do humano. E como humanos somos todos nós, apontar para o outro também é apontar alguma dimensão de nós mesmos. De certa forma, nesse reconhecimento, capturamos esse objeto estranho e dizemos que aquilo ali não tem nada a ver conosco. Então, se há um critério, acho que é essa dimensão da alteridade, que comparece e muitas vezes incomoda, principalmente quando essa alteridade, esse “outro” comparece em você mesmo. Ou seja, quando não nos reconhecemos em determinadas ações, quando nos pegamos em pensamentos que julgamos proibidos, quando nos percebemos afetados por alguma coisa que julgávamos incólume. 3) Como essa ideia de perigo, relacionada à de medo, afeta a vida cotidiana em nossa sociedade? Não nego que há toda uma conjuntura que é muito violenta, que sofremos uma violência muito grande, não só a que chega da sua forma mais concreta, mas também a simbólica, institucional. Quando uma pessoa, por exemplo, procura um serviço público de saúde e é mal atendida ou nem é atendida, isso gera consequências inclusive fatais. Então, há uma dimensão de violência que está dada; seria uma ingenuidade achar que não. Mas, para além disso, existem vários usos dessa questão de apontar a alteridade como perigosa – usos políticos, por exemplo. Voltando a Freud, no texto “Psicologia das massas”, ele fala do próprio funcionamento dos grupos, que podem ser entendidos até como nações. Esses grupos apontam a diferença como uma ameaça. Um exemplo: há pouco tempo, foi aprovada uma lei na França que proíbe o uso da burca em lugares públicos. Aí, cria-se uma situação contraditória. Se a alegação é defender a liberdade da mulher ao proibir a burca, e aquelas que escolhem usá-la? Que contradição é essa em que, para defender uma liberdade, você proíbe que o sujeito possa escolher? Eu poderia dar vários exemplos dessa eleição de instituir algum grupo ou alguma pessoa a priori como perigosa. Isso pode ter uma função social, mas, às vezes, também tem uma função psíquica. Como falei, mantém-se afastado aquilo que pode colocar em xeque algum valor seu, alguma maneira de ver o mundo. Por exemplo, quando aprovaram o casamento de pessoas do mesmo sexo na Argentina, os grupos religiosos se voltaram contra. Ora, se o que está em jogo é uma dimensão de escolha – segundo o próprio Cristianismo, o sujeito é livre para escolher se quer ser salvo ou se quer se danar –, como se quer salvar o outro de qualquer maneira, a revelia de ele querer ser salvo ou não? Estou colocando a própria perspectiva cristã. Ou seja, até que ponto o que está em jogo ali é você não questionar o seu próprio dogma? Você passa a ser pego por aquilo mesmo em que você afirma acreditar. Vão-se criando esses paradoxos. 4) Que efeitos essa estigmatização como “perigoso” pode ter nas pessoas que a sofrem? Tenho medo de qualquer afirmação generalizante. Nunca sabemos de que forma o sujeito vai reagir diante de uma discriminação de qualquer ordem. Às vezes, isso se torna um motor para o sujeito provar que pode ser mais do que essa imagem que tentam impor. Como trabalho com psicanálise, foco muito na via da singularidade. Claro que é uma coisa que comparece sim. Já vi várias vezes policiais entrarem num ônibus para fazer uma batida e os negros já se levantarem; eles já esperam serem abordados. Por outro lado, o quanto os próprios policiais também vivem uma situação de extremo risco? O que quero dizer é que existe um jogo de medos, que toma conta de todo mundo. Não tem como dizer que os policiais são vilões, são preconceituosos. Até podem ser, mas não dá para reduzir isso. Eles também estão em uma dimensão de perigo: eles também ganham mal, também não são preparados, também são marginalizados - porque se olha para o policial e se vê logo o bandido em potencial. Vemos muitos casos de corrupção policial, mas não dá para dizer que todos são corruptos. Então, o risco nessa em falar dos perigosos é tomar a priori qualquer estabelecimento e circunscrição veemente de quem é perigoso e quem não é. Às vezes, como falei, o sujeito se lança ao perigo, há uma dimensão de gozo nisso. Não quero tornar a vitima ré. Por exemplo, se um policial aborda uma pessoa em um parque fazendo o que se chama hoje de “pegação” e a extorque, ele está certo? É claro que não. Mas, por outro lado, por que a pessoa se lança a um lugar ermo, colocando-se também em exposição? Então, não falo isso para tornar a pessoa que foi vitima ré, mas para dizer que temos que pegar caso a caso e pensar em que implicação cada um tem com sua vida e com a responsabilidade em relação a suas escolhas. Já que queremos falar em uma desconstrução do que entendemos como perigoso, vamos radicalizar, escutar todas as partes. O que seria, por exemplo, perguntar a um juiz da área criminal onde ele vê perigo nele mesmo, não apenas no outro? 5) Muitos críticos à política de segurança atual do Rio de Janeiro falam em uma política de extermínio. Você concorda? Isso teria a ver com o discurso sobre o perigo? Claro que existe o despreparo, a corrupção, o medo que impera e no qual os próprios policiais estão incluídos. Mas acho que dizer que há uma política de extermínio é corroborar essa visão de que há carrascos e vítimas. Acho isso perigoso inclusive para as próprias “vítimas”. Por exemplo, esse trabalho das UPPs. O que me parece de longe, como observador, como leitor de jornais, é que é uma tentativa que tem encontrado certos resultados. Então, como se pode transformar uma visão se as pessoas já começam a priori a estabelecer que aquele grupo – no caso, os policiais – está vindo para acabar com elas? É claro que absurdos acontecem, e isso tem que ser investigado, colocado em questão. Vemos um descaso muito grande nas políticas públicas, na área de saúde, na educação, na segurança. Eu seria louco de dizer que não. Mas acho igualmente perigoso chegar a esse extremo de dizer que há uma política de extermínio – isso pode soar até como uma teoria conspiratória. Acho que isso não ajuda, tem que se ver caso a caso e ter todo um trabalho de intervenção e de controle social, porque, como eu disse, absurdos acontecem. Mas acho que temos que tomar cuidado. 6) Que estratégias são possíveis para desestigmatizar esses grupos sociais? Penso que qualquer tipo de aproximação em que uma pessoa é convocada a falar e a outra se convoca a escutar promove movimento, movimento subjetivo, movimento social. Eu tenho vontade de subir no Morro Dona Marta, onde colocaram um plano inclinado, e ver a cidade lá de cima. Tenho convidado alguns amigos, mas, mesmo com UPP, eles não querem ir. Não deixa de ser esse olhar de resistência, mesmo sabendo que houve mudanças. Fico pensando que perspectiva posso ter da cidade ao olhá-la lá de cima, pode ver e conversar com aquelas pessoas. É mais do que um plano inclinado, é uma ponte. É claro que se pode atravessar ou não, tanto as pessoas do morro para o asfalto quanto do asfalto para a favela. Não dá para obrigar ninguém a atravessar a ponte, mas ela está lá, foi construída. Acho que temos que pensar em que pontes podemos construir. Outro exemplo: o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) é um centro cultural em que várias atividades são gratuitas. Mas quais são as pessoas que frequentam o CCBB? É uma classe média ou média-alta. O que falta para alguém adentrar ali e ver uma exposição? É como se houvesse uma barreira invisível, como as divisões na praia – tem a praia gay, a praia dos surfistas, a praia dos boysinhos etc. Há fronteiras invisíveis ali. Isso só se rompe com aproximações. Aí, podemos pensar em políticas de educação, saúde, cultura, lazer. Podemos, por exemplo, ter uma iniciativa como a do projeto da série “Perigosos”, do CRP-RJ. Esse vídeo poder circular em festivais de cinema é uma maneira de colocar em cena essas questões. O que é, por exemplo, escutar um juiz falando o que é perigoso nele mesmo? 7) Quais são as relações entre a Psicologia e esse contexto? Acho que podemos nos constituir não como pontes, o que seria pretensão, mas como sinalizadores; acho que essas pontes já existem. Às vezes, vejo partindo dos próprios psicólogos uma série de questões. Não falo de uma questão de desejo; se a pessoa não tem desejo de trabalhar na área de Recursos Humanos, tudo bem, pode escolher a clínica, por exemplo. Mas determinadas escolhas são efetuadas a partir de preconceitos e medos que eles mesmos têm. Por exemplo: tenho um grupo de álcool e drogas no hospital e convidei alguns dos meus estagiários para trabalharem no grupo. Eles ficaram muito reticentes. Mas uma delas resolveu participar e, no final, disse: “é um grupo de neuróticos como qualquer outro!”. Eles não falavam apenas de drogas, mas de impasses que têm em relação ao amor, questões que advêm do trabalho, como se relacionam com a sua sexualidade, como se relacionam com o outro, ou seja, questões humanas. Ela ficou muito surpreendida com ela mesma ao poder se aproximar de alguma coisa que antes tomava como perigosa e, sendo perigosa, inacessível. Então, penso que o papel do psicólogo é, antes de tudo, poder se constituir como ponta de lança. Penso que é como se pudéssemos ocupar um certo papel de “idiota”. Quando alguém faz uma afirmação e a colocamos em questão – não como “dono da verdade”, mas como “idiota”: “não entendi o que você quis dizer?”, “Ué, é isso mesmo?” -, isso pode colocar questões, fazer com que o próprio sujeito se confronte com suas afirmações. Nada mais apropriado que o psicólogo poder se colocar no lugar de “idiota”.
Download