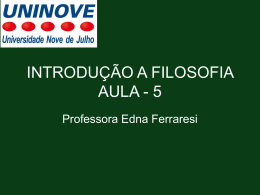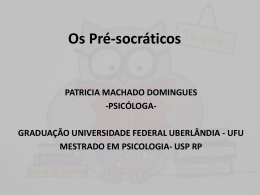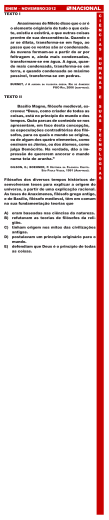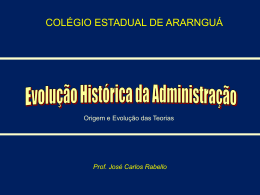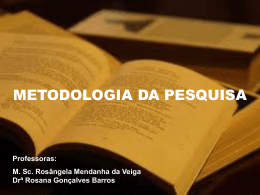Uma Pequena História da Filosofia, de Nigel Warburton Prefácio à edição portuguesa Desidério Murcho Universidade Federal de Ouro Preto Nigel Warburton nasceu em 1962, é doutorado em filosofia pela Universidade de Cambridge e professor na Universidade Aberta britânica. Os seus livros de apresentação da filosofia — tanto para o grande público, como para jovens estudantes — têm tido um sucesso assinalável e merecido, tanto nos países de língua inglesa, como entre nós. O seu primeiro livro traduzido em língua portuguesa foi Elementos Básicos de Filosofia (Gradiva); deste livro foram já vendidos mais de cem mil exemplares no Reino Unido. Outros livros muitíssimo bem-sucedidos do autor, publicados entre nós, são O Que é a Arte? (Bizâncio) e Grandes Livros de Filosofia (Edições 70). Dos seus livros ainda inéditos em língua portuguesa destacam-se o muito esclarecedor Thinking from A to Z (2007, 2.a ed.), Free Speech (2009) e Philosophy Bites (2012) — três livros que muito ganharíamos em ver publicados entre nós. Esta pequeníssima história da filosofia agora publicada em língua portuguesa é dos seus melhores trabalhos. O que há de especial nos livros mais bem conseguidos de Warburton é a explicação das ideias complexas da filosofia de uma maneira muito direta e simples, mas sem cair na caricatura grotesca. A importância de um trabalho de divulgação e ensino bem feito — seja qual for a área, o que inclui a filosofia, mas também as ciências e as artes — dificilmente pode ser exagerada. Para vermos a sua importância vale a pena refletir em dois casos relativamente recentes da criação académica mais famosa, na área da filosofia, e noutro caso bem mais antigo — mas do qual muitos de nós somos ainda hoje vítimas distantes. No artigo curiosamente intitulado “ ‘That Sort of Everyday Image of Logical Positivism’: Thomas Kuhn and the Decline of Logical Empiricist Philosophy of Science”, que constitui o cap. 14 de The Cambridge Companion to Logical Empiricism (2008), Alan Richardson defende que o famoso livro de Thomas Kuhn, A Estrutura das Revoluções Científicas (1962), comummente entendido como uma rejeição da filosofia da ciência do positivismo lógico, é perfeitamente compatível com as ideias realmente defendidas pelos mais destacados filósofos da ciência daquele movimento. Rudolf Carnap, geralmente visto como o positivista lógico por excelência e por isso um arqui-inimigo da teoria da ciência avançada por Kuhn, era na verdade bastante simpático à perspetiva deste último. Mas se isto é assim, duas coisas ficam por explicar: primeiro, a quem se opõe Kuhn afinal? Segundo, como foi possível que tantas pessoas considerassem revolucionárias as ideias de Kuhn por pôr fim a uma suposta teoria positivista da ciência que nunca existiu? O nosso segundo caso é uma obra também muitíssimo influente, publicada originalmente em 1971: Uma Teoria da Justiça, do filósofo norte-americano John Rawls. Quem conhece com algum pormenor as teorias éticas contemporâneas fica perplexo com as críticas que este autor faz a uma das mais influentes teorias éticas: o utilitarismo. Formulada de um modo mais promissor por John Stuart Mill, no séc. XIX, depois da sua introdução explícita por Jeremy Bentham, a teoria ética utilitarista é uma forma de consequencialismo que se tem revelado muitíssimo resistente às críticas, precisamente por permitir diferentes desenvolvimentos, que a tornam muitíssimo poderosa. Em traços gerais, a teoria consequencialista divide-se numa tese acerca do valor e outra acerca do dever. A primeira é a tese de que só a felicidade tem valor último, sendo tudo o resto feito em função da felicidade. A ideia dificilmente é nova, dado que já Aristóteles, no séc. V a.C., a tinha defendido. Desta tese quanto ao valor, contudo, o consequencialista retira duas outras ideias: primeiro, que temos o dever de promover a maior felicidade do maior número de pessoas; segundo, que a felicidade de cada pessoa conta tanto quanto a de qualquer outra. Mesmo quem desconheça a filosofia vê que estas ideias são bastante plausíveis; e, na verdade, uma parte importante do nosso pensamento moral real, diário, e das decisões políticas reais, são justificadas apelando a princípios consequencialistas: não aceitamos de ânimo leve que se gaste dinheiros públicos para beneficiar, digamos, dez mil pessoas de uma cidade, quando com o mesmo dinheiro se poderia beneficiar vinte mil pessoas, cujas circunstâncias não são relevantemente diferentes das primeiras. É este aspeto da teoria consequencialista que lhe dá o nome: o que conta para avaliar a moralidade de uma ação ou decisão são as consequências, tendo nós sempre o dever de agir de modo a promover a felicidade do maior número de pessoas. Como acontece noutros casos, a teoria consequencialista enfrenta sérias dificuldades, a que diferentes filósofos têm respondido de modo imaginativo. Vejamos a mais óbvia. Se tudo o que conta para a moralidade de uma ação é o número de pessoas felizes que daí resultam, parece que não só é permissível torturar uma pessoa se isso divertir um milhão de outras, como temos até o dever de o fazer. Mas isto parece patentemente falso e até grotesco; logo, algo está errado com o consequencialismo. Esta é a objeção comum à teoria consequencialista; e é muitas vezes usada para introduzir uma alternativa teórica na qual se reconheça princípios morais que bloqueiem a tortura de uma pessoa, mesmo que isso torne um milhão de outras muitíssimo felizes. Uma dessas alternativas teóricas é um grupo de teorias a que se chama deontológicas, e que têm em comum a ideia de que há proibições morais absolutas. Entre elas, evidentemente, a tortura de inocentes, independentemente das consequências. Contudo, as coisas não são assim tão simples, por duas razões. Em primeiro lugar, porque é fácil imaginar exemplos análogos ao anterior mas em que já não é assim tão óbvio que as teorias consequencialistas nos deem a resposta errada; em segundo lugar, porque as teorias consequencialistas têm recursos teóricos para responder a exemplos difíceis como o anterior. Imaginemos que um terrorista ameaça matar milhares de pessoas, porque tem em seu poder um dispositivo que fará explodir uma barragem; e que a única maneira de o impedir é disparar contra ele, matando-o. Acontece que, se o fizermos, morre também um refém inocente, que ele tem em seu poder para se proteger. Parece razoável defender que neste caso temos o dever de sacrificar a vida do refém inocente, para salvar milhares de outras pessoas inocentes. Parece razoável porque estamos a pensar em termos consequencialistas: as consequências de não sacrificarmos o infeliz inocente são muitíssimo piores. A importância deste exemplo é exibir o género de resposta que dará o deontologista. Este invocará uma ideia, explicitada e defendida na idade média, conhecida como princípio do duplo efeito. A ideia é que o nosso objetivo não é sacrificar o inocente, mas antes salvar os milhares de outros inocentes. O sacrifício do inocente é uma consequência prevista da nossa ação, mas não intencionada. Não temos a intenção de o sacrificar, temos apenas a intenção de salvar as outras pessoas. Se tivéssemos a intenção de o sacrificar, estaríamos a agir imoralmente. Talvez o leitor esteja pensando que esta resposta cheira um bocadinho a esturro. Não é que não possa ser levada a sério, se for devidamente desenvolvida e justificada. Mas se aceitamos que algo como esta resposta está disponível para o deontologista — que torna permissível o que pareceria, sem mais complicações, que ele teria de declarar absolutamente proibido — então não podemos, sob pena de arbitrariedade, rejeitar que o consequencialista responda de modo semelhante para rejeitar que se possa torturar um inocente quando isso faz um milhão de pessoas felizes. E a resposta dele é óbvia: o consequencialista limita-se a declarar que nenhum de nós quer efetivamente viver numa sociedade em que corramos o risco de sermos torturados para tornar um milhão de pessoas felizes. Isso tornar-nos-ia na verdade bastante tensos e infelizes, pelo que essa possibilidade tem de ser rejeitada na codificação das nossas leis. Assim, o consequencialista tem uma resposta paralela ao deontologista, quando enfrenta um exemplo difícil como o apresentado. E se aceitamos a resposta do deontologista, não é legítimo que rejeitemos a do consequencialista sem mostrar primeiro qual é a diferença que faz a diferença. Respostas consequencialistas deste género foram cuidadosamente articuladas por diferentes filósofos, ao longo das décadas. Assim, o leitor que tenha conhecimento dessas respostas fica perplexo ao ler Uma Teoria da Justiça, pois John Rawls não lhes dá atenção: limita-se a pressupor que as teorias consequencialistas estão obrigadas a aplaudir a tortura de inocentes para fazer outras pessoas felizes. Como explicar que Rawls não tenha em consideração que as teorias consequencialistas conseguem defender tão bem quanto as deontologistas a imoralidade de torturar inocentes para fazer outras pessoas felizes? Esta é a nossa segunda interrogação, a que daremos resposta depois de apresentar o terceiro caso. Os primeiros dois casos que apresentámos dizem respeito à filosofia do séc. XX; o terceiro inclui a filosofia mas vai muito além dela, e diz respeito ao lugar atual da lógica nas escolas, nas universidades e na vida pública. Esse lugar é diminuto, quando não é inteiramente rechaçado. No entanto, quando se explica a alguém o que é a lógica, e o que esta nos ajuda a fazer, ficamos com esta perplexidade: como explicar a exclusão da lógica, quando é evidentemente crucial? Repare o leitor que, como neste momento ainda não lhe expliquei sequer o que é a lógica, é provável que não saiba bem do que estou falando. No entanto, seria muitíssimo estranho se o leitor não fizesse a mínima ideia do que é a química, ou a aritmética, tendo destas áreas apenas uma ideia vaga. Contudo, a lógica é pelo menos tão central para a sua formação — como ser humano, mas também como profissional, seja qual for a sua área, e como cidadão — quanto a aritmética, e provavelmente bem mais central do que a química. Talvez fosse um exagero dizer que o domínio da lógica elementar é tão central para a sua formação quanto saber ler e escrever; mas não seria um exagero muito grande. Em lógica aprendemos a raciocinar mais corretamente e melhor; e aprendemos também a analisar e avaliar os raciocínios alheios. Ora, o raciocínio é crucial na nossa vida, pois a maior parte das vezes não podemos saber das coisas diretamente — olhando, ou tendo delas experiência direta. Na verdade, mesmo nos casos em que olhamos as coisas diretamente precisamos de raciocinar, para concluir algo com base no que vemos. Além disso, em muitos casos discordamos uns dos outros, e precisamos de raciocinar cuidadosamente para ver quem poderá estar mais próximo da razão. Será correto concluir a inexistência de valores da inexistência de Deus, por exemplo? Será correto concluir a permissibilidade moral do aborto partindo do direito das mulheres ao seu corpo? Talvez ainda mais surpreendente seja o desconhecimento que os cientistas ativos têm, quase todos, da lógica. Para estes, não há diferença assinalável entre raciocínio e proposição, por exemplo, e não compreendem que as segundas podem ser verdadeiras ou falsas, mas não válidas nem inválidas, ao passo que os primeiros podem ser válidos ou inválidos, mas não verdadeiros nem falsos. A distinção lógica infantil e elementar entre validade e verdade é desconhecida — isto por parte de cientistas que conhecem aspetos muitíssimo complexos da matemática e das suas áreas científicas. Não haverá algo de estranho nisto? Afinal, os cientistas não precisam de raciocinar intensamente para trabalhar na sua área? A lógica foi descoberta e cultivada na antiguidade grega: foi Aristóteles quem fez esse trabalho pioneiro, cuja qualidade é ainda hoje surpreendente. Os outros filósofos gregos aceitaram a importância da lógica: os estoicos, que deram contribuições importantes para o seu desenvolvimento, dividiam a filosofia (que na altura englobava todas as ciências teóricas) em ética, física e lógica. O mesmo ocorreu ao longo da idade média: a lógica foi ativamente cultivada, e alguns desenvolvimentos importantes são visíveis em vários filósofos medievais. Quando chegamos ao renascimento, contudo, a lógica desaparece do firmamento intelectual. Um intelectual medieval ou da antiguidade grega que hoje visitasse um colega cientista numa universidade e descobrisse que ele é completamente ignorante em lógica ficaria desconcertado. E com razão. Como explicar o desaparecimento da lógica onde seria de esperar que esta desempenhasse um papel cada vez mais importante, à medida que se desenvolveu (e muito se desenvolveu nos últimos cem anos)? Esta é a nossa terceira perplexidade. Nos três casos, a explicação é a mesma. Nos três casos, o invisível fez um trabalho crucial e bem visível. E o invisível aqui é os livros escolares, muitas vezes escritos por modestos professores — que umas vezes os escrevem bem, outras vezes os escrevem não tão bem. Ora, quando acontece este último caso, dão uma ideia distorcida das coisas a gerações de estudantes — alguns dos quais se tornarão depois intelectuais, professores, cientistas e filósofos. O que aconteceu a Kuhn foi ter adquirido uma imagem da teoria da ciência do positivismo lógico que não se baseava na realidade, mas antes numa caricatura escolar. Quando se dedica a destruir essa ideia que considerava falsa, estava a lutar praticamente contra fantasmas: Carnap, que seria o seu arqui-inimigo, era bastante mais simpático ao seu pensamento do que ele poderia ter esperado. Já no caso de Rawls, a sua caracterização do consequencialismo baseia-se quase exclusivamente numa obra publicada em 1874 pelo filósofo inglês Henry Sidgwick, que morreu em 1900: Os Métodos da Ética. Não se trata neste caso de um livro exclusivamente introdutório e escolar, porque o autor inclui bastantes ideias originais; mas foi, de facto, o livro que deu a conhecer a gerações de estudantes o pensamento consequencialista. Acontece que quando Rawls publicou o seu livro tinham decorrido noventa e sete anos desde a publicação de Os Métodos da Ética, e ao longo desses anos muitos aspetos do consequencialismo foram desenvolvidos. Todavia, é o seu manual escolar de estudante que Rawls tem em mente quanto fala de consequencialismo. No que respeita à lógica, para responder à nossa terceira perplexidade, o que ocorreu foi a sua rejeição, a partir do renascimento, com base no mau ensino que dela se fazia. Alguns dos filósofos mais lógicos — no sentido de apresentarem explicitamente raciocínios cuidadosos — dos séculos XVII e XVIII desprezavam paradoxalmente a lógica, como foi o caso de René Descartes e David Hume. A lógica que desprezavam e rejeitavam, contudo, não era nem a lógica tal como Aristóteles e os estoicos a desenvolveram, nem sequer os desenvolvimentos da lógica ocorridos durante a idade média; a lógi- ca que desprezavam era a caricatura escolar, plena de pormenores sem relevância e destituída dos conteúdos centrais realmente importantes. Rejeitar a lógica nesta base é um pouco como rejeitar a importância de conhecer a história, ou a gramática, porque de ambas só conhecemos caricaturas escolares grotescas. Estes são três casos apenas, entre outros, em que a representação que os filósofos e cientistas fazem das coisas sofre a interferência crucial desses filtros invisíveis que são os modestos livros introdutórios e escolares. Contribuir para que mais e mais livros desta classe sejam rigorosos é contribuir para que mais e mais filósofos e cientistas do futuro, para não falar das pessoas comuns, façam uma representação mais correta das coisas, menos influenciada por falsidades e caricaturas mil vezes repetidas, sem que se consiga muitas vezes identificar a sua origem. Esta pequena história da filosofia poderá reabilitar entre o público leitor — mas também entre estudantes e professores de filosofia — a importância e interesse da história da filosofia, que foi posta em causa por demasiadas caricaturas escolares grotescas. Evidentemente, Warburton teve de deixar sem qualquer menção muitas das ideias filosóficas que têm sido propostas e discutidas ao longo da história. E certamente outros autores teriam incluído, e excluído, outras ideias. Mas as escolhas de Warburton não dão ao leitor uma ideia falsa nem caricatural da história da filosofia. Por outro lado, a sua elegante prosa ática, assim como a medida q.b. de aspetos engraçados referentes às personalidades dos filósofos, ou aos tempos em que vivem, fazem desta obra uma leitura compulsiva: fica o leitor avisado que mal comece a ler o primeiro capítulo, terá vontade de os ler todos, sem parar. Resta-me chamar a atenção para um aspeto também muito importante desta pequena história da filosofia. Não só é destituída daquele palavreado que simula sofisticação académica e que é infelizmente cultivado nas universidades com maiores fragilidades culturais, como ajuda a desfazer um mito curioso no que respeita à filosofia: a de que é coisa do passado. Efetivamente, devido a um desconhecimento bibliográfico curioso — e que hoje é mais difícil de desculpar, dadas as facilidades que a Internet nos dá — há quem pense que a filosofia é coisa do passado: homens (quase sempre homens) de toga, mergulhados em tolices e confusões que, na nossa era científica, já foram superadas. A verdade é que nunca se produziu tanta filosofia, e tão sofisticada e interessante, como hoje. As diferentes áreas da filosofia — metafísica, teoria do conhecimento, ética, lógica, estética, filosofia da religião, entre outras — conhecem hoje uma criatividade, novidade e sofisticação como nunca conheceram antes. Esta criatividade e sofisticação tem também o efeito curioso, mas nada surpreendente, de nos fazer reavaliar e reapreciar as ideias dos filósofos do passado, descobrindo-se pérolas onde antes se via banalidades — e também banalidades onde antes se via pérolas. É notório que numa pequena história da filosofia com apenas quarenta curtos capítulos, mais de dez sejam dedicados à filosofia do séc. XX. Isto contraria — e bem — a ideia comum e falsa de que no séc. XX só resta fazer história da filosofia. Modestos livros introdutórios e de divulgação são importantes; são na verdade cruciais. E não deveria ser necessário invocar os casos históricos em que filósofos destacados se deram ao trabalho de escrever modestas obras introdutórias, como Descartes, com os seus Princípios de Filosofia, ou Bertrand Russell, com o seu maravilhoso Os Problemas da Filosofia (ambos publicados na 70). Afinal, ensinar aos outros o que vamos aprendendo ao longo de anos de estudo é aquela condição sem a qual não haverá cientistas, filósofos ou artistas nas novas gerações. Quando isso é feito com a gentileza e a graça de Warburton, mesmo os mais pessimistas entre nós talvez sintam esperança na humanidade. Desidério Murcho Ouro Preto, 16 de Fevereiro de 2012
Download