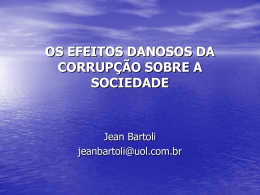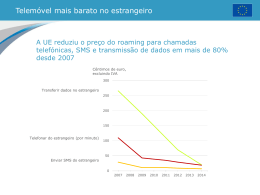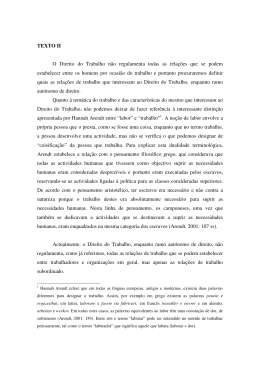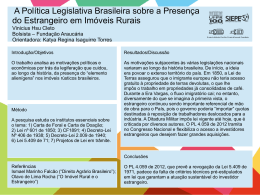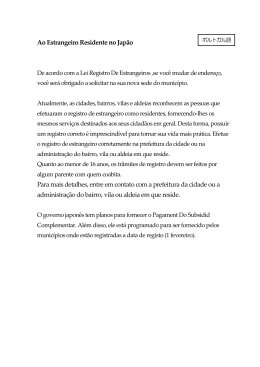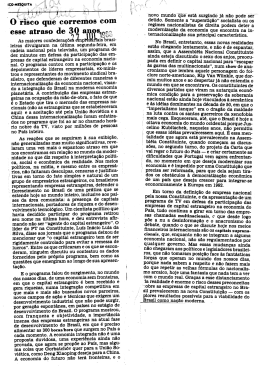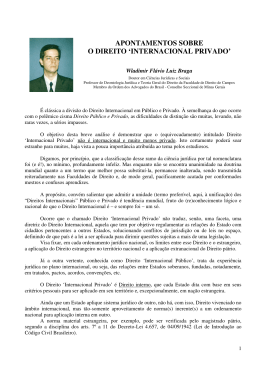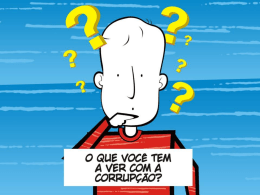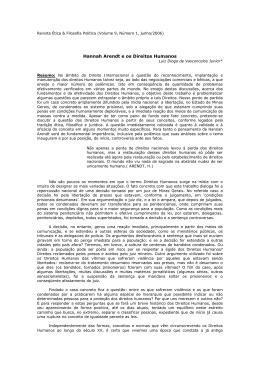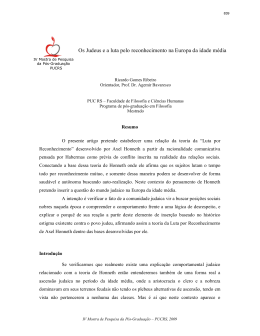Vicissitudes da educação no contemporâneo Flavia Maria de Vasconcellos “A educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o bastante para assumirmos a responsabilidade por ele”. (Hannah Arendt) Em seu único ensaio dedicado à educação, “A crise na educação”, escrito em 1958, Hannah Arendt articula a idéia de crise na educação à crise do mundo moderno. A partir da análise do contexto educacional americano na década de 50, onde ela localizava um “declínio (...) crescente nos padrões elementares na totalidade escolar”, ela retira elementos importantes para pensarmos a educação, para bem longe das fronteiras norte-americanas, e para muito além dos meados do século XX. O esvaziamento das tradições públicas e a falta de engajamento com um futuro traduzem o descompromisso do homem contemporâneo com a humanidade e com a civilização. Sabemos que à educação cabe a tarefa de oferecer às crianças um lugar no mundo dos adultos. Seu campo está necessariamente tensionado pela idéia de futuro, um futuro que se almeja, que se espera, e que deve, na medida do possível, comparecer como hospitabilidade, apresentando às crianças um lugar que lhes seja interessante e convidativo. Sem as marcas do passado e da tradição, no entanto, o homem fica esvaziado e sem estofo para dar conta de responder a seus dilemas presentes e suas demandas futuras: a idéia arendtiana de um enlace entre passado e futuro traduz muito apropriadamente o laço que deve se manter para que a educação se dê. É possível constatar facilmente, no entanto, a fragilidade deste laço. No discurso acerca da educação hoje, observamos, de um lado, um desvalor em relação a tudo que remete ao passado, à história de nossa cultura, a nosso conhecimento acumulado, a nossa tradição; por outro lado, escutamos insistentemente uma preocupação vazia com o futuro, com ser alguém no futuro, alguém em condições de sobrevivência em um mundo altamente competitivo e cada vez mais caro, um mundo utilitarista e pragmático, que vive uma crise de valores e tradição (de mal com seu passado, como obervou muito precisamente Hannah Arendt) e que não acena com muito mais do que a possibilidade do gozo, do desfrute imediato, concedida pelos objetos de consumo, sempre tão atraentes, mas tão fugazes. O futuro que se esboça aí está capturado por um ideal individualista, pouco ou nada articulado a um compromisso com o mundo. 1 Hannah Arendt afirma que é na educação que se revela o amor (ou o ódio) do homem pela civilização. E o homem contemporâneo vem atualizando neste campo o seu mal-estar, a sua insatisfação com o mundo, recusando-se a assumir frente às crianças a responsabilidade pelo o que está aí. Comparece neste ponto, articulada à crise na educação, a crise da autoridade, marca incontestável dos impasses hoje vividos pela educação, revelada pela excessiva desimplicação e pelo grande descompromisso do homem com nosso mundo, que levaram a uma banalização da violência e da barbárie. Cabe-nos refletir sobre as implicações deste descompromisso para o campo educativo, posto a educação dizer respeito ao compromisso necessário entre o homem e a Cultura, a este elo entre passado e futuro e à responsabilidade que temos de assumir frente aos neófitos por sua iniciação no mundo, através da transmissão de nossas tradições. Passado pouco mais de meio século desde a publicação de “A crise na educação”, parecemos viver uma crise na qual podemos reconhecer vários dos pontos levantados por Arendt neste ensaio, acrescido o fato de que, hoje, no Brasil, a escola vem operando sob um novo imperativo: o imperativo da “não segregação”, presente na proposta da universalização do ensino, que estabeleceu como estratégia para sua vigência, a educação inclusiva. Sob um certo ponto de vista, a proposta de uma escola para todos se apresenta, indubitavelmente, como um “ganho civilizatório”. Ter como vetor que todas as crianças tenham o direito à educação, traduz um ideal político democrático, que tem em sua linha de mira uma sociedade mais justa e menos desigual. Transparece, no entanto, neste ponto, o descompasso que atravessa hoje o campo educativo entre os princípios norteadores desta proposta e a possibilidade concreta de se conquistar isto na prática, fazendo crescer naqueles que atuam dentro deste campo um sentimento de impotência e de desânimo frente a esta tarefa. Podemos constatar que a “não segregação” como imperativo tem em sua linha de mira mais um apagamento das diferenças (ideal que se traduz em slogans como: “ser diferente é normal” ou “ser diferente á legal”), do que o seu real enfrentamento: a proposta da universalização do ensino, de uma “Escola para todos”, porta no seio de sua estrutura, uma disposição contraditória, que ao mesmo tempo que visa a não segregação, acaba por reforçá-la ou até mesmo acirrá-la. A escola brasileira vem tendo de assumir a tarefa ambiciosa de fazer a passagem de uma sala de aula que até a década de 90 se caracterizava por uma certa hegemonia, 2 para uma sala de aula que acate e dê conta da diversidade. É preciso ficar claro que tal passagem representa um passo muito grande para a educação: não se trata de ajustar um pequeno detalhe, mas sim de re-alinhar a escola a um novo ideal político. E tal mudança, representa para a escola uma mudança radical: uma quebra de paradigma, que implica na construção de um novo lugar identitário, uma nova escola. Uma escola capaz de ofertar a TODAS as crianças em idade escolar um ensino de qualidade. É digno de nota que, na prática, o que tem operado não é tanto o DIREITO de toda criança à escola, mas sim o DEVER de toda criança estar matriculada e frequentando a escola e o dever correlato da escola de receber a TODAS as crianças. Este desdobramento do direito ao dever traz implicações importantes: as ações e medidas de implementação e de gestão desta nova política educacional vêem-se muito mais subordinadas a um furor burocrático e administrativo, do que ao ideal político que lhe deu origem. Perde-se neste meio de caminho os detalhes e as inflexões desta proposta, que em sua origem previa situações particulares e propunha percursos diversos para situações também diversas. O cenário educativo atual parece carregar todos os elementos próprios a uma situação de crise: mudança brusca de paradigma, desequilíbrio abrupto e incertezas, que facilmente conduzem a movimentos de precipitação e irreflexão. Hannah Arendt afirma que toda situação de crise porta as condições e os elementos necessários para que, a partir de um esforço reflexivo, essa situação se transforme, bem como, a crise traz em seu seio o risco da não superação, justamente porque incita a decisões imponderadas, tomadas em um movimento de precipitação, que é contrário à reflexão e à crítica e favorável ao reducionismo e à distorção. Precipitação, no dicionário, remete, dentre outras acepções, à idéia de afobação, pressa que leva à irreflexão; remete também à formação de um precipitado (sedimento) a partir de uma reação química; esta reação produz a separação (sob a forma sólida) de um produto que antes se encontrava dissolvido em uma solução líquida, que pode tanto “cair”, depositando-se no fundo da solução, como flutuar (suspensão), dependendo de sua densidade em relação ao solvente. (HOUAISS, 2002) O ato de fazer precipitar guarda semelhanças importantes com a noção de passagem ao ato postulada pela psicanálise. Em ambos os casos deparamo-nos com uma pressa no momento de uma tomada de decisão, de uma escolha, que implica a impossibilidade de reflexão. 3 Além disso, as duas situações produzem um resto (sedimento, precipitado) que se destaca e se particulariza, que se encapsula, e se distingue radicalmente do meio no qual encontrava-se misturado, revelando-se como parte estranha ou estrangeira. Comparece aí a idéia de um “excluído incluído”, que só pôde ser excluído, porque estava incluído. O que retorna através deste resto, o que se precipita aí? Propomos pensar este resto como aquilo que resulta da operação civilizatória, que é justamente o mal-estar, este desprazer inevitável, fruto do inconciliável descompasso que há entre o desejo e a vida em sociedade, proporcional ao gozo que um dia tivemos de renunciar. Podemos também pensar este resto como aquilo que se precipita na passagem do estado da horda ao estado de direito, que seria o outro como estrangeiro. Um outro que passará a mobilizar os homens sempre de um modo ambivalente, já que ele porta, ao mesmo tempo, o mais familiar e o mais estranho, e despertará amor e ódio nos homens dependendo da posição em que estamos em relação a este outro e das condições subjetivas de cada um de se dispor a elaborar ou fazer trabalhar esta ambivalência. Para desdobrar esta idéia, recorremos aqui ao mito da horda primeva, narrado por Freud em Totem e Tabu (1913), que remonta a etiologia do sujeito psíquico e de seu engendramento ao campo político, e torna explícito o fato de que no princípio está o mal-estar, o verbo lhe é posterior. A horda traduziria o estado selvagem de agrupamento entre seres viventes, submetidos ao imperativo do instintual. Por conseqüência da retroação de um ato (o assassinato do pai), estes seres teriam sido repelidos do mundo da natureza em direção ao campo da Linguagem, passando a sofrer os efeitos de seu poder de ordenação e de sua exigência de enquadre. Deduz-se deste relato mítico, que tendo sido o pai assassinado, os irmãos teriam sido afetados a um só tempo por dois impulsos muito diversos entre si, e que se manteriam como marcas indeléveis do humano, articuladas de um modo sempre ambivalente: de um lado, crescerá, em cada um dos membros da horda, o desejo de ocupar o lugar do pai assassinado, seguindo seus próprios impulsos narcísicos, por outro lado, no entanto, e de modo surpreendente, origina-se um novo sentido entre os membros desta comunidade, até então inaudito: a exigência da regulação. A existência de uma interdição sistemática ao gozo nos agrupamentos humanos é a evidência da vocação mortífera de nosso gregarismo (MILLOT, 1992): o homem é o lobo do homem. Seguir desenfreadamente os próprios impulsos constitui uma ameaça direta e concomitante à vida da pessoa e ao modo gregário de organização das comunidades humanas. Será o pacto de renúnica que se estabelecerá entre os irmãos, 4 restringindo a onipotência individual, que irá outorgar o direito à vida. E a Cultura se moverá a partir do mal-entendido que o campo da Linguagem “obriga” e se erguerá a partir do mal-estar decorrente do encontro sempre ambivalente com o outro. Haverá desse modo, desde sua origem, uma antinomia entre sexualidade e civilização, e, paradoxalmente, uma indelebilidade nesta articulação, que serão transmitidas de geração em geração. Em “Totem e Tabu”, encontramos um ensaio sobre ambivalência e sobre transmissão. Transmissão, em Freud, de uma memória inata herdada a respeito desses acontecimentos originais, veiculada pela família, que cada indivíduo seria obrigado a repetir, mas que encontraria, no âmbito privado, uma modalização em sua forma de atualização (MILLOT, 1992). Na releitura de Lacan, no entanto, deparamo-nos com a transmissão de uma ordem simbólica, que toma os homens como presas desde antes de seu nascimento, e que se efetiva e se atualiza na relação edípica, protagonizada pelos pais e seu bebê. Já a ambivalência diz respeito a algo que permanecerá como uma habitação estrangeira no próprio sujeito. Há algo que lhe é muito distintivo e próprio, mas que ocupa um lugar estranho, que não lhe parece nem íntimo, nem seu. Koltai (2000) sugere abordar a noção de estrangeiro como um limiar entre o campo do sujeito e o campo político, e aproxima o estrangeiro da noção de sintoma, já que este se situa entre o mais íntimo e singular do sujeito e o mais universal do discurso no qual se inscreve. Justamente por portar o mais íntimo e o mais êxtimo1, o estrangeiro costuma mobilizar nos homens os seus piores humores. É por isso que sua abordagem deve implicar em um certo compromisso ético dos homens com a civilização: resta-nos o esforço de buscar alguma reconciliação com este objeto estranho, que foi excluído da consciência, mas que deve ser reintegrado. Permancendo estrangeiro, encapsulado, tal qual o sedimento que é precipitado na reação química, ele não permite nenhuma dialetização, pelo contrário, sua vocação é a certeza, e no campo político isso se traduz em idéias totalitárias e na idéia de que o estrangeiro é o inimigo. O risco de tal entendimento, nas palavras de Primo Levi, é de quando essa convicção, normalmente latente e desarticulada na maioria das pessoas, encontra meios de se fundar sobre um sistema: “quando o dogma informulado é promovido ao nível de uma premissa maior, de um 1 Lacan inventa a idéia de um êxtimo para dar conta da noção de um estrangeiro que está dentro e fora ao mesmo tempo, um conceito que comporta em si a ambivalência da qual os homens não têm como se esquivar. 5 silogismo2, então, no fim da linha, temos o campo de concentração” (op. cit. in Koltai, 2000, p. 5). A clínica nos revela e a história nos confirma, que dialetizar é preciso. Para que alguma transformação seja alcançada, seja no âmbito do sujeito, seja no campo político, é preciso reconhecer o conflito, levá-lo em consideração, trazê-lo para o primeiro plano. Se, ao contrário, o conflito é negado, em resposta à ambição de negar a dicotomia, então o risco desse dogma informulado virar um silogismo se acirra perigosamente. A história verídica vivida em Palo Alto, California, em 1967, apresenta-se como um exemplo dramático deste risco. Em 1967, Palo Alto, California, um professor de história do ensino médio se vê confrontado com o desdém e a descrença de seu grupo de alunos frente ao risco, sempre iminente, da autocracia se estabelecer como um regime dominante. Em resposta a isso, abdica temporariamente dos livros e dos debates, e dedica-se a empreender, na prática, uma vivência autocrática, incluindo, no espaço da sala de aula, os elementos capitais dos regimes nazistas e fascistas, que se pautam na obediência cega a um lider, no amor fraterno incondicional e na dessubjetivação. De um modo desconcertante e surpreendente, acompanhamos este procedimento, adotado em nome da didática, escapar ao controle do professor, e transmutar-se em uma espécie de autocracia in vitro, induzida artificialmente, porém, fertilizada e operante. Essa é a trama do filme alemão, recentemente lançado no Brasil, “Die Welle”, “A onda”, dirigido pelo jovem diretor alemão, Dennis Gansel. O filme mostra o turbilhão, a velocidade com que ocorre a pregnância dos ideais nazistas no grupo, sem que eles se dêem conta exatamente do que está acontecendo. Acompanhamos, do lado do professor, o orgulho de estar conseguindo se comunicar com seus alunos, que estão lhe dedicando atenção, interesse e respeito. Do lado dos alunos, explicita-se a enorme força de atração que um líder e um grupo exercem sobre as subjetividades, conduzindo os membros do grupo a uma zona de indiferenciação e de dessubjetivação, que os leva a agir em nome de ordens proferidas pelo líder e a recusar qualquer evidência de contradição dentro do grupo. O amor se exacerba no interior do grupo e o ódio é dirigido a todos aqueles que não pertencem a ele, ou que o questionam de alguma maneira. 2 “Raciocínio dedutivo estruturado formalmente a partir de duas proposições, ditas premissas, das quais, por inferência, se obtém necessariamente uma terceira, chamada conclusão” (Houaiss, 2002). 6 Quando finalmente o professor se dá conta da monstruosidade que tem em mãos e tenta colocar um basta, um dos alunos argumenta indignado, que “A Onda”, como eles se chamavam, também tinha tido pontos positivos e que eles não precisariam acabar com aquilo, mas apenas corrigir os seus erros, ao que o professor responde que “isso não tem como se corrigir”. O que é isso e por que não tem como se corrigir? O fato ocorrido em Palo Alto evidencia que as circunstâncias históricas não podem ser tomadas de modo isolado para responder pelas escolhas realizadas pelos homens em seu tempo. Afinal não fazia parte do contexto daquela sala de aula, nenhum dos elementos presentes na República de Weimar, que facilitaram a ascensão do nazismo: nem fome, nem miséria, nem desemprego, nem recessão, nem o trauma de uma guerra perdida. O que, então, mobilizou esse grupo nessa direção? O que permitiu a precipitação dessa aderência a ideais até então tão distantes, ou até mesmo tão desconhecidos? Parece que foi tocado aí, um ponto da subjetividade de cada um que diz respeito ao horror de se reconhecer dividido, incompleto, castrado; horror que encontra, na figura do líder e no laço fraterno entre seus pares, um apaziguamento, uma espécie de sutura da falta fundamental, que obriga a pulsão a circular em um circuito fechado e previsível, obliterando, de modo ortopédico, mas com muita eficiência, a dor de sua incompletude. Isso que não se corrige diz respeito à falta estrutural, imanente, que sempre mobilizará o homem de um modo ambivalente. Por um lado, esta é a mecânica do desejo, que impulsiona o homem na direção de um viver, por outro, trata-se do esburacamento produzido pela Linguagem, sofrido de modo traumático e violento pelo sujeito, que o percebe como morte. A intolerância dirigida ao estrangeiro é fruto da ambição de superação dessa dicotomia. Vemos que quanto mais uma sociedade se quer fundar no amor, mais o ódio pelo outro se intensifica, quanto menos estivermos dispostos a incluir este estrangeiro em sua estraneidade, mais longe estaremos da possibilidade de elaboração, e mais próximos estaremos da passagem ao ato. A contemporaneidade, estando submetida ao que Lacan chamou de o discurso do capitalista, encontra no discurso da ciência seu corolário, ao produzir uma obnubilação da barra que separa o sujeito do gozo. De fato, ao homem contemporâneo, são oferecidas a uma só vez oportunidades efêmeras de gozo e a desresponsabilização 7 do sujeito pelos seus atos, produzida por um discurso cientificista que se pretende universal, não deixando brechas para o imprevisto e que toma, discursivamente, os sujeitos no lugar de objeto. Quanto mais se caminha na direção de uma uniformização dos homens e de um imperativo do gozo, mais se produz sua dessubjetivação, mais a sua divisão é ignorada, e mais se intensifica a segregação. O que pauta, hoje, a busca de sentido da vida é a certeza, a certeza veiculada pelo discurso da ciência, que pretende encontrar respostas para tudo, exaustivamente, não deixando nenhum espaço para a reinvenção do homem. Os efeitos disso sobre o campo da educação são muitos. Os fenômenos da multiplicação dos diagnósticos e dos excessos de medicalização no cenário escolar, hoje, parecem responder a um modo de funcionamento social que transforma muito facilmente dificuldades em transtornos e vicissitudes em distúrbios, levando à patologização dos processos envolvidos nas situações de ensino e aprendizagem, e ao apagamento do sujeito. Ao perseguir um “ideal de educação” que pretende ter respostas para tudo, não deixando brechas para o imprevisto e, como conseqüência, para o desejo, a pedagogia comparece identificada à função aplicativa da ciência, na qual há um saber sem sujeito, que coloca o outro no lugar de objeto. O resultado desta operação é que a criança fica colocada no lugar de quem nada sabe, e o saber fica todo colocado no lugar do Outro. Como restabelecer a função simbólica educativa, que se ordena em torna da falta e que transmite saber e conhecimento, pautando-se pela tradição, mas preservando a singularidade? Apostamos que a escuta e o chamado do sujeito para o lugar da implicação pelos seus ditos e por suas escolhas permite que uma inflexão se faça. Implicar-se, neste contexto, diz respeito à recusa de se identificar com o lugar de objeto, a partir de um esforço elaborativo que deve se dar até o ponto em que o sujeito se veja capaz de usufruir de seu sintoma, fazendo algo criativo com ele. 8 BIBLIOGRAFIA AGAMBEN, Giorgio (2002). Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua I. Belo Horizonte: Editora UFMG. ARENDT, Hannah (1997). A crise na educação. In: Entre o passado e o futuro. São Paulo: editora Perspectiva. FREUD, Sigmund (1975). Errinern, Wiederholen und Durcharbeiten (1914). In: Schriften zur Behandlungstechnik. Frankfurt am Main: S. Fischer. _________________ (1980). Totem e Tabu (1913). In: Edição Standard Brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud, vol XIII. Rio de Janeiro: Imago. FREIRE COSTA, Jurandir (2008). Aula: Da vida política à vida higiênico-romântica: percurso da subjetividade na cultura do Ocidente. CPFL. GARCIA-ROSA, Luiz Alfredo (1986). Acaso e repetição em psicanálise: uma introdução à teoria das pulsões. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. HOUAISS (2002). Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, versão eletrônica. KOLTAI, Caterina (2000). Política e psicanálise. O Estrangeiro. São Paulo: Escuta. LACAN, Jacques (1992). O Seminário, Livro 17: o avesso da psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. LAURENT, Eric (2007). A sociedade do sintoma: a psicanálise, hoje. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria. MILLOT, Catherine (1992). Freud Antipedagogo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar. NAJLES, Ana Ruth (2008). Problemas de Aprendizaje y Psicoanálisis. Buenos Aires: Grama Ediciones, p. 46. REY-FLAUD, Henry (2002). Os fundamentos metapsicológicos de “O mal-estar na cultura”. In: Em torno de O mal-estar na cultura, de Freud. São Paulo: ed. Escuta. SAVIANI, Dermeval (2001). Escola e democracia. Campinas: editora Autores Associados. http://pt.wikipedia.org/wiki/Precipita%C3%A7%C3%A3o_(qu%C3%ADmica) 9
Baixar