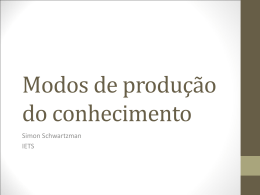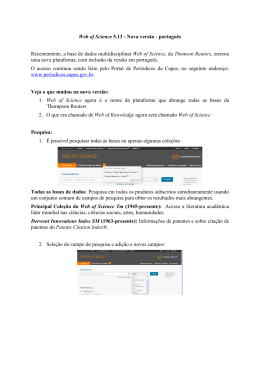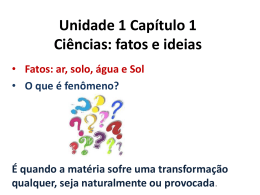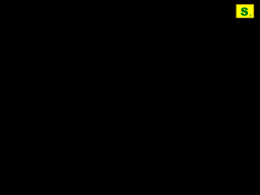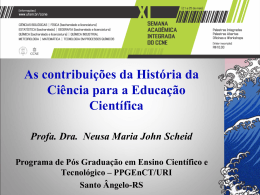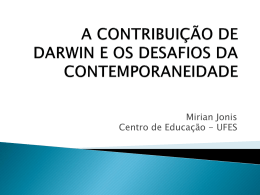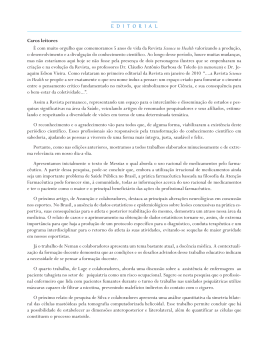Universidade Federal de Minas Gerais Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas Programa de pós-graduação em História GABRIEL DA COSTA ÁVILA EPISTEMOLOGIA EM CONFLITO: UMA CONTRIBUIÇÃO À HISTÓRIA DAS GUERRAS DA CIÊNCIA Belo Horizonte 2011 Gabriel da Costa Ávila Epistemologia em Conflito: Uma contribuição à história das Guerras da Ciência Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Minas Gerais, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em História. Linha de Pesquisa: Ciência e Cultura na História Orientador: Prof. Dr. Mauro Lúcio Leitão Condé Belo Horizonte 2011 112.109 Ávila, Gabriel da Costa A958e Epistemologia em conflito [manuscrito] uma contribuição à história 2011 das guerras da ciência / Gabriel da Costa Ávila. – 2011; 105 f. Orientador: Mauro Lúcio Leitão Condé. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. . 1. História - Teses. 2. Ciência - História - Teses 3. Ciência Historiografia – Teses. 4. Epistemologia – Teses. I. Condé, Mauro Lúcio Leitão. II. Universidade Federal de Minas Gerais. Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. III.Título Gabriel da Costa Ávila Epistemologia em Conflito: Uma contribuição à história das Guerras da Ciência Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Minas Gerais, na linha de Pesquisa Ciência e Cultura na História, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em História. Para Hélio, com saudade Agradecimentos Escrever uma dissertação de mestrado não é uma experiência solitária. O tempo em que passei em frente ao computador tentando explicar as Guerras da Ciência é pequeno diante do tempo gasto para construir efetivamente essa dissertação, em tudo o que ela significa. Em muitos lugares diferentes e no convívio com diferentes pessoas, essa experiência se moldou da forma como é agora apresentada, algumas páginas adiante. Só nesse convívio múltiplo foi possível desenvolver as idéias que tentei esboçar nesse texto. Algumas dessas pessoas desempenharam papel fundamental nesse percurso, nem sempre tranqüilo, elas me ajudaram a dar à minha dissertação a cara que ela tem. Esses agradecimentos são uma pequena, mas sincera, retribuição. Agradeço a Julienne, Marcelo e Pi, Rodrigo e Marcelinho, mais do que irmãos, amigos A Augusto e Rafa, mais do que amigos, irmãos A Costinha, Rita e Giulia, . Nice, Heleni, Paulo e Marcele Telmo, Marina, Luca e Gabriela, que me acolheram Mauro, pela confiança, não apenas a que ele depositou em mim, mas, sobretudo, a que ele me transmitiu, sem a qual eu não teria conseguido acabar o mestrado a tempo. Aos professores Fernando Guerreiro Moreira de Freitas, Olival Freire Jr., Betânia Gonçalves Figueiredo, Bernardo Jefferson de Oliveira, Carlos Alvarez Maia. Aos amigos soteropolitanos Antônio Meira, Carol Motta, Fábio Ramos, Dimitri Tavares, Hugo Sá, Juliana Senna, Marcus Teixeira e Rafael Lins; e aos amigos, de origens diversas, que tive a sorte de encontrar em Belo Horizonte, Adriano Paiva, Fran Alves, Paloma Porto, Rodrigo Osório, Valéria Mara. Aos colegas da Temporalidades, André Mascarenhas Pereira, Carolina Capanema, Márcio Rodrigues, Paula Ferreira, Rangel Cerceau; aos colegas do Scientia. A CAPES, Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que financiou essa pesquisa. Ao Programa de Pós-Graduação em História da UFMG e ao Departamento de História da UFBA. A Ana Marília Menezes Carneiro, a quem eu quero tão bem e que tanto bem me faz. Existe uma teoria que diz que, se um dia alguém descobrir exatamente para que serve o universo e porque ele está aqui, ele desaparecerá instantaneamente e será substituído por algo ainda mais estranho e inexplicável. Existe uma segunda teoria que diz que isso já aconteceu. Douglas Adams, O restaurante no fim do Universo. Resumo No final do século XX, um grupo de cientistas se engajou numa série de disputas intelectuais que ficaram conhecidas como Guerras da Ciência. Por meio de livros, artigos, conferências e debates, esses cientistas pretendiam defender uma determinada visão da ciência contra os avanços de posições acusadas de relativismo. Identifiquei o surgimento das abordagens que ocasionaram esse tipo de reação a partir da inflexão sofrida na segunda metade do século passado por campos como a história, a sociologia e a filosofia da ciência. As Guerras da Ciência assumiam o tom de um debate epistemológico, onde questões caras à tradição de interpretação do conhecimento científico eram postas em pauta. De um lado, os cientistas, que defendiam uma postura ―objetivista‖, do outro, os analistas da ciência, que desenvolver uma epistemologia ―não-objetivista‖. Nesta dissertação, tentei examinar as Guerras da Ciência como um fenômeno histórico no qual articulam-se questões epistemológicas e tensões políticas. Palavras-chave: Guerra das Ciências, Epistemologia, Historiografia da Ciência. Abstract At the end of the XXth century, a group of scientists engaged in a series of intellectual disputes that came to be known as the Science Wars. Throughout a number of books, articles and lectures, these scientists wanted to defend a vision of science against the advancement of positions accused of relativism. The approaches that caused this kind of reaction emerge from the turn suffered by areas like History, Sociology or Philosophy of Science. The Science Wars assumed the tone of an epistemological debate, in which significant questions on the scientific knowledge interpretation tradition were enrolled. On one side, the scientists defended an ―objectivist‖ attitude, on the other side, the science analysts that had developed an ―nonobjectivist‖ epistemology. In this dissertation, I have tried to examine the Science Wars as an historical phenomenon which articulates epistemological questions and political tensions. Keywords: Science Wars, Epistemology, History of Science SUMÁRIO INTRODUÇÃO................................................................................................................09 CAPÍTULO 1. Iconoclastas: a literatura de análise da ciência na segunda metade do..24 século XX.. 1.1 Excurso: Os cultural studies lêem os science studies.............................................57 CAPÍTULO 2. Os cientistas reagem................................................................................62 CONSIDERAÇÕES FINAIS..............................................................................................83 REFERÊNCIAS.............................................................................................................100 9 Introdução O ―caso Sokal‖ chegou à grande imprensa como um rastilho de pólvora, espalhando subitamente o acrimonioso debate que, já há alguns anos, circulava no meio acadêmico e transformando-o em uma disputa pública. Vários importantes jornais ao redor do globo estampavam o ocorrido em suas manchetes. E a notícia não ficou restrita apenas aos cadernos de cultura: o The New York Times, o Le Monde, o Observer e o International Herald Tribune, por exemplo, reservaram-lhe um espaço na primeira página. O próprio Le Monde realizou, em seguida, uma extensa cobertura. No Brasil, a Folha de São Paulo garantiu ampla divulgação à matéria, cobrindo o caso e suas repercussões por quase dois anos. Mas que razão levou a grande imprensa a dar atenção a uma briga travada – até então – apenas entre departamentos universitários? Que interesse poderia haver, para o público consumidor de jornais, nas desavenças entre um professor de física e uma revista de estudos culturais? E, talvez mais importante, de que modo esses jornais tentaram articular temas mais amplos relacionados à academia com a curiosa notícia do embuste? Antes de responder a essas perguntas, peço licença para contar novamente a história. Em 1994, Alan Sokal era professor de física na Universidade de Nova York com interesse diletante na filosofia da ciência quando se deparou com um livro recém-publicado chamado Higher Superstition, escrito pelo biólogo Paul Gross, professor da Universidade da Virgínia, e pelo matemático e professor da Universidade Rutgers, Norman Levitt. Nesse livro, que analisarei com mais cuidado adiante, os autores pretendiam responder aos ataques provenientes de alguns setores da filosofia, das ciências sociais e das humanidades nos Estados Unidos – que eles definem pela alcunha de ―esquerda acadêmica‖. Esse grupo, argumentam Gross e Levitt, influenciado por várias formas de relativismo, construtivismo e pós-modernismo, havia desenvolvido uma visão antirracionalista da ciência que os dotara de uma postura anticientífica. Para elaborar a resposta, os autores mergulham em uma miríade de estudos considerados anticientíficos de modo a pôr em evidência sua inconsistência teórica e seus perigos políticos. O resultado é um manifesto que tenta deslegitimar, em uma só penada, uma larga parcela dos estudos culturais, da crítica literária contemporânea, dos estudos sociais da ciência, dos estudos de gênero e dos estudos raciais 10 que se valem de concepções que Gross e Levitt classificam de anticientíficas1. Disso decorreu o acirramento do embate entre cientistas naturais e cientistas sociais, filósofos, antropólogos e historiadores que pretendiam analisar a ciência a partir de perspectivas mais ou menos influenciadas pelo relativismo, pelo sócio-construtivismo, pelo desconstrucionismo ou pelas várias formas de pós-modernismo. Nos Estados Unidos, a querela entre departamentos de ciências e de humanidades ficou conhecida como Science Wars, as Guerras da Ciência. A denúncia do avanço do anticientificismo em certos domínios da filosofia e das ciências humanas deixou Alan Sokal intrigado e certamente chocado. A vinculação dessas perspectivas a posições políticas de esquerda o preocupavam especialmente. O próprio Sokal se descreve como um ―antigo homem de esquerda‖2, tendo inclusive lecionado matemática na Universidade Autônoma da Nicarágua durante a Revolução Sandinista. O componente político, como veremos adiante, será permanentemente sublinhado pelo autor. Em face dessas acusações levantadas por Gross e Levitt, Alan Sokal decidiu realizar um experimento que deveria testar o rigor da já referida ―esquerda acadêmica‖. E a estratégia foi assaz perspicaz. Sokal dedicou algumas semanas do outono de 1994 a escrever um artigo no qual parodiava o ―estilo de escrita pós-moderno‖. Utilizou-se de desenvolvimentos teóricos controversos de áreas mais ou menos obscuras da física e da matemática, citou (quase sempre com reverências) autores consagrados dos estudos culturais norte americanos e espalhou ao longo do texto uma ―mistura de verdades, meias verdades, um quarto de verdades, falácias, e sentenças que, mesmo sintaticamente corretas, não têm, em absoluto, nenhum sentido‖3. Ao mesmo tempo, defendia que os avanços da ciência contemporânea permitiam extrapolações filosóficas que coincidiam com muitas das perspectivas ―pós-modernas‖. Em resumo, e se utilizando de muitas expressões empregadas pelo próprio Sokal (algumas tomadas de empréstimo de autores vinculados às correntes relativistas, construtivistas ou pós-modernas), o argumento defendido na paródia é que a ciência do século XX estaria pronta para se livrar do ―dogma imposto pela longa hegemonia pós-Iluminista‖ e pela ―metafísica cartesiana-newtoniana‖ e aderir a um modelo de ―ciência pós-moderna liberatória‖ que se tornaria ―um instrumento concreto para a práxis política 1 GROSS, Paul; LEVITT, Norman. Higher Superstition: the academic left and its quarrels with science. 2. ed. Baltimore: John Hopkins University Press, 1998. 2 SOKAL, Alan. Transgredindo as fronteiras: um posfácio. In: BRICMONT, Jean; SOKAL, Alan. Imposturas Intelectuais: o abuso da ciência pelos filósofos pós-modernos. Rio de Janeiro: Record. 1999, p. 286. 3 SOKAL, Alan. Transgredindo as fronteiras: um posfácio, p. 286. 11 progressista‖4. Depois de composta a paródia, à qual deu o título de ―Transgressing the Boundaries: Toward a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity‖, Sokal a submeteu à eminente revista de estudos culturais Social Text, vinculada à Duke University e que tinha em seu corpo editorial alguns dos autores largamente citados e elogiados por Sokal. Surpreendentemente, o artigo foi aceito para publicação. Mas a maior ironia ainda estaria por vir. O artigo foi incluído numa edição especial da revista, que foi intitulada de Science Wars5 e lançada em 1996, cujo propósito era oferecer uma resposta direta ao livro Higher Superstition e a todo o amplo debate que foi por ele suscitado no meio acadêmico norte americano. Logo depois de publicado o artigo, Sokal revelou à revista Lingua Franca que seu texto era uma paródia destinada a provar que os acadêmicos vinculados às correntes criticadas por Gross e Levitt haviam abandonado as regras básicas do rigor intelectual6. Nesse pequeno texto, Sokal explica os motivos que o levaram a escrever a paródia. Com efeito, ele descreve seu artigo submetido à Social Text como um experimento guiado pelas seguintes questões: ―uma proeminente revista norte-americana de estudos culturais – cujo corpo editorial incluía luminares como Fredric Jameson e Andrew Ross – publicaria um artigo deliberadamente nonsense se (a) soasse bem e (b) exaltasse as posições ideológicas dos editores?‖ 7 Diante da inclusão do artigo em um número especial da revista, Sokal pôde, com toda convicção, responder positivamente à essa questão. Mais ainda, pôde ampliar o escopo dos seus argumentos para algo que seu experimento não prova (embora, podemos argumentar, forneça uma evidência indiciária). Segundo Sokal e muitos dos que escreveram sobre a paródia, o caso mostrava que alguns setores da ―esquerda acadêmica‖ norte-americana estariam desenvolvendo uma espécie de preguiça intelectual8 ou que o avanço do relativismo na academia trazia conseqüências 4 SOKAL, Alan. Transgredindo as fronteiras: em direção a uma hermenêutica transformativa da gravitação quântica. In: BRICMONT, Jean; SOKAL, Alan. Imposturas Intelectuais: o abuso da ciência pelos filósofos pós-modernos. Rio de Janeiro: Record. 1999, p. 231-273. 5 O fenômeno foi nomeado por Andrew Ross, um dos editores da Social Text, por ocasião da decisão de dedicar um número da revista a refutar os argumentos de Gross e Levitt. O nome Science Wars é uma clara referência às Culture Wars, uma série de embates entre especialistas do campo dos estudos culturais e acadêmicos conservadores que alcançou larga repercussão nos Estados Unidos, nos anos 1980 e 1990. 6 SOKAL, Alan. A Physicist Experiments With Cultural Studies. Lingua Franca. Maio-Junho 1996. Disponível em: http://www.physics.nyu.edu/faculty/sokal/lingua_franca_v4/lingua_franca_v4.html. Acesso em: 2 jun 2010. 7 SOKAL, Alan. A Physicist Experiments With Cultural Studies. No original: ―Would a leading North American journal of cultural studies – whose editorial collective includes such luminaries as Fredric Jameson and Andrew Ross – publish an article liberally salted with nonsense if (a) it sounded good and (b) it flattered the editors' ideological preconceptions?‖. Tradução minha. 8 SOKAL, Alan. A Physicist Experiments With Cultural Studies. 12 perniciosas para a atividade intelectual9. Ao comentar o caso, o físico Steve Weinberg ressalta a importância desse tipo de alerta contra atitudes irracionalistas que ameaçam a civilização10. O componente político presente no artigo foi também explorado à exaustão e aplicado com um grau exagerado de generalização e superficialidade, embora à revelia do próprio Sokal. O autor entendia sua paródia como uma tentativa de diálogo no interior da esquerda, no intuito de contribuir para o seu fortalecimento. No entanto, o caso foi interpretado muitas vezes ao sabor das filiações políticas dos comentadores. Para Paul Boghossian, a Social Text deve ser considerada uma revista política, na qual um artigo poderia ser publicado mesmo tendo ignorado o critério de inteligibilidade desde que fossem satisfeitas as pretensões ideológicas que a revista pretendia veicular11. Os exemplos mais exagerados dessa tendência de apropriação política do caso encontram-se na Folha de São Paulo. No primeiro, o economista Roberto Campos, Ministro do Planejamento do Governo Castelo Branco, se esforça num malabarismo intelectual para vincular o caso Sokal à ideologização da atividade científica na União Soviética sob a égide do stalinismo e a um suposto ―vício do patrulhamento‖ imputado ―às esquerdas‖, o autor critica ainda as ―pretensões intelectuais dessa turma ‗engajada‘‖12. É interessante notar que Alan Sokal escreveu uma réplica veemente ao artigo de Roberto Campos (com efeito, Sokal escrevia regularmente réplicas às críticas que os articulistas da Folha de São Paulo direcionavam ao caso). Nela, Sokal reafirma sua vinculação à esquerda e acusa Roberto Campos de estar ―cegado por seus preconceitos‖ 13. Em resposta à posição defendida por Sokal, Olavo de Carvalho insiste na utilização do caso para empreender um ataque político. Segundo o autor, a ―proeza serviu para mostrar a inépcia intelectual da esquerda acadêmica‖ e expande sua argumentação de forma um tanto panfletária. Descreve Alan Sokal como ―parodista de si mesmo‖ e vê na paródia uma repetição de ―um antigo ritual cíclico‖ da esquerda, a saber, que ―cada nova geração do esquerdismo nasce da orgulhosa proclamação do descrédito da anterior‖14. 9 BOGHOSSIAN, Paul. What the Sokal hoax ought to teach us? The pernicious consequences and internal contradictions of ―postmodernist‖ relativism. The Times Literary Supplement. Londres, dez 1996, p. 14-15. 10 WEINBERG, Steve. Sokal‘s Hoax. The New York Times Review of Books. Nova Iorque, Volume XLIII, n. 13, ago 1996, p. 11-15. 11 BOGHOSSIAN, Paul. What the Sokal hoax ought to teach us? The pernicious consequences and internal contradictions of ―postmodernist‖ relativism, p. 14-15 12 CAMPOS, Roberto. A brincadeira de Sokal. Folha de São Paulo, São Paulo, 22 set 1996. Disponível em: http://www.physics.nyu.edu/sokal/folha.html#campos. Acesso em: 22 mar 2010. 13 SOKAL, Alan. A razão não é propriedade privada. Folha de São Paulo, São Paulo, 6 out 1996. Disponível em: http://www.physics.nyu.edu/sokal/folha.html#sokal. Acesso em: 22 mar 2010. 14 CARVALHO, Olavo de. Sokal, parodista de si mesmo. Folha de São Paulo, São Paulo, 21 out 1996. Disponível: http://www.physics.nyu.edu/sokal/folha.html#olavo. Acesso em 22 mar 2010. 13 Agora que seguimos a paródia de Sokal até este ponto, as razões envolvidas na enorme popularização do caso parecem mais claras. A possibilidade de transformar uma briga aborrecida entre intelectuais enclausurados em seus departamentos universitários em uma trepidante disputa entre um físico disposto a desmascarar um grupo de intelectuais charlatões parece ter animado parte da imprensa e dado o tom às vezes sensacionalista de algumas das coberturas jornalísticas15. Apesar de todo o interesse demonstrado pela mídia na peça pregada por Sokal, e da reconhecida importância em levar o debate à arena pública, as abordagens desconsideravam, ou mencionavam apressadamente, o ambiente no qual se insere o episódio, dimensão fundamental para que possamos alcançar uma compreensão satisfatória do caso e que me parece mais importante do que a paródia, tomada isoladamente. Com efeito, o caso Sokal é um desdobramento das Guerras da Ciência, um fenômeno que desde o início dos anos 1990 começava a tomar corpo no ambiente acadêmico norte-americano e que se espalhou também em universidades européias e latino-americanas. É justamente essa paisagem intelectual que pretendo mapear nesse estudo, examinando as Guerras da Ciência como um fenômeno cultural que responde a demandas históricas específicas. A querela não põe em disputa apenas questões epistemológicas e visões distintas sobre a ciência. O que está em jogo são os diversos modos e graus de interação entre a ciência e outras esferas tais como a política, a economia ou a cultura. Posso destacar três eixos importantes, que serão oportunamente retomados. Primeiro, a questão da imagem pública da ciência; é certo que as formas como a ciência é significada no espaço público são sempre múltiplas, heterogêneas e até conflitantes, no entanto, em meio à dispersão existem linhas de continuidade. Uma delas – a noção de que o cientista é um especialista cuja função pública é de porta-voz de um conhecimento que não é propriedade dele, mas reside na natureza – foi posta em disputa nas Guerras da Ciência, envolvendo assim toda uma série de questões a respeito da autoridade do cientista e do conhecimento que ele produz. Em segundo lugar, está a tensão em torno da possibilidade de falar da ciência, o estabelecimento de critérios que autorizassem determinado grupo (ou indivíduo) a realizar uma apreciação crítica da atividade científica. Como legitimar as intervenções sobre temas que envolvem conteúdo científico? O terceiro ponto a ser destacado diz respeito às implicações das nossas escolhas epistemológicas para a atuação política. Isto é, como nossos compromissos com a verdade, a objetividade, por exemplo, interferem na 15 Boa parte da repercussão do caso pode ser encontrada em uma página na Internet mantida pelo próprio Alan Sokal. Ver http://www.physics.nyu.edu/faculty/sokal/. 14 capacidade de crítica, julgamento e ação no mundo16. O caso Sokal é extremamente interessante por se constituir num exemplo extremo do embate, apontando para questões que são relevantes para a compreensão da vida intelectual contemporânea. O episódio que pode ser considerado como a ―declaração formal de guerra‖ é a publicação do livro Higher Superstition. A reação despertada por esse livro foi substancialmente sentida no ambiente acadêmico norte-americano, sobretudo entre cientistas naturais. Como indiquei acima, foi a partir dessa leitura que Alan Sokal se deu conta das abordagens relativistas, construtivistas ou pós-modernas da ciência. Além dele, muitos outros cientistas passaram a se interessar por questões que estavam até então restritas aos estudiosos sobre a ciência, passando a se posicionar de forma muito mais ativa. Essas intervenções, embora relativamente autônomas e dispersas, compartilhavam muitas características entre si e constituíram o que se chamou de Guerras da Ciência. O pano de fundo comum a esses episódios era a defesa de uma imagem da ciência, que a identificava com valores tais quais: a busca pela verdade, a objetividade, o respeito a um rígido método de investigação. Através da obediência a esses princípios, a ciência era capaz de desvelar progressivamente a realidade, descobrindo o funcionamento das leis da natureza. A racionalidade científica era vista como uma característica distintiva da identidade da civilização moderna e deveria ser defendida sob pena de perdermos todas as conquistas que essa civilização nos proporcionou. Em 1995, por exemplo, a American Chemical Society cancelou o financiamento de uma exposição sobre história da ciência no Museu Nacional de História Americana, em Washington, sob alegação que a perspectiva pós-moderna de alguns dos curadores estava incentivando uma visão anticientífica ao mostrar os impactos negativos da ciência17. Embalado por esse ambiente, aproveitando o material que coletou na pesquisa para escrever a paródia e a notoriedade que havia alcançado, Alan Sokal continuou sua investida. Juntamente com o físico belga Jean Bricmont, professor da Universidade Louvain, lançou, em 1997, um livro, intitulado Imposturas Intelectuais, que combina duas propostas18. Por um lado, o livro faz uma extensa crítica da má utilização de conteúdos científicos por autores das ciências humanas, como Jacques Lacan, Luce Irigaray, Bruno Latour, Gilles Deleuze, Paul Virillo e Jean Baudrillard. Ao mesmo tempo, ataca as tendências epistemológicas que se 16 Esse ponto será fundamental nessa pesquisa. Mais adiante, retornarei a esse tema mais detidamente, munido de argumentos mais precisos, de modo a realizar uma análise mais minuciosa e apurada. 17 GIERYN, Thomas. Cultural boundaries of science: credibility on the line. Chicago: The University of Chicago Press, 1999, p. 337-338. 18 BRICMONT, Jean; SOKAL, Alan. Imposturas Intelectuais. 15 desenvolveram a partir das críticas ao positivismo lógico e ganharam força na segunda metade do século XX, marcadas, para Sokal e Bricmont, pelo relativismo epistêmico. Um pouco ao espírito da paródia, o livro causou impacto e suscitou diversas reações. Alguns comentadores mais alinhados com os grupos ―pró-ciência‖ ressaltavam os perigos da utilização de conteúdos científicos por autores que não possuem formação ou domínio específico nas áreas que abordam, utilizando um argumento de autoridade científica ou apressavam-se em mostrar como Sokal e Bricmont haviam desmascarado a filosofia francesa contemporânea (o que os autores prontamente desautorizaram). Voltarei a esse livro mais adiante, por ora só me interessa indicar como ele alcançou repercussão. O que quero ressaltar é a existência de uma indignação dos cientistas naturais em relação ao avanço de um movimento considerado anticientificista e que, ainda por cima, partia de acadêmicos que dedicavam suas carreiras a analisar a atividade científica. Havia, ao que parece, um sentimento de ameaça e necessidade de reação bastante difundido. A questão que emerge, e que se constitui num dos eixos desse trabalho, é a seguinte: porque os cientistas se sentiram tão ameaçados e compelidos a reagir de forma tão intensa? Antes de propor uma resposta a essa questão, acho importante esboçar uma cartografia do objeto, localizando as origens das Guerras da Ciência, pois, embora a preocupação com a defesa dos valores da racionalidade científica não tenha surgido de repente entre os cientistas, a demarcação do início da querela varia enormemente entre os autores que a examinaram (ou que nela se envolveram). Geralmente elas guardam um ponto em comum, apontam a origem da tensão surda que desaguaria nas Guerras da Ciência para onde enxergam a formação de correntes filosóficas que desenvolvem tentativas sistemáticas de ataques à capacidade humana de fornecer explicações verdadeiras sobre a natureza. Se aceitarmos a argumentação de Gross e Levitt ou Sokal e Bricmont19, localizaremos as origens dessa vaga ―irracionalista‖ e ―anticientífica‖ nas formulações filosóficas da segunda metade do século XX. Em especial nas tendências pós-estruturalistas e pós-modernas que surgiram a partir das obras de autores como Jacques Derrida, Michel Foucault, Michel Serres, Jean François Lyotard ou Jean Baudrillard. Um outro processo amplamente difundido como precursor das Guerras da Ciência é o aprofundamento da especialização disciplinar que marcou o cenário intelectual desde fins do século XIX e que se transformou num fosso praticamente intransponível entre o que o físico e 19 GROSS, Paul; LEVITT, Norman. Higher Superstition e BRICMONT, Jean; SOKAL, Alan. Imposturas Intelectuais. 16 escritor Charles Pierce Snow chamou de ―as duas culturas‖20. A expressão, que serviu de título para uma famosa conferência proferida por Snow em Cambridge em 1959 (e que seria depois publicada na forma de artigo), se referia à brutal divisão entre a cultura científica e a cultura literária ou tradicional. Segundo C. P. Snow, a estrutura educacional nos países avançados havia se desenvolvido de maneira tal que acarretou na substituição do erudito dotado de conhecimentos enciclopédicos, tipicamente representado na figura do filósofo iluminista, por especialistas com conhecimentos cada vez mais profundos em áreas cada vez mais restritas21. Esse movimento de especialização disciplinar, argumenta Snow, polarizou o ambiente intelectual em dois grupos que não se comunicavam entre si e que acabaram por produzir imagens distorcidas um do outro. Partindo desse pressuposto, Olival Freire Jr. nota que ―as ‗guerras da ciência‘ em que se transformou a ausência de diálogo entre as duas culturas [...] é um dos tristes legados do século XX para as gerações vindouras‖ 22. O sociólogo Trevor Pinch defende, por exemplo, que a discussão entre o filósofo Ludwig Wittgenstein e o matemático Alan Turing em Cambridge no final da década de 1930 a respeito dos fundamentos da matemática já constituía um exemplo da relação conflituosa entre as ―duas culturas‖. Para o autor, o tipo de reação que a perspectiva de Wittgenstein em relação à ciência causou em Turing é bastante similar à que os estudos sobre a ciência despertariam nos cientistas mais de meio século depois23. Outros autores desenrolam a história até períodos ainda mais distantes. Renan Springer de Freitas, criticando as correntes da sociologia e da historiografia da ciência da segunda metade do século XX, traça uma longa genealogia intelectual que remonta a Hume, Wittgenstein e Thomas Kuhn até chegar às formulações construtivistas e relativistas que floresceram a partir da década de 197024. Embora não trate especificamente das Guerras da Ciência, Springer de Freitas lida com questões semelhantes às que preocupavam cientistas como Gross, Levitt ou Sokal, a saber: a crise do projeto epistemológico da modernidade e 20 SNOW, Charles Pierce. As duas culturas e uma segunda leitura. São Paulo: Edusp, 1995. Para muitos autores influentes, como Ludwik Fleck, Thomas Kuhn e Bruno Latour, esse processo é próprio da dinâmica da ciência. Cf. FLECK, Ludwik. Genesis and development of a scientific fact. Chicago. Chicago University Press, 1979; KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Editora Perspectiva, 2001 e LATOUR, Bruno. O fluxo sanguíneo da ciência. O exemplo da inteligência científica de Joliot. In: LATOUR, Bruno. A esperança de Pandora: ensaios sobre a realidade dos estudos científicos. Bauru: EDUSC, 2001. 22 FREIRE JUNIOR, Olival. O debate sobre a imagem da ciência – a propósito das ideias e da ação de E.P. Wigner. In: SANTOS, Boaventura de Sousa. Conhecimento prudente para uma vida decente: ‗um discurso sobre as ciências‘ revisitado. 2. ed. São Paulo: Cortez Editora, 2003, p. 505. 23 PINCH, Trevor. Does Science Studies undermine science? Wittgenstein, Turing, and Polanyi as precursors for Science Studies and the Science Wars. In: LABINGER, Jay e COLLINS, Harry (orgs.). The one culture? A conversation about science. Chicago: The University of Chicago Press, 2001, p. 13-26. 24 SPRINGER DE FREITAS, Renan. Sociologia do conhecimento, pragmatismo e pensamento evolutivo. Florianópolis: Edusc, 2003. 21 17 suas propostas de superação ou, muitas vezes, abandono. Contudo, o sociólogo não se contenta em defender a viabilidade e pertinência desse projeto. Pelo contrário, propõe uma solução alternativa para a crise da epistemologia através de uma leitura epistemológica da teoria da evolução darwiniana e sobretudo da filosofia da ciência de Karl Popper. Outro autor que aborda questões relevantes para estipular o que chamo aqui de origem das Guerras da Ciência (mesmo sem abordá-las diretamente) é o historiador italiano Carlo Ginzburg. Em dois momentos diferentes de sua obra, o autor se debruça sobre problemas intimamente relacionados aos que foram levantados nas disputas entre cientistas naturais e os estudiosos da ciência. Assim, o autor tece reflexões bastante valiosas sobre o pós-modernismo e suas origens culturais. O primeiro exemplo foi retirado do livro Olhos de madeira, no qual Ginzburg se propõe a analisar as tensões que a distância, literal e metafórica, impõe ao trabalho historiográfico e à crítica cultural, de forma mais ampla25. Em um dos ensaios que compõem o livro, Ginzburg examina a relação entre verdade e perspectiva. Para tanto, o autor parte do caso Sokal e, mais especificamente, de um comentário sobre o caso produzido pelo filósofo Paul Boghossian26. Para Boghossian, as abordagens relativistas defendiam um perspectivismo insustentável filosoficamente e inaceitável politicamente27. Segundo Ginzburg, o tema não tão simples e ―a argumentação que liga verdade e perspectiva merece uma análise mais séria, que examine tanto o componente metafórico como a história, que naturalmente começa antes do pós-modernismo‖28. Dono de vasta erudição histórica, Ginzburg retorna à tradição judaico-cristã, à exegese bíblica e à Nicolau Maquiavel para rever a história da perspectiva como metáfora cognitiva e concluir que o perspectivismo, tão caro a algumas vertentes da crítica contemporânea, não pode prescindir de um componente que o tornou tão poderoso no início da era moderna: a tensão entre o ponto de vista subjetivo e a objetividade garantida pela realidade29. No entanto, apesar da referência ao caso Sokal e do reconhecimento da pertinência das questões que ele suscita, Ginzburg não parece muito familiarizado com o tema, citando-o como uma forma de engrossar o coro contra o pós-modernismo. O segundo exemplo é a introdução à outra coletânea de artigos, na qual Ginzburg tenta combater algumas tendências historiográficas que se desenvolveram a partir de influências da 25 GINZBURG, Carlo. Olhos de madeira: Nove reflexões sobre distância. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. 26 GINZBURG, Carlo. Distância e perspectiva: duas metáforas. In: GINZBURG, Carlo. Olhos de madeira: Nove reflexões sobre distância. São Paulo: Companhia das Letras, 2001, p. 176-177. 27 BOGHOSSIAN, Paul. What the Sokal hoax ought to teach us? The pernicious consequences and internal contradictions of ―postmodernist‖ relativism, p. 14-15. 28 GINZBURG, Carlo. Distância e perspectiva: duas metáforas, p. 177. 29 GINZBURG, Carlo. Distância e perspectiva: duas metáforas, p. 197-198. 18 filosofia pós-moderna e que aproximaram a história aos gêneros literários ficcionais, supervalorizando seu componente narrativo e pondo em dúvida a capacidade da história produzir conhecimento verdadeiro e verificável sobre o passado30. Aqui, mais uma vez, o autor começa a sua história muito antes do pós-modernismo. Devotado a desmontar a estratégia pós-moderna de tornar irreconciliáveis as vinculações entre retórica e prova, o historiador mobiliza um largo espectro da cultura ocidental, localizando pontos onde essa relação foi sendo desvirtuada. Construindo uma rede de referências cruzadas, Ginzburg retoma Tucídides, Aristóteles, os diálogos entre Sócrates e os sofistas presente no Górgias de Platão, Nietzsche, Paul De Man, chegando até autores contemporâneos como Donna Haraway (no caso, autora contemporânea). Não é o caso de retomar toda a argumentação de Ginzburg a favor de uma recuperação da possibilidade do conhecimento histórico pelo rearranjo da vinculação entre retórica e prova. Quero ressaltar aqui o papel que ele atribuí ao Górgias. Ginzburg destaca a forma como Sócrates despreza a retórica e classifica-a como uma ―arte enganadora‖ ou como pura estratégia demagógica. Além disso, o historiador vê no Górgias uma brutal afirmação da lei do mais forte, introduzindo uma regra de organização política no âmbito das leis da natureza. Com efeito, ―o ataque contra a retórica lançado no Górgias nascia nesse clima [da política ateniense após a derrota na Guerra do Peloponeso] e com uma dura conotação antidemocrática‖31. Ao mesmo tempo, foi através da influência desse texto e sobretudo do diálogo entre Sócrates e Cálicles que Nietzsche, identificado sempre aos sofistas, se utilizou das noções da retórica para atacar as idéia clássica de verdade, identificando-a a um conjunto de metáforas que se estabeleciam como sólidas e vinculatórias por mera convenção. E essa perspectiva, afirma Ginzburg, teve severas implicações relativistas. Eis um dos tortuosos caminhos que ligam a filosofia grega clássica ao relativismo pós-moderno. Essa menção ao Górgias, contudo, deve ser especialmente notada por um motivo além do destacado acima, a saber: esse diálogo é peça central da argumentação de Bruno Latour a respeito das Guerras da Ciência. Embora Latour proponha uma leitura mais radical do Górgias, chegando a conclusões bastante diferentes daquelas alcançadas por Carlo Ginzburg. Para Bruno Latour, a invenção das Guerras da Ciência se encontra justamente nesse episódio tão célebre da história da filosofia na Grécia clássica, o diálogo entre Sócrates e 30 GINZBURG, Carlo. Introdução. In: GINZBURG, Carlo. Relações de força: história, retórica, prova. São Paulo, Companhia das Letras, 2002. 31 GINZBURG, Carlo. Introdução, p. 22. 19 Cálicles32. A posição de Latour diante desse diálogo é bastante curiosa. Explicitada da seguinte forma: Não estou lendo o Górgias como se fosse um estudioso grego (não estou, como se tornará penosamente claro), mas como se ele tivesse sido publicado alguns meses atrás na New York Review of Books como uma contribuição para as devastadoras Guerras na Ciência. Já em 385 a.C. ele trata do mesmo quebra-cabeça que associa a academia e as nossas sociedades atuais 33. O autor compara o diálogo grego ao comentário, já citado acima, escrito por Steve Weinberg sobre o caso Sokal, onde Weinberg ressalta que ―nossa civilização tem sido fortemente afetada pela descoberta de que a natureza é estritamente governada por leis impessoais‖ e que uma visão racional do mundo é necessária para proteger a humanidade34. Na voz de Latour: [O] que essas duas citações têm em comum, ao longo de um enorme intervalo de séculos, é o forte vínculo que ambas estabelecem entre o respeito pelas leis naturais impessoais, de um lado, e, a luta contra a irracionalidade, a imoralidade e a desordem política, de outro35. Ao inserir as ―leis naturais‖ na base da organização política, Sócrates e Cálicles compuseram o cenário no qual se desenrolariam as Guerras da Ciência, dois milênios e meio mais tarde. O que o autor pretende, ao analisar a invenção das Guerras da Ciência, é alterar radicalmente os termos no qual ela foi constituída. Subverter a configuração que ela assumiu nos debates que foram travados. Detido no exame do Górgias, Latour vai paulatinamente reforçando a noção de que a arenga é um acordo, não uma contraposição de pontos de vista. A disputa entre a Força, representada por Cálicles, e a Razão, encarnada por Sócrates, é uma falsa polarização, assim como a polarização entre os grupos ―pró-ciência‖ e os grupos ―anticientificistas‖ nas Guerras da Ciência. A encenação do diálogo esconde um trílogo: Sócrates e Cálicles (ou ―pró-ciência‖ e ―anticientificistas‖) contra a democracia. Dessa forma, Bruno Latour enquadra as Guerras da Ciência no espectro mais amplo de suas ambições intelectuais de propor significados radicalmente diferentes para as noções de ciência e de sociedade, de passar ao largo da dicotomia entre sujeito e objeto e de substituir o que ele chama de ―acordo modernista‖36. Desenhando um novo modelo teórico, Latour põe as Guerras da Ciência sob novos termos e se esquiva das acusações de integrar a horda de guerreiros ―anticientificistas‖ que lhe fora imputada. 32 LATOUR, Bruno. A invenção das Guerras na Ciência. O acordo de Sócrates e Cálicles. In: LATOUR, Bruno. A esperança de Pandora: ensaios sobre a realidade dos estudos científicos. Bauru: Edusc, 2001, p. 247-269. 33 LATOUR, Bruno. A invenção das Guerras na Ciência. O acordo de Sócrates e Cálicles, p. 249. No original inglês, Latour utiliza a expressão Science Wars, traduzida no livro ora como Guerras na Ciência, ora como Guerras da Ciência, que utilizo aqui. 34 WEINBERG, Steve. Sokal‘s Hoax, p. 11-15. 35 LATOUR, Bruno. A invenção das Guerras na Ciência. O acordo de Sócrates e Cálicles, p. 248. 36 Cf. LATOUR, Bruno. A esperança de Pandora: ensaios sobre a realidade dos estudos científicos. Bauru: Edusc, 2001. 20 Ao nos depararmos com as variadas soluções para a demarcação das origens das Guerras da Ciência, que já carregam consigo um pouco das explicações para as mesmas, percebemos as possibilidades que se abrem para o estudo desse fenômeno. Obviamente, os processos históricos não possuem limites intrínsecos. As relações causais, os limites e as articulações possíveis para cada fenômeno emergem da escrita da história, das escolhas de cada pesquisador. Essas escolhas, contudo, não são arbitrárias, ela são baseadas em critérios que dotam de pertinências as explicações históricas. Reconheço a multiplicidade das influências e a diversidade de ressonâncias intelectuais que vieram à tona nas Guerras da Ciência, não obstante, quero propor uma análise a partir de um recorte específico que obedece a seus próprios critérios. Meu objetivo é explorar as Guerras da Ciência como expressão de uma configuração sócio-histórica específica, mapeando como elas se inseriram no cenário intelectual do final do século XX. Essa inserção se dá sobretudo pela mobilização de temas e motivos que estavam presentes em toda uma série de ―controvérsias intelectuais contemporâneas‖. Esses debates se concentram em torno de temas extremamente caros à tradição filosófica moderna e à nossa compreensão do conhecimento e da ciência, tais quais as noções de verdade, realidade, objetividade. Os ―defensores da ciência‖, como Sokal, justificaram grande parte de seus discursos como uma tentativa de proteger essa tradição diante dos ataques de um perigoso inimigo, o relativismo. Não pretendo me aprofundar em discussões mais sistemáticas a respeito da possibilidade de uma teoria da verdade, ou das múltiplas formas de conexão entre conhecimento e realidade. O que me interessa examinar é como uma concepção de ciência vista como um fenômeno datado e localmente situado, isto é, imerso no dinâmico fluxo histórico e social, se choca com uma concepção que advoga pela autonomia (ao menos relativa) do conhecimento científico em relação à cultura que a cerca, configurando-se como um empreendimento ahistórico. Sobretudo, quero perceber como implicações e argumentos de ordem política foram mobilizados nessa contenda. Antecipo aqui um exemplo, que será retomado mais adiante, no Capítulo 2. Refiro-me à distinção argumentação de Alan Sokal e Jean Bricmont em torno da divisão entre ―fatos‖ e ―afirmação de fatos‖ (ou, dito de outra forma, entre conhecimento e realidade) 37. O fato, dizem os autores, é ―uma situação do mundo exterior que existe independentemente do 37 BRICMONT, Jean; SOKAL, Alan. Imposturas Intelectuais, p. 105-107. 21 conhecimento que temos (ou não temos) dela – em particular, independentemente de qualquer consenso ou interpretação‖38. Eles são, portanto, imutáveis, e, na medida em que há correspondência entre eles e uma teoria, ou uma ―afirmação de fatos‖, ela se torna verdadeira e, por conseguinte, ahistórica. O que nos permite concluir que, segundo essa visão, apenas as teorias falsas ou erradas tem história39. O exemplo, porém, vai ainda mais longe. Ao repreender um autor que ―confunde‖ essas duas instâncias em um livro de epistemologia destinado a professores de segundo grau, Sokal e Bricmont argumentam que ―uma pedagogia baseada nesta noção de ‗fato‘ não estimula o espírito crítico do estudante‖40. Pretensamente, ela diluiria, por extensão, as fronteiras entre verdadeiro e falso anulando as bases sobre as quais seria possível julgar o que quer que seja. Logo, e esse é um ponto central nas Guerras da Ciência, a única forma possível de atuação crítica no mundo é a partir de uma teoria da ciência comprometida com as noções tradicionais de verdade, realidade e objetividade, que mantenha inabalada a rígida distinção entre ―fatos‖ (acima das contingências históricas ou sociais) e ―afirmação de fatos‖ (contingentes apenas quando errados ou falsos). É importante ainda destacar que esse tema parecia resolvido nas análises sobre a ciência. As divisões epistemológicas e disciplinares que enquadravam a história e a sociologia do lado de fora dos debates sobre a ―verdade‖ e os ―fatos científicos‖ pareciam estáveis até a década de 1960, quando uma reorientação começa a tomar corpo. As Guerras da Ciência são, em alguma medida, respostas a essa reorientação disciplinar que tentarei traçar adiante. Para realizar tal esforço, me parece mais proveitoso partir de um escopo temporal mais reduzido. Ao contrário do que fizeram Renan Springer de Freitas ou Carlo Ginzburg, não pretendo retornar a períodos históricos muito distantes realizando longas genealogias intelectuais, nem, como Bruno Latour, abordar uma história de ritmo lentíssimo. Ao mesmo tempo, em meio à enxurrada de correntes conceituais, filiações teóricas e tradições filosóficas, é importante ter cautela ao distinguir os grupos que trato aqui, fugindo assim da confusão que Gross e Levitt e Sokal e Bricmont fazem ao tratar de forma homogênea posições díspares 41. Perceber esses grupos sob a forma de ―um nebuloso Zeitgeist‖42 ou enquadrá-los sob um rótulo frouxo como ―esquerda acadêmica‖, ignorando as nuances que existem entre eles é extremamente empobrecedor para a análise (embora, a meu ver, no caso específico de Sokal, 38 BRICMONT, Jean; SOKAL, Alan. Imposturas Intelectuais, p. 106. Como veremos adiante, uma posição bastante similar a essa foi sustentada pelos empiristas lógicos na primeira metade do século XX. 40 BRICMONT, Jean; SOKAL, Alan. Imposturas Intelectuais, p. 106. 41 GROSS, Paul; LEVITT, Norman. Higher Superstition e BRICMONT, Jean; SOKAL, Alan. Imposturas Intelectuais. 42 BRICMONT, Jean; SOKAL, Alan. Imposturas Intelectuais, p. 21. 39 22 Bricmont, Gross e Levitt, isso seja parte de uma estratégia de desqualificação). Utilizei até agora, de forma indiscriminada, a divisão das Guerras da Ciência em grupos ―pró-ciência‖ e ―anticientificistas‖. Mais adiante, tentarei mostrar como essas definições escondem uma pluralidade de perspectivas, detalhando as posições no interior de cada grupo. Diante dessa construção em negativo, delimitando de fora para dentro o recorte que pretendo definir para o objeto, devo agora passar a uma exposição mais detalhada do que pretendo realizar. Quero partir da guinada que reconfigurou os campos da filosofia, da sociologia e da história das ciências a partir do início dos anos 1960, prosseguindo no exame da nova visão de ciência que foi sendo construída principalmente ao longo dos anos 1970 e 1980. Nesse sentido, minha atenção estará concentrada nos autores que se dedicaram com mais intensidade às questões metodológicas ou epistemológicas, pontuando, eventualmente, as contribuições de autores que realizaram estudos de caso (históricos ou sociológicos) que deram suporte e volume às novas abordagens. Assim, pretendo seguir o tortuoso caminho que esses debates percorreram até aparecerem nas Guerras da Ciência – muitas vezes de forma turbulenta e truncada. É uma história que começa, grosso modo, com a publicação de A estrutura das revoluções científicas em 1962 por Thomas Kuhn. São Kuhn e seus herdeiros que vão ajudar a reformular os estudos sobre a ciência, primeiro nos autores da ―Escola de Edimburgo‖ e do ―Programa Forte‖, como David Bloor e Barry Barnes, e depois em torno do campo que se chamou de Science Studies. É por meio das obras oriundas desse grupo que virão as críticas mais contundentes à tradicional imagem de ciência sustentada durante muito tempo pela epistemologia e pelos cientistas de forma geral. E é justamente essa postura crítica que se torna o modelo hegemônico de estudos sócio-históricos da ciência, efetuando um deslocamento da sua posição. De contestadores mais ou menos dispersos, transformam-se em alvo da acusação de terem produzido abordagens danosas à ciência e à sociedade. Nesse sentido, os grupos ―pró-ciência‖ encararam as novas perspectivas como ataques à ciência ou à razão, que demandava uma reação enfática e urgente, sob pena de sucumbirmos no obscurantismo anticientificista. Pretendo explorar com mais cuidado as estratégias e os argumentos mobilizados. Destacarei alguns manifestos desse grupo, tais como os livros Higher Superstition e Imposturas Intelectuais. É claro que esses textos são expressão de um ambiente mais amplo e é possível ilustrar essa afirmação recorrendo a uma diversidade de outros textos e autores envolvidos nas Guerras da Ciência. O exame desse ambiente nos possibilita entender como os cientistas enxergavam os recentes estudos sobre a ciência, como eles davam significado à sua própria prática e que tipo de relação entre ciência e sociedade eles defendiam. 23 Por fim, depois de tornar mais nítidas as posições de cada grupo e as divergências que se desenham dentro deles, penso que será possível enxergar as Guerras da Ciência a partir de um novo prisma propondo-lhe uma interpretação um tanto diferente das até aqui realizadas. Enfatizarei como o fenômeno se desenrolou em torno de questões que não são apenas epistemológicas e como ele se conecta a uma diversidade de temas de relevo. Como tentarei demonstrar, as Guerras da Ciência trazem à tona questões de profundo alcance filosófico e político. O exame da sua história pode nos ajudar a entender melhor as relações entre a ciência e a sociedade no século XX. Sobretudo, como ela retoma as tensões decorrentes da relação entre cientistas e analistas da ciência, aclimatando-a ao panorama intelectual do final do século. Além disso, esse conjunto de questões aponta para uma articulação bastante peculiar entre a epistemologia e a atuação política. 24 Capítulo 1 Iconoclastas: a literatura de análise da ciência na segunda metade do século XX Entre os principais autores de história, filosofia ou sociologia da ciência na segunda metade do século XX é clara a noção de que esses campos precisavam passar por reorientações43. O avanço dessas disciplinas não poderia prescindir do abandono de velhas concepções teóricas e fórmulas metodológicas. Percebemos isso tomando como exemplo as aberturas de dois dos livros clássicos da área, A estrutura das revoluções científicas, de Thomas Kuhn e Conhecimento e imaginário social, de David Bloor. Kuhn começa seu livro asseverando que ―[s]e a História fosse vista como algo mais que um repositório para anedotas ou cronologias, poderia produzir uma transformação decisiva na imagem de ciência que atualmente nos domina‖44. O livro de Bloor começa de maneira surpreendentemente semelhante. ―A sociologia da ciência pode investigar e explicar o conteúdo e a natureza do conhecimento científico?‖, se questiona Bloor. E responde: ―[m]uitos sociólogos acreditam que não‖45. Podemos retirar desses exemplos muito do que seria o desenvolvimento da literatura de análise sobre a ciência nos trinta ou quarenta anos que se seguiram. O que percebemos aí é uma tomada de posição diante da filosofia da ciência praticada à época e às restrições que elas impunham às análises históricas ou sociológicas da ciência. Uma tentativa de mudança que se dá tanto no plano teórico-conceitual quanto no plano da organização política das disciplinas. A antiga hierarquia que punha a filosofia no topo, concedendo-lhe o papel de metaciência, começa a ruir e dar espaço para um novo arranjo. A história e a sociologia, que ocupavam lugar marginal na explicação da dinâmica da ciência, pretendem agora um lugar de destaque. 43 Aqui vale uma referência que é mais do que um mero detalhe. Muito tem se discutido sobre o abandono da categoria ―ciência‖ no singular, preferindo falar em ―ciências‖. Quero apenas indicar que, apesar de reconhecer a relevância dos argumentos a favor do emprego do termo no plural, sobretudo no que diz respeito à pluralidade dos campos disciplinares, mantenho o uso da categoria ―ciência‖, pois, me valendo do vocabulário de Wittgenstein, reconheço ―semelhanças de família‖ entre as diversas práticas científicas que permitem sua agregação em torno da palavra ―ciência‖. 44 KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas, p. 19. 45 BLOOR, David. Conhecimento e imaginário social. São Paulo: Editora Unesp, 2010, p. 15. 25 Essa reorganização epistemológica e disciplinar acontecerá sobretudo entre as décadas de 1960 e 1980. Essa transformação na literatura de análise sobre a ciência – especialmente aquela oriunda da história, da sociologia, da antropologia e da filosofia – contribuiu decisivamente para o acirramento da tensão que explodiria nas Guerras da Ciência. Nesse capítulo, pretendo me deter na reorientação sofrida por esses campos e, em especial, sua relação com as questões mobilizadas nas Guerras da Ciência. Para compreender propriamente os sentidos das análises sobre a ciência a partir do pós-1945, é fundamental entender contra o que eles se voltavam. Isto é, que tipo de visão orientava os estudos em história, filosofia e sociologia da ciência? Durante toda a primeira metade do século XX, as principais tentativas de explicação da ciência tinham por base a agenda positivista, organizada sistematicamente a partir dos anos 1920 através de filósofos, cientistas e até sociólogos reunidos no Círculo de Viena. Esse grupo, que reuniu nomes como Otto Neurath, Moritz Schlick e Rudolf Carnap, foi responsável pela elaboração de uma corrente filosófica denominada empirismo lógico, positivismo lógico ou ainda neopositivismo. Defendiam uma postura que poderíamos chamar de cientificista. Como apontam intérpretes recentes, a ―ciência era, nas suas mentes [dos empiristas lógicos], ao mesmo tempo o locus do nosso melhor conhecimento do mundo e a fonte de esperança para um futuro brilhante, menos obscuro e obscurantista para a filosofia‖46. Os membros do Círculo pretendiam, em primeiro lugar, estabelecer uma demarcação rígida entre o discurso científico e aquele da metafísica. Elaboraram uma teoria da ciência que destacava uma obediência estrita à formulação lógica da linguagem – que, assim, se blindava contra as deformações que a impediam de apreender a realidade – ao mesmo tempo em que imputavam aos dados empíricos o caráter de árbitro último da ciência 47. Daí derivaram as interpretações que se valem do que Alan Chalmers chamou de estratégia positivista. Segundo esse autor, a expressão se refere ao ―objetivo de defender a ciência por meio do recurso a uma explicação universal e não-histórica dos seus métodos e padrões‖48. Essa estratégia, contudo, não está circunscrita apenas aos filósofos definidos como positivistas. Mesmo autores que discordam do positivismo lógico em pontos fundamentais, como Karl Popper ou Imre Lakatos, adotam a estratégia positivista. Assim, os positivistas (e seus herdeiros) 46 RICHARDSON, Alan; UEBEL, Thomas. Introduction. In: RICHARDSON, Alan; UEBEL, Thomas (orgs.). The Cambridge companion to logical empiricism. Cambridge: The Cambridge University Press, 2007. p. 4. No original: ―Science was, to their minds, both the locus of our best knowledge of the world and the source of hope to a brighter, less obscure and obscurantist future for philosophy‖. Tradução minha. 47 CONDÉ, Mauro Lúcio Leitão. O Círculo de Viena e o Empirismo Lógico. Caderno de Filosofia e Ciências Humanas, Belo Horizonte, v. V, p. 98-106, 1995. Disponível em: http://www.fafich.ufmg.br/~mauro/art_mauro2.htm. Acesso em: 18 jun 2010. 48 CHALMERS, Alan. A fabricação da ciência. São Paulo: Editora Unesp, 1994, p. 15. 26 desenvolveram uma série de procedimentos através dos quais pretendiam demonstrar que a ciência era um empreendimento guiado por rígidos padrões metodológicos e cujo exame revelaria uma forma lógica universal de tratar os problemas da natureza e explicar a realidade. Nesse quadro, filosofia da ciência assumia uma dimensão altamente prescritiva. Sua tarefa seria a de estabelecer um ideal de ―boa ciência‖ sobre os quais pudessem se ancorar as práticas científicas, estabelecendo critérios para determinar o que deveria ser o método científico e mostrar de que forma a ciência poderia fazer avançar a territórios cada vez mais distantes a sua explicação do mundo natural49. Diante disso, cabia à história e à sociologia, disciplinas responsáveis por estudar o ―contexto‖, um papel secundário. A filosofia, disciplina do ―conteúdo‖, seria a única dotada das ferramentas e da destreza suficientes para operar no interior da produção científica. Depois que a filosofia expusesse tudo o que de importante havia para saber acerca do funcionamento da ciência, as disciplinas secundárias se encarregariam de estudar o que estava ―em volta‖ ou ―do lado de fora‖ da ciência. A historiografia da primeira metade do século aceitou esse papel sem constrangimento algum, reproduzindo o que foi apregoado pelos filósofos. Nem o internalismo nem o externalismo – duas das mais fortes correntes da historiografia das ciências entre as décadas de 1930 e 1960 – foram capazes de sugerir uma solução alternativa à proposta epistemológica dos neopositivistas. Com efeito, a disputa entre esses dois grupos, internalistas e externalistas, se dava pela prioridade da ocupação de um espaço epistêmico muito reduzido e afastado das preocupações efetivamente fundamentais. Uma vez que apenas a filosofia poderia alcançar o que verdadeiramente importante havia para se saber sobre as ciências, restava decidir entre fazer uma história do percurso das idéias científicas (perspectiva internalista) totalmente apartada de uma história das relações institucionais, financiamentos, filiações políticas ou extração social (perspectiva externalista)50. É intrigante que esses dois grupos tenham travado tão amarga disputa na primeira metade do século, a ―querela internalismo versus externalismo‖, quando possuíam muito mais pontos em comum – em relação à autonomia do conhecimento científico, ao papel 49 Para uma discussão da trajetória do ideal de boa ciência, especialmente no século XX, ver: SPRINGER DE FREITAS, Renan. A metodologia como carro-chefe da história da ciência. In: CONDÉ, Mauro Lúcio Leitão; FIGUEIREDO, Betânia Gonçalves (orgs.). Ciência, história e teoria. Belo Horizonte: Argvmentvm, 2005, p. 41-67. 50 MAIA, Carlos Alvarez. Cientificismo versus Historicismo: o desafio para o historiar as idéias. O hiato historiográfico. No prelo; SHAPIN, Steven. Discipline and bounding. The history and sociology of science as seen through the externalism-internalism debate. History of Science. Cambridge, vol. 30, 1992, p. 334-69; STENGERS, Isabelle. A invenção das ciências modernas. São Paulo: Editora 34, 2002, p. 51 e segs. 27 ―ornamental‖ da história das ciências – do que discordâncias, que residiam basicamente em função da ênfase dada a um ou outro aspecto51. Obviamente, mesmo durante o período de hegemonia das interpretações positivistas, algumas análises da ciência se constituíram sem levar e conta as restrições impostas pela corrente dominante ou até se apresentando diretamente como alternativas a ela. Esse é o caso, por exemplo, dos estudos de sociologia do conhecimento empreendidos por Karl Mannheim e da teoria da ciência proposta por Ludwik Fleck. Com efeito, as tentativas de Mannheim foram duramente atacadas ainda no início da década de 1930 pelos integrantes do Círculo de Viena e, especialmente, pela formulação das noções de ―contexto da descoberta‖ e ―contexto da justificativa‖, por Hans Reichenbach. Explicarei brevemente a proposta sociológica de Mannheim, para depois chegar à ―dicotomia de Reichenbach‖ e à obsolescência temporária do projeto de uma efetiva sociologia do conhecimento. Em 1929, Mannheim publicara a edição original alemã do seu livro Ideologia e utopia. A Alemanha vivia então um momento delicado, com a República de Weimar chegando aos seus estertores num clima de extrema tensão intelectual e é nesse ambiente que o livro emerge, propondo uma tentativa de explicação das teorias e expectativas políticas (a exemplo das ideologias e utopias) em termos sociológicos, que se voltam para as expressões dessas formulações conceituais em sua dimensão de ação, de prática social. No capítulo introdutório inserido na tradução inglesa da obra, Mannheim explicaria melhor sua posição ao tentar definir um conceito sociológico de pensamento: ―a finalidade desses estudos é investigar não como o pensamento aparece nos tratados de Lógica, mas como ele realmente funciona na vida pública e na política como instrumento de ação coletiva‖52. Essa busca leva a aproximação da sociologia do conhecimento com a sociologia política, na medida em que diferentes ideologias (pelo menos no que o autor chama de concepção total de ideologia53) pressupõem diferentes formas de conhecer o mundo. A sociologia do conhecimento seria então capaz de estudar as conexões entre determinada organização ou grupo social e as formas peculiares de concepção do mundo desenvolvidas por eles, isto é, os determinantes políticos e sociais do conhecimento. Para estudar o fenômeno político sob um prisma científico (das Ciências 51 Pierre Bourdieu localiza interpretações internalistas e externalistas em outras áreas para além da história da ciência, como os estudos sobre a arte ou a filosofia e tece críticas às duas posições polares, que dividiram, de modo artificial, o ―texto‖ e o ―contexto‖. Suas acusações mais contundentes são dirigidas ao internalismo que incorreria no ―fetichismo do texto autônomo‖ e descreveria o ―processo de perpetuação da ciência como uma espécie de partenogênese, a ciência engendrando-se a si própria, fora de qualquer intervenção do mundo social‖. BOURDIEU, Pierre. Os usos sociais da ciência: por uma sociologia clínica do campo científico. São Paulo: Editora UNESP, 2004, p. 19-20. 52 MANNHEIM, Karl. Ideologia e utopia. Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 1986, p. 29. 53 MANNHEIM, Karl. Ideologia e utopia, Capítulo II, especialmente p. 81-85. 28 Sociais), Mannheim se vê obrigado a discutir o que pode ser propriamente considerado como científico. Ele o faz da seguinte forma54: A diferença entre ―científico‖ e ―pré-científico‖ depende, naturalmente, do que pressupomos serem os limites da ciência. A esta atura, deveria estar claro que, até agora, a definição tem sido demasiado estreita, e que apenas determinadas ciências se tornaram, por motivos históricos, modelos do que uma ciência deveria ser. [...] Em época mais recente, o ideal de ciência tem sido o conhecimento matemática e geometricamente demonstrável, ao passo que tudo o que é qualitativo somente se admite como derivado do quantitativo. O positivismo moderno (que sempre manteve sua afinidade com a visão liberal-burguesa e que se desenvolveu neste espírito) aderiu sempre a este ideal de ciência e de verdade. [...] A primeira dimensão a ser deslocada por este estilo de pensamento racionalista moderno que, sociologicamente, se encontrava estreitamente vinculado à burguesia capitalista, foi o interesse pelo qualitativo. O que percebemos é que o autor não tem vergonha de atribuir certos modelos de racionalidade e cientificidade a grupos sociais específicos, embora não empreenda uma análise mais detalhada das formas como a relação se dê. Com efeito, Mannheim assume claramente sua postura ao asseverar que55: Não nos compete traçar aqui um exame detalhado do intercurso entre os movimentos políticos e as correntes da metodologia científica. Entretanto, a argumentação mostra, até agora, que a concepção intelectualista da ciência, subjacente ao positivismo, tem suas raízes em uma concepção de mundo (Weltanschauung) definida, e que se tem desenvolvido em estreita conexão com interesses políticos definidos. Assim, o sociólogo defende a vinculação entre o universalismo, enquanto critério de realidade e o cosmopolitismo democrático da burguesia, revelando ―um componente puramente sociológico no critério de verdade, que é o da exigência democrática de que estas verdades sejam as mesmas para todos‖56. Diante dessa compreensão, Mannheim me parece a um passo de uma afirmação que será retomada pela sociologia do conhecimento algumas décadas depois, a saber: que a definição de ciência é uma definição socialmente inscrita e politicamente dirigida, logo, passível de análise sociológica. Como já apontei, essa formulação teórica de Karl Mannheim será duramente criticada pelos empiristas lógicos e encontrará um adversário aparentemente imbatível na ―dicotomia de Reichenbach‖. Esse filósofo irá propor uma distinção epistemológica que indica uma distribuição de competências entre as disciplinas que pretendem abordar a ciência, a diferença entre ―contexto da descoberta‖ e ―contexto da justificativa‖. O primeiro é o responsável pelo que se chamou de ―reconstrução histórica‖ de um determinado evento ou processo científico. Esse tipo de explicação ficará à cabo da sociologia, da história ou da psicologia da ciência, tendo o papel secundário de mostrar em que condições, por exemplo, determinado pensador 54 MANNHEIM, Karl. Ideologia e utopia, p. 190-191. MANNHEIM, Karl. Ideologia e utopia, p. 191. Grifo meu. 56 MANNHEIM, Karl. Ideologia e utopia, p. 192. 55 29 chegou a uma descoberta ou à enunciação de uma nova lei ou de um novo princípio. Esse tipo de análise, contudo, nada tem a contribuir para a compreensão o desenvolvimento efetivo da ciência, uma vez que o ―contexto da descoberta‖ não nos informa sobre a verdade ou validade do que foi descoberto. Apenas através da ―reconstrução racional‖ é que se chegaria ao ―contexto da justificativa‖, que são as formas lógicas e epistemológicas de validação de uma teoria, enunciado ou descoberta. A ―reconstrução racional‖ e o ―contexto da justificativa‖ são domínios exclusivos da filosofia. A ela cabe dizer sobre a verdade ou a validade de uma ciência, a ela somente cabe a capacidade de julgar e distinguir o científico do não-científico, pré-científico ou pseudocientífico57. A instauração dessa distinção abalou as tentativas nascentes de constituição de uma sociologia do conhecimento que pudesse ser aplicável à ciência. A tese de Mannheim fora suplantada e os neopositivistas conseguiram impor sua interpretação e sua divisão epistemológica e disciplinar58. Se a obra de Karl Mannheim causou tanto impacto no cenário intelectual germanófono da década de 1930, a trajetória da contribuição do polonês Ludwik Fleck para as concepções contemporâneas de ciência é bastante diversa e deveras curiosa. O silêncio sobre esse autor durou quase trinta anos, mesmo seu livro tendo sido citado por Hans Reichenbach, onde Thomas Kuhn encontrou a referência que o levaria à Fleck59. Tendo se formado em medicina e exercido uma carreira bem sucedida como pesquisador de áreas como a imunologia, a sorologia, a bacteriologia e a hematologia, sobre as quais obteve alguns resultados experimentais de relevo e publicou mais de uma centena de artigos; Fleck se interessou de forma relativamente esporádica e assistemática pela epistemologia e por história e sociologia da ciência60. Sua produção reflexiva sobre a ciência se limitou a alguns artigos e um livro no qual analisa, a partir da história da sífilis, as condições histórico-sociais de produção dos fatos científicos. Em seu pequeno livro, Fleck 57 MAIA, Carlos Alvarez. Cientificismo versus Historicismo. O desafio para o historiar as idéias: O hiato historiográfico. No prelo; MAIA, Carlos Alvarez. Por uma História das Ciências efetivamente histórica. O combate por uma História Sociológica. Revista da SBHC. Número 7, 1992. Disponível em: http://www.sbhc.org.br/pdfs/revistas_anteriores/1992/7/debates_2.pdf. Acesso em: 14 jun 2010; SILVA, Francismary Alves da. Descoberta versus Justificativa: a Sociologia e a Filosofia do conhecimento científico na primeira metade do Século XX. Revista de Teoria da História. Ano 1, número 2, 2009. Disponível em: http://www.ufg.br/this2/uploads/files/113/Descoberta_versus_Justificativa.pdf. Acesso em: 14 jun 2010. 58 MAIA, Carlos Alvarez. A história da ciência é história? Explicando uma tautologia. ÁVILA, Gabriel da Costa (Org.) ; SILVA, F. A. (Org.) ; SILVA, Paloma Porto. Anais do I Encontro Nacional de Pesquisadores em História das Ciências - ENAPEHC. Belo Horizonte: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, 2010. 59 KUHN, Thomas. Foreword. In: FLECK, Ludwik. Genesis and development of a scientific fact. Chicago: The University of Chicago Press, 1979. pp. vi-xi. 60 CONDÉ, Mauro Lúcio Leitão. Paradigma versus estilo de pensamento na história da ciência. In: CONDÉ, Mauro Lúcio Leitão; FIGUEIREDO, Betânia Gonçalves. Ciência, história e teoria. Belo Horizonte: Argvmentvm, 2005, p. 123-146; TRENN, Thaddeus J. Preface. In: FLECK, Ludwik. Genesis and development of a scientific fact. Chicago: The University of Chicago Press, 1979, p. xiii-xix. 30 oferece uma alternativa às principais correntes da filosofia da ciência à época, dedicando especial atenção à crítica ao positivismo lógico. A teoria da ciência que desenvolve é bastante rica e sofisticada. Infelizmente, para Fleck, sua produção epistemológica não encontrou os caminhos da divulgação, tendo permanecido praticamente invisível durante quase três décadas. Com efeito, a primeira edição de Entstehung und entwicklung einer wissenschaftlichen tatsache, publicada em alemão, na Suíça, em 1935, não ultrapassou a tiragem de 640 exemplares, dos quais apenas aproximadamente 200 foram vendidos61. Um desses exemplares, contudo, foi parar na biblioteca da Universidade de Harvard, onde, no princípio da década de 1950, o então jovem Thomas Kuhn, começava a sua carreira na história e na filosofia da ciência. Quase uma década depois, Kuhn comentaria brevemente, no prefácio de A estrutura das revoluções científicas, que o livro de Fleck ―antecipa muitas das minhas próprias idéias‖ e que deve a Fleck ―mais do que me seria possível reconstruir ou avaliar nesse momento‖62. E a proximidade entre os pontos de vista é, algumas vezes, surpreendente. Se Kuhn tivesse realmente a capacidade de avaliar o quanto absorveu de Fleck provavelmente não teria dúvida de apontá-lo como uma das suas maiores referências teóricas, talvez a maior juntamente com Wittgenstein. Contudo, Kuhn não assumiu tão declaradamente essa relação. Para ele, a proximidade se devia a ocorrência de serendipismo, isto é, as semelhanças entre os dois seriam acidentais. De todo modo, foi a referência de Kuhn ao autor polonês que renovou o interesse de diversos pesquisadores nesse autor quase desconhecido. No final dos anos 1970, seu livro ganhou uma edição em inglês patrocinada pelo influente sociólogo da ciência Robert Merton e com um posfácio escrito por Thomas Kuhn. Assim, nos anos 1980, Fleck inicia sua fama póstuma (ele morreu em 1961), se tornando cada vez mais citado como figura importante na história e na sociologia da ciência, especialmente no campo das ciências da vida e da saúde63. Mas o que fez com que ao trabalho de Fleck não fosse reconhecido na época de sua publicação? Com certeza, as dificuldades de inserção no circuito de produção acadêmica pesaram. Ele era um médico que atuava com pesquisa em microbiologia no interior da Polônia, relativamente afastado dos grandes centros de divulgação de filosofia da ciência à época, como Viena. Seu livro foi publicado pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial, quando a Polônia foi invadida. Ainda assim, acredito que as causas para o fracasso 61 TRENN, Thaddeus J. Preface, p. xviii. KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas, p. 11. 63 Atualmente, existem também edições em espanhol, italiano, francês e português. 62 31 de divulgação da obra epistemológica de Fleck sejam também intelectuais. A teoria da ciência que o autor propunha o distanciava das correntes dominantes das décadas de 1930 e 1940 e o aproximava das correntes que emergiriam a partir dos 1970 e 1980, quando seu esforço foi plenamente reconhecido. Em linhas gerais, poderíamos dizer que a teoria da ciência de Fleck se apóia em dois pressupostos básicos. Por um lado, a noção, assimilada por Thomas Kuhn, de que a ciência era um empreendimento coletivo e que as relações sociais no interior da comunidade de especialistas (o ―coletivo de pensamento‖) influenciavam a forma como se organizavam as estruturas cognitivas (o ―estilo de pensamento‖). Ao mesmo tempo, Fleck defendia um construtivismo lingüístico e suspeitava da leitura objetivista presente nas interpretações positivistas. No seu livro, é a própria noção de fato científico que é posta à prova. Os fatos não existem enquanto entidades absolutas, como queriam os empiristas lógicos, eles dependem sempre de condições históricas específicas para emergirem. Os fatos são construídos no interior dos diferentes ―estilos de pensamento‖. Como assevera o autor: ―it is not possible to legitimize the ‗existence‘ of syphilis in any other than a historical way‖64. Essa construção, contudo, não lhes retira o realismo. A realidade, ou a verdade, para Fleck, não são meras convenções. O saber científico, para Fleck, é uma construção coletiva porque não somos capazes de registrar observações a respeito do mundo sem carregá-las de significados que são, em sua maioria, compartilhados socialmente65. Essa epistemologia fleckiana não conseguiu vingar num ambiente onde dominava o positivismo66. O que vemos então é que mesmo os autores que são citados com mais deferência pelos novos estudiosos da ciência não conseguiram fazer frente ao positivismo de forma sistemática, embora tenham se esforçado para tanto. 64 FLECK, Ludwik. Genesis and development of a scientific fact, p. 23. ―Não é possível legitimar a ‗existência‘ da sífilis de outra maneira que não seja histórica‖. Tradução minha. 65 FLECK, Ludwik. Genesis and development of a scientific fact. e MAIA, Carlos Alvarez. Realismo científico e construtivismo sócio-lingüístico em Bruno Latour e Ludwik Fleck. In: VII ESOCITE Jornadas Latino-Americanas de Estudos Sociais das Ciências e das Tecnologias. Rio de Janeiro: ESOCITE, 2008 Disponível em: www.necso.ufrj.br/esocite2008/trabalhos/35929.doc. Acesso em: 22 abril 2010. 66 Para uma apreciação obra de Fleck, ver, além dos trabalhos já citados: FLECK, Ludwik. Gênese e desenvolvimento de um fato científico: introdução à doutrina do estilo de pensamento e do coletivo de pensamento. Belo Horizonte: Fabrefactum Editora, 2010; CONDÉ, Mauro Lúcio Leitão. Prefácio à edição brasileira. Um livro e seus prefácios: de pé de página a novo clássico. In: FLECK, Ludwik. Gênese e desenvolvimento de um fato científico: introdução à doutrina do estilo de pensamento e do coletivo de pensamento. Belo Horizonte: Fabrefactum Editora, 2010. p. vii-xvi; LÖWY, Ilana. Ludwik Fleck e a presente historiografia da ciência. História, ciências, saúde – Manguinhos. vol I, n. 1, 1994. p. 7-18; MAIA, Carlos Alvarez. Humanos e não-humanos simétricos? E o ser histórico, como fica? Anais do XIX Encontro Regional de História: Poder, Violência e Exclusão. ANPUH/SP – USP. São Paulo, set 2008 e PARREIRAS, Márcia Maria Martins. Ludwik Fleck e a historiografia da ciência. Diagnóstico de um estilo de pensamento segundo as ciências da vida. Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2008. 32 Curiosamente, o ―contexto‖ sofreu transformações tais que possibilitaram às disciplinas secundárias, como a sociologia ou a história, a chance de dissolver a própria distinção entre ―conteúdo‖ e ―contexto‖ – tão cara ao procedimento filosófico pautado pelo positivismo –, tanto no plano epistemológico, quanto no político. Os exemplos de Thomas Kuhn e David Bloor, que abrem esse capítulo, são pertinentes para essa análise porque, além da postura intelectual semelhante, ambos os autores são produtos de movimentos de institucionalização e profissionalização da história e da sociologia da ciência, que começa a ganhar força após a Segunda Guerra Mundial como parte de um esforço de aproximação entre as ciências e o público mais amplo. Na transição entre os séculos XIX e XX, a física passou por uma grave crise. De repente, os cientistas que achavam que todas as leis fundamentais já haviam sido enunciadas e que a tarefa da física era apenas expandir essas explicações a outros domínios – principalmente aos fenômenos que ocorriam em escala subatômica – se viram diante de incongruências entre a teoria e a experimentação. Contudo, tão rápido quanto a crise se instalou, ela começou a ser solucionada. Desse processo surgiram dois conjuntos teóricos fundamentais para o desenvolvimento das ciências físicas no século XX: a teoria da relatividade e a mecânica quântica67. Essas teorias escaparam do domínio que poderíamos chamar de ―puramente científico‖ e se difundiram pelo senso comum. Espalhavam, junto com elas, a crença no gênio humano e na ciência. Em paralelo, surgiram as filosofias neopositivistas, carregando muito do entusiasmo que se espalhou à época. Esse entusiasmo, contudo, não durou muito. Durante a Segunda Guerra Mundial, a ciência se tornou cada vez mais próxima dos interesses bélicos. A terrível imagem do cogumelo atômico explodindo sobre Hiroshima não pode ser pensada sem lembrarmos da colaboração de físicos e engenheiros. O envolvimento dos cientistas com o esforço de guerra e a percepção dos horrores dos quais a ciência é capaz foram um duro golpe no imaginário de muitos que depositavam as esperanças na ciência como redentora dos homens. Eric Hobsbawm resumiu bem a questão: ―[n]enhum período da história foi mais penetrado pelas ciências naturais nem dependente delas do que o século XX. No entanto, nenhum período, desde a retratação de Galileu, se sentiu menos à vontade com elas‖68. Esse paradoxo é muito mais fortemente sentido ao fim da Segunda Guerra. 67 KRAGH, Helge. Quantum generations: a history of physics in the twentieth century. Princeton: Princeton University Press, 1999. 68 HOBSBAWM, Eric. A era dos extremos: o breve século XX. 1914-1991. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, p. 504. 33 E é essa estranha sensação de desconforto em relação à produtos culturais do qual nos tornamos totalmente dependentes, ciência e tecnologia, que parece animar grande parte dos esforços de aproximação entre a ciência, a tecnologia e o grande público. Havia a necessidade de renovar a imagem da ciência, abalada. De um lado, isso se deu através da tentativa de implementar um novo modelo de educação científica para não-cientistas. Por outro lado, havia uma preocupação em dotar os cientistas de uma noção de ciência, digamos, mais humana. Esses projetos pareciam ser uma forma de lidar com o mal-estar em relação à ciência que se apossou do mundo ocidental após 1945. Nos Estados Unidos, uma das principais vozes em torno das propostas de mudanças na educação científica foi o químico James Bryant Conant. Figura influente no ambiente político norte-americano, Conant foi presidente de Harvard durante duas décadas, entre 1933 e 1953, participou ativamente da organização científica dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra e foi representante do governo norte-americano na Alemanha Ocidental durante quatro anos em meados da década de 1950. Além disso, atuou largamente na reforma dos currículos em Harvard e, depois, nas reformas no sistema das high school dos EUA. Pouco antes do fim da guerra, Conant encampa um processo de reforma curricular nos cursos de graduação de Harvard, através da produção do General Education Program. Lançado na forma de livro em 1945, com o título General Education in a Free Society, o modelo de reforma proposto em Harvard acabou por influenciar reformas curriculares em toda a rede universitária americana durante décadas. Nesse projeto de reforma, a história da ciência ganhou um papel de destaque nas disciplinas de ciências que eram ministradas para todos os alunos que ingressavam na universidade. Com essa reformulação, vários jovens professores, formados nas ciências naturais, começaram a ter contato com a história e a filosofia da ciência para lecionarem nessas disciplinas de formação básica. Foi o caso, por exemplo, de Thomas Kuhn, que reconheceu a importância dessas disciplinas de introdução de ciências aos não-cientistas na sua própria formação intelectual. Mais do que isso, Kuhn considerava James Conant como uma espécie de mentor que o havia introduzido na história da ciência69. Na Grã-Bretanha, as reformas na educação científica têm início nos anos 1960, no âmbito de um projeto de ampliação da estrutura universitária britânica. Em meio à esse 69 BARTLETT, Paul D. James Bryant Conant. 1893-1978. A biographical memoir. Disponível em: books.nap.edu/html/biomems/jconant.pdf. Acesso em: 22 jul 2010. Ver também o breve resumo da atividade de Conant à frente da Universidade Harvard na página da própria universidade, disponível em: http://www.president.harvard.edu/history/23_conant.php. Acesso em: 21 jul 2010; MATTHEWS, Michael R. História, filosofia e ensino de ciências: a tendência atual de reaproximação. Cadernos Catarinenses de Ensino de Física, v. 12, n. 3: p. 164-214, dez. 1995 e KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. p. 9-10. 34 processo, e bastante influenciados pelo alerta lançado por C. P. Snow ao apontar para a falta de comunicação entre as ―duas culturas‖, multiplicaram-se os esforços no sentido de aproximar esses dois conjuntos intelectuais. Assim, nasceu, em 1964, o Science Studies Unit da Universidade de Edimburgo, que pretendia fornecer aos estudantes de engenharia uma visão mais ampla da atividade científica, englobando pesquisadores de várias áreas, como a sociologia, a história, a psicologia ou a filosofia. Entre esses jovens pesquisadores estavam David Bloor, Barry Barnes e, mais tarde, Steven Shapin, que se tornariam figuras chave na construção de novos modelos de compreensão da ciência. O que vemos, então, é que esses autores – Kuhn, Bloor, Shapin, Barnes e etc – surgem numa conjuntura singular, oferecendo novas respostas para velhos problemas da relação entre ciência e sociedade. Havia espaço para a especulação em torno da busca de novas soluções. Havia um ―ambiente de contestação‖. Havia espaço para a percepção da necessidade de repensar as relações que a ciência estabelece com outras esferas da vida social. Agora que já montamos o cenário, passemos à ação. Como esses autores atacaram esses problemas? Que soluções propuseram? Que imagem da ciência pode ser depreendida do trabalho deles? E, finalmente, como essas abordagens desaguaram nas Guerras da Ciência? Antes de começar, é preciso esclarecer um ponto. As abordagens que conviveram, se entrecruzaram e, inclusive, foram alvo das críticas dos grupos ―pró-ciência‖, são diversas, partindo de referenciais teóricos distintos, com objetivos distintos e produzindo análises que levaram a conclusões bem distintas. Isso causou tensões, contrastes, disputas, impasses. À medida que o texto avança, tentarei deixar em evidência essas nuanças. Contudo, entendo também que há uma certa identidade que une esse grupo, que também será ressaltada ao longo do texto. Como já indiquei acima, considero como marco da inflexão sofrida na literatura de análise sobre a ciência a publicação, em 1962, do livro de Thomas Kuhn A estrutura das revoluções científicas. Ao propor uma teoria da ciência baseada nas noções de ―paradigma‖, ―ciência normal‖, ―revoluções científicas‖ e ―incomensurabilidade‖ Kuhn se afastou das interpretações que se valem da estratégia positivista, gerando descontentamento entre a grande maioria dos filósofos da ciência e abrindo espaço para novas maneiras de interpretar a atividade científica. Muitos autores assinalaram a contribuição pioneira de Kuhn. Escrevendo vinte anos após o lançamento de A estrutura das revoluções científicas, quando a filosofia da ciência ainda se recuperava do golpe infligido por Kuhn e arriscava, timidamente, novos caminhos, Ian Hacking não economiza ao caracterizar o impacto da obra. Segundo Hacking, o livro de Thomas Kuhn foi responsável por instaurar uma ―crise de 35 racionalidade‖ na filosofia contemporânea. Ao insistir na historicidade da ciência – que havia, segundo Hacking, sido mumificada pelos filósofos da ciência até então – Kuhn abalou as convicções que haviam guiado as interpretações sobre a ciência. É a história que produz a crise; somente incorporando um olhar histórico às questões filosóficas será possível encontrar solução para a crise70. Porém, já em 1992, o impacto da obra de Kuhn não parecia mais tão grande. A ciência já estava às voltas com uma nova ―crise de racionalidade‖ advinda das análises críticas sobre a ciência. Percebendo o acirramento dessa tensão – que daria lugar, em pouco tempo, às Guerras da Ciência –, Isabelle Stengers retorna à Kuhn como para mostrar que, trinta anos antes, a dimensão social da ciência já havia sido ressaltada. A autora resume assim a proposta kuhniana71. Não, afirmava Kuhn, o cientista praticante de uma tal ciência não é a ilustração gloriosa do espírito crítico e da racionalidade lúcida que os filósofos tentavam caracterizar por seu intermédio. O cientista faz o que aprendeu a fazer. Ele trata os fenômenos que parecem cair sob o âmbito de sua disciplina segundo um ―paradigma‖, um modelo prático e teórico a um só tempo, que se impõe a ele pela força da evidência, em relação ao qual sua possibilidade de recuo é mínima. Pior, já que cada paradigma define as questões legítimas e os critérios pelos quais são identificadas as respostas aceitáveis, é impossível construir uma terceira posição, ―fora de paradigma‖, a partir da qual o filósofo poderia avaliar os méritos respectivos das posições conflitantes (tese da não-comensurabilidade). Pior ainda, a submissão do cientista ao paradigma da sua comunidade não é um defeito. Segundo Kuhn, é a ela que devemos o que chamamos de ―progresso científico‖, a forma cumulativa de avançar, graças ao qual cada vez mais fenômenos tornam-se inteligíveis, tecnicamente controláveis e teoricamente interpretáveis. Para Stengers, a diferença que fez com que a obra de Thomas Kuhn não fosse tomada como ameaçadora pelos cientistas, embora, tenha sido considerada perigosa pelos filósofos, está na autonomia que Kuhn reserva à comunidade científica em relação ao ambiente social que a cerca. Ao mesmo tempo, preservando a autonomia dos cientistas e deslocando a explicação do sucesso da ciência do campo da lógica para o terreno dos ―paradigmas‖, Kuhn retira dos filósofos qualquer pretensão de explicação privilegiada da atividade científica72. Mudam os problemas, mudam as interpretações. Terry Shinn e Pascal Ragouet consideram Thomas Kuhn um autor ―de encruzilhada‖, situado na fronteira entre dois momentos bastante marcantes para a sociologia da ciência, objeto de estudo dos autores em questão73. 70 HACKING, Ian. Representing and intervening: introductory topics in the philosophy of natural sciences. Cambridge: Cambridge University Press, 1983. 71 STENGERS, Isabelle. A invenção das ciências modernas, p. 12. 72 STENGERS, Isabelle. A invenção das ciências modernas, p. 17. 73 RAGOUET, Pascal; SHINN, Terry. Controvérsias sobre a ciência: por uma sociologia transversalista da atividade científica. São Paulo: Editora 34 e Associação Filosófica Scientia Studia, 2008. 36 Com efeito, Shinn e Ragouet partem da caracterização de duas formas distintas de praticar a sociologia da ciência. De uma parte, uma perspectiva sociológica diferenciacionista, dominante entre os anos 1940 e os anos 1960 (ou, entre as obras de Robert Merton e Thomas Kuhn). Essa perspectiva propunha que a ciência se constitui numa forma de apreensão da realidade epistemologicamente superior a outras formas conhecidas (tais como a religião, a metafísica ou a ideologia) e, por isso, não podia ser objeto de análise sociológica, cabendo à sociologia da ciência apenas o estudo da dimensão institucional da atividade científica. Essa abordagem pode ser vista como a representante sociológica da estratégia positivista, uma vez que ela segue a hierarquização epistemológica e disciplinar proposta pelos filósofos positivistas e se contenta, deliberadamente, em estudar os fatores externos da ciência. A segunda perspectiva sociológica, para a qual Kuhn marca a passagem, é antidiferenciacionista. Ela ignora o tabu imposto pelos diferenciacionistas e se atreve a estudar o conteúdo cognitivo da ciência. Nega a dupla divisão proposta pela epistemologia tradicional. A ciência não é mais tomada como um conjunto superior de conhecimentos sobre a realidade, tampouco são os cientistas tomados como indivíduos especiais, dotados de um distanciamento em relação à sociedade ou à política. O que Shinn e Ragouet pretendem é ―dialetizar‖ essas duas perspectivas em uma terceira, chamada de transversalista, na qual se mantém tanto a autonomia relativa da ciência (proposta pelos diferenciacionistas) quanto sua vinculação à outros campos sociais (conforme defendem os antidiferenciacionistas). Em meio a um cenário já tão distante ao que Kuhn travou sua batalha contra os filósofos, A estrutura das revoluções científicas já não é mais vista como capaz de criar uma ―crise de racionalidade‖. Não que ele perca a sua importância, mas ela se reveste de outro significado. Agora ele é visto como um autor que realizou a transição entre as duas perspectivas74. As transformações pelas quais a literatura crítica sobre a ciência atravessou desde a publicação do livro de Thomas Kuhn nos fizeram enxergar a contribuição desse autor de formas diversas. Os exemplos de autores que fazem menção ao impacto decisivo de Kuhn para o desenvolvimento posterior das interpretações sobre a ciência poderiam ser facilmente multiplicados. No entanto, quero aqui chamar a atenção para uma estratégia de exposição que empurra essa contribuição para uma posição absolutamente marginal. Trata-se de um extenso e influente artigo, escrito por Dominique Pestre e publicado originalmente na revista dos 74 RAGOUET, Pascal; SHINN, Terry. Controvérsias sobre a ciência, p. 47-57. 37 Annales em 1995. No ano seguinte, o artigo foi traduzido para o português com o título, Por uma nova história social e cultural das ciências: novas definições, novos objetos, novas abordagens75. Nesse texto, o autor faz um balanço bibliográfico da produção no campo da história, da sociologia e da antropologia da ciência, comparando a inflexão ocorrida nesses campos a aquela pela qual passou a história por ocasião da constituição da escola dos Annales no final dos anos 1920 e começo dos anos 1930. A comparação da renovação da história pelos Annales com a renovação dos estudos sobre a ciência tem uma intenção evidentemente política76. Para Pestre, ―a partir da metade dos anos 1980, a História das Ciências conheceu uma profunda renovação. Mais precisamente, conheceu uma inflexão que encontra suas origens nas abordagens contestatórias desenvolvidas a partir do início dos anos 1970 e que visa redefinir a natureza das práticas científicas‖77. Assim, continua o autor, ―[n]um certo sentido, guardadas as proporções devidas para uma disciplina de menor amplitude, a História das Ciências se encontra hoje numa posição homóloga àquela que prevaleceu nos anos 1930 pra a História em seu conjunto‖78. Nesse artigo, Kuhn é citado apenas marginalmente como um dos autores que apontam para dimensões tácitas ou implícitas do aprendizado científico, reduzindo sua influência a uma questão meramente pontual. Pestre abre espaço, assim, para construir uma nova genealogia para os recentes estudos sobre a ciência, tomando como ponto de partida os esforços do grupo de David Bloor na Universidade de Edimburgo. Recortes como o de Pestre não são, contudo, consensuais. Pelo contrário, a maioria das opiniões indicam para Kuhn um papel de destaque. E isso pode, com efeito, ser avaliado de várias formas. Tanto em termos mais quantitativos, como a expressiva vendagem de A estrutura das revoluções científicas, quanto em termos qualitativos, como a reação que causou nos filósofos da ciência à época. Num nível mais pedestre, poderíamos também lembrar que o termo paradigma, difundido através da obra kuhniana, se popularizou de forma assustadora e uma noção rudimentar da 75 PESTRE, Dominique. Por uma nova história social e cultural das ciências: novas definições, novos objetos, novas abordagens. In: Cadernos IG/UNICAMP, Campinas, v. 6, n. 1, 1996, p. 3-56. 76 Como se sabe, o movimento dos Annales se inicia por meio da colaboração de um grupo de jovens historiadores franceses, liderados por Marc Bloch e Lucien Febvre, que fundaram em 1929 uma revista destinada a difundir um novo tipo de investigação histórica que se desvinculava da história política baseada nos ―grandes homens‖, nos governantes, etc. A partir de então, sob o signo dos Annales, a história ampliou brutalmente seus domínios disciplinares, passou a dialogar mais intensamente com outras ciências humanas, alargou o espectro dos seus objetos, diversificou seus temas e incluiu novos problemas. 77 PESTRE, Dominique. Por uma nova história social e cultural das ciências: novas definições, novos objetos, novas abordagens, p 4. Grifo meu. 78 PESTRE, Dominique. Por uma nova história social e cultural das ciências: novas definições, novos objetos, novas abordagens, p. 5. 38 mudança de paradigmas pode ser encontrada em discursos políticos, palestras motivacionais corporativas ou chamadas publicitárias. Espero ter deixado claro, até aqui, o quanto o trabalho de Kuhn foi representativo. No entanto, o que pretendo esclarecer nesse capítulo é a relação da obra de Kuhn com a Guerra das Ciências. Nesse sentido, as críticas mais duras feitas a Kuhn quando do lançamento do seu livro praticamente se repetiram quase três décadas depois (talvez, parafraseando Marx, como farsa). Tanto Karl Popper quanto Alan Sokal apontam para os perigos do relativismo presente em A estrutura das revoluções científicas. De minha parte, não acredito que Kuhn fosse realmente um relativista, contudo, é necessário examinar com mais cuidado a rica teoria da dinâmica do desenvolvimento da ciência proposta por Kuhn para perceber em que sentido ela pode ser entendida como relativista. Segundo Kuhn, a prática científica pode ser dividida basicamente em dois momentos, a ―ciência normal‖ e a ―ciência revolucionária‖. A ciência normal diz respeito à atividade cotidiana da maioria dos cientistas e é regida por um ―paradigma‖, compartilhado por uma comunidade científica. Antes de qualquer coisa, a ciência normal se resume à resolução de quebra-cabeças, teóricos, matemáticos (no caso da maioria das ciências) ou experimentais. É o paradigma que define o conjunto legítimo de problemas (ou quebracabeças) a serem resolvidos por uma determinada disciplina, englobando todo um vasto conjunto de tradições associadas a uma tal ciência e se tornando uma espécie de unidade fundamental para o desenvolvimento científico. Como nos ensina Kuhn, ―a pesquisa científica normal está dirigida para a articulação daqueles fenômenos e teorias já fornecidos pelo paradigma‖79. O paradigma, portanto, é uma unidade conservadora, avessa à incorporação de novos problemas. Quando isso ocorre, e um novo problema entra em cena, estamos diante de uma anomalia. As anomalias ameaçam o paradigma vigente e forçam os limites da ciência normal. Diante disso, somos levados a um período de instabilidade, pois o modo tradicional de proceder não é mais capaz de responder aos problemas. O modo normal, cumulativo, de avanço científico é interrompido e instaura-se uma crise. A resolução dessa crise virá através de uma ―revolução científica‖, que deixa de ser, como era para Koyré, um fenômeno único e isolado na história da ciência e se torna muito mais corriqueiro. A utilização do termo no plural (presente já no título do livro) é reveladora dessa nova concepção. Para Kuhn, revoluções científicas são ―aqueles episódios de desenvolvimento não-cumulativo, nos quais 79 KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas, p. 45. 39 um paradigma mais antigo é total ou parcialmente substituído por um novo, incompatível com o anterior‖80. ―Incompatível com o anterior‖ ou incomensurável. É essa noção de incomensurabilidade que vai implicar em muitas das conseqüências relativistas que os críticos de Kuhn (e também alguns dos seus seguidores) irão lhe atribuir. Ela significa que, depois de uma revolução científica, os cientistas habitam um mundo diferente. Isto é, os mesmos fenômenos, os mesmos dados empíricos, a mesma experiência, serão agora lidos de forma inteiramente diferente de acordo com o novo paradigma que se instala na comunidade. Duas comunidades científicas operando em regime de ciência normal sob a égide de paradigmas distintos não serão capazes de entender uma à outra e nem de julgar os avanços proporcionados pelo novo paradigma. Sendo incomensuráveis, os paradigmas kuhnianos não oferecem ao desenvolvimento da ciência um parâmetro para que possamos medir o ―progresso efetivo‖ do conhecimento científico. Sendo mais específico, a teoria da ciência kuhniana rompe com a idéia teleológica de progresso científico, propondo uma ciência que seja ―empurrada por trás‖ e não ―puxada pela frente‖81. Isto é, o que define o avanço de uma ciência, após uma revolução, por exemplo, é a sua capacidade de solucionar mais problemas, muitos dos quais não podiam ser resolvidos pelo antigo paradigma. Os cientistas não estariam comprometidos com a busca por uma ciência ideal, última, perfeita. O que se pretende apenas é um paradigma mais eficiente que o anterior na resolução de quebra-cabeças. Em vista disso, a idéia da ciência como a ―busca da verdade‖ e a necessidade da incorporação da verdade na ciência são abandonados por Kuhn, que encerra sua obra com reflexões em torno desse tema. O autor então se pergunta82: Não poderemos explicar tanto a existência da ciência quanto seu sucesso a partir da evolução do estado dos conhecimentos de uma comunidade em um dado momento? Será realmente útil conceber a existência de uma explicação completa, objetiva e verdadeira da natureza, julgando as realizações científicas de acordo com a sua capacidade para nos aproximar daquele objetivo último? As respostas a essas perguntas virão através da comparação dessa teoria da ciência com a teoria da evolução das espécies por meio da seleção natural, como havia sido proposta por Charles Darwin. O darwinismo explica a evolução como um processo adaptativo através do qual os seres vivos irão, paulatinamente, desenvolvendo ferramentas mais eficientes para lidar com o ambiente que os cerca. Essa teoria não pressupõe um fim determinado ao qual as 80 KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas, p. 125. Grifo meu. Kuhn utilizaria essa metáfora em outro texto, trinta anos depois. Cf. KUHN, Thomas. O problema com a filosofia histórica da ciência. In: KUHN, Thomas. O caminho desde A estrutura: ensaios filosóficos, 19701993, com uma entrevista autobiográfica. São Paulo: Editora UNESP, 2006. 82 KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas, p. 213-214. 81 40 espécies estariam destinadas. Assim seria também a teoria da ciência esboçada por Kuhn. O único critério que possuímos para afirmar que a espécie humana é ―melhor‖ do que alguma espécie de hominídeo, como o Australopithecus afarensis, por exemplo, é a maior capacidade de adaptação do Homo sapiens, isto é, na sua capacidade de responder satisfatoriamente à condições impostas pelo ambiente. Da mesma forma, o paradigma einsteiniano só pode ser considerado ―melhor‖ que o paradigma newtoniano na medida em que é capaz de responder satisfatoriamente a uma quantidade maior de problemas, ou seja, na medida em que coloca um número maior de quebra-cabeças sob a sua, digamos, jurisdição. Não há como afirmar que o paradigma einsteiniano é ―mais verdadeiro‖, mais ―próximo da realidade‖ do que o paradigma newtoniano. Essa dimensão pragmática da teoria da ciência de Thomas Kuhn foi assimilada, contudo, à dimensão relativista extraída da tese da incomensurabilidade dos paradigmas, que trará à obra de Kuhn implicações filosóficas com as quais o próprio autor teria que se haver. Com efeito, à história, já esboçada acima, das diversas interpretações possíveis para a obra de Kuhn ao longo dos anos desde a sua publicação, pode ser acrescentada outra, paralela, que é a história das leituras que o próprio autor efetuou de sua obra ao longo dos anos. Grande parte do resto da vida intelectual de Thomas Kuhn foi ocupada com tentativas de rever e refinar alguns pontos-chave presentes em A estrutura das revoluções científicas. Bernardo Jefferson de Oliveira e Mauro Lúcio Leitão Condé, por exemplo, mostraram como as críticas de Kuhn à historiografia da ciência que se desenvolve no rastro aberto por sua produção levaram-no a aproximar-se ainda mais de suas influências teóricas iniciais, Ludwig Wittgenstein e Ludwik Fleck83. Não quero me alongar muito nesse tema, pretendo apenas mostrar alguns aspectos da reelaboração de Kuhn provenientes da primeira realização expressiva nesse sentido, que aparece já em 1969, no famoso posfácio que aparece na segunda edição do livro em língua inglesa (e que havia sido especialmente preparado para ser incluído na tradução japonesa da obra). Como sabemos, esse posfácio é em grande parte motivado pelas críticas dirigidas ao livro de Kuhn logo após a sua publicação. Em 1965, um congresso internacional de filosofia da ciência organizado em Londres reuniu alguns dos principais nomes da área, como Karl 83 CONDÉ, Mauro Lúcio Leitão; OLIVEIRA, Bernardo Jefferson de. Thomas Kuhn e a nova historiografia da ciência. Ensaio – pesquisa em educação em ciências, Belo Horizonte, v. 04, n. 02, 2002. Disponível em: www.fae.ufmg.br/ensaio/v4_n2/4214.pdf. Acesso em: 12 abril 2009. 41 Popper, Imre Lakatos e Stephen Toulmin, num debate em torno do livro de Kuhn 84. Em resposta, Kuhn retornará a algumas das principais questões presentes em sua obra e – embora afirme que seu ponto-de-vista não tenha sido significativamente alterado e que a maioria dos problemas suscitados por sua obra não advieram da sua teoria da ciência, mas, especialmente, de ―dificuldades e mal-entendidos‖ – dará a elas um novo tratamento85. Curiosamente, a ―dimensão pragmática‖ à qual me referi não sofrerá grandes alterações por parte de Thomas Kuhn, que concentrará seu foco nas críticas de relativismo e irracionalismo que lhe foram imputadas. Agora, parece que o papel de Thomas Kuhn nas Guerras da Ciência está mais claro. As interpretações da ciência que ―arrepiaram‖ os cientistas têm origem, em larga medida, nas formulações propostas em A estrutura das revoluções científicas. Em resumo, poderíamos afirmar que, embora Thomas Kuhn não fosse um relativista, seus críticos não estão desprovidos de razão quando apontam para as implicações relativistas decorrentes da teoria da ciência que ele propõe. Em alguma medida, foi justamente essa dimensão da obra de Kuhn que acabou por sobreviver. De um lado, como um legado aos seus herdeiros que abraçaram uma forma mais radical de relativismo e de construtivismo. De outro lado, nas produções posteriores do próprio Kuhn, que tentou resolver as dificuldades impostas por sua teoria da ciência até o fim da vida. Nesse sentido, a trajetória de Thomas Kuhn é irônica. Ele, que surge para a filosofia da ciência como um contestador, relativista, ―potencialmente perigoso‖, se tornará, como veremos, porta-voz de um certo conservadorismo, denunciando atitudes que considerava relativistas, agindo em defesa da ciência. O desenvolvimento posterior da literatura crítica sobre a ciência levará a uma radicalização das posições de Thomas Kuhn de forma tal que farão com que o autor não reconhecerá nelas a sua contribuição (pelo menos não da forma intensa como os próprios autores responsáveis pela radicalização reconheceram). A questão da relação de Kuhn com seus herdeiros será retomada mais adiante. Por enquanto, seguirei apenas com os herdeiros, especialmente aqueles que não se contentaram em aplicar a teoria da ciência proposta por Kuhn, mas que tiveram como objetivo superá-la. Obedecendo aos critérios dessa pesquisa, isto é, tendo em mente os autores cujas implicações nas Guerras da Ciência foram de algum modo significativas, o próximo passo 84 Os anais desse congresso foram publicados depois em forma de livro: LAKATOS, Imre e MUSGRAVE, Alan (orgs.). A crítica e o desenvolvimento do conhecimento: quarto volume das atas do Colóquio Internacional sobre Filosofia da Ciência, realizado em Londres em 1965. São Paulo: Cultrix, 1979. 85 KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas, p. 217 e segs. 42 depois da inflexão sugerida por Kuhn se encontra nos trabalhos de dois autores: o filósofo Paul Feyerabend e, especialmente, o sociólogo David Bloor. Apesar da riqueza da sua filosofia da ciência, tratarei apenas brevemente de Feyerabend, porque acredito que sua participação nas Guerras da Ciência é relativamente marginal. Geralmente, como mostrarei mais adiante ao analisar os argumentos dos grupos ―pró-ciência‖, as referências feitas a ele são isoladas do conjunto da sua obra, operação bastante perigosa e quase sempre fadada ao fracasso, principalmente se temos em vista a complexidade das formulações do autor e os intrincados labirintos propostos em sua reflexão. Antes de iniciar a discussão, é preciso lembrar que estou me pautando aqui basicamente na obra mais importante de Paul Feyerabend, a saber, seu livro Contra o método. Essa ressalva é importante, pois esse livro não representa integralmente o pensamento do autor. Ele é – como qualquer livro – parcial, datado e carrega consigo as marcas do seu tempo. Sendo mais preciso, o Contra o método foi escrito inicialmente como parte de uma publicação dupla, onde Feyerabend e seu amigo Imre Lakatos apresentariam suas visões sobre a ciência (que eram em muitos pontos opostas). Assim, Lakatos deveria escrever um livro gêmeo ao de Feyerabend, supostamente ―a favor‖ do método. No entanto, Lakatos faleceu e seu livro nunca veio à tona. Feyerabend então publica a ―sua parte‖ da obra, deixando sempre clara essa condição86. O livro, então, se propõe a uma crítica ao racionalismo na filosofia da ciência, o qual deveria ser substituído por um ―anarquismo epistemológico‖. Para Feyerabend, a filosofia da ciência cometia um grave erro ao tentar fixar padrões rígidos de comportamento aos cientistas como requisito para o desenvolvimento da ciência, isto é, ao tentar enquadrar a prática científica dentro do ―método científico‖ clássico. Essa tentativa seria castradora da capacidade criadora da ciência e acarretaria em prejuízos ao livre desenvolvimento da ciência. Ao comentar a formação científica baseada na busca de unificação metodológica que exclui do seu campo a grande maioria das condições culturais nas quais se encontram imersos os cientistas, Feyerabend deixa claro o seu ponto de vista. Passemos a ele a palavra87. É possível, assim, criar uma tradição que se mantém una, ou intacta, graças à observância de regras estritas, e que, até certo ponto, alcança êxito. Mas será desejável dar apoio a essa tradição, em detrimento de tudo mais? Devemos conceder-lhe direitos exclusivos de manipular o conhecimento, de tal modo que quaisquer resultados obtidos por outros métodos sejam, de imediato, ignorados? Essa é a indagação a que pretendo dar resposta neste ensaio. E minha resposta será um firme e vibrante NÃO. 86 FEYERABEND, Paul. Contra o método: esboço de uma teoria anárquica da teoria do conhecimento. Rio de Janeiro: Francisco Alves Editora, 1977, p. 11. 87 FEYERABEND, Paul. Contra o método, p. 20-21. 43 O que o autor defende então é que a investigação científica não pode se limitar a obedecer a um único tipo de protocolo metodológico. A ciência não teria, assim, uma lógica própria e, como pudemos perceber no excerto acima, Feyerabend utiliza um estilo bastante enfático para convencer-nos do seu argumento. Esse estilo enfático, contudo, lhe rendeu algumas complicações. É graças a ele, por exemplo, que o autor lança uma assertiva que acabaria se tornando, a contragosto, um slogan da sua filosofia: tudo vale88. Enunciado ao final do primeiro capítulo como o único princípio realmente seguido pelos cientistas ao longo da história, essa afirmação acabou fazendo com que Feyerabend fosse visto como um relativista radical, disposto a por fim a qualquer critério para a atividade científica e jogando-a na vala comum das opiniões, equiparada à metafísica, religião, ideologia. Obviamente, esse tipo de afirmação causou repulsa nos cientistas e filósofos da ciência – especialmente aqueles comprometidos com alguma forma de racionalismo ou vinculados à estratégia positivista – e ecoou nos discursos inflamados dos defensores da ciência nas guerras que estavam por vir, significando sempre o mais tresloucado relativismo, o mais perigoso assédio à ciência e à razão. Combinou-se ainda com o estilo polêmico do autor e com sua insistência no ―anarquismo epistemológico‖. Uma leitura mais atenta pode nos indicar um outro caminho para interpretar a famosa assertiva. Como afirmei acima, o argumento de Feyerabend era sustentado, muitas vezes pelo seu estilo enfático. No entanto, isso não significa que não haja uma argumentação bem estruturada e firmemente baseada em análises históricas e reflexões filosóficas da ciência que sirvam de base para sua defesa de uma epistemologia que abandone a idéia de um método científico único. É na história que Feyerabend vai buscar os exemplos que lhe permitem generalizar. Cedendo de novo a palavra ao autor89. A idéia de conduzir os negócios da ciência com o auxílio de um método, que encerre princípios firmes, imutáveis e incondicionalmente obrigatórios vê-se diante de considerável dificuldade, quando posta em confronto com os resultados da pesquisa histórica. Verificamos, fazendo um confronto, que não há uma só regra, embora plausível e bem fundada na epistemologia, que deixe de ser violada em algum momento. O recurso à história, insiste Feyerabend, mostrará que essas operações de infração das regras metodológicas coercitivas no interior da ciência não ocorrem como casos pontuais nem incorrem em fraudes ou falhas. Elas são essenciais ao progresso científico. É através da violação dessas regras que é possível explorar um campo novo. O aparecimento de vários avanços na ciência se deve ao abandono voluntário das normas de conduta que se impõe ao 88 89 FEYERABEND, Paul. Contra o método, p. 34. FEYERABEND, Paul. Contra o método, p. 29. 44 cientista. Ademais, a idéia de que o cientista seria capaz de seguir à risca um método ―fundase, afirma Feyerabend, em uma concepção demasiado ingênua do homem e de sua circunstância social‖90. Desse modo, o anarquismo epistemológico é, a um só tempo, historicamente evidenciado, vantajoso ao desenvolvimento da ciência e mais realista em relação à condição humana e à história. A recusa ao método único não significa, no entanto, a recusa de métodos. Pelo contrário. Segundo Ana Carolina Regner, a teoria da ciência de Feyerabend pressupõe um ―pluralismo metodológico‖ que se apóia em uma busca por critérios válidos91. O tudo vale não pode ser visto como um princípio prescritivo que equipara enunciados sem critérios. Ele é uma constatação histórica que se constitui como um libelo libertário contra a prisão racionalista e, sobretudo, contra a tradição do empirismo lógico. A ciência não deve operar sem critérios, diria Feyerabend, mas, ao mesmo tempo, não pode operar sob a égide de critérios únicos. Deve haver alternativa. O cientista deve ser capaz de explorar com criatividade todos os domínios que estiverem ao seu alcance em busca de soluções para os problemas que se lhe apresentam. Ao ler o Contra o método a partir dessa chave, é possível salvar Feyerabend das acusações de relativismo radical ou de ―terrorismo epistemológico‖ das quais tinha sido julgado culpado nas Guerras da Ciência (embora nunca tenha se tornado centro do debate). Contudo, muitos cientistas e filósofos cujo compromisso com a ciência implica na defesa de um método científico, de uma racionalidade e de uma lógica, não estarão nunca convencidos de que os conselhos de Feyerabend são bons para o desenvolvimento da ciência. Pelo contrário, eles continuarão insistindo que esse tipo de perspectiva é extremamente danoso ao futuro da pesquisa científica e nossa capacidade de compreender a realidade. Se Kuhn já havia sido tomado como relativista ao propor uma teoria da ciência que se desenvolve à par das concepções tradicionais de ―verdade‖ ou ―progresso‖, Feyerabend será julgado com ainda mais rigor, ao esboçar uma filosofia da ciência que recusa a principal tarefa a ela designada pelos positivistas, que era a de determinar o ―ideal de boa ciência‖, ou seja, a metodologia que seria capaz de proporcionar à ciência maior sucesso. Poucos anos depois da publicação de Contra o método, contudo, um outro livro contribuiu para o rearranjo disciplinar em torno da ciência que estava em curso desde a inflexão representada aqui por Thomas Kuhn. Trata-se do já citado Conhecimento e imaginário social, manifesto 90 FEYERABEND, Paul. Contra o método, p. 34. REGNER, Ana Carolina K. Feyerabend e o pluralismo metodológico. Epistéme: Filosofia e História das Ciências em Revista. Porto Alegre, v.1, n.2, 1996, p. 61-78. 91 45 programático de David Bloor, publicado originalmente em 1976 e recém traduzido no Brasil92. Com efeito, Bloor vai formular sistematicamente seu novo modelo de tratamento metodológico para abordar a ciência, denominado ―programa forte na sociologia do conhecimento‖. Essa abordagem apresentada no livro de Bloor representava, grosso modo, os esforços coletivos desenvolvidos no âmbito do Science Studies Unit da Universidade de Edimburgo e que reunia nomes como Barry Barnes, David Edge e Steven Shapin; por isso esse modo de praticar a sociologia do conhecimento científico ficou conhecido também como ―Escola de Edimburgo‖. Já indiquei brevemente, no início desse capítulo, que esse era um esforço de tomada de posição frente à filosofia da ciência que adotava a estratégia positivista e sua influência na definição do papel da sociologia e da história da ciência. No âmbito mais específico da sociologia da ciência, o ―programa forte‖ contrapõe-se à sociologia de matriz norte-americana, que tem em Robert Merton seu protagonista. A interpretação mertoniana focava na análise do ethos científico, formado a partir de normas e valores compartilhados entre os cientistas, tomando as relações institucionais da ciência como objeto da sociologia. Assim, Merton e seus seguidores instauram um modelo que Pascal Ragouet e Terry Shin chamaram – como já indiquei – de diferenciacionista, que aceitando a superioridade epistêmica da ciência e demarcação proposta pela estratégia positivista, assumia a sociologia como uma disciplina que deveria limitar seu campo de análise às questões institucionais. O que o ―programa forte‖ propõe, radicalizando uma posição que havia sido esboçada por Thomas Kuhn, é redefinir as esferas de atuação legítimas de cada disciplina e, especialmente, tornar a sociologia capaz de expandir seu campo de interpretação em direção ao conhecimento científico. Para tanto, foi preciso enfrentar essa tradição sociológica e filosófica e propor, em seu lugar, uma alternativa. Tentarei explicitar como Bloor procedeu nessas tarefas. Em primeiro lugar, quero voltar à citação de Bloor que fiz logo no início deste capítulo e estendê-la, para melhor entendê-la. É uma citação um pouco longa, mas que nos dará oportunidade de medir a extensão da tarefa à qual essa nova sociologia da ciência se dispunha. Vejamos então93: A sociologia da ciência pode investigar e explicar o conteúdo e a natureza do conhecimento científico? Muitos sociólogos acreditam que não. Eles dizem que o conhecimento enquanto tal, distinto das circunstâncias ao redor de sua produção, está além do seu alcance. Voluntariamente, limitam o alcance de suas próprias investigações. Argumentarei que isso constitui uma traição do ponto de vista de sua 92 93 BLOOR, David. Conhecimento e imaginário social. BLOOR, David. Conhecimento e imaginário social, p. 15. 46 disciplina. Todo conhecimento, ainda que se encontre nas ciências empíricas ou mesmo na matemática, deve ser tratado, de modo exaustivo, como material para a investigação. As limitações que ocorrem aos sociólogos consistem em entregar algum material para as ciências afins, como a psicologia, ou depender de pesquisas realizadas por especialistas de outras disciplinas. Não existem limitações que repousem sobre o caráter absoluto ou transcendente do próprio conhecimento ou sobre a natureza especial da racionalidade, da validade, da verdade ou da objetividade. Diante dessa convocação para que os sociólogos avancem, efetivamente, em direção ao conhecimento científico, Bloor vai esquematizar seu método de modo a ―armar as mãos‖ dos que porventura pretendam assumir o combate. Antes, porém, é preciso marcar o território, afastar-se das concepções de ciência ostentadas por outras disciplinas94. A definição apropriada do conhecimento será, portanto, bem diferente daquelas oferecidas pelo leigo ou pelo filósofo. Em vez de defini-lo como crença verdadeira – ou, ainda, crença verdadeira justificada –, para o sociólogo o conhecimento é tudo aquilo que as pessoas consideram conhecimento. Desse modo, o autor define conhecimento – científico inclusive – simplesmente como crença compartilhada, passível de ser analisada pela sociologia como qualquer outro corpo de crenças. Dado esse passo, serão propostos princípios de método que servirão de balizas para a exploração do objeto. E é nesses princípios – causalidade, imparcialidade, simetria e reflexividade – que consiste o ―programa forte‖. A causalidade determina o foco da pesquisa nas condições que ocasionam o conhecimento (sobretudo as de origem social); a imparcialidade faz com que o pesquisador não tome como passíveis de explicação apenas os casos de fracasso ou irracionalidade, a razão e o sucesso também precisam ser examinados; a simetria – provavelmente o princípio mais frutífero e influente, como iremos ver – leva ao extremo a imparcialidade ao insistir que tanto as crenças verdadeiras quanto as falsas devem ser explicadas pelos mesmos tipos de causas; por fim, a reflexividade exige que o investigador aplique os princípios anteriores à sua própria pesquisa e ao corpo de crenças que dela pode emergir, assim, Bloor tenta evitar que a sociologia do conhecimento desloque o privilégio epistêmico que retirou da ciência para o seu próprio campo e, com isso, refute as suas próprias teorias. Ao mesmo tempo, esses princípios metodológicos expõem outra divergência fundamental entre a sociologia do conhecimento científico e a filosofia da ciência ou a epistemologia tradicional; o sociólogo que aceite essas indicações se nega à pretensão de definir regras prescritivas para as ciências, assumindo uma postura descritiva, que visa compreender a ciência como produto de uma configuração sócio-histórica95. Como o 94 BLOOR, David. Conhecimento e imaginário social, p. 17. DUARTE, Tiago Ribeiro. O programa forte e a busca de uma explicação sociológica das teorias científicas: constituição, propostas e impasses. Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de PósGraduação em Sociologia da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2007, p. 41 e segs. 95 47 ―programa forte‖ vai, então, operar no interior do conhecimento científico? Que implicações essas operações terão para a nossa noção de ciência? Concentrarei minha análise no conceito de simetria, uma vez que ele prosperou como chave explicativa e serviu como signo de unidade para os Science Studies, corrente interdisciplinar que se estruturou a partir de meados dos anos 1970, impulsionada pelos esforços da Escola de Edimburgo e que desempenhou um papel importante no prosseguimento das Guerras da Ciência. A noção de simetria, que implica na tentativa de imputar as mesmas causas tanto aos conhecimentos tidos como verdadeiros como a aqueles tomados por falsos, retirava da sociologia a posição incômoda de se contatar em ser uma disciplina do ―erro‖. Isto é, enquanto admitimos que as causas para as teorias científicas bem sucedidas repousam na racionalidade das mesmas e em sua forma de conexão privilegiada com a realidade, nada resta ao sociólogo senão explicar que causas levaram atores sociais à ―desvios‖, ―erros‖ ou ―falhas‖96. O postulado da simetria abre mão da explicação racionalista e pretende atribuir causas sociais também às teorias verdadeiras, aos conhecimentos científicos bem estabelecidos; a racionalidade e a verdade não podem – para o sociólogo que pretende atacar legitimamente o problema do conhecimento científico – ser causas suficientes para a adoção de uma teoria ou aceitação de um postulado. São essas características que fazem da simetria o conceito central da explicação da sociologia do conhecimento científico de David Bloor e permitem que ele assuma a tarefa de atacar o ―‗coração‘ da atividade científica‖ 97. É a simetria a principal responsável por tornar ―forte‖ o ―programa forte‖. Além disso, é esse princípio que permite que Bloor se posicione na paisagem filosófica assumindo um ―relativismo metodológico‖. E a argumentação em favor do relativismo como uma necessidade da pesquisa é um tanto polêmica, pois, ao definir seu relativismo como o abandono dos juízos acerca da veracidade ou validade do conhecimento que põe sob exame, Bloor inclui Popper e Kuhn no rol dos relativistas. Ele defende ainda que o que pretende é fazer a sociologia proceder como outras ciências empíricas. ―Proceda apenas como as demais ciências e tudo estará bem‖, afirma Bloor98. Contudo, embora tenha alcançada ampla repercussão e estimulado uma nova geração de pesquisadores, o ―programa forte‖ sofre duras críticas. Chamarei a atenção para a crítica de 96 SHAPIN, Steven. History of science and its sociological reconstructions. History of science. Cambridge, n. 20, 1982, p. 157-211. 97 DUARTE, Tiago Ribeiro. O programa forte e a busca de uma explicação sociológica das teorias científicas, p. 13. 98 BLOOR, David. Conhecimento e imaginário social, p. 235. 48 dois autores importantes para a minha análise. De uma lado, Thomas Kuhn, de quem Bloor se considera um herdeiro. Por outro lado, Bruno Latour, protagonista da geração posterior à do ―programa forte‖. Essas críticas tem em comum o papel de destaque dado aos problemas advindos da simetria adotada por Bloor, porém divergem no tratamento e nas possíveis soluções. Enquanto Kuhn assume uma postura conservadora diante da questão, Latour pretende avançar a explicação propondo o ―princípio de simetria generalizada‖. Examinemos, então, as formulações particulares de cada um. ―Estou entre aqueles que consideram absurdas as afirmações do programa forte: um exemplo de desconstrução desvairada‖, escreveu Kuhn99. Mas que motivos ele teria para um repúdio tão violento? O que seria tão descabido e digno de rejeição no princípio de simetria? A resposta parece repousar no que Kuhn chama de ―negociação‖ e nas suas implicações filosóficas. Segundo ele, o ―programa forte‖ colocaria todo o peso da explicação da ciência nos processos sociais de decisão, nesses processos, que constituem a negociação, parece só haver espaço para disputas de poder e interesse, abrindo mão de explicações que levassem em conta a verdade e a racionalidade na dinâmica de estabelecimento das crenças científicas. Em face das explicações simétricas ―a natureza, seja lá o que for isso, parece não ter papel algum no desenvolvimento das crenças ao seu respeito‖100. Apesar de admitir as dificuldades filosóficas impostas por esse tipo de interpretação, e perceber a conexão dela com o campo aberto por seu próprio trabalho, Kuhn não parece estar muito claro a respeito de qual deve ser o caminho para evitar os problemas que aponta. Sua proposta reside numa imagem mais evolutiva do progresso científico, um tipo de darwinismo epistemológico que o aproxima das formulações de Ludwik Fleck101. Essa imagem tem pontos de contato com o ―programa forte‖, pois nega que a ciência se aproxime cada vez mais da verdade. A noção de verdade como um fim é abandonada por Kuhn ao defender uma ciência que progride ―empurrada por trás‖, evoluindo a partir de certos problemas e de desafios específicos e não em direção a algum objetivo final definitivo como a verdade ou a realidade. Ao mesmo tempo, ela pretende que há lugar nesse processo para algo mais do que as negociações, a natureza deve fazer parte desse jogo102. Essa crítica é extremamente semelhante a que foi feita por Latour, mas, apesar do acordo no que parecia ser o ponto fraco do ―programa forte‖, o tipo de solução desenvolvida 99 KUHN, Thomas. O problema com a filosofia histórica da ciência, p. 139. KUHN, Thomas. O problema com a filosofia histórica da ciência, p. 139. 101 CONDÉ, Mauro Lúcio Leitão; OLIVEIRA, Bernardo Jefferson de. Thomas Kuhn e a nova historiografia da ciência. 102 KUHN, Thomas. O problema com a filosofia histórica da ciência, p. 141-145. 100 49 foi bastante diferente. Para Bruno Latour, a perspectiva do ―programa forte‖ superava uma primeira assimetria – aquela que existe entre o conhecimento verdadeiro e o falso – mas deixava intacta uma segunda assimetria – entre natureza e sociedade. Para superar a segunda assimetria é preciso então propor o ―principio de simetria generalizada‖. Sua expressão mais bem estruturada aparece no clássico ensaio Jamais fomos modernos, embora ela já esteja presente de forma clara no manual metodológico Ciência em ação103. Nesse livro, ao descrever suas regras metodológicas, Latour aponta – como fez Bloor – que nunca podemos usar a natureza como causa e fundamento para explicar uma controvérsia científica104, ao mesmo tempo – e superando Bloor – ele defende também que nunca podemos usar a sociedade como causa ou fundamento para explicar a resolução de uma controvérsia científica105. Assim, tanto a natureza quanto a sociedade são consequências da resolução de controvérsias e a ciência as constrói na sua dinâmica. Assim Latour critica o ―programa forte‖ por considerá-lo ainda assimétrico. ―Construtivista para a natureza, é realista para a sociedade‖, assevera o autor francês106. É conveniente ter chegado a Latour por meio da crítica ao ―programa forte‖, pois ele sintetiza, para os cientistas envolvidos nas Guerras da Ciência, todo o grupo dos Science Studies e das novas abordagens da ciência consideradas irracionalistas e anticientíficas. Por isso, é oportuno examinar as contribuições de Latour ao debate. Não chegarei, contudo, a tratar especificamente do Jamais fomos modernos – que é sem dúvida um dos mais belos trabalhos de Bruno Latour e um manifesto filosófico a favor dos Science Studies – simplesmente porque ele foi pouquíssimo citado por seus críticos durante os embates das Guerras da Ciência. Examinarei sobretudos a imagem de ciência que emerge dos trabalhos de Latour publicados entre o final da década de 1970 e o final da década de 1980, ou, mais especificamente, entre Vida de laboratório e Ciência em ação. Assim como Thomas Kuhn e David Bloor haviam tentado forçar os limites das explicações da história ou da sociologia em direção ao conhecimento científico, Bruno Latour e Steve Woolgar irão adotar uma postura similar em relação à antropologia e à etnografia no livro Vida de laboratório. Esse estudo é resultado de uma pesquisa de campo realizada por Latour – que passou dois anos (entre 1975 e 1977) no Instituo Salk observando as atividades cotidianas dos cientistas para depois juntar-se a Woolgar e dar forma às suas anotações. É 103 LATOUR, Bruno. Jamais fomos modernos: ensaio de antropologia simétrica. São Paulo: Editora 34, 2008 e LATOUR, Bruno. Ciência em ação: como seguir cientistas e engenheiros sociedade afora. São Paulo: Editora Unesp, 2004. 104 LATOUR, Bruno. Ciência em ação, p. 164. 105 LATOUR, Bruno. Ciência em ação, p. 237. 106 LATOUR, Bruno. Jamais fomos modernos, p. 95. 50 uma manobra ousada, estudar os cientistas em um prestigiado laboratório de neuroendocrinologia como se fosse uma tribo exótica perdida em uma ilha do Pacífico Ocidental. Era um desafio, pois ―ciência da periferia, a antropologia não sabe voltar-se para o centro‖107. Esse era, porém, um momento oportuno para a empreitada, pois, aliada à renovação dos estudos sobre a ciência, estava a crise da antropologia. Expulsa de seu campo tradicional, desalojada de seu papel de aliada do Estado colonial nas empreitadas imperialistas com os processos de independência que ocorriam na África e na Ásia; assistindo à extinção de seu objeto preferido, os ―povos primitivos‖, à margem da modernidade. É o momento da ―volta para casa‖ e busca por novos objetos era uma questão de sobrevivência da disciplina. Para tanto, eles vão expandir suas fronteiras disciplinares para dentro das suas próprias fronteiras nacionais, procurando, nos seus recantos, grupos que tenham algo em comum com seu objeto ideal. Buscam os não-modernos que se escondem no interior mesmo da modernidade e encontram os camponeses, com suas superstições encantadas, seus sistemas de troca à margem do mercado. Aos poucos, vão chegando timidamente à cidade, aos guetos. Mas a passagem para um grupo de cientistas de ponta é efetivamente um salto. Que tipo de análise da ciência pode resultar de tão inusitada (até aquele momento, pelo menos) experiência? A proposta de realizar um estudo sobre a ciência a partir de uma perspectiva antropológica já carrega muitas implicações. Os autores estão cientes disso tentam explicitar essa questão. Assim, surge a figura do ―observador‖ que, ao contrário do que acontecia com a antropologia tradicional, compartilha a mesma cultura do grupo que pesquisa, embora não domine totalmente o repertório utilizado pelos especialistas. Isto é, seria impossível para Latour (que realizou a pesquisa de campo) desvincular-se totalmente da imagem de ciência que adquiriu antes de entrar no laboratório; ao mesmo tempo, é preciso evitar reproduzir aquilo que os cientistas dizem sobre suas próprias práticas. Para ―dar sentido àquilo que observa e registra‖108, o observador precisa adotar uma postura cética em relação à imagem de ciência que possuía e aos discursos ―oficiais‖ da ciência, ocupando ―uma posição intermediária entre a do noviço (caso ideal inexistente) e a do membro da equipe‖109. Está mais claro então como esse observador irá proceder. Ele vai recortar, escolher, selecionar aquilo que lhe parece dar sentido a um determinado conjunto de práticas. Assim, os autores pensam ser possível ―descrever os diferentes estágios da construção dos fatos, como se o 107 LATOUR, Bruno; WOOLGAR, Steve. Vida de laboratório: a produção dos fatos científicos. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1997, p. 18. 108 LATOUR, Bruno; WOOLGAR, Steve. Vida de laboratório, p. 35. 109 LATOUR, Bruno; WOOLGAR, Steve. Vida de laboratório, p. 36. 51 laboratório fosse uma usina onde fatos são objetos produzidos em uma linha de montagem‖110. Essa imagem nos dá uma boa noção de qual era o sentido que eles enxergavam na ciência. Essa etnografia da construção dos fatos científicos se apóia em bases teóricas bastante diversas. A tradição epistemológica francesa, especialmente Bachelard, se faz bastante presente, combinada com um uso instrumental e localizado, mas certamente importante, de algumas noções da filosofia de Derrida; a micro-sociologia aparece em alguns momentos quase como obrigatória em função do recorte escolhido (um pequeno grupo e seus diversos tipos de relação e interação social, sua estrutura, etc.) e alguma coisa, mas não tanto quanto pudesse parecer à primeira vista, da nova sociologia da ciência que remete ao ―programa forte‖. Tudo isso dentro do esquadro antropológico, fazendo surgir uma interpretação singular da ciência. O resultado será uma visão da ciência como uma atividade de construção de fatos e, por conseguinte, da própria realidade. Os cientistas trabalham em função da consolidação dos seus argumentos prendendo-os a redes cada vez mais estáveis e transformando-os cada vez mais em fatos sólidos, ―isso significa que a atividade do cientista é dirigida, não para a ‗realidade‘, mas para essas operações realizadas sobre enunciados‖111. Horror dos horrores para a maioria dos cientistas e filósofos da ciência, estamos diante de uma ciência que nem ao menos se volta para a realidade ou a natureza, mas que a produz numa batalha retórica que mais lembra a desordem da política. Quanta distância do cientista racional, que, seguindo rigorosamente o método que sua prática lhe impõe, desvela os segredos do Livro da Natureza. Essa foi a lição aprendida do primeiro livro de Latour e o impacto foi grande. No entanto, quase dez anos mais tarde, o ponto de vista do autor mudaria substancialmente em algumas questões fundamentais. E a elaboração mais sofisticada teria expressão justamente no livro Ciência em ação. Nesse livro, dois conjuntos teóricos norteadores do trabalho de Bruno Latour são combinados e se manifestam nas regras metodológicas e nos princípios que desfilam ao longo dos capítulos: a teoria ator-rede e a sociologia das translações (também traduzida como sociologia das traduções)112. Para entender a imagem de ciência que emerge da obra de Bruno Latour – e do grupo que ele acabou por representar – é necessário que nos detenhamos um pouco nesses dois modelos de interpretação. É importante também lembrar que Latour não foi 110 LATOUR, Bruno; WOOLGAR, Steve. Vida de laboratório, p. 266. LATOUR, Bruno; WOOLGAR, Steve. Vida de laboratório, p. 267. 112 Esse é um livro riquíssimo e, para abordá-lo, deveríamos falar em caixas-pretas e controvérsias, literatura científica e retórica, laboratórios e máquinas. Contudo, decidi por esse recorte em face do objeto dessa pesquisa. 111 52 pioneiro na formulação e utilização da sociologia das translações ou da teoria ator-rede, embora tenha se apropriado deles de forma sofisticada e lhe dado sabor próprio. Outros autores, como John Law e, sobretudo, Michel Callon, foram responsáveis por formular e desenvolver esses conjuntos teóricos113. Nosso mundo é feito de redes tecidas por atores. Esses atores podem ser humanos ou não-humanos, a diferença ontológica não representaria nada no plano sociológico. As posições dos atores numa rede dependem das conexões às quais eles se ligam. Com a ciência (ou melhor, tecnociência, como prefere Latour) não é diferente, ela também é um tipo particular de rede de atores que ignoram qualquer distinção prévia entre natureza e cultura, entre real e fabricado, entre fato e artefato. Na verdade, é o delicado processo de tessitura dessa rede que vai dar forma a qualquer coisa que se possa chamar natureza, cultura, sociedade, fato, realidade e assim por diante. Daí advém o ―princípio de simetria generalizada‖, o qual já comentei acima, e que permite por em suspenso essas noções tão caras à filosofia e à sociologia da ciência. A noção de rede permite ainda outra metáfora, a dos nós, que nos lembra que os recursos necessários para realizar conexões não estão espalhados de forma homogênea em toda a rede, mas sim concentrados em uns poucos pontos na forma de tensões heterogêneas; isso nos ajuda a ―entender como tão poucas pessoas parecem ‗cobrir‘ o mundo‖114. Se a teoria ator-rede versa sobre a trama que tece o mundo, a sociologia das translações refere-se à forma de navegar nessas redes, aos diversos tipos de dinâmicas empregados pelos atores para deslocarem-se e realizarem novas conexões. ―Translation is the mechanism by which the social and natural worlds progressively take form‖, afirma Callon, num dos texto clássico115. Dito de outra forma, podemos chamar de translação o processo de deslocamento de interesses entre grupos distintos. Esses deslocamentos ocorrem toda vez que a consecução de um objetivo necessita da mediação e da arregimentação de aliados. No Ciência em ação, Latour irá listar vários tipos de translação, que vão ficando cada vez mais complexas à medida em que os nós precisam se conectar a pontos cada vez mais diversos e mais distantes, tramando uma malha cada vez mais estável. Não irei me deter em todos esses 113 Bruno Latour tem total consciência da dívida intelectual que tem para com Callon – que foi durante muitos anos seu colega no Centre de Sociologie de l'Innovation da École des Mines de Paris – e rende-lhe tributo dedicando-lhe homenagens em vários artigos e livros (inclusive no Ciência em ação) 114 LATOUR, Bruno. Ciência em ação, p. 294. Essa noção de rede assemelha-se à definida por Michel Serres, que é também referência constante na obra de Latour. 115 CALLON, Michel. Some elements of a sociology of translation: domestication of the scallops and the fishermen of St Brieuc Bay. In: LAW, John. Power, action and belief: a new sociology of knowledge? London: Routledge, 1986, p. 215. ―Translação é o mecanismo pelo qual o mundo social e o natural progressivamente tomam forma‖. Tradução minha. 53 pontos, quero apenas indicar que todas as formas de translação e todas as estratégias envolvidas na atividade científica têm como finalidade o que Latour chamou de tornar-se indispensável. Os fatos e os artefatos bem estabelecidos tornam-se então pontos de passagem obrigatórios para grupos desejosos de realizar seus próprios objetivos116. Falei que, nas redes imaginadas por Callon e Latour, os atores poderiam ser humanos ou não-humanos. Esse ponto merece uma breve explicação. Em primeiro lugar, os nãohumanos podem ser micróbios, proteínas, elétrons, etc. Esses elementos entram na equação em condição simétrica aos humanos. Assim, desenha-se uma ―ontologia de geometria variável‖117. Com efeito, essa é uma caracterização que pode ser imputada a Bruno Latour a partir o que ele defende no seu Jamais fomos modernos. Até onde nos interessa nessa pesquisa, a utilização do princípio de simetria parece deixar de lado questões ontológicas e obedecer a um critério mais sociológico118. Em linhas gerais essa é a contribuição de Bruno Latour para uma nova visão das ciências. E o impacto foi grande; por um lado, estimulando toda uma nova linhagem de pesquisas que falavam em simetria ou translação e, de outro lado, causando enorme repúdio de cientistas ou filósofos identificados como ―defensores da ciência‖, que consideravam o trabalho de Latour uma confusão entre verdades triviais e disparates construtivistas. Os autores elencados nesse capítulo não produziram suas obras isoladamente. Pelo contrário, eles foram alguns dos principais articuladores (ou, no caso de Kuhn e Feyerabend, precursores) de um esforço coletivo de investigação das ciências que se deu no polimorfo campo acadêmico conhecido como science studies, social studies of science ou science and technology studies (STS). Em meados dos anos 1970, esse campo começa a ganhar força sobretudo a partir da produção concentrada na revista Social Studies of Science e em algumas instituições espalhadas ao longo da Europa (Universidade de Edimburgo, onde estavam David Bloor, Steven Shapin, Barry Barnes; Universidade de Bath, com Harry Collins; Escola de Minas de Paris, com Bruno Latour e Michel Callon). Em meados dos anos 1980, esse campo promissor já havia desenvolvido um amplo e relativamente bem-sucedido circuito acadêmico que envolvia programas de pós-graduação, revistas especializadas, sociedades científicas, encontros. Do ponto de vista das filiações teóricas e das escolhas metodológicas, os science 116 Para uma apreciação mais detalhada ver: LATOUR, Bruno. Ciência em ação, especialmente o capítulo 3 e também CALLON, Michel. Some elements of a sociology of translation: domestication of the scallops and the fishermen of St Brieuc Bay, p. 196-223. 117 MORAES, Márcia. A ciência como rede de atores: ressonâncias filosóficas. História, Ciências, Saúde — Manguinhos, v. 11(2), maio/ago. 2004, p. 323. 118 Mais tarde, inclusive, Latour iria propor a noção de híbridos. Cf. LATOUR, Bruno. Jamais fomos modernos. 54 studies não podem ser considerados homogêneos. Transitando em diversas áreas, muitas vezes os autores possuem formação em ciências naturais ou engenharias sendo depois ―convertidos‖ às ciências sociais ou humanas, alocados nos mais diferentes departamentos universitários, os autores trazem contribuições da sociologia, da história, da antropologia, da filosofia, entre outras disciplinas119. De modo mais amplo, o que unia esse grupo era o interesse em desenvolver novas formas de interpretação para a ciência e a tecnologia, objetos tão profundamente arraigados na estrutura social moderna. Com algum tempo, contudo, certos traços em comum foram sendo identificados mais ou menos como signos de identidade do grupo. Em primeiro lugar, notamos uma conversão em direção a aproximações mais históricosociológicas à ciência; dessa maneira, privilegiou-se o estudo da ciência como prática, como uma atividade cultural na qual se engajam homens e mulheres, em oposição à ênfase dada aos produtos intelectuais da ciência (teorias, descobertas, idéias, hipóteses, conjecturas)120. Ao mesmo tempo, essa conversão sócio-histórica se deu em paralelo a uma tentativa de abandono da filosofia, ao menos de certas questões filosóficas que empurravam a história e a sociologia da ciência para as margens da explicação da ciência, como as exigências de análises prescritivas e normativas, que cederam espaço a análises mais descritivas 121. Outra característica compartilhada por esse grupo era a desconfiança na imagem que os cientistas faziam de suas próprias atividades, uma imagem que estava mais próxima da ―reconstrução racional‖ proposta pelos adeptos da estratégia positivista. Os science studies se multiplicaram desde então, expandindo suas zonas de influência e transformando-se talvez no mais atuante grupo de pesquisadores sobre a ciência. No começo dos anos 1990, para além da força que haviam adquirido em universidades, agências de fomento e instituições de pesquisa, os science studies já haviam estabelecido um corpus de textos canônicos, editavam manuais introdutórios e premiavam os mais destacados profissionais da área. Eles já exerciam também certo impacto sobre outras áreas, tais como os campos disciplinares tradicionais de história, filosofia e sociologia da ciência ou – como 119 A literatura sobre a formação dos science studies é imensa, indico aqui os textos que considero mais relevantes. BIAGIOLI, Mario. Introduction. In: BIAGIOLI, Mario (Org.) The science studies reader. Nova Iorque: Routledge, 1999, p xi-xviii; FULLER, Steve. The philosophy of science and technology studies. Nova Iorque: Routledge, 2006; PESTRE, Dominique. Por uma nova história social e cultural das ciências: novas definições, novos objetos, novas abordagens, p. 3-56; PICKERING, Andrew. From science as knowledge to science as practice. In: PICKERING, Andrew (Org.). Science as practice and culture. Chicago: The University of Chicago Press, 1992 e SISMONDO, Sergio. An introduction to science and technology studies. Oxford: Blackwell, 2004. 120 Com efeito, mesmo o que chamei acima de ―produtos intelectuais da ciência‖, foi cada vez mais sendo entendido como um conjunto de atividades que demandam esforço e engajamento dos cientistas. 121 Convém lembrar que essa tensão entre descrição e prescrição já aparecia como um tema delicado para Thomas Kuhn. 55 abordarei logo adiante – em domínios como os cultural studies. Obviamente, com o crescimento, o grupo se dividiu e surgiram correntes com objetivos, métodos e estilos distintos122. É esse o panorama do estado da literatura de análise das ciências que considero mais significativo para o desenrolar das Guerras da Ciência, e que cobre um largo espectro, indo de Thomas Kuhn até os science studies. Diante desse amplo conjunto de contribuições, fica a impressão que há muito mais divergências do que convergências. Pode-se com razão argumentar que sim. No entanto, acredito que há ao menos dois pontos fundamentais em comum. Primeiro, a negação da tradição marcada pela estratégia positivista e pela divisão imputada pela dicotomia de Reichenbach. Em segundo lugar, essa negação é marcada por uma atitude que pode ser chamada de iconoclasta. Quero encerrar esse capítulo com algumas considerações a respeito destes pontos, pois os considero problemas centrais para a análise da dimensão política das Guerras da Ciência que desenvolverei com mais cuidado adiante. Desde Kuhn até Latour (e aos Science Studies do final dos anos 1980), é a desconstrução da noção de ciência como empreendimento racional, objetivo e dirigido para a verdade que está em jogo. Uma revisão radical da natureza da ciência, com profundas influências organização das hierarquias epistêmicas, que tradicionalmente reservavam à ciência o lugar de destaque, no topo, intacto e distante dos outros conhecimentos, sujeitos às paixões humanas. A pretensa humanização da ciência, proposta pelas abordagens contemporâneas, tenderia a destroná-la do seu lugar privilegiado. Ao mesmo tempo, essa tensão em torno de fundamentos da epistemologia se entrelaça com a disputa por novas perspectivas a partir das quais se falar da ciência. A possibilidade de se tratar a ciência por meios efetivamente históricos ou sociológicos será incessantemente defendida por esses autores. As rígidas demarcações disciplinares vigentes na primeira metade do século XX se tornaram insustentáveis e era urgente a necessidade da formulação de novas abordagens. Muitos dos antigos critérios de 122 Steve Fuller estabeleceu uma divisão entre ―Alto Clero‖ (High Church) e ―Baixo Clero‖ (Low Church), Respectivamente, o primeiro grupo estava mais preocupado com propostas teóricas que superassem as formulações tradicionais da filosofia, da história e a sociologia da ciência – é o caso dos principais autores tratados nesse capítulo –, enquanto o segundo grupo dedicava mais atenção às políticas de ciência e tecnologia, numa tentativa de reforma da estrutura de atuação dessas atividades em nome da correção das desigualdades, do bem-estar social ou do meio ambiente. Cf. FULLER, Steve. Philosophy, Rhetoric, and the End of Knowledge: the coming of science and technology studies. Madison: University of Wisconsin Press, 1993; FULLER, Steve; COLLIER, James. Philosophy, Rhetoric, and the End of Knowledge: a new beginning for science and technology studies. Second edition. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates Publisher, 2004; BIAGIOLI, Mario. Introduction, p xi-xviii; SISMONDO, Sergio. Science and Technology Studies and an Engaged Program. In: AMSTERDAMSKA, Olga et al. (org.). The Handbook of Science and Technology Studies. 3. ed. Cambridge: The MIT Press, 2008, p.13-31. 56 restrição – notadamente a ―dicotomia de Reichenbach‖ – foram abandonados. A ciência deveria se oferecer inteira ao escrutínio histórico ou sociológico, nem mesmo o núcleo do seu conteúdo cognitivo, outrora considerado impermeável a essa espécie de apreciação, escaparia à alçada dos novos estudos da ciência. Essas posturas, no entanto, não ficaram sem resposta. Os autores listados ao longo desse capítulo tiveram que se haver com duras críticas endereçadas a questões muito similares. Foram considerados profanadores da ciência, essa que é uma das grandes conquistas da humanidade e sobre a qual se fundam os pilares do mundo moderno. Para os seus críticos, e é que tratarei no próximo capítulo, essas abordagens eram perigosas, pois poderiam nos conduzir ao obscurantismo, ao irracionalismo. Respondendo a esse tipo de acusação no posfácio à segunda edição do seu Conhecimento e imaginário social, David Bloor traça um paralelo entre o ―programa forte‖ e as disputas em torno da teologia e da história dos dogmas da Igreja em meados do século XIX123. Esse exemplo pode ser facilmente ampliado para todo o conjunto dos estudos que examinei aqui. Assim, o que Bloor argumenta é que a atitude de sacralização do conhecimento científico constitui-se numa barreira para outro tipo de interpretação que não seja a de louvor. A atitude iconoclasta assumida pela história e pela sociologia da ciência na segunda metade do século XX rejeitou a opção do louvor (embora não tenham também se declarado ateus, se é que posso insistir na metáfora). Bloor escrevia em 1991, poucos anos antes dos cientistas partirem realmente para a ofensiva, pedindo a fogueira para os heréticos. Uma questão, porém, surge muito mais intensamente durante as Guerras da Ciência: a vinculação entre essas abordagens iconoclastas e o imobilismo ou quietismo político. São freqüentes os argumentos defendendo que é impossível atuar criticamente sobre o mundo se não possuímos um padrão universal de verdade contra o qual mensurar nossas alegações. Ou, que a ação política depende diretamente do compromisso com uma realidade objetiva, sem a qual não poderíamos ter critérios para regular a nossa atividade. Com certeza, as interpretações contemporâneas da ciência colocaram desafios a essa visão, uma vez que propuseram o abandono de ―padrões universais de verdade‖ e o fim do estreito compromisso com a ―realidade objetiva‖. Ao mesmo tempo, alguns autores vinculados aos cultural studies (notadamente nos EUA) inseriram as novas abordagens de análise da ciência na sua agenda política, pois enxergaram nas interpretações iconoclastas uma interpretando uma chave explicativa 123 BLOOR, David. Conhecimento e imaginário social, p. 270 e segs. 57 relevante para desnudar os jogos de poder subjacentes à ciência. Contudo, a radicalização sociológica operada pelos cultural studies ignorou solenemente algumas das implicações epistemológicas mais delicadas com as quais os estudos sobre a ciência se depararam desde Thomas Kuhn. Dedicarei alguma atenção a essa questão tão recorrente nas Guerras da Ciência. Excurso Os cultural studies lêem os science studies O campo dos cultural studies (ou estudos culturais) se expandiu de forma meteórica ao longo dos anos 1980. Apesar de ter obtido maior sucesso nos EUA, tanto do ponto de vista das instituições acadêmicas quanto da relação com a mídia e com um público mais amplo, suas origens são sobretudo européias. Difusas, elas remontam a Stuart Hall, Raymond Williams e Robert Hoggart na Inglaterra, Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Jacques Derrida, Jean François Lyotard e Roland Barthes na França, além de Marx e a Escola de Frankfurt, na Alemanha. De um ponto de vista disciplinar, os estudos culturais fundem elementos da sociologia, da filosofia, da história e da teoria literária, mas se pretendem interdisciplinares, ou até antidisciplinares. Abordam uma vasta gama de temas, que passam pelo póscolonialismo, pelo multiculturalismo, a globalização, a sexualidade, o gênero, a etnicidade e, o que interessa aqui, a ciência e a tecnologia. Em face dessa diversidade de relações com diferentes disciplinas, dessa multiplicidade de origens, dessa variedade de temas, o que une os estudos culturais? Diferentemente do que ocorreu com os science studies, onde originalmente a estabilidade dos objetos aos quais ele se dedicava – a ciência e a tecnologia – era o bastante para atrair ao seu redor vários pesquisadores, os estudos culturais nascem de um esforço metodológico. Em primeiro lugar, esse campo pode ser delimitado pela centralidade dada, nas análises, à cultura, que é vista de forma larga, mais próxima do uso que a antropologia faz da categoria. A cultura passa a ser o eixo articulador a partir do qual são entendidas a política, a economia, a ciência. Ao mesmo 58 tempo, os estudos culturais são, em sua maioria, uma tentativa de recuperar uma proposta teórica que traz, de forma expressa, uma agenda política. Grosso modo, essa agenda passa pela crítica das várias formas de relações de poder assimétricas, pela defesa das minorias ou dos grupos subalternizados, sem voz diante da ―civilização ocidental moderna‖. Aí se vinculam críticas ao eurocentrismo, ao machismo, ao racismo, à dominação de classe, mas também às dimensões políticas da estética, da heteronormatividade, do sistema educacional, do lazer, da racionalidade e da objetividade científica. Foi nessa perspectiva que os autores vinculados aos estudos culturais chegaram aos estudos sobre a ciência (os science studies), enxergando neles uma forma de solapar a autoridade da ciência nas sociedades modernas. Para a discussão que segue, terei como base dois artigos. Um deles é um artigo-síntese – The challenge of science é o título – de autoria de Andrew Ross124, incluído em uma coletânea com pretensões de manual introdutório, The cultural studies reader. O segundo é um artigo de outra coletânea, essa dedicada especificamente as interrelações entre cultura, tecnologia e ciência, cujos autores são Stanley Aronowitz e Michael Menser 125. Nesses textos, de forma geral, os autores pretendem estabelecer alguns vínculos teóricos e, principalmente, políticos entre os campos dos cultural studies e dos science studies, que aparecem, por exemplo, quando Aronowitz e Menser firmam que ―una de las principales características que distinguen los estudios culturales [...] es su reconocimiento de la incrustración cultural de la producción de conocimientos‖126. Quero aproveitar esses mesmos vínculos para mostrar que a leitura das contribuições das novas abordagens da ciência efetuada por alguns autores que compartilham o circuito acadêmico dos estudos culturais é parcial. É importante lembrar que Ross e Aronowitz são freqüentemente citados nas Guerras da Ciência. Andrew Ross, inclusive, foi responsável por cunhar a expressão original em inglês (Science Wars); além disso, integrou o conselho editorial da revista Social Text e organizou o volume especial sobre as Guerras da Ciência no qual apareceu a paródia de Sokal e onde também escreveu Stanley Aronowitz. A vinculação entre os dois campos pode ser resumida em uma assertiva: a ciência é uma atividade inscrita na cultura e sua produção é influenciada pelos interesses sociais de pesquisadores ou comunidades científicas. Essa afirmação – que pode ser encarada como 124 ROSS, Andrew. The challenge of science. In: DURING, Simon (Org.). The cultural studies reader. Nova Iorque: Routledge, 2000, p. 292-304. 125 ARONOWITZ, Stanley; MENSER, Michael. Sobre los estudios culturales, la ciencia y la tecnología. In: ARONOWITZ, Stanley; MARTINSONS, Barbara; MENSER, Michael (orgs.). Tecnociencia y cibercultura. La interrelación entre cultura, tecnología y ciencia. Barcelona: Paidós, 1998, p. 21-44. 126 ARONOWITZ, Stanley; MENSER, Michael. Sobre los estudios culturales, la ciencia y la tecnología, p. 39. 59 trivial, e é, de modo geral –, pode eventualmente trazer conseqüências mais profundas. Principalmente quando as palavras ―inscrita‖ e ―influenciada‖, na frase acima, são interpretadas como sinônimo de ―determinada‖. O determinismo sociológico de certa parcela dos estudos culturais é passível da mesma crítica que Thomas Kuhn e Bruno Latour (de formas diferentes) endereçaram a David Bloor, a saber, o erro de atribuir à natureza um papel passivo na construção de teorias ao seu respeito. Além disso, os adeptos dos estudos culturais se preocupam recorrentemente com a distribuição desigual de forças entre a ciência e outras formas de apreensão do mundo. A esse respeito, Andrew Ross expressa bem o tipo de crítica à relação entre conhecimento e política que os estudos culturais identificam na ciência127. Where scientific reason is the dominant cognitive authority, its cultural and economic role in maintaining a system of social inequalities must be open to analysis and to reform in ways that go far beyond internalist adjustments and purifications. While the value-free neutrality of the scientific method is the legitimating basis for empowered forms of technical expertise, scientists rarely feel personally or professionally responsible for any of the social or political uses of the name of science. A mesma sensação parecem ter Aronowitz e Menser, ao afirmarem que128, debido a su relación cultural e políticamente privilegiada con lo que es ―verdadero‖ y ―universal‖, y debido al hecho de que despliega el desarrollo tecnológico al mismo tiempo que este la constituye, la función discursivo-ideológica de la ―Gran Ciencia‖ es algo más que una mera práctica cultural entre otras. A idéia de que a neutralidade axiológica e a supremacia epistemológica da ciência serviam como ferramentas da dominação política estava mais ou menos difundida entre esses autores. Assim, uma das formas de pôr em prática o projeto político de defesa das minorias e dos grupos marginalizados e subalternizados, encampado pelos estudos culturais, era combatendo a hegemonia epistemológica da ciência, denunciando sua suposta neutralidade e objetividade. O que estava em jogo era uma espécie de ―justiça cognitiva‖. É daí que surgem as epistemologias feministas ou as epistemologias periféricas. Referindo-se a essas últimas, Walter Mignolo afirma que ―hoje, a descolonização já não é um projeto de libertação das colônias, com vista à formação de Estados-nação independentes, mas sim o processo de 127 ROSS, Andrew. The challenge of science, p. 296. ―Quando a razão científica é a autoridade cognitiva dominante, seu papel cultural e econômico na manutenção de um sistema de desigualdades sociais deve estar aberto à análise e à reforma de maneiras que vão muito além dos ajustes internalistas e das purificações. Enquanto a neutralidade valorativa do método científico for a base de legitimação para formas de especialidades técnicas dotadas de poder, os cientistas raramente se sentirão pessoalmente ou profissionalmente responsáveis pelos usos sociais e políticos do nome da ciência‖. Tradução minha. 128 ARONOWITZ, Stanley; MENSER, Michael. Sobre los estudios culturales, la ciencia y la tecnología, p. 22. 60 descolonização epistêmica e de socialização do conhecimento‖129. A atitude iconoclasta que caracterizou a literatura de análise da ciência na segunda metade do século XX serve como ponto de partida para os estudos culturais. Contudo, esses autores tentaram avançar, por exemplo, em relação à proposta de novos critérios para a prática científica. Enquanto os science studies se contentavam com uma descrição das formas através das quais o conhecimento científico era produzido, e com isso concluía que não era possível estabelecer hierarquias epistemológicas baseadas nas noções de ―verdade‖, ―objetividade‖ ou ―universalidade‖, os estudos culturais tentaram adotar uma postura prescritiva. Para isso, apoiavam-se na noção de que ―apenas críticas normativas poderiam mudar o status quo‖.130 É nesse espírito de engajamento que os estudos culturais vão abordar a ciência, usando para isso muitos dos argumentos desenvolvidos no campo dos science studies, embora, por vezes, de forma superficial. Algumas das implicações epistemológicas mais delicadas foram deixadas de lado. Isso se expressa, por exemplo, na forma como esses autores interpretaram os tópicos em debate nas Guerras da Ciência. A relação entre especialistas e leigos – ou, em outras palavras, entre cientistas e não-cientistas – na crítica à ciência e à tecnologia é apontada como pano de fundo para a disputa. A ciência e a tecnologia interferem cotidianamente nas relações sociais, ―organizam, orientam e modificam a paisagem e os habitantes da cultura contemporânea‖131. Desse modo, estabelecer uma relação crítica com elas é parte da experiência diária nas sociedades industriais modernas, é uma ―ação ordinária‖. Ao mesmo tempo, não podemos dizer o mesmo da ciência e da tecnologia, que se estabeleceram como esferas isoladas da vida social, tanto de um ponto de vista filosófico – com a instituição dos critérios de neutralidade, objetividade e universalidade, que as afastaram dos assuntos mundanos sujeitos aos interesses e as paixões –, quanto de um ponto de vista sociológico, pois a inserção nos círculos da ciência exige um altíssimo grau de formação especializada e a aquisição (de certa forma concomitante) de numerosas credenciais. Essa especificidade dotou pouquíssimas pessoas da autoridade para se pronunciarem sobre temas que afetam a vida de milhões de seres humanos132. Uma das bandeiras políticas dos estudos culturais, quando se 129 MIGNOLO, Walter. Os esplendores e as misérias da ―ciência‖: colonialidade, geopolítica do conhecimento e pluri-versalidade epistêmica. In: SANTOS, Boaventura de Sousa (org.). Conhecimento prudente para uma vida decente: ‗Um discurso sobre as ciências‘ revisitado. São Paulo: Cortez Editora, 2006, p. 668. 130 ROSS, Andrew. The challenge of science, p. 297. No original: ―Only normative critiques could change the status quo‖. Tradução minha. 131 ARONOWITZ, Stanley; MENSER, Michael. Sobre los estudios culturales, la ciencia y la tecnología, p. 21. No original, ―organizan, orientan y modifican el paisaje y los habitantes de la cultura contemporánea‖. Tradução minha. 132 ROSS, Andrew. The challenge of science, p. 300 e segs. 61 voltam para a ciência, é a revisão desse problema: quem está qualificado para criticar a ciência? É inegável que essa questão animou grande parte dos embates travados nas Guerras da Ciência, e ela é certamente muito importante. Contudo, a forma como foi tratada por esse grupo deixa de lado certas sutilezas filosóficas que considero cruciais para uma crítica mais acurada do papel social da ciência e da tecnologia. A principal delas, já indicada, diz respeito à demasiada ênfase posta na ―dimensão social‖ da ciência. É óbvio e banal que a produção da ciência e da tecnologia depende de uma enorme rede, que envolve a comunidade de cientistas, agências de fomento, legislação de patentes, e assim por diante. Apesar disso, as formas como essa rede interfere no que é produzido não são tão banais nem tão óbvias. Se não por outros motivos, mas porque os autores dos estudos culturais, de forma geral, apresentam uma visão bastante tradicional das categorias que compõem o mundo. Assim, insistem na divisão bipolar entre ―natureza‖ e ―sociedade‖ ou entre ―realidade‖ e ―representação‖, apenas atribuindo à prioridade das explicações ao pólo oposto ao enfatizado pela epistemologia tradicional. Os cientistas envolvidos nas Guerras da Ciência tinham opiniões formadas sobre essa questão. Em geral, a natureza e a realidade eram tratadas como entidades não problemáticas, sólidas o bastante para oferecer-nos uma base de ação sobre o mundo. No próximo capítulo, tentarei rastrear como esses cientistas, subitamente convertidos em autores de obras de epistemologia e crítica teórica, mobilizaram evidências e argumentos para fortalecer sua posição e minar as críticas contra as suas atividades de formas que passam pela autoridade baseada na especialidade, pela disputa em torno da imagem pública da ciência e pela criação de um vínculo necessário entre perspectiva epistemológica e atuação política. 62 Capítulo 2 Os cientistas reagem Estamos, ao que parece, diante de dois extremos. De um lado, as abordagens que chamei aqui de iconoclastas. Ao minar as noções clássicas de verdade, objetividade e universalidade que valiam de fundamento da ciência, elas foram acusadas de não possuir critérios capazes de guiar o julgamento e ação. Do outro lado, os estudos culturais que, aproveitaram a corrosão desses valores e a idéia do conhecimento sócio-historicamente situado para denunciar a epistemologia moderna como cúmplice na violência política exercida sobre as culturas que não fizessem parte da Modernidade Ocidental. Para alguns cientistas, ambas as posições representavam uma ameaça à ciência e, em última instância, à ―civilização ocidental‖. Para combatê-las, o remédio era restaurar os velhos valores que fundamentavam a ciência. A luta pela verdade é uma luta política. Nesse capítulo, partindo dessa premissa, quero investigar os textos escritos por alguns cientistas envolvidos nas Guerras da Ciência e tentar identificar suas principais estratégias retóricas, delimitar seus argumentos, perceber que tipo de relação entre ciência e sociedade eles defendem. Começarei a exposição ao revés do que normalmente se espera, antecipando algumas das questões centrais do debate para então retomar algumas das principais bases que as sustentaram. Assim, me parece ser possível rastrear como se estabeleceu um vínculo necessário entre a ação política efetiva, responsável e crítica e determinada forma de entender a epistemologia – e algumas de suas principais categorias, tais como verdade e objetividade. Essa pesquisa terá como base dois manifestos pró-ciência, já citados na introdução: Higher Superstition, de Paul Gross e Norman Levitt (que, de alguma forma, é a declaração de guerra entre os dois grupos), e Imposturas Intelectuais, que é um desdobramento da paródia de Alan Sokal, escrito por ele em parceria com Jean Bricmont. Sempre que possível, trarei outros textos para tentar mostrar que os tipos de argumento utilizado nessas duas obras não são fenômenos de emergência isolada. Pelo contrário, elas fazem parte de um ambiente intelectual e respondem a demandas sociais e históricas específicas, um circuito intelectual que partilhava certos valores. Inclusive, esses autores freqüentemente utilizavam o apelo a um 63 sentimento coletivo para justificar a importância das críticas que endereçavam aos grupos considerados anticienficistas. Quero começar com um exemplo absolutamente marginal, retirado de uma nota de rodapé de um texto onde Alan Sokal explica a sua paródia e, a partir dele, chegar aos textos que compõem o núcleo da pesquisa. Nessa nota de rodapé, Sokal utiliza uma metáfora que será diversas vezes citada e replicada embora sem seriedade ou esforço analítico. Por algum tempo, pensei nesse exemplo apenas como um caso de demonstração arrogante de superioridade. Penso agora que ele pode sintetizar algumas questões candentes em relação às Guerras da Ciência. Primeiro, esse exemplo mostra a necessidade de uma definição de ciência e, de forma mais geral, de uma perspectiva epistemológica que sirva à ação e à vida cotidiana. Segundo, ele deixa claro qual a perspectiva que não permite à epistemologia uma tal função (antes pelo contrário). Terceiro, ele nos dá indícios da enxurrada conceitual envolvida nesses debates e na dificuldade de tomar posição diante de tal situação. Enfim, vamos então ao exemplo. Alan Sokal diz lá: ―a propósito, qualquer pessoa que acredite que as leis da física são meras convenções sociais está convidada tentar transgredir tais convenções das janelas do meu apartamento. Moro no vigésimo primeiro andar‖133. Logo a seguir ele admite a divisão entre proposições empíricas (‗uma pessoa que é arremessada de uma janela no vigésimo primeiro andar demorará 2,5 segundos para chegar ao chão‘) e explicações teóricas (‗existe um campo gravitacional responsável pela atração entre os corpos que age, na atmosfera terrestre, à velocidade de 9,8 m/s‘). Estas últimas podem ser vistas, e com frequência o foram, como tendo maior grau de dependência em relação à sociedade que a produz, mesmo se admitindo a existência de evidências empíricas objetivas. Diante da exposição do exemplo, podemos voltar às três questões que pontuei antes. As abordagens de análise das ciências que chamei de iconoclastas e que, muitas vezes, se referem ao conteúdo cognitivo das ciências em termos de ―convenções sociais‖, ―construções sociais‖, ―negociações‖, etc – desenvolvidas ao longo das últimas décadas – são incapazes de fornecer modelos de ação eficazes. De acordo com o que se poderia concluir dos argumentos de Sokal, expostos não apenas no texto em questão, mas também em seus artigos e no seu livro, essa incapacidade se dá porque faltam às essas abordagens o contato fundamental com a ―realidade objetiva‖ que nos permitiria situarmo-nos no mundo e interferir nele. Em outra passagem, dessa vez no Imposturas Intelectuais, Sokal (e Bricmont) vai insistir na rígida divisão entre fatos e afirmação de fatos. Os fatos, segundo eles, consistem 133 SOKAL, Alan. Transgredindo as fronteiras: um posfácio, p. 286. 64 em entidades objetivas que pertencem à realidade autônoma em relação ao sujeito do conhecimento. Um fato é ―uma situação do mundo exterior que existe independentemente do conhecimento que temos (ou não temos) dela – em particular, independentemente de qualquer consenso ou interpretação‖134. São, portanto, imutáveis e imunes à vontade humana e social, e, na medida em que há correspondência entre eles e uma teoria, ou uma ―afirmação de fatos‖, ela se torna verdadeira e, por conseguinte, ahistórica. O que nos permite concluir que, segundo essa visão, apenas as teorias falsas ou erradas tem história. Uma posição bastante similar a essa foi sustentada pelos empiristas lógicos na primeira metade do século XX, sobretudo no contexto da dicotomia de Reichenbach que instaurou a divisão entre ―contexto da descoberta‖ e ―contexto da justificativa‖ e que vingou por meio da estratégia positivista. A adesão de Sokal a esse tipo de perspectiva fica mais clara em um artigo onde ele enumera algumas missões válidas para a história e a sociologia da ciência, reforçando a antiga divisão entre ―fatores internos‖ e ―fatores externos‖ como base a partir da qual podem partir os estudos sociais da ciência135. As implicações da distinção entre fato e afirmação de fato vão ainda mais longe, como demonstram Sokal e Bricmont (de novo no exemplo tirado das Imposturas Intelectuais). Ao repreender um autor que ―confunde‖ essas duas instâncias em um livro de epistemologia destinado a professores de segundo grau, os autores argumentam que136: [U]ma pedagogia baseada nesta noção de ‗fato‘ não estimula o espírito crítico do estudante. Para contestarmos as proposições reinantes – de outras pessoas, assim como nossas próprias –, é essencial ter em mente que podemos estar errados, que existem fatos independentes de nossas afirmações, e que é na comparação com esses fatos (na medida em que possamos verificá-los) que as proposições devem ser avaliadas. Pretensamente, ao diluir a rigidez do conceito de ―fato‖, ela diluiria, por extensão, as fronteiras entre verdadeiro e falso, anulando as bases sobre as quais seria possível julgar o que quer que seja. Logo, a única forma possível de atuação crítica no mundo é a partir de uma rígida distinção entre ―fatos‖ (acima das contingências históricas ou sociais) e ―afirmação de fatos‖ (contingentes apenas quando errados ou falsos). Ou, como no primeiro exemplo citado, a apreensão de que as ―leis da natureza‖ nada têm a ver com contingências históricas, construções sociais ou convenções. Estamos, portanto, diante de uma concepção epistemológica que vincula o compromisso com a verdade e os fatos objetivos à única forma possível de atuação política crítica. 134 BRICMONT, Jean e SOKAL, Alan. Imposturas Intelectuais, p. 105-106. SOKAL, Alan. What the Sokal affair does and does not prove. In: KOERTGE, Noretta. A house built on sand. Exposing Postmodernist Myths about Science. New York, Oxford University Press: 1998, p. 9-10. 136 BRICMONT, Jean; SOKAL, Alan. Imposturas Intelectuais, p. 106-107. 135 65 Embora não explicitem tão claramente sua postura em relação ao papel político da verdade, Paul Gross e Norman Levitt atuam nesse mesmo sentido. Assim, insistem que ―a ciência é, acima de tudo, um empreendimento guiado para a realidade‖ 137, em última instância, é a realidade que determina o conteúdo da ciência. Opõem-se aos que entendem que a ciência é guiada pela cultura, pela política, pela economia ou pelo gosto estético e usam uma tática de reverter os argumentos que os construtivistas utilizam para a ciência contra os próprios construtivistas (e toda a ―esquerda acadêmica‖, que é a expressão sob a qual eles rotulam vastos grupos, como alguns setores dos estudos de gênero, dos estudos étnicos, da filosofia pós-moderna, da teoria literária, dos science studies ou até do ambientalismo)138. A ambição central do programa do construtivismo cultural – explicar os mais profundos e duradouros insights da ciência como corolário de pressupostos sociais e agendas ideológicas – é fútil e perverso. As chances são excelentes, entretanto, para que alguém possa descrever o próprio fenômeno intelectual do construtivismo cultural precisamente nos mesmos termos. O construtivismo é visto acima de tudo como um código político, um programa de pesquisa tão aferrado à sua agenda política que abandona a honestidade intelectual e cuja ―doutrina [...] é claramente elaborada para favorecer uma certa perspectiva política‖139. Essa estratégia retórica pretende desarticular as (im)posturas intelectuais percebidas como anticientificistas. Esse tipo de atitude em relação às abordagens críticas da ciência tornou-se comum a partir de meados dos anos 1990, arregimentando para a sua causa uma diversidade de pesquisadores e professores universitários. Uma amostra desse movimento é realização, em meados de 1995, de um evento organizado por Paul Gross, Norman Levitt e Martin Lewis com o intuito de dar seguimento às denúncias iniciadas com a publicação do livro Higher Superstitions e que contou com o apoio da New York Academy of Sciences. Esse evento, sugestivamente intitulado The Flight from Science and Reason, deu origem a um grosso volume no qual foram coligidas as contribuições dos participantes140. Em um dos artigos, a filósofa Susan Haack ressalta que o compromisso com a verdade é parte de uma integridade intelectual. A falta desse compromisso implica em uma falácia que identifica a ―verdade‖ com 137 GROSS, Paul; LEVITT, Norman. Higher Superstition, p. 234. No original: ―science is, above all else, a reality-driven enterprise‖. Tradução minha. 138 GROSS, Paul; LEVITT, Norman. Higher Superstition, p. 69. No original: ―The central ambition of the cultural constructivst program – to explain the deepest and most enduring insights of science as a corollary of social assumptions and ideological agenda – is futile and perverse. The chances are excellent, however, that one can account for the intellectual phenomenon of cultural constructivism itself in precisely such terms‖. Tradução minha. 139 GROSS, Paul; LEVITT, Norman. Higher Superstition, p. 69-70. No original: ―The doctrine […] is clearly designed to flatter certain political perspective‖. Tradução minha. 140 GROSS, Paul; LEVTT, Norman; LEWIS, Martin. The flight from science and reason. Annals of New York Academy of Sciences. Nova Iorque: The New York Academy of Sciences, 1995. 66 a ―afirmação da verdade‖ (um argumento semelhante ao desenvolvido por Sokal e Bricmont na distinção entre ―fatos‖ e afirmação de fatos‖) ou com a adesão a certo modismo acadêmico que, pretensamente, assume a defesa de idéias falsas ou obscuras como ―uma boa rota para a reputação e o dinheiro‖141 (que, por sua vez, se aproxima das acusações feitas por Gross e Levitt à ―esquerda acadêmica‖). Passemos agora a exemplos que assumem um tom mais agressivo do que o habitualmente utilizado até aqui. Nosso autor agora é Richard Dawkins, um dos mais famosos cientistas da atualidade. Ao tratar das Guerras da Ciência, Dawkins demonstra irritação com o que ele chama de ―vertente de filosofia delirante‖, ―modalidade de importunação filosófica‖, ―aborrecidos questionamentos filosóficos‖ ou ainda ―arroubos intelectuais equivocados dos pedantes da pseudofilosofia‖ que ―simplesmente não se mostram merecedores de nossa atenção‖142. O grande problema, para ele, é que esse tipo de abordagem está ―na moda‖ (a expressão aparece três vezes em um artigo de sete páginas). Porém, se descontarmos os adjetivos pouco elogiosos e a acusação de modismo, sobra pouco espaço para uma discussão epistemológica que possa salvar a verdade das garras infames dos filósofos pós-modernos e devolvê-las para os cientistas, seus donos legítimos. Como identificar a postura epistemológica de Dawkins? Podemos perguntar a Dawkins, tomando de empréstimo o título do seu artigo, o que é verdade? Infelizmente, ele não nos oferece uma resposta, embora aparentemente saiba identificar uma verdade quando se depara com uma. Assim, por exemplo, ele afirma: É simplesmente verdadeiro que o Sol é mais quente que a Terra e que a escrivaninha que eu escrevo nesse momento é de madeira. Essas não são hipóteses que aguardam refutação, nem aproximações temporárias de uma verdade sempre impalpável; também não são verdades locais que podem ser contestadas em outras culturas. E o mesmo se pode dizer com segurança em relação a muitas verdades científicas ainda que não possamos vê-las ―com nossos próprios olhos‖. A dupla hélice do DNA será sempre verdadeira, assim como será sempre verdadeiro que, se você e um chimpanzé (ou um polvo ou um canguru) seguirem o rastro de seu antepassados até um ponto suficientemente longínquo, acabarão por encontrar um ancestral comum. Além desses ―fatos objetivos‖ mais corriqueiros, Dawkins recorre a um exemplo do qual ele parece ter afeição especial (uma vez que o cita reiteradamente) e que acabou reaparecendo em várias discussões sobre a Guerra das Ciências. Ele diz o seguinte: ―mostreme um relativista cultural voando a 10 mil metros de altura que eu lhe mostrarei um 141 HAACK, Susan. Concern for truth: what it means, why it matters. In: GROSS, Paul; LEVTT, Norman; LEWIS, Martin. The flight from science and reason. Annals of New York Academy of Sciences. Nova Iorque: The New York Academy of Sciences, 1995. 142 DAWKINS, Richard. O que é a verdade. In: DAWKINS, Richard. O capelão do diabo. São Paulo: Companhia das Letras, 2003, p. 34-42. 67 hipócrita‖143. Esse exemplo, que se aproxima um pouco da sugestão de defenestração de Sokal, que aparece logo acima, carrega consigo a idéia de que a ciência é capaz de fazer com que um avião funcione ou que muitas de suas previsões se confirmem devido a sua capacidade de alcançar as leis da natureza e, com elas, a verdade. Grande parte da defesa de Dawkins provem desse argumento, a ciência é verdadeira porque funciona (ou, vice-versa, funciona porque é verdadeira). No entanto, essa defesa da verdade científica acaba por incorrer na confusão que Sokal e Bricmont tanto recriminam, entre ―fato‖ e ―afirmação de fato‖. O ―fato‖ de que os aviões voam não determina que nossas teorias da aerodinâmica estão de acordo com as ―leis da natureza‖ ou com a ―realidade‖. Nem tampouco as noções de que o Sol é mais quente que a Terra ou que uma escrivaninha é feita de madeira são ―simplesmente verdadeiras‖. A teoria da verdade, se é que podemos chamá-la assim, defendida por Dawkins parte de uma análise absolutamente parcial da situação, considerando as verdades produzidas pela ciência e pela experiência toscamente treinada como equivalentes e como as únicas dignas de discussão. Em sua tentativa de defender a verdade científica, Dawkins recorre a um argumento de autoridade, afirmando que apenas a ciência (ou perspectivas filosóficas que aceitem as suas condições epistemológicas) é capaz de dizer a verdade e julgar quão próxima uma afirmação se encontra da verdade. A participação de Dawkins na disputa, contudo, tem um peso fundamental devido à fama que ele obteve como cientista. Ao engrossar o coro do movimento pró-ciência, mesmo a partir de uma reflexão que pouco contribui para a dimensão epistemológica do debate, Dawkins reforça dois pontos importantes para as Guerras da Ciência, a postura política em defesa da verdade científica e a manutenção da autoridade da ciência no espaço público. Esses cientistas (em sua maioria, embora acompanhados por alguns filósofos, sociólogos e historiadores) percebiam como um perigo a disseminação de uma epistemologia que – de alguma forma – minasse as pretensões de verdade da ciência e acarretassem no descrédito da ciência perante a sociedade. Não restam dúvidas de que a crítica de Dawkins mostram uma posição extrema do debate, assumindo feições quase caricaturais. Autores como Gross, Levitt, Sokal ou Bricmont, mesmo eventualmente lançando mão de um tom mais áspero ou irônico quando se referiam ao que consideravam visões absurdas da ciência ou da epistemologia, tentaram manter uma retórica de polidez, humildade e respeito pelas opiniões divergentes. No entanto, são exatamente esses momentos mais enfáticos, levados ao extremo por Dawkins, que caracterizam a disputa, dando-lhe o clima beligerante que lhe valeu a alcunha de Guerra das 143 DAWKINS, Richard. O que é a verdade, p. 35. 68 Ciências. A rápida elevação da temperatura do debate está conectada a sua vinculação à um momento histórico particular. Isso fica mais evidente quando comparamos a literatura que surgem no contexto norte-americano a partir de 1994 com o livro do embriologista Lewis Wolpert, The unnatural nature of science. O livro de Wolpert surge no Reino Unido em 1992 e trata de temas muito semelhantes aos que seriam trazidos à tona nas Guerras da Ciência pouco tempo depois. Citando o físico John Barrow, Wolpert lista uma série de pressupostos que definiriam a visão de mundo dos cientistas, que seriam os seguintes144: Há um mundo exterior separável da nossa percepção. O mundo é racional: ‗A‘ não é igual à ‗não A‘. O mundo pode ser analisado localmente – isto é, alguém pode examinar um processo sem levar em conta todos os processos ocorrendo em outros lugares. Há regularidades na natureza O mundo pode ser descrito pela matemática Esses pressupostos são universais. Isso posto, Wolpert estabelece uma série de comparações entre diferentes concepções filosóficas e sociológicas da ciência, incluindo as abordagens contemporâneas mais influenciadas pelo construtivismo ou pelo relativismo, percebendo as diferenças e nuances entre as visões de ciência produzidas por diferentes grupos. No entanto, os resultados aos quais ele chega são curiosos. Se compartilhava uma visão da ciência tão próxima à dos cientistas citados acima e percebia as divergências epistemológicas entre os que praticam a ciência e aqueles que a analisam, por que ele não declara guerra? Como se enveredar nos ―absurdos‖ produzidos por esse grupo e não denunciá-los? Porque, para Wolpert, e talvez para qualquer cientista britânico escrevendo antes da eclosão das Guerras da Ciência do outro lado do Atlântico, ―isso é irrelevante‖145. Não importa o quão desvairadas pareciam as idéias que a filosofia, da sociologia ou da antropologia tinham a respeito do conhecimento científico, isso não era do interesse dos cientistas. Mais do que isso, Wolpert defendia que essas dúvidas filosóficas deveriam realmente ter bons motivos para existir, ele não nega a relevância desses problemas, no entanto, ―nega fortemente a relevância desses problemas para a ciência‖146. Wolpert entendia como perfeitamente plausível a separação entre os problemas filosóficos com a realidade, racionalidade, objetividade e verdade e a forma tal qual a ciência lida com esses temas. De forma diferente, Gross, Levitt, Sokal, Bricmont e outros percebem 144 WOLPERT, Lewis. The unnatural nature of science. Londres: Faber and Faber, 1992, p. 107. WOLPERT, Lewis. The unnatural nature of science, p. 106. 146 WOLPERT, Lewis. The unnatural nature of science, p. 106. 145 69 um perigo no avanço dessa discussão epistemológica que põe em dúvida as concepções clássicas de verdade, realidade ou objetividade. Nesse ponto, chegamos a questões fundamentais para o desenvolvimento desse capítulo: o que levou os cientistas a essa mudança de atitude? Por que se fez necessária tão virulenta reação? O relativismo e o ceticismo são tão antigos quanto a filosofia. As críticas aos limites da ciência são tão antigas quanto a própria ciência. Mesmo as formas específicas de relativismo e construtivismo em jogo nas Guerras da Ciência já circulavam há algumas décadas. Por que as respostas ―em defesa da ciência‖ proliferam de forma tão rápida justamente nessa configuração sóciohistórica específica? Não pretendo, obviamente, exaurir as possibilidades de resposta a essas questões. Minhas pretensões, modestas, se resumem a tentar recuperar os principais argumentos mobilizados pelo grupo ―pró-ciência‖, iluminando assim alguns dos pontos mais sensíveis do debate. Mais precisamente, recortarei a questão em três eixos. O primeiro, mais amplo, diz respeito à imagem pública da ciência, ou antes, às transformações da imagem pública da ciência que essas novas abordagens poderiam ocasionar. Em segundo lugar, está a questão das condições de possibilidade para a crítica da ciência. Isto é, quem pode falar da ciência? Esses dois pontos nos remetem à relação entre leigos e especialistas na dinâmica da ciência. Nesse caso, não vou me ater ao debate, que se intensificou depois das Guerras da Ciência, da participação do público em decisões científicas e tecnológicas, algo que ficou conhecido como a ―terceira onda dos science studies‖147. O que quero enfatizar é a possibilidade (ou impossibilidade) de analisar o conteúdo cognitivo da ciência sem domínio técnico (ou formação profissional) do campo que se pretende examinar. Por último, quero voltar para as questões políticas que derivam desses pontos anteriores e mostrar como eles se articulam. A idéia da ciência como um conhecimento necessariamente público aparece, na Modernidade, como uma exigência epistemológica. Para merecer o título de ―científico‖, o conhecimento deve, ao menos em princípio, ser acessível e disponível para todos os interessados. Não apenas os resultados, mas também (e talvez principalmente) os métodos e procedimentos envolvidos na produção de uma teoria ou de um experimento não podem ser propriedade de um indivíduo ou de um grupo. Frisei que isso ocorre ―ao menos em princípio‖ porque, na prática cotidiana da ciência, o significado e a extensão do público na (ou da) 147 Essa expressão foi forjada por Harry Collins e Robert Evans. Cf. COLLINS, Harry; EVANS, Robert. The Third Wave of Science Studies: Studies of Expertise and Experience. Social Studies of Science. v. 32, n. 2. 2002, p. 235-396. Mais recentemente, Harry Collins e Robert Evans elaboraram uma análise mais sistemática em: COLLINS, Harry; EVANS, Robert. Rethinking expertise. Chicago: The University of Chicago Press, 2007. (Edição brasileira: Repensando a expertise. Belo Horizonte: Frabrefactum, 2010). 70 ciência se alteram de acordo com contingências históricas, sociais, políticas, etc. De forma geral, esse público é a comunidade científica148. No caso específico envolvendo as Guerras da Ciência, são necessárias duas distinções. Não me refiro aqui à dimensão pública da ciência, de forma mais ampla, que se relaciona mais diretamente com a exigência de publicidade como forma de legitimação do conhecimento. Nem tampouco à compreensão pública da ciência, que investiga quanto de conteúdo de ciência um determinado grupo (que pode obedecer a recortes nacionais, etários, de gênero, de escolaridade, de classe, etc.) domina, seguindo geralmente o modelo de déficit, segundo o qual, o importante a se saber de ciência é conteúdo, sempre mais e mais. O meu alvo aqui será sobretudo uma imagem pública da ciência. Isto é, como o público em geral percebe os limites da ciência? Que status cognitivo é atribuído ao conhecimento científico, mesmo que não inteiramente elaborado de forma consciente, mas expresso nas atitudes diante da ciência? Formulando de forma um tanto provocadora: as pessoas realmente acreditam na ciência? De qualquer modo, minha intenção não é responder a essas perguntas, mas examinar como os ―defensores da ciência‖ percebiam a ascensão das novas abordagens da ciência como um risco à tradicional imagem pública da ciência, acarretando uma perda de credibilidade para o discurso científico. De maneira geral, essa imagem pública foi entendida como sendo mais passiva do que a compreensão pública, na medida em que ela não dependeria diretamente da quantidade de conhecimento científico dominada por determinado grupo sendo baseada na confiança na ciência. Essa imagem pública da ciência tem mais a ver com o que poderíamos chamar de uma ―epistemologia popular‖. De qualquer modo, apesar das distinções, tanto a compreensão pública da ciência, quanto a sua imagem pública, são fenômenos que derivam da proliferação da ciência e da tecnologia no século XX, impregnando parcelas cada vez maiores da sociedade em regiões cada vez mais extensas do globo. O século XX assiste a uma crise nesse processo de proliferação, que acarretou, como uma de suas conseqüências, na percepção de certos riscos 148 Alguns estudos clássicos dos science studies se debruçaram sobre a dimensão pública da ciência. Steven Shapin e Simon Schaffer, por exemplo, examinaram a formação de uma audiência qualificada, que se articulava em torno da Royal Society inglesa no seio da formação do empirismo do século XVII. Cf. SHAPIN, Steven; SCHAFFER, Simon. Leviathan and the air-pump. Hobbes, Boyle and the experimental life. Princeton: Princeton University Press, 1985. Bruno Latour, por sua vez, dedicou muita atenção à corrida pela arregimentação de um número cada vez maior de aliados, que se acentua com o advento da big science, exigindo uma quantidade cada vez maior de verbas, laboratórios cada vez mais equipados, equipes cada vez mais qualificadas, e assim por diante, diminuindo cada vez mais a quantidade de grupos com possibilidades de desenvolver pesquisas de ponta e assim, reduzindo o público com acesso efetivo à produção da ciência a um número cada vez menor. Cf. LATOUR, Bruno. Ciência em ação. 71 advindos do avanço da ciência e da tecnologia149. Obviamente, cientistas e formuladores de políticas de ciência e tecnologia demonstraram preocupação com esse problema. Com efeito, alguns sociólogos e historiadores tratam a própria existência do hiato entre a ciência e o público como uma forma de projetar os cientistas para a posição de mediadores culturais pela via da divulgação e popularização150. Contudo, não foi apenas através da popularização que o problema foi atacado. No início do Capítulo 1, tratei das relações entre a profissionalização da história e da sociologia da ciência como uma das formas de aproximação entre a ciência e o público, no entanto, as Guerras da Ciência parecem mostrar que o efeito não foi o esperado. Em primeiro lugar, o grande público não foi significativamente atingido por essas tentativas; em segundo lugar, e talvez mais importante, as formas de análise resultantes desse processo causaram, em muitos cientistas, a sensação oposta à esperada, vendo nelas um perigo à relação entre ciência e público. Mesmo um autor como Lewis Wolpert, cuja aceitação do pluralismo das abordagens epistemológicas em relação à ciência chama a atenção (especialmente se considerarmos os cientistas que escreveram sobre o tema na década de 1990), se refere com certa preocupação à questão. Para ele, é importante que cultivemos uma imagem pública da ciência mais próxima da ciência, uma vez que a ―ciência nos fornece a melhor maneira de entender o mundo‖151. Embora sem reducionismos e que se atenha também a uma compreensão qualitativa, da natureza da ciência. Para isso, é importante realizar melhores trabalhos de divulgação e popularização de ciência, que dêem mais ênfase em questões da dinâmica da ciência. Dessa forma, a ciência poderia se livrar da culpa pela bomba atômica ou pelo desastre de Bhopal e reaparecer como uma ferramenta na mão de políticos, intelectuais e cidadãos devidamente preparados para realizarem escolhas que envolvem conteúdos técnicos. Essa posição parece uma versão branda daquela defendida pelos cientistas envolvidos nas Guerras da Ciência, pois reconhece a importância de uma imagem pública da ciência que considere seu status epistêmico privilegiado, ao mesmo tempo em que não exige conhecimento técnico profundo para a tomada de decisões políticas que envolvam diretamente conteúdos científicos. Paul Gross e Norman Levitt, por exemplo, são mais rigorosos na relação entre imagem pública da ciência, formação científica e decisões públicas envolvendo conteúdos de ciência. 149 DIERKES, Meinolf; VON GROTE, Claudia. Preface. In: DIERKES, Meinolf; VON GROTE, Claudia (orgs.). Between understanding and trust: the public, science and technology. Nova Iorque: Routledge, 2000, p. x. 150 BENSAUDE-VINCENT, Bernadette. A genealogy of the increasing gap between science and the public. Public Understanding of Science. n. 10. 2001, p. 99-113. 151 WOLPERT, Lewis. The unnatural nature of science, p. 172. No original: ―science provides the best way of understanding the world‖. Tradução minha. 72 Para eles, as ―políticas de identidade‖ norte-americanas (envolvendo questões étnicas ou de gênero) subvertem a verdadeira democratização da discussão de assuntos científicos, pois não estimulam o processo de formação científica, único caminho para a participação pública 152. A idéia de que o exercício da cidadania requer um conhecimento utilizável em matéria de ciência e tecnologia é auto-evidente, asseveram os autores153. As decisões envolvendo esses temas exigem grande capacidade de examinar de forma precisa as variáveis técnicas em jogo. Idealmente, a grande massa da população deveria ser capaz de pensar cientificamente de forma acurada, tornado o raciocínio científico praticamente uma segunda natureza 154. O público deveria então ter uma conhecimento técnico de questões científicas, além de uma imagem o mais próxima possível daquela dos cientistas. A melhor imagem pública da ciência, nesse caso, derivaria de uma melhor compreensão pública da ciência. As abordagens consideradas pelos autores como anticientificistas contribuiriam para o enfraquecimento da educação científica de qualidade e, mais significativamente, para o enfraquecimento de uma imagem pública da ciência baseada nos padrões tradicionais de valorização do privilégio epistêmico da ciência, favorecendo a disseminação de uma imagem herética ou iconoclasta da ciência. O livro Imposturas Intelectuais não se refere em momento algum à expressão imagem pública da ciência, e nem elabore uma interpretação do tema nos termos mais próximos ao que vimos outros cientistas desenvolverem. Isso é curioso, justamente porque a recusa a esse tipo de interpretação não o afasta automaticamente do campo no qual se pôs em pauta as transformações da imagem pública da ciência na segunda metade do século pelas mãos das novas abordagens da ciência; mais precisamente, a ausência do debate que se vale do referencial teórico desenvolvido ao redor da imagem pública da ciência não evita que o livro seja efetivamente um manifesto em defesa de um determinado papel da ciência na arena pública e, assim, de uma determinada imagem pública da ciência. Ele pretende denunciar publicamente como algumas práticas intelectuais (associadas ao relativismo cognitivo e ao pós-modernismo) se valem de abusos do conteúdo científico ou da epistemologia. Com efeito, o próprio ―caso Sokal‖ se constitui numa intervenção pública, que se alongou para além do embuste na Social Text sobretudo ao longo de coberturas jornalísticas. O que os autores agrupados aqui como ―defensores da ciência‖, ou ―pró-ciência‖, que incluem Sokal, Bricmont, Gross, Levitt, além de outros cientistas e alguns filósofos da ciência 152 GROSS, Paul; LEVITT, Norman. Higher Superstition, p. 251. GROSS, Paul; LEVITT, Norman. Higher Superstition, p. 244. 154 GROSS, Paul; LEVITT, Norman. Higher Superstition, p. 244-249. 153 73 põem em pauta é que as novas abordagens da ciência desenvolvidas ao longo da segunda metade do século XX contribuíam para uma imagem pública da ciência diferente daquela defendida tradicionalmente pelos próprios cientistas. Essa imagem pública se entrelaça com uma disputa epistemológica. Isto é, as relações entre a aceitação do privilégio epistêmico da ciência e uma maior confiança na ciência são recíprocas; são também opostas à outra reciprocidade que pretensamente se daria entre uma postura epistemológica mais cética e uma desconfiança em relação à ciência. Essa última poderia acarretar no anticientificismo, diminuindo a credibilidade da ciência na arena pública e a possibilidade de basearmos nosso julgamento e nossa ação nos critérios de racionalidade, objetividade e verdade. Desse modo, a defesa da ciência encampada nas Guerras da Ciência passa também pela defesa de certa imagem pública da ciência. As Guerras da Ciência são, em aspectos fundamentais, ―Guerras da Imagem Pública da Ciência‖. Se levada ao extremo, a posição encampada pelos ―defensores da ciência‖ implicaria no controle – por parte dos cientistas – do que poderia ser veiculado como imagem pública da ciência, na legitimação dos veredictos considerados científicos e na criação de um imenso consenso em torno de um único modelo de decisão baseado na ciência. Estaríamos, assim, diante da terrível perspectiva de um público dócil, completamente incapaz de se postar de forma crítica diante de decisões de conteúdo técnico científico, justamente porque compartilha com os cientistas a mesma imagem pública da ciência. Isso implica na segunda questão apontada como eixo desse capítulo, quem pode falar da ciência? Esse segundo ponto toca em temas delicados e transfere o enfoque do debate para uma audiência mais restrita. Ao invés do público geral, trata-se da relação direta entre os grupos em disputa nas Guerras da Ciência. Sociólogos, historiadores e filósofos – entre outros acadêmicos dedicados ao estudo da ciência como um conjunto de práticas culturais e interferências sociais – parecem ter de prestar contas aos cientistas para que possam ter seu ofício legitimado. Obviamente, mesmo nos momentos mais enfáticos da argumentação, os autores ―pró-ciência‖ não ousam interditar os trabalhos dos analistas da ciência. Desde que esses últimos obedeçam a certos critérios. Ao contrário do que, como já apontei, defendia Lewis Wolpert, os cientistas envolvidos nas Guerras da Ciência não operavam com a distinção entre a abordagem histórica, filosófica ou sociológica de conceitos como verdade, objetividade ou realidade e os problemas enfrentados por cientistas na lida com os mesmos temas, não admitindo a possibilidade de mais de uma abordagem plausível para esses assuntos. Repete-se então um leitmotiv das análises sócio-históricas da ciência no século XX, 74 a demarcação das suas condições de possibilidade, sua (in)capacidade de avançar efetivamente no objeto que se propõe a estudar. Durante a primeira metade do século passado, essa tensão se apresentava na ―querela internalismo versus externalismo‖ e na dicotomia de Reichenbach, que propunha a rígida distinção entre ―contexto da descoberta‖ e ―contexto da justificativa‖. No capítulo anterior, resumi essa posição, seguindo Alan Chalmers, como estratégia positivista. Após os anos 1960, contudo, com as abordagens desenvolvidas a partir de Thomas Kuhn, travou-se uma contenda entre a interpretação desenvolvida n‘A estrutura das revoluções científicas e os filósofos da linhagem de Karl Popper155. Esse episódio fecha um primeiro ciclo de disputas em torno das formas adequadas de análise da ciência. Depois disso, principalmente com a ascensão do ―programa forte‖ da Escola de Edimburgo, os ventos pareciam mais favoráveis aos historiadores e sociólogos, que se sentiam mais confiantes em relação à apropriação do conhecimento científico como objeto legítimo de suas disciplinas. As Guerras da Ciência retomam o mote; entretanto, trouxeram à tona uma variação. Enquanto as disputas anteriores aos anos 1960 se deram no interior das ciências sociais, da filosofia e da historiografia, resultando numa polarização entre os praticantes de uma determinada disciplina, a insatisfação agora era proveniente sobretudo de um grupo de cientistas naturais, que foram eventualmente acompanhados de filósofos e, em menor número, sociólogos. Era necessário reafirmar os critérios de demarcação, recortar novamente o campo legítimo de cada disciplina. As Guerras da Ciência são uma reação ao avanço dos estudos sócio-históricos em direção ao conteúdo cognitivo das ciências, marcam o retorno de uma questão que parecia superada. No já referido evento, The Flight from Science and Reason, houve uma seção dedicada à discussão das teorias sociais da ciência na qual se faz basicamente a defesa de um modelo de análise sociológica que retorne a concepções que respeitem as tradicionais restrições disciplinares que foram sendo progressivamente abandonadas desde a década de 1960. Susan Haack, por exemplo, insiste na distinção entre uma ―boa sociologia da ciência‖ e uma ―má sociologia da ciência‖156. A primeira vertente é descrita como ―sóbria‖, sendo capaz de perceber o que faz parte do ambiente externo no qual os cientistas estão imersos e o que conta como fator interno da pesquisa. Esse último possui, na ciência bem sucedida, autonomia relativa em relação ao primeiro. Por outro lado, a vertente da má sociologia da ciência pode ser descrita, ―com igual justiça‖, ressalta Haack, como ―intoxicada por um ou outro dos vários 155 Cf. LAKATOS, Imre; MUSGRAVE, Alan (orgs.). A crítica e o desenvolvimento do conhecimento e o posfácio de 1969 em: KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas, p. 217 e segs. 156 HAACK, Susan. Towards a sober sociology of science, p. 259-265. 75 mal-entendidos da tese de que a ciência é social‖157. A autora cita o programa forte, Harry Collins, Bruno Latour, Steve Woolgar entre os principais exemplos de má sociologia da ciência. Susan Haack aponta ainda para outra distinção entre os dois tipos de sociologia que, como veremos adiante, será freqüentemente acionada nas Guerras da Ciência, o argumento da competência científica. Assim, escreve Haack: ―a boa sociologia da ciência [...] requer alguma compreensão das teorias científicas e suas evidências, enquanto a má sociologia da ciência, não‖158. No mesmo sentido, Noretta Koertge sugere a adesão a uma versão sofisticada da epistemologia de Francis Bacon e da dicotomia de Reichenbach (o qual, acrescido de um ―contexto da aplicação‖, referente à tecnologia, se transforma numa espécie de ―triângulo de Reichenbach‖)159. Stephen Cole, por sua vez, engrossa o coro das críticas contra o desenvolvimento recente da sociologia da ciência, argumentando que as abordagens ―construtivistas‖, que sugiram nos anos 1970 e uma década depois já exerciam um papel dominante na disciplina, não conseguem realizar aquilo à que se propõe, a saber, apontar como fatores sociais específicos exerceram influência sobre o certo conteúdo cognitivo. Com efeito, Cole afirma que essa corrente da sociologia da ciência transformou a ciência numa caixa preta ao se apoiar num princípio, o de que são as negociações sociais que determinam a ciência, impossível de ser provado. Assim, ele clama por uma investigação sociológica baseada na agenda fixada por Merton160. Esses artigos, escritos por filósofos e sociólogos, guardam em comum uma tentativa de recuperar uma forma de análise social da ciência baseada na tradição pré-kuhniana. Os cientistas, ao elaborarem suas críticas aos mesmos temas, geralmente construíam sua argumentação sob uma perspectiva diferente. Ao invés de proporem uma aproximação com uma tradição anterior no interior das próprias disciplinas, eles buscavam nas ciências naturais os critérios que garantiriam maior legitimidade às análises sócio-históricas. 157 HAACK, Susan. Towards a sober sociology of science, p. 262. HAACK, Susan. Towards a sober sociology of science, p. 260. 159 KOERTGE, Noretta. Wrestling the social constructor. In: GROSS, Paul; LEVITT, Norman; LEWIS, Martin. The flight from science and reason. Annals of New York Academy of Sciences. Nova Iorque: The New York Academy of Sciences, 1995, p. 266-273. 160 Além disso, esse artigo parece atravessado por um certo ressentimento contra os construtivistas, pois, ao constituírem-se como a ―elite da sociologia da ciência‖, eles dominaram as principais editoras e revistas acadêmicas da área, impedindo que propostas alternativas, como as apresentadas pelo próprio Cole, tivessem espaço. COLE, Stephen. Voodoo sociology. Recent developments in the sociology of science. In: GROSS, Paul; LEVITT, Norman; LEWIS, Martin. The flight from science and reason. Annals of New York Academy of Sciences. Nova Iorque: The New York Academy of Sciences, 1995, p. 274-287. 158 76 Exemplificarei esse ponto com uma citação, um tanto longa, extraída do livro Higher Superstition. Vale à pena dedicarmos alguma atenção a ela, contudo, pois nela Paul Gross e Norman Levitt deixam bem claras as suas exigências para a questão161. Uma investigação séria da inter-relação entre fatores sociais e culturais com o trabalho de pesquisa científica em um dado campo é um empreendimento que requer, paciência, sutileza, erudição e conhecimento da natureza humana. Acima de tudo, no entanto, requer uma apreciação íntima da ciência em questão, de sua lógica interna e do estoque de dados no qual ela se baseia, de suas ferramentas intelectuais e experimentais. Com isso, estamos completamente cientes de que estamos estabelecendo padrões muitos altos para realização bem-sucedida de um trabalho como esse. Estamos dizendo, com efeito, que um acadêmico devotado a um projeto desse tipo deve ser, à propósito, um cientista de competência profissional, ou próximo disso. Esse trecho aponta para uma demarcação, uma estreita divisão epistemológica do trabalho disciplinar. Para falar do conteúdo cognitivo da ciência, é necessário ser um cientista ou, ao menos, estar informado pelas mesmas concepções epistemológicas. Não por acaso, o prefácio à segunda edição do livro inicia-se exatamente com a afirmação de valorização da história e da sociologia da ciência162. Esse não é apenas um efeito retórico ou uma hipocrisia, mas é o fortalecimento dessa divisão epistemológica, ressaltando que as análises históricas e sociológicas têm seu espaço e é apenas dentro desse espaço – geralmente determinado em negativo, em oposição ao que é de direito dos que possuem formação científica – que elas podem se manifestar. Alan Sokal e Jean Bricmont são menos enfáticos e mais cuidadosos em relação a essas restrições, embora não pareçam discordar delas. Logo no início do livro, por exemplo, eles tentam esclarecer a questão da competência necessária para analisar a ciência e insistem que não definem sua postura em termos de formação científica, afirmando que ―o valor intelectual de uma intervenção é determinado pelo conteúdo, não pela identidade de quem fala e muito menos pelos diplomas‖163. Apesar disso, em alguns momentos, ecoam, de forma mais branda, as exigências apresentadas por Gross e Levitt. Assim, num ponto do texto em que começam usando expressões leves, afirmando que ―é uma boa idéia saber do que se está falando‖ e que devemos ―evitar fazer colocações arbitrárias sobre as ciências e sua epistemologia‖ (afirmações com as quais virtualmente qualquer analista ou crítico da ciência concordaria), os 161 GROSS, Paul; LEVITT, Norman. Higher Superstition, p. 235. No original: ―A serious investigation of the interplay of cultural and social factors with the working of scientific research in a given field is an enterprise that requires patience, subtlety, erudition, and a knowledge of human nature. Above all, however, it requires an intimate appreciation of the science in question, of its inner logic and of the store of data on which it relies, of its intellectual and experimental tools. In saying this, we are plainly aware that we are setting very high standards for the successful pursuit of such a work. We are saying, in effect, that a scholar devoted to a project of this kind must be, inter alia, a scientist of professional competence, or nearly so‖. Tradução minha. 162 GROSS, Paul; LEVITT, Norman. Higher Superstition, p. ix. 163 BRICMONT, Jean; SOKAL, Alan. Imposturas Intelectuais, p. 25. 77 autores acabam afirmando que ―para falar de assuntos de forma sensata, é preciso compreender as teorias científicas relevantes em nível bastante profundo e inevitavelmente técnico‖164. Além disso, um dos objetivos do livro é justamente o de desmascarar alguns expoentes da ―filosofia pós-moderna‖ declarando-os incompetentes na utilização de aparato conceitual da ciência nas suas obras. Qualquer uso identificado como mau-uso se torna, na retórica dos autores, abuso. Esclareço que compartilho com Sokal e Bricmont muitas das críticas e que considero abusivos muitos dos usos aos quais eles fazem referência. Além disso, não é meu objetivo aqui detalhar as análises realizadas no livro Imposturas Intelectuais. Quero utilizar exemplos que mostram que, apesar de tentarem dar uma aparente ―permissividade‖ à abordagens da ciência, Sokal e Bricmont operam efetivamente um recorte rigoroso das possibilidade de análise social, histórica ou filosófica da ciência. Isso ocorre, por exemplo, em um trecho do livro no qual – analisando a sociologia da ciência de Bruno Latour –, esses autores utilizam reiteradamente a falta de ―competência científica‖ como um os fatores do fracasso ao qual eles atribuem à interpretação de Latour. A freqüente comparação com o cientista especialista em determinado campo e com a crescente especialização, que faz com que mesmos especialistas de campos vizinhos tenham dificuldade de comunicação de temas relativos à (ou exclusivos de) sua área, reforça retoricamente a afirmação do domínio técnico como critério pra o estudo social de um determinado campo da ciência165. Apesar do apelo à formação técnica em ciência como uma exigência para um estudo filosófico ou sócio-histórico da ciência soar algumas vezes como um argumento de autoridade, não acredito que devamos carregar as tintas nessa interpretação. Ela traz consigo um reducionismo que pode empobrecer a análise. A ênfase do domínio técnico parece ser uma forma mais ou menos implícita de estabelecer um critério epistemológico para essas análises, mais precisamente, uma epistemologia que se coadune com a imagem mais tradicional de ciência, tal como defendida pelo grupo ―pró-ciência‖. Desse modo, o alvo das críticas é uma postura epistemológica que rompe com o modelo tradicional, que dá como superadas as distinções e imposições que predominaram até os 1960 e que tem como uma das bandeiras metodológicas a suspeita em relação ao que os cientistas afirmam sobre as suas próprias práticas. Efetivamente, a crítica ao desconhecimento do conteúdo da ciência é uma forma de atacar tangencialmente essa postura epistemológica iconoclasta e enfraquecê-la. 164 165 BRICMONT, Jean; SOKAL, Alan. Imposturas Intelectuais, p. 204. BRICMONT, Jean; SOKAL, Alan. Imposturas Intelectuais, p. 99-103. 78 O que quero defender é que um filósofo, historiador ou sociólogo que, mesmo sem a devida formação científica, não apresente desafios à epistemologia tradicional defendida pela maioria dos cientistas, não seria encarado como uma ameaça nas Guerras da Ciência. Assim, a disputa entre leigos e especialistas, ao menos da forma como foi apresentada nas Guerras da Ciência, encobre uma disputa entre dois modelos epistemológicos que entraram em conflito. É nessa chave, por exemplo, que Alan Sokal recorta, como já apontei acima, as tarefas possíveis para um estudo da dinâmica da atividade científica. A referida adesão à dicotomia de Reichenbach é parte da defesa de certa atitude epistemológica como única possível para se falar da ciência. Assim, após defender que as abordagens históricas ou sociológicas da ciência se contenham no estudo de temáticas que estão, digamos, à margem do conteúdo cognitivo da ciência, ele se volta contra as correntes que ―atacam a concepção normativa da pesquisa científica como uma busca por verdades ou verdades aproximadas sobre o mundo‖ e que tratam a ciência como uma ―mera prática social entre outras‖166. Sokal repete as mesmas afirmações, ipsis literis, em outro artigo, escrito com Jean Bricmont. Além disso, os autores incluem uma nota de rodapé que explicita um ponto importante. Assim, afirmam que167. Obviamente, nós não queremos dizer que o único (ou mesmo o principal) propósito da história da ciência é ajudar os cientistas em atividade. A história da ciência obviamente possui um valor intrínseco como um contribuição à história da sociedade humana e do pensamento humano. Mas nos parece que a história da ciência, quando bem feita, pode também ajudar os cientistas em atividade. No sentido oposto, mas com propósito similar, mesmo um cientista de formação e competência reconhecidas, como o prêmio Nobel Ilya Prigogine, pode ser duramente criticado por sustentar posições epistemológicas que contestam a epistemologia tradicional. Mesmo que para essa crítica sejam mobilizados argumentos científicos e não epistemológicos, utilizando mais uma vez a estratégia da ―competência científica‖ para escamotear desavenças que se situam no campo epistemológico168. Mais uma vez, quero me permitir levar os argumentos defendidos nas Guerras da Ciência à interpretações extremas. No caso das possibilidades de se falar sobre a ciência, 166 SOKAL, Alan. What the Social Text affair does and does not prove. A critical look at the ―science studies‖. In: ASHMAN, Keith; BARINGER, Philip. After the science wars. Routledge: Londres, 2001, p. 9-10. No original: ―attack the normative conception of scientific inquiry as a search for truths or approximate truths about the world […] science as just another social practice‖. Tradução minha. 167 BRICMONT, Jean; SOKAL, Alan. Science and sociology of science: beyond war and peace. In. COLLINS, Harry; LABINGER, Jay. The one culture: a conversation about science. Chicago: The University of Chicago Press, 2001, p. 30. No original: ―Of course, we don‘t mean to imply that the only (or even principal) purpose of the history of science is to help working scientists. History of science obviously has intrinsic value as a contribution to the history of human society and human thought. But it seems to us that history of science, when done well, can also help working scientists‖. Tradução minha. 168 BRICMONT, Jean. Science of chaos or chaos in science? In: GROSS, Paul; LEVTT, Norman; LEWIS, Martin. The flight from science and reason. Annals of New York Academy of Sciences. Nova Iorque: The New York Academy of Sciences, 1995, p. 131-175. 79 chegamos a um ponto não tão diferente daquele mencionado em relação à imagem pública da ciência. O retorno à estratégia positivista impõe para a história e a sociologia da ciência um papel ornamental, sem acesso à discussão que envolvesse o núcleo da ciência. Desse modo, relegadas a uma condição secundária, essas disciplinas são esvaziadas de qualquer possibilidade de interferência epistemológica, pouco ou nada podendo dizer a respeito da dinâmica da ciência. Ainda mais, com a inclusão do argumento da competência científica como exigência metodológica, as restrições impostas deixam como única forma legitima de análise da ciência aquelas informadas por uma perspectiva idêntica à dos cientistas, ignorando a necessidade de uma distância entre a prática do cientista e aquela do historiador ou do sociólogo169. Além do controle sobre o público consumidor de ciência, os cientistas teriam também controle sobre os analistas da ciência, que deviam compartilhar com eles a formação e os valores epistemológicos. As análises sociais da ciência deveriam concordar com os julgamentos que os próprios cientistas fazem da sua prática, deveriam servir como uma extensão da própria ciência, legitimando-a, uma vez que os verdadeiros cientistas estariam ocupados demais em ―descobrir a verdade do mundo‖. Que terrível quadro, onde a sociologia e a história da ciência estariam subordinadas aos cientistas, incapazes de cultivarem uma perspectiva epistemológica que os permita uma abordagem metodológica autônoma (mesmo que parcialmente) e crítica (mesmo que potencialmente) da atividade científica. Estou de pleno acordo de que são necessários critérios de demarcação disciplinar que estabeleçam condições de possibilidade para uma apropriação legítima da ciência pela sociologia, pela história, pela filosofia e por quais mais disciplinas interessadas nesse objeto. É claro que, para ser devidamente apropriado, o objeto exige certas técnicas de manipulação. As Guerras da Ciência puseram novamente em evidência as disputas pela possibilidade de se falar da ciência, submeteram novamente à tensão as fronteiras disciplinares, expuseram as opções pelos critérios para o recorte de cada espaço disciplinar. Mais precisamente, as intervenções dos cientistas pareciam carregadas do desejo de submeter às análises da ciência à sua tutela. A domesticação do público pela homogeneização da imagem pública da ciência e a domesticação da crítica pela imposição de determinados critérios para a legitimação da possibilidade de falar da ciência obedecem ao mesmo projeto epistemológico e político. Espero torná-lo mais claro ao examinar a emergência, nas Guerras da Ciência, de uma vinculação necessária entre uma determinada perspectiva epistemológica e a atuação política crítica e responsável. 169 MAIA, Carlos Alvarez. Fleck e a compreensão humana do mundo. No prelo. 80 Antes, porém, quero apenas explicar um pouco mais detidamente a perspectiva epistemológica defendida pelo grupo ―pró-ciência‖. Referi-me diversas vezes a essa epistemologia sob a alcunha de ―tradicional‖. Isso se dá justamente por sua freqüente associação com os valores (supostamente) defendidos pelos ―pais fundadores‖ da ciência e da e da epistemologia, como Bacon, Descartes, Galileu e Newton. Mais ainda, essa epistemologia é tradicional por sua filiação, nem sempre de forma direta, à corrente neopositivista dominante na primeira metade do século XX, representada aqui pela forma peculiar de restrição analítica em relação às disciplinas de enfoque sócio-histórico, proveniente da ―dicotomia de Reichenbach‖ e da ―querela internalismo versus externalismo‖. Sintetizei-as sob a expressão estratégia positivista. O deslocamento dessa epistemologia, de ―dominante‖ a ―tradicional‖, ocorre com o surgimento, desde a década de 1960, de abordagens fortemente contestatórias que, propondo uma nova epistemologia, se tornaram então dominantes. Mas enfim, o sentido aqui não é recontar essa história da epistemologia no século XX, que já foi abordada diversas vezes ao longo desse texto. A pergunta sobre a qual me debruçarei agora é a seguinte: como esses cientistas do final do século XX, em disputa nas Guerras da Ciência, ressignificaram essas tradições e cunharam, com base nelas, sua perspectiva epistemológica? Quais as principais características dessa epistemologia? De forma breve, descreveria essa epistemologia como uma forma de compromisso com uma realidade, que é exterior ao sujeito e dele independente, por isso objetiva, que pode ser analisada racionalmente; do sucesso dessa análise decorrem verdades, isto é, acoplamentos entre os enunciados e a realidade independentes do sujeito enunciador, que são universais, posto que se referem à regularidades encontradas na natureza. Logo, os principais valores em jogo são a realidade, a racionalidade, a objetividade, a universalidade e a verdade. Ademais, a ciência nos forneceria o melhor modelo de comprometimento com esses valores. Ela compõe um registro epistêmico privilegiado, uma vez que se trata da melhor maneira de compreender o mundo. Essa descrição, contudo, trata a epistemologia de forma muito abstrata, desencarnada. É preciso alcançar as maneiras manipulação desses valores, de utilização efetiva desse compromisso epistemológico. É preciso examinar a epistemologia posta em prática. Isso nos permite retornar ao projeto proposto pelos cientistas nas Guerras da Ciência, uma vez que essa epistemologia é efetivamente posta em prática a partir da sua vinculação com uma atuação política, que pode ser expresso da seguinte forma: a melhor maneira de entender o mundo conduzirá a uma melhor maneira de intervenção na arena pública. Por isso, s abordagens que põem sob suspeição essa epistemologia, principalmente através da afirmação de que as verdades produzidas pela ciência se referem sempre a 81 determinada configuração sócio-histórica, são encaradas como fontes de risco não apenas para a ciência, mas, acima de tudo, para a sociedade de forma geral. Assim, apenas uma epistemologia comprometida com uma verdade universal capaz de descrever a realidade objetiva estaria equipada para lidar com o mundo e agir criticamente sobre ele. Esse argumento guarda um paradoxo: só uma ciência livre da política e independente da sociedade pode nos dar ferramentas eficientes para agir politicamente e intervir na sociedade. Antes de prosseguir, é preciso ressaltar que as Guerras da Ciência não são uma disputa entre “direita” e “esquerda”, como foi levantado por alguns autores (a maioria dos analistas do fenômeno, no entanto, levaram em conta essa ponderação). Obviamente, a coloração política dos envolvidos – ponto que já abordei, aqui e acolá, sem maior precisão – foi tema de diversos debates, suscitados pelas posições defendidas pelos próprios autores. Paul Gross e Norman Levitt rotularam o grupo contra o qual se voltavam de ―esquerda acadêmica‖. Alan Sokal e Jean Bricmont, por sua vez, defendiam explicitamente sua filiação à esquerda e insistiam em discutir o seu futuro. Apesar disso, as tensões epistemológicas não estavam circunscritas a um ou outro extremo do espectro político. Elas se dirigiam sempre à atuação política de forma mais ampla, como forma de agir na arena pública. Diante do exposto, penso que alcançamos uma imagem mais nítida da posição defendida pelos cientistas no calor das Guerras da Ciência. Ou, pelo menos, algumas das características comuns em meio a posturas que possuem muitas divergências entre si. Eles travaram uma batalha em defesa dos valores que consideravam como o único caminho possível para a ação crítica no mundo. Ela pode ser dividida em dois níveis diferentes. O primeiro nível pode ser considerado mais imediato, cotidiano e doméstico. Ele se refere aos perigos que as abordagens consideradas ―anticientificistas‖ poderiam oferecer à curto prazo, especialmente nos Estados Unidos, de onde se originaram a maioria das intervenções. Assim, as preocupações voltam-se para a imagem pública da ciência, para a educação científica nas universidades e escolas (sobretudo as high school) norte-americanas, para o futuro da profissão acadêmica e para o financiamento público da pesquisa. Para esses autores, todos esses aspectos poderiam ser afetados seriamente se não fosse reforçada uma determinada perspectiva epistemológica, a qual, supostamente, eles representam. O segundo nível é mais genérico e, em certo sentido, mais profundo. Diz respeito à impossibilidade de decidir politicamente fora do quadro de referência fornecido pela epistemologia tradicional. Só a partir do compromisso com a realidade objetiva, alcançável pela verdade absoluta, poderíamos obter critérios para nosso julgamento e a nossa ação. Essa perspectiva epistemológica não é apenas a escolha metodológica da ciência, ela é uma 82 necessidade política e uma obrigação moral. O avanço da humanidade depende da afirmação desses valores. Com base nisso, os cientistas defendiam o controle sobre a imagem pública da ciência e dos analistas legítimos da ciência. Por isso eles se voltaram tão enfaticamente contra as novas perspectivas de abordagem da ciência, percebendo-as como arautos do relativismo e do irracionalismo. Esses impropérios epistemológicos conduziriam a uma situação política de quietismo, incapaz de uma intervenção política crítica e, ainda pior, a uma conivência diante de qualquer atrocidade. Será que essa vinculação é necessária? Será que essas abordagens iconoclastas são culpadas de imobilismo, quietismo ou conivência? Será que não é possível construir outros critérios a partir dos quais é possível guiar o nosso julgamento e a nossa ação? Quero concluir esse estudo da história das Guerras da Ciência considerando essas questões. Não pretendo, obviamente, me aprofundar numa solução filosófica para esses problemas. É provável que alguns deles sejam insolúveis. Minha intenção, mais modesta, é vincular essas questões às controvérsias intelectuais do século XX, especialmente aquelas envolvendo a ciência e sua convivência com setores mais largos da sociedade ou da política. 83 Considerações Finais Certamente, a inserção de novas questões na conclusão – a respeito das implicações políticas da epistemologia desenvolvida pelas novas abordagens da ciência – quebra os protocolos formais estabelecidos para uma dissertação. No entanto, me parece pertinente adicionar um elemento mais propositivo num texto que se dedicou basicamente à apreciação de pontos de vista conflitantes. Penso que essas questões podem me ajudar a dar um sentido mais preciso às Guerras da Ciência. Ao mesmo tempo, elas podem suscitar debates sobre um tópico que interessa virtualmente a todas as disciplinas que se dedicam à análise da ciência sob uma perspectiva sócio-histórica, uma vez que tratam da possibilidade mesma dessas análises e, mais especificamente, das conseqüências de ordem política que advém de uma das principais correntes da área. Contudo, antes de atacar efetivamente os temas mais densos, tenho ainda duas tarefas. A primeira se parece mais com o que geralmente se espera de uma conclusão, que é recapitular de forma sistemática o conteúdo precedente e restabelecer algumas conexões que são importantes para a sua compreensão. A segunda tarefa é uma tentativa de mostrar, brevemente, que fim teve o fenômeno que acompanhamos até aqui. Para tanto, é importante examinar o esvaziamento das formas mais agressivas de embate e o surgimento crescente de intervenções cujo objetivo declarado era abandonar o clima de guerra e debater as divergências em um tom mais conciliador. As Guerras da Ciência foi o nome pelo qual se chamou o conjunto das reações de alguns cientistas e filósofos da ciência contra uma determinada perspectiva epistemológica que, supostamente, acarretavam no enfraquecimento da ciência perante a sociedade. Tratei-as aqui como um fenômeno histórico e, embora tenha enfatizado especialmente as discussões epistemológicas que elas punham em pauta, tentei sempre vinculá-las a questões de ordem social e política mais amplas em quais a ciência está implicada, inserindo-as em debates candentes no século XX sobre temas como a imagem pública da ciência ou a disputa em torno dos critérios de possibilidade para falar sobre a ciência de forma competente. Demarquei o início dos embates, ou a ―declaração formal de guerra‖, como chamei acima, a partir de 1994, com a publicação do livro Higher Superstition, por Paul Gross e Norman Levitt. Ele foi o estopim que deu origem a uma enxurrada de outras reações. Todavia, desde o final dos anos 1980 uma tensão surda já parecia prenunciar alguns dos temas postos em disputa. A filósofa 84 Isabelle Stengers, em um livro publicado originalmente em 1993, já estava atenta ao que, naquela altura, não era mais do que ―um rumor inquietante‖, espalhando-se pelo mundo dos cientistas170. Um ano depois, o rumor e a inquietação deram lugar a uma agitação estrondosa, intervenções enfáticas e, algumas vezes, raivosas. Essas reações, que se deram basicamente sob a forma de livros, artigos e conferências, assistiram a uma espetacular midiatização por ocasião do ―caso Sokal‖, quando o embuste pregado por Alan Sokal à revista Social Text e, por extensão, ao então emergente campo dos estudos culturais, alcançou a primeira página de importantes jornais e obteve vasta cobertura em todo o mundo. Com isso, as disputas epistemológicas ganharam efetivamente a arena pública, muitas vezes com um viés um tanto sensacionalista. Publicidades à parte, os cientistas que se envolveram no fenômeno pretendiam defender um certo tipo de epistemologia, que chamei aqui de tradicional. Ela se caracterizava por um compromisso estreito com a possibilidade humana de atingir, através da ciência, a verdade absoluta sobre a realidade objetiva, exterior e independente do sujeito cognoscente. E as formas de defesa dessa perspectiva foram assaz vigorosas e implicavam num determinado comportamento para o público consumidor de ciência e para os analistas – historiadores, sociólogos, filósofos e etc. –, que deveriam compartilhar com os cientistas o mesmo compromisso epistemológico, garantindo à ciência um privilégio epistêmico sobre quaisquer outras formas de explicação do mundo natural. Mas por que essa epistemologia precisava ser defendida tão ferozmente? De quem? Segundo esses cientistas, das vagas anticientificistas que assolavam setores da academia e da intelectualidade e que tinham origem justamente nos estudos sociais e históricos da ciência. O comportamento rebelde de certos setores das ciências humanas e sociais precisava ser denunciado e controlado. Os cientistas não se reconheciam mais nas descrições que a história e a sociologia fazia das suas práticas e, mais importante, discordavam frontalmente das implicações epistemológicas que deduziam desses trabalhos. É sabido que esses campos sofreram uma vigorosa renovação nas últimas décadas do século XX, mas por que essa renovação incomodou tanto os cientistas? Com efeito, desde a metade do século XX, um novo modelo de compreensão da atividade científica ganhava força entre historiadores e sociólogos. Esse modelo apontava para uma interpretação da ciência que levasse em consideração a sua dimensão humana, em contrapartida à excessiva valorização do papel ativo da natureza na produção dos conhecimentos ao seu respeito. Thomas Kuhn, David Bloor e Barry Barnes, Paul Feyerabend, 170 STENGERS, Isabelle. A invenção das ciências modernas, p. 11. 85 Bruno Latour e os science studies são os nomes de alguns dos principais responsáveis pelas formulações teóricas dessas novas abordagens. Em um percurso de algumas décadas, transformaram, pelo menos no interior da comunidade dos estudos da ciência, a imagem da ciência que nos dominava, como queria Kuhn. Desbancaram a hegemonia da estratégia positivista. Avançaram para além das restrições impostas pela ―dicotomia de Reichenbach‖, que afastava para as margens as explicações de caráter histórico ou sociológico, tratado como inferior, menos importante, ornamental em relação ao que efetivamente importante poderia ser dito sobre a ciência, privilégio da filosofia. Não de qualquer filosofia, mas de uma filosofia laudatória, cientificista, que punha em primeiro lugar o caráter privilegiado do conhecimento científico, como forma última (e talvez única) de acesso à realidade. Nesse quadro, cabia aos historiadores contar a trajetória das idéias científicas, o progressivo desvelamento da natureza pelo intelecto (perspectiva internalistas) ou as condições sociais, políticas, econômicas e culturais nas quais esses processos ocorreram (perspectiva externalista), condições que nada afetavam no produto final, uma vez que esse se referia à regularidades universais que se encontravam na natureza. Desde Kuhn, contudo, ousou-se dar um novo papel para a história. Superaram-se essas restrições e essas dicotomias. O positivismo, e seus herdeiros, eram o grande inimigo a ser batido. Foi contra ele que se insurgiam. E, com esses novos autores, fomos nos dando conta de que a ciência é uma prática social, que depende da comunidade de praticantes para estabelecer seus protocolos, da configuração sócio-histórica da qual emerge; que a ciência não possui autonomia em relação à cultura, não apenas nas suas formas de inserção social, na sua institucionalização, nas questões priorizadas pela pesquisa em determinado momento e local, mas também em seu núcleo, todo o seu conteúdo cognitivo é atravessado pela cultura, os produtos da ciência não são transcendentes ao local de sua produção. Em suma, enquanto a tradição da primeira metade do século, dominada pela filosofia, priorizava a ciência como conhecimento, as novas perspectivas sócio-históricas deram mais ênfase à ciência como prática171. Em face dessas novas prerrogativas, surgem, ou ressurgem, também, dificuldades epistemológicas. Se a ciência é dependente da cultura, como ela pode descobrir a realidade exterior e independente do sujeito e, portanto, da cultura? É possível alcançar a verdade absoluta? A natureza é descoberta ou construída? Como ser objetivo, diante de tanta subjetividade, em todos os níveis da atividade científica? Nesse ponto, ameaçava o fantasma 171 Andrew Pickering considera que essa é a virada essencial realizada pelos novos estudos da ciência. Cf. PICKERING, Andrew. From science as knowledge to science as practice, pp. 1-26. 86 do relativismo172. Alguns autores importantes da área encamparam explicitamente o relativismo como ferramenta metodológica. No plano epistemológico, ele se expressava numa concepção de conhecimento que não se referia ao mundo, mas apenas aos acordos sociais que se estabeleciam entre aqueles envolvidos na sua produção, isto é, a comunidade cientifica. Ao mesmo tempo, a historiografia atravessa uma situação semelhante, o ―linguistic turn‖. A crise da verdade se generaliza para além das verdades da natureza e se volta para as verdades da história. Para autores como Hayden White, grande expoente desse novo tipo de reflexão entre os historiadores, a história é antes de tudo um discurso que baseia na narrativa a sua forma de produção de textos173. O que historiador fazia era produzir um discurso sobre outros discursos, em meio a outros discursos. Discurso, texto, narrativa, as grandes categorias contra as quais se debatiam os historiadores provinham da teoria literária. Outros autores, como Michel Foucault e Michel de Certeau, influenciaram sobremaneira essa guinada em direção ao discurso. Além deles, a terceira geração dos Annales, preocupados com as mentalidades, o simbólico e o imaginário, vão contribuir para essa ―crise do referente‖. A idéia de descobrir a verdade do passado não parece mais tão segura ao historiador. Para Durval Muniz de Albuquerque Júnior, a emergência do termo ―invenção‖ nos títulos e subtítulos de obras de historiadores, fenômeno que tem início no final dos anos 1970 e começo dos anos 1980, é um sintoma dessa situação174. Os homens inventam a história no presente, os historiadores inventam a história no passado. A verdade da história, nessa perspectiva, não é dada, é construída, negociada, inventada. Semelhante tensão aflige os estudos da ciência, a verdade da natureza não é dada, é construída, negociada, inventada. Essa situação, que vigorou sobretudo até meados dos anos 1980, teve sua solução esboçada e as vertentes mais fortes do relativismo epistêmico, se é que algum dia foram realmente adotadas, foram abandonadas. Essas questões, porém, não são de fácil resolução e as tentativas não vingaram tão harmoniosamente. O tempo de reconstruir e recuperar não chegou assim tão facilmente. É em meio à esses intensos debates, a essas dúvidas epistemológicas, que os cientistas se dão conta dos science studies e dos estudos culturais da ciência. De maneira geral, desde o século XIX, os cientistas profissionais não se debruçam sobre questões filosóficas ou 172 MAIA, Carlos Alvarez. A materialidade da linguagem na história e na ciência. In: X Congresso Nacional de Lingüística e Filologia, 2006, Rio de Janeiro. Cadernos do CNLF, Volume X, no. 13 Lingüística Textual, Pragmática etc. Rio de Janeiro : Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Lingüísticos, 2006. v. X, p. 45-56. Disponível em: http://www.filologia.org.br/xcnlf/13/04.htm. Acesso em: 10 set 2010 173 WHITE, Hayden. Teoria literária e escrita da história. Estudos históricos. Rio de Janeiro, v. 7, n. 13, 1994, p. 21-46. 174 ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz. História: a arte de inventar o passado. Ensaios de teoria da história. Bauru: EDUSC, 2007, p. 19. 87 epistemológicas175. As disputas em torno da natureza da ciência não são relevantes nas suas atividades cotidianas e ocupam muito pouco do seu tempo. Escrevendo sobre isso, Lewis Wolpert afirma jocosamente que ―the physicist who is a quantum mechanic has no more knowledge of philosophy than the average car mechanic‖176. É claro que a falta de treino tradicional em filosofia ou a pouca atenção dedicada a esses temas não impede os cientistas de possuírem uma epistemologia, que pode ser chamada de realista ou objetivista e cujas linhas gerais tentei esclarecer acima. Muitas vezes, a chamada ―filosofia espontânea dos cientistas‖ foi desprezada como rudimentar ou primitiva. Nessa dissertação, parti de um princípio diametralmente oposto, concedendo plena força à epistemologia sustentada pela maioria dos cientistas e tratando-a como um objeto digno de interesse e passível de análise e interpretação. Para Alan Gross, os cientistas aderem a uma epistemologia que ele chama de ―realismo motivacional‖ (motivational realism), que desempenha o papel de âncora psicológica, definindo as condições primeiras de possibilidades para a pesquisa como uma espécie de conjunto de princípios reguladores da conduta científica177. Além do mais, ela desempenhou, como quero demonstrar aqui, um papel político fundamental, que se acirrou sobremaneira no final do século XX por ocasião das Guerras da Ciência. Talvez por isso, a mera suspeição em torno da capacidade da ciência dizer a verdade causa arrepios nesses homens treinados para desvendá-la. Estupefatos, vêem nessas perspectivas um perigo iminente. É esse o primeiro motivo para uma reação tal como vista nas páginas precedentes. O segundo motivo, talvez mais forte, e que me ocupou mais até aqui, diz respeito à vinculação dessa epistemologia com uma determinada ação política. Isto é, era inimaginável para esses cientistas agir no mundo sem ter certeza de que havia uma realidade objetiva à qual se referir, sem possuir padrões de verdade contra os quais aferirem suas crenças, seus valores e através dos quais estabelecerem julgamentos. Uma epistemologia não-realista ou não-objetivista abria mão desses guias de ação. Curiosamente, as Guerras da Ciência acabaram sem que essas questões satisfatoriamente resolvidas, não se declarou uma trégua ou uma rendição. O período ―pósguerra‖, se é que posso chamá-lo assim, foi marcado pelo fim do tom acusatório e catastrofista – que apelava para o argumento do perigo que as abordagens contestatórias 175 As maiores exceções a essa regra podem ser encontradas em áreas específicas da ciência, notadamente as que lidam com o cérebro e a mente (alguns campos das neurociências e da psicologia) e entre os físicos do início do século XX, principalmente os envolvidos nas áreas emergentes da teoria quântica e da relatividade, posto que se viam em meio à mudanças drásticas nos fundamentos da sua disciplina. 176 WOLPERT, Lewis. The unnatural nature of science, p. 108. ―O físico que trabalha com mecânica quântica não tem mais conhecimento de filosofia do que um mecânico de automóveis comum‖. Tradução minha. Preferi manter o original no corpo do texto devido à intraduzibilidade do trocadilho entre ―quantum mechanic‖ e ―car mechanic‖. 177 GROSS, Alan. The rhetoric of science. Cambridge: Harvard University Press, 1996, p. 200. 88 ofereciam à ciência e à civilização ocidental – e pela emergência de formas mais brandas de lidar com esses problemas delicados. Pretendo investigar aqui os principais caminhos dessa transição e as novas formas encontradas pelos dois grupos, cientistas e analistas da ciência, para elaborar modelos de interação mais próximo de um diálogo, de uma troca de experiências e pontos de vista que pudessem ser úteis e frutíferas para ambos os lados. Centrarei a atenção, sobretudo, em algumas obras coletivas que reuniram alguns dos envolvidos nos conflitos e realizaram um balanço do fenômeno. Os títulos dos principais trabalhos já são indicativos da tendência, como é o caso das coletâneas Beyond the science wars, organizada pela socióloga Ullica Segersträle, After the science wars, organizada pelos físicos Keith Ashman e Philip Baringer e The one culture? (uma clara referência à divisão das ―duas culturas‖ propostas por C. P. Snow e à sua possibilidade de superação), organizada pelo químico Jay Labinger e pelo sociólogo Harry Collins. Essa é uma oportunidade de avaliar algumas das interpretações das Guerras da Ciência, especialmente aquelas realizadas por autores nelas diretamente envolvidos. Essas obras surgem, em sua maioria, da necessidade que alguns dos autores atacados como ―anticientificistas‖ sentiram de responder às críticas e acusações levantadas contra eles. Ao mesmo tempo, esses livros e artigos se constituíram numa tentativa de compreender um fenômeno que atingiu intensamente algumas áreas, tais como a sociologia e a história da ciência e os science studies de forma geral, obrigando-os a repensar muitos dos pressupostos das suas disciplinas. São propostas não muito diferentes das aventadas aqui e as descrições das Guerras da Ciência oferecidas nesses livros não destoa da que apresentei. Contudo, existem diferenças fundamentais. A mais óbvia é o lapso temporal que me separa do fenômeno. Agora, as Guerras da Ciência estão definitivamente enterradas e, mesmo entre profissionais da área, são apenas lembranças. É interessante notar que praticamente todas as obras de análise da ciência publicadas nos dez anos seguintes à Guerra das Ciências, ou seja, até meados dos anos 2000, fizeram referência aos embates. A segunda diferença é a tentativa de apresentar aqui uma interpretação ligeiramente diferente dos motivos e das implicações para as disputas, tentando analisar os argumentos mobilizados de um ponto de vista limitado, porém específico, que põe no centro das preocupações uma questão que se perfilava em meio a muitas outras, atribuindo-lhe destaque e importância na compreensão das Guerras da Ciência. Um dos pontos que parece entrelaçar ambas as diferenças é a proeminência dada ao pós-modernismo nas discussões que se seguiram às Guerras da Ciência. O prestígio do pós-modernismo como grande perspectiva totalizante e hegemônica (apesar das suas prerrogativas anti-totalizantes e das suas aspirações antihegemônicas), que despontava no final do século XX, não se concretizou e o destaque dado 89 por vários autores às Guerras da Ciência como uma disputa de modernos versus pósmodernos pode ser entendido em outro contexto, no seio de uma relação menos ampla e talvez menos ambiciosa, mas não menos acirrada, entre diferentes formas de abordagem da ciência e diferentes possibilidades de analisar a ciência. Esse deslocamento do centro do debate não implica, no entanto, no desprezo ao papel desempenhado pelo pós-modernismo e pela reação à ele nas Guerras da Ciência As suspeitas que essa corrente desenvolveu em relação ao projeto da modernidade certamente tiveram ressonâncias no ambiente intelectual que possibilitou o nascimento das perspectivas que suspeitavam da ciência, embora as origens intelectuais dos dois movimentos sejam relativamente distintas. De qualquer modo, as análises desenvolvidas no ―pós-guerra‖ cobriram uma vasta gama de temas, que correspondiam, em alguma medida, aos diversos temas que foram alvo de ataques durante as Guerras da Ciência. Assim, aparecem textos sobre medicina vodu e racionalidade científica, sobre o papel das críticas feministas e étnicas da ciência, sobre o papel do público na ciência, sobre a relação entre as críticas à ciência e o pós-colonialismo e, mais recorrentemente, sobre o relativismo, o construtivismo, a pós-modernidade, a objetividade, o ―anticientificismo‖ e as relações entre os cientistas e os estudos sóciohistóricos da ciência. Um dos temas, contudo, que chama a atenção, pois marca a virada de tom em direção a um debate mais ameno, é o questionamento da expressão Guerras da Ciência. Para muitos autores, o termo é ruim, pois ressalta a idéia de dois campos opostos e inimigos entre si, dificultando a aproximação e a troca de experiências. Obviamente, apesar de acalmados os ânimos, não se tratava de ceder em relação aos argumentos do grupo que estava, antes, do outro lado do front, mas de ouvi-los com mais parcimônia e retrucá-los com menos truculência. Alan Sokal e Jean Bricmont, por exemplo, mantém firmes a posição que defendem. Para eles, aliás, a metáfora da guerra não é uma boa forma de atacar o problema, nem o é, contudo, a metáfora da paz, que pressupõe uma negociação onde os lados em disputa cedem, cada um o seu quinhão, para que a convivência entre os dois se torne possível. Essa é uma má forma de entender o processo, dizem Sokal e Bricmont, porque a ―verdade não pode ser negociada dessa forma‖178, já que, abrindo margem para negociação em torno da verdade, estariam concedendo demais à perspectiva ―relativista‖, à qual consideraria efetivamente que a verdade é uma questão de negociação e consenso entre um determinado grupo. Entretanto, os autores concordam em procurar uma maneira menos agressiva de expor pontos de vista 178 BRICMONT, Jean; SOKAL, Alan. Science and sociology of science: beyond war and peace, p. 27. No original: ―truth cannot be negotiated in this way‖. Tradução minha. 90 conflitantes e, assim, promover um intercâmbio de idéias. Esse ponto é reforçado pela crítica de Sokal à ―metáfora militar‖ em um texto presente em outra coletânea. Essa crítica é feita através de outro argumento, muito simples: ―os editores da Social Text, diz Sokal, não são meus inimigos‖179. Michael Lynch, um autor que, nas Guerras na Ciência, se situou no campo oposto ao ocupado por Sokal e Bricmont, parte de um argumento semelhante. Se a imagem da guerra não é uma boa analogia, tampouco é a da paz. É importante que os debates entre cientistas e analistas da ciência continuem, sem, contudo, a mesma quantidade de desprezo e rancor. É importante que se desenvolvam formas mais interessantes e respeitosas de interação 180. A mensagem dos dois artigos é semelhante: as Guerras da Ciência devem acabar, não para que paremos de falar nos assuntos que ela trouxe à tona, mas para que encontremos formas melhores de falar sobre eles. A revisão do vocabulário da guerra não implica no silenciamento dos temas postos em pauta. O incômodo em relação à metáfora bélica à qual foram associados os debates não se espalhou em todos os autores preocupados em pensar a fase posterior ao conflito. Na introdução à coletânea da qual é um dos organizadores, Philip Baringer não oferece restrições a pensar as contribuições presentes no referido livro como parte de um processo de paz que se seguiria aos intensos confrontos que caracterizaram as Guerras da Ciência, inscrevendo-se, porém, na mesma linha dos autores listados acima, que propõe um abrandamento do tom do debate e fornecem tentativas de comunicação genuína entre os grupos em disputa181. Essa posição é corroborada pela contribuição de N. David Mermin, um físico cujo interesse pela literatura de análise da ciência data de antes das Guerras da Ciência. Talvez por isso, ele não se dirige diretamente a essas disputas, mas sim às suas experiências de interação com sociólogos da ciência, como Harry Collins, Trevor Pinch, David Bloor e Barry Barnes. Apesar desse aparente distanciamento em relação às Guerras da Ciência, Mermin parece ter sido influenciado pelo clima de tensão. Essa influência fez com que ele reagisse de forma intensa a questões que, depois de alguns anos, em meio às tentativas de tornar o debate menos agressivo, eram agora tratadas como relativamente menores. As causas de discordância com 179 SOKAL, Alan. What the Social Text affair does and does not prove. A critical look at the ―science studies‖, p. 23. No original: ―the Social Text editors are not my enemies‖. Tradução minha. Citei acima uma versão anterior desse texto, que havia sido publicada em: KOERTGE, Noretta. A house built on sand. 180 LYNCH, Michael. Is a science peace process necessary? In: COLLINS, Harry; LABINGER, Jay. The one culture?: a conversation about science. Chicago: The University of Chicago Press, 2001, p. 49-50. 181 BARINGER, Philip. Introduction: the ―science wars‖. In: ASHMAN, Keith; BARINGER, Philip. After the science wars. Routledge: Londres, 2001, p. 2. 91 os sociólogos eram bem menores do que como imaginadas à época, assevera Mermin182. Nessa chave, o autor oferece três regras de etiqueta para uma conversa entre cientistas e sociólogos (entendidos aqui como todos os autores envolvidos em análises sociais, culturais ou históricas da ciência). Com efeito, essas regras basicamente convidam os lados em disputa a tratar com respeito o grupo contrário. Antes de expô-las, porém, Mermin faz uma crítica explícita à suspeição com a qual os analistas da ciência tratam as afirmações dos cientistas sobre as suas próprias práticas, um dos princípios fundamentais das novas abordagens da ciência. Segundo ele, os dois grupos devem conversar, ―não em seus papéis de antropólogos e informantes nativos, mas como colegas, refletindo sobre a natureza de suas disciplinas‖183. Essa postura, baseada na própria postura do autor em suas interações com alguns sociólogos, restringe em demasia o papel do analista da ciência. Embora os historiadores não sejam muito afeitos a opinar diretamente sobre aquilo que estudam, preferindo interpretar os eventos com base nas situações com as quais os atores se depararam à época, e isso se aplica também aos estudiosos da ciência, que relutam inclusive em julgar sobre a verdade ou falsidade dos enunciados defendidos pelos cientistas que estudam, não posso me furtar a concordar com a posição geral defendida pelos autores acima. Não afirmo, obviamente, que as Guerras da Ciência não deveriam ter existido, pois além de incorrer num tremendo anacronismo, estaria jogando fora o objeto ao qual essa dissertação deve a sua existência. Ainda mais, as Guerras da Ciência não foram uma decorrência da falta de educação de cientistas e analistas da ciência que não souberam se comportar quando contrariados. Tenho tentado, ao longo desse texto, levantar motivos bastante fortes para que o debate tenha se dado da forma como se deu, minha intenção não é recriminá-lo, mas explicálo. Não obstante, acredito que, uma vez que as Guerras da Ciência chegaram ao fim e as questões que deram origem a elas e as que elas levantaram não foram satisfatoriamente respondidas, o diálogo entre cientistas e analistas deve continuar e isso pode ser feito de forma mais harmônica e aberta a ouvir críticas e contribuições, de onde quer que elas venham (embora seja fundamental saber de onde elas vêm). Outro argumento interessante nos debates que se seguiram às Guerras da Ciência foi desenvolvido por Michael Lynch, a crítica à polarização do debate em grupos homogêneos e estanques, embora variáveis entre alguns autores. Tratou-se de cientistas versus sociólogos da 182 MERMIN, N. David. Conversing seriously with sociologists. In. COLLINS, Harry e LABINGER, Jay. The one culture?: a conversation about science. Chicago: The University of Chicago Press, 2001, p. 83. 183 MERMIN, N. David. Conversing seriously with sociologists, p. 97. No original: ―not in their roles as anthropologists and native informants, but as academic colleagues, reflecting on the nature of their two disciplines‖. Tradução minha. 92 ciência, cientistas versus ―esquerda acadêmica‖, cientistas versus pós-modernos, cientistas versus relativistas, cientistas versus construtivistas ou até conservadores versus progressistas e direita versus esquerda. A grande inspiração para essa divisão vem da análise de C. P. Snow e sua clássica divisão entre a ―cultura científica‖ e a ―cultura literária‖. Todos esses rótulos, efetivamente, não dão conta da multiplicidade de grupos envolvidos na disputa. É preciso despolarizar o debate, esclarecendo a diversidade que se esconde por debaixo dessas generalizações apressadas e, muitas vezes, convenientes. Era estratégico para alguns autores não realizar essa diferenciação. Assim, podiam atacar, a partir de exemplos isolados (e, por vezes, marginais), todo um grupo e realizar julgamentos e aplicar restrições sobre ele. Outra estratégia comum era tratar como intercambiáveis conceitos e grupos fracamente relacionáveis, tais como pós-modernos e relativistas ou sociólogos da ciência e construtivistas, cientistas e conservadores etc. Tratando com mais cuidado e precisão os grupos e conceitos manipulados, pode-se, inclusive, ter uma noção mais clara das questões em conflito. Além do mais, no caso dos autores que escreveram sobre as Guerras da Ciência imediatamente após o seu fim, essa distinção era importante pois eles mesmo se sentiam injustiçados ao serem alinhados em meio à grupos com os quais mantinham discordâncias fundamentais e profundas. Discorrendo sobre as ―culturas disciplinares‖, Barbara Herrnstein Smith chama a atenção especialmente para a complexidade que se esconde sob a forma de um dualismo na relação entre ―ciências‖ e ―humanidades‖ (algo que corresponderia, nos EUA, à distinção entre ―cultura científica‖ e ―cultura literária‖). Segundo a autora, as Guerras da Ciência são pouco mais do que uma miragem causada pela estrita divisão das duas culturas com base em estereótipos caricaturais, que encontraram eco na ignorância e na arrogância de alguns cientistas e foram amplificadas pelo oportunismo da mídia184. Essa posição me parece excessivamente simplista e ignora algumas implicações importantes desse debate que recortou em profundidade algumas questões epistemológicas candentes. Uma visão mais rica, mais séria e mais aberta das disciplinas que se encontram ―do outro lado‖ e das alternativas que elas oferecem, poderia transformar efetivamente o tom acusatório em um debate enriquecedor para ambos os lados185. Ironicamente, ao enfatizar que os cientistas devem respeitar o conhecimento que os historiadores filósofos e sociólogos desenvolveram sobre a ciência, Herrnstein Smith utiliza uma metáfora similar a que foi usada por David Mermin para 184 HERRNSTEIN SMITH, Barbara. Scandalous Knowledge: science, truth and the human. Edimburgo: Edinburgh University Press, 2005, pp. 108 e segs. 185 HERRNSTEIN SMITH, Barbara. Scandalous Knowledge, p. 123. 93 defender um diálogo mais franco entre os grupos em disputa, embora com um propósito diametralmente oposto. Para a autora, ―ser um cientista não faz de ninguém um especialista em science studies mais do que ser membro de uma cultura faz de alguém um antropólogo cultural‖186. Dessa forma, ao contrário do que apregoou David Mermin, os analistas da ciência devem ter certa autonomia em relação ao que os cientistas dizem sobre o seu ofício e devem, mais importante, ter seu próprio espaço disciplinar para exercer a atividade de antropólogos da ciência moderna fora das rígidas dicotomias caricaturais que dividem em pólos opostos aqueles que pertencem à cultura científica e podem, por isso falar da ciência, e aqueles que pertencem às humanidades e podem apenas falar de fenômenos culturais nos quais a natureza não desempenha nenhum papel. Esses dois principais argumentos arregimentados aqui, a revisão das formas de comunicação e interação entre as diversas disciplinas e a revisão da ecologia disciplinar e da formação dos grupos envolvidos nas Guerras da Ciência, consistiram nas principais tentativas de superação do fenômeno. No entanto, elas não puseram sob tensão as dúvidas epistemológicas que foram postas em disputa nem se propuseram a rever as questões políticas aventadas. Nessa última seção da conclusão, quero voltar ao embate que vinculou a epistemologia e a política de forma estreitamente relacionada. Não pretendo me debater com as antiqüíssimas questões filosóficas que ainda mobilizam as energias de cientistas e filósofos. As perguntas sobre o caráter universal e imutável da realidade exterior ao sujeito ou as dúvidas a respeito da capacidade humana de acessar essa realidade são efetivamente fundamentais e ocuparão as nossas atenções ainda por muito tempo. As Guerras da Ciência foram, em certa medida, mais um capítulo nas tentativas de respostas a essas questões, contudo, não quero atacá-las nessa chave nem oferecer respostas alternativas as que foram postas em discussão nos intensos debates travados no final do século XX. Meu objetivo é problematizar as relações entre epistemologia e atuação política, percebendo essa articulação como expressão de modelos de ―política epistemológica‖, que entraram em choque nas Guerras da Ciência. Antes de prosseguir a explicação, contudo, é preciso retomar um alerta feito por Isabelle Stengers e que pode ser aplicado no caso em questão. Ao tratar da autonomia da ciência e da distinção entre aqueles que têm ou não direito de intervir nos debates científicos, a autora põe a questão em termos políticos. É necessário, entretanto, 186 HERRNSTEIN SMITH, Barbara. Scandalous Knowledge, p. 118. No original: ―being a scientist does not make one an expert in science studies any more than being a member of some culture makes one a cultural anthropologist‖. Tradução minha. 94 precisar essa dimensão política. Nas palavras de Stengers, ―as ‗políticas da razão‘ que eu procuro caracterizar também não são redutíveis aos jogos de poder aos quais associamos hoje a ‗política politiqueira‘‖187. Posso afirmar o mesmo das ―políticas epistemológicas‖ que acompanharei aqui. A própria expressão já está carregada de irredutibilidade. Não se trata apenas da política dos homens entre si, mas também da política que envolve e traz para o centro do debate uma profusão de outros entes. Com efeito, as formas de se referir a essas entidades são, por si só, objetos de disputa. É uma contenda pelo léxico que construímos para nomear o mundo. A escolha por certos termos e expressões pode denotar, de saída, a escolha por um dos modelos em debate. Existe, por certo, uma ―política ontológica‖ correspondente à ―política epistemológica‖. De qualquer sorte, falarei aqui em realidade e natureza como termos não-problemáticos, embora esse seja apenas um artifício analítico. A discussão que segue terá como palavras-chave esses dois termos e os utilizarei sempre na forma adjetivada para sinalizar que se trata de objeto de disputa. Apesar de reconhecer a pertinência dos esforços para fornecer uma imagem das Guerras da Ciência que fuja do binarismo que opõe cientistas a humanistas, devo insistir numa análise polarizada. Ela não se aplica ao conjunto do grupo dos cientistas e nem à totalidade dos analistas da ciência, mas a aquelas frações que disputaram modelos de ―política epistemológica‖ nas Guerras da Ciência. Chamarei de ―objetivista‖ a perspectiva adotada pelo lado dos cientistas e de ―não-objetivista‖ a perspectiva sustentada pelas novas abordagens da ciência. Mais precisamente, a postura epistemológica adotada pelos cientistas defende que a realidade é universal, imutável e objetiva, isto é, exterior ao sujeito e independente da sua vontade. A universalidade e imutabilidade garantem as regularidades da natureza. Esse mesmo sujeito, aplicando determinado procedimento racional, que conhecemos pelo nome de ciência, pode efetivamente acessar essa realidade e extrair dela as suas verdades, pode acessar as regularidades da natureza e enunciá-las por meio de leis. Os enunciados verdadeiros, que são fatos científicos, são também objetivos e revelam a adequação entre aquilo que dizemos sobre a natureza e aquilo que ela realmente é. Essa epistemologia é objetivista porque ela baseia-se na existência de uma realidade objetiva e na possibilidade de uma verdade objetiva capaz de desvendar essa realidade. A ―política epistemológica‖ objetivista, por sua vez, é a que põe os critérios de interpretação objetivos como meio os pelos quais poderíamos efetuar 187 STENGERS, Isabelle. A invenção das ciências modernas, p. 82. 95 julgamentos e basear as nossas ações. Assim, para realizar escolhas e julgar as escolhas de outras pessoas, adota-se a postura objetivista, comprometida com uma verdade absoluta. Por outro lado, os não-objetivistas têm em comum a suspeita em relação à capacidade humana de atingir a verdade objetiva da natureza. Essa suspeita pode variar enormemente de grau e pode ter suas origens em diversos pontos, levantando dúvidas sobre praticamente todos os aspectos da epistemologia objetivista. No caso em questão, essas dúvidas provêm basicamente da história e da sociologia da ciência. A partir delas, problematiza-se tanto a suposição de uma realidade objetiva, quanto a capacidade da obtenção de uma verdade absoluta e objetiva, mesmo por meio da ciência. Ao enfatizar a historicidade da ciência e a sua estreita vinculação à sociedade e à cultura na qual é produzida, as novas abordagens da ciência minam a noção de um conhecimento científico independente do sujeito cognoscente. Desenvolvem assim uma epistemologia não-objetivista. No plano da ―política epistemológica‖, o modelo não-objetivista poderia ser definido como uma forma crítica de abordagem das pretensões objetivistas, isto é, uma tentativa de mostrar, pela ênfase na contingência do conhecimento científico, que o discurso da objetividade não se sustenta e que, mais precisamente, ele é acionado retoricamente para nublar as condições sócio-históricas de produção de determinado conhecimento. Nas Guerras da Ciência, esses dois modelos entram em choque. A ascensão de modelos epistemológicos não-objetivistas desde a segunda metade do século XX ofereceu um crescente desafio à epistemologia objetivista, surgindo como uma alternativa a apreciação de temas que estavam sob a guarda dessa perspectiva tradicional. As perspectivas nãoobjetivistas foram demonizadas pelos autores identificados como ―defensores da ciência‖ por seu suposto relativismo, que ofereceria um perigo ao progresso da ciência e à civilização ocidental. O relativismo seria culpado de ―quietismo‖, entendido aqui como uma recusa a realizar juízos válidos e uma falta de inclinação a não tomar partido em decisões éticas e políticas, ou, ainda pior, de conivência e cumplicidade em relação a qualquer arbitrariedade. Segundo sustentaram esses autores, a única ―política epistemológica‖ possível era a objetivista, o compromisso com esses valores epistemológicos era visto como único remédio contra a acusação de debilidade política que recaia sob o relativismo. Adotando uma postura não-objetivista, abriríamos mão da única forma de intervenção efetiva no mundo e de atuação responsável na sociedade, uma vez que essa perspectiva não possuiria o necessário contato com a ―realidade objetiva‖. Certamente, a epistemologia não-objetivista não possui contato ou compromisso com uma realidade objetiva, mas a relação entre essa falta de contato e a 96 incapacidade de atuação e interferência no mundo só faz sentido em uma perspectiva objetivista. A questão que proponho é: os cientistas teriam razão em suas críticas às posturas nãoobjetivistas? Será que apenas concepções epistemológicas objetivistas, comprometidas com a verdade e a realidade enquanto entidades ahistóricas, serão capazes de nos conduzir a uma efetiva atuação política crítica? Os críticos desse modelo serão sempre culpados de ―quietismo‖ e, em último caso, de conivência, simplesmente porque não acreditam na existência de um padrão universal de verdade contra o qual seja possível mensurar diferentes conjuntos de asserções? Não pretendo me enredar demais nessas questões e nem propor soluções que encerrem os debates em torno delas. Mais modestamente, pretendo uma visão bastante particular e conjectural sobre essas questões. Talvez seja pouco, depois de uma centena de páginas analisando as Guerras da Ciência, oferecer apenas conjecturas e impressões. A montanha, afinal, pariu um rato. Por outro lado, essas especulações podem dar margem para novos debates a respeito de temas que são tão delicados e tão caros à nossa vida intelectual. É o que sinceramente espero dessa contribuição. Atacar esses temas pode ser um avanço considerável numa área, como é o caso da história da ciência, cuja operação reflexiva tem recebido pouca atenção. Antes de qualquer coisa, é preciso deixar claro que minha resposta às questões postas acima é negativa. Não há razão – que não as impostas pelos objetivistas à sua própria conduta – para negar a legitimidade de uma epistemologia e, correspondentemente, de uma ―política epistemológica‖ não-objetivista188. Obviamente, os critérios sobre os quais devemos basear essa conduta devem ser diversos daqueles adotados pelos objetivistas. Em primeiro lugar, a crítica à realidade objetiva e à verdade absoluta e objetiva não implica na impossibilidade do conhecimento ou na negação da realidade ou da verdade. Ela implica na elaboração de novas categorias que busquem dar conta do mundo, de uma visão da realidade e da verdade sempre impregnadas de historicidade. Muito do que se produziu sob o signo da literatura de análise sobre a ciência na segunda metade do século XX (e mesmo antes, de forma mais isolada) destinou-se à dupla tarefa de tentar dar um novo significado à ciência ao mesmo tempo em que propunha uma nova ―política epistemológica‖. É inegável que, no afã de construir um modelo alternativo e crítico à perspectiva objetivista, muitos exageros foram cometidos. Os manifestos 188 Barbara Herrnstein Smith argumenta de maneira semelhante tratando das teorias do direito e da filosofia política. Cf. HERRNSTEIN SMITH, Barbara. Crença e resistência: a dinâmica da controvérsia intelectual contemporânea. São Paulo: Editora da UNESP, 2002, pp. 31-65. 97 programáticos dos anos 1970 e 1980 enfatizaram excessivamente o papel das negociações sociais na determinação do conteúdo científico, numa tentativa de livrarem-se das categorias que percebiam como obsoletas. No entanto, ao aproximarem demais a ―política epistemológica‖ da política cotidiana, ―politiqueira‖, como chamou Isabelle Stengers, deixaram escapar a natureza e a realidade (objetivas ou não, exteriores, universais e independentes ou sócio-históricas e contingentes), determinantes para a compreensão da ciência e para uma ―política epistemológica‖ conseqüente. Isso não invalida, contudo, o esforço dessa corrente não-objetivista que, ciente do seu erro, tratou de recorrer a análises mais sofisticadas e conceitos mais refinados. Em alguma medida, deram um passo atrás na insistência de alardear que sua perspectiva era contestatória e alternativa e passaram mais a por em prática uma perspectiva contestatória e alternativa. No entanto, as soluções para o problema da ―política epistemológica‖ não-objetivista não são nem um pouco simples. Uma das tentativas de solução mais originais surgiu na forma da teoria ator-rede, proposta por Michel Callon e Bruno Latour e tratada brevemente no capítulo 1. A partir da superação das dicotomias que opõe natureza e sociedade ou sujeito e objeto, Callon e Latour propõe reconfigurar o campo ontológico a partir de uma simetria entre humanos e nãohumanos189. A natureza e a realidade não são, nesse quadro, exteriores e independentes, isto é, não há sentido em falar de objetividade. A natureza e a realidade são resultados das sucessivas interações entre atores, sejam eles bactérias, galáxias, biólogos ou astrofísicos. Essas interações, chamadas de translações pelos autores, tecem as redes que constituem o mundo. Nessa ―ontologia de termo único‖, o papel da epistemologia é investigar as formas pelas quais as redes são elaboradas, seguir as translações entre humanos e não-humanos das quais advém o conhecimento. A ―política epistemológica‖ daí decorrente põe legitimamente em termos não-objetivistas a possibilidade de intervenção no mundo. Não precisamos da verdade absoluta, dizem Callon e Latour, precisamos apenas de meios para mobilizarmos aliados, sejam eles humanos ou não-humanos. Carlos Alvarez Maia, em contrapartida, faz uma crítica ao princípio de simetria generalizada de Callon e Latour e propõe o retorno à Ludwik Fleck. Segundo Maia, as formulações da teoria ator-rede, ao equipararem ontologicamente humanos e não-humanos deixam de lado ―o modo concreto pelo qual as coisas interagem com os humanos‖190. Em Fleck, por sua vez, ―os humanos interagem com as coisas sem anularem sua condição 189 LATOUR, Bruno. Jamais fomos modernos; LATOUR, Bruno. Ciência em ação; CALLON, Michel. Some elements of a sociology of translation: domestication of the scallops and the fishermen of St Brieuc Bay. 190 MAIA, Carlos Alvarez. Realismo científico e construtivismo sócio-lingüístico em Bruno Latour e Ludwik Fleck, p. 2. 98 histórica, de seres constituídos em humanos através da linguagem na história‖ 191. Fleck superaria a ruptura entre natureza e cultura, propondo, em seu lugar, um cenário mais amplo, onde a interação entre natureza e cultura ―ocorre na região simbólico-material das significações‖192. Os fatos não são objetivos, as coisas não são ―em si‖. A objetividade e independência da natureza em relação ao sujeito do conhecimento é proveniente da existência de um estilo de pensamento no qual se enquadram os cientistas de determinada época e local. Remetendo-nos, mais uma vez, às ―políticas epistemológicas‖ não-objetivistas, a solução que Carlos Alvarez Maia encontra em Fleck é também bastante consistente e baseia-se no conceito fleckiano de Gestaltesehen, a percepção visual da forma193. Por meio dessa espécie de coerção sociológica e psicológica exercida por um estilo de pensamento sobre um cientista ou um grupo de cientistas, ocorre a ação no mundo. Nas palavras do autor, ―é através da Gestaltesehen que os sujeitos agem e interferem no mundo, e, reciprocamente, é por intermédio do Gestaltesehen que o mundo atua sobre as pessoas‖194. Embora essas soluções não consigam, obviamente, dar conta de todas as críticas direcionadas às perspectivas não-objetivistas, abrem preciosos caminhos para uma interpretação da ciência relativamente autônoma da tentativa de domesticação imposta pelos cientistas. As Guerras da Ciência são mais um sintoma de um conjunto de questões cuja resolução, se possível, ainda parece distante. Os embates em torno dos modelos de ―política epistemológica‖ postos em pauta no fenômeno não dizem respeito apenas à pertinência das soluções apresentadas. Eles se vinculam muito estreitamente às tentativas de hierarquização do conhecimento e da submissão da epistemologia à perspectiva objetivista. A necessidade do objetivismo como única alternativa para a atuação crítica no mundo aparece como uma estratégia retórica utilizada pelos cientistas, uma estratégia na qual, efetivamente, eles acreditavam. Parece-me claro que a adoção de um modelo epistemológico, uma concepção da natureza do conhecimento científico e dos seus limites, prescreve uma política, uma forma determinada de intervenção no mundo e na sociedade. Contudo, o paradoxo objetivista, que afirma que apenas uma ciência livre da política e independente da sociedade é capaz de intervir de forma eficiente no mundo, impõe uma vinculação necessária entre epistemologia e política, estreitando em demasia as possibilidades de interpretação da ciência. No século XX, 191 MAIA, Carlos Alvarez. Realismo científico e construtivismo sócio-lingüístico em Bruno Latour e Ludwik Fleck, p.2. 192 MAIA, Carlos Alvarez. Fleck e a compreensão humana do mundo, p. 14. 193 MAIA, Carlos Alvarez. Fleck e a compreensão humana do mundo, p. 13. 194 MAIA, Carlos Alvarez. Fleck e a compreensão humana do mundo, p. 14. 99 as disputas em torno desse tema culminaram nas Guerras da Ciência. As tentativas de estabelecer critérios diferentes foram duramente combatidas. A convivência de ―políticas epistemológicas‖ diversas e não correspondentes à adotada pelos cientistas é um desafio que deve ser enfrentado por todos os envolvidos no tortuoso processo de construção do conhecimento. 100 Referências ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. História: a arte de inventar o passado. Ensaios de teoria da história. Bauru: EDUSC, 2007. AMSTERDAMSKA, Olga et al. (org.). The Handbook of Science and Technology Studies. 3. ed. Cambridge: The MIT Press, 2008. ARONOWITZ, Stanley; MARTINSONS, Barbara; MENSER, Michael (orgs.). Tecnociencia y cibercultura. La interrelación entre cultura, tecnología y ciencia. Barcelona: Paidós, 1998. ARONOWITZ, Stanley; MENSER, Michael. Sobre los estudios culturales, la ciencia y la tecnología. In: ARONOWITZ, Stanley; MARTINSONS, Barbara; MENSER, Michael (orgs.). Tecnociencia y cibercultura. La interrelación entre cultura, tecnología y ciencia. Barcelona: Paidós, 1998, pp. 21-44. ASHMAN, Keith; BARINGER, Philip. After the science wars. Routledge: Londres, 2001. ÁVILA, Gabriel da Costa; SILVA, F. A.; SILVA, Paloma Porto (orgs.). Anais do I Encontro Nacional de Pesquisadores em História das Ciências - ENAPEHC. Belo Horizonte: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, 2010. BARINGER, Philip. Introduction: the ―science wars‖. In: ASHMAN, Keith; BARINGER, Philip. After the science wars. Routledge: Londres, 2001, pp. 1-12. BARTLETT, Paul D. James Bryant Conant. 1893-1978. A biographical memoir. Disponível em: books.nap.edu/html/biomems/jconant.pdf. Acesso em: 22 jul 2010. BENSAUDE-VINCENT, Bernadette. A genealogy of the increasing gap between science and the public. Public Understanding of Science. n. 10. 2001, pp. 99-113. BIAGIOLI, Mario (Org.) The science studies reader. Nova Iorque: Routledge, 1999. ______. Introduction. In: BIAGIOLI, Mario (Org.) The science studies reader. Nova Iorque: Routledge, 1999, p xi-xviii. BLOOR, David. Conhecimento e imaginário social. São Paulo: Editora Unesp, 2010. BOGHOSSIAN, Paul. What the Sokal hoax ought to teach us? The pernicious consequences and internal contradictions of ―postmodernist‖ relativism. The Times Literary Supplement. Londres, dez 1996. BOURDIEU, Pierre. Os usos sociais da ciência: por uma sociologia clínica do campo científico. São Paulo: Editora UNESP, 2004. BRICMONT, Jean. Science of chaos or chaos in science? In: GROSS, Paul; LEVTT, Norman; LEWIS, Martin. The flight from science and reason. Annals of New York Academy of Sciences. Nova Iorque: The New York Academy of Sciences, 1995, pp. 131175. BRICMONT, Jean; SOKAL, Alan. Science and sociology of science: beyond war and peace. In. COLLINS, Harry; LABINGER, Jay. The one culture: a conversation about science. Chicago: The University of Chicago Press, 2001, pp. 27-47. CALLON, Michel. Some elements of a sociology of translation: domestication of the scallops and the fishermen of St Brieuc Bay. In: LAW, John. Power, action and belief: a new sociology of knowledge? London: Routledge, 1986, pp. 196-223. CAMPOS, Roberto. A brincadeira de Sokal. Folha de São Paulo, São Paulo, 22 set 1996. Disponível em: http://www.physics.nyu.edu/sokal/folha.html#campos. Acesso em: 22 mar 2010. CARVALHO, Olavo de. Sokal, parodista de si mesmo. Folha de São Paulo, São Paulo, 21 out 1996. Disponível: http://www.physics.nyu.edu/sokal/folha.html#olavo. Acesso em 22 mar 2010. 101 CHALMERS, Alan. A fabricação da ciência. São Paulo: Editora Unesp, 1994. COLE, Stephen. Voodoo sociology. Recent developments in the sociology of science. In: GROSS, Paul; LEVITT, Norman; LEWIS, Martin. The flight from science and reason. Annals of New York Academy of Sciences. Nova Iorque: The New York Academy of Sciences, 1995, pp. 274-287. COLLINS, Harry; EVANS, Robert. Repensando a expertise. Belo Horizonte: Frabrefactum, 2010. COLLINS, Harry; EVANS, Robert. Rethinking expertise. Chicago: The University of Chicago Press, 2007. COLLINS, Harry; EVANS, Robert. The Third Wave of Science Studies: Studies of Expertise and Experience. Social Studies of Science. v. 32, n. 2. 2002, pp. 235-396. COLLINS, Harry; LABINGER, Jay. The one culture: a conversation about science. Chicago: The University of Chicago Press, 2001. CONDÉ, Mauro Lúcio Leitão. O Círculo de Viena e o Empirismo Lógico. Caderno de Filosofia e Ciências Humanas, Belo Horizonte, v. V, p. 98-106, 1995. Disponível em: http://www.fafich.ufmg.br/~mauro/art_mauro2.htm. Acesso em: 18 jun 2010. ______. Paradigma versus estilo de pensamento na história da ciência. In: CONDÉ, Mauro Lúcio Leitão; FIGUEIREDO, Betânia Gonçalves. Ciência, história e teoria. Belo Horizonte: Argvmentvm, 2005, pp. 123-146. ______. Prefácio à edição brasileira. Um livro e seus prefácios: de pé de página a novo clássico. In: FLECK, Ludwik. Gênese e desenvolvimento de um fato científico: introdução à doutrina do estilo de pensamento e do coletivo de pensamento. Belo Horizonte: Fabrefactum Editora, 2010, pp. vii-xvi CONDÉ, Mauro Lúcio Leitão; FIGUEIREDO, Betânia Gonçalves. Ciência, história e teoria. Belo Horizonte: Argvmentvm, 2005. CONDÉ, Mauro Lúcio Leitão; OLIVEIRA, Bernardo Jefferson de. Thomas Kuhn e a nova historiografia da ciência. Ensaio – pesquisa em educação em ciências, Belo Horizonte, v. 04, n. 02, 2002. Disponível em: www.fae.ufmg.br/ensaio/v4_n2/4214.pdf. Acesso em: 12 abril 2009. DAWKINS, Richard. O que é a verdade. In: DAWKINS, Richard. O capelão do diabo. São Paulo: Companhia das Letras, 2003, p. 34-42. DIERKES, Meinolf; VON GROTE, Claudia (orgs.). Between understanding and trust: the public, science and technology. Nova Iorque: Routledge, 2000. DIERKES, Meinolf; VON GROTE, Claudia. Preface. In: DIERKES, Meinolf; VON GROTE, Claudia (orgs.). Between understanding and trust: the public, science and technology. Nova Iorque: Routledge, 2000, pp. x-xii. DUARTE, Tiago Ribeiro. O programa forte e a busca de uma explicação sociológica das teorias científicas: constituição, propostas e impasses. Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2007. DURING, Simon (Org.). The cultural studies reader. Nova Iorque: Routledge, 2000. FEYERABEND, Paul. Contra o método: esboço de uma teoria anárquica da teoria do conhecimento. Rio de Janeiro: Francisco Alves Editora, 1977. FLECK, Ludwik. Gênese e desenvolvimento de um fato científico: introdução à doutrina do estilo de pensamento e do coletivo de pensamento. Belo Horizonte: Fabrefactum Editora, 2010. _____. Genesis and development of a scientific fact. Chicago. Chicago University Press, 1979. FREIRE JUNIOR, Olival. O debate sobre a imagem da ciência – a propósito das ideias e da ação de E.P. Wigner. In: SANTOS, Boaventura de Sousa. Conhecimento prudente para 102 uma vida decente: ‗um discurso sobre as ciências‘ revisitado. 2. ed. São Paulo: Cortez Editora, 2003, pp. 505-533. FULLER, Steve. Philosophy, Rhetoric, and the End of Knowledge: the coming of science and technology studies. Madison: University of Wisconsin Press, 1993. ______. The philosophy of science and technology studies. Nova Iorque: Routledge, 2006. FULLER, Steve; COLLIER, James. Philosophy, Rhetoric, and the End of Knowledge: a new beginning for science and technology studies. Second edition. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates Publisher, 2004 GIERYN, Thomas. Cultural boundaries of science: credibility on the line. Chicago: The University of Chicago Press, 1999. GINZBURG, Carlo. Distância e perspectiva: duas metáforas. In: GINZBURG, Carlo. Olhos de madeira: Nove reflexões sobre distância. São Paulo: Companhia das Letras, 2001, pp. 176-198. ______. Introdução. In: GINZBURG, Carlo. Relações de força: história, retórica, prova. São Paulo, Companhia das Letras, 2002, pp. 1-31. ______. Olhos de madeira: Nove reflexões sobre distância. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. ______. Relações de força: história, retórica, prova. São Paulo, Companhia das Letras, 2002. GROSS, Alan. The rhetoric of science. Cambrige: Harvard University Press, 1996. GROSS, Paul; LEVITT, Norman. Higher Superstition: the academic left and its quarrels with science. 2. ed. Baltimore: John Hopkins University Press, 1998. GROSS, Paul; LEVTT, Norman; LEWIS, Martin. The flight from science and reason. Annals of New York Academy of Sciences. Nova Iorque: The New York Academy of Sciences, 1995. HAACK, Susan. Concern for truth: what it means, why it matters. In: GROSS, Paul; LEVTT, Norman; LEWIS, Martin. The flight from science and reason. Annals of New York Academy of Sciences. Nova Iorque: The New York Academy of Sciences, 1995. HACKING, Ian. Representing and intervening: introductory topics in the philosophy of natural sciences. Cambridge: Cambridge University Press, 1983. HOBSBAWM, Eric. A era dos extremos: o breve século XX. 1914-1991. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. KOERTGE, Noretta. A house built on sand. Exposing Postmodernist Myths about Science. New York, Oxford University Press: 1998. KOERTGE, Noretta. Wrestling the social constructor. In: GROSS, Paul; LEVITT, Norman; LEWIS, Martin. The flight from science and reason. Annals of New York Academy of Sciences. Nova Iorque: The New York Academy of Sciences, 1995, pp. 266-273. KRAGH, Helge. Quantum generations: a history of physics in the twentieth century. Princeton: Princeton University Press, 1999. KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Editora Perspectiva, 2001 ______. Foreword. In: FLECK, Ludwik. Genesis and development of a scientific fact. Chicago: The University of Chicago Press, 1979. pp. vi-xi. ______. O problema com a filosofia histórica da ciência. In: KUHN, Thomas. O caminho desde A estrutura: ensaios filosóficos, 1970-1993, com uma entrevista autobiográfica. São Paulo: Editora UNESP, 2006. LAKATOS, Imre e MUSGRAVE, Alan (orgs.). A crítica e o desenvolvimento do conhecimento: quarto volume das atas do Colóquio Internacional sobre Filosofia da Ciência, realizado em Londres em 1965. São Paulo: Cultrix, 1979. LATOUR, Bruno. A esperança de Pandora: ensaios sobre a realidade dos estudos científicos. Bauru: Edusc, 2001. 103 ______. A invenção das Guerras na Ciência. O acordo de Sócrates e Cálicles. In: LATOUR, Bruno. A esperança de Pandora: ensaios sobre a realidade dos estudos científicos. Bauru: Edusc, 2001, p. 247-269. ______. Ciência em ação: como seguir cientistas e engenheiros sociedade afora. São Paulo: Editora Unesp, 2004. ______. Jamais fomos modernos: ensaio de antropologia simétrica. São Paulo: Editora 34, 2008 ______. O fluxo sanguíneo da ciência. O exemplo da inteligência científica de Joliot. In: LATOUR, Bruno. A esperança de Pandora: ensaios sobre a realidade dos estudos científicos. Bauru: EDUSC, 2001. LATOUR, Bruno; WOOLGAR, Steve. Vida de laboratório: a produção dos fatos científicos. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1997, p. 18. LAW, John. Power, action and belief: a new sociology of knowledge? London: Routledge, 1986. LÖWY, Ilana. Ludwik Fleck e a presente historiografia da ciência. História, ciências, saúde – Manguinhos. vol I, n. 1, 1994. p. 7-18 LYNCH, Michael. Is a science peace process necessary? In: COLLINS, Harry; LABINGER, Jay. The one culture?: a conversation about science. Chicago: The University of Chicago Press, 2001, p. 49-50. MAIA, Carlos Alvarez. A história da ciência é história? Explicando uma tautologia. In: ÁVILA, Gabriel da Costa; SILVA, F. A.; SILVA, Paloma Porto (orgs.). Anais do I Encontro Nacional de Pesquisadores em História das Ciências - ENAPEHC. Belo Horizonte: Faculdade de Filsofia e Ciências Humanas, 2010. ______. A materialidade da linguagem na história e na ciência. In: Cadernos do CNLF, Volume X, no. 13. Lingüística Textual, Pragmática etc. Rio de Janeiro: Círculo Fluminense de Estudos Filológicos e Lingüísticos, 2006. v. X, pp. 45-56. Disponível em: http://www.filologia.org.br/xcnlf/13/04.htm. Acesso em: 10 set 2010. ______. Cientificismo versus Historicismo: o desafio para o historiar as idéias. O hiato historiográfico. No prelo. ______. Fleck e a compreensão humana do mundo. No prelo. ______. Humanos e não-humanos simétricos? E o ser histórico, como fica? Anais do XIX Encontro Regional de História: Poder, Violência e Exclusão. ANPUH/SP – USP. São Paulo, set 2008 ______. Por uma História das Ciências efetivamente histórica. O combate por uma História Sociológica. Revista da SBHC. Número 7, 1992. Disponível em: http://www.sbhc.org.br/pdfs/revistas_anteriores/1992/7/debates_2.pdf. Acesso em: 14 jun 2010. ______. Realismo científico e construtivismo sócio-lingüístico em Bruno Latour e Ludwik Fleck. In: VII ESOCITE Jornadas Latino-Americanas de Estudos Sociais das Ciências e das Tecnologias. Rio de Janeiro, 2008. Disponível em: www.necso.ufrj.br/esocite2008/trabalhos/35929.doc. Acesso em: 22 abril 2010. MANNHEIM, Karl. Ideologia e utopia. Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 1986. MATTHEWS, Michael R. História, filosofia e ensino de ciências: a tendência atual de reaproximação. Cadernos Catarinenses de Ensino de Física, v. 12, n. 3: p. 164-214, dez. 1995 MERMIN, N. David. Conversing seriously with sociologists. In: COLLINS, Harry; LABINGER, Jay. The one culture?: a conversation about science. Chicago: The University of Chicago Press, 2001, pp. 83-98. MIGNOLO, Walter. Os esplendores e as misérias da ―ciência‖: colonialidade, geopolítica do conhecimento e pluri-versalidade epistêmica. In: SANTOS, Boaventura de Sousa (org.). 104 Conhecimento prudente para uma vida decente: ‗Um discurso sobre as ciências‘ revisitado. São Paulo: Cortez Editora, 2006, pp. 667-710. MORAES, Márcia. A ciência como rede de atores: ressonâncias filosóficas. História, Ciências, Saúde — Manguinhos, v. 11(2), maio/ago. 2004, pp. 321-333. PARREIRAS, Márcia Maria Martins. Ludwik Fleck e a historiografia da ciência. Diagnóstico de um estilo de pensamento segundo as ciências da vida. Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2008. PESTRE, Dominique. Por uma nova história social e cultural das ciências: novas definições, novos objetos, novas abordagens. In: Cadernos IG/UNICAMP, Campinas, v. 6, n. 1, 1996, p. 3-56. PICKERING, Andrew (Org.). Science as practice and culture. Chicago: The University of Chicago Press, 1992. ______. From science as knowledge to science as practice. In: PICKERING, Andrew (Org.). Science as practice and culture. Chicago: The University of Chicago Press, 1992, pp. 1-28. PINCH, Trevor. Does Science Studies undermine science? Wittgenstein, Turing, and Polanyi as precursors for Science Studies and the Science Wars. In: LABINGER, Jay e COLLINS, Harry (orgs.). The one culture? A conversation about science. Chicago: The University of Chicago Press, 2001, p. 13-26. RAGOUET, Pascal; SHINN, Terry. Controvérsias sobre a ciência: por uma sociologia transversalista da atividade científica. São Paulo: Editora 34 e Associação Filosófica Scientia Studia, 2008. REGNER, Ana Carolina K. Feyerabend e o pluralismo metodológico. Epistéme: Filosofia e História das Ciências em Revista. Porto Alegre, v.1, n.2, 1996, pp. 61-78. RICHARDSON, Alan e UEBEL, Thomas. Introduction. In: RICHARDSON, Alan e UEBEL, Thomas (orgs.). The Cambridge companion to logical empiricism. Cambridge: The Cambridge University Press, 2007, pp. 1-13. RICHARDSON, Alan; UEBEL, Thomas (orgs.). The Cambridge companion to logical empiricism. Cambridge: The Cambridge University Press, 2007. ROSS, Andrew. The challenge of science. In: DURING, Simon (Org.). The cultural studies reader. Nova Iorque: Routledge, 2000, p. 292-304. SANTOS, Boaventura de Sousa. Conhecimento prudente para uma vida decente: ‗um discurso sobre as ciências‘ revisitado. 2. ed. São Paulo: Cortez Editora, 2003. SHAPIN, Steven. Discipline and bounding. The history and sociology of science as seen through the externalism-internalism debate. History of Science. Cambridge, vol. 30, 1992, p. 334-69. ______. History of science and its sociological reconstructions. History of science. Cambridge, n. 20, 1982, p. 157-211. SHAPIN, Steven; SCHAFFER, Simon. Leviathan and the air-pump. Hobbes, Boyle and the experimental life. Princeton: Princeton University Press, 1985. SILVA, Francismary Alves da. Descoberta versus Justificativa: a Sociologia e a Filosofia do conhecimento científico na primeira metade do Século XX. Revista de Teoria da História. Ano 1, número 2, 2009. Disponível em: http://www.ufg.br/this2/uploads/files/113/Descoberta_versus_Justificativa.pdf. Acesso em: 14 jun 2010. SISMONDO, Sergio. An introduction to science and technology studies. Oxford: Blackwell, 2004. ______. Science and Technology Studies and an Engaged Program. In: AMSTERDAMSKA, Olga et al. (org.). The Handbook of Science and Technology Studies. 3. ed. Cambridge: The MIT Press, 2008, p.13-31. 105 SNOW, Charles Pierce. As duas culturas e uma segunda leitura. São Paulo: Edusp, 1995. SOKAL, Alan. A Physicist Experiments With Cultural Studies. Lingua Franca. Maio-Junho 1996. Disponível em: http://www.physics.nyu.edu/faculty/sokal/lingua_franca_v4/lingua_franca_v4.html. Acesso em: 2 jun 2009. ______. A razão não é propriedade privada. Folha de São Paulo, São Paulo, 6 out 1996. Disponível em: http://www.physics.nyu.edu/sokal/folha.html#sokal. Acesso em: 22 mar 2010. ______. Transgredindo as fronteiras: em direção a uma hermenêutica transformativa da gravitação quântica. In: BRICMONT, Jean; SOKAL, Alan. Imposturas Intelectuais: o abuso da ciência pelos filósofos pós-modernos. Rio de Janeiro: Record. 1999, p. 231-273. ______. Transgredindo as fronteiras: um posfácio. In: BRICMONT, Jean; SOKAL, Alan. Imposturas Intelectuais: o abuso da ciência pelos filósofos pós-modernos. Rio de Janeiro: Record. 1999, pp. 285-296. ______. What the Social Text affair does and does not prove. A critical look at the ―science studies‖. In: ASHMAN, Keith; BARINGER, Philip. After the science wars. Routledge: Londres, 2001, pp. 13-28. ______. What the Sokal affair does and does not prove. In: KOERTGE, Noretta. A house built on sand. Exposing Postmodernist Myths about Science. New York, Oxford University Press: 1998, pp. 9-22. SPRINGER DE FREITAS, Renan. A metodologia como carro-chefe da história da ciência. In: CONDÉ, Mauro Lúcio Leitão; FIGUEIREDO, Betânia Gonçalves (orgs.). Ciência, história e teoria. Belo Horizonte: Argvmentvm, 2005, p. 41-67. ______. Sociologia do conhecimento, pragmatismo e pensamento evolutivo. Bauru: EDUSC, 2003. STENGERS, Isabelle. A invenção das ciências modernas. São Paulo: Editora 34, 2002. TRENN, Thaddeus J. Preface. In: FLECK, Ludwik. Genesis and development of a scientific fact. Chicago: The University of Chicago Press, 1979, pp. xiii-xix. WEINBERG, Steve. Sokal‘s Hoax. The New York Times Review of Books. Nova Iorque, Volume XLIII, n. 13, ago 1996, p. 11-15. WHITE, Hayden. Teoria literária e escrita da história. Estudos históricos. Rio de Janeiro, v. 7, n. 13, 1994, p. 21-46. WOLPERT, Lewis. The unnatural nature of science. Londres: Faber and Faber, 1992.
Download