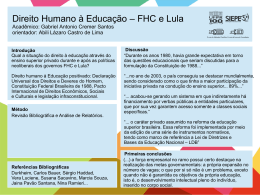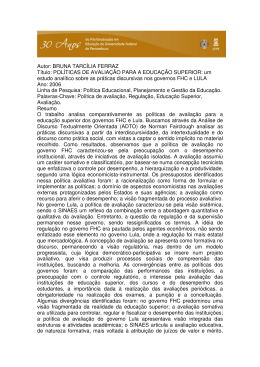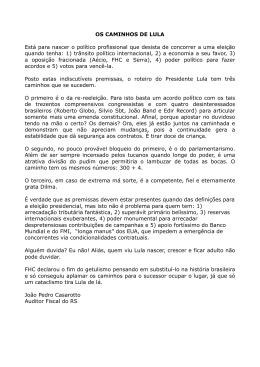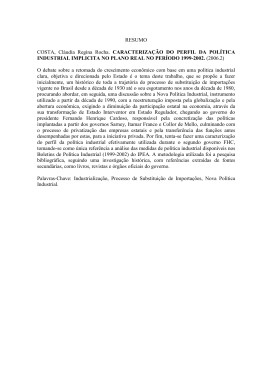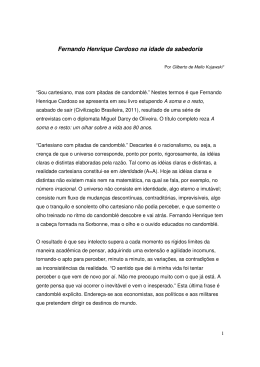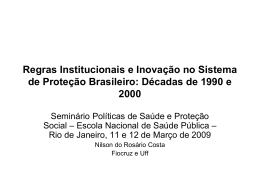A herança maldita de FHC – Sérgio Miranda O FMI foi co-gestor da economia do país no último mandato de FHC, que deixou o país quebrado, a inflação alta e o futuro comprometido pela ruína da infra-estrutura, como estradas e energia elétrica. Não é o julgamento de um homem; é o de um caminho. O neoliberalismo, o pensamento político que serviu de inspiração a Fernando Henrique, é uma corrente poderosa. Não surgiu no Brasil; não empolgou apenas FHC e os políticos e intelectuais que o acompanharam no governo. E nem será derrotado apenas porque ele sai do Planalto. Pode-se dizer que o neoliberalismo tirou do fundo do baú, num contexto histórico preciso, a partir do final da segunda metade dos anos 70, idéias velhas que pareciam ter sido derrotadas pelos avanços socialistas. Essas idéias foram se aprimorando com o governo neofascista de Pinochet no Chile, com seus experimentos com os monetaristas de Milton Friedman, da “Escola de Chicago”; com o governo antitrabalhista e anti-sindical de Margareth Thatcher e seu plano de privatizações, na Inglaterra; e, finalmente, ganharam o mundo com os dois governos de Ronald Reagan (1981-1988) – o operador da recuperação política do império americano que, em meados dos anos 70, fora fragorosamente derrotado pelos guerrilheiros no Vietnã. Fernando Henrique Cardoso é um neoliberal tardio; não foi o primeiro político brasileiro famoso a aderir à onda neoliberal que varreu o mundo já de modo avassalador a partir da queda do Muro de Berlim, em 1989. No segundo turno da eleição presidencial daquele ano, FHC estava do lado oposto: juntou-se à campanha da esquerda para eleger Lula, contra Fernando Collor de Mello. Collor, sim, merece o título de o verdadeiro precursor do neoliberalismo político no País. Foi ele que tornou popular a campanha pela redução do tamanho do Estado, com sua guerra de mídia contra os marajás do serviço público, já antes de ser eleito. Foi Collor que criou o Plano Nacional de Desestatização, nos seus primeiros meses de governo. E foi ele também que, no começo de 1991, com a ajuda de Jorge Bornhausen e Antônio Carlos Magalhães, comandantes do PFL, reorganizou o comando do setor financeiro do Brasil, colocando três financistas essenciais nos postos-chave: Marcílio Marques Moreira como ministro da Economia; Francisco Gros, como presidente do Banco Central; e Armínio Fraga, como diretor da Área Externa do BC. Marcílio e Gros já eram então homens ligados à grande finança global. De lá vieram e para lá retornaram. Marcílio deixou o governo Collor e foi para o banco de investimentos americano Merril Lynch. Gros deixou o BC brasileiro e foi para o Morgan Stanley, outra casa financeira de Wall Street. E Armínio seguiu para Nova Iorque para ser o diretor para os países emergentes dos hedge-funds de George Soros, os agressivos fundos de investimento do mais conhecido megaespeculador global. É essa trinca que dá forma final aos mecanismos para integrar o Brasil na grande finança global. “Os investimentos são como o vento: não entram em casa onde não exista uma brecha para a saída”, dizia Marcílio. Para isso, o Ministério da Fazenda e o BC brasileiro modernizaram o regulamento para as chamadas CC-5, contas de não residentes, pessoas físicas e empresas instaladas no Brasil mas com controle do exterior, que passaram a ter direito de enviar dinheiro para fora sem aviso prévio às autoridades monetárias. Para isso também foram criados os seis anexos do Banco Central que iriam facilitar a vinda para o Brasil dos capitais de estrangeiros e de brasileiros legal ou ilegalmente instalados em paraísos fiscais ou escondidos por traz de fundos e trusts de investimento. A peça final para a atração desses capitais foi a elevação espetacular dos juros promovida pela trinca Marcílio-Gros-Armínio, em outubro de 1991. Fernando Henrique, que passou a ser uma figura estratégica na política brasileira a partir de meados de 1993, quando assume o Ministério da Fazenda no governo de Itamar Franco, foi um continuador dessa política e uma espécie de mentor político desses financistas. Para entender melhor suas ações, é preciso ver o contexto mais específico em que as desempenhou. Como diz Marx, os homens fazem a história, mas dentro de condições determinadas. E essas eram as do desmoronamento final do império soviético, por um lado, e, por outro, da ampla recuperação do império e da economia americana. Fernando Henrique, no entanto, pega o bonde quando ele já está perto de sair dos trilhos, perto da fase na qual, como disse depois Alan Greenspan, o presidente do Federal Reserve, o banco central americano, os mercados seriam acometidos da “exuberância irracional” e da “ganância infecciosa”. Destruir a herança Numa primeira fase, de meados de 1993 a meados de 1994, os financistas de Fernando Henrique terminaram com as oscilações de política monetária que persistiram no Brasil após a ditadura militar e armaram o Plano Real. No governo de José Sarney (1985-1989) e mesmo nos dois primeiros anos de governo Collor (19901991) houve períodos de juros reais muito baixos e mesmo negativos. Como ministro da Economia de Itamar e tendo Pedro Malan como presidente do Banco Central, FHC consolidou a política de juros altos do final do governo Collor para atrair dólares. As reservas em dólar do país cresceram espetacularmente. E sobre elas FHC construiu o Plano Real, lançado em julho de 1994, e que o elegeu presidente logo a seguir. Já presidente eleito, quando se despediu do Senado com um discurso no dia 14 de dezembro de 1994, Fernando Henrique Cardoso disse com clareza que um dos objetivos centrais do seu governo era destruir a herança de Getúlio Vargas. “Resta um pedaço do nosso passado que ainda atravanca o presente e retarda o avanço da sociedade. Refiro-me ao legado da era Vargas, ao seu modelo de desenvolvimento autárquico e ao seu Estado intervencionista”. FHC considerava o Estado brasileiro fechado para o exterior, indevidamente envolvido na produção de bens e serviços e antiquado na sua concepção. No discurso, apontou os alvos para a sua operação de reforma: era preciso abrir a economia aos capitais estrangeiros, principalmente no setor de energia elétrica, mineração, petróleo, telecomunicações, então dominados pelas empresas estatais. “No ciclo de desenvolvimento que se inaugura, o eixo dinâmico da atividade produtiva passa decididamente do setor estatal para o setor privado (...) O processo de privatização deve ser acelerado e estendido a outras atividades e empresas de energia, transporte, telecomunicações e mineração”, disse ele, aprovando o esforço de privatização iniciado com Collor, mas mantido em câmara lenta por Itamar Franco. Itamar – é verdade, permitiu a venda da Companhia Siderúrgica Nacional, grande símbolo da Era Vargas; mas se recusou, por exemplo, a abrir o setor elétrico e o de telecomunicações. Além disso, disse FHC no Senado, era preciso acabar com a distinção entre “empresa brasileira” e “empresa brasileira de capital nacional”. Com isso, apontava essencialmente para a revisão dos critérios de financiamento dos bancos públicos brasileiros, especialmente o Banco do Brasil e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), voltados para o apoio das empresas nacionais. No caso do BNDES, especificamente, o banco era proibido de financiar empresas de capital estrangeiro. Com uma maioria de quase 400 parlamentares em pouco mais de 500, o governo passou como um rolo compressor n não só sobre aspectos essenciais da herança de Vargas mas também sobre aspectos desse legado que haviam sido reformulados e aprimorados pela Constituinte de 1988, que surgira da luta contra a ditadura militar. Em 1995, foi praticamente refeito o Título VII da Constituição, que trata “Da Ordem Econômica e Financeira”. A Emenda Constitucional nº 6, de 15 de agosto, revogou todo o artigo 171, que estabelecia a distinção entre “empresa brasileira” e “empresa brasileira de capital nacional” e definia diversas situações nas quais a lei poderia estabelecer privilégios para as nacionais. A mesma Emenda alterou o artigo 176, que assegurava a pesquisa e a lavra de recursos minerais apenas “por brasileiros ou empresa brasileira de capital nacional”, trocando a expressão “empresa brasileira de capital nacional” por “empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no país”. A Emenda nº 7, promulgada também em 15 de agosto, eliminou ainda o privilégio que era dado às “embarcações nacionais” na navegação de cabotagem, no interior do país. Em processo rapidíssimo, o Congresso Nacional também que alterou o inciso XI e a alínea "a" do inciso XII do art. 21 da Constituição Federal, dando margem à privatização do Sistema Telebrás. Em 16 de fevereiro de 1995, o presidente da República enviou ao Legislativo a Mensagem nº 191/95, com a Proposta de Emenda Constitucional nº 03-A/95. Dessa proposta resultou a Emenda Constitucional nº 8, promulgada também em 15 de agosto de 1995, que permitiu à União explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações. Já perto do final do seu primeiro ano de mandato, em 9 de novembro, foi aprovada a Emenda número nº 9, que mudou os incisos de I a IV do artigo 177: o monopólio da pesquisa e lavra de petróleo e gás; o refino de petróleo nacional ou importado; a importação e a exportação; e o transporte marítimo e por meio de dutos do petróleo e gás. Foi acrescentado um parágrafo: “a União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização das atividades previstas nos incisos de I a IV deste artigo”. Após esse conjunto de medidas, as privatizações foram desatadas em todos os setores. E o BNDES, além de dar suporte à venda do patrimônio público, passou, cada vez mais, a financiar o capital estrangeiro: em 1995 estiveram em 2,7% dos financiamentos do banco; em 96 foram 2,9%; em 97, 3,7%; em 98, 4,6%; em 99 já estavam mais de 10%; em 2000, 16,1%; e em 2001 chegaram a 20,9%. Desde os seus primeiros pronunciamentos, o presidente FHC investiu também contra outro aspecto da herança Vargas: a legislação trabalhista. Como a desnacionalização foi acompanhada também do crescimento do desemprego e da precarização das relações de trabalho, ele usou sua autoridade de presidente e sociólogo famoso para vender a tese de que esses males advinham, principalmente, de posições atrasadas dos partidos de esquerda e do movimento sindical, que se opunham à chamada “flexibilização das leis trabalhistas”. De fato, a legislação trabalhista no Brasil se transformou num emaranhado ao longo das décadas. Hoje, são 197 leis, 71 portarias, 361 decisões do Tribunal Superior do Trabalho, 22 artigos da Consolidação das Leis do Trabalho e 42 dispositivos da Constituição atual. Mas FHC não apresentou nenhum plano, nenhum estudo merecedor do nome que procurasse dar forma nova, organizar o conjunto dessas leis e regulamentos. Em conseqüência, as mudanças que fez, ajudaram a reduzir o custo da mão-de-obra e ampliaram o desemprego e a precarização do trabalho (texto nas páginas de 40 a 43). A teoria e a prática A nova moeda promoveu uma queda abrupta da inflação e uma euforia nos mercados. E foi um sinal verde para o endividamento externo. Quem trouxesse dólares para o país tinha a garantia do governo de que, por um ano, poderia retirá-lo a hora que quisesse, comprando, no Banco Central, dólares a um real, pois o banco tinha acumulado uma montanha de moeda americana como lastro. Por mais que os nacionalistas e a oposição de esquerda protestassem, o desmanche do Estado promovido por Fernando Henrique tinha uma lógica aparente. Em tese, o governo estava vendendo as estatais para tirar o Estado de atividades nas quais seria ineficiente e concentrá-lo nas atividades de fiscalização e de prestação de serviços públicos essenciais, como educação, saúde, cultura. A terrível política de juros reais gigantes, por sua vez, destinava-se a consolidar a estabilidade monetária e atrair capitais, que promoveriam a modernização industrial e elevariam a competitividade do país, com o que seriam pagos os juros devidos no período de estabilização. Esses capitais deveriam ser pagos, é claro, com remessas de juros, lucros ou amortizações. Mas a dívida externa, em princípio, não deveria ser um problema: o país havia renegociado, no início de 1993, a dívida velha, contraída no tempo dos militares. O trabalho fora iniciado e concluído pelo ministro Pedro Malan, indicado para a função por Marcílio Marques Moreira, ainda no governo Collor. Além disso, como repetia sistematicamente Gustavo Franco, diretor do Banco Central e uma das maiores estrelas do corpo de financistas de FHC, o mundo teria entrado numa nova conjuntura, de abundância de capitais. Não havia no horizonte qualquer ameaça de uma contração na economia global, como a de 1930; os ciclos econômicos eram passado na história do capitalismo – “1929, nunca mais”, dizia Franco. Na prática, o plano só deu certo em parte. Em 6 anos da política de atração de capitais, de 1992 a 1998, as empresas privadas instaladas no país – de capital nacional e estrangeiras – tomaram no exterior cerca de 120 bilhões de dólares. Com o crédito interno caríssimo, capitalistas e empresas que tinham crédito ou dinheiro lá fora trouxeram esses capitais para o Brasil, por meio de diversos tipos de empréstimos e das contas especiais permitidas pelo Banco Central. Isso fez a fortuna de alguns e despertou muitas ilusões de modernização. No conjunto, para o país, no entanto, o resultado foi diferente. Aqui vale uma comparação. Tome-se a China, por exemplo. Brasil e China fizeram políticas visando atrair capitais estrangeiros. Aparentemente elas foram iguais. Na prática, foram radicalmente diferentes. A China, como diz o Prêmio Nobel de Economia e ex-diretor do Banco Mundial, Joseph Stiglitz, foi um dos poucos países que resistiu à devastação provocada por sucessivas crises financeiras no mercado mundial a partir de 1995. Continua crescendo a mais de 7% anuais há 20 anos. E continua atraindo capitais de fora, ao contrário do Brasil, que está sem crédito, crescendo a taxas baixíssimas e há quatro anos está pendurado no FMI. A razão para isso, diz Stiglitz, é o fato de a China ter adotado uma política de abertura financeira completamente oposta à do Brasil. Enquanto o Brasil abriu completamente as suas duas contas do balanço de pagamentos – a de transações correntes e a de capitais –, a China abriu apenas uma, deixou sob controle a conta de capitais. É uma diferença muito grande. O óbvio: como pagar? As transações correntes de um país com o exterior incluem suas importações e exportações; os fretes que paga por mercadorias transportadas em navios de outras bandeiras e os que recebe quando o transportador é nacional; as diferenças entre os juros, os lucros, os royalties, as despesas de assistência técnica que paga e as que recebe; e também o saldo entre as remessas dos migrantes seus que enviam dinheiro para o país e dos imigrantes que o país tem e enviam dinheiro para o exterior. A outra conta é a dos capitais propriamente ditos e é a mais crítica: nela são contabilizados os empréstimos e os investimentos. Os capitais estrangeiros vão para um país para obter lucros, no caso dos investimentos, ou juros, no caso dos empréstimos. Os chineses viram o que é óbvio: se recebem investimentos ou empréstimos, têm de saber como pagá-los. Para eles, por exemplo, seria absurdo permitir que se instalasse no país uma indústria de produção de aparelhos de telefonia celular que importasse mais de 90% dos componentes desses aparelhos, como a brasileira. Como iriam pagar essas importações? No caso do Brasil, com uma política de abertura sem esses princípios, a diferença entre importações e exportações de componentes eletro-eletrônicos criou um buraco crescente no balanço de pagamentos do país, que atingiu cerca de 8 bilhões de dólares em 2001. Para os chineses, também, seria absurdo vender ao capital estrangeiro empresas do setor de serviços, como as elétricas e as de telecomunicações, que não exportam nada. De que forma o país iria obter os dólares de que elas necessitariam para remeter os seus lucros ao exterior? Os chineses decidiram tornar sua moeda amplamente conversível por etapas, a partir de 1978. Só em 1996 completaram a abertura da conta de transações correntes, depois de muitas experiências. E deixaram fechada a conta de capitais: quem quiser investir, comprar empresas ou emprestar às empresas na China, não pode agir no mercado; tem de passar pelo governo, cuja preocupação central é saber como os dólares que entrarem serão pagos. Como se pode ver hoje, a abertura do Plano Real não foi como a dos chineses. Gustavo Franco, diretor da área externa do Banco Central no lançamento do Plano Real, ordenou aos operadores do banco, no primeiro dia de vigência da nova moeda, que passassem a trocar livremente dólares por reais na conta financeira, de capitais. De início, pareceu um milagre. Atraídos por juros monumentais, os dólares desaguaram no Brasil. O real, que vinha sendo desvalorizado todos os dias, há mais de dez anos, desde que o país quebrara sob os militares, de repente, tornou-se uma moeda forte. Chegou a valer 1,25 dólares por alguns meses, entre o final de 94 e o início de 95. E ficou valendo mais que um dólar até o começo de 1996, graças a determinação do Banco Central de sustentar a sua cotação com juros estratosféricos. Isso, no entanto, provocou uma devastação na economia do país. Com o dólar barato, as importações dispararam, foram de 33 bilhões de dólares, em 1994, para 50 bilhões de dólares, em 1995, e o saldo de comércio exterior, que girava em torno dos 10 bilhões de dólares anuais desde 1984 e era gasto pagando a velha dívida externa estatal, desapareceu. Os outros gastos da chamada conta de transações correntes – as despesas dos turistas no exterior, a contratação de fretes marítimos estrangeiros, as remessas de lucros, juros, royalties e dividendos –, foram todos, em pouco tempo, para a casa de alguns bilhões de dólares anuais. Para cobrir esse rombo, o capital estrangeiro era atraído com juros altos, indiscriminadamente, sem se saber como pagá-los. A entrada dessa massa de dólares e a política de juros altos tiveram um efeito arrasador sobre a dívida interna pública. Boa parte dos dólares foi comprada pelo governo: as reservas internacionais do país, que estavam em 9 bilhões de dólares, em 1991, abaixo do mínimo exigido pela Constituição – o equivalente a três meses de importações – foram para 60 bilhões de dólares, em 1996. O governo comprou esses dólares emitindo dívida pública. Até mesmo os dólares vindos para a compra de empresas privadas nacionais por empresas brasileiras ou estrangeiras instaladas no país, ficavam parados por bom tempo nos seus caixas para serem aplicados nos títulos públicos e aproveitar o maná de juros oferecido pelo BC. De qualquer modo, entravam nas contas dos então exempresários nacionais que, em muitos casos, passaram a viver de rendas em títulos públicos e da especulação financeira. E, pior que tudo, o cenário internacional róseo pintado por Gustavo Franco não prevaleceu. A partir de 1995, a expansão do capitalismo global começou a se dar aos solavancos. Para o Brasil, a entrada de dinheiro pela conta de capitais, que significava grandes compromissos para o futuro, mas, a curto prazo, fechava o balanço de pagamentos, começou a minguar. O primeiro grande golpe nas teorias dos financistas do Plano Real foi a quebra do México, que ocorreu antes mesmo de FHC tomar posse, em dezembro de 1994. Os reflexos dessa crise no Brasil foram quase imediatos. Em março, o movimento líquido de capitais em direção ao Brasil, que vinha sendo sempre positivo, sempre maior que 1 bilhão de dólares por mês, tornou-se negativo, em 2 bilhões de dólares. O Banco Central fez o que faz sempre: elevou de forma descomunal os juros, para uma taxa anual perto de 60% reais – ou seja, descontada a inflação. Essa taxa se manteve por muitos dias. Depois, caiu. Mas não muito: permanecendo acima de 40% de juros reais ao ano. Manteve-se nesse patamar até meados do ano. E o dinheiro de fora começou a voltar. As reservas internacionais do país, que tinham caído quase dez bilhões de dólares entre dezembro de 94 e abril de 95, voltaram a subir, para mais de 40 bilhões de dólares, em julho. A crise, de qualquer modo, provocou desentendimentos dentro da equipe econômica, que levariam à saída de Pérsio Arida da presidência do Banco Central, em junho. Em outubro, após um interregno em que o presidente do banco foi Gustavo Loyola, ascendeu Gustavo Franco, o financista mais radical. Entre julho de 95 e dezembro de 1996, as coisas pareciam ter-se ajeitado e o plano dos financistas finalmente dado certo. O governo montou um grande esquema de incentivos para as montadoras de automóveis internacionais e também para seus fornecedores externos. Inúmeras indústrias de autopeças nacionais foram compradas pelos estrangeiros que vieram para o país. O governo facilitou também a captação de dinheiro externo pelos bancos das montadoras ou aqueles ligados a elas. Foram tomados uns bilhões de dólares de empréstimos no exterior para financiar alguns investimentos e a compra de carros fabricados no país ou importados. Isso provocou uma espécie de novo milagre brasileiro. O anterior, ocorrido entre 1968 e 1973, sob o governo dos militares, teve como uma de suas características essenciais o crescimento da produção e do consumo de automóveis. Sob os militares, o Brasil, que fabricava menos de 100 mil automóveis por ano, passou a produzir mais de 1 milhão. Com Fernando Henrique, também em pouco tempo a produção de carros duplicou. E passou a haver muito mais opções – não só praticamente todas as grandes montadoras internacionais passaram a receber terrenos e benefícios para se instalar no país como a importação de carros novos se ampliou. A estabilidade interna da moeda brasileira provocou um outro efeito de grande repercussão popular: o restabelecimento do crédito que tinha desaparecido quase que totalmente com a inflação galopante. Esses milagres mantiveram alto o prestígio de Fernando Henrique perante a opinião pública até sua reeleição em 1998. Ele tinha se elegido em 1994 derrotando Lula já no primeiro turno, com 54% dos votos. E se reelegeu, em 1998, da mesma forma, com 53% dos votos, na primeira votação. A reeleição foi uma violação das regras republicanas do país. Há suspeitas graves de que deputados venderam seus votos (artigo nas páginas de 22 a 25). Mas nada disso parecia ter muita importância naquela conjuntura. A burguesia traída Já no final de 1996, no entanto, o milagre de FHC começava a falhar. Em dezembro daquele ano, as reservas brasileiras começaram a cair novamente. Em janeiro de 1997, houve nova crise no mercado de capitais global, a chamada Crise da Ásia. E o movimento líquido de capitais para o Brasil voltou a ficar negativo: menos 350 milhões de dólares. O Banco Central tornou a receitar a medicina de sempre: mais juros. E o governo passou a incentivar ainda mais a tomada de dinheiro no exterior. A análise da privatização da Vale do Rio Doce, ocorrida em maio de 1997, ajuda a compreender essa conjuntura. O governo decidiu vender o controle da Vale por 3,2 bilhões de dólares. Dois grupos foram incentivados a fazer o negócio, o de Antônio Ermírio de Morais, dono da Votorantim, e o de Benjamin Steinbruch, que já havia comprado a Companhia Siderúrgica Nacional. No fundo, ganhava quem conseguisse trazer mais moeda estrangeira. Ganhou Steinbruch, que conseguiu trazer para o país 1,6 bilhão de dólares – 1,2 bilhão que tomou emprestado do Nations Bank (hoje Bank of America) e mais 400 milhões de dólares que conseguiu de sócios para o negócio. Entre esses parceiros estavam George Soros – representado por Armínio Fraga, seu operador para os países emergentes –, o próprio Nations e duas grandes casas financeiras de Wall Street, Goldman Sachs e a Lehman Brothers. Para assegurar que Steinbruch tivesse o controle da companhia, o governo fez com que o BNDES e a Previ, o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, manobrado pelo Palácio do Planalto, mantivessem fora da Valepar, a companhia criada por Steinbruch para controlar a Vale, parte das ações ordinárias que tinham na empresa e que, juntas, dariam ao Estado mais de 50% do controle do capital da companhia. Até hoje esse esquema se mantêm: embora tenha maioria das ações ordinárias – de controle – da Vale, o governo transfere sua direção para a iniciativa privada. Outra história sintomática desse período de desespero por dólares é contada pelo ex-banqueiro José Eduardo Andrade Vieira, que se sente traído por Fernando Henrique no episódio da venda de seu banco, o Bamerindus, aos ingleses do Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, em 1997. Andrade Vieira foi um dos primeiros a acreditar em FHC. No início da sua primeira campanha para presidente, o então senador estava lá embaixo nas pesquisas. Lula tinha grande vantagem e FHC não encontrava doadores. Seu escritório político ficou ameaçado de fechamento, porque não tinha dinheiro sequer para pagar as secretárias. O banqueiro garantiu a sobrevivência da candidatura doando a FHC 800 mil reais. Em 1997, a crise financeira levou à liquidação e à venda de sete bancos brasileiros de grande porte – Bamerindus, Excel-Econômico, Banco Geral de Comércio, Noroeste, América do Sul e Real. Andrade Vieira, na época, procurou Fernando Henrique junto com um banqueiro brasileiro com o qual iria associar-se na perspectiva de salvar o Bamerindus. O presidente disse-lhe, no entanto, que nada poderia fazer. De fato, FHC não aceitou a proposta de salvar o Bamerindus com capital nacional porque a prioridade oficial era vender empresas estatais e empresas privadas nacionais ao capital estrangeiro, e não aos nacionais, para que entrassem dólares no país para cobrir os buracos do balanço de pagamentos. Essa política explica um dos mais curiosos traços do governo FHC: embora tenha sido eleito duas vezes como o homem da burguesia brasileira que iria salvar o país das ameaças representadas pelo candidato dos trabalhadores, Lula, de certo modo ele traiu a burguesia nacional. Sabe-se que o Regime Militar – 1964-1984 – levou ao poder grupos ligados ao capital estrangeiro que conspiravam contra o getulismo nacionalista desde os anos 40. Esses grupos militares eram francamente favoráveis à elevação da participação do capital estrangeiro na economia do país. O primeiro surto de crescimento econômico sob os militares (1968-1974), aliás, deu-se em boa parte graças ao investimento direto estrangeiro. Os militares, além disso, embora de início tenham criado uma multidão de estatais, após a quebra do país, em 1982, começaram a desmantelar o setor estatal e a promover um crescimento da participação estrangeira. A traição de FHC A novidade de Fernando Henrique, portanto, não é a continuação do desmantelamento do setor produtivo estatal e o favorecimento aos grupos estrangeiros. A verdadeira novidade dos anos FHC é o desmantelamento do setor privado da economia nacional, com a venda de grandes empresas de capitalistas nacionais ao capital estrangeiro. Dizia-se de Getúlio que ele tinha sido o pai dos pobres e a mãe dos ricos. Salvo algumas exceções, como Antônio Ermírio de Moraes que ficou com Fernando Henrique até o fim e foi um dos poucos e explícitos apoiadores de José Serra nas eleições passadas, a burguesia brasileira, com FHC, ficou sem pai e sem mãe. No final de 1997, o Brasil começou a quebrar. Em setembro daquele ano, o movimento de capitais para o Brasil refluiu em função da chamada Crise da Rússia: houve uma saída líquida do país de 4,5 bilhões de dólares. O governo apelou para o remédio de sempre: por alguns meses, puxou os juros para além de 30% reais ao ano. De novembro de 97 a abril de 1998, a receita funcionou. A entrada líquida de capitais foi de 2 bilhões de dólares, em novembro, para 12 bilhões em março e 10 bilhões de dólares em abril. Em maio, no entanto, começou uma sangria desatada que iria levar para fora do Brasil, em setembro, um saldo líquido de 17 bilhões de dólares. Para injetar dólares na economia que se esvaía, o governo radicalizou na privatização. Mudou as regras que anunciara para a privatização da Telebrás. Sérgio Motta, o ministro das Comunicações e braço direito de Fernando Henrique, falava em manter o controle nacional. Com a crise, a consigna mudou: vender tudo, preferencialmente para o capital estrangeiro. O discurso ressaltava que somente os estrangeiros poderiam modernizar nossas telecomunicações. De fato, buscava-se desesperadamente dólares para fechar o vazamento gigante do nosso balanço de pagamentos. Em agosto de 1998, Stanley Fischer, então diretor-gerente do FMI, visitou o presidente no Palácio do Planalto. Quem contou o episódio, recentemente, foi o próprio Fernando Henrique numa entrevista à imprensa. O presidente e o homem do FMI examinaram o quadro político. Haveria eleições em poucos meses. Fernando Henrique era candidato à reeleição contra Lula. Só que o país estava praticamente falido. A avaliação de Fischer, segundo FHC, é de que o país poderia quebrar antes das eleições, em setembro. FHC não contou até hoje e dificilmente contará as negociações que fez para se reeleger nessa conjuntura. Há indicações claras, no entanto, de que nessa época se desenvolveu uma das histórias políticas mais vergonhosas de seus dois mandatos, envolvendo o seu alto comando financeiro. Eles começaram a negociar secretamente, com o Tesouro dos EUA e com o FMI, um acordo que foi barganhado por novas regras de funcionamento do governo brasileiro. Essencialmente, ficou acertado que sairia um grande empréstimo logo após as eleições, desde que FHC, antes do pleito, anunciasse formalmente as novas normas para o gasto do dinheiro público. Foi planejada, assim, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que o presidente delineou em um discurso no Itamaraty, em 23 de setembro. A LRF estabelece, basicamente, que o orçamento público passa a ter uma prioridade: o superávit entre receitas e despesas, destinado ao pagamento dos credores. A essa altura, meados de 1998, grupos nacionais descontentes com a política de dependência do capital externo estavam gravando secretamente as conversas do presidente do BNDES, André Lara Resende. Essas gravações, ao que tudo indica, estão em dezenas de fitas. Muitas delas ainda não foram reveladas. As gravações foram feitas por participantes do leilão das empresas do Sistema Telebrás, que foi conduzido pelo BNDES. O conteúdo das gravações que foram divulgadas até agora mostra, nitidamente, que o ministro das Comunicações, Luiz Carlos Mendonça de Barros, o presidente do BNDES, e mesmo o presidente da República, tinham preferência pela vitória dos grupos estrangeiros no leilão. Graças a essas revelações se soube, por exemplo, que Malan disse a Resende, que redigiu o discurso de FHC no Itamaraty, no dia 23 de setembro, que dirigentes do FMI e do Tesouro dos Estados Unidos queriam ver o discurso. Resende diz na gravação que ia falar com Stanley Fischer, diretor-adjunto do FMI. E Malan lhe explica: “Eles estão, tanto o Fundo quanto o Tesouro, dizendo, pedindo, assim, quase que dizendo: 'Nos deixem ler antes ...'. Porque a idéia é que eles saiam com expressão de apoio. Eles querem ter acesso antes ... Para poder expressar apoio”, diz Malan. No seu discurso, Fernando Henrique anuncia um ajuste rápido, para o país voltar a crescer aos níveis adequados, o mais cedo possível. Quase dois meses depois, no dia 13 de novembro, Malan anunciou o acordo com o Fundo de 41,5 bilhões de dólares, que previa que o país economizaria, para pagar juros e evitar que a dívida crescesse e se tornasse impagável, o equivalente a 2,6% do PIB em 1999, 2,8% em 2000, e 3,0% em 2001. Com isso, afirmavam, a dívida pública ficaria estabilizada em 44,5% do PIB. A decadência Mas, apesar de ter passado a governar em parceria com o Fundo, o ajuste anunciado por FHC em 1998 não bastou. No início de 1999, o governo tentou organizar uma retirada ordenada da política cambial anterior, que consistia em manter o real valorizado. Trocou Gustavo Franco por Chico Lopes na presidência do Banco Central e anunciou uma política cambial de desvalorização controlada da moeda brasileira. Os mercados atropelaram os planos do novo presidente do BC e o real foi desvalorizado abruptamente, à força, de 1,3 por dólar para mais de 2 reais por dólar. Chico Lopes caiu sem sequer ter sido sabatinado pelo Senado para se confirmar no cargo. Sabe-se hoje, também pela fitas gravadas com conversas do presidente do BNDES, André Lara Resende, que Lopes não agradava ao FMI e aos americanos. Depois, ele seria envolvido em denúncias espetaculares de corrupção. Para o seu lugar veio Armínio Fraga, diretamente de Wall Street. As fitas do BNDES, com sinais visíveis das operações dos mais altos dirigentes do governo para favorecer grupos estrangeiros no leilão da Telebrás e da trama feita com o FMI para a reeleição de FHC, fortaleceram, na oposição, o plano de afastar o presidente por meio da mobilização popular, como se havia feito na campanha do “Fora Collor”, em 1992. Desenvolveu-se então a campanha do “Fora FHC”, que pedia o seu impeachment e acabou realizando, em agosto de 1999, uma Marcha a Brasília, com cerca de 100 mil pessoas. O governo, no entanto, resistiu. E a partir do final de 1999, o PT, reunido em Congresso, decidiu afastar-se da liderança da campanha do “Fora FHC”, que aos poucos se extinguiu. Houve uma relativa estabilidade monetária internacional entre o segundo trimestre de 1999 e o terceiro trimestre de 2000. Foram feitas algumas grandes privatizações pelos governos estaduais: a do Banespa, o banco oficial do governo de São Paulo, vendido ao Santander; a do Banestado, do governo do Estado do Paraná, vendido ao Itaú; a da Eletropaulo, distribuidora de energia elétrica de São Paulo, vendida à americana AES. A partir do final do ano 2000, no entanto, as crises na periferia do império americano, que vinham desde 1995 e que pareciam problemas internos das economias emergentes, se revelaram parte de algo maior, muito mais perturbador e perigoso: o fim de um ciclo de expansão do sistema capitalista, centrado na economia dos EUA. A economia americana, como toda economia capitalista, evolui por ciclos, com altos e baixos – períodos de expansão e de contração. Entre um ciclo e outro há recessões, períodos em que a produção anual cai em relação ao ano anterior. Isso é assim desde que o capitalismo surgiu. De 1920 para cá, por exemplo, a economia dos Estados Unidos teve 15 ciclos, mediados por recessões. O fato que entusiasmava os neoliberais mais radicais do governo de Fernando Henrique era, no entanto, ver que, desde o final de 1992, a economia americana vinha se expandindo sem parar. Entre o início de 1991, logo depois da Guerra do Golfo, e o final de 1999, a Bolsa de Nova Iorque teve o seu período histórico de maior crescimento. O valor total dos papéis negociados elevou-se de forma inédita: foi de 3 trilhões de dólares para 15 trilhões de dólares. Desde 1999, essa expansão estava paralisada e o índice da Bolsa parecia estagnado, em torno de 11.000 pontos. No último trimestre do ano 2000, esse índice desabou. Na crise, começou a cair drasticamente o movimento de capitais para o Brasil. O dólar, que entre 1999 e 2000 esteve estacionado na casa de 2 reais, começou a subir. No plano político, os neoliberais terminaram 2000 derrotados por um amplo crescimento do PT nas eleições municipais. Alguns analistas compararam esse feito com a vitória oposicionista no Senado em 1974, quando, logo após o “milagre econômico” dos anos 1968-73, começou a ser abalada a ditadura militar. Assim como em 1974 o povo escolheu o MDB, o partido do movimento democrático brasileiro, como canal para extravasar seu descontentamento, em 2000, nas eleições municipais das grandes cidades, onde o pleito se dá em dois turnos, o povo escolheu o PT para derrotar os candidatos da frente governista. O PT saiu das eleições municipais com as prefeituras de São Paulo, Porto Alegre, Recife, Goiânia e Belém, além de dezenas de outras, e em condições de ser a viga-mestra da articulação oposicionista para eleger um presidente da República em 2002. No começo de 2001, o governo sofreria outro golpe político institucional ao tentar rearticular-se para as eleições de 2002. Antônio Carlos Magalhães, talvez o mais destacado líder do PFL, que ajudara Fernando Henrique desde sua primeira eleição em 1994 e se tornara uma espécie de co-piloto do governo, abandonou o barco, disparando contra o presidente e seus principais assessores. ACM era presidente do Senado e viu seu tapete puxado quando o PSDB formou uma aliança com o PMDB, visando às eleições de 2002. No período 2001-2002, um dos caciques peemedebistas, Jader Barbalho, do Pará, assumiria a presidência do Senado e o peessedebista Aécio Neves a presidência da Câmara, deixando o PFL de fora do comando do Congresso. ACM não caiu sozinho. Renunciou para não ser cassado – manobrou para conhecer a votação nominal de senadores na sessão secreta de cassação do senador Luiz Estevão –, mas disparou contra Jader uma bateria de denúncias de corrupção que acabaram acuando o peemedebista, que também se viu obrigado a renunciar para não ser cassado. No final de 2001, o campo governista era uma espécie de terra arrasada, dividido em facções, sem um candidato a presidente forte, capaz de reuni-las. Para agravar as coisas, a Argentina, onde as teses neoliberais tinham atingido o paroxismo com o estabelecimento na Constituição do país da paridade entre o dólar e o peso, começou a desmoronar. Para agravar a situação, num setor essencial, o de energia elétrica, as mudanças introduzidas com as privatizações produziram um desastre nacional: o primeiro racionamento nacional da história moderna da energia elétrica no Brasil. A privatização do setor visava, na opinião de seus defensores, criar um ambiente de competição entre os preços de compra e venda de eletricidade, liberando-os e estabelecendo um mercado, em que a lei da oferta e da procura se encarregaria de fixar as tarifas a serem praticadas. Os investimentos para expandir o setor, diziam, viriam como conseqüência natural do novo modelo. Porém, o resultado foi exatamente o contrário: os investimentos externos não chegaram, a expansão do sistema não foi feita e o país teve de racionar energia a partir do segundo semestre de 2001. Com as sucessivas crises econômicas e sem apoio popular o modelo não poderia sobreviver sem a co-gestão do FMI para dar credibilidade ao governo junto aos credores. Em 3 de agosto de 2001, o Ministério da Fazenda anunciava novo acordo com o Fundo. O FMI subiu à cabine de comando da economia brasileira, onde ainda permanece. O compromisso, em troca de um empréstimo de 15 bilhões de dólares, era com superávits maiores: de 3,35% do PIB em 2001 e 3,5% em 2002. Em 2001, a dívida pública estava em 51% do PIB. Mesmo isso não bastou. Um terceiro acordo foi feito no dia 4 de setembro de 2002, nas vésperas da eleição de Lula: um empréstimo de 30 bilhões de dólares, com o compromisso de um superávit primário de 3,88% do PIB em 2002 e de 3,75% do PIB em 2003, 2004 e 2005. Uma guerra social que mata a juventude pobre do país O crescimento da violência é um forte indício da degradação social. O preço mais caro pela desestruturação social tem sido pago pela juventude pobre das periferias dos grandes centros urbanos. Antônio Nascimento trabalha há 10 meses como porteiro no posto de uma central sindical no bairro operário de Santo Amaro, zona sul da capital paulista. Há 8 anos não consegue trabalho para exercer seu ofício de fresador, função especializada na metalurgia que lhe rendeu empregos na Bosh, na empresa de autopeças UPT, na fábrica de bicicletas Caloi e na fábrica de armas Taurus. Na última década, a Taurus deixou a zona sul de São Paulo, a UPT faliu, as outras empresas demitiram. “Isso tudo graças ao sociólogo Fernando Henrique Cardoso, que fechou o país”, diz Antônio. “E você viu ele lá fora outro dia, recebendo o 'prêmio nobel da paz'? Que vergonha! Com aquela comitiva dele! Com a família! Até a com Regina Duarte! Representar o país lá fora, ganhar prêmio? E a gente aqui?” O prêmio a que Antônio se refere não é o Nobel da Paz, mas o Mahbub ul Haq, recém-instituído pelas Nações Unidas para condecorar personalidades públicas que promovam a questão social na agenda política dos países. A premiação de FHC, em 9 de dezembro de 2002, em Nova York, seria merecida pelos supostos méritos dos programas sociais de seu governo. Antônio pode até se embaralhar sobre as condecorações recebidas pelo expresidente, mas ele sente o pulso da situação social do país. Recebe diariamente uma legião de desempregados na porta da central sindical, todos ansiosos por se cadastrarem nas listas da agência de emprego da entidade. Todos os dias aparecem mais de mil pessoas, mas Antônio tem apenas 600 senhas para distribuir a partir das 5 horas da manhã, quando já tem gente dormindo na fila. Mahbub ul Haq, o título do prêmio dado a FHC, é o nome do economista paquistanês que criou o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) empregado pela ONU para medir a qualidade de vida no mundo e que é calculado a partir de um cruzamento de dados de saúde (a esperança de vida ao nascer), de educação (uma combinação de taxas de matrícula e de alfabetização) e da renda per capita de um país. Mais de uma vez durante os seus mandatos, FHC argumentou que todo o esforço de privatização e busca da estabilidade tinha por objetivo liberar a máquina estatal para tratar melhor das questões sociais. A questão central, porém, é: melhorou, de fato, a situação social do país? Pela medição do IDH a resposta é, sim. De fato, o IDH brasileiro passou de 0,737 em 1995, para 0,757, no ano 2000. Mas essa melhoria, de 0,2, não é diferente, aliás é ligeiramente inferior, da que houve de 1985 para 1990, quando o índice foi de 0,692 para 0,713 – melhoria de 0,21 – e da que houve de 1990 para 1995, quando o índice passou de 0,713 para 0,737 – melhoria de 0,24. Ou seja: na área social FHC nada fez de diferente de José Sarney ou de Fernando Collor e Itamar Franco. A fórmula para o cálculo do IDH foi revista em 1999 para dar menos peso à renda per capita. A renda per capita, como se sabe, mascara as desigualdades sociais pois divide as riquezas produzidas no país pelo número de habitantes, como se todos as pessoas da nação ganhassem exatamente o mesmo quinhão ao final de um ano. A mudança no cálculo fez com que países mais pobres, mas com maiores cuidados com educação e saúde, como Cuba, evoluíssem para posições melhores no ranking do IDH. Do posto 85, o país de Fidel Castro foi alçado para o posto 58. Já o Brasil passou do posto 62 numa fila de 173 países, para o posto 79, 17 lugares para trás. É claro que o fato de ter havido uma mudança nos critérios de classificação não significa que o país piorou. Mesmo assim, o rearranjo metodológico foi alvo de críticas oficiais do governo brasileiro. O presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) na época, Roberto Martins, reagiu com grosseria: “Esse informe é indefensável do ponto de vista lógico. Há algo muito errado nele, pois não se entende como países miseráveis como a Índia, o Paquistão e o Lesoto tenham evoluído para o grupo médio enquanto o Brasil foi rebaixado. Não é sem razão que o inspirador dessas mudanças, o dr. Sen [Amartya Sen, prêmio Nobel de Economia] seja um indiano”. O fato é que, com fórmula velha ou fórmula nova, o IDH brasileiro continuou vários pontos abaixo do da Argentina – que está na 39ª posição, com IDH 0,827 – e mesmo da média da América Latina e do Caribe, que foi de 0,767 no ano 2000. Provavelmente os cinco jurados escolhidos pela ONU para selecionar o líder mundial ou chefe de nação que receberia o Mahbub ul Haq consideraram louváveis a chamada rede de proteção social que FHC freqüentemente destaca em seus pronunciamentos. Fernando Henrique refere-se a um conjunto de 11 programas sociais que teriam sido desenvolvidos nos seus oito anos de governo. Oito deles faziam parte da Rede de Proteção Social. O Bolsa-Escola, Bolsa-Alimentação, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), Agente Jovem e Auxílio-Gás são programas de transferência direta de renda por meio do chamado Cartão do Cidadão, que permite às famílias cadastradas sacarem o benefício diretamente nos bancos autorizados. 90% eram obrigação Os valores dos repasses para o Bolsa-Escola são de 15 reais mensais. Segundo relatório do governo, o programa atingiu 10,2 milhões de crianças de 6 a 15 anos, com freqüência escolar acima de 85%. O mesmo vai para os inscritos no Bolsa Alimentação – cedida a 1,6 milhão de gestantes, mães lactantes e crianças com risco nutricional de até 6 anos e 11 meses. O Auxílio-Gás paga 15 reais a cada 2 meses para a família selecionada – a previsão era atender 9,3 milhões famílias em 2002. As crianças entre 7 e 14 anos beneficiadas pelo Peti – 810 mil contabilizados – recebem mensalmente 25 reais se deixarem o trabalho no campo e 40 reais se pararem de trabalhar na cidade. O Programa Agente Jovem paga 65 reais por mês a jovens entre 15 e 17 anos (100 mil registrados) que prestam serviços à comunidade. Ainda na Rede de Proteção Social estão três programas, que pagam um salário mínimo mensal, com recursos da Seguridade Social. O Benefício de Prestação Continuada é destinado a deficientes físicos e idosos com mais de 67 anos que pertençam a famílias cuja renda per capita mensal seja menor do que ¼ do salário mínimo – 1,5 milhão beneficiados. A Renda Mensal Vitalícia é para idosos acima de 70 anos e inválidos – 724 mil contemplados. E a Aposentadoria Rural destina-se a trabalhadores e trabalhadoras rurais com mais de 60 e 55 anos, respectivamente – 6,4 milhões atendidos. Os dois últimos são pagos pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). O governo considera também benefício social programas para os desempregados que dependam dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), que tem a maior parte de sua receita originada no recolhimento do PIS-PASEP. O Abono Salarial garante um salário mínimo anual a trabalhadores que têm média salarial anual de até 2 salários mínimos – 5,2 milhões de beneficiados. O Bolsa-Qualificação é pago a trabalhadores que têm contrato de trabalho suspenso temporariamente – 10,4 mil beneficiados. E o Seguro-Desemprego é entregue àqueles que tenham trabalhado formalmente 6 meses seguidos – foram 4,4 milhões beneficiados. É bom lembrar que para gozar os benefícios dos três programas sociais o cidadão precisa ter tido emprego formal, com registro na carteira, condição de apenas 47% dos trabalhadores do país. Grande foi a publicidade governamental sobre o crescimento dos recursos destinados aos programas sociais. Entretanto, é preciso destacar que 90,3% dos recursos dedicados ao “social” são vinculados a direitos assegurados pela Constituição de 1988, como a aposentadoria rural, por exemplo. Ao contrário do que afirma o governo passado, não resultam da vontade de FHC, que ainda os restringiu. O crescimento de recursos foi de cerca de 20% nos 8 anos do Plano Real. No mesmo período, a receita do governo federal subiu 31% e a participação dos gastos sociais nas despesas correntes caiu de 60% para 55%, de 1995 a 2001. Um estudo do Ipea, com base na Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios (Pnad) de 2001, aponta a existência de 24,73 milhões de brasileiros vivendo na miséria, ao final de 2001, com renda inferior a 55 reais por mês – menos de 2 reais por dia, quantia considerada insuficiente para suprir as necessidades de alimentação. A proporção de miseráveis teria subido de 14,51% em 2000 para 14,60% em 2001. Esses miseráveis fazem parte dos 54 milhões de pessoas consideradas pobres, integrantes de famílias que têm renda mensal média per capita menor do que ½ salário mínimo. Isso corresponde a 32,1% da população. Esses números surgem de um relatório feito pelo IBGE para o Fundo das Nações Unidas para a População, também com dados da Pnad. Pela soma do número de beneficiados listados, tirando o Vale-Gás, que paga a média de 7,5 reais por mês às famílias e é bem recente, os programas alardeados por FHC teriam atingido 30.954.400 de pessoas. O que se vê, portanto, é que, em oito anos de ação social condecorada, o governo federal conseguiu atender, muitas vezes com a modesta quantia de 15 reais mensais, apenas 57,2% da população carente. Entre os indicadores sociais do governo Fernando Henrique deveria ser inserido o que mostra a situação do desemprego no país. De um total de 108 nações selecionadas, o Brasil foi da 10ª pior posição em 1985 para a sexta pior em 1995 e para a segunda, em 2000, com 11, 4 milhões de desempregados. O desemprego na região metropolitana de Belo Horizonte em 1996 (quando o Dieese começou a coletar dados sobre o assunto na cidade) era de 12,7% da PEA (População Economicamente Ativa). Em 2001, esse índice saltou para 18,3% – ver texto nas páginas de 40 a 43. Além da destruição do emprego no país, o trabalhador que ainda encontra ocupação sofre, agora, com o que tem sido considerado seu pior momento desde a implantação do Plano Real. Segundo o Ipea, o rendimento médio do trabalhador brasileiro vai chegar ao fim de 2002 com perda estimada de 0,74% durante os oito anos do Real. Os ganhos obtidos nos anos 93 a 95, quando o país saiu da grande recessão de 90 a 92, foram sendo progressivamente corroídos. No final de 1994, o salário médio do trabalhador no Brasil era de 664,93 reais e, no fim de 2002, terá chegado a 660 reais, em valores de janeiro de 2000. Pela fila de desempregados atendidos por Antônio na porta da central sindical em Santo Amaro, São Paulo, um salário de 660 reais é um sonho. Os salários e vagas publicados nos classificados do jornal distribuído pelo sindicato não são nada animadores. A melhor renda oferecida era de 2 mil reais, para diplomados em medicina que se candidatassem à vaga de médico do trabalho. Os outros salários eram de 300 reais para uma costureira de máquina reta; 200 reais, a um borracheiro; 350 reais para balconista de papelaria; 467 reais para manobrista; 730 reais destinados a mecânico de refrigeração; 282 reais a um auxiliar de limpeza; 400 reais para um açougueiro; 640 reais para vigilante. Dasilton, um dos operários atendidos, diz que uma vaga de vigilante seria bem vinda. Dasilton é chefe de família e sua filha é beneficiada com os 15 reais mensais do programa Bolsa-Escola. Mas o que segura as despesas de casa, incluindo o aluguel de 200 reais, é a pensão de 400 reais que sua mulher recebe por estar sofrendo de tendinite devido a seu trabalho de frentista em posto de gasolina. Dasilton sabe que pode ser preterido pelos candidatos que fizeram algum curso para a função. Ele não pode fazer um curso assim. “Os cursos de 15 dias custam 300 reais, mais a condução, um lanche... Ali você aprende a usar uma arma, defesa pessoal, mas para quem está desempregado, como vai arrumar quase 500 reais? E o curso não garante que você vai ganhar a vaga”. Desemprego Desemprego e baixo rendimento salarial sem dúvida marcaram a última década, sobretudo no interior do país e nas periferias das grandes cidades. A cidade de São Paulo, responsável por 15% do PIB nacional, sentiu o baque da abertura da economia, das políticas de incentivo fiscal e da estagnação no ritmo de crescimento. A taxa de desemprego na cidade passou de 8,9% em 1989 para 17,6% em 2001. O número de domicílios pobres paulistanos subiu 19,6%. Uma visita à chamada “Zona Sul 2” de São Paulo ajuda a entender a questão social no país. A região abriga bairros sempre pontilhados de favelas, mas considerados de classe média e remediados. E reúne também distritos como Parelheiros, Jardim Ângela, Capão Redondo, Grajaú, Jardim São Luís e outros onde o aumento do número de domicílios pobres entre 1991 e 2000 foi maior do que o aumento médio na cidade. No Jardim Ângela, por exemplo, o número de domicílios pobres cresceu 103% – de 9.940, em 1991, para 20.173, em 2000 – e o aumento populacional no período foi de apenas 36,7%. Em Parelheiros, o aumento do número de lares pobres foi de 167,7% (de 3.418 para 9.148) e o crescimento da população de 84,4%. Capão Redondo teve 42,1% de aumento no número de lares pobres e o Jardim São Luís, 51,5%, com crescimento populacional no mesmo período, entre 1991 e 2000, de 25,3% e 16%, respectivamente. A Associação dos Moradores do Jardim Comercial (AMJC), no Capão Redondo, representa a tábua de salvação para muitas famílias do bairro. A Associação concentra ações sociais e a distribuição de benefícios dos governos estadual e municipal. Do governo federal, a diretoria da Associação conseguiu apenas uma bolsa do Peti. Em conjunto com a prefeitura, a Associação abriga o Espaço Gente Jovem, que oferece recreação e alimentação para cerca de 250 crianças, de 6 a 15 anos. A creche, também em convênio com a prefeitura, atende 60 crianças. Cerca de 80% dos meninos e meninas matriculadas dependem completamente das refeições na creche. A Associação faz também a distribuição do programa Leve Leite da prefeitura (2 litros de leite, distribuídos duas vezes por semana, para 300 famílias) e da cesta básica, do governo estadual – 100 famílias. A AMJC cadastrou a população que pleiteava receber os benefícios sociais. É claro que a demanda foi bem maior do que a oferta e muita gente ficou de fora. Guerra Social A família de José Joaquim da Silva é uma das que dependem da ajuda governamental. O motivo principal da penúria é o desemprego. Falta emprego para José e para sua mulher, Ana. Há mais de 12 anos, ele não tem a carteira de trabalho assinada. Antes teve registro de empregos na construção civil e em restaurantes. José Joaquim chegou no Jardim Comercial em 1987, quando a favela onde mora estava sendo formada, sobre um terreno que minava água. O povo foi fazendo aterros, levantando os barracos e hoje a casa de alvenaria de poucos cômodos abriga ele, a mulher e 4 filhos de 5 a 14 anos. A família é beneficiada com cerca de 200 reais do programa Renda Mínima da prefeitura municipal, que exige a freqüência das crianças na escola. Dona Ana também recebe o Leve Leite – a filha Jaiane ainda tem 5 anos. Devido à grande demanda, as famílias podem perder a ajuda quando houver uma nova avaliação dos programas ou quando as crianças ultrapassarem a idade limite. “Quando acabar, acabou”, diz José Joaquim, que sabe que a única saída é encontrar trabalho, pelo menos uns bicos com mais assiduidade. “Trabalho em construção por aí durante um mês, ganho uns 300 reais, mas depois fico dois parados. Pego a bicicleta e vou até Santo Amaro, Pinheiros, buscando serviço. No caminho fico fazendo muito parafuso que não cabe em nenhuma porca: você sabe, muito pensamento para nenhuma solução”. O cemitério municipal São Luís, que atende toda a periferia sul da cidade, representa uma cicatriz da violência na região. Grande parte das vítimas de homicídios, que marcaram os bairros do entorno na última década, jaz naquele local. Não há números exatos, estatísticas precisas, mas estimativas de funcionários indicam que o serviço funerário público já chegou a realizar de 40 a 50 sepultamentos por dia – mais da metade, vítimas de mortes violentas. Há também relatos de histórias impressionantes acontecidas dentro dos muros do cemitério, como a invasão de um velório por um bando para confirmar o destino do rival morto. Para não haver dúvidas, um revólver foi descarregado sobre o caixão. Entre a população dos bairros próximos corre a história de que bandidos pedem às famílias para não serem enterrados ali, caso venha a fatalidade. Dizem que mesmo depois de morto, o cidadão não tem descanso naquele cemitério, vulnerável à ação de bandidos e vândalos. O estigma do cemitério já chegou às “pessoas de bem”. No portão de entrada do cemitério, Evelyn se empenha para vender túmulos aos visitantes. Os jazigos à venda, por meio de plano funerário com prestações comparáveis às de um plano de saúde simples, são de um cemitério particular não muito longe dali. Segundo a vendedora, as famílias de mortos enterrados no São Luís não têm sossego. “Quando chove tem até risco dos ossos serem levados pela enxurrada. Além disso, sempre pode entrar alguém e fazer mais uma maldade ao morto”, diz. Seu próprio pai esteve enterrado ali, também vítima de “morte matada”, em 1995. “Foi morto quando chegava em casa em uma noite de carnaval”. Evelyn, evangélica, dá graças a Deus que sua família conseguiu comprar um jazigo e removeu os restos do pai e de sua avó para o cemitério particular. Hoje, afirmam os administradores do São Luís, o local está mais bem cuidado e o número de enterros caiu muito, variando de 10 a 15 por dia. Mesmo assim, a metade continua sendo de enterros de vítimas por morte violenta. Muitos moradores preferem creditar a diminuição dos enterros à diminuição da violência na região. A população faz questão de dizer que há muita imprecisão no noticiário que insiste em apontar os distritos de Jardim Ângela, Jardim São Luís, Capão Redondo, Parelheiros como os mais violentos da cidade. No caso do Capão Redondo e em outros 4 distritos da “Zona Sul 2” realmente os números de mortes violentas variou para baixo, se comparado 1991 com 2000. No Capão foram de 180 mortes a 173. No distrito de Campo Limpo, o número coincidiu em 116 nos dois anos. No entanto, em outros 8 distritos da região houve a alta nesse índice e a soma total das estatísticas de mortes violentas no total de 14 distritos resulta em 1.469 mortes em 1991 e 1.781 em 2000. Ausência de Estado Nesse período, São Paulo passou de 6.209 mortes violentas para 7.147. A taxa de homicídios geral no país subiu de 21 mortes para 100 mil habitantes em 1990 para 27 mortes por 100 mil habitantes em 2000. Em Minas Gerais, a explosão da violência foi ainda mais significativa. Entre 1991 e 2000, a quantidade de homicídios aumentou 76%, passando de 1.227 para 2.165 assassinatos por ano. Do total de crimes violentos ocorridos no Estado em 1991, a região metropolitana de Belo Horizonte respondia por 44%. Em 2000, a capital passou a sediar 61% dos homicídios mineiros. No mesmo período houve sobretudo o aumento da vitimização de jovens e adolescentes. No Brasil, no ano 2000, foram assassinados 17.662 jovens entre 15 a 25 anos. A mortalidade média nacional para os jovens nessa faixa de idade foi de 52 por 100 mil. A média da cidade de São Paulo, foi de 139 mortes por 100 mil jovens. Mas como as mortes não atingem de modo igual as diversas camadas sociais, na Vila Mariana, bairro de classe média da capital paulista, a média foi de 22 para 100 mil jovens; em Capão Redondo, foi de 298; e na cidade Dutra, outro bairro pobre da capital paulista, foi de 441 – taxa quatro vezes a média paulistana, quase dez vezes a média nacional e 20 vezes maior que a taxa da Vila Mariana. Em todo o país a mortalidade entre os jovens disparou de 35 mil para 52 mil entre 1990 e 2000, um aumento de quase 50%, que levou o Brasil a subir para a condição de terceiro pior país do mundo nesse aspecto – acima do Brasil estão apenas a Colômbia e Porto Rico. A ausência do Estado na periferia, pode-se dizer, é uma das causas centrais da violência. A falta de acesso à saúde, ao lazer, à cultura e ao trabalho faz aumentar a violência, particularmente entre os adolescentes, que atravessam o período da vida de maior turbulência e são mais propensos a se envolver com a vida breve, mas com algum dinheiro, oferecida pelo narcotráfico. Levantamento feito pelo Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública (Crisp), órgão da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), indica que quase 25% dos crimes violentos ocorridos em vilas e favelas estão ligados ao tráfico de drogas e seus conseqüentes “acertos de contas”. Nas seis favelas mais violentas de Belo Horizonte, as taxas de homicídios chegam a ser sete vezes maior que em um bairro de classe média. No Morro das Pedras, por exemplo, entre março e julho de 2002, ocorreram 99,72 homicídios por 100 mil habitantes. Na cidade, exlcuindo-se os crimes das seis regiões dominadas pelo narcotráfico, o índice foi de 12,08 no mesmo período. O governo FHC, é claro, não criou esse problema. Entre 1980 e 1990 esses índices também cresceram. Mas em ritmo menos acelerado: a mortalidade por homicídio entre os jovens no período, por exemplo, foi de 30 para 35 para cada grupo de 100 mil. Mas a responsabilidade dos dois governos FHC fica evidente diante de um estudo feito pela Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade da Prefeitura de São Paulo, que demonstra que a violência acompanhou de perto o aumento da pobreza. A variação média anual no número de mortes violentas na cidade foi de 2,4%, entre 1994 e 2000, enquanto a variação média anual na quantidade de chefes de domicílios pobres esteve em 2% entre 1991 e 2000. Há sete anos, uma procissão no dia de finados reúne milhares de pessoas de toda zonal sul de São Paulo que convergem em caminhada até o Cemitério São Luís. A Caminhada da Paz, organizada pelo Fórum de Defesa da Vida, formado por vários movimentos sociais da zona sul, foi um jeito que a população encontrou para expressar sua dor e indignação com os altos índices de violência e, porque não, com os altos índices de exclusão social. É justo que as comunidades queiram se livrar do estigma da violência e, sobretudo, da violência decorrente da exclusão. Os distritos da região sul concentram mais de 400 entidades de moradores organizados num sinal inequívoco da vontade das comunidades. No entanto, como afirma Vera Neves, do Centro de Direitos Humanos e Educação Popular de Campo Limpo – que tem entre suas atividades a missão de formar e orientar lideranças comunitárias –, por mais que a população se organize, por mais que os governos dêem programas sociais como esmolas aos pobres, o ritmo acelerado com que a exclusão vem englobando as famílias já empobrecidas é o que vai determinar o agravamento da verdadeira guerra social que dizima a juventude pobre de extensas áreas urbanas do país. E se Fernando Henrique não é o responsável pelo surgimento desse problema, foi nos seus dois governos que se viu o agravamento dessa guerra social, que dizima a juventude pobre, sem que nenhuma grande iniciativa fosse feita para combatê-la. Não se trata de um problema de fácil solução. A consolidação da pobreza, da violência e da desesperança dos jovens em extensas áreas pobres dos maiores centros urbanos é, com certeza, uma das maiores dificuldades para um novo governo que queira efetivamente mudar o país. Democracia plena, para o grande capital FHC foi responsável por 34 alterações na Constituição e assinou 5.300 Medidas Provisórias. O paralelo com os decretos-lei dos militares é inevitável. O chanceler alemão Otto von Bismarck disse que os cidadãos não poderiam dormir tranqüilos se soubessem como são feitas as salsichas e as leis. No Brasil, a afirmação procede, pois grande parte da legislação tem sido elaborada por um método prussiano, por meio de Medidas Provisórias – semelhantes aos decretos-lei dos militares, que têm valor legal a partir da data de sua edição e, até setembro de 2001, podiam ser reeditadas quantas vezes fossem necessárias para atender à vontade do presidente da República. Quando foram delineadas na Constituinte de 1988, as Medidas Provisórias eram vistas como instrumentos excepcionalíssimos, a serem usados em situações de extrema gravidade. A Constituição colocou como requisitos à sua edição a urgência e a relevância da matéria. A banalização dessas Medidas tirou qualquer significado a esses requisitos. “Urgente” e “relevante” passou a ser o que o chefe do Executivo quisesse. Para completar, o Supremo Tribunal Federal endossou essa interpretação. O abuso na edição de MPs foi tal que, em fins de 2001, as regras foram mudadas para coibir sua proliferação. Desde sua criação, em 1988, até 11 de setembro de 2001, data da promulgação da Emenda Constitucional (EC) nº 32, que alterou as regras de emissão, foram editadas 700 MPs originais e feitas 5.572 reedições. Algumas MPs foram revalidadas mais de 70 vezes, como é o caso da MP 2.074-73, que complementa dispositivos do Plano Real. Como praticamente toda reedição mudava a anterior, deve-se contabilizar para cada presidente suas edições e reedições. Comparando as médias mensais de MPs e suas reedições, FHC é, de longe, o campeão no seu uso e abuso: José Sarney editou 6,13 por mês; Fernando Collor, 5,22; Itamar Franco, 18,8; Fernando Henrique, no primeiro mandato, 38,74 e, no segundo, 81,51 medidas por mês. Edições sucessivas Até a EC-32, o presidente da República podia editar MPs para legislar sobre qualquer assunto. Se não fossem votadas no prazo de 30 dias, poderiam ser reeditadas indefinidamente, com as mudanças que o presidente quisesse, configurando, assim, um sistema legiferante completamente extravagante e praticamente à margem do Congresso Nacional. Um exemplo disso é a MP 1.669, de 19 de junho de 1998. Ela foi editada com a seguinte ementa: “altera a Lei 9.649, de maio de 1998, que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, e dá outras providências”. A MP foi reeditada sucessivamente, com um novo número a cada 30 dias. A alteração na sistemática das MPs fez com que passassem a ser reeditadas com o mesmo número, seguidas de dígitos informando a quantidade de reedições. Nessa nova sistemática, a MP 1.669 mudou para o número 2.225 e foi reeditada 45 vezes (2.225-45) antes de ser convertida em lei. A regra deveria ser a reedição nos mesmos termos do texto original, apenas com as alterações necessárias ao decurso de tempo. No entanto, não foi isso que aconteceu. Nessas sucessivas reedições, a medida foi profundamente alterada. No original, a MP 1.669 criava órgãos de prevenção e repressão ao narcotráfico e ao tráfico de outras substâncias ilícitas e organizava o Sistema Nacional Antidrogas. Numa de suas reedições foi incluída, de contrabando, matéria sobre os servidores públicos em geral. A MP 1.669 continha sete artigos, na sua última reedição, como MP 2.225-45, trazia 15, mais do que o dobro. Em suas sucessivas reedições, além do Sistema Antidrogas, regulou também a reversão de servidores aposentados à atividade, débitos, reposições e indenizações de servidores ao erário, licenças para trato de interesse particular, vantagens pessoais, normas processuais relativas à ação de improbidade administrativa nos tribunais, quarentena de ministros e de servidores de Direção e Assessoramento Superior (DAS), reajuste de vencimentos de servidores e outros. É sintomático que a maioria dessas normas restringiam direitos tradicionais dos servidores públicos. Na última reedição, por exemplo, a MP revogou o art. 26 da lei 8.112/90, extinguindo o adicional por tempo de serviço, devido à razão de 1% por ano de exercício do serviço público e incorporado a cada cinco anos à remuneração dos servidores. Essa alteração não poderia sequer ser feita por MP, uma vez que o art. 246 da Constituição Federal veda a regulamentação por meio de medida provisória de matéria que tenha sido alterada por Emenda Constitucional. Foi o caso dos arts. 37 e 39 da Constituição, alterados pela EC-19. Os dois artigos dispõem sobre o sistema remuneratório dos servidores públicos, do qual é parte o adicional de tempo de serviço. Portanto, na época em que foi reeditada, posterior à EC-19, a MP não poderia sequer tratar desse adicional. Outro efeito daninho das medidas provisórias foi o caos jurídico. A cada mês, a reedição trazia novidades em relação à sua versão anterior. Como no caso citado, algumas alterações implicavam no acréscimo de assuntos que não guardavam a menor relação com o texto original. Isso aconteceu também com a esdrúxula MP 2.077, de 2001, que reeditava matéria sobre auxílio-transporte e, de quebra, alterou a data de pagamento dos servidores para o primeiro dia do mês seguinte – a intenção foi repassar a folha de dezembro para o outro exercício financeiro e garantir um superávit primário nominal. Foi por MP, também, que o governo FHC tentou, por duas vezes, implantar a inconstitucional e vergonhosa cobrança previdenciária incidente sobre os proventos dos aposentados, matéria que foi derrotada judicialmente e, excepcionalmente, também no Congresso. As medidas provisórias impuseram ao Congresso Nacional a pauta do Executivo. Tornou-se comum o atropelo da tramitação de projetos de lei, pela superveniência de medida provisória sobre o mesmo tema. O governo tornou-se o grande legislador, usurpando as funções do parlamento. Para os operadores do direito, juízes, membros do Ministério Público e advogados, tornava-se cada vez mais difícil acompanhar a verborragia legislativa do Executivo. Era praticamente impossível dizer que normas estavam em vigor, quais novos institutos jurídicos tinham passado a valer e quais diplomas legais tinham sido revogados. Para a população, isso significava a falta de segurança das relações jurídicas, que é um dos valores fundamentais do direito. O mundo jurídico brasileiro da era FHC tornou-se um caos e o paraíso das grandes bancas de advocacia, especialmente em matéria tributária. Os novos limites definidos para as MPs não são suficientes para constituir a “democracia plena” que Fernando Henrique diz ter deixado. Entulhando o STF O governo FHC foi também o autor de um dilúvio de decretos regulamentadores, de portarias, editais e normas da Presidência, ministérios e do Banco Central. Foi também o governo responsável por inundar o Supremo Tribunal Federal e outros tribunais superiores com uma enxurrada de processos, muitas vezes meramente protelatórios. No Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos anos 92-94, foram recebidos cerca de 35 mil processos. Somente no primeiro ano de FHC já chegavam a quase 70 mil, disparando para 185 mil em 2001. O Supremo Tribunal Federal, no mesmo período, 1992 a 1994, recebeu, em média, 25 mil processos por ano. No governo FHC, depois de um crescimento progressivo, ano após ano, o STF registrou mais de 110 mil processos em 2001. O Supremo deixou de atualizar os números que detalhavam a origem desses processos. Mas, pelas informações disponíveis até 1996, sabe-se que mais de 50% desses são procedentes do governo federal. Em boa parte, foram ações do poder Executivo de caráter meramente protelatório: sempre que vencido em uma ação judicial, mesmo que a jurisprudência contrária às suas pretensões fosse avassaladora, mesmo quando a apelação era contraproducente do ponto de vista financeiro por implicar em encargos cada vez maiores, o governo recorria. Isso também se insere na lógica de assegurar superávits primários a curto prazo e ao viés, sempre presente na ação de FHC, de não reconhecer ou retardar ao máximo o reconhecimento de direitos sociais. Tudo foi objeto de MP Não há ramo do direito brasileiro que não tenha sofrido com a fúria legiferante de FHC, que dispôs, com força de lei, sobre tudo, desde a liquidação extrajudicial de instituições financeiras até a meia-entrada para estudantes. É verdade que isso foi facilitado pela docilidade com que o Congresso aceitou desempenhar um papel secundário e, em alguns momentos, até subserviente, amoldando-se a uma função meramente homologatória, em decorrência da folgada maioria governista entre os parlamentares. Essa subserviência ficou muito nítida no episódio da votação da proposta de instituir a reeleição, cuja vitória continua associada a denúncias de que o governo teria instalado um verdadeiro “balcão de negócios”, em que teriam sido trocados votos de parlamentares por vantagens e até por dinheiro em espécie. De acordo com gravações obtidas pela Folha de S. Paulo, a votação da Emenda Constitucional que permitiu a reeleição de FHC, datada de 28 de janeiro de 1996, foi precedida por uma grande operação de aliciamento de deputados por parte dos governistas no Congresso. Segundo as gravações, feitas com os deputados João Maia e Ronivon Santiago, ambos do PFL do Acre, foi montado um esquema que envolvia o deputado Pauderney Avelino, na época da votação filiado ao PPB do Amazonas e, depois, ao PFL, o ministro das Comunicações Sérgio Motta, do PSDB, o presidente da Câmara dos Deputados, Luís Eduardo Magalhães, do PFL, e os governadores do Amazonas, Amazonino Mendes, e o do Acre, Orleir Cameli. “Esse dinheiro é do Amazonino. Promessa do Pauderney aqui. No nosso corredor aqui, falou em 200 paus, via Serjão,” disse Maia na gravação. Os deputados dizem nas fitas que a barganha pelo voto previa o recebimento de 200 mil reais do governo federal e de outros 200 mil reais do governo do Acre. “Pelo que eu sei bem é o seguinte: eram os 200 [mil reais] do Serjão, via Amazonino, que era a cota federal, aí do acordo ...”, diz Maia. Ronivon Santiago diz que os 200 mil reais pagos pelo voto a favor da emenda da reeleição foram distribuídos amplamente. Afirma que o dinheiro vinha do “outro lado”, sugerindo que seria do ministro das Comunicações, Sérgio Motta. “Todo mundo pegou na faixa de 200, 300... Todo mundo pegou... Teve gente que negociou pagamento de banco, negociou todo deputado aí... Todo mundo”, diz Ronivon. O deputado acreano concluiu com um frase emblemática, porque parece fazer uma crítica ao esquema do qual participou e foi beneficiário: “É uma barbárie isso aí”. Blindagem O governo FHC impediu a apuração dessa e de todas as denúncias semelhantes, que davam conta de que o avassalamento do Poder Legislativo teria sido conseguido com a prática generalizada de tráfico de influência e propinas, amesquinhando e deturpando a vida política no país. Assim, a maioria governista no Congresso, atendendo aos interesses de FHC, impediu a instalação da CPI da Reeleição e da CPI da Corrupção, usando todas as manobras possíveis para inviabilizá-las, apesar dos fortes indícios de ilicitudes veiculados pela imprensa. Fernando Henrique foi ainda o presidente que praticamente desmontou a Carta Magna feita pela Assembléia Constituinte que redemocratizou o país, em 1988. Hoje, a Constituição é uma colcha de retalhos, com 38 Emendas, 34 de FHC. Foram alterados 77 artigos constitucionais (alguns, alterados mais de uma vez), acrescidos 16 novos e revogados outros dois. Cerca de um terço do texto original foi, portanto, alterado, fruto da revisão neoliberal. Ou seja: a Constituição foi esquartejada e praticamente reescrita à imagem e semelhança de FHC e seu governo. Para eles, os interesses de mercado sempre estiveram em primeiro lugar. É isso que significa a chamada “blindagem institucional” que retirou poder de “políticos” para entregar a “técnicos”, com ligações estreitas com mercado. Para isso foram criadas as agências de fiscalização (Anatel, Aneel, ANA etc) e se programou a autonomia do Banco Central, como se a independência que já goza hoje não fosse suficiente. O significado, em todos esses casos, é sempre subtrair do Estado poder político e aumentar o do mercado. As alterações na Constituição visavam, obsessivamente, a suprimir direitos sociais ou a abrir caminho para a supressão desses direitos por leis infraconstitucionais (ou mesmo medidas provisórias), quando não tinham por objetivo enfraquecer a soberania nacional ou entregar nosso patrimônio. Quase sempre foi este o conteúdo daquelas emendas: anti-social, antinacional e privatizante. O sentido dessas alterações foi, em geral, o contrário do pretendido pelo constituinte originário. Não é sem razão que um dos nossos maiores juristas contemporâneos, Celso Antônio Bandeira de Mello, representando a consciência jurídica progressista, disse que a Constituição de 1988, “de um lado, sofreu um processo de desfiguração por via de emendas que lhe subtraíram características básicas, amputando aspectos fundamentais de seu projeto. De outro, foi sistematicamente afrontada no que tinha de mais elementar; isto é, em seu comprometimento com os valores democráticos substanciados na tripartição do exercício do poder. Ou seja: as normas que consagravam essa noção rudimentar, própria do Estado de Direito, sofreram e vêm sofrendo, diuturnamente, as mais desabridas e rotineiras afrontas”. E conclui: “sem embargo, o que realmente se está a assistir são seus discretos funerais” . O estilo concentrador e autoritário de FHC foi o responsável, também, por outra vítima: o pacto federativo. O governo federal concentrou, de forma maciça, a arrecadação tributária e os poderes de decisão em todos os assuntos relevantes, em detrimento dos estados e municípios, dando passos largos para um Estado, de fato, unitário, em que os as unidades federadas tornar-se-iam meras divisões administrativas da União. Estado mínimo para o povo e máximo para o grande capital O Estado brasileiro foi desestruturado e reduzido com as privatizações, o aumento do endividamento e a diminuição nos gastos sociais. Já as despesas com juros e serviços da dívida foram ampliadas. Os orçamentos são excelentes instrumentos para mostrar a natureza do Estado. Neles pode-se ver de onde vem e para onde vai o dinheiro; quem paga a conta e quem se beneficia dos recursos públicos; quais são as prioridades e quais são os interesses das forças que dominam a ação política. Como são elaboradas e como são controladas as contas de um Estado diz muito também sobre a natureza do processo democrático de um país. Antes, as contas estatais eram tarefa do monarca. Com as revoluções burguesas, com a derrota total ou parcial dos regimes monárquicos e o estabelecimento dos regimes republicanos ou das monarquias constitucionais, parlamentos eleitos passaram a votar as contas de governo, estabelecer os tributos e limitar as despesas. As revoluções socialistas do século 20 procuraram criar Estados de natureza diferente, que controlassem também o planejamento e os principais ramos da geração de riqueza de um país, com as empresas públicas. E com parlamentos diferentes – não de políticos profissionais, mas formados por trabalhadores comuns, convocados periodicamente para a tarefa de legislar e aprovar o orçamento. É o caso, ainda hoje, por exemplo, de Cuba ou da China. A Assembléia Nacional Popular da China, que se reúne no próximo mês de março, por exemplo, discute um orçamento público que inclui não apenas as despesas e receitas dos ministérios tradicionais como da Educação, Saúde e outros; mas também o controle de algumas dezenas de milhares de empresas estatais federais – a China tem, além dessas, mais algumas dezenas de milhares de empresas estatais estaduais e municipais. Nas economias dependentes do Terceiro Mundo, depois da grande crise capitalista dos anos 30, surgiram Estados burgueses com grande presença na economia, com um número expressivo de empresas estatais no setor produtivo. Carlos Sobral, coordenador do estudo do IBGE sobre as estatais brasileiras divulgado no final do ano passado, relembrou, na ocasião, que o país já teve cerca de 800 estatais, que eram responsáveis por mais ou menos 50% do investimento no país. O Orçamento Geral da União (OGU) compõe-se de três orçamentos e reflete, ainda hoje, essa característica de nosso Estado: um dos orçamentos é o dos investimentos das estatais. Os outros dois são o da Seguridade Social, em que estão as despesas da previdência, saúde e da assistência social; e o orçamento fiscal, que trata das demais despesas do Executivo (em que estão outros ministérios), do Legislativo e do Judiciário. Fernando Henrique, no seu propósito de destruir aspectos essenciais da chamada Era Vargas –, dos governos iniciados com a Revolução de 30 e que, a despeito de interrupções, determinaram a natureza do sistema econômico brasileiro até recentemente – empenhou-se, explicitamente, em acabar com as empresas estatais do setor produtivo. Mesmo assim, o país ainda tem 320 empresas estatais, nos três níveis da federação. O orçamento de investimentos das estatais federais brasileiras de 2003 é de cerca de 27 bilhões de reais, muito maior do que o investimento previsto nos orçamentos fiscal e da seguridade. Isso, porque nele ainda estão, por exemplo, duas gigantes da economia do país: a Petrobrás, a maior empresa brasileira, e a Eletrobrás, a holding que agrupa as grandes geradoras de eletricidade, que são ainda, em sua maioria, públicas. No auge da crise de energia brasileira, Fernando Henrique, a despeito de toda sua aversão às estatais, criou mais uma: a CBCE – Companhia Brasileira de Comercialização de Energia. Estado novo FHC prometeu fazer uma revolução no Estado brasileiro. Condenou, não só sua intervenção direta na produção, como também o seu papel de planejamento. A ação direta do Estado na economia e o dirigismo estatal, dizia ele, eram entraves ao desenvolvimento do Brasil. Os mercados seriam mais ágeis e por meio deles o país teria novas tecnologias, mais investimentos e menos corrupção. Melhor ainda, estaria livre das funções de produzir ou planejar a ação econômica, concentrado no que seriam seus serviços essenciais: educação, saúde, assistência social – o Estado seria mais eficiente e o povo estaria mais bem atendido. É essencial, portanto, fazer um balanço do que ele fez e que tipo de Estado, transformado, ele deixou. Cinco observações podem ser feitas: 1) A primeira já foi apresentada: FHC reduziu bastante a ação econômica do Estado. No seu governo, segundo o IBGE, entre 1995 e 2000, foram privatizadas 134 empresas – 52 financeiras e 82 não-financeiras. Em 1995, ao votar o orçamento de investimento das empresas estatais, o Congresso decidia sobre 10,7% do total de investimentos da economia brasileira. Em 2000, esse valor era mais ou menos a metade disso, 5,8%, segundo os dados de dezembro do IBGE (veja box na próxima página). 2) A segunda grande mudança pode-se ver pela parte financeira do orçamento, não a que trata dos impostos e contribuições e nem das despesas mais visíveis, como os gastos com pessoal, investimentos e custeio dos ministérios; mas a que trata da dívida do Estado, de sua amortização e do pagamento de seus juros. Essa parte agora é muito maior: o país paga e arrecada muito mais com a emissão de títulos públicos do que antes. Não porque a arrecadação de impostos e contribuições tenha sido pequena no governo FHC. Ao contrário: ele promoveu uma verdadeira derrama federal. Depois de deduzidas as transferências constitucionais, o governo central ficará com cerca de 20% do produto nacional nas previsões do orçamento de 2003. Em valores, um crescimento de cerca de 50% em relação a 1995. Mas essa sangria não foi suficiente para cobrir nem mesmo os juros da dívida, que, em termos absolutos e valores relativos, disparou no período FHC. 3) Na parte do orçamento que trata dos serviços públicos, Fernando Henrique deixa para Lula um orçamento desigual – bem maior do que o que encontrou em 1995 em algumas áreas, menor em outras e, no geral, com gastos bem inferiores àqueles que se esperaria em decorrência do grande aumento da arrecadação. A receita de impostos e contribuições, entre o realizado em 1995 e o estimado para 2003, irá aumentar 82%; mas as despesas com saúde, por exemplo, cujos gastos são protegidos constitucionalmente, crescerá apenas 70%, ficando em 28 bilhões de reais. As verbas para a educação crescerão menos da metade do incremento das receitas, em 39%, chegando a 14,6 bilhões de reais. As verbas para a defesa e segurança variaram menos ainda, 34%. As verbas para o trabalho, que inclui geração de emprego e renda, ao contrário, decresceram 4% em 2003, comparado a 1995. 4) Um outro item do orçamento que se deve destacar é o das despesas previdenciárias, que ficam no Orçamento da Seguridade Social e cresceram expressivamente no orçamento deixado para Lula. Para 2003, estão programados 131,8 bilhões de reais nessas despesas. O crescimento dos gastos com a previdência é freqüentemente atribuído por FHC à chamada rede de proteção social – que inclui diversos tipos de programas para as pessoas de baixa renda, ver matéria nas páginas de 12 a 17 – que seu governo teria criado e cujas verbas teriam aumentado muito. De fato, os gastos com a previdência são a grande fatia dessa rede e os principais responsáveis por seu efetivo crescimento entre 1995 e 2003. Mas não é verdade que FHC tenha criado, nem aumentado os gastos previdenciários. A sua parte mais expressiva é de obrigações estabelecidas na época do Regime Militar e na Constituição redemocratizadora de 1988, como o direito a um salário mínimo para os trabalhadores que se aposentam no campo, por exemplo. FHC, ao contrário, ao longo de seu governo, lutou muito para reduzir os gastos com a previdência, conseguindo, em duas reformas no Estado brasileiro, diminuir o valor das aposentadorias dos setores público e privado. Além disso, pretendeu deixar escrito na agenda do próximo governo a necessidade de mais uma reforma previdenciária. Recentemente, o diretor gerente do FMI esteve em visita ao Brasil e, em conversas com banqueiros em São Paulo, disse que a meta para o Brasil deve ser a de redução do chamado déficit previdenciário, que estaria em aproximadamente 5% do PIB, e que isso, para o novo governo, seria mais importante do que aumentar o superávit primário que será cobrado do governo Lula neste seu primeiro ano de mandato, 3,75% do PIB. 5) O quinto aspecto a destacar nas contas do Estado recriado por FHC não está no Orçamento, mas na chamada Conta Única do Tesouro Nacional. Em 1997, o Tesouro Nacional iniciou o ano com 17 bilhões de reais em caixa, um dinheiro que por força da Constituição fica depositado no Banco Central. Ao final de 2002, esse saldo ultrapassava a casa de 99 bilhões de reais, quase 6 vezes mais. Por que o governo insiste em cortar gastos na saúde, educação e segurança com tantos bilhões em caixa? Por que continua se endividando mais e mais e pagando juros ao mesmo tempo que mantém tanto dinheiro parado? Por que não salda pelo menos uma parcela da sua colossal dívida? Esse dinheiro, em parte, decorre de recursos de impostos e contribuições que não foram gastos. Outra parte significativa veio do lançamento de títulos da dívida em quantidades muito acima das necessidades do governo – mesmo se considerarmos os enormes gastos com rolagem e juros de dívida. Na verdade, o Banco Central utilizou esse excesso de endividamento (lançamentos extras) para retirar dinheiro de circulação, manter os juros muito altos, cortar o crédito e as atividades produtivas, congelando o país numa política recessiva. Fez isso pela necessidade de atrair dólares para o país, em função da dependência externa, que marcou a economia brasileira ao longo de todo seu governo. O custo dessa política, herança de FHC para Lula, é muito alto. FHC deixa para Lula uma montanha de juros e amortizações a pagar. O pagamento de juros registrado no orçamento crescerá 266%, de 25,5 bilhões de reais, em 1995, para 93,6 bilhões, para 2003. As amortizações da dívida externa subirão 609%, de 5 bilhões de reais para 35 bilhões de reais; e as da dívida interna vão de 155 bilhões de reais para 546 bilhões de reais, mais 252%. É preciso ressaltar que as despesas com a dívida serão ainda maiores, pois o orçamento para 2003 foi construído em meados de 2002, prevendo, em dezembro de 2002, dólar a 2,73 reais e juros de 18,3% ao ano. Longe, portanto, da realidade de um dólar a 3,5 reais e de juros a 25% ao ano. Estado máximo Lula também terá de produzir um grande superávit primário, o conceito chave nos acordos do Brasil com o FMI. Para entender esse conceito deve-se fazer uma conta. A arrecadação de impostos e contribuições, aproximadamente 350 bilhões de reais, é insuficiente para amortizar 500 bilhões de reais de dívida interna e pagar mais 100 bilhões de reais de juros – só daria para cerca de metade da dívida, sem contar as despesas do ano. Para pagar quase tudo o que deve, mostra o orçamento de 2003, o governo Lula emitirá títulos da dívida pública. O governo amortizará os 500 bilhões da dívida interna realizando o que se chama de rolagem da dívida: vai emitir novos títulos para pagar os que forem vencendo. E vai rolar também grande parte dos juros, com a emissão de títulos. Mas vai pagar uma parte da dívida, para impedir que a dívida cresça demais. Para isso é que existe o superávit primário, uma parte de impostos e contribuições que ficam reservados para as despesas financeiras. O governo FHC sempre defendeu e pôs em prática uma política de gerar superávits primários. Mas houve uma mudança essencial no seu segundo mandato. Entre 1995 e 1998, os superávits primários do governo ficaram em menos de 0,5% do PIB, quantias equivalentes a um quinto ou um sexto dos orçamentos da saúde. A partir de 1999, em função dos acordos com o FMI feitos por Fernando Henrique e legados ao governo Lula, os superávits passaram a ser de mais de 2,5% do PIB, e cada vez maiores, sempre maiores que o orçamento da saúde, por exemplo. No último semestre de 2002, o governo federal acertou com o FMI – e cumpriu – um superávit de 3,88% do PIB. Para 2003, Lula deve garantir um superávit de 33,7 bilhões de reais (o orçamento da saúde é de 28 bilhões de reais). A evolução da dívida pública é uma expressão viva do compromisso do Estado brasileiro, sob os mandatos de FHC, com os interesses do grande capital. FHC sempre afirmou que a dívida cresce porque o Estado gasta muito mais do que arrecada. Mas a dívida pública tem muitas outras finalidades, a menor delas é custear as despesas da administração, os gastos não-financeiros. Com o real mantido em torno de um dólar, os altos juros internos levaram as empresas com crédito lá fora a tomar dinheiro no exterior. O gráfico ao lado mostra esse fato. Ele apresenta a dívida externa do país dividida em duas partes, a do Estado e a das empresas particulares. E mostra também a dívida interna pública. Pelo gráfico, se percebe a relação entre esses três endividamentos. Na fase entre 1994 e começo de 1998, os particulares foram ao exterior e tomaram cerca de 150 bilhões de dólares. A dívida interna cresceu porque grande parte desses dólares foram comprados pelo Estado, que acumulou grandes reservas para garantir o Plano Real. A partir de maio de 1998, o Brasil começa a quebrar e o crédito para os particulares passa a ser mais difícil. Eles começam apenas a rolar suas dívidas lá fora, sem aumentá-las, chegando mesmo a amortizá-las. Mas a dívida continuou aumentando porque, então, é o Estado brasileiro que saiu para tomar dólares – foram mais de 80 bilhões de dólares nos três empréstimos desse período com o FMI e outras agências internacionais. Além dos juros, outro aspecto que levou ao incremento da dívida interna pública é a proteção do Estado aos grandes capitalistas que estavam endividados no exterior. A proteção de quem devia em dólares está em títulos da dívida pública interna que, além de pagar juros, são indexados à moeda dos EUA. Ou seja, quem tem um título desses, além de ganhar juros, mantém o seu valor em dólar qualquer que seja a desvalorização da moeda americana. Em janeiro de 1999, às vésperas da desvalorização do real – que chegou a valer mais de um dólar e passou a valer cerca de meio dólar –, o governo federal tinha 113 bilhões de reais nesses títulos cambiais, 30% de sua dívida mobiliária interna. Apenas um mês antes, esse percentual era de 21%. Fato similar ocorreu a partir de maio de 2002, quando novamente o dólar se valorizou, indo desta vez da casa de 2,5 reais para perto de 4 reais. Títulos federais e contratos do BC, ao final de agosto, protegiam então 217 bilhões de reais. Em conseqüência dessa política de proteção do grande capital, a dívida pública líquida explodiu. De 1994 a 1998, como pode-se ver no gráfico, a dívida interna bruta vinha crescendo. Mas o governo tinha dólares de reservas que compensavam esse crescimento. Em maio de 1997, a dívida pública líquida atingiu o mais baixo patamar dos anos noventa, ficou em 27% do PIB. Mas, a partir de então cresce espetacularmente. O efeito dos altos juros e a queda das reservas internacionais fizeram aparecer um problema que FHC pretendia manter longe dos olhares do povo, que se preparava para ir às urnas. Já em dezembro daquele ano, a dívida líquida do setor público chegou a 33,2%, e cresceu ano a ano para em setembro de 2002 estourar a casa de 63% de todas as riquezas produzidas pelo país. O problema da dívida não se resume ao seu tamanho. Diversos países têm um grau de endividamento muito maior. Mas poucos têm uma dívida tão cara e com vencimento tão concentrado. Para se ter noção do custo dessa política de proteção do grande capital basta verificar o relatório com o Resultado do Tesouro Nacional. Ele aponta que o custo médio da dívida mobiliária federal (juros, desvalorização e outros encargos) em 2002 foi de 49% para o período janeiro-novembro. Estado mínimo Outro dado que demonstra que a dívida cresce para proteger o grande capital é o saldo da conta única do Tesouro Nacional. Como já foi citado, esse saldo cresceu quase 6 vezes entre o início de 1997 e o final de 2002. Isso significa, como mostramos, que o governo emitiu muito mais títulos do que o necessário para pagar todas as suas contas, mesmo incluindo as colossais despesas com a dívida. Os títulos correspondentes aos reais não utilizados são usados pelo Banco Central para executar sua política monetária e cambial. A partir de 1998, além de proteger os grandes capitalistas que tinham tomado empréstimos no exterior – entre os quais muitas multinacionais que usaram o dinheiro para a compra de estatais – as políticas monetária e cambial foram usadas para conter o consumo interno e gerar um saldo comercial alto para obter dólares e pagar os grandes credores externos. Mas nem todo dinheiro do superávit pode ser utilizado para pagamentos da dívida. O primeiro, por uma questão legal. Uma parcela significativa dos superávits vem sendo produzida com recursos que a Constituição só permite que sejam gastos com outras despesas. Em 2001, por exemplo, o superávit foi de 21,9 bilhões reais. Dois bilhões correspondiam no orçamento a recursos do Fundo da Pobreza, que gastou menos de 300 milhões ao longo do ano; outro bilhão pertencia à CPMF; 1,2 bilhão à educação; mais 1 bilhão à universalização das telecomunicações, para computadores e Internet que nunca chegaram às escolas e aos postos de saúde. O orçamento preparado para Lula, nesse sentido, vai além. Do superávit de 33 bilhões para 2003, quase 15 bilhões de reais, 44%, são de recursos vinculados. São verbas que não podem ser simplesmente alocadas em pagamentos da dívida. A questão legal nunca foi um impedimento para FHC. De tempos em tempos, o governo editava medidas provisórias para desvincular os recursos de suas destinações legais e vinculá-las à dívida ou outra despesa financeira (a última foi em agosto de 2002). O maior constrangimento para o pagamento da dívida é mesmo econômico. Num cenário recessivo, toda a ação da política monetária tem sido para diminuir a moeda em circulação, um efeito contrário ao que ocorre quando o Tesouro libera recursos para gastos sociais ou para liquidação da sua dívida. Sob a ótica monetarista, que dirige os rumos do país, pagar a dívida exigiria crescimento econômico – crescimento que o Real não permite. Os sucessivos prejuízos do Banco Central, em sua política de defesa do grande capital, tornaram-se tão significativos que, em 1997, por medida provisória, FHC resolveu que, a partir de então, eles seriam assumidos integralmente pelo Tesouro. E, naturalmente, deveriam ser corrigidos antes de serem pagos. Em 30 de dezembro de 1998, o Tesouro arcou com 51,5 bilhões reais, a preços de dezembro de 2002. No período posterior, na gestão Armínio Fraga, de 1999 até novembro de 2002, eles já custaram outros 42,4 bilhões de reais ao Tesouro (em reais de dezembro de 2002). Segundo o relatório que o BC apresentou ao Congresso, no segundo semestre de 2002, a dívida do setor público foi de 41,7% do PIB, em dezembro de 1998, para 58,1%, em junho de 2002. O pagamento de juros reais e a variação cambial são responsáveis por 86% desse crescimento. Como vimos, no orçamento para 2003, os gastos com a dívida estão visivelmente subestimados. Dificilmente o dólar cairá ao nível fixado e os juros acompanharão a queda sugerida na lei orçamentária. Se o governo Lula for proteger os devedores em dólar e manter a política de forjar o superávit primário a qualquer custo, como FHC, o que terá de fazer? Deverá fazer o mesmo que FHC praticou no fim do ano que passou. Um balanço realizado em meados de dezembro mostra que grande parte dos programas previstos no orçamento de 2002 não havia saído do papel. De um total de 26 bilhões de reais autorizados para a saúde, apenas 22 bilhões foram liberados. Na educação, em que a proteção constitucional é menor, os cortes foram mais significativos: um quarto dos recursos programados ficou retido. O governo é obrigado a gastar 4 bilhões de reais por ano do Fundo da Pobreza, que recebe 21% da CPMF arrecadada. No final de 2000, essas receitas somavam 4,2 bilhões reais e apenas 2,1 bilhões haviam sido liberados. Nem mesmo o crescimento da violência comoveu o governo: os programas de segurança pública somente utilizaram 63% do previsto. O desemprego também não mudou a política de cortes. Geração de emprego e renda, erradicação do trabalho escravo e formação profissional receberam 69% do total imaginado. Programas sem proteção constitucional foram literalmente desconsiderados por FHC. Os de saneamento liberaram apenas 2,26% das verbas previstas; os de infra-estrutura urbana, só 6,71%. Dessa forma, o Tesouro acabou por apresentar um resultado recorde. O superávit primário acumulado até novembro foi de 34,6 bilhões de reais. Mas algumas despesas não podem ser simplesmente cortadas. O governo não pode deixar de pagar uma aposentadoria já concedida, nem se esquecer de fazer um repasse obrigatório a um município. Essas despesas precisam ser controladas antes de se formarem esses direitos. Entram em cena leis e medidas provisórias para diminuir direitos, restringir acessos... e gastar menos. Nas universidades públicas, a falta de substituição dos professores que aposentaram e o corte sistemático de verbas, criaram uma situação de penúria. Baixos salários levaram pessoas com grande qualificação para os inúmeros cursos particulares que o governo licenciou sem a menor preocupação com a qualidade. No ensino fundamental, parte dos recursos vem do Fundo de Valorização do Magistério, de dinheiro público rateado entre estados e municípios de acordo com o número de alunos matriculados no ensino fundamental. Graças a uma manipulação no cálculo do valor mínimo por aluno, que deve ser complementado pela União, o governo reduziu sua contribuição a menos de 1,4% do total de recursos. Na saúde, a aprovação da Emenda Constitucional nº 29, que determina o mínimo de recursos mínimos a serem aplicados no setor, não solucionou o problema. Antes de a Emenda surtir efeito, FHC referendou um parecer da Advocacia Geral da União que diminuiu os recursos para o setor em cerca de 2 bilhões de reais em 2003 e mais de 5 bilhões acumulados desde 2000. As deficiências na saúde pública serviram para favorecer os serviços e os planos de saúde privada. Na previdência, ocorreu o mesmo. Na reforma da previdência, por exemplo, o governo FHC inseriu no texto constitucional um teto para os benefícios previdenciários, com um valor fixado em reais, na época, 10 salários mínimos. Decorridos apenas 4 anos, esse valor representa pouco mais de 7 salários mínimos. As limitações a direitos e a certeza de que esse valor vai se deteriorar ainda mais fizeram florescer os planos privados de previdência. São ações dirigidas com o nítido propósito de criar público cativo, refém dos interesses privados. Hoje quase 50 milhões de brasileiros trabalham sem registro, são autônomos, cooperativados ou desempregados. Estão excluídos da cobertura previdenciária e não têm como prover o próprio sustento quando forem obrigados pela velhice ou pelo desemprego a pararem de trabalhar. Reformas neoliberais No caso da previdência social, grande parte do enorme déficit de hoje deve-se ao elevado e crescente desemprego e a um número cada vez menor de contribuintes para os fundos públicos de previdência – nítida expressão do fracasso na política de desenvolvimento econômico prometida por FHC. No seu governo, o país registrou as menores taxas de crescimento econômico e as maiores taxas de desemprego de sua história. O grande contrato social prometido por FHC em seu discurso de 14 de dezembro de 1994 no Senado – menos Estado, mais liberdade para o capital, mais desenvolvimento, tecnologia e melhores condições sociais – fracassou. O “príncipe dos sociólogos” fez sua escolha sobre quais contratos deveriam ser cumpridos integralmente. Enquanto insiste na completa manutenção dos contratos das dívidas interna e externa, defende alteração nos contratos anteriores ao seu governo que garantem aos trabalhadores direito a aposentadorias e pensões dignas, garantidas pelo Estado. A opção de FHC foi pelo grande capital. Telecomunicações diante do oligopólio estrangeiro A privatização no setor de telecomunicações provocou grandes perdas para o país: o nosso déficit comercial no setor explodiu e a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico foram destruídos. Qualquer brasileiro mais ou menos informado já ouviu dizer mais de uma vez que a venda do sistema de empresas da Telebrás, que corresponde à privatização das telecomunicações no Brasil, foi um sucesso. E que a prova do sucesso da privatização das telecomunicações brasileiras é o fato de que ela ampliou o número de telefones no país de 20 para 48 milhões. Verdade ou mentira? Mentira, que por ser tantas vezes repetida, é aceita como verdade. O Brasil tinha 48 milhões de linhas telefônicas fixas instaladas no início de 2002, mas 11,5 milhões dessas linhas não correspondiam a telefones fixos efetivamente instalados nas casas das pessoas, nos escritórios, nas empresas. Isso porque a rede telefônica é construída por centrais de comutação, com suas linhas de acesso, mas nem sempre esses acessos correspondem a linhas telefônicas efetivas, a cabos conectados a aparelhos de usuários. Como se pode ver pelos números oficiais, as companhias telefônicas privadas investiram na implantação de centrais de comutação mas não investiram nas mesmas proporções na instalação de cabos, fios e terminais que fizessem funcionar a capacidade disponível. O motivo para a ociosidade das linhas é a falta de mercado – no fundo, a baixíssima renda do povo brasileiro. Em 2001, por exemplo, a Telemar anunciou ter conectado 3 milhões de linhas telefônicas novas. Não anunciou, no entanto, que, no mesmo período, cortou 2,3 milhões de linhas por falta de pagamento. Para o conjunto das operadoras, apenas 30% das linhas são lucrativas; as outras 70% mal empatam as receitas das contas telefônicas com as despesas de operação e manutenção. Como os preços da telefonia são muito altos, as pessoas não podem usá-las. Quando FHC assumiu, a tarifa da assinatura residencial era de 44 centavos de real. Em fins de 2001, era de 14,11 reais – um aumento de quase 1.500%! O pulso residencial era de 2 centavos de real; passou a 6,6 centavos de real, 3,3 vezes mais. Déficit comercial As telecomunicações privatizadas provocaram além disso um grande déficit no comércio externo do país por trazerem a maior parte dos seus equipamentos e tecnologias de maior valor do exterior. A Telebrás estatal, de meados dos anos 70 até os anos 90, graças ao seu grande poder de compra e a uma política industrial definida, tinha incentivado a formação de uma indústria brasileira de equipamentos, que empregava cerca de 100 mil pessoas e tinha faturamento em torno dos 300 milhões de dólares anuais. Desenvolvera inclusive, no seu centro de pesquisa, o CPqD em Campinas (onde tinha 1.800 pesquisadores), uma tecnologia original: as centrais Trópico de comutação digital. A liquidação da Telebrás arrasou o CPqD, hoje com menos de um terço de seus pesquisadores, que sobrevive com pequenos serviços para as operadoras que aqui se instalaram. Em conseqüência, o déficit comercial do setor voltou à casa dos 700 milhões de dólares em valores de 1999 – que corresponde ao déficit de meados dos anos 70, quando o país importava praticamente de tudo. Essa política de abertura comercial descontrolada do setor teve outras implicações. O país passou a importar praticamente um novo tipo de bem de consumo, o telefone celular, que não tem mais que 5% de seus componentes fabricados aqui. O Brasil não dispõe de nenhuma fábrica dos eletro-eletrônicos indispensáveis aos celulares e a praticamente todos os equipamentos industriais modernos. O nossos déficit comercial nesse setor chegou a 8 bilhões de dólares em 2000 e só passou a cair em função da crise na área de telecomunicações. As empresas que compraram os pedaços do sistema Telebrás usaram em boa parte dólares emprestados. A MCI, americana, por exemplo, que comprou a Embratel, tomou no exterior perto de 1 bilhão de dólares, na época em que a moeda americana estava barata, valendo cerca de um real. Hoje, com o dólar a 3,5 reais, a quantidade de reais necessários para pagar os dólares emprestados mais que triplicou e praticamente quebrou a empresa, que já está falida também no exterior. Sem concorrência (*) A concorrência que se prometeu no setor também nunca existiu. As chamadas empresas-espelho das três grandes operadoras de telefonia fixa confessam que se dispõem apenas a oferecer serviços sofisticados para famílias ricas e empresas em algumas grandes cidades brasileiras. A Vésper, por exemplo, que seria a concorrente da Telemar nos 3.052 municípios em que a fixa opera, está presente apenas em 112 cidades. O investimento no setor atualmente não é maior do que antes da privatização. Entre 1994 e 1995, com a Telebrás, os investimentos cresceram 38%. Entre 1995 e 1996, cresceram 47%. Em 1997, já preparando a privatização e sob grande pressão dos credores externos, o governo FHC limitou os investimentos da Telebrás em 7 bilhões de dólares. As empresas privadas só registraram crescimento significativo de seus investimentos, de 35%, de 1999 para 2000. De 2000 para 2001 o crescimento já foi menor e em 2002 houve uma queda no montante dos investimentos. O número de empregos na área de telecomunicações também desabou: mais de metade dos 83 mil trabalhadores contratados quando o sistema era estatal foi demitida. A quantidade de telefones instalados cresceu após a privatização, embora a um ritmo não muito superior ao havido, por exemplo, entre 1994 e 1998, sob a Telebrás – o número de celulares, por exemplo, foi de 800 mil para 7,4 milhões nesse período; e de 7,4 milhões para 28,7 milhões entre 1978 e 2001. Mas os serviços continuaram praticamente tão concentrados como estavam antes. A média de telefones fixos por 100 habitantes no país é de 21, contra 12 telefones por 100 habitantes antes da privatização. Entretanto, mais de 90% dos municípios estão abaixo dessa média e perto de 20% tem menos de 6 telefones por 100 habitantes, entre esses, alguns municípios das grandes regiões metropolitanas. A maior parte do país ainda não conta com serviços de telefonia celular. Hoje, os próprios empresários de telecomunicações sustentam que o modelo de desenvolvimento que a privatização implantou no setor precisa ser revisto. De um modo geral, falam em reduzir o número de operadoras, das cerca de 50 atuais para menos de meia dúzia. Ou seja, que o modelo propagandeado como a grande realização das privatizações brasileiras fracassou e precisa ser substituído por outro. * Este texto foi feito com base no folheto O Sucesso do Fracasso, produzido pelo Comitê de Telecomunicações do Distrito Federal, sob coordenação dos engenheiros Brígido Ramos, José Guimarães Neto e Nilberto Miranda. E com a consultoria do professor Marcos Dantas. O grande desastre da privatização do setor elétrico A privatização no setor foi um fiasco, provocou um racionamento de sete meses e desorganizou um sistema de produção de energia barata e limpa, sem paralelo no mundo. O Mercado Atacadista de Energia (MAE) era para ter sido a peça-chave da política de privatização adotada pelo governo Fernando Henrique para o setor de energia elétrica. Depois de privatizadas todas as empresas, o Mercado regularia o preço e os investimentos do setor: com a falta ou a perspectiva de escassez de energia, os preços subiriam e os investimentos seriam atraídos para a área. Com sobra, os preços caíram e os investimentos seriam contidos. Pode-se contar o fracasso dessa política por quatro fatos: 1) houve o apagão nacional e um racionamento de energia por sete meses, a partir de junho de 2001; 2) anunciou-se a extinção do MAE e a criação de um MBE (Mercado Brasileiro de Energia), não mais livre, mas regulado; 3) em 7 de fevereiro de 2002, o MAE foi recriado com nova direção, sem duas dezenas de empresários que supostamente lhe dariam o caráter autônomo; 4) por último, no final de 2002, as geradoras de energia, as distribuidoras, o governo que saiu e o que entrou fizeram acordo para acertar parte das contas de parcela das operações feitas no MAE, graças, essencialmente, a uma verba de 2,3 bilhões de reais do BNDES, que já havia liberado 5,2 bilhões de reais com propósito semelhante. O restante da bagunça do MAE foi deixado para o próximo governo resolver, no começo de 2003, depois de uma auditoria. Os problemas atuais do setor elétrico são, em grande parte, responsabilidade de FHC. O sistema estatal de energia já havia sido debilitado, a partir do final dos anos 70 e começo dos 80, por uma descabida política de preços e de captação de recursos externos. Mas foi FHC que promoveu o grande salto para o modelo de mercado. Em 14 dezembro de 1994, ao despedir-se do Senado, já presidente eleito, Fernando Henrique prometera “dividir com capitais privados os pesados investimentos na expansão da infra-estrutura econômica. Numa estimativa conservadora do crescimento da economia, o Brasil terá de investir 20 bilhões de reais por ano nos próximos quatro anos, para que não surjam gargalos na oferta de energia, transportes e telecomunicações”. A entrega do setor à iniciativa privada, afirmava, atrairia novos investimentos, que o Estado não poderia fazer. As tarifas seriam reduzidas pela concorrência. No primeiro ano do governo FHC dois decretos cassaram 33 concessões de hidrelétricas concedidas a estatais federais e estaduais. A seguir, ainda em 1995, viria o Decreto nº 1.503 possibilitando a privatização de Furnas, Chesf, Eletrosul e Eletronorte. A maioria das distribuidoras era formada por empresas estaduais. Os estados, endividados, sofreram pressão do governo, que começou a privatização por essas empresas, em troca de empréstimos e facilidades. Depois de começar a vender, o governo decidiu fazer a modelagem do setor. Em 1996, foi contratado o consórcio liderado pela inglesa Coopers & Lybrand Consultant Ltd para elaborar o novo modelo. Apresentado em junho de 1997, tinha a proposta do MAE como uma de suas peças centrais. Desde 1997, no entanto, havia um agravamento das contas do governo – que, como se sabe, quebrou em meados de 1998 e foi socorrido pelo FMI no final daquele ano. Por esse motivo, as estatais tiveram seus investimentos contidos. Depois do acordo com o Fundo, a contenção foi ainda mais ampla. Nesse contexto, desde o final de 1999, começou a surgir a perspectiva de falta de energia. Em 2000, o governo apresentou uma proposta de emergência, o Programa Prioritário de Termeletricidade (PPT), que previa a construção de 53 usinas térmicas, que gerariam energia uns 40% mais cara que a do sistema existente, 95% baseado em hidrelétricas, mas que deveriam entrar em funcionamento rapidamente, para prevenir o desastre – hoje, o plano tem apenas 25 usinas, nove em operação, cinco em fase de testes e 11 em construção. Apesar de todos os indicadores de esvaziamento dos reservatórios das hidréletricas, FHC e seu governo negariam até fevereiro de 2001 que a crise que se avizinhava. Resultado: um racionamento que durou de junho de 2001 a fevereiro de 2002 e que só havia sido registrado no país à época da Segunda Guerra. O sistema brasileiro de empresas estatais de energia elétrica, que FHC pretendeu desmontar, e em parte o fez, é uma conquista de muitos anos. O projeto da Eletrobrás foi enviado ao Congresso por Getúlio Vargas em 1954, mas somente sete anos depois, já no governo Jânio Quadros, com o apoio da Frente Parlamentar Nacionalista, a estatal foi criada. Mesmo assim, foi preciso esperar o governo João Goulart para, em 6 de janeiro de 1962, instituir, de fato, a empresa que iniciou sua função de holding das estatais federais que já existiam: Furnas e Chesf. Foi na ditadura militar, ao longo da década de 1960, que o modelo de gestão do setor elétrico brasileiro deslanchou: o planejamento central foi aprimorado, a estrutura fortalecida, novas tecnologias desenvolvidas e o esquema de financiamento foi mais bem organizado. Cláusulas secretas Em 1962 a capacidade geradora do país alcançava 5.728.800 KW, sendo 3,5 milhões KW de origem privada, que já atuava no país há 60 anos. Em 1995, gerávamos 60 milhões KW. Em 33 anos, o Estado brasileiro gerou 15 vezes mais do que a iniciativa privada em 60 anos. O governo de Collor de Melo, por meio da Lei 8.031, de 1990, já havia criado o Plano Nacional de Desestatização. Com o impeachment de Collor, Itamar Franco resistiu à privatização do setor. Mais tarde, como governador de Minas Gerais, Itamar iria enfrentar a americana AES na Justiça para retomar o controle acionário da Cemig para o estado. Com a venda da Escelsa (ES) e da Light (RJ), no começo de seu governo, FHC deu início à privatização das distribuidoras. O MAE começou a operar em setembro de 2000, na conjuntura de pré-apagão. Os seus preços dispararam com o racionamento e estavam em 684 reais por MWh em junho de 2001, quando o governo foi obrigado a intervir, congelando o valor da tarifa. Além disso, a administração do MAE estava desmoralizada em função de gastos abusivos, entre eles despesas com salários e assessorias. Somente com o racionamento tornou-se amplamente conhecida a cláusula dos contratos da privatização que garantia lucros às distribuidoras no caso da falta de energia. Todos eles têm um Anexo V que prevê que as geradoras (97% estatais) deveriam pagar às distribuidoras (privatizadas), a preços do MAE, a energia contratada que deixasse de ser fornecida. Como as quantias envolvidas ficavam na casa de duas dezenas de bilhões de reais e quebrariam as geradoras, foi feito um acordo entre as empresas e o governo. Criou-se uma tarifa extra de energia que cobriria o montante a ser pago às distribuidoras ao longo de alguns anos. E o BNDES foi escalado para adiantar o dinheiro aos devedores. A Medida Provisória 14, editada pelo governo FHC para socorrer as distribuidoras de energia elétrica, gerou condições para transferir dos consumidores às concessionárias de energia até 24 bilhões reais. As medidas provisórias 59 e 60, aprovadas em 15 de agosto de 2002, também foram usadas para beneficiar as elétricas. Sete bilhões de reais foram retirados do superávit primário de 2001, desvinculando recursos das mais diversas fontes, para favorecê-las. Embora o principal argumento apresentado pelo governo para justificar o seguro antiapagão seja compensar as empresas do setor por presumíveis perdas, causadas pelo racionamento do ano passado, quase todas tiveram seus balanços publicados com lucros. Segundo o Banco Central, entre janeiro e julho de 2002, as distribuidoras e geradoras privadas enviaram ao exterior, para suas controladoras, um total de 918 milhões de dólares contra 99 milhões de dólares no primeiro semestre de 2001. Por enquanto, a ameaça de um novo racionamento está afastada pela queda do consumo. No final de 2002, a Eletrobrás estimou que o consumo residencial de energia elétrica anterior ao apagão somente será retomado em 2008. Em 2000, antes do racionamento, cada consumidor residencial gastava em média 173 KWh por mês. Hoje, a média de consumo mensal é 22,5% menor – 134 KWh por mês. Os hábitos mudaram, mas foi principalmente o preço proibitivo das tarifas que impediu a retomada do consumo. O exemplo da Light é significativo: na faixa de consumo de baixa renda, de zero a 30 KWh, a variação da tarifa entre janeiro de 1995 e setembro de 2002 foi de 1.104,41%. Quem consome menos foi mais penalizado. De 31 a 100 KWh a elevação foi de 404,17%. Na faixa de 0 a 100 KWh houve um aumento médio de 752,5%, contra uma inflação (IPC-FIPE) de 75,99%. Reduzir beneficios e favorecer a previdência privada A reforma da previdência de FHC tinha dois objetivos: reduzir gastos, cortando direitos, e favorecer o o grande capital, liberando clientes para a previdência privada. Analisar a reforma da previdência de FHC é importante para se desvendar sua política e suas reais prioridades. Alterar as regras de um sistema previdenciário não é tarefa simples. Para que uma reforma liberal fosse feita com apoio de setores importantes da sociedade foi preciso distorcer informações, desacreditar o sistema vigente e transformar o sonho de várias gerações em incertezas. Essa ameaça ao futuro é que estigmatizou a previdência pública como algo inviável. Assim, as reformas parecem inevitáveis. A propaganda oficial, com o apoio sistemático dos meios de comunicação e de setores da intelectualidade, utilizou-se de dados da crise do sistema, mas escamoteou o debate e produziu supostas verdades sem que os reais problemas tenham sido abordados. A reforma, portanto, tinha objetivo certo e sabido. Por detrás da crise, mais do que o desejo de resolver os problemas da previdência estiveram os compromissos do governo FHC de entregar ao grande capital financeiro os trabalhadores que têm renda suficiente para arcar com os custos da previdência privada. Pretendia-se ainda reduzir os gastos, cortando direitos. O debate ficou restrito à questão fiscal. Foi abandonado o papel histórico da previdência, cobrir riscos de longo e curto prazos (velhice, morte, invalidez, desemprego, doenças, maternidade e acidentes de trabalho). Toda a questão social, em que se sustenta numa proposta de previdência pública, redistributiva e solidária foi relegada para prevalecer apenas o debate fiscal. Foi, assim, esquecida sua função fundamental de distribuição de renda para os setores mais pobre do campo e das cidades, que têm garantido o recebimento de um salário mínimo. A ausência do debate e a pesada campanha ideologizada em torno do tema, levou a um cenário de desinformação, que escondeu as razões maiores da crise. Em particular, a perversa conjugação da queda da renda média do brasileiro, com o desemprego, a precarização das relações de trabalho, o incremento da informalidade da economia e as renúncias, isenções fiscais e facilidades concedidas a sonegadores e fraudadores de receitas da previdência. Apoiado na insegurança gerada pela campanha contra a previdência pública, FHC passou a editar uma série de medidas provisórias cortando direitos e ampliando exigências para a obtenção de benefícios, o que dificultou e retardou a aposentadoria de muitos. Já no começo de seu primeiro mandato, enviou ao Congresso uma emenda constitucional para modificar mais profundamente o modelo previdenciário brasileiro, abrangendo a previdência dos trabalhadores do setor privado e a dos servidores públicos. Durante os seus 8 anos de governo, ocorreram muitas modificações, sempre para viabilizar a previdência privada e reduzir gastos sociais. Sob a orientação do Banco Mundial, diversos países da América Latina realizaram, com variações específicas, profundas mudanças nos sistemas de seguridade social. A reforma pioneira foi implementada na ditadura de Pinochet, no Chile – a mais radical das alterações. Muitas nações mudaram de um modelo público em direção a outro privado, de contribuição definida. Assim fizeram países como Argentina, Bolívia, Colômbia, Peru, Uruguai. Na imensa maioria das vezes o alvo declarado foi o de equacionar problemas fiscais, afirmando que uma nova realidade econômica e demográfica resultava em escassas fontes de financiamento para sustentar um alegado excesso de benefícios. Ocultavam também o real sentido das reformas, que era a privatização do sistema. Seguindo esse molde de reformulação, no Brasil de FHC todos os direitos ficaram sujeitos ao pressuposto do equilíbrio financeiro e atuarial. Um destaque dessa mudança foi a introdução do fator previdenciário, que rebaixa as aposentadorias daqueles que buscam esse benefício antes dos 60 anos de idade. Atingir esse equilíbrio entre receitas e despesas passou a ser a principal diretriz. Mas, pouco ou quase nada se disse sobre as causas desse desequilíbrio, nem muito menos sobre quais receitas e despesas deveriam ser levadas em conta para apuração do resultado. Para viabilizar a privatização da cobertura previdenciária, as reformas buscavam criar um mercado cativo para os fundos de previdência complementar. A previdência existe para satisfazer uma necessidade futura e é preciso acreditar que ela proverá o sustento na idade avançada ou diante de infortúnio. Assim, reafirmou-se continuadamente a falência da previdência social, colocando em dúvida a capacidade do sistema de assegurar o futuro, ao mesmo tempo em que medidas concretas levaram a previdência pública a um descrédito. Alteraram-se as regras, desrespeitando direitos e frustando a expectativa de milhões; os aposentados viram seus recursos minguarem diante de reajustes insuficientes para manter seu poder aquisitivo, principalmente os que ganham mais do que o salário mínimo. O texto constitucional, modificado, passou a registrar, em moeda corrente, um valor máximo para os benefícios. Em escassos 60 meses os 10 salários mínimos iniciais foram reduzidos para pouco mais de 7 mínimos. Levando, assim, o teto a se aproximar do mínimo. Essa realidade induz àqueles que querem e podem buscar segurança em um benefício previdenciário maior a depender da adesão aos fundos de pensão. Tendência privatista Mas, para aprofundar a tendência privatista, o mercado de previdência privada precisava também atingir os servidores públicos. Os trabalhadores do setor privado, quer seja pela baixa média de renda ou pela alta rotatividade, não asseguram os lucros que as seguradoras pretendem. Foi preciso então que toda a incerteza e a afronta aos direitos atingissem os servidores públicos, em especial os de maior renda. A EC nº 20 possibilita que o teto de benefícios do regime geral seja estendido aos servidores, acabando com a integralidade e a paridade. Assim, o governo enviou um projeto de lei complementar (PLP nº 9, de 1999) para implementar essa diretriz. Mas, como esse teto apenas atinge os novos servidores, FHC deixou na agenda do próximo governo a continuidade dessas reformas. Por isso, o acordo com o FMI de fins de 2002 intima os candidatos a continuarem a reforma de FHC. O governo Lula retoma a bandeira da reforma da previdência. A sociedade, que alimentou e ainda nutre o desejo de mudanças, precisa mobilizar-se para impor uma nova pauta, fugindo das reformas ditadas pelos interesses do grande capital. É preciso redescobrir sua própria agenda de mudanças, voltada para o desenvolvimento econômico e social, para a repartição da renda, a valorização do trabalho e a dignidade humana. A previdência precisa de mudanças sim. Mas sob novo signo. Mudanças que resgatem o seu prestígio e restabeleçam a confiança do trabalhador no seu sistema de proteção social. Um aspecto fundamental é desconstruir grande parte das mudanças introduzidas por FHC. Mudar de verdade é estabelecer um teto de benefícios que, expresso em salários mínimos, dê ao trabalhador a segurança de uma aposentadoria digna; é recuperar o valor das aposentadorias; é assegurar a cobertura a 60% dos trabalhadores do setor privado, que, hoje, pelo desemprego, informalidade ou desconfiança, estão afastados da cobertura previdenciária. Para regimes próprios da previdência, é necessário fugir da lógica insana de Collor e FHC – eles nas costas dos servidores todos os males do Esta do nacional. É preciso, sim, corrigir distorções desses regimes previdenciários e respeitar as diferenças entre as relações que o trabalhador mantém com a empresa privada e aquelas que existe entre o servidor e a administração pública. Estamos convencidos de que é na mobilização popular, no despertar da força criadora do povo brasileiro que reside a possibilidade de êxito do governo de Lula. Cabe ao movimento social influenciar executivo, legislativo e judiciário, exigir reformas afinadas com os interesses populares. Nesse caminho, o de colocar em marcha novos ideários, uma importante tarefa é desmitificar as mentiras, levar ao movimento social organizado uma visão que desconstitua dogmas e estigmas impostos pela hegemonia ideológica e política dos mercados e dos interesses do grande capital. Abertura descontrolada e dependência externa A dívida interna cresceu seis vezes e a externa saiu de 100 bilhões para 250 bilhões de dólares. Setores inteiros foram desnacionalizados e o país ficou completamente vulnerável. No último ano, o oitavo, o “mercado” e os financistas de FHC espalharam o terror com o argumento de que a única alternativa ao caos seria a continuidade da política econômica. A crescente dependência externa da economia do país é uma das grandes heranças do governo de Fernando Henrique Cardoso. Essa dependência está diretamente ligada a uma estratégia de desenvolvimento, baseada nos capitais externos e nas empresas transnacionais, e à forma descontrolada de inserção de nossa economia na chamada globalização, seja no seu aspecto comercial ou financeiro. A abertura comercial, por um lado, aumentou o consumo interno de bens importados. No período de 1994 a 1998 – quando o real ficou muito valorizado frente ao dólar – a abertura comercial foi mais prejudicial, porque produtos importados passaram a ficar artificialmente mais baratos do que os produzidos internamente, o que levou ao fechamento de inúmeras pequenas e médias indústrias nacionais. Até 1998, o déficit comercial foi crescente, tendo acumulado, entre 1995 e 2001, um saldo negativo de 25,4 bilhões de dólares. Mas a abertura comercial também fez com que parte significativa da produção intermediária de bens (insumos e matérias-primas), fosse substituída por importações. Isso mudou a matriz produtiva da economia. Os produtos industriais feitos aqui começaram a ter crescente participação de matérias-primas, insumos e tecnologias estrangeiras. Um bom exemplo é o setor automobilístico, o único setor industrial que, pode-se dizer, teve uma política específica, que vigorou de 1996 a 2000, o regime automotivo. Regulamentado pela Lei 9.449 e pelo Decreto 2.072, o seu objetivo foi incentivar as montadoras já instaladas no país e atrair investimentos das que ainda não estavam aqui. Graças a esses incentivos, novas montadoras vieram para o Brasil e ainda trouxeram parte de seus fornecedores tradicionais de autopeças, aos quais foram estendidos os benefícios. Segundo o economista João Alberto de Negri, do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea), em trabalho intitulado Avaliação do Regime Automotivo Brasileiro, essa política engordou o lucro das montadoras, ajudou a acabar com a indústria nacional de autopeças e resultou em aumento de 25% dos preços reais médios dos veículos nos dois primeiros anos de vigência . As indústrias com controle acionário nacional, que respondiam por 45,35% das vendas domésticas de equipamentos de direção, transmissão, sistemas elétricos, eletrônica embarcada e freios, passaram a apenas 26% em 1997. As grandes multinacionais do setor compraram as principais empresas brasileiras e o número de firmas caiu de 1.500 em 1990 para 800 em 1998. Após a desvalorização do real, em 1999, a desnacionalização, como o exemplo do setor automotivo, passou a ter outro componente negativo: qualquer crescimento da economia sempre significou o incremento desproporcional das importações, gerando déficit e desequilíbrio nas contas externas. Nossa economia passou a depender, então, cada vez mais do financiamento externo, em um círculo vicioso. Essa dependência é um dos empecilhos ao desenvolvimento e foi o que fez a economia crescer tão pouco durante os anos de FHC. Ampliá-la, levaria à elevação do déficit externo e a uma crise de “credibilidade externa”. Antes da abertura comercial descontrolada, no entanto, o Brasil fez outra abertura, de conseqüências talvez até mais dramáticas para a economia do país: a financeira. As regras de entrada e saída de capitais foram liberalizadas e as operações de compra e venda interna de dólares foram facilitadas a partir da gestão dos financistas Marcílio Marques Moreira, no ministério da Economia, Francisco Gros, no Banco Central, e Armínio Fraga, na diretoria da área externa do banco, em meados de 1992. O marco inicial dessa liberação foi a vulgarização das chamadas contas CC-5, que se baseiam numa legislação de 1957. Naquele tempo não existiam as transações eletrônicas e as facilidades para a movimentação internacional de capitais. CC-5 – Carta Circular número 5 – era uma instrução das autoridades monetárias brasileiras, que dizia que os não residentes no país – pessoas e empresas – que trouxessem dólares para cá tinham o direito de repatriá-los, quando quisessem, sem autorização prévia. Tudo o mais que não fosse moeda estrangeira trazida para o país, dizia a lei, precisaria de autorização prévia para ser convertida em moeda estrangeira para envio ao exterior. Em 1992, ainda no governo Collor, portanto, com Armínio Fraga na área externa do BC, passou-se a interpretar a CC-5 de um modo muito mais amplo: qualquer nãoresidente no país, pessoa física ou empresa, poderia optar por ter seus haveres financeiros em reais ou em dólar. Ou seja, poderia enviar para o exterior, sem aviso prévio ao BC, o equivalente em dólares a todos os reais que tivesse no sistema financeiro do país. CC-5, dreno externo Com isso, a legislação original das CC-5, que era muito restritiva, tornou-se completamente permissiva. E essas contas se transformaram no principal instrumento de drenagem de dinheiro para fora do país. A mudança estava articulada com outros instrumentos da abertura financeira. Entre esses, destacam-se os chamados “anexos” do Banco Central. Por esses regulamentos, permitiu-se que fundos estrangeiros fizessem aplicações aqui – na bolsa de valores, em fundos financeiros de investimento e em fundos para leilões das estatais. Com isso, se buscava não só atrair capital de empresas e investidores estrangeiros, como também trazer de volta os recursos de brasileiros que tinham levado dinheiro para o exterior ilegalmente. Desde que as aplicações fossem feitas a partir de fundos externos e em outros localizados no país, as pessoas físicas que estavam por trás dessas instituições não precisavam aparecer. Fez parte da abertura financeira também a mudança nas regras de remessa de lucros, dividendos e royalties. As remessas foram liberalizadas pela Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991, que extinguiu o adicional de imposto de renda que incidia sobre elas. Com tudo isso se objetivava atrair o capital externo que, supunha-se, iria financiar nosso desenvolvimento e modernizar a estrutura produtiva nacional. Na verdade, até 1994, essa liberação serviu pouco para a modernização e muito para que brasileiros repatriassem parte dos seus fundos no exterior, aproveitando as altas taxas de juros da dívida pública praticadas desde o final de 1991, e outras oportunidades de ganhos financeiros. Estima-se que no início da década de 90, empresas e brasileiros ricos dispunham de um saldo de 60 bilhões de dólares no exterior, retirados ilegalmente do país e mantidos em paraísos fiscais. De 1992 a 1994, entraram liquidamente no país, por meio das CC-5, mais de 23 bilhões de dólares. Essa “repatriação” foi feita também para adquirir as primeiras estatais privatizadas. Só após 1994, com a renegociação da dívida externa e a implantação do real, começaram a chegar de fato investimentos estrangeiros. Nos primeiros anos da década passada houve uma grande oferta de empréstimos externos a custos muito baixos. Essa situação mudou em 1994: no segundo semestre, o banco central dos EUA duplicou a taxa de juros básica, gerando a crise do México. Em 19 de dezembro de 1994, o peso foi desvalorizado em 15% e, em poucos dias, investidores mexicanos e americanos perderam mais de 10 bilhões de dólares. As reservas mexicanas, que estiveram em 25 bilhões de dólares no início de 1994, caíram para menos de seis bilhões de dólares. A partir daí, os fluxos de empréstimos diminuíram para os mercados emergentes e os empréstimos ficaram caros. Como só em 1994 o Brasil chegou a um acordo sobre a dívida herdada da década de 70, do tempo do milagre dos militares, a economia brasileira chegou tarde ao mercado financeiro internacional, quando as condições de financiamento passaram a ser mais seletivas e os juros elevados. Já na euforia dos primeiros seis meses de Plano Real, portanto, a taxa de juros externa estava começando a fazer com que o sonho de um novo milagre brasileiro, financiado com capitais externos, se esvaísse. Mesmo assim, o governo FHC continuou a apostar no financiamento externo e nosso déficit não parou de crescer. Por isso, ao mesmo tempo em que entravam os investimentos e empréstimos externos, as remessas das rendas do capital (juros, lucros e royalties) aumentavam espetacularmente: de cerca de oito bilhões de dólares em 1991, saltaram para perto de 12 bilhões de dólares em 1996 e para mais de 16 bilhões de dólares em 2001. No dia 2 de julho de 1997, o Banco da Tailândia anunciava a entrada do baht, a moeda local, num regime de taxa flutuante administrada e pedia assistência técnica ao FMI. Tem início a chamada crise da Ásia. Em 23 de agosto, o primeiro ministro da Malásia, Mahatir Bin Mohamad, que depois imporia medidas restritivas à movimentação de capitais, acusou o megaespeculador George Soros de estar por detrás dos ataques especulativos às moedas da região. No final de julho de 1998, havia uma grande euforia pela conclusão do processo de privatização do sistema Telebrás. Agosto, entretanto, reservava surpresas. No dia 17, a Rússia declarou moratória no pagamento das suas dívidas interna e externa e desvalorizou o rublo. O Índice Ibovespa acusou uma queda de 40% e os 10 bilhões de dólares que saíram do país anularam o efeito da entrada de divisas (cerca de 4 bilhões de dólares) pelo pagamento de parcela da Telebrás, adquirida por investidores estrangeiros. Com essas duas crises, o fluxo externo de capitais diminuiu, o Brasil foi pego no contrapé e quebrou. Houve uma intensa fuga de capitais. Em plena campanha eleitoral, na surdina, FHC costurou um acordo com o FMI, que passou a ser co-gestor da economia nacional. O país teve que se submeter a um longo programa de três anos para executar o ajuste externo e fiscal. Em janeiro de 1999, o real foi desvalorizado. Muitos que tinham dívidas em dólar haviam comprado papéis do Tesouro Nacional, que lhes garantiam, além de juros, correção correspondente à desvalorização da moeda brasileira frente ao dólar. Assim, com a desvalorização, o Tesouro levou um prejuízo de mais de 60 bilhões de reais por ter assumido o risco cambial de investidores e grandes devedores. Investimentos De 1999 em diante, com o real barato e as empresas brasileiras em dificuldades, houve um grande aumento no fluxo de investimentos diretos. Não para criar empreendimentos novos, mas para comprar as empresas nacionais na bacia das almas. Uma parcela importante das principais empresas privadas e de estatais nacionais foi adquirida por capitais externos. Os estrangeiros passaram a atuar em diversas áreas em que não tinham presença alguma ou nas quais sua participação era muito pequena. Na siderurgia e metalurgia, entre os anos de 1994 e 1999, a participação estrangeira saiu de quase nada para 34%. No comércio varejista, em 1994, os estrangeiros controlavam apenas 7,1% dos negócios. E os grandes eram brasileiros. Hoje, o capital estrangeiro controla cerca de 60% do setor. Em 2000, o capital estrangeiro já controlava 90% do setor eletro-eletrônico; 86% do setor de higiene, limpeza e cosméticos; 77% do setor de computação; 74% das telecomunicações; 74% do setor farmacêutico, 68% da indústria mecânica, 58% do setor de alimentos e 54% do setor de plásticos e borracha. Alguns exemplos ilustram esse movimento de desnacionalização. A Metal Leve de José Mindlin foi comprada pela Cofap em associação com a Mahle, da Alemanha. Em abril de 97, a própria Cofap, ainda sob o comando do brasileiro Abraham Kasinski, foi engolida pela Magneti Marelli, do grupo italiano Fiat. A Freios Varga, outra gigante brasileira do setor de autopeças, passou para o controle da inglesa Luca Varity. A Brasmotor foi transferida à antiga sócia norte-americana Whirpool. A Phelps, dos Estados Unidos, desembolsou em torno de 200 milhões de dólares para levar a Ciopebrás, principal empresa brasileira na produção de negro-de-fumo, matéria-prima utilizada na fabricação de pneus e componentes para a indústria automobilística. A Dana Coporation (EUA), uma das maiores do mundo, depois de montar 14 fábricas no Brasil, passou a comprar concorrentes nacionais aproximando-se de um controle do mercado. Por intermédio de uma compra internacional da também norte-americana Echilin, a Dana levou o tradicional fabricante de carburadores Brosol. Depois, ainda adquiriu a Nakata, que produzia amortecedores e escapamentos. Assim, o setor automotivo, que tinha uma significativa presença nacional, passou a ter 89% de presença estrangeira. Outros setores viveram o mesmo problema com empresas tradicionais engolidas pelo capital estrangeiro: a Lacta foi comprada pela Philip Morris; a Peixe pela Italiana Cirio; a Adria pela americana Quaker; a Petroquímica União pela americana Union Carbide; a Arno pela francesa SEB; a gaúcha Frangosul, classificada entre as cinco maiores do Brasil, ficou com o grupo francês Doux, maior exportador de aves da Europa e principal concorrente das empresas nacionais no mercado internacional; parte da Gradiente foi para a Ericsson; a Café do Ponto passou para a norte-americana Sara Lee; a Etti e a Batavo ficaram com italiana Parmalat. A partir de 1999 o país não tinha mais fôlego para crescer. Não havia mais dólares para financiar uma economia que só poderia crescer criando um buraco nas contas externas, seja pelo aumento das importações, seja pela elevação das remessas das rendas de capital. Como as regras de entrada e saída de dólares não foram mudadas, os detentores de dólares e os grandes empresários nacionais e internacionais passaram a ter um grande poder sobre a economia. Qualquer flutuação nos mercados financeiros internacionais imediatamente impacta a economia, mantendo elevada a taxa de juros interna ou provocando fuga de dólares. Esse é o mecanismo que cria a instabilidade na taxa de câmbio e vem ameaçando deixar o país sem reservas internacionais. Sempre mais juros Desde a crise do México, o governo vem mantendo a estratégia de inserção externa, sempre na esperança de que as coisas melhorem e voltemos às “boas condições” de financiamento farto e barato dos primeiros anos da década de 90. Mas a realidade vem sempre contrariando essas expectativas, o que vem custando muito caro ao Brasil. Com queda acentuada das bolsas de Nova Iorque a partir do final de 2000, a crise mundial se agravou ainda mais, e o governo FHC passou a se aplicar mais nos esforços de obter uma melhoria de suas contas externas, principalmente com incentivos às exportações. Sem financiamento externo adequado, não há como o país continuar pagando os compromissos financeiros, a amortização das dívidas e as remessas de juros, lucros e royalties. Muito menos poderá continuar a garantir a livre saída de dólares por “repatriação” de investimentos. Por isso, o governo FHC voltou, como na crise da dívida de 1982, a incentivar as exportações para angariar dólares, mantendo a economia interna estagnada e sob pressão inflacionária pela desvalorização do real frente ao dólar. Não para diminuir a nossa dependência externa, mas para manter os compromissos financeiros em dia. Manter saldos comerciais elevados durante longos períodos, deixando inalterados o volume e as condições dos compromissos externos, não significa necessariamente resolver o problema da vulnerabilidade externa. Ao contrário, pode apenas agravá-la mais. Assim como aconteceu na década de 80, alcançar um superávit comercial, rapidamente e de grande monta, só pode ser feito às custas da constante desvalorização da moeda nacional, da diminuição da receita tributária com incentivos aos exportadores e pela manutenção da economia interna estagnada. E assim como aconteceu também após o fim do milagre dos generais, esse superávit comercial fará com que volte a inflação ou que os governos federal e estaduais quebrem, perdendo receita e se endividando ainda mais – ou mesmo as duas coisas ao mesmo tempo. Por isso, a solução para o equilíbrio de nossas contas externas não pode ser outra vez o apelo à velha fórmula, sempre repetida, do aumento das exportações e da estagnação da economia. É preciso levar em consideração que nossos credores e investidores também fazem parte do problema e que as condições atuais da dívida externa, bem como das regras vigentes de liberdade de movimento de capitais, também podem ser renegociadas e revistas. Diminuindo o montante de nossas obrigações externas, poderemos equilibrar melhor a condição de gerar superávit comercial, sem ter que deprimir o consumo interno, o emprego e as condições de vida dos brasileiros. Esse é um grande problema herdado e que o governo de Lula terá que enfrentar mais cedo ou mais tarde. A fragilidade de nossas contas externas decorre, portanto, não apenas do enorme passivo externo acumulado durante o Plano Real, mas também da continuidade das regras liberais de entrada e saída de dólares. Os compromissos internacionais e o controle que o capital forasteiro tem sobre a economia tornaram o país cada vez mais vulnerável às flutuações externas. Mas é a continuidade de regras que permitem a saída quase livre de dólares que faz com que a população e o próprio governo tornem-se reféns da vontade de um pequeno número de empresas que movimentam gigantescas massas de dinheiro e tentam preservar a qualquer custo o modelo de desenvolvimento do país. Promovendo a fuga de dólares ou especulando com a taxa de câmbio e com os títulos da dívida pública, eles desestabilizam a economia e pressionam o governo para manter as políticas e as regras que lhe são favoráveis. Trabalho precário, emprego em queda, renda achatada FHC patrocinou uma campanha contra os direitos trabalhistas, ampliou a informalidade na economia e levou o Brasil para o segundo lugar em desempregados no mundo. A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e a Carteira de Trabalho são os grandes emblemas da herança Vargas, que Fernando Henrique Cardoso identificava como o Estado intervencionista. Uma das principais contribuições de FHC na área social – uma contribuição muito negativa – foi ter utilizado toda a sua autoridade de grande sociólogo em uma campanha particular, teórica e prática, contra a legislação trabalhista. Nessa campanha, procurou atribuir o grande crescimento do desemprego, nos anos de neoliberalismo, à resistência dos partidos de esquerda e do movimento sindical à chamada flexibilização das leis trabalhistas. A legislação trabalhista é antiga, complexa e merece uma revisão. Mas FHC não apresentou nenhum plano, nenhum estudo merecedor do nome que procurasse dar nova forma, organizar e modernizar o conjunto dessas leis. Quem diz isso é uma das maiores autoridades brasileiras no assunto, Márcio Pochmann. Secretário do Trabalho e Solidariedade da prefeitura de São Paulo, coordena o que é possivelmente o maior programa municipal de distribuição de renda diretamente à população pobre, que ele mesmo considera apenas uma forma de minimizar os efeitos do grande desemprego no país. Pochmann foi ainda consultor da Organização Internacional do Trabalho no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e tem oito livros publicados sobre trabalho e emprego. Ele diz que FHC tratou do problema do país com a retórica neoliberal. Falou mal de Getúlio Vargas e da CLT para insinuar que tinha um plano para o emprego no país, coisa que não tinha. Posteriormente, já na campanha eleitoral de 2002, quando seu candidato José Serra assumiu como bandeira central de seu programa a criação de empregos – desajeitadamente, como não poderia deixar de ser, para um candidato do governo –, Fernando Henrique disse que o desemprego tinha crescido no mundo todo em função de problemas estruturais do desenvolvimento. Não seria, portanto, um defeito específico de seu governo. Pochmann prova que não. O desemprego não atingiu todos os países de modo igual. O Brasil, em 1980, tinha 2,6% da População Economicamente Ativa (PEA) e apenas 1,7% dos desempregados globais. No ano 2000, sua participação na PEA tinha crescido para 3%, mas seu porcentual do desemprego global tinha mais que quadruplicado (7,1%). De 108 nações selecionadas*, o Brasil estava em nono lugar em valores absolutos de desemprego aberto em 1980. Em 1985, ficou no 10º posto. Em 1990, ocupava a 6ª posição, com 2,3 milhões de desempregados. Quando FHC assumiu, em 1995, já era o 5º, com 4,5 milhões de desempregados. Em 2000, 5 anos depois, FHC e suas políticas tinham levado o país para o posto de segundo pior do mundo, com 11,4 milhões de pessoas sem emprego. Com uma população 175 milhões, o Brasil tem quase o dobro do número de desempregados da China (5,9 milhões), que tem mais de sete vezes o seu número de habitantes (1,3 bilhão). O país de FHC só perde para a Índia, a primeira colocada. Supera a Rússia (3ª), a Indonésia (5ª) e os EUA (6ª), que estiveram em segundo desde 1980. Em termos porcentuais**, o país também piorou com FHC: em 1980 o Brasil era o 91º país com maior índice de desemprego, com 2,2%. Em 1990, com 3% de desemprego, ocupava a 78ª posição. Com FHC, em 2000, a taxa de desemprego foi de 15% e o país “subiu” para o 23º lugar. Como se vê, o desemprego não começou a crescer no governo FHC. O que seu governo fez foi multiplicar por três o desemprego no país: de 4,5 milhões de pessoas para 11,5 milhões – na média, um milhão de desempregados a mais por ano de mandato. Com o crescimento medíocre da economia, o aumento do emprego não acompanhou a taxa a evolução da, que é de cerca de 2% – o que significa, a cada ano, um incremento de 1,5 milhão de novas pessoas procurando trabalho. Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), apenas um em cada três brasileiros é assalariado com registro formal. Das 76,5 milhões de pessoas que compõem a PEA brasileira, somente 24 milhões possuem algum tipo de proteção social e trabalhista. O restante está desempregada ou integra o mercado informal**. Diversos outros trabalhos fazem a mesma constatação. Um estudo*** do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese) mostra que, além das mudanças na forma de contratação da força de trabalho pelos setores privado e público, registrou-se redução generalizada do peso do trabalho assalariado no total dos postos de trabalho gerados. Cresceram as formas de contratação de trabalhadores consideradas alternativas e tradicionalmente mais precárias e instáveis, associadas a atividades menos produtivas, com menores rendimentos, sem proteção social ou condições de trabalho adequadas e, em alguns casos, até mesmo clandestinas. A Flexibilização No mesmo trabalho citado, o Dieese identifica como a primeira forma da chamada flexibilização a contratação do trabalhador diretamente pela empresa como assalariado sem carteira de trabalho assinada. A seguir, a flexibilização aparece na generalização do assalariamento indireto, em decorrência da terceirização de serviços. “A contratação do trabalhador como [trabalhador por] conta própria ou autônomo continua crescendo e é maior que a terceirização de serviços, na maioria das regiões metropolitanas”. O aumento de jornadas de trabalho acima das 44 horas semanais, legais entre os trabalhadores informais, é outro aspecto da flexibilização. O Mapa do Trabalho Informal**, elaborado pela Central Única dos Trabalhadores (CUT) na cidade de São Paulo, indicou uma jornada média de 76 horas semanais entre os entrevistados. A conclusão foi enfática: “a grande maioria dos informais exerce atividades precárias, quase todas sujeitas à repressão policial, o que torna os ganhos extremamente instáveis e incertos”. Até os anos 1980, a informalidade complementava o trabalho nacional e cumpria o papel de criar um “colchão” que amortecia os efeitos do desemprego na sociedade. A marca central do trabalho no Brasil era o assalariamento formal: de cada dez postos de trabalho criados, oito eram empregos assalariados, sete com carteira assinada. Na década de 1990, de cada dez empregos criados somente dois são assalariados e ainda sem registro em carteira. A defesa da flexibilização foi a forma de o governo cumprir o compromisso firmado com o Fundo Monetário Nacional (FMI) em 1998. Está escrito no item 33 do Memorando Técnico de Entendimento: “embora o mercado de trabalho brasileiro não seja perseguido por nenhuma rigidez grave, determinadas regulamentações e políticas do mercado de trabalho podem contribuir para uma maior flexibilidade”. A grande e última tentativa de flexibilização, já aprovada na Câmara dos Deputados, aguarda votação no Senado. Altera o art. 618 da CLT e seria um importante golpe nos direitos dos trabalhadores: os acordos coletivos ganhariam peso maior do que a lei, permitindo a flexibilização de direitos históricos, como, por exemplo, os 30 dias de férias anuais, prevalecendo “o negociado sobre o legislado”. Dentre a inúmeras modificações da CLT promovidas por FHC destacam-se o impedimento de autuação das empresas por desrespeito às convenções e acordos trabalhistas; a retirada do direito brasileiro da limitação à demissão imotivada; a participação nos lucros e resultados, o contrato temporário e o banco de horas. Tudo contribuindo para enfraquecer os direitos dos trabalhadores e aumentar a exploração do trabalho. O conjunto das mudanças recentes na forma do trabalho na economia nacional se refletiu no perfil do desempregado. Se até a década de 1980 o desemprego atingia linearmente os trabalhadores menos qualificados, agora é diferente. O novo perfil do desemprego no Brasil, escreve Marcio Pochmann, “refere-se aos trabalhadores com mais de oito anos de escolaridade; com idade mais avançada (mais de 49 anos); do sexo feminino; chefes de família; brancas; que buscam o reemprego e que residem na Região Sudeste”*. Segundo pesquisa do Dieese, obter recolocação no mercado de trabalho, nos anos 90, também ficou mais difícil. Em algumas regiões, como o Distrito Federal e Salvador, a busca por emprego chegou a levar um ano ou mais. Renda Os resultados da política de flexibilização na distribuição de renda e na qualidade de vida do brasileiro foram imediatas. Escreve Pochmann: “A partir de 1995, o fim do período hiperinflacionário não veio acompanhado da elevação real do poder de compra dos trabalhadores. A ausência do crescimento econômico sustentado, combinada com a expansão do desemprego e a maior escolarização e qualificação da oferta de mão-de-obra, geraram ainda maior concorrência no interior das classes trabalhadoras, o que levou à piora da parcela salarial na renda nacional”*. Ao final dos anos 90, o cenário de altas taxas de desemprego, queda dos salários médios, estagnação do emprego e aumento do nível de ocupação inferior ao crescimento da PEA provocou a redução de 17,6% da massa de salários da região metropolitana de São Paulo**** . As perdas na renda do brasileiro no período de 1990 até o ano 2000 impressionam. A participação da remuneração do trabalho na renda nacional decresceu de 53,48%, em 1990, para 42,4%, em 2000. Essa queda de 11 pontos reflete a redução da participação da remuneração do trabalho no setor privado: de 37,25%, em 1990, para 27,38%, em 2000. O comportamento do setor público é variado e registra uma queda de um ponto porcentual na renda nacional. A distribuição da renda também sofreu mudanças. FHC fez um rearranjo da escassez. Pelos dados do Dieese, os 10% mais pobres em São Paulo, de 1995 até agora, viram seu salário cair 19,3% e os 10% mais bem remunerados perderam 33,1% na renda do seu trabalho. Todos perderam renda, mas perdeu mais quem ganha mais. Segundo números do Ipea, órgão de pesquisa oficial do Ministério do Planejamento, o rendimento médio do trabalhador vai chegar ao fim de 2002 com perda estimada de 0,74% durante os oito anos do Real. Ao fim de 1994, o trabalhador ganhava 664,93 reais e chegará ao fim de 2002 recebendo em média 660 reais, em valores de janeiro de 2000. Enquanto a participação da renda do trabalho decrescia na renda nacional, a produtividade do trabalho crescia vertiginosamente. De 1990 até 1999, cresceu 24%, mas foi com o governo de FHC que os índices explodiram, chegando a mais do que dobrar, saltando de 10% para 24%. Dessa fatia, nada foi repassado aos trabalhadores. A produtividade da indústria ultrapassou os 40%. Os trabalhadores passaram a ser também remunerados de formas novas (por exemplo, porcentual sobre lucros e/ou resultado das empresas). Nada disso, no entanto, foi incorporado definitivamente aos salários. Apenas deu mais flexibilidade às empresas na determinação do custo do trabalho. Diz o Dieese: “em São Paulo, em valores absolutos, os rendimentos auferidos pelos contratados de forma flexibilizada foram significativamente inferiores aos contratados de forma padrão, constatação válida para todas as regiões pesquisadas”. E ainda: “a facilidade encontrada pelas empresas na contratação de autônomos garantiu aumento do número de contratos de forma flexibilizada, vantajosa para as empresas, uma vez que, além de se eximirem do recolhimentos de encargos sociais, podiam pagar salários menores do que os que seriam pagos mediante contratação padrão”. Tudo isso gerou um caldo de cultura que enfraqueceu a força dos trabalhadores e dos sindicatos, reduzindo sua capacidade de luta e resistência. É ainda do Dieese o diagnóstico sobre a redução do poder dos sindicatos: “a expectativa do coordenador técnico da entidade em São Paulo, Wilson Amorim, é de que a safra de acordos pelo país, que contemple a inflação, diminua para algo perto de 50%. No ano passado, ficou em 64%. “Há espaço restrito para campanha, que se concentra em reposição salarial”, afirmou. “As negociações são tensas e se prolongam além do prazo normal”. Diz o Dieese que 76% das categorias não tiveram nenhum tipo de reajuste e as demais conseguiram aumentos entre 10% e 50%. O instituto não contabiliza, nesse cálculo, as gratificações, que considera decorrência de uma política “arbitrária e clientelista”. FHC, já no início de seu governo, em maio de 1995, demonstrou sua disposição para com o movimento sindical. De forma emblemática, acionou o Exército contra a greve dos petroleiros e aplicou multas às entidades da categoria. O número de greves no país reduziu drasticamente. O funcionalismo público foi particularmente atingido e ficou quase oito anos com o seu salário congelado. Pesquisa recente divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indica que os gastos com pessoal das empresas públicas encolheram de 13,9%, em 1995, para 6,45%, em 2000. Durante a primeira metade da década de 1990, o salário mínimo – importante fator de distribuição de renda – continuou a perder poder aquisitivo e alcançou seu menor valor real no início em 1995. O reajuste de 42,86%, concedido em maio daquele ano, e os sucessivos aumentos reais nos anos seguintes repuseram parte dessa perda. Mesmo assim, em 1999, o salário mínimo correspondia a somente 2/3 do seu valor em 1989. A indexação do salário mínimo sempre foi rechaçada como elemento inflacionário, entretanto, o governo não teve o menor constrangimento de indexar tarifas públicas como, por exemplo, a de energia elétrica. Em 29 de junho de 1995, a Lei 9.069, em seu art. 70, já determinava que “o reajuste e a revisão dos preços públicos e das tarifas de serviços públicos far-se-ão conforme atos, normas e critérios a serem fixados pelo Ministro da Fazenda”. A política a cargo do ministro Malan elevou as tarifas telefônicas em quase 4.000%; na energia elétrica, o brasileiro paga o “imposto do apagão” por ter reduzido seu consumo e impedido a falta de energia. O discurso oficial para reduzir progressivamente os aumentos reais do mínimo sempre recorreu ao déficit da previdência como álibi, pois o aumento do salário-mínimo reflete-se diretamente nos gastos da previdência. As dificuldades da previdência, entretanto, estão vinculadas à própria política de criação de emprego. A redução do número de trabalhadores com carteira assinada e no pleno exercício de seus direitos e o aumento da informalidade do trabalho levaram a uma redução significativa do recolhimento para a previdência. Por outro lado, a previdência tem um grande papel de redistribuição de renda e não pode ser considerada somente do ponto de vista de despesa. Não bastassem todas as perdas salariais acumuladas nos oito anos de FHC, os trabalhadores assistem agora à retomada da inflação. Em novembro, segundo o economista Ricardo Braule, de uma equipe do governo que estuda mudanças no Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, o aumento dos preços foi “explosivo e generalizado”. Pela primeira vez desde o início do Plano Real, em 1994, o chamado núcleo da inflação, que exclui as tarifas públicas, passou de 2% ao mês. O IPCA acumulou 10,22% de janeiro a novembro e pode chegar próximo de 13%, com a alta de 2,5% esperada para dezembro. * Globalização e desemprego: breve balanço da inserção brasileira - Marcio Pochmann - São Paulo - Maio de 2002 - Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade da Prefeitura do Município de SP ** In A regressão do trabalho na Era FHC - Altamiro Borges *** Mercado de Trabalho no Brasil - Dieese **** Os Rendimentos do Trabalho no Brasil - Dieese A cultura legada por FHC: mais para Cabral do que para índio A política cultural dos tucanos, que pretendia acabar com o dirigismo estatal, fortaleceu o marketing e o dirigismo empresarial. Cultura, disse o minitro Weffort, tem que dar lucro. Em março de 1995, pouco depois de tomar posse, o ministro Francisco Weffort, ao anunciar mudanças na Lei Rouanet, que passaria a permitir a participação de agentes culturais e empresários na intermediação de recursos, ganhando comissões, lançou a máxima: “cultura tem de dar lucro”. Também em março de 1995, em entrevista ao Jornal da USP, afastava qualquer pretensão de “política dirigista em relação à cultura”. O ministério seria, assim, uma espécie de gerente na alocação dos recursos. Na entrevista ao Jornal da USP, essa política era definida com clareza ao propor uma nova visão da identidade nacional: “não como um critério nacionalista, no sentido tradicional. Mas de estímulo às instituições, às pessoas e aos grupos para que eles desenvolvam a sua criatividade de modos de expressão da identidade da nação, da democracia e da cidadania”. Essa postura, de subordinação ao mercado, não foi uma novidade no panorama da política cultural brasileira, mas a consolidação de tendências que vinham desde o final da ditadura e que já haviam sido manifestadas no próprio governo do general João Figueiredo, cujo ministro, Eduardo Portella, pretendia, já em 1979, “trazer o produto cultural para participar das estruturas de mercado como os demais produtos”. A adoção da Lei Sarney, em 1986, foi mais um passo nesse rumo, com o apoio de artistas como o ator Sérgio Brito, para quem “só os empresários salvarão a cultura nesse país”. Ou de produtoras culturais como Ana Lúcia Magalhães Pinto, diretora do Banco Nacional e financiadora do filme Quilombo dos Palmares, de Cacá Dieguez, que destacava a importância da nova lei para o marketing das empresas: “o que importa é a afirmação da identidade da empresa, de sua presença junto à comunidade”. Ainda nesse ponto FHC não foi um neoliberal de primeira hora. O marco da invasão da área da cultura pelo mercado foi o governo Collor, de 1990 a 1992, que acabou com a Embrafilmes, a Funarte, a Fundação Nacional do Cinema e a Fundacen, sob o pretexto de desperdício de recursos públicos. Com isso, deixou a cultura fora da ação do Estado, tendo acabado inclusive com o Ministério da Cultura. Depois, substituiu a Lei Sarney pela Lei Rouanet, criando condições para passar o financiamento das atividades culturais para o âmbito das empresas privadas. Tudo dentro de um princípio que o autor da lei, Sérgio Paulo Rouanet, definiu com rude clareza: “cultura, só com lucro”. Outro instrumento para o financiamento da cultura foi criado pelo governo de Itamar Franco, a Lei do Audiovisual, de 1993, permitindo às empresas financiarem a produção de filmes. Ação direta A ação direta do governo ocorreu principalmente em áreas como o patrimônio histórico e cultural (com apoio da Unesco e do Banco Mundial), a compra de livros para bibliotecas públicas ou a distribuição de kits para bandas de música do interior. O governo fez também megasexposições, como a Mostra do Redescobrimento Brasil + 500, de comemoração dos 500 anos de chegada dos portugueses, ou a exposição realizada no Petit Palais, em Paris, sobre o barroco brasileiro – ambas subordinadas ao marketing do governo. Como o ministro Weffort confessou: “as coisas da cultura têm custo baixo e rendimento em visibilidade alto”. O balanço dos oito anos do tucanato à frente da cultura mostra números gigantes, que correspondem ao tamanho do país, à diversidade de sua cultura e, como seria de se esperar, à dimensão de seu mercado. Nesse período, o número de empresas que aplicaram recursos em marketing cultural com base nas leis federais de incentivo à cultura cresceu mais de oito vezes. Passou de 350, em 1994, para mais de 3.000, em 2001. Em 2000, o setor mais beneficiado foi o musical (57,4 milhões de reais), depois as artes cênicas (56,4 milhões de reais) e as artes integradas, que envolvem mais de uma área cultural num mesmo projeto (37,3 milhões de reais). Em 2001, as empresas empregaram 376,3 milhões de reais, em 1.224 projetos – desse valor, 260 milhões de reais são de renúncia fiscal. Os principais investidores foram empresas estatais – a campeã foi a Petrobrás (111 milhões de reais, 30 % do total). Em seguida vieram a Eletrobrás, com 18 milhões de reais; o BEMG, com 14 milhões; e o Grupo Pão de Açúcar, que investiu 13 milhões de reais. O volume de recursos ajudou a criar uma indústria: transformou a atividade cultural no principal setor da criação de empregos no país, comparado com outros ramos da indústria. Citando dados da Fundação João Pinheiro, o critico literário José Castelo diz que, já em 1998, elas “criaram mais empregos do que qualquer setor industrial considerado isoladamente”. A retomada da produção do cinema brasileiro talvez seja a vitrine mais visível e brilhante desse período. Em 1993, só foram lançados três filmes, o fundo do poço da desorganização que veio da era Collor. Em 2002, um balanço do governo comemorou a realização de 1.199 filmes entre 1995 e 2002. Foram 190 longas, 669 curtas e 340 documentários. O investimento foi de 646 milhões de reais – 75 milhões do governo e o resto de renúncia fiscal, que se traduziram em filmes como Carlota Joaquina, princesa do Brasil, de Carla Camurati, que revela o desapreço pela história do país, típico desse período, ou O Que É Isso Companheiro, que pretende ser uma avaliação crítica da luta contra a ditadura militar. Ou em filmes que “poderiam” agradar Hollywood e conquistar o Oscar, como O quatrilho, de 1995, ou Central do Brasil, de 1998. O governo criou, em 2001, a Agência Nacional do Cinema (Ancine), para apoiar os produtores cinematográficos. Menos visível que o cinema, o setor de livros também traduz-se em números enormes. Em 2000, foram 45 mil títulos (entre novas edições e reedições) e 329 milhões de exemplares. Menos de 2 livros por habitante – menos ainda se considerarmos que, daquele total, 198 milhões (isto é, 60%) foram livros didáticos. Mas que tornam o país, diz Elmer Corrêa Barbosa, da Biblioteca Nacional, “o maior produtor de livros em toda a América Latina e [que] ganha da América Latina somada a Portugal. Só perde para a Espanha”. Um dos projetos de Weffort era dotar cada município brasileiro de uma biblioteca pública. Quando assumiu, cerca de 3.000 dos 5.800 municípios brasileiros (mais da metade) não tinha nenhuma. Até 2001, o governo ajudou a criar 1.200 bibliotecas e comprou cerca de 2.600 livros para cada nova biblioteca. Nestes oito anos de governo, as compras do governo (Minstério da Educação e MinC) injetaram 4 bilhões de reais no mercado do livro, eqüivalendo a 25% do faturamento do setor – foram distribuídos cerca de 1 bilhão de livros. O Estado brasileiro é “o maior comprador de livros do mundo”, diz Weffort. No mundo da música, independentemente da ação do governo, ocorreu uma grande mudança tecnológica. Em 1989, venderam-se 56 milhões de LPs (vinil), contra 2,1 milhões de CDs. Em 1995, os números praticamente se inverteram: a venda de LPs caiu para 7,3 milhões e a dos CDs alcançou 56,8 milhões. Hoje, cerca de 100 milhões de CDs são vendidos por ano e a produção de vinil desapareceu. A mudança tecnológica teve repercussões na qualidade das produções, com a generalização de reedições de sucessos do passado, de antologias populares, que passaram a concorrer com os artistas atuais. Além disso, a facilidade técnica das gravações e da reprodução dos discos (com investimentos significativamente mais baixos do que na produção em vinil), permitiu também o surgimento de inúmeras gravadoras independentes. Assim, a ação do governo voltou-se para o apoio às orquestras sinfônicas e às bandas de música em projetos de recuperação de pautas e gravação de música erudita colonial. Um exemplo é o apoio ao projeto Acervo da Música Brasileira – Restauração e Difusão de Partituras, sob patrocínio da Petrobrás, baseado no Museu de Música de Mariana (MG), voltado à restauração das obras dos mestres capelas das igrejas coloniais, esquecidas desde tempos imemoriais nos arquivos das sacristias. O projeto prevê o lançamento de nove discos até o final de 2003. Outro projeto, nessa linha, foi a História da Música Brasileira, dirigido por Ricardo Kanji e por Ricardo Maranhão, para mapear o período que vai da Colônia a nossos dias. Mas o grande volume de investimentos nesta área, o prato de resistência da ação do ministério, foi a distribuição de kits de instrumentos para bandas de música – foram 300 por ano, ao preço de 17.500 reais, enviados principalmente a cidades do interior. Foi gasto mais dinheiro com bandas de música do que com orquestras sinfônicas. O Ministério da Cultura voltou-se também para a restauração, recuperação e conservação de sítios e cidades históricas, por meio do Projeto Monumenta, com apoio do Banco Mundial e da Unesco. Dirigismo O balanço da ação cultural do governo, examinado desse ângulo, dos números, esconde, na verdade, problemas graves. As empresas passaram a intervir na área cultural – não o governo. Nestes oito anos, as empresas particulares investiram três vezes mais que o governo, segundo o relatório da equipe de transição do presidente eleito, Luís Inácio Lula da Silva. Na gestão tucana, foram captados 2 bilhões de reais por meio das leis de incentivos à cultura, enquanto o governo só investiu 746 milhões de reais. “É importante destacar que os recursos da renúncia fiscal, na sua maior parte, são provenientes das empresas estatais, portanto, duplamente públicos”, diz o relatório. São opções que revelam, na verdade, a falta de uma política cultural, raiz dos problemas que os críticos assinalam. A recusa ao dirigismo estatal é apresentada como uma ação cultural democrática, reforçada pela livre ação do mercado. Nada mais enganoso: a omissão do governo foi substituída nessa área sensível pelo dirigismo empresarial. Esse dirigismo teve duas conseqüências nefastas: a concentração dos recursos nas áreas mais ricas e uma modelação da elaboração cultural pelo mercado. Deixado ao sabor das decisões das empresas doadoras de recursos, a captação de dinheiro ficou concentrada na região sudeste (50% no Rio e 28% em São Paulo). O maestro Júlio Medaglia diz que os sete estados mais ricos ficaram com 92% das dotações na sua área, enquanto aos sete mais pobres coube apenas 0,5%. Isto seria o mesmo, diz o maestro, que distribuir comida de graça na Avenida Paulista e deixar o sertanejo da caatinga morrer de fome. O outro problema é o surgimento de uma “cultura do marketing”, uma estética ditada não por um governo autoritário “mas pelos departamentos de marketing, publicidade e promoções das empresas”, diz o crítico José Castelo. “A questão central não era tanto a origem do dinheiro, uma vez que no incentivo fiscal ele é também, em última instância, público, mas sim a ausência de uma política que gerenciasse seu uso”, diz ele. Os departamentos de marketing, eventos e promoções das empresas passaram a dominar a área e, numa “perversão grave”, como diz ele, muitos artistas e produtores culturais teriam passado a arquitetar projetos que viessem a mostrar sintonia com as políticas empresariais”, que “decidem quais projetos merecem vir à luz ou não”, diz o crítico. É uma “cultura de resultados”, bem ao gosto da ideologia gerencial dominante, e que se revela seja no cândido otimismo do ministro Weffort, seja na crítica ácida dos artistas. Weffort comemorou o aumento do número de expectadores do cinema brasileiro: de 36 mil, em 1992, para sete milhões de espectadores, em 2001. Um ano inteiro de expectadores não chega ao número que o cinema estrangeiro registra em um mês – aliás, a contrário do que diz o governo, entre 1991 e 2001, o público de filmes de fora do país cresceram de 7,6 milhões, ao mês, para 7,8 milhões. Pouco antes de falecer, em dezembro de 2001, a cantora Cassia Eller queixavase da estética do lucro: “Não consigo mais me relacionar com ninguém. Só sirvo para ganhar dinheiro”. Para o dramaturgo Sérgio de Carvalho, da Companhia do Latão, o caminho para a cultura do país está noutra direção: “o dramaturgo assim como todo artista tem de pensar em si mesmo como uma força social útil”. Em 1999, artistas de teatro lançaram o manifesto Arte contra a Barbárie, denunciando a política cultural tucana. Atacando a cultura do marketing, denunciavam que as empresas premiavam apenas uma “política de eventos”. Os manifestantes diziam recusar a visão mercadológica de transformar a arte em “produto cultural”. O que se chama de mercado de artes, dizia o manifesto, não passa de uma indústria de diversão – a responsabilidade dos artistas é criar “bens simbólicos” e não produtos, concluíam. As críticas vieram mesmo de empresários do setor. Um deles é Sérgio Reis, diretor do Grupo Positivo (que produz, entre outras coisas, livros didáticos). Para ele, “quem faz cultura pelo incentivo fiscal não comprou a cultura, não percebeu sua importância na formação de imagem. É só um mercantilista e depredador, do tipo que pega a jabuticaba no pé, arrebenta os galhos e vai embora”. O incentivo fiscal devia ser apenas um detalhe, diz. Mas o que domina hoje é “amor pago, é prostituição”. Por outro lado, os incentivos não deixaram de ter um viés político, ao que tudo indica. O relatório da equipe de transição do governo Lula denuncia que o projeto Monumenta, que teve um orçamento de 200 milhões de dólares e atuou nas cidades de Olinda, Recife, Salvador, Ouro Preto, São Luís, Rio e São Paulo, excluiu cidades históricas, como Belém (PA) e São Luís (MA), por serem governadas por partidos de oposição, o PT e o PDT. A política geral do governo, de corte dos gastos públicos para geração do superavit primário exigido pelo FMI, também prejudicou o projeto para a criação de bibliotecas municipais. O ministério programou gastos de 13,4 milhões de reais naquele programa, mas só teve dinheiro para pagar 2,2 milhões de reais (16,6% do total). A passagem tucana pelo governo deixa alguns símbolos reveladores. Um eles é a contradição entre a valorização da arte barroca colonial, mostrada fora de seu contexto em exposições monumentais, e a falência dos municípios brasileiros – que se traduz, neste particular, na degeneração de cidades históricas, entre elas a Capital do Barroco, Ouro Preto, ameaçada pela Unesco de perder o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Outro símbolo foram as comemorações oficiais dos 500 anos do Brasil. A festa oficial de Porto Seguro, no dia 22 de abril de 2000, repetiu, em palco e momento privilegiados, sob os olhos do mundo, o reiterado fiasco da relação colonizada e subalterna dos setores conservadores da classe dominante brasileira com os centros de comando estrangeiros. Nela, o homenageado foi, como sempre, o colonizador, presente na figura do presidente português Jorge Sampaio. O povo foi alijado pelo forte aparato policial militar, mobilizado para manter, a pelo menos 60 quilômetros de distância, índios, negros, sem-terra, trabalhadores, oposicionistas, democratas, forças sociais e políticas. Outro símbolo, significativo, dessa mentalidade colonizada foi a gafe de FHC num jantar com cerca de 100 empresários coreanos, em Seul, em janeiro de 2001. Desmerecendo o cargo e seu povo, o presidente falou em inglês. Advertido de que não era entendido e que seu discurso precisava ser traduzido ao coreano, desrespeitou também seus anfitriões, que não são obrigados, em seu próprio país, a falar um idioma estrangeiro. O presidente poliglota saiu-se com esta: “imaginei que o inglês fosse uma língua mais familiar na Coréia”. Se as épocas históricas deixam o registro literário significativo de suas contradições e realizações, qual seria o escritor ou o romance que representa a década de 1990, o predomínio do tucanato? Ele não está à vista. Por isso, o historiador do futuro, que olhar para esta época e tentar encontrar seu signo literário, terá que se contentar com os livros de Paulo Coelho, o fast food da literatura e duplo perfeito de FHC: tiveram origem no mesmo campo progressista e democrático (ele foi o autor de algumas letras geniais cantadas por Raul Seixas), mas passaram para o outro campo, o campo dominado pelo mercado, pela pobreza teórica e cultural, e pela avaliação das obras, de arte ou de outro tipo, pelo desempenho de suas vendas. Como o “mercado” procurou amarrar o novo presidente No último ano, o oitavo, o “mercado” e os financistas de FHC espalharam o terror com o argumento de que a única alternativa ao caos seria a continuidade da política econômica. O ano de 2002 começou relativamente bem, com a queda do dólar, que recuou de perto de 2,75 reais para menos de 2,50 reais. A economia americana, que ficara em recessão por quase um ano, entre o final de 2000 e de 2001, começou uma modesta recuperação. Logo no seu início, a candidatura de Roseana Sarney à presidência da República, que representava um golpe para o grupo palaciano que definira apoio a José Serra, veio abaixo, no escândalo provocado pela exibição, no Jornal Nacional, do dinheiro encontrado na sede da empresa da governadora e de seu marido. E José Serra começou a subir nas pesquisas de intenção de voto para presidente. Tudo indicava que no último ano de seu governo, o oitavo ano, Fernando Henrique e sua equipe conseguiriam fazer seu sucessor. E apostaram todas as cartas na continuidade. Com o mês de maio, no entanto, vieram as incertezas. A candidatura de Serra começou a ser atropelada pela de Ciro Gomes, do PPS mas com grande apoio no PFL – um sinal de que o dissenso rondava o bloco governista. A recuperação da economia americana se mostrou tímida, o que indicava que a crise no centro do sistema capitalista não havia sido debelada. E, pela primeira vez em muitos anos, o Brasil começou a enfrentar dificuldades para rolar sua dívida interna. O Banco Central já havia inventado uma série de fórmulas para proteger os devedores em dólar da escalada da moeda americana no ano anterior. Quando o dólar disparou de novo, em maio de 2002, a caixa de truques do BC estava vazia e os que carregavam títulos do Tesouro do Brasil começaram a ver seus papéis desvalorizados, dificultando a rolagem da dívida. Nesse contexto, a candidatura de Lula começou a subir nas pesquisas. E portavozes do governo e do chamado mercado começaram a multiplicar declarações sobre o caos que viria com a vitória da oposição. Cobravam de todos os eventuais sucessores de FHC um compromisso público com a manutenção da política econômica. A pressão maior recaiu sobre Lula. E, na medida que ele foi-se distanciando dos outros, as pressões foram aumentando. As cobranças eram bem claras: garantias de continuidade das atuais políticas monetária e fiscal e do regime de liberdade e flutuação do câmbio, bem como de cumprimento dos contratos da dívida pública interna e externa. A instabilidade cambial era causada pela recusa dos grandes credores (bancos e fundos de investimento) de continuarem comprando novos títulos do governo quando os antigos venciam. Essas grandes instituições passaram a comprar dólares entre si, o que fez com que rapidamente a taxa de câmbio subisse. Logo, muitos outros estavam fazendo a mesma coisa e iniciou-se uma grande fuga de dólares para o estrangeiro, principalmente por meio das CC-5, que permitiram a evasão, até outubro de 2002, de 8,5 bilhões de dólares. Frente à instabilidade e às pressões dos grandes financistas, a atitude do governo FHC foi sempre de leniência. O Banco Central tendeu a aceitar os altos juros pedidos pela rolagem da dívida, nada fez e nada faz para diminuir o poder de barganha dos grandes bancos. Essa omissão das autoridades ajudou a criar o clima de desastre iminente. Assim surgiu o axioma que constrangeu a sociedade e manietou os candidatos: os mercados precisavam ser tranqüilizados. O próprio governo FHC, por meio de declarações do ministro da Fazenda e do presidente do Banco Central, juntou-se à pressão do setor financeiro no sentido de que os candidatos dessem as “garantias” pleiteadas. Ao final de junho, os quatro principais candidatos começaram a declarar, de diferentes formas, sua adesão à pauta do “mercado”, assegurando o respeito aos contratos e garantindo a continuidade do câmbio flutuante, das metas de inflação e da política de superávits fiscais. Lula declarou um compromisso parcial de adesão a essa pauta com a chamada Carta ao Povo Brasileiro, em 22 de junho: “nosso povo constata com pesar e indignação que a economia não cresceu e está muito mais vulnerável, a soberania do país ficou em grande parte comprometida, a corrupção continua alta e, principalmente, a crise social e a insegurança tornaram-se assustadoras. (...) O sentimento predominante em todas as classes e em todas as regiões é o de que o atual modelo esgotou-se. Por isso, o país não pode insistir nesse caminho, sob pena de ficar numa estagnação crônica, ou até mesmo de sofrer, mais cedo ou mais tarde, um colapso econômico, social e moral.” Mais à frente, no entanto, a Carta explicita: “vamos preservar o superávit primário o quanto for necessário para impedir que a dívida interna aumente e destrua a confiança na capacidade do governo de honrar seus compromissos. (...)A estabilidade e o controle das contas públicas e da inflação são hoje um patrimônio de todos os brasileiros” e continua citando explicitamente a garantia dos contratos e o cumprimento dos acordos já firmados, as metas inflacionárias e a preservação dos superávits fiscais. A Continuidade Mas a pretensão dos grandes capitalistas nacionais e internacionais – e da própria equipe econômica de FHC – de influenciar no programa do próximo presidente da República ia além das simples declarações de intenção e dos compromissos públicos. Exigia também a assunção de responsabilidades institucionais que dessem segurança de cumprimento das promessas anunciadas. Incluíam a aceitação de um Banco Central independente dos poderes Executivo e Legislativo que pudesse operar “tecnicamente”, sem estar sujeito à “pressão política” – o que passou a ser chamado autonomia do Banco Central; de uma política monetária “responsável”, que garantisse a “estabilidade monetária” e da assinatura de um novo acordo com o FMI, assegurando o monitoramento da ação do novo governo, pelo menos no seu primeiro ano. Assim nasceu o novo acordo com o Fundo, assinado em 4 de setembro, que diz textualmente que seu objetivo é “garantir a estabilidade econômica e proporcionar um arcabouço para a continuidade das principais políticas macroeconômicas no ano vindouro [2003]”. O acordo também traz como parte das metas de “desempenho estrutural” a obrigação para o governo brasileiro de aprovar, até dezembro próximo, a Proposta de Emenda à Constituição nº 53, de 1999, que altera o artigo 192 da Constituição, o que permitirá “ao próximo governo, submeter ao Congresso uma proposta de autonomia operacional do Banco Central do Brasil”. Vencidas as eleições, os representantes do novo governo reafirmaram os compromissos assumidos durante as turbulências anteriores ao primeiro turno. E essas medidas, evidentemente, representam limitações adicionais para o necessário enfrentamento de outras restrições herdadas do governo Fernando Henrique Aceitar a permanência de metas inflacionárias como único objetivo para a política monetária, significa manter uma política monetária apenas comprometida com a desvalorização da moeda e não com o crescimento, com uma política que restringe o crédito bancário e mantém os juros elevados. A manutenção da meta do superávit primário também representa problemas adicionais. A dívida cresceu por causa dos juros altos e da desvalorização do real. Comprometer-se a conseguir grandes superávits, ao tempo em que se tem que manter uma política monetária de juros altos e uma política de câmbio flutuante, significa assumir um grande risco de não conseguir atender ao maior anseio dos brasileiros: retomar o desenvolvimento econômico. A concessão de independência do Banco Central permitirá que uma diretoria com mandato fixo, que só poderá ser destituída por decisão da maioria do Senado, seja escolhida para levar a cabo uma determinada política monetária, cambial e financeira. No caso atual, um Banco Central “independente” significará, certamente, o compromisso de continuar praticando a atual política monetária de metas inflacionárias – às custas de taxas de juros elevados e de restrição ao financiamento bancário – e a política de ampla liberdade para a movimentação de capitais, o que deixa o país refém das oscilações do mercado financeiro mundial. Em especial, porque os defensores da “independência”, inclusive o FMI, entendem que a ela só serve se for para o BC agir “tecnicamente”, sem mais pressões políticas “indevidas” por parte do governo e do Congresso Nacional. E, para essas instituições, agir tecnicamente significa executar uma política monetária e cambial que mantenha, no fundamental, as mesmas características das existentes até 2002. Uma política que esteja de acordo com o figurino “técnico” em vigor. Desde o início do Plano Real até 1998, o que se considerava um bom regime cambial era aquele que mantinha a moeda nacional estável em relação ao dólar, fazendo com que a taxa de juros da economia fosse mantida elevada. O país podia ficar estagnado, desde que a moeda não se desvalorizasse. Após levar o país à insolvência em 1998, a política cambial recomendada, a melhor “tecnicamente”, passou a ser a da livre flutuação do dólar. Agora eles querem que permaneça o livre câmbio, mesmo que haja fuga de capitais e o país viva sempre na incerteza e na instabilidade cambial. Um Banco Central atuando de modo “independente” do governo federal traz uma enorme limitação à capacidade de implementar políticas econômicas diferentes das atuais, que, não por coincidência, são tão de agrado do “mercado”. Por exemplo, será impossível retomar a política de aumento do investimento estatal se a política monetária mantiver a taxa de juros elevada ou não permitir o aumento da concessão de créditos por parte do sistema bancário. Também não será possível qualquer medida mais efetiva de renegociação da dívida externa se o BC sustentar a taxa de câmbio flutuante e continuar no comando exclusivo das reservas de divisas. O poder de barganha do país, como devedor soberano, será diminuído. Bacen independente Na prática, o Banco Central “independente” se constituirá em um governo a parte, que limitará a política econômica do novo presidente eleito; inclusive sua política fiscal, ou seja, a tributação e o gasto público. Com isso, o novo governo ficará “enquadrado”, limitado às mesmas condicionantes das políticas monetárias e cambiais atuais. É claro que leis podem ser mudadas ou mesmo uma diretoria do Banco Central poderá ser demitida. Mas isso não poderá ser feito sem um custo político altíssimo e nem poderá ser decidido com a necessária surpresa. Com o enorme poder de retaliação que o capital financeiro passou a ter no país a partir do governo FHC, uma mudança na direção do Bacen dará oportunidade à especulação para levar o país à bancarrota antes que o governo possa adotar medidas de proteção à economia nacional e aos interesses do povo. Mudanças no Banco Central sem dúvida terão que ser feitas. Mas, ao contrário do que pretende o FMI e os banqueiros, essas mudanças devem ser para restringir a atual independência com que age o Banco Central. Sem ter nenhuma limitação para gastar, só na gestão de Armínio Fraga, o Banco Central já acumulou prejuízos, em valores corrigidos, de 35 bilhões de reais, que foram integralmente repassados ao Tesouro Nacional e ao contribuinte. O prejuízo do Bacen é maior do que o déficit que dizem existir na Previdência Social. Para executar a política adequada ao “mercado”, emitem títulos, assumem imensos riscos de desvalorização cambial, sem se preocupar com a existência de recursos no orçamento ou com a capacidade do Tesouro de suportar tais custos. Enquanto financistas e outros grandes capitalistas são salvos ou enriquecem com sua política, o Banco Central continua reclamando de mais austeridade nos gastos públicos, recomendando que se cortem despesas nos serviços públicos e que os reajustes nos benefícios da Previdência sejam limitados, reduzindo cada vez mais os já modestos rendimentos de aposentados e pensionistas. A reforma necessária ao BC, aquela que vai ensejar a mudança expressa na eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, deve ser de, como qualquer outra autoridade, ter limites para seu endividamento e gasto. Sua ação, embora muito importante, deve ser coordenada com a política fiscal; o que se precisa, é fazer chegar ao Banco Central a responsabilidade fiscal. Antes de 1994, dizia-se que o Tesouro Nacional vivia com receitas inflacionárias geradas no Banco Central e que se devia separar as duas contas. Depois, o BC ficou tão independente que submeteu o erário à sua autoridade, endividando-se e mandando a conta para o Tesouro. Agora, o que o país precisa é libertar o Tesouro do Banco Central e de seus financistas. Ao contrário de mais “autonomia”, o Bacen deve submeter-se à política econômica do governo e não ter mais liberdade para, enfim, ser o próprio formulador da política governamental, seguindo os interesses do mercado e não necessariamente os do país e seu povo. Publicação do gabinete do deputado Sérgio Miranda – PcdoB-MG
Baixar