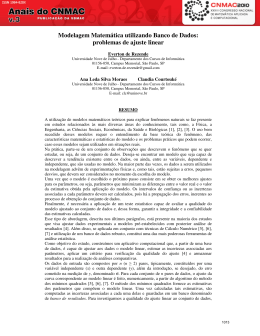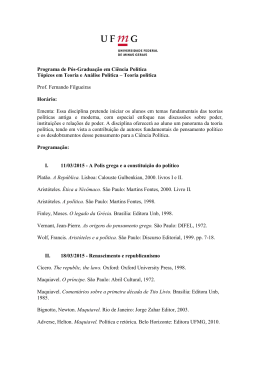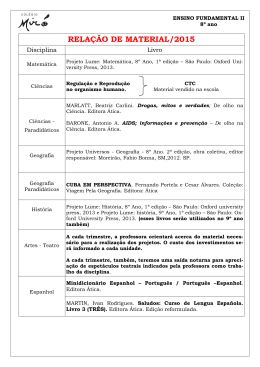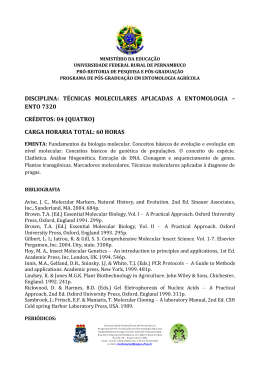FUNÇÃO PRAGMÁTICA DA JUSTIÇA NA HERMENÊUTICA JURÍDICA: LÓGICA DO OU NO DIREITO?1 Tercio Sampaio Ferraz Junior* Juliano Souza de Albuquerque Maranhão** 1. INTRODUÇÃO: INTERPRETAÇÃO JURÍDICA, JUSTIÇA, RAZÃO E LÓGICA Neste trabalho, procura-se examinar a função do valor justiça na interpretação jurídica. A busca de critérios para a identificação do justo e injusto constitui tema central da atividade da interpretação jurídica e a transforma em tarefa bem mais árdua do que a mera identificação do sentido do texto normativo por meio das regras de uso lingüísticas. Não se trata somente de revelar ou parafrasear o sentido da formulação da norma, mas de encontrar ou reconstruir esse sentido de forma a solucionar situações de conflito com justiça. Essa peculiaridade coloca um sério desafio à possibilidade de determinação unívoca do sentido das normas e caracteriza exatamente aquilo que há de específico na interpretação jurídica face à interpretação do discurso ordinário. A interpretação jurídica, como tarefa dogmática, ocorre num amplo espectro de possibilidades. Envolve o direito como um fenômeno complexo, na perspectiva da decidibilidade de conflitos. O jurista não interpreta do mesmo modo em que o faz o ser humano, ordinariamente, quando procura entender a mensagem de alguém numa simples conversa. Nesse caso, o que se busca é entender o que foi comunicado, captando o sentido a partir de um esquema de compreensão próprio de quem ouve, a fim de orientar suas reações e subseqüentes ações. Já o jurista pressupõe que, no discurso normativo, são fornecidas razões para agir de um certo modo e não de outro. Essas razões, portanto, se destinam a uma tomada de posição diante de diferentes possibilidades de ação nem sempre congruentes, ao contrário, em conflito. Pressupõem, assim, que o ser humano age significativamente, isto é, atribui significação à sua ação. Como essa significação conhece variações subjetivas, em termos do que se entende como justo, ou injusto, a possibilidade de conflitos reflexos, isto é, conflito sobre o conflito, pode levar a uma escalada de impasses e intransigências. 1 Artigo publicado originariamente na Revista do Instituto de Hermenêutica Jurídica, 2007. * Doutor em Direito (USP). Doutor em Filosofia (Mainz/Alemanha). Professor dos Programas de Pós-Graduação do Direito da USP e da PUC/SP. Vice-Presidente do Instituto Brasileiro de Filosofia. Advogado (OAB/SP). 1 A submissão dos conflitos a regras que sobre ele atuam objetivamente (a norma legal e seus correlatos, o acordo alcançado institucionalmente mediante regras contratuais, a decisão judicial) é uma espécie de exigência da convivência que levou, no passado, à formulação do conhecido aforisma ubi jus ibi societas, ubi societas, ibi jus. A interpretação jurídica pressupõe, tradicionalmente, essas regras e admite até, na sua ausência, o encontro delas mediante procedimentos próprios. Por meio dela, o quadro conflitual ganha contornos e limites, dentro dos quais uma decisão se torna possível. A interpretação jurídica cria, assim, condições para tornar decidível o conflito significativo, ao trabalhá-lo como relação entre regras e situações potencialmente conflitivas2. O que se busca na interpretação jurídica é, pois, alcançar um sentido válido não meramente para o texto normativo mas para a comunicação normativa, que manifesta uma relação de autoridade. Trata-se, portanto, de captar a mensagem normativa, dentro da comunicação, como um dever-ser vinculante para o agir humano. Na identificação ou reconstrução dessa diretiva, desse dever, há sempre a potencialidade de erupção da questão sobre a legitimidade desse sentido (da comunicação e portanto da própria relação de autoridade) como justo, o que leva à questão: o que é o justo? Com isso é possível apreciar o modo como a especulação filosófica ganha relevo dogmático. Trata-se da confluência entre pensar zetético e dogmático3. Questões zetéticas têm uma função especulativa explícita e são infinitas (uma questão sempre abre espaço para uma questão sobre a própria questão e assim por diante). Nesses termos, o problema do que é a justiça é, tipicamente, uma questão zetética que constitui o cerne da reflexão jusfilosófica desde suas origens. Questões dogmáticas têm uma função diretiva explícita e são finitas (possibilitar uma decisão mediante pontos de partida que não são questionáveis, ainda que interpretáveis). Nesses termos, a adequação de uma pena à conduta é uma questão dogmática. ** Doutor em Direito (USP). Professor Visitante do Programa PET/CAPES da USP. Membro do Instituto Brasileiro de Filosofia. Advogado (OAB/SP). 2 Aqui é preciso distinguir a atividade argumentativa de advogados, diante de juízes, quando buscam uma decisão favorável ao seu cliente, da tarefa posta ao jurista, quando busca uma significação que possa ser válida para todos os envolvidos no processo comunicativo normativo. É o que se chama de interpretação doutrinária. É nesse contexto que se procura identificar o papel organizador do valor justiça num conjunto normativo a ser interpretado juridicamente. A distinção entre as duas atividades é importante, pois não será objeto de nossa investigação uma lógica da argumentação jurídica no sentido de Toulmin (The uses of argument. Cambridge: Cambridge University Press, 1958) que buscou superar limitações da lógica formal ao interpretar a lógica não como estrutura mas como procedimento regrado de oposição de argumentos e contra-argumentos. Há um esforço de formalização do raciocínio desenvolvido no processo de oposição de argumentos na linha do modelo de Toulmin, que resultou nas chamadas lógicas de argumentação derrotável. Ver PRAKKEN, H.; VREESWIJK, G. Logics for Defeasible Argumentation. In: GABBAY, D.; GUENTHNER, F. (Eds.). Handbook of Philosophical Logic. 2. ed. Dordrecht: Kluwer, 2002. v. 4. p. 218-319. Se a lógica de argumentação jurídica é uma lógica própria, distinta da argumentação ordinária, também é uma questão que não vamos explorar. 3 Cf. FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito. São Paulo: Atlas, 2004, ponto 1.3. 2 Obviamente, na interpretação dogmática do razoavelmente adequado, está implicada, de forma mais ou menos explícita, a questão do justo, momento em que zetética e dogmática confluem. Nesse sentido, é oportuna a menção a Castanheira Neves, para quem “justa” deve ser toda a “normativo-constitutiva realização do direito. E se a interpretação jurídica concorre para essa realização, então quer isto dizer que também não é cognitiva ou teoreticamente, mas antes normativa e praticamente que essa interpretação se deve intencionalmente compreender e metodicamente definir, de modo que a boa ou válida interpretação não será aquela que numa intenção da verdade (de cognitiva objectividade) se proponha a exegética explicitação ou a compreensiva determinação da significação dos textos-normas como objecto, mas aquela que numa intenção de justiça (de prática justeza normativa) vise a obter do direito positivo ou da global normatividade jurídica as soluções judicativo-decisórias que melhor realizam o sentido axiológico fundamentante que deve ser assumido pelo próprio direito, em todos os seus níveis e em todos os seus momentos”4. Veja-se, por exemplo, no plano da interpretação dogmática, a discussão referente à conseqüência jurídica do dano patrimonial. No dano patrimonial, indeniza-se o patrimônio que foi injustamente lesado (justiça comutativa). Um dano ao patrimônio é, pois, suscetível de avaliação em dinheiro, sendo mais fortemente sujeito à restituição pelo equivalente e plenamente sujeito à avaliação pecuniária. A interpretação, nesse caso, pede razoabilidade, que tem a ver com uma comutatividade quantitativa (princípio da reparação integral). Aí o justo depende de essa comutatividade estar ou não demonstrada (justo como mensuração proporcional). Já a interpretação que conduz à eventual possibilidade de extrapolação da indenização para tomá-la como uma pena tem ver com danos extra-patrimoniais, que tornam indenizáveis prejuízos que violam a esfera existencial da pessoa humana ou a honra objetiva das pessoas jurídicas. É nesse terreno que a questão do valor excessivo da indenização pode admitir a sua transformação em pena. O justo, nesse caso, tem a ver com o senso de razoabilidade do juiz (justo como senso comum). Por isso, afora os parâmetros oferecidos 4 Cf. CASTANHEIRA NEVES, António. O actual problema metodológico da interpretação jurídica – I. Coimbra: Coimbra Editora, 2003, p. 102. 3 pelo Código Civil em certos casos, faz sentido, então, o surgimento de exigência da modicidade da indenização, deixando-se ao arbítrio do juiz a avaliação do dano5. A conexão entre justiça e retribuição deita fundas raízes na cultura ocidental, revelando até traços mitológicos nos seus modelos éticos6. Ora, como as discussões filosóficas sobre a noção de justiça estão implicadas, de algum modo, na questão da retribuição, como é o caso do problema referente ao caráter justo ou injusto de uma indenização que tenha ou não caráter de pena, o que pressupõe alguma noção (zetética) implícita ou explicita de justiça, o estudo dos modelos retributivos elaborados pela hermenêutica dogmática, a contar da famosa regra de Talião, está na base da discussão da própria justiça das retribuições. A concepção aristotélica da justiça como virtude de distribuição e comutação com base na igualdade proporcional tem a ver, sem dúvida, com a questão da retribuição7. A proporcionalidade do valer um pelo outro é, neste sentido, um fator essencial nas discussões sobre a justiça. Mesmo quando o termo deixa o estrito campo de uma ética da virtude e passa, por exemplo, a uma ética de valores, ou ainda quando é tratado em sentido estrutural ou funcional (justiça como instituição, realização social da sociedade justa), o papel da proporcionalidade nas equiparações e diferenciações não deixa de ser relevante. Na busca dessa proporcionalidade entra em discussão o termo razão. Razão (reason, raison, Vernunft, ratio, logos) é um substantivo cuja origem está no verbo reri, que em seu sentido primitivo significava “tomar algo por algo”, portanto ligar “coisas” entre si, donde estabelecer relações e, daí, calcular, pensar. Quando os romanos traduziram por “ratio” a relação matemática pensaram em “logos”, na cultura grega, como uma palavra que originariamente significara “juntar”, “unir”, “por em conjunto”, de onde surgiu a idéia de ”logos” como “palavra”, isto é, como signo que sintetiza, num som (fonema), vários significados. A idéia de razão como relacionar presidiu, no desenvolvimento do pensamento ocidental, o estabelecimento de diversos princípios, como os do pensamento correto (lógica), 5 Cf. ASSIS, Araken de. Liquidação do dano. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 88, n. 759, p. 11-23, 1999. Aliás, a jurisprudência (ver STJ, RE n. 216.904-DF) fala, nesses casos, de dano moral e de arbitramento da indenização, sendo nesse contexto que aparece a exigência de moderação (razoabilidade como comutatividade qualitativa). Ou como diz Judith Martins Costa: “A rigor, não é possível falar em ‘indenização’ do dano nãopatrimonial. Nestes casos, a entrega de uma soma em dinheiro tem uma função ao mesmo tempo satisfativa à vítima e punitiva do autor do dano”, donde “a denominação do Direito anglo-saxão, ‘punitive dammages’, que vem sendo aceita pela jurisprudência brasileira” (MARTINS-COSTA, Judith; TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (Coord.). Comentário ao novo Código Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2003, v. 5, t. II, p. 350). 6 Cf. EHRENBERG, Victor. Die Rechtsidee im frühen Griechentum, Leipzig, 1921, p. 6 e segs. 4 da pesquisa correta (metodologia), da correta justificação de juízos valorativos (retórica), do correto comportamento em face das diversas situações vitais (prudência). Neste sentido, a razão, tomada como núcleo essencial da natureza humana (o ser humano como ser racional), acaba por tornar-se para o homem uma espécie de valor em si, um valor que incorpora a própria dignidade humana, não constituindo um meio para obtenção de outros valores, mas o valor que dá sentido aos demais. No campo da interpretação jurídica, o tema da racionalidade na identificação do justo, chama a atenção para o tema lógica jurídica. O tema “lógica jurídica” é normalmente associado entre os operadores do direito a cânones interpretativos capazes de revelar a intenção do legislador ou esquemas retóricos de interpretação como os argumentos a simili, a contrario, a maiore ad minus, etc. Essa visão guarda raízes numa concepção tradicional que vê a lógica jurídica como “interpretação lógica”, ao lado da interpretação sistemática, teleológica, histórica, etc. dentro do “método” interpretativo cunhado pelo pensamento dogmático alemão do século XIX, a partir da obra de Savigny e a escola histórica do direito. A escola histórica, na esteira de Savigny, nasceu como uma tentativa de identificação e sistematização de normas, uma construção de um método capaz de identificar e organizar um ordenamento8. O método de Savigny de identificação dessas regras a partir de “nexos histórico-orgânicos” capazes de se aproximar e revelar “o espírito do povo” (Volksgeist) foi gradualmente cedendo espaço à ordenação e sistematização de regras pela ciência jurídica, e já com Puchta, tais normas começaram a adquirir um status independente de suas raízes históricas e sociais, cuja autoridade extraía-se da própria racionalização conferida pela dogmática. Esse passo significou um rompimento na escola histórica, que evoluiu para a chamada “jurisprudência dos conceitos” (Begriffsjurisprudenz) de Gerber, Laband e do primeiro Jhering. Circunscrevia-se o direito a uma discussão sobre conceitos e institutos jurídicos fundamentais construídos (ou criados) pela ciência, a partir do material jurídico disponível, dos quais seria possível extrair de forma unívoca, pela “sistematização” e “dedução lógica”, as normas gerais a serem utilizadas para, por subsunção, solucionar casos práticos. O significado da “lógica” e da “dedução” no raciocínio jurídico nessa tradição não pode ser identificado com a lógica dedutiva clássica (aristotélica) disponível à época, ligando- 7 Sobre Aristóteles, ver FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Estudos de filosofia do direito. São Paulo: Atlas, 2003, p. 141 e segs. 8 Cf. DIAS, Gabriel Nogueira. Rechtstheorie bei Hans Kelsen (1881-1973). Tübingen, 2004. 5 se mais a intuições sobre sistematização, tal como a classificação das normas apontando o “genus proximum” e a “differentia specifica”9, a preservação de unidade ou consistência. Savigny, por exemplo, já enfatizava que a interpretação dogmática não poderia ser reduzida a nexos meramente lógicos e mesmo Jhering que, em sua primeira fase, foi um entusiasta de uma Logik des Rechts, ressaltava o caráter criativo desta “lógica”, que não se reduzia à pura lógica formal e a relações de conseqüência10. Uma oposição entre uma lógica jurídica e a lógica formal foi tratada, na década de 50 do século XX, em termos da chamada lógica del razonable, que ganhou espaço entre os juristas, mediante a obra de Recaséns Siches11. Não vamos entrar na discussão nos termos de Siches. Seguindo Engisch, podemos chamar essa lógica jurídica tradicional de “lógica material”, entendida como um conjunto de cânones interpretativos e princípios de argumentação para que se obtenham pautas de comportamento a partir de textos ou comunicações normativas12. A essa opõe-se a “lógica formal”, que pode ser entendida, de forma simplificada, como o estudo da forma dos argumentos dedutivos válidos. O estudo da lógica formal aplicada ao direito chamou a atenção dos juristas somente mais tarde, com a tentativa dos positivistas de fornecer uma fundamentação epistemológica de um conhecimento descritivo das normas válidas de qualquer sistema normativo, o que veio ao encontro do ressurgimento da lógica deôntica, pelas mãos de von Wright na década de 50, por meio de uma analogia com a lógica modal alética13. A questão já não era identificar qual o conteúdo correto ou mais justo dos textos normativos, mas sim se as conseqüências normativas de uma norma com conteúdo já fixo poderiam ser consideradas normas válidas, ou ainda se normas inconsistentes poderiam ser descritas como normas válidas pertencentes ao mesmo ordenamento. Esses mesmos positivistas, em particular, Kelsen e Alf Ross14, viam a interpretação como uma atividade desprovida de valor científico e sem fundamento epistemológico. 9 Cf. AARNIO, Aulis. On Legal Reasoning. Turku/Loimaa: Turun Yliopisto, 1977, p. 267. Cf. FARIAS, Domenico. Interpretazione e Logica. Milano: Giuffrè, 1990, p. 134-141. 11 Cf. SICHES, Luis Recasens. Nueva filosofia de la interpretación del derecho. México: Porrúa, 1956. 12 Cf. ENGISCH, Karl. Einführung in das juristische Denken. Stuttgart: Kohlhammer, 1964. 13 Ver VON WRIGHT, Georg Henrik. Deontic Logic, Mind, n. 60, p. 1-15, 1951; e, ainda, HILPINEN, Risto; FOLLESDAL, Dagfin. Deontic Logic: an introduction. In: HILPINEN, Risto (Ed.). Deontic Logic: Introductory and Systematic Readings. Dordrecht: Reidel Publishing Company, 1971, para uma introdução à lógica deôntica. 14 Ver KELSEN, Hans. Reine Rechtslehre. 2. ed. Wien: Deuticke, 1960, Cap. XIII; e ROSS, Alf. On Law and Justice. London: Stevens, 1958, ou, então, ROSS, Alf. Sobre el Derecho y La Justicia. Buenos Aires: Eudeba, 1994, Cap. IV. 10 6 Apesar da importância da dedução e de outros processos formais de inferência para o estudo do direito15, vamos nos ater neste artigo ao exame daquela “lógica material” que o senso comum jurídico costuma identificar com a verdadeira lógica jurídica ou a “lógica” própria dos juristas. Será que essa “lógica material” que guia e permite ao jurista a sacar conclusões sobre o conteúdo dos textos normativos é própria do direito, ou também está presente no discurso ordinário, nas nossas conversas do dia a dia nas quais procuramos encontrar o sentido do que os outros nos dizem? Em suma, essa lógica material seria uma lógica do ou no direito? A pergunta ganha relevo quando observamos a evolução da teoria geral da interpretação da filosofia analítica à filosofia da linguagem ordinária e à pragmática da comunicação. Em particular, com Grice16, é desafiada a concepção fregeliana de uma linguagem precisa, baseada em uma estrutura formal (cálculo de predicados clássico) representativa ou reveladora da estrutura necessária do discurso (descritivo) que refletiria a estrutura mais geral da realidade. Nesse desafio, Grice procura identificar uma lógica própria da conversação, que não se limita à dedução formal, mas na qual certas inferências são justificadas a partir de certas máximas de interpretação que instituem o compartilhamento de certos padrões de racionalidade entre os comunicantes. Tais máximas aproximam-se bastante dos postulados de competência que guiam a construção interpretativa da conhecida figura do legislador racional. Assim, tendo em vista que as normas jurídicas são formuladas por meio da linguagem natural, a idéia de que a lógica que guia a interpretação jurídica não passa de uma lógica conversacional usual é uma hipótese bastante plausível. Aliás, há quem defenda justamente essa tese, dando o passo seguinte, ao sustentar que o fato de haver objetividade e possibilidade de entendimento nas conversações ordinárias implicaria que também a interpretação jurídica seria objetiva17. 15 Para uma defesa da importância da dedução no raciocínio jurídico, ver PRAKKEN, Henry. Logical Tools for Modelling Legal Argument: a study of defeasible reasoning in law. Dordrecht: Kluwer, 1997; MARANHÃO, Juliano Souza de Albuquerque. Padrões de racionalidade na sistematização de normas. Tese de Doutorado. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004, Cap. I. Também não vamos discutir se a lógica jurídica formal seria uma lógica com postulados próprios ou, ainda, se a lógica deôntica (voltada para o discurso moral) deveria ter novos postulados quando aplicada ao discurso jurídico. A respeito desse tema ver COSTA, Newton da; MARANHÃO, Juliano Souza de Albuquerque. Lógica deôntica jurídica. In: ZILLES, Urbano (Coord.). Miguel Reale – Estudos em homenagem aos seus 90 anos. Porto Alegre: Edipucrs, 2000. 16 Cf. GRICE, Paul. Logic and Conversation. In: GRICE, Paul. Studies in the way of words. Cambridge: Harvard University Press, 1991. p. 22-41. 17 Cf. BARBOSA PINTO, Marcos. Interpretation and Conversation. Legal Theory, Cambridge, v. 9, n. 2, p. 157179, jun. 2003. 7 Portanto, se existe uma lógica jurídica própria, ou se a lógica jurídica é uma decorrência de padrões de inferência presentes na conversação ordinária, é uma questão que será aqui investigada nos marcos do que chamamos, seguindo Engisch, de “lógica material”. É justamente essa “lógica” que os juristas apontam como o traço distintivo da interpretação ou do raciocínio jurídico. A tese a ser defendida é que tal “lógica de interpretação jurídica” não se limita à lógica interpretativa da conversação ordinária, na medida em que é organizada em torno do valor justiça, ou seja, tem o compromisso de expressar uma escolha capaz de separar o certo do errado, o justo do injusto, mediando a relação entre agentes comunicantes numa situação de conflito. A inserção do tema da justiça na interpretação jurídica problematiza o sentido das normas legais, mostrando que o antigo problema da indeterminação normativa não pode ser facilmente superado com referência à possibilidade de entendimento na comunicação ordinária. O artigo está organizado da seguinte forma. Faremos uma breve discussão da interpretação do discurso ordinário e da lógica de conversação de Grice. Em seguida, exporemos o modelo de interpretação jurídica baseado na figura do legislador racional, identificando suas analogias com a lógica de conversação. Enfrentaremos então a tese de que a interpretação jurídica poderia ser reduzida à interpretação da comunicação em geral. A resposta negativa decorre da potencial erupção do problema da justiça na interpretação da comunicação normativa. Em seguida, investigamos como a dogmática jurídica pode racionalizar ou domesticar esse problema, dentro do objetivo de criar condições para a decidibilidade dos conflitos. 2. O FALANTE E A LÓGICA DA CONVERSAÇÃO Na conversação ordinária estão presentes diversos problemas de indeterminação, como a busca pela intenção do emissor, o uso de termos vagos e ambíguos e a incoerência dentro do conjunto de afirmações no processo de comunicação. Visto como uma ação ou comportamento lingüístico do emissor, o ato de fala, diante de tais problemas, pode trazer alternativas de interpretação para a mensagem transmitida pelo emissor, tendo em vista as possibilidades de atribuição de intenção, frente à evidência dada pelo texto no qual o discurso foi articulado. A identificação do sentido de uma sentença articulada em determinada linguagem é tomada, desde a semântica de Frege, como um problema de identificação das condições de verdade da sentença, dada pelas possíveis combinações de estados de coisas na realidade. Tal 8 tarefa, diante dos problemas de indeterminação levantados acima pode trazer difíceis questões metafísicas sobre o que é a interpretação e mesmo sobre a sua possibilidade, i.e. a existência ou acessibilidade a fatos, ou a um estado mental opaco do falante, ou regras de uso na comunidade linguística, que possam tornar verdadeiro o sentido atribuído à expressão. Para contornar essas questões que fogem ao escopo do presente artigo, pode-se assumir que o entendimento, apesar dessas dificuldades de indeterminação, é possível, dado que, de fato, os agentes se comunicam e usam a linguagem como um instrumento hábil para suas relações (as pessoas normalmente entendem o que os outros falam e acreditam que os outros entendem o que estão falando). Ou seja, a questão não é propriamente se é possível o entendimento “verdadeiro”, mas como o entendimento é possível dado que os agentes de fato se comunicam de forma suficiente. Nessa perspectiva pragmática, Davidson18, no que chama de interpretação radical, vê a interpretação não somente como uma atividade semântica de identificação do sentido de uma sentença mas como um esforço de compreensão da relação de comunicação, que envolve a identificação do que o emissor quis dizer ou no que acredita ao emitir a sentença. Pressupõese que o sentido da sentença pode ser dado por determinadas regras semânticas convencionadas, o que não é suficiente para explicar comunicações bem sucedidas em que o sentido convencionado para a sentença é bastante distinto do que se quis dizer; por exemplo com afirmações do tipo “Mãe é mãe!” (que certamente não quer comunicar uma tautologia). A teoria de interpretação radical de Davidson diz pouco sobre como ir além da semântica da sentença, fornecendo de maneira vaga, como guia, o princípio de caridade: escolher condições de verdade que façam o melhor possível para tornar verdadeiras as afirmações do emissor19. A idéia é que o esforço interpretativo resista o quanto possível a uma atribuição de um sem sentido, buscando-se fazer com o que a fala do outro faça sentido. Isso envolve uma conceptualização do emissor, a partir do compartilhamento de determinados padrões de racionalidade (além das regras semânticas convencionadas na comunidade linguística). A ausência desses padrões mínimos simplesmente mina a capacidade de entendimento20, ou pode mesmo significar o descarte da mensagem como algo a ser 18 Cf. DAVIDSON, Donald. Radical Interpretation. In: DAVIDSON, Donald. Inquiries into truth and interpretation. Oxford: Clarendon Press, 1984; e, ainda, DAVIDSON, Donald. Belief and the basis of meaning. In: DAVIDSON, Donald. Inquiries into truth and interpretation. Oxford: Clarendon Press, 1984. 19 Id., ibid., p. 152. 20 Id., ibid., p. 153: “The point is that widespread agreement is the only possible background against which disputes [about meaning] and mistakes can be interpreted. Making sense of utterances and behaviour of others, even their most aberrant behavior, requires us to find a great deal of reason and truth in them. To see to much unreason on the part of others is simply to undermine our ability to understand what it is they are so unreasonable about”. 9 interpretado ou algo relevante para nossas ações. Incumbe ao intérprete, diante de textos vagos, ou aparentemente incoerentes ou irrelevantes, entender o que o agente “quis dizer” (comunicar) muito embora isso não esteja claramente articulado no que ele “disse” (i.e. no significado da sentença). Essa mudança de foco, passando do que foi dito na sentença para o que o agente quis dizer na comunicação é o ponto de partida para a análise pragmática de Grice sobre o que seria uma lógica da conversação21. Para Grice o acesso ao que se quis dizer a partir do que se disse consiste em um processo de inferência, não dedutiva, que é chamada de implicatura. Para exemplificar a diferença entre inferência dedutiva e a implicatura, suponha que alguém afirme “Sou um doutor”. A partir dessa premissa pode-se deduzir que o emissor tem um título de pós-graduação. Porém, em um contexto no qual um indivíduo se acidenta, a afirmação feita em resposta à pergunta “há um doutor nesta sala?” nos leva a conclusões adicionais ou mesmo diversas. Nesse caso, assumimos normalmente que o emissor não quis afirmar que tem um título de doutorado em direito, ou em engenharia, ou em qualquer outra área, mas sim, que é um médico (com doutorado ou não) e que pode atender a vítima do acidente. Isso é assim, pois no contexto daquela conversação, a mera afirmação de um título de pós-graduação não é relevante e se supõe que o emissor esteja nela engajado, contribuindo para o propósito daquela relação comunicativa. Outro exemplo, se A pergunta a B “C tem uma namorada?” e recebe como resposta “C tem viajado muito a Buenos Aires”, pode-se deduzir que “C tem viajado muito à Argentina”, mas a expressão pode ter implicaturas adicionais. A não ser que B não tenha prestado atenção à pergunta, o que se exclui por hipótese, pode querer dizer que C tem uma namorada em Buenos Aires, ou então, que por conta de suas viagens, não tem tempo para namorar. Assim, assumindo o que Grice chama de princípio de cooperação (faça com que sua fala contribua, no estágio em que ocorrer, com o propósito estabelecido para a comunicação no qual voce está engajado)22, é possível sacar conclusões mais amplas sobre o ato de fala do emissor, a partir do contexto comunicativo. O processo de implicatura nada mais é do que o levantamento de hipóteses ou da melhor hipótese sobre o que o emissor quis dizer, tratando-se de um raciocínio ampliativo, em particular, de uma forma de abdução, que não se limita à 21 Cf. GRICE, Logic and Conversation, op. cit.; e GRICE, Paul. Further notes on logic and conversation. In: GRICE, Paul. Studies in the way of words. Cambridge: Harvard University Press, 1991. p. 41-57. 22 Ver GRICE, Logic and Conversation, op. cit., p. 26: “Make your conversational contribution such as is required at the stage at which it occurs, by the accepted purpose or direction of the talk exchange in which you are engaged”. 10 preservação da verdade das premissas na conclusão (dedução), mas que busca novas informações a partir das premissas, com base em certos parâmetros de coerência23. Grice propõe que o princípio de cooperação que guia essa busca desdobra-se e caracteriza-se a partir de certas máximas atribuídas ao emissor. Máximas de quantidade: (a) a contribuição não é menos informativa do que se requer na conversação, (b) a contribuição não é mais informativa do que se requer; máximas de qualidade (o emissor é sincero): (a) não diz o que acredita ser falso, (b) não afirma algo do qual não tenha evidência suficiente; máxima de relação: o emissor afirma algo relevante para a discussão; máximas de forma (o emissor é perspicaz): (a) evita obscuridade; (b) evita a ambiguidade; (c) é conciso; (d) é organizado ou sistemático na fala. Tais máximas podem colapsar. Por exemplo, A pergunta a B “onde C mora?” e recebe como resposta “em algum lugar no sul de São Paulo”. O emissor B não foi suficientemente informativo, porém pode tê-lo feito para preservar a máxima de qualidade, pois desconhece o local com exatidão. Assim, as máximas devem ser ponderadas e permitem que se levantem hipóteses acerca do comportamento do agente interpretado, tendo em vista o propósito da comunicação. A melhor hipótese depende do contexto, i.e., outros fatores permitem ao intérprete concluir que B não sabe o local preciso e não quer deixar de informar o quanto sabe, ou sabe o local preciso e quer dizer que não é desejável que A visite C. A noção de uma lógica ou relação de implicatura a partir de uma conceptualização do agente interpretado guarda paralelos próximos com a atividade de interpretação jurídica, nos moldes da dogmática alemã do séc. XIX, como forma de se ampliar a base de informações disponíveis acerca do sentido da lei. A estipulação de determiadas máximas de competência do emissor faz lembrar a figura do legislador racional, que constitui um instrumento interpretativo à disposição da dogmática jurídica, como veremos a seguir. 3. O LEGISLADOR RACIONAL E A LÓGICA JURÍDICA MATERIAL No processo interpretativo dos textos legais, formulados em linguagem ordinária, o jurista enfrenta uma série de problemas de indeterminação: problemas de indeterminação semântica, decorrente da dificuldade de atribuição de sentido a termos vagos e ambíguos empregados na lei, das possibilidades de atribuição de intenções ou propósitos de uma 23 Cf. HARTSHORNE, Charles; WEIS, Paul (Eds.). Collected Papers of Charles Sanders Peirce. Cambridge: Harvard University Press, 1931-1958. Para competentes análises da lógica abdutiva de Peirce, ver HILPINEN, Risto. Peirce’s Logic. In: GABBAY, D. M.; WOODS, John. Handbook of the History of Logic. The Roise of Modern Logic: From Leibniz to Frege. Amsterdam: Elsevier, 2004. v. 3. p. 611-658; e, ainda, KAPITAN, Tomis. Peirce and 11 regulação (com o sentido preliminarmente identificado), das propriedades consideradas relevantes dentro de um caso hipotético a ser solucionado; problemas de indeterminação pragmática, como a apreciação das possíveis conseqüências, justas ou injustas, de determinadas atribuições de sentido; e problemas de indeterminação sintática, como a ausência de uma solução para determinado caso considerado relevante (lacunas), a existência de comandos conflitantes para um mesmo caso relevante (inconsistências), ou ainda a escolha de resultados possíveis de um processo de revisão ou refinamento do sistema normativo24. Tais problemas, embora possam levar a uma postura cética no âmbito da especulação filosófica, trazem uma dificuldade prática para a interpretação doutrinária a ser, de alguma forma, superada, tendo em vista a decidibilidade de conflitos. A questão, para a dogmática, não é propriamente a possibilidade de uma interpretação correta ou objetivamente verdadeira, mas sim qual aquela que está melhor ou suficientemente justificada, diante das evidências dadas pelos textos normativos cujos sentidos estão inter-relacionados. Uma questão jurídica doutrinária diz respeito a uma solução normativa (dever, permissão ou proibição) de uma determinada conduta em um caso hipotético. Tal solução é identificada com respeito à presença ou ausência de determinadas propriedades ou condições consideradas relevantes25. Assim, a resposta sobre uma ação particular para um caso, com determinada propriedade, deve ser coerente com a solução encontrada para aquela mesma ação na hipótese de ausência daquela propriedade, ou ainda, coerente com a solução encontrada para outras ações análogas ou relacionadas com aquela primeira ação considerada. Isso leva o intérprete doutrinário a uma reconstrução de um sistema normativo com soluções coerentes para casos hipotéticos relevantes. A exigência de sistematização e coerência das soluções identificadas pelo intérprete impõe uma racionalização do material normativo nesse processo construtivo de interpretação. Evidentemente, como as leis são de fato originadas de fontes diversas e não necessariamente orientadas para um mesmo e consistente propósito, a interpretação é levada a cabo a partir da the Structure of Abductive Inference. In: HOUSER, N.; ROBERTS, D. D.; EVRA, J. V. Studies in the Logic of Charles Peirce. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1997. p. 477-496. 24 Para uma análise formal da operação de revisão de sistemas normativos ver ALCHOURRÓN, Carlos; MAKINSON, David. Hierarchies of regulation and their logic. In HILPINEN, Risto (Ed.). New Studies in deontic logic. Dordrecht: Reidel, 1981. p 125-148. Para a lógica de refinamento de sistemas normativos, ver MARANHÃO, Juliano Souza de Albuquerque. Some operators for Refinement of Normative Systems. In: VERHEIJ, Bart; LODDER, Arno R.; LOUI, Ronald P.; MUNTJEWERFF, Antoinette J. (Eds.). Legal Knowledge and Information Systems, Frontiers in Artificial Intelligence and Applications. Amsterdam: IOS Press, 2001. p. 103-115. 25 Cf. ALCHOURRÓN, Carlos; BULYGIN, Eugenio. Normative Systems. Wien: Springer, 1971; ou, então, ALCHOURRÓN, Carlos; BULYGIN, Eugenio. Introducción a la Metodologia de las Ciencias Juridicas y Sociales. Buenos Aires: Astrea. 1975. 12 ficção de unidade na vontade do legislador, que é, então, idealmente conceptualizado na figura do chamado “legislador racional”. Não obstante tratar-se de um instrumental retórico a serviço da ideologia de separação de poderes (ver próxima seção), conforme apontam Nowak e Ziembinski26, a figura do legislador racional fornece a base para a fundamentação da atividade de interpretação dogmática. Ao reconstruir o ordenamento, o intérprete pressupõe determinados padrões de racionalidade e postulados acerca do comportamento do legislador, que organizam e lhe permitem conceptualizar o conjunto de normas como decorrente de um sistema unitário e racional de conhecimentos e preferências. Assim, se não for possível um método que nos permita apontar um sentido correto ou verdadeiro para as normas, na linha de autores céticos como Kelsen e Alf Ross, ao menos seria possível identificar interpretações justificadas ou não justificadas a partir de certos postulados de competência ou máximas de racionalidade retiradas da própria finalidade da atividade de legislação e de resolução de conflitos por meio do direito. Nessa conceptualização de uma vontade unitária e racional por detrás dos textos legais ressalte-se, dentre seus atributos, os seguintes postulados de competência, desenvolvidos pela dogmática alemã do séc. XIX: (a) o legislador não cria normas impossíveis de serem executadas, daí por que não se pode desejar que alguém realize e deixe de realizar o mesmo ato; (b) o legislador não cria normas sem algum propósito (c) as condutas exigidas ou permitidas nas normas são aptas a levar os sujeitos normativos à consecução dos propósitos da regulação (coerência entre meios e fins); (d) a vontade do legislador é unitária, de forma que as regras estão sistematicamente relacionadas; (e) a vontade do legislador é completa, no sentido de que soluciona todos os casos por ele reputados como relevantes; (f) o legislador é rigorosamente preciso e não cria normas inócuas ou redundantes27. A partir desses postulados, o intérprete realiza inferências acerca dos propósitos por trás das normas legais, o que lhe permite definir sentidos dentre várias atribuições possíveis e sistematizar o conjunto de normas em um todo coerente. Observando a conceptualização do 26 Cf. NOWAK, L. De la rationalité du législateur comme élément de l’interprétation juridique. Logique et Analyse, Bruxelles, n. 12, p. 65-86, 1969; ZIEMBINSKI, Zygmunt. La notion de rationalité du législateur. Archives de philosophie du Droit: Formes de rationalité en droit, Paris, n. XXIII, p. 175-187, 1978; e ZIEMBINSKI, Zygmunt. Two Concepts of Rationality in Legislation. In: ARNAUD, André-Jean; HILPINEN, Risto; WRÓBLEWSKI Jerzy (Hrsg.). Rechtstheorie – Juristische logik, Rationalität und Irrationalität im Recht / Juristic logic, Rationality and Irrationality in Law, Berlin, n. 8, p. 139-150, 1985. 27 Para a elaboração histórica desses postulados, consutar WIEACKER, Franz. Privatrechtsgeschichte der Neuzeit. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1967. 13 legislador racional como a de um emissor comunicativo em geral, nota-se uma correspondência com a lógica de conversação de Grice. Tomada como uma relação de conversação, o propósito da comunicação entre legislador e sujeito normativo seria guiar a conduta dos últimos para a consecução de determinadas políticas públicas ou de satisfação de determinadas pautas morais prevalecentes na comunidade. Dado que, para atingir seu ideal político e moral vislumbrado, o legislador não pode exigir dos sujeitos normativos, ao mesmo tempo e na mesma circunstância, uma conduta e permitir a sua omissão, o postulado “a”, de consistência, retira o seu conteúdo do próprio princípio de cooperação, pois ditar normas consistentes contribui ao propósito dessa conversação. Os postulados de quantidade se aproximam das máximas “e” e “f” de completude e não redundância, enquanto a máxima da forma liga-se ao caráter sistemático e ordenado do legislador do qual fala o item “d”. O postulado “b” tem a ver com a máxima de sinceridade na conversação; assim como em uma conversação espera-se que se fale a verdade, espera-se do legislador que não seja leviano, i.e. que não dite normas despropositadas. Por fim, o item “c” constitui a tradução normativa da máxima de relevância de Grice. Dada essa correspondência, é plausível levantar a hipótese de que a interpretação jurídica e a “lógica material” da dogmática interpretativa nada mais seriam do que aplicações particulares da interpretação da conversação ordinária e da lógica de implicatura. Se esse for o caso, então a interpretação jurídica não deveria trazer dificuldades adicionais quanto ao sentido das normas. Se é possível o entendimento na comunicação ordinária de forma suficiente para nossas relações, então esse também seria perfeitamente possível na interpretação das normas para a resolução dos conflitos jurídicos. Da mesma forma, os problemas de indeterminação das normas não seriam mais graves do que os problemas de indeterminação em uma conversação ordinária e poderiam ser superados pelos mesmos mecanismos linguísticos aplicados a esta última. 4. OBJETIVIDADE DO FALANTE IMPLICA OBJETIVIDADE DO LEGISLADOR? A hipótese levantada no final da seção anterior, que vê a norma como uma espécie de conversação ordinária, toca diretamente no problema da objetividade da interpretação jurídica, fundamental dentro da teoria do direito e tomado como ponto central do recente 14 ataque pelo movimento de Critical Legal Studies à teoria do direito tradicional, de orientação analítica28. Uma posição frequentemente combatida nesse debate, que podemos chamar de tese da herança, defendida entre outros, por Kelsen, assume que a objetividade no direito não é possível na medida em que as normas são formuladas em linguagem natural, que seria necessariamente indeterminada. Recentemente, Marcos Barbosa Pinto buscou refutar a tese da herança exatamente com a hipótese da norma como conversação: “If language were always indeterminate, we would not be able to have a conversation; if language were indeterminate at all times, you would not be able to understand me if I told you loud and clear right now to stop reading this article. But we do have conversations; and you would understand what I meant if I had told you to stop reading. In fact, our language seem to be determinate enough for the purposes of most of our daily conversations […] It seems to me that if we knew for sure that law was as determinate as our ordinary conversations, the question of objectivity would be settled for all practical purposes”29. Barbosa Pinto esforça-se, então, para demonstrar que o direito é tão determinado quanto a linguagem ordinária, atacando três problemas da interpretação jurídicas usualmente tomados como críticos30: (i) vagueza dos termos normativos, (ii) complexidade do sistema normativo e (iii) intenção do legislador. A vagueza, como observa o autor, não é característica de termos normativos, e a conversação ordinária dispõe de mecanismos para superá-la, como estipulações ou definições, que podem e são também empregadas na interpretação jurídica. A complexidade, assim entendida a necessidade de coerência do sistema normativo encontra paralelo na exigência de coerência do discurso em uma conversação ordinária. Assim, regras para resolução de inconsistências aparentes, como tomar em consideração a última ponderação feita pelo emissor, refletem-se em princípios dogmáticos como lex posterior, superior, specialis. A intenção, por sua vez, traz uma diferença, dado que a lei não é o 28 SINGER, Joseph William. The Player and the Cards: Nihilism and legal Theory. Yale Law Journal, New Haven, v. 94, n. 1, p. 1-70, 1984 é um bom exemplo do movimento de Critical Legal Studies que mistura um radical ceticismo quanto à determinação das regras e decisionismo com uma ideologia política de esquerda. Em defesa da metodologia juridical tradicional, em particular de orientação analítica, ver COLEMAN, Jules; LEITER, Brian. “Determinacy, Objectivity and Authority” In: MARMOR, Andrei (Ed.). Law and Interpretation. Oxford: Oxford University Press, 1997. p. 204-277. 29 Cf. BARBOSA PINTO, op. cit. p. 157. 30 Ver KELSEN, Hans. Zur Theorie der Interpretation. Internationale Zeitschrift für Theorie des Rechts. Offizielles Organ des “Institut international de Philosophie du Droit et de Sociologie juridique”, Jahrgang, v. 8, 15 resultado de uma comunicação de um emissor unívoco. Entretanto, essa é mitigada na medida em que a interpretação da intenção na conversação ordinária não exige o acesso a um estado mental particular e opaco, mas é desenvolvida a partir do contexto, assunções e de regras de comunicação compartilhadas, o mesmo valendo para a busca do legislador conceptualizado como racional (aliás, já analisamos esse paralelo quando comparamos as máximas de Grice e os postulados interpretativos da dogmática jurídica). Assumindo que os problemas de interpretação contidos na linguagem ordinária estão presentes na interpretação jurídica e que é possível o entendimento na conversação comum com base em técnicas de redução da indeterminação, também disponíveis para a comunicação normativa, seria correto concluir que a interpretação jurídica é objetiva, com base na objetividade da linguagem ordinária? A nosso ver, as premissas assumidas apenas mostram o fato trivial de que as normas são formuladas em linguagem ordinária. Porém, com relação à indeterminação na comunicação, a pergunta relevante é: a determinação alcançada usualmente na comunicação ordinária é suficiente para satisfazer a exigência de objetividade e determinação presente na comunicação normativa? Será que a exigência de determinação é a mesma para todos os domínios no qual se desenrola a comunicação? Considere um exemplo simples em que A afirme a B “Quero um copo de água”. A comunicação é perfeitamente compreensível e A pode recusar-se a fornecer ou fornecer uma quantia de água que entender suficiente. Suponha agora que A esteja prestes a morrer e suplique a B, “Água!” ou ainda que faça o mesmo pedido nos seguintes termos “retribua-me o copo de água que lhe servi ontem em minha casa”. Em tais situações comunicativas, um fator específico é introduzido, que altera completamente o sentido e as reações admissíveis de B. Trata-se da valoração moral da sentença do emissor, que imputa a B também uma valoração, colocando questões do tipo “sou obrigado a entregar a B o copo de água?”, “qual quantidade seria correto lhe entregar?”, “devo dar toda a água suficiente para matar a sede do moribundo?”, “e se outro moribundo aparecer, terei água suficiente?”, “devo entregar a mesma quantidade de água que recebi, ou matar-lhe a sede com o que for necessário assim como saciei a sede em sua casa no dia anterior?”. Afinal, B é instado a se perguntar o que exatamente A implica ou quer dizer com a súplica ou com retribuição e ademais se tal ato de fala é moralmente aceitável. p. 9-17, 1934; ou, então, KELSEN, Hans. On the Theory of Interpretation. Trad. Bonnie Litschewski Paulson e Stanley L. Paulson. Legal Studies, Oxford, v. 10, n. 2, p. 127-135, 1990. 16 As questões surgidas trazem, em seu bojo, o problema da justiça do conteúdo do ato do emissor e da reação demandada ao receptor. Note que o conteúdo comunicado é o mesmo na situação ordinária e na situação de conflito moral e as técnicas lingüísticas para a determinação são as mesmas. Porém, o tema da justiça inserido traz uma carga maior de exigência de adequação e precisão. A exigência de adequação moral e precisão do conteúdo dizem respeito à pertinência e razoabilidade do que foi comunicado dentro de determinada concepção de justiça31. Nessas hipóteses, a comunicação é pautada pelo dissenso, muito embora não afaste o princípio cooperativo, dado que ambos os agentes comunicantes passam a contribuir (e.g. via argumentação) para resolução da questão (no caso, fornecer ou não fornecer a água e quanto). Todavia, pela natureza dos problemas levantados, o dissenso é potencialmente indecidível, justamente porque diferentes concepções subjetivas de justiça podem trazer respostas diametralmente opostas. Exatamente nesse ponto, como forma de superar ou reduzir o dissenso subjetivo, aparece o apelo a regras gerais e abstratas, estabelecidas em decisões passadas, as quais ambos os agentes comunicantes aceitam como imparciais, vale dizer, o apelo ao direito. Assim, o direito aparece como um terceiro elemento na comunicação, um terceiro agente mediador que manifesta uma determinada escolha, supostamente imparcial, dentre as preferências e valorações possíveis para os conflitos. É possível, nessa linha, pensar as normas jurídicas como comunicações, que instauram uma conversação com o intérprete jurídico, porém uma forma peculiar de conversação cujos atos de fala são respostas a potenciais dissensos, que têm por base questões de justiça. No exemplo considerado, imaginemos que há normas estabelecendo que “é facultado a todos fornecer água a quem solicitar” e “caso alguém forneça água ao outro, é obrigatório ao outro retribuir o favor ao primeiro”. A escolha manifestada no ato comunicativo que resultou na formulação da norma é clara e capaz de resolver uma série de situações nas quais A solicita a B um copo de água. Porém, abre-se espaço para casos de penumbra, lacunas ou conflitos com outras normas, nos quais as valorações que estão na base dessa escolha podem vir novamente à tona e exigir posicionamentos ideológicos pelo intérprete que suscitarão questões de justiça aparentemente adormecidas. 4.1. Complexidade 31 Para a noção de concepção de justiça, ver RAWLS, John. A Theory of Justice. Cambridge: Harvard University Press, 1999, Cap. I. 17 Assim, por exemplo, a hipótese de um moribundo sedento, não mencionada explicitamente pela regulação sugerida acima, pode ser suscitada como um caso relevante. O intérprete pode apontar para uma terceira norma do sistema que estabelece que “todos têm a obrigação de ajudar os necessitados”, levantando uma questão de coerência. Tal norma conflita com a mera faculdade de se fornecer água para o moribundo, surgindo a indeterminação. A partir de então, pode-se interpretar que a intenção do legislador (racional) ao estipular a faculdade em fornecer, garantiu o direito de propriedade, dentro de determinada concepção sobre a organização da produção e distribuição de bens na comunidade; afinal não poderia cada um ser obrigado a satisfazer todas as necessidades dos outros. Em oposição, pode-se também interpretar, em nome do legislador racional, que haveria uma lacuna na formulação da norma que não considera o caso de um moribundo, a não ser que se considere a vontade implícita do legislador que, nesse caso, impõe que a água deve ser fornecida, em nome do direito fundamental de todos à vida. Problema semelhante pode ser visto, para tomar um exemplo mais realista, na discussão dogmática acerca do uso remunerado das margens de rodovias. Uma concessionária de rodovias pode cobrar de todos pelo uso das margens de rodovias? A resposta dada pelo art. 11 da Lei de Concessões é afirmativa, pois confere às concessionárias o direito de explorar receitas alternativas à tarifa de pedágio. Todavia, as concessionárias de energia elétrica, por força do art. 151 do Código de Águas, têm o direito de usar terrenos de domínio público para suas instalações. No caso das concessionárias de energia elétrica surge, portanto, o conflito. Uma possível construção vê aqui um problema de articulação de políticas públicas e busca demonstrar que, no balanço total, seria mais vantajoso ao usuário desses serviços, o uso gratuito de forma a viabilizar tarifas mais moderadas na média em ambos os serviços (claramente, um viés utilitarista do justo na linha da proporcionalidade na distribuição dos benefícios). Sustenta-se assim, dogmaticamente, que o art. 151 do Código de Águas seria lex specialis, prevalecendo sobre o art. 11 da Lei de Concessões nesse caso. Outra possível construção dogmática vê, aqui, um direito fundamental de propriedade dos estados da Federação, que não pode ser violado, em nome do federalismo, por um antigo Decreto da União garantindo antigos privilégios, incompatíveis com a concepção de serviço público na CF 88 e seu reforçado princípio de federalismo (já aqui uma outra concepção de justiça; formal, reflexa na separação e autonomia e material em termos de direitos fundamentais ou o senso do justo). Dogmaticamente, para evitar o conflito, ou se interpreta o direito das concessionárias de energia elétrica como um direito de uso, ao qual as concessionárias não podem se opor (não podem proibir), mas não um direito de uso gratuito, 18 ou ainda, caso se atribua um direito de uso gratuito, entende-se que esse foi derrogado pela lex posterior (Art. 11 da Lei de Concessões) e ou ainda, pela própria CF 88 (lex superior) em sua nova concepção da Administração pautada pelo princípio de eficiência e gestão empresarial do serviço público32. Nesse exemplo, está em jogo a dificuldade em se estabelecer critérios dogmáticos para a resolução definitiva de conflitos normativos, haja vista a possibilidade de conflitos entre os próprios critérios de resolução. Tentativamente, aparecem meta-critérios como lex posterior generalis non derrogat lex speciali. Entretanto um meta-critério como esse não é isento de polêmica. Na clássica abordagem de Norberto Bobbio,33 por exemplo, lê-se: “Também foi aqui transmitida uma regra geral que soa assim: Lex posterior generalis non derrogat priori speciali: a lei geral sucessiva não tira do caminho a lei especial precedente [...] Essa regra, por outro lado, deve ser tomada com certa cautela, e tem um valor menos decisivo que o da regra anterior. Dir-se-ia que a lex specialis é menos forte que a lex superior, e que, portanto, a sua vitória sobre a lex posterior é mais contrastada. Para fazer afirmações mais precisas nesse campo, seria necessário dispor de uma ampla casuística”34. Ferraz Junior, por sua vez, destaca que o referido meta-critério tem “aplicação restrita à experiência” e é “de difícil generalização”35. Essa hesitação é também percebida no campo dogmático, que descarta a aplicação do critério como se absoluto fosse, quando praticamente se retorna à estaca zero, ao se afirmar que só há a derrogação quando de fato, no caso, verifica-se a incompatibilidade. Nesse impasse, retorna-se à verificação do que seria mais justo, no caso, ou o que estaria mais de acordo com “a vontade do legislador”. Assim, dentre os civilistas, Roberto de Ruggiero chega a afirmar que o brocardo lex posterior generalis vs lex priori specialis “é falso pelo seu absolutismo”36, pois se trata de matéria interpretativa. Ou ainda, como afirma Serpa Lopes, citando De Ruggiero e Ennecerus-Kipp-Wolf que nesse caso de conflito entre critérios “a solução deve ser buscada na pesquisa dos objetivos da lei 32 Para aprofundar essa discussão, ver FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio; MARANHÃO, Juliano Souza de Albuquerque. O princípio de eficiência e a gestão empresarial na prestação de serviços públicos: a exploração econômica das margens de rodovias. Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, n. 17, abr. 2007. Contra, ver o artigo de Floriano Marques Neto a ser publicado no mesmo volume. 33 Cf. BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. 6. ed. Brasília: UnB, 1995. 34 Id., ibid., 108, ênfase nossa. 35 Cf. FERRAZ JUNIOR, Introdução ao estudo do direito, op. cit., p. 211. 36 Cf. RUGGIERO, Roberto de. Instituições de direito civil. Campinas: Bookseller, 1999, v. 1, p. 168. 19 ou da vontade do legislador, sem se ater, como um axioma, aos pressupostos exarados nos brocardos em foco”37. 4.2. Vagueza Olhando para o caso de vagueza semântica, voltemos ao exemplo ingênuo do copo de água, para enfrentar a questão com relação ao quantum, na qual A pede a B uma retribuição do favor anteriormente prestado. A regra estipulada é vaga e não deixa claro se, para retribuir o favor, deve-se saciar a sede e fornecer o quanto A exigir para tanto, ou se deve fornecer exatamente a mesma quantia de água anteriormente recebida. Novamente, podem ser construídas duas teorias interpretativas conflitantes, em nome do legislador racional, aptas a solucionar a questão. De um lado pode-se considerar que a igualdade na retribuição refere-se à quantidade fornecida (justiça no sentido de justeza). Porém, tomada no sentido de equidade, a retribuição exata pode ser vista como injusta se anteriormente B recebeu uma pequena quantia (mas suficiente na ocasião) de água, porém A está sedento. Assim retribuir o favor significa, materialmente, realizar um bem, uma caridade no caso, matar a sede, o que novamente traz o caso para uma discussão do senso material do justo (em particular uma concepção de justiça de raízes católicas que enfatiza a solidariedade e o amor ao próximo). Dificuldades como essa surgem, por exemplo, nas normas de defesa da concorrência, quando são punidas condutas que possam trazer o efeito de “eliminação de parcela substancial da concorrência”. O mesmo parâmetro é empregado na análise de concentrações econômicas. Qual parcela exatamente deve ser considerada substancial? Na discussão dogmática aparecem soluções conflitantes a partir de concepções diversas de justiça. Assim, a chamada “escola de Chicago”, pautada em uma concepção de raiz utilitarista, tende a aceitar concentrações mais elevadas, na medida em que possam trazer eficiências econômicas, i.e. um saldo positivo, em valor, entre perdas decorrentes da redução de concorrência e ganhos econômicos, em termos de ganhos de escala, aumento de produtividade, etc., que sejam revertidos em benefícios aos consumidores (maior qualidade e menores preços). Já a chamada “escola de Harvard” tende a aceitar índices menos elevados de concentração, com a tese de que estruturas concentradas definem, por sua racionalidade econômica, condutas abusivas que reduzem a eficiência alocativa de recursos na economia. Pauta-se, aqui, por uma concepção voltada para a garantia de liberdades mínimas fundamentais, no caso, a garantia de livre iniciativa empresarial (portanto, de justiça como senso do justo). 37 Cf. SERPA LOPES, Miguel Maria. Comentários à Lei de Introdução ao Código Civil. Rio de Janeiro: Freitas 20 A técnica de definição estipulativa surge então para demarcar, quando um ato de concentração traz riscos e deve ser notificada à autoridade concorrencial (concentrações que alcancem 20% do mercado, art. 54 da Lei 8884/94) e aparecem índices, como a concentração das 4 maiores empresas, ou índices mais sofisticados, como Herfindal-Hirshman, para indicar quando uma concentração reduz substancialmente a competição. Todavia, tais definições sucumbem e são problematizados pela jurisprudência. Por exemplo, quando se questiona: 20% de qual mercado relevante de produto? Mercado de bebidas em geral, ou somente de bebidas não alcoólicas? Mercado nacional, ou internacional? Ou ainda quando se questiona se índices desenvolvidos pela doutrina dos E.U.A podem se aplicar à realidade do mercado nacional. A lei de concorrência brasileira contém ditames para que as eficiências econômicas sejam consideradas para aprovação da concentração, porém, desde que, novamente, “não reduzam substancialmente a concorrência”, ou cujos “benefícios sejam compartilhados entre o empresário e os consumidores”. Assim, o esforço de resolução da vagueza por definições, traz novos problemas que ressuscitam as mesmas concepções rivais de justiça na base das normas antitruste. Qual seria o patamar substancial de redução de concorrência que chega a impedir uma análise de eficiências? Como deve ser medido o compartilhamento? A divisão deve ser meio a meio? O consumidor considerado precisa ser o consumidor final, pessoa física? O questionamento a definições estipulativas para solução de vagueza pode aparecer mesmo em campos jurídicos de maior rigor e exigência de literalidade, como por exemplo, no direito penal. O Código Penal Brasileiro pune o estupro (art. 214) nos seguintes termos “Constranger mulher à conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça”. Há aqui uma indefinição sobre o que se considera violência ou grave ameaça. Todavia, com relação a crianças é estipulada uma presunção absoluta, com precisão numérica (art. 224): “Presume-se a violência, se a vítima não é maior de 14 (catorze) anos”. Não obstante o aparente nível de determinação alcançado a partir dos recursos disponíveis na linguagem ordinária na qual a norma foi formulada “sexo com mulheres menos de 14 anos é punido com reclusão”, o Supremo Tribunal Federal no Hábeas Corpus HC 73.662-9 MG, garantiu a liberdade a réu que havia mantido relação com menina de 12 anos, nos seguintes termos do Ministro Relator: “Nos nossos dias não há crianças, mas moças de doze anos. Precocemente amadurecidas, a maioria delas já conta com Bastos, 1959, v. 1, p. 57. 21 discernimento bastante para reagir ante eventuais adversidades, ainda que não possuam escala de valores definida a ponto de vislumbrarem toda a sorte de conseqüências que lhes pode advir [...] Ora, enrijecida a legislação – que, ao invés de obnubilar a evolução dos costumes, deveria acompanhá-la, dessa forma protegendo-a – cabe ao intérprete da lei o papel de arrefecer tanta austeridade, flexibilizando, sob o ângulo literal, o texto normativo, tornando-o, destarte, adequado e oportuno”. Aqui, o Supremo, ao interpretar a presunção legal absoluta acerca do momento em que crianças não podem consentir, tenta mostrar que há crianças que, nesse momento, não são crianças, mas moças capazes de consentir. Embora haja aqui praticamente um descarte do texto normativo, o mesmo é apresentado como uma interpretação mais flexível do que a literal, necessária para tornar a norma adequada ao senso de justiça do tribunal. 4.3. Intenção Com relação à busca da intenção, na atividade de interpretação que se instaura na relação comunicativa normativa, o intérprete jurídico enfrenta também uma tensão entre a concepção de justiça formal e justiça material envolvido no próprio propósito da comunicação, presente no sempre latente conflito entre o sentido da norma (texto normativo) e o propósito do (ou melhor, atribuído pelo intérprete ao) legislador. Frederick Schauer38 traz uma abordagem esclarecedora desse tipo de conflito. As prescrições teriam por base generalizações acerca de um mal ou um bem que a ação regulada, categoricamente ou em determina condição, pode causar. Voltando ao exemplo ingênuo do copo de água, imagine uma norma determinando que “é obrigatório fornecer água ao moribundo sedento”. Aqui, a opção do legislador foi proteger a vida do necessitado, manifestando uma concepção de justiça calcada no senso do justo e expressa pela garantia do direito fundamental à vida. Promover esse bem (proteção à vida) constitui o objetivo e, portanto o fundamento da norma, que Schauer chama de justificação da regra. Conflitos entre a regra (água para os moribundos sedentos) e sua justificação (proteção da vida), que possuem sentidos distintos, aparecem por ser a regra necessariamente sobre- ou sub-inclusiva com relação a sua justificação. Isto é, a generalização que a fundamenta pode incluir casos nos quais a ação em questão impede o objetivo desejado ou pode deixar de 22 incluir casos relevantes, nos quais a ação promove aquele objetivo. No caso em que A pede água a B, mas B tem razões para acreditar que a água está contaminada, há uma sobreinclusão. Se o objetivo é proteger a vida, então atender o sentido do texto normativo, no qual está incluído o caso de contaminação, vai contra o próprio propósito do legislador. Questões sobre a reação mais justa ou injusta de B reaparecem como: a contaminação realmente põe a vida do sedento em risco? A contaminação pode ser curada? Se o sedento já iria morrer de qualquer forma, mas a causa mortis foi a contaminação, B deve ser responsável? Por outro lado, a regra pode ser sub-inclusiva, por exemplo, quando B não dispõe de água, mas dispõe de suco ou comida, casos nos quais, pela justificação da regra, também deveria estar obrigado a fornecê-los. Esses conflitos entre regra e sua justificação, chamados por Schauer de “experiências recalcitrantes”, podem ser resolvidos por meio de novas generalizações que especificam melhor as condições de aplicação das regras. Por exemplo, “a não ser que a água esteja contaminada, é obrigatório oferece-la ao moribundo sedento”. Tais qualificações, entretanto, têm limites. A nova condição introduzida deve ser relevante com relação à justificação da regra. A qualificação de uma propriedade ou condição como relevante, por exemplo, uma decisão sobre ser ou não a cor da pele do moribundo relevante para a justificação da obrigação de fornecer água é complexa e envolve uma série de valorações e tomadas de posição ideológica do intérprete que vão depender de suas preferências, crenças e seu senso do que é justo. Para nos aproximarmos da prática jurídica, o direito antitruste norte-americano contém um ilustrativo exemplo de conflito entre regra e justificação39. A Seção 2 do Sherman Act proíbe qualquer ato que constitua uma “tentativa de monopolização”. Um estatuto posterior, o Clayton Act, proíbe, na Seção 7, qualquer aquisição de empresa que possa “reduzir substancialmente a competição” ou “tender a criar um monopólio”. O propósito ou motivo dessa regulação é proteger a competição no mercado, que, por sua vez, serve propósitos ulteriores com eficiência produtiva e o bem estar dos consumidores. Suponha então que exista um mercado com apenas dois agentes que pretendem se fundir e que a firma a ser adquirida está em processo de falência, de forma que encerrará suas 38 Cf. SCHAUER, Frederick. Playing by the Rules: A Philosophical Examination of Rule Based DecisionMaking in Law and in Life. Oxford: Clarendon Press, 1991. 39 O exemplo é tratado com mais detalhe como aplicação da lógica de refinamento de sistemas normativos para solução de conflitos entre regra e justificação da regra em um modelo de inteligência artificial para o direito em MARANHÃO, Some operators for Refinement of Normative Systems, op. cit. 23 atividades se não for adquirida. Essa aquisição pode ou não pode ser levada a cabo de acordo com a regulação acima? Nos termos da regra se a aquisição leva ao monopólio então é proibida e não é relevante se a firma adquirida está em falência ou não. Todavia, a teoria econômica mostra que se a firma está falindo, sua aquisição não prejudica a concorrência, pelo contrário, beneficia a eficiência produtiva do mercado, mantendo ativos produtivos que, caso contrário, seriam perdidos. Então, o intérprete enfrenta um conflito entre preferir a ação que é necessária para satisfazer explicitamente o estatuto, mas que frustra o propósito da lei antitruste (omitir a aquisição) e a ação que parece atender aos propósitos da legislação antitruste (adquirir a firma falida). Esse conflito entre leis e política antitruste de fato ocorreu e foi solucionado pelas cortes norte-americanas pelo que ficou conhecido como a doutrina da firma falida (failing firm doctrine). A primeira decisão inovadora foi exarada no caso International Shoe Co. versus FTC40, quando a Suprema Corte norte-americana sustentou que a aquisição de uma firma em falência não viola a Seção 7 do Clayton Act41, o que significa que “se a firma adquirida está em falência, uma aquisição que tenda a criar monopólio é permitida”. Essa interpretação seguida pelas cortes motivou a emenda Celler-Kefauver, de 1950. Posteriormente, seguindo a interpretação da Suprema Corte no caso Citizen Publishing Co. versus United States42, novas propriedades ou condições relevantes foram adicionadas pela jurisprudência, tais como “a habilidade da firma em falência de se reorganizar com sucesso” e “a existência de um comprador alternativo viável com menos risco anticompetitivo”, que agora são exceções à solução fornecida pela doutrina da firma falida. Nota-se, nesses casos de conflito entre regra e sua justificação, que não há propriamente uma dificuldade com relação à linguagem na qual a regra foi formulada. O caso de falência está claramente solucionado, pois o legislador não o considerou relevante para a proibição do monopólio. A questão é que a regra é vista como injusta, para uma determinada atribuição de intenção ao legislador e para uma determinada análise econômica das conseqüências da aquisição. Em seguida, a própria generalização que reforma a regra na emenda Celler-Kefauver sofre exceções, porque também é vista como inadequada para determinados casos. Tais hipóteses não podem ser eliminadas, independentemente da precisão em que a linguagem é formulada ou do grau de determinação da solução normativa oferecida, 40 280 U.S.291,302-303, 1930. ABA, Antitrust Law Developments 4th ed., 1997, p.338. 42 394 U.S., 131, 138-139, 1969. 41 24 ainda que se faça um elenco com dezenas de condições consideradas relevantes. Ou seja, as experiências recalcitrantes não podem ser superadas. A indeterminação surge em função de uma apreciação da justiça da norma jurídica. Exatamente porque a intenção do legislador não é um estado mental particular que possa ser investigado objetivamente, mas é, antes, uma criação ou reconstrução do interprete a partir de regras de uso e pautas morais ou de políticas públicas compartilhadas na comunidade, que lhe permite realizar inferências (não dedutivas) sobre o que seria mais coerente admitir como propóstio da lei, a indeterminação tem a ver, antes, com uma avaliação do intérprete sobre a justiça da solução normativa oferecida pela rega. Por essa razão, Zitelman chama de lacunas espúrias os casos em que o intérprete aponta uma condição supostamente relevante que não teria sido prevista expressamente pelo legislador. Da mesma forma, Alchourrón e Bulygin, chamam tais lacunas de axiológicas, pois o caso está, de fato, solucionado normativamente e a lacuna somente apareceria em uma descrição de qual deveria ser a solução mais justa e não em uma descrição de qual foi, de fato, a solução estipulada pelo legislador43. 4.4. Não Os exemplos analisados acima trazem casos de complexidade, vagueza e adequação à intenção com relação à comunicação normativa. Exemplos semelhantes de indeterminação lingüística também são encontrados na comunicação ordinária e são satisfatoriamente resolvidos. Porém o que significa uma solução satisfatória para uma questão de justiça? O problema não diz respeito ao conteúdo do ato de fala, mas ao propósito da comunicação. Ou seja, mesmo que se empreguem recursos lingüísticos para reduzir a indeterminação, como vimos no caso de definição estipulativa para eliminar vagueza e no caso de conflito entre sentença e intenção, aquilo que no discurso ordinário poderia ser considerado uma comunicação objetiva, é potencialmente indeterminada em uma comunicação normativa. Isso porque a fonte de indeterminação não é propriamente uma insuficiência da linguagem no qual a regra é articulada, mas o dissenso (insolúvel do ponto de vista zetético, mas tratável do ponto de vista dogmático) sobre o que é certo ou errado, justo ou injusto que o ato de comunicação normativa busca resolver, mas que pode vir novamente à tona em 43 A distinção entre lacuna autêntica (echte), i.e. a situação de ausência de uma solução a partir do conjunto de normas vigentes e lacuna espúria (unechte), i.e. presença de uma solução normativa considerada falsa ou insatisfatória foi introduzida por Zitelman (Lücken im Recht, Leipzig, 1903). Essa noção foi refinada em ALCHOURRÓN; BULYGIN, op. cit. 25 determinados casos. Por essa razão, a interpretação jurídica não pode ser considerada objetiva, a não ser que se resolva com objetividade a questão sobre o que é a justiça. Nesse quadro, não defendemos que as normas jurídicas são sempre indeterminadas (tese difícil de sustentar tendo em vista que o direito em grande parte dos casos cumpre com sucesso sua função de regular a conduta humana), mas que são potencialmente indeterminadas, naqueles casos em que questões de justiça são suscitadas ou ressuscitadas. A existência de uma solução correta para a indeterminação é uma outra questão, que pressupõe a ausência de objetividade, e que não será objeto da presente discussão. Pode-se assumir, todavia, que propostas de interpretação podem estar mais ou menos justificadas e ser racionalmente avaliadas em termos de sua coerência ou estrutura de argumentação44. 5. A RACIONALIZAÇÃO DA NOÇÃO DE JUSTIÇA NA INTERPRETAÇÃO Vimos acima como a especulação sobre o justo e o injusto irrompem na atividade de interpretação dogmática, diante de problemas como vagueza, complexidade e conflito entre regra expressa e a intenção do legislador. Examinemos a seguir como essa dificuldade, que pode induzir uma especulação filosófica interminável, é racionalizada e tratada pela dogmática jurídica, tendo em vista a decidibilidade de conflitos. Nas teorias jurídicas e políticas, dominantes na atualidade, a justiça costuma ser tratada nos termos seguintes. No seu aspecto formal, é concebida como um valor ético-social positivo, em conformidade com o qual, em situações bilaterais normativamente reguladas, se atribui à uma pessoa aquilo que lhe é devido. O conceito de justiça formal, assim, é um instrumento para a comunicação entre os homens, o qual permite que os problemas do relacionamento social sejam discutidos racionalmente. Trata-se da idéia clássica do suum cuique tribuere que exige, porém, um conteúdo concreto, a determinação, através de critérios, daquilo que é devido. A conformidade ou desconformidade com os critérios para determinar aquilo que é devido e a quem é problema que se refere ao aspecto material da justiça. 44 Também não se assume aqui qualquer postura sobre a concepção do que é o direito: as pautas morais podem ser consideradas parte necessária (jusnaturalismo), ou contingente (positivismo inclusivista) do sistema normativo, ou como exercício de discricionariedade do intérprete (positivismo exclusivista). Sobre a discussão, ver COLEMAN, Jules. The Practice of Principle: in defence of a pragmatist approach to legal theory. Oxford: Oxford University Press, 2001; e os ensaios de FINNIS, John. Natural Law: The Classical Tradition. In: COLEMAN, Jules; SHAPIRO, Scott. The Oxford Handbook of Jurisprudence and Philosophy of Law. Oxford: Oxford University Press, 2002; MARMOR, Andrei. Exclusive Legal Positivism. In: COLEMAN, Jules; SHAPIRO, Scott. The Oxford Handbook of Jurisprudence and Philosophy of Law. Oxford: Oxford University Press, 2002; e HIMMA, Kenneth Eimar. Inclusive Legal Positivism. In: COLEMAN, Jules; SHAPIRO, Scott. The Oxford Handbook of Jurisprudence and Philosophy of Law. Oxford: Oxford University Press, 2002. 26 Os critérios, de acordo com os quais é decidido sobre aquilo que é devido a alguém, são freqüentemente formulados com base em concepções metafísicas. Ora, isto nos conduziria, ao tratarmos da questão da justiça material, a um exame daqueles critérios e das suas diversas formulações, bem como da pretensão de se encontrar um critério, senão único, ao menos determinante dos demais. Não é este, porém, o caminho que desejamos seguir. Interessa-nos o papel, mais ou menos relevante, desempenhado, na comunicação normativa, pela justiça material e de seus critérios em face da justiça formal. Na tradição da cultura ocidental, desde a antiguidade, observa-se, nas discussões sobre a justiça, uma disposição em reconhecer-se que os conteúdos justos são difíceis de serem determinados, provocando o desalento dos relativismos e o desencontro das disputas infindáveis. Assim, por exemplo, Aristóteles, embora acreditasse na possibilidade de esclarecer o que era a justiça, não negava a grande dificuldade que sentia em determinar, a partir de premissas gerais, o justo concreto45. No livro V da Ética a Nicômaco, ele cuida da justiça, ressaltando seus aspectos formais. Sendo a virtude da proporcionalidade, a noção de justiça é tratada conforme a proporção aritmética e geométrica. Nestes termos, a distinção divulgada pela escolástica entre justiça comutativa e distributiva fez escola e marcou profundamente as concepções posteriores. A igualdade parecer ser, nestes termos, o cerne da justiça. As disputas em torno dos conteúdos − quem e o que deve ser igual a quem e a que − não diminuem jamais esta crença inabalável no equilíbrio proporcional como um princípio de racionalização dos conflitos. Esta relação entre justiça e racionalidade é importante. Afinal, é inegável que, na tradição cultural do Ocidente, os princípios de justiça, tanto formais quanto materiais, foram, via de regra, considerados como encarnações da razão. Os princípios de justiça material no chamado direito natural racional (jusnaturalismo) são uma explicitação patente desta idéia. A razão é para a justiça o seu princípio regulador (e não constitutivo, para usar a terminologia kantiana), pois o homem é assumido como um ser racional não no sentido de que aja racionalmente com justiça, mas de que pode e deve agir desta maneira. Como valor positivo, a racionalidade, em oposição ao valor negativo da irracionalidade, conjuga-se, no Ocidente, com o valor positivo da justiça (e, conseqüentemente, com o valor negativo da injustiça). Assim, do mesmo modo que os princípios da razão ora presidem a forma de justificar corretamente o juízo avaliativo ora o 45 Cf. ARISTÓTELES. Éthique à Nicomaque. Trad. J. Tricot. Paris: Vrin, 1950, I, 1, 1094 b 20-23. 27 conteúdo do agir corretamente (retórica, prudência), podemos, analogicamente, falar, na correta distribuição dos bens, em racionalidade formal e justiça formal, de um lado, e racionalidade material e justiça material, de outro. Isso significa que, em regra, o princípio da igualdade – nuclear para a justiça formal – oferece uma medida racional para a repartição do que cabe a cada um nas relações bilaterais. Num primeiro momento, é importante o aspecto formal da igualdade (proporção), que se afirma de modo precedente ao que caiba a cada um ou ao que possa vir a ser determinado como algo que deva ser repartido. Trata-se da percepção da justiça como uma questão de justeza. Por exemplo, em sede de direito civil, o pagamento de perdas e danos é efeito da obrigação de indenizar, que nasce com um inadimplemento imputável. Para recorrer a um aforismo clássico, trata-se de recolocar a vítima na situação em que se encontraria se o prejuízo não tivesse sido produzido. Essa recolocação da vítima tem a ver com a justeza da medida correspondente46. Assim, na mencionada fixação de perdas e danos (Código Civil/2002, art. 402), o juiz, ao interpretar a justa retribuição, se encontra diante da tarefa delicada: não recair nem numa reparação insuficiente que não indeniza totalmente a vítima, nem numa reparação excessiva que atribuirá, para além do dano sofrido, um verdadeiro benefício47. Já os diversos princípios da justiça material, “a cada qual conforme suas necessidades”, ou “seu papel social”, ou “a contribuição do seu trabalho para o bem de todos” etc., constituem determinações que nos dão, presumidamente, a premissa racional para a identificação daquilo que deva ser repartido proporcionalmente e a quem. É a percepção da justiça como senso do justo, como um valor padrão, a partir do qual se entendem (e aí se relativizam) os demais valores: por exemplo, o reconhecimento da dignidade da pessoa humana como sentido nuclear da justiça. É o caso das exigências de justiça social, em que, por exemplo, o salário não há de ser mera retribuição pelo equivalente trabalho, mas algo que mantenha a dignidade humana, ainda que à custa da mera remuneração do capital. Tomando-se o direito como imposição normativa de uma ordem de distribuição, a organização do universo jurídico, conforme os princípios da justiça admite duas possibilidades tipológicas que podemos denominar sistema formal e sistema material. O primeiro é um tipo que organiza o conjunto das normas vigentes como uma relação que vai do genérico ao particular, conforme graus de generalidade. Veja-se, por exemplo, a 46 Ver CASTANEHIRA NEVES, op. cit. Por isso a remissão ao art. 944, que indica: “em linha de princípio, o dano deve ser integralmente indenizado, isto é – não deve ser indenizado a mais nem a menos” (MARTINS-COSTA, op. cit., p. 324). 47 28 relação entre lei e sentença. Esta ordem é justa na medida em que consegue delimitar, conforme o princípio da igualdade, as correspondentes competências da autoridade jurídica. Generalidade significa extensão normativa, sendo geral a norma que se dirige, proporcionalmente, ao maior número de sujeitos: a justiça como igualdade de todos perante a lei. Já a sentença é norma individual, limitada ao caso concreto. A justiça da ordem está na razão da delimitação da competência da autoridade como condição da autonomia dos sujeitos e de sua igualdade perante a lei, não importa, primariamente, quais sejam os seus conteúdos. O segundo tipo organiza o conjunto das normas vigentes como uma relação uniforme que vai do universal ao específico, conforme graus de universalidade. Universalidade significa intensão normativa, sendo universal a norma que abarca, na sua abstração, a maior amplitude de conteúdo. Assim, a ordem é justa na medida em que consegue delimitar os conteúdos normativos, conforme um princípio material abrangente de inclusão ou exclusão. Aqui a eleição de um princípio gera, conhecidamente, diversos posicionamentos, ora falandose em bem comum, ora em necessidades vitais, ora em respeito à dignidade do homem, ou como cidadania, ou como desígnio divino etc. A justiça desta ordem está na razão da delimitação dos conteúdos normativos a partir de um critério de supremacia, não importa a competência da autoridade ou o grau da autonomia de ação de um sujeito em face de outro. Donde o reconhecimento como justa de uma ordem que se organiza mediante um elenco de direitos e valores fundamentais materiais (vida, propriedade, liberdade, segurança, igualdade) e nele se baseia. Essa dupla possibilidade de sistematização, centrada e fundamentada na percepção da justiça como tema nuclear do direito, repercute na atividade hermenêutica jurídica e se manifesta na reconstrução do ordenamento em nome do legislador racional, ora enfocando a justiça como justeza, ora como o senso do justo. Na verdade, a hipótese do legislador racional não é isenta de uma tomada de posição ideológica, que se baseia no modo como se atribui relevância aos valores principais do sistema normativo (ideologia como valoração e hierarquização de valores). Essa ideologia, implícita na atividade hermenêutica, pode ser estática ou dinâmica48. Ela é estática, quando a hipótese do legislador racional favorece valores como a certeza, a segurança, a previsibilidade e a estabilidade do conjunto normativo. Ela é dinâmica, quando favorece a adaptação das normas, a operacionalidade das prescrições normativas. 48 Cf. DASCAL, Marcelo. Interpretação e compreensão.São Leopoldo: Unisinos, 2006, p. 375. 29 Esse dilema, decidido pelo intérprete, traduz uma escolha ética dentro de um conflito fundamental entre fazer aquilo que é correto e aquilo que é bom, que dentro da filosofia moral se expressa na divisão entre teorias deontológicas e teleológicas. As teorias éticas deontológicas correspondem ao ideal hebreu de vida humana consistente em agir corretamente segundo as leis e princípios morais, nas quais as idéias de dever e correção (justiça formal) são os temas centrais. As teorias éticas teleológicas correspondem ao ideal grego de vida humana, consistente na tentativa de satisfação de determinados fins considerados bons, nas quais a idéia de bem (justiça material) constitui o tema central49. Como ressalta, aliás, Bulygin, no próprio recurso ao legislador racional reside uma determinada ideologia política segundo a qual somente ao poder legislativo, como representante do povo, cabe a determinação das soluções prévias para os conflitos dentro de uma comunidade, não sendo dado nem ao juiz, muito menos ao jurista (com uma função meramente teórica) modificá-las50. Por meio desse instrumental, a dogmática jurídica exerce um astuto poder paralelo, verdadeiro “poder de violência simbólica”, através do qual controla e uniformiza o ordenamento51. No exercício desse para-poder, a dogmática afasta possíveis justificações para ações como meramente “subjetivas”, relevando outras como “objetivas” e imediatamente decorrentes da vontade do legislador, i.e. como aponta Vernengo, atua com o único propósito prático de restringir os critérios de decisão e eliminar soluções normativas possíveis52. Vale dizer, a interpretação dogmática reduz a indeterminação inerente do sistema normativo, por meio de valorações próprias, mas como se estas decorressem de um esforço “científico” de identificação do seu sentido “real” e, dessa forma, cumpre sua função de “domesticar” o sentido das normas53. 6. A PRAGMÁTICA DA JUSTIÇA: CÓDIGOS FORTES E FRACOS 49 Ver ROSS, William David. The Right and the good. Oxford: Oxford University Press, 1930; e ROSS, William David. Foundations of Ethics. Oxford: Oxford University Press, 1939; ou, então, ROSS, William David. Fundamentos de Ética. Buenos Aires: Eudeba, 1963. 50 Cf. BULYGIN, Eugênio. Legal Dogmatics and the Systematization of Law. In: ECKHOFF, Torstein; FRIEDMAN, Lawrence; UUSITALO, Jyrki (Hrsg.). Rechtstheorie – Vernunft und Erfahrung im Rechtsdenken der Gegenwart / Reason and Experience in Contemporary Legal Thought, Berlin, n. 10, p. 193-210, 1986, p. 204. 51 Cf. FERRAZ JUNIOR, Introdução ao estudo do direito, op. cit, p. 283. 52 Cf. VERNENGO, Roberto José. Systematization in Legal Dogmatics and Judicial Decisions. In: ECKHOFF, Torstein; FRIEDMAN, Lawrence; UUSITALO, Jyrki (Hrsg.). Rechtstheorie – Vernunft und Erfahrung im Rechtsdenken der Gegenwart / Reason and Experience in Contemporary Legal Thought, Berlin, n. 10, p. 230239, 1986, p. 235. 53 Cf. FERRAZ JUNIOR, Introdução ao estudo do direito, op. cit, p. 307-308. 30 Na racionalização dos conflitos, os critérios formais da justiça representam, em oposição aos critérios materiais, um código forte: isto é, se considerarmos um código, genericamente, como um sistema articulado de símbolos, as idéias do suum cuique tribuere, da proporcionalidade aritmética e geométrica, do tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, constituem articulações relativamente unívocas, com um só sentido para as suas prescrições. Ao contrário, os critérios materiais da justiça representam um código fraco; isto é, idéias como o justo é o que serve à vida, justiça é o amor caridoso pelos que nada têm, justiça é o respeito à ordem social criada por Deus, justiça é o que satisfaz aos interesses da classe proletária, constituem articulações vagas e ambíguas, com dubiedade para as suas determinações. Códigos fortes permitem um sentido unívoco de orientação. A forma de violá-los é, em princípio, negá-los. Assim, a prescrição da igualdade proporcional é violada na medida em que se estabeleça uma desproporção (ou há igualdade ou há desigualdade). Códigos fracos, ao contrário, permitem sentidos ambíguos e vagos de orientação, entendendo-se por ambigüidade a imprecisão conotativa (imprecisão do conceito) e por vagueza a imprecisão denotativa (quais os objetos alcançados pelo conceito). Assim, a forma de violá-los pode ser a negação, mas também a desconfirmação. Nega-se uma prescrição quando se age em desconformidade com ela, quando se age no sentido oposto ou divergente ao que ela prescreve. Desconfirma-se, quando se age de outra forma, nem oposta nem divergente, apenas indiferente, de tal modo que a prescrição perde sentido. Por exemplo, a prescrição da crença em um Deus único e em seus mandamentos pode ser negada, quando nos comportamos como ateus (Deus não existe), ou desconfirmada, quando nos revelamos agnósticos (não se pode saber se Deus existe ou não). Embora códigos fortes, em tese, não admitam desconfirmação − perante a prescrição da igualdade, ou há igualdade ou há desigualdade, sendo excluído um terceiro − na medida em que, na prática comunicacional, eles se relacionam com os códigos fracos, um curioso processo de desconfirmação pode ser instaurado. Assim, prescrições normativas, codificadas por meio de um código forte, poderão ser desconfirmadas, na medida em que o código forte é re-codificado por um código fraco, o qual passa a prevalecer sobre aquele. Por exemplo, se a mensagem diz: ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, o código forte codificará lei como norma votada pelo Congresso, o código fraco admitirá que lei é qualquer norma emanada da vontade popular. Isto nos permite dizer que, quando no jogo da comunicação, o código forte predomina, o código fraco tende a ver limitado seu próprio grau de vagueza e ambigüidade, assumindo 31 princípios cuja desconfirmação é de possibilidade mais restrita. Ao contrário, quando predomina o código fraco, o código forte pode ser parcialmente desconfirmado, assumindo suas regras relativa imprecisão. Veja-se o papel do princípio da igualdade enquanto princípio do código forte da justiça formal em face da eqüidade. Enquanto o primeiro constitui uma regra unívoca, a segunda já admite imprecisões. Em conseqüência, mediante equidade, as regras do próprio código forte tornam-se mais livres, mais espaçosas, sujeitas a menos restrições (veja-se a contraposição entre dura lex sed lex e summum jus summa injuria). Estas observações têm implicação para a relação entre justiça formal e material. Quando falamos em prevalência do código forte da justiça formal ou do código fraco da justiça material, estamos pensando numa relação entre ambos, em que o segundo passa a ser função do primeiro. Assim, em situações em que prevalece o código forte da justiça formal, os critérios da justiça material, em termos de um código fraco, admitem, em geral, uma reformulação, de tal modo que, por exemplo, máximas como “a cada um conforme suas necessidades” ou “a cada um conforme o seu trabalho” sejam codificadas em termos de “a cada um de acordo com as iguais necessidades de todos” ou “a cada um igualmente, desde que trabalhe”. A inclusão, na reformulação, do princípio da igualdade é importante, porque introduz nas codificações um limite à imprecisão conotativa e denotativa da justiça material, imprecisão que possibilita formas casuísticas de eqüidade. Por exemplo, se o comando constitucional determina que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos da Constituição (CF, art. 5º, I), a interpretação, em termos de justeza (prevalência do código forte sobre o fraco), vai buscar no contexto real aqueles traços que tornam significativa a igualdade, mesmo que a realidade apresente outros traços até mais significativos para a apreensão do modo como a sociedade vivencia aquela relação. Assim, se, socialmente, a igualdade entre homens e mulheres ainda pressupõe a desigualdade dos sexos e, em nome da igualdade, ainda trata desigualmente os desiguais, a interpretação dará menos relevância significativa às diferenças de sexo, conferindo importância significativa maior à capacidade de homens e mulheres em desempenhar as mesmas funções (sociais, políticas, econômicas, profissionais, familiares etc.). Com isso, ao legitimarem-se certos traços comportamentais, o sentido da igualdade no contexto real se altera, não porque as diferenças sexuais sejam ignoradas, mas porque são neutralizadas pela relevância conferida às semelhanças. Sendo um código forte, os princípios da justiça formal (justeza) constituem, pois, nas relações jurídicas, um ponto de exigência tanto para quem as recebe quanto para quem as 32 emite, pois, ao menos formalmente, sabemos, com relativa nitidez, para quem está sendo prescrito e em que medida se está fazendo a prescrição. Por exemplo o atendimento de um cidadão que reclama do Estado a prestação de um serviço de saúde, mediante fornecimento de medicamento importado de alto custo, pode ser apreciado segundo um padrão racional de justeza. Essa prevalência exigirá cálculos de utilidade, comparação com o atendimento da massa de usuários do sistema público de saúde, dentro de uma interpretação do sentido da garantia constitucional de acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção da saúde (CF, art. 196). Já a predominância do código fraco da justiça material, em face do formal, faz do próprio princípio da igualdade proporcional uma função derivada. Ou seja, a prevalência, por exemplo, do princípio “a cada um conforme suas necessidades” torna possível, mais espaçosamente, codificar a justiça como igualdade proporcional, introduzindo, nas comunicações humanas reguladas pela igualdade, fórmulas de flexível eqüidade. Por exemplo, na interpretação do art. 196 da CF para o caso de fornecimento de medicamento de alto custo, não obstante a falta de justeza (proporcionalidade), prevalecendo o código da justiça material, a noção de necessidade conferirá ao seu valor a exigência de levar-se em conta a pessoa do doente, sua dignidade, o risco de sua vida, em detrimento de outros fatores como a desigualdade social, a economia nacional, a exigência da previdência para todos etc. Outro exemplo é o tratamento interpretativo que se dá à expressão: direitos do homem. Tomada literalmente, por interpretação especificadora, a expressão haveria de referir-se apenas ao ser humano, em sentido psicofísico (código forte: justiça como justeza). A doutrina, contudo, para atingir um espectro maior de proteção, dá-lhe uma interpretação extensiva (código fraco: justiça como senso do justo). Por exemplo, Canotillo sustenta que “a extensão dos direitos e deveres fundamentais às pessoas colectivas (pessoas jurídicas) significa que alguns direitos não são direitos do homem, podendo haver titularidade de direitos fundamentais e capacidade de exercício por parte de pessoas não identificadas com cidadãos de carne e osso”54, todavia a dogmática apresenta essa clara extensão como algo implícito na norma e que sua revelação decorre de “pesquisa no texto constitucional”55. Tal extensão doutrinária já foi levada expressamente ao texto normativo, em outros países, como no artigo 19, alínea 3, da Lei Fundamental alemã (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland): “Os direitos fundamentais valem igualmente para pessoas jurídicas nacionais, na medida em 54 Cf. CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 2. ed. Coimbra: Almedina, 1998, p. 384. 55 Cf. SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 195. 33 que, pela natureza, lhes sejam aplicáveis”. A lei alemã, apesar reconhecer a extensão, que já flexibiliza a noção de direitos do homem, não define quais seriam os direitos fundamentais das pessoas jurídicas, abrindo espaço para a construção dogmática da “natureza” desses direitos, o que leva novamente a um código forte, como em Dreier56, que enumera uma série de liberdades asseguradas também às pessoas jurídicas, dentre os quais, por exemplo, a liberdade de expressão prevista no artigo 5º, alínea 1 da Lei Fundamental Alemã. A distinção entre justiça formal e material em termos de código forte e fraco permitenos, em suma, examinar qual a repercussão da prevalência de um e de outro na determinação dos critérios da própria justiça material. Sustentamos que, em face da ambigüidade e da vagueza dos códigos fracos da justiça material, a diversidade dos seus princípios e da hierarquia entre eles depende da prevalência, numa determinada organização social, do código forte ou do código fraco. Nesses termos, se signos lingüísticos admitem usos pragmáticos diferentes, que afetam o seu sentido semântico57, a presença predominante de um ou de outro código afeta também o exercício da interpretação jurídica. Por exemplo, na expressão enriquecimento sem causa, se acentuamos enriquecimento, o aspecto quantitativo se torna relevante (uma quantidade desprezível será ignorada); se acentuamos: sem causa, importante, seja qual for a quantidade, é o aspecto qualitativo (enriquecimento injustificado). Na interpretação jurídica da expressão, a primeira hipótese leva à exigência de parâmetros quantitativos (standards), como acontece no mundo anglosaxônico. Já a segunda, como ocorre no mundo de direito românico, a exigência de razoabilidade qualitativa prevalece. No âmbito do direito privado, a expressão “enriquecimento sem causa” pode receber diferentes interpretações. Se acentuamos enriquecimento, o aspecto quantitativo se torna relevante (uma quantidade desprezível será ignorada); se acentuamos: sem causa, importante, seja qual for a quantidade, é o aspecto qualitativo (enriquecimento injustificado). Na interpretação jurídica da expressão, a primeira hipótese leva à exigência de parâmetros quantitativos (standards), como acontece no mundo anglo-saxônico. Já a segunda, como ocorre no mundo de direito românico, a exigência de razoabilidade qualitativa prevalece. O mesmo ocorre com a expressão “onerosidade excessiva”. 56 Cf. DREIER, Horst; GRÖSCHNER, Rolf; HERMES, Georg (Hrsg.). Grundgesetz: Kommentar. Band I. Art. 19, III, Abs. 11. Tübingen: Mohr Siebeck, 1996. 57 Ver FERRAZ JUNIOR, Introdução ao estudo do direito, op. cit, item 5.1.1. 34 Enquanto no mundo anglo-saxônico, prevalece a interpretação mediante standards quantitativos (prevalência do código forte), entre nós a prevalência do código fraco conduz a uma hermenêutica mais qualitativa. A posição de Orlando Gomes é ilustrativa58. O civilista admite que, em algumas legislações, a excessiva onerosidade é causa de resolução dos contratos comutativos de execução diferida, continuada ou periódica, onerosidade essa que, em virtude de acontecimento extraordinário e imprevisível, sobrevenha, dificultando extremamente o cumprimento de obrigação de um dos contraentes. Seja tomando como base o caráter implícito da cláusula rebus sic standibus, ou das bases do negócio jurídico (Larenz) ou da teoria da imprevisão (caso do art. 478 do Código Civil/2002), assumir-se-ia que a alteração radical das condições econômicas, nas quais o contrato foi celebrado, é uma das causas que, com o concurso de outras circunstâncias, podem determinar a sua resolução. Para obter-se a resolução com base nessa causa, são os seguintes os requisitos apontados pelo autor: (a) em primeiro lugar que seja excessiva a diferença de valor do objeto da prestação entre o momento de sua perfeição e o de sua execução, devendo a prestação, no momento de sua execução, ser notavelmente mais gravosa do que era, no momento em que surgiu; (b) que a onerosidade seja objetivamente excessiva, isto é, a prestação não deve ser excessivamente onerosa apenas em relação ao devedor, mas a toda e qualquer pessoa que se encontrasse em sua posição; (c) não basta que tenha sido agravada exageradamente, mas que a onerosidade tenha sido determinada por acontecimentos extraordinários e imprevisíveis (exclui-se a negligência do contratante, ao concorrer para o agravamento); (d) deve-se levar em conta o sacrifício do devedor com a execução. Note-se que Orlando Gomes sustenta que o devedor pode pedir a resolução, mas o juiz pode intervir na economia do contrato, para reajustá-lo, em bases razoáveis. Por isso, sem embargo dos requisitos mencionados, “é inevitável o arbítrio o arbítrio judicial, dado que não há critério objetivo para definir os casos de onerosidade excessiva”59. Em outras palavras, a eventual variabilidade dogmática dos princípios da justiça material, em sede hermenêutica, não repousa apenas nas dificuldades semânticas de se obter uma denotação e uma conotação mais precisas, mas no uso pragmático que os códigos (forte e fraco) venham a conhecer no intercâmbio humano. 58 59 Cf. GOMES, Orlando. Contratos. 25 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 179. Id., ibid., p. 180. 35 A dogmática interpretativa opera e busca racionalizar a oposição entre justiça formal e material e domesticar a variabilidade dos critérios de justiça material, a partir da relação entre código forte e código fraco, de forma que a predominância deste ou daquele afeta a interpretação da comunicação normativa, permitindo flexibilizar aqueles comandos cuja precisão possa criar dificuldades de adequação em determinados casos e, por outro lado, enrijecer aqueles cuja vagueza e ambigüidade dificulte a decisão. Isto é, em cada comunidade, se, na relação entre código forte e código fraco, este ou aquele é o dominante, isto afeta o sentido da justiça material e, assim, sua função interpretativa dos sistemas normativos. 7. CONCLUSÃO O jurista não interpreta do mesmo modo em que o faz o ser humano em suas conversações ordinárias. O jurista pressupõe que, no discurso normativo, são fornecidas razões para agir de um certo modo e não de outro, que refletem escolhas do legislador a partir de um conjunto de crenças e preferências. Essas razões, portanto, se destinam a uma tomada de posição acerca do que é justo ou injusto, em determinados casos relevantes (de potencial conflito). Assim, nos casos de complexidade, vagueza e busca de intenção do emissor da comunicação normativa jurídica, a problemática da justiça pode vir novamente à tona, o que tornaria a interpretação virtualmente indecidível se tomada como uma especulação zetética sobre o significado ou a definição de critérios últimos de justiça. Diante desse problema, a dogmática interpretativa, dentro de sua missão prática de criar condições para a decidibilidade dos conflitos, busca racionalizar e domesticar o sentido das normas através de recursos pragmáticos de reconstrução do ordenamento, com o estabelecimento de novas distinções, definições, esquemas de interpretação ou mesmo regras, capazes de jogar com os códigos lingüísticos (fortes e fracos) das normas. Por meio dessas técnicas, a dogmática realiza escolhas, valorações e tomadas de posição ideológica acerca da justiça material (justeza ou senso do justo) subjacente às normas, em nome, porém, da figura fictícia do legislador racional que lhe permite reconstruir racionalmente o conteúdo do ordenamento em um sistema de soluções gerais e abstratas para hipóteses relevantes. Esse raciocínio desenvolvido pelo jurista, que lhe permite sacar conclusões do material normativo, como algo que já estava lá, implícito no que o legislador (racional) quis dizer, constitui uma forma de pensar e interpretar que não pode ser reduzido ao raciocínio 36 interpretativo ordinário, podendo-se falar efetivamente de uma “lógica material” do e não no direito. Do mesmo modo, as questões de justiça suscitadas na atividade de interpretação jurídica não são tratadas pelo jurista como questões zetéticas, tal como, por exemplo, em uma especulação filosófica sobre o sentido ou critérios de justiça, mas como problemas dogmáticos, implicando uma forma específica de pensar que não se reduz à filosofia em geral. Aqui, também, abre-se espaço para falarmos em uma filosofia do e não no direito. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS AARNIO, Aulis. On Legal Reasoning. Turku/Loimaa: Turun Yliopisto, 1977. ALCHOURRÓN, Carlos; BULYGIN, Eugenio. Introducción a la Metodologia de las Ciencias Juridicas y Sociales. Buenos Aires: Astrea. 1975. ______; ______. Normative Systems. Wien: Springer, 1971. ______; MAKINSON, David. Hierarchies of regulation and their logic. In HILPINEN, Risto (Ed.). New Studies in deontic logic. Dordrecht: Reidel, 1981. p 125-148. ARISTÓTELES. Éthique à Nicomaque. Trad. J. Tricot. Paris: Vrin, 1950. ASSIS, Araken de. Liquidação do dano. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 88, n. 759, p. 11-23, 1999. BARBOSA PINTO, Marcos. Interpretation and Conversation. Legal Theory, Cambridge, v. 9, n. 2, p. 157-179, jun. 2003. BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. 6. ed. Brasília: UnB, 1995. BULYGIN, Eugênio. Legal Dogmatics and the Systematization of Law. In: ECKHOFF, Torstein; FRIEDMAN, Lawrence; UUSITALO, Jyrki (Hrsg.). Rechtstheorie – Vernunft und Erfahrung im Rechtsdenken der Gegenwart / Reason and Experience in Contemporary Legal Thought, Berlin, n. 10, p. 193-210, 1986. CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 2. ed. Coimbra: Almedina, 1998. CASTANHEIRA NEVES, António. O actual problema metodológico da interpretação jurídica – I. Coimbra: Coimbra Editora, 2003. COLEMAN, Jules. The Practice of Principle: in defence of a pragmatist approach to legal theory. Oxford: Oxford University Press, 2001. ______; LEITER, Brian. “Determinacy, Objectivity and Authority” In: MARMOR, Andrei (Ed.). Law and Interpretation. Oxford: Oxford University Press, 1997. p. 204-277. 37 COSTA, Newton da; MARANHÃO, Juliano Souza de Albuquerque. Lógica deôntica jurídica. In: ZILLES, Urbano (Coord.). Miguel Reale – Estudos em homenagem aos seus 90 anos. Porto Alegre: Edipucrs, 2000. DASCAL, Marcelo. Interpretação e compreensão. São Leopoldo: Unisinos, 2006. DAVIDSON, Donald. Belief and the basis of meaning. In: DAVIDSON, Donald. Inquiries into truth and interpretation. Oxford: Clarendon Press, 1984. ______. Radical Interpretation. In: DAVIDSON, Donald. Inquiries into truth and interpretation. Oxford: Clarendon Press, 1984. DIAS, Gabriel Nogueira. Rechtstheorie bei Hans Kelsen (1881-1973). Tübingen, 2004. DREIER, Horst; GRÖSCHNER, Rolf; HERMES, Georg (Hrsg.). Grundgesetz: Kommentar. Band I. Art. 19, III, Abs. 11. Tübingen: Mohr Siebeck, 1996. ENGISCH, Karl. Einführung in das juristische Denken. Stuttgart: Kohlhammer, 1964. EHRENBERG, Victor. Die Rechtsidee im frühen Griechentum. Leipzig, 1921. FARIAS, Domenico. Interpretazione e Logica. Milano: Giuffrè, 1990. FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito. São Paulo: Atlas, 2004. ______. Estudos de filosofia do direito. São Paulo: Atlas, 2003. ______; MARANHÃO, Juliano Souza de Albuquerque. O princípio de eficiência e a gestão empresarial na prestação de serviços públicos: a exploração econômica das margens de rodovias. Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, n. 17, abr. 2007. FINNIS, John. Natural Law: The Classical Tradition. In: COLEMAN, Jules; SHAPIRO, Scott. The Oxford Handbook of Jurisprudence and Philosophy of Law. Oxford: Oxford University Press, 2002. GOMES, Orlando. Contratos. 25 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002. GRICE, Paul. Further notes on logic and conversation. In: GRICE, Paul. Studies in the way of words. Cambridge: Harvard University Press, 1991. p. 41-57. ______. Logic and Conversation. In: GRICE, Paul. Studies in the way of words. Cambridge: Harvard University Press, 1991. p. 22-41. HARTSHORNE, Charles; WEIS, Paul (Eds.). Collected Papers of Charles Sanders Peirce. Cambridge: Harvard University Press, 1931-1958. HILPINEN, Risto. Peirce’s Logic. In: GABBAY, D. M.; WOODS, John. Handbook of the History of Logic. The Roise of Modern Logic: From Leibniz to Frege. Amsterdam: Elsevier, 2004. v. 3. p. 611-658. 38 ______; FOLLESDAL, Dagfin. Deontic Logic: an introduction. In: HILPINEN, Risto (Ed.). Deontic Logic: Introductory and Systematic Readings. Dordrecht: Reidel Publishing Company, 1971. HIMMA, Kenneth Eimar. Inclusive Legal Positivism. In: COLEMAN, Jules; SHAPIRO, Scott. The Oxford Handbook of Jurisprudence and Philosophy of Law. Oxford: Oxford University Press, 2002. KAPITAN, Tomis. Peirce and the Structure of Abductive Inference. In: HOUSER, N.; ROBERTS, D. D.; EVRA, J. V. Studies in the Logic of Charles Peirce. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1997. p. 477-496. KELSEN, Hans. On the Theory of Interpretation. Trad. Bonnie Litschewski Paulson e Stanley L. Paulson. Legal Studies, Oxford, v. 10, n. 2, p. 127-135, 1990. ______. Reine Rechtslehre. 2. ed. Wien: Deuticke, 1960. ______. Zur Theorie der Interpretation. Internationale Zeitschrift für Theorie des Rechts. Offizielles Organ des “Institut international de Philosophie du Droit et de Sociologie juridique”, Jahrgang, v. 8, p. 9-17, 1934. MARANHÃO, Juliano Souza de Albuquerque. Padrões de racionalidade na sistematização de normas. Tese de Doutorado. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. ______. Some operators for Refinement of Normative Systems. In: VERHEIJ, Bart; LODDER, Arno R.; LOUI, Ronald P.; MUNTJEWERFF, Antoinette J. (Eds.). Legal Knowledge and Information Systems, Frontiers in Artificial Intelligence and Applications. Amsterdam: IOS Press, 2001. p. 103-115. MARMOR, Andrei. Exclusive Legal Positivism. In: COLEMAN, Jules; SHAPIRO, Scott. The Oxford Handbook of Jurisprudence and Philosophy of Law. Oxford: Oxford University Press, 2002. MARTINS-COSTA, Judith; TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (Coord.). Comentário ao novo Código Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2003. v. 5, t. II. NOWAK, L. De la rationalité du législateur comme élément de l’interprétation juridique. Logique et Analyse, Bruxelles, n. 12, p. 65-86, 1969. PRAKKEN, H.; VREESWIJK, G. Logics for Defeasible Argumentation. In: GABBAY, D.; GUENTHNER, F. (Eds.). Handbook of Philosophical Logic. 2. ed. Dordrecht: Kluwer, 2002. v. 4. p. 218-319. ______. Logical Tools for Modelling Legal Argument: a study of defeasible reasoning in law. Dordrecht: Kluwer, 1997. 39 RAWLS, John. A Theory of Justice. Cambridge: Harvard University Press, 1999. ROSS, Alf. Sobre el Derecho y La Justicia. Buenos Aires: Eudeba, 1994. ______. On Law and Justice. London: Stevens, 1958. ROSS, William David. Fundamentos de Ética. Buenos Aires: Eudeba, 1963. ______. Foundations of Ethics. Oxford: Oxford University Press, 1939. ______. The Right and the good. Oxford: Oxford University Press, 1930. RUGGIERO, Roberto de. Instituições de direito civil. Campinas: Bookseller, 1999. v. 1. SCHAUER, Frederick. Playing by the Rules: A Philosophical Examination of Rule Based Decision-Making in Law and in Life. Oxford: Clarendon Press, 1991. SERPA LOPES, Miguel Maria. Comentários à Lei de Introdução ao Código Civil. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1959. v. 1. SICHES, Luis Recasens. Nueva filosofia de la interpretación del derecho. México: Porrúa, 1956. SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 1999. SINGER, Joseph William. The Player and the Cards: Nihilism and legal Theory. Yale Law Journal, New Haven, v. 94, n. 1, p. 1-70, 1984. TOULMIN, Stephen. The uses of argument. Cambridge: Cambridge University Press, 1958. VERNENGO, Roberto José. Systematization in Legal Dogmatics and Judicial Decisions. In: ECKHOFF, Torstein; FRIEDMAN, Lawrence; UUSITALO, Jyrki (Hrsg.). Rechtstheorie – Vernunft und Erfahrung im Rechtsdenken der Gegenwart / Reason and Experience in Contemporary Legal Thought, Berlin, n. 10, p. 230-239, 1986. VON WRIGHT, Georg Henrik. Deontic Logic, Mind, n. 60, p. 1-15, 1951. WIEACKER, Franz. Privatrechtsgeschichte der Neuzeit. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1967. ZIEMBINSKI, Zygmunt. La notion de rationalité du législateur. Archives de philosophie du Droit: Formes de rationalité en droit, Paris, n. XXIII, p. 175-187, 1978. ______. Two Concepts of Rationality in Legislation. In: ARNAUD, André-Jean; HILPINEN, Risto; WRÓBLEWSKI Jerzy (Hrsg.). Rechtstheorie – Juristische logik, Rationalität und Irrationalität im Recht / Juristic logic, Rationality and Irrationality in Law, Berlin, n. 8, p. 139-150, 1985. ZITELMAN, Ernst. Lücken im Recht. Leipzig, 1903. 40
Download