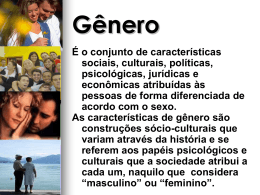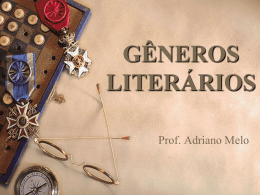UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO INSTITUTO DE LINGUAGENS PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DE LINGUAGENS EDILSON FLORIANO SOUZA SERRA ENTRE BATONS, FIGURINOS E SAIAS: MÚLTIPLOS FEMININOS EM LUCIENE CARVALHO CUIABÁ-MT 2011 EDILSON FLORIANO SOUZA SERRA ENTRE BATONS, FIGURINOS E SAIAS: MÚLTIPLOS FEMININOS EM LUCIENE CARVALHO Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem (MeEL), da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Estudos de Linguagem. Área de concentração: Estudos Literários Orientador: Prof. Dr. Romair Alves de Oliveira. CUIABÁ-MT 2011 ii FICHA CATALOGRÁFICA S487e Serra, Edilson Floriano Souza. Entre batons, figurinos e saias: múltiplos femininos em Luciene Carvalho / Edilson Floriano Souza Serra. – 2011. ix, 94 f. Orientador: Prof. Dr. Romair Alves de Oliveira. Dissertação (mestrado) – Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Linguagens, Pós-graduação em Estudos de Linguagem, Área de Concentração: Estudos Literários, 2011. Bibliografia: f. 91-94 1. Literatura mato-grossense – Poesia. 2. Análise literária. 3. Gênero literário. 4. Identidade feminina – Literatura. 5. Poesia mato-grossense – Crítica e interpretação. 6. Carvalho, Luciene, 1965-. I. Título. CDU – 821.134.3(817.2)-1.09 Ficha elaborada por: Rosângela Aparecida Vicente Söhn – CRB-1/931 iii Dedico este trabalho primeiramente à minha mãe, que de forma inacreditável sempre acreditou em meus projetos. Ao amigo José Alexandre Vieira da Silva, irmão. A Maria Helena, companheira de todas as horas. E a meus irmãos, em especial Luzineth e Joilson Serra, grandes motivadores. iv AGRADECIMENTOS Agradeço em especial ao professor-orientador Romair Alves de Oliveira, pela atenção e paciência dispensada ao longo de meus estudos, Aos professores que investiram tempo de estudo para nosso aprimoramento no MeEL e à professora Vera Maquêa, que se dispôs a contribuir com este trabalho. À professora Célia Maria Domingues da Rocha Reis, que além de acompanhar a elaboração deste trabalho, participou de forma significativa em minha vida acadêmica, ora corrigindo as imperfeições de meus textos, ora apenas como exemplo da excelente profissional que é. Ao Instituto Federal de Mato Grosso, campus de Pontes e Lacerda, sobretudo na pessoa de Gláucia Mara de Barros e Érica Lopes Rascher. v Dormem em mim A escrava e a princesa No mesmo corpo, pele e substância Caminham de mãos dadas. Luciene Carvalho vi RESUMO Proponho, neste trabalho, a análise de textos dos livros Teia (2000), e Caderno de caligrafia (2003), ambos da escritora mato-grossense Luciene Carvalho, à luz da crítica literária dos estudos de autoria feminina. O estudo centra-se no tema da identidade. Faço levantamento bibliográfico acerca do conceito de formação da identidade e demais reflexões que permeiam a crítica feminista. Entre esses conceitos estão o de gênero, mulher e patriarcado. Após percorrer conceitos da área de literatura de autoria feminina, analiso o processo de diferenciação e construção de identidade que vão se processando nos textos da escritora. Desde a simples negação daquilo que foi ratificado como sendo o próprio sujeito, até a complexa estruturação de uma identidade autônoma, diversa dos padrões desejados e impostos pelo patriarcado. Palavras-chaves: Luciene Carvalho, identidade feminina, gênero, patriarcado. vii ABSTRACT In this paper I propose the analysis of texts from the books Teia (2000), and Caderno de caligrafia (2003), both written by the mato-grossense writer Luciene Carvalho, according to literary criticism of female authorship studies. The study focuses on the identity theme. I consider the concept of identity formation and other reflections that permeate the feminist criticism, such as gender and patriarchy. After covering concepts of literature area that concern to female authorship, I analyze the process of differentiation and identity construction that is been processed in the texts. From the simple denial of what was ratified as the subject itself, till the complex structure of an autonomous identity, diverse of desired standards and imposed by patriarchy. Keywords: Luciene Carvalho, female identity, gender, patriarchy. viii SUMÁRIO INTRODUÇÃO Poesia para a vida toda........................................................................................10 Sobre a autora......................................................................................................14 CAPÍTULO I 1. Revisitando os conceitos: gênero, patriarcado e identidade....................... 1.1 Mulher e gênero.......................................................................................... 1.2 O gênero em debate.................................................................................... 1.3 O patriarcado ainda existe?......................................................................... 1.4 Identidades................................................................................................... 1.5 Mas quem tem crise de identidade?............................................................ 16 16 20 24 29 30 CAPÍTULO II 2. Entre anjos e demônios: paradoxos no feminino......................................... 2.1 O corpo feminino como espaço das negações............................................ 2.2 É preciso resistir........................................................................................... 2.2 Céu e inferno no feminino............................................................................ 2.3 Entre batons, figurinos e teias: o esvaziamento do patriarcado.................. 44 44 47 61 66 CAPÍTULO III 3. Feminino: uma nova perspectiva de identidade para um novo sujeito.......... 73 CONSIDERAÇÕES FINAIS: FEMININOS......................................................... 89 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................... 91 ix INTRODUÇÃO POESIA PARA A VIDA TODA Não foi a universidade que me apresentou ao texto literário, tampouco a escola formal. Entre os primeiros participantes de minha aproximação com a literatura, está minha mãe, com suas histórias fantásticas na hora do sono. Mais tarde, ainda na infância, mas já na escola, tive o privilégio de ter contato com as narrativas do folclore nacional e mundial – sempre adorei a proximidade com aqueles contos, tanto pela oralidade de minha mãe quanto pela caneta de autores de renome. Chegou um tempo, no início da adolescência, em que o folclore não mais me deslocava do mundo como outrora ocorrera. Foi, então, o princípio com a poesia. Na poesia, encontrava as palavras reavivadas, com sua força plena, latindo, ferindo, cheirando mal, tirando minha paz e colocando-me novamente em suspensão, tal qual, na infância, o conto folclórico fizera. Confesso: na adolescência dormia ao ler romances. Guimarães Rosa, só o compreendi na faculdade, quando algum famigerado explicou-me que eu deveria lê-lo como se narrasse, contasse um “causo”, pela oralidade. José de Alencar, que todos amavam, inclusive no Ensino Médio, da mesma forma que Rosa, não me despertava interesse, coisa de se preocupar. Mas a poesia, essa sempre teve espaço cativo. As obras completas de João Cabral de Mello Neto, Manuel Bandeira, Fernando Pessoa, Carlos Drummond e dos concretistas roubaram boa parte de minha adolescência. Como que hipnotizado pelo “decifra-me ou devoro-te” dessas ilustres figuras, li e reli (diversas vezes) as obras desses e de outros autores. A palavra, na poesia, ganha outra dimensão significativa. Nunca envelhece, é a impressão que tenho. Se envelhecer, poesia não era. Na prosa, na boa prosa – como na de Eça de Queiróz ou Fiódor Dostoiévski, autores para os quais abria alguma exceção na idade juvenil – isso também acontece, contudo, é necessário esperar mais, ser mais paciente; um leitor mais apurado recomendaria, inclusive, catar o feijão. Já a poesia não é poesia sem a palavra latejante, que se agita na frase. É claro que essa 10 facilidade se prova, costumeiramente, um engano, pois a latência da palavra no verso poético é diferente do texto em prosa. As palavras, na prosa, têm menor alcance vertical, tendem mais à horizontalidade. O significado nesse tipo de texto é assim construído: uma palavra se amarra à outra que se amarra à outra, até formarem uma teia complexa com um significado mais ou menos coerente. No texto poético – e aqui penso mais naqueles modernistas – a palavra, para além da horizontalidade, ganha em verticalidade. Seu significado passa a ser constituído para dentro de si mesmo, da mesma forma que no seu atrelamento às outras. Chega a possuir uma enorme raiz, mas raiz aérea. A raiz de seu significado é pivotante, gira em torno quase que de si, apenas. Sua profundidade é disposta em camadas, se não infinitas, significativamente mais profundas que em outros modalidades de textos. Essa profundidade (a que alguns preferem chamar “palavra-átomo”), evidentemente, afeta sua relação com as irmãs ao lado. Daí que os signos na poesia podem estar terminantemente em conflito, sem que isso gere consequências perniciosas para o texto. De posse desse raciocínio e de tantos outros, não necessariamente circunscritos ao universo da literatura, foi que os concretistas e outras correntes elevaram a tal ponto o uso da palavra isolada no papel que deslocaram, muitas vezes, o campo da literatura, que, por excelência, é a arte da palavra, a outros mais ligados às sensibilidades visuais e táteis. Esse aprisionamento em si que a palavra realiza na poesia torna-a mais expressiva, ao passo que menos palpável. Não é à toa que, em função dessa pele escorregadia, foi acusada por figuras como Jean Paul Sartre (1989), – que impelia os artistas a manifestarem-se acerca de atrocidades bélicas dos governos – de não servir como fonte de engajamento político (mais tarde o autor reconheceria, com ressalvas, essa possibilidade também na poesia). Desdobrando as preocupações do filósofo existencialista, é possível perguntar: Como estabelecer um pacto social com o texto se o próprio texto não sustenta referencialidades, palavras de ordem? Como ler uma obra partindo do pressuposto de que haja um referente exterior ao texto se, mesmo que seu conteúdo tenha certa equivalência com o mundo exterior, ainda assim ocorre a possibilidade de tudo não 11 passar de uma metáfora do instante particularmente circunscrito ao tempo psicológico em que o eu lírico vive, uma espécie de abatimento sentimental tal qual o que norteou os românticos ou semelhante ao conjunto de práticas niilistas dos primeiros modernistas? Forçar o texto literário a responder a certas demandas pode resultar, do modo como ocorreu com alguns vanguardistas, em enfraquecer a metáfora poética. É fato que o poeta desvela em seus versos um outro pacto que se estabelece entre ele e o leitor de poesia – uma espécie de “sentir na fantasia” (na falta de termo melhor), que deu mote não só à lírica baudelairiana, como também serviu de base para boa parte das poéticas do findado século XX. Por outro lado, não podemos esquecer-nos de que a palavra se trata, no texto poético, ainda assim, de um signo. E, como signo, remete ao que está fora, que está no mundo. É, ainda com os modernistas, o mundo a matéria da poesia. Considerando esse fato, ignorar o universo no qual o texto poético assenta-se é também correr o risco de não se conseguir mergulhar naquelas infinitas camadas de significado que, como já disse, a palavra possui na poesia. Retomando a narrativa das ações que resultaram neste trabalho, durante o curso de Letras fiz inúmeras incursões literárias: Machado de Assis, Lima Barreto, Álvares de Azevedo, Euclides da Cunha, os modernistas Clarice Lispector, Mário de Andrade e outros. Apenas extradidaticamente, e já no trabalho de final de curso, foi que tive contato mais direto com a literatura regional. Porém, antes mesmo de ler Luciene Carvalho, tive a oportunidade de ouvi-la recitar seus poemas nos espaços da universidade. O primeiro contato com a obra da poeta deu-se pelo acaso, num alfarrabista, onde costumava adquirir a maioria da literatura estudada na graduação. O balconista apresentou-me a obra Teia (2000), da escritora que viria a conhecer mais tarde, e sobre a qual apresentaria meu estudo de final de curso. Quando me inscrevi no Programa de Pós graduação em Estudos de Linguagem, meu anteprojeto visava investigar a poesia em Mato Grosso. Supus que seria profícuo trabalhar uma vez mais com a produção da autora com a qual trabalhara no período de graduação. 12 O tema “mulher e literatura”, que já havia me interessado em outras épocas quando da primeira leitura da obra de Luciene, voltou à superfície de minhas reflexões depois de discussões com amigos de curso, orientador e retorno a textos antigos. Inicialmente, após ter debruçado-me sobre a totalidade da produção da autora, selecionei apenas uma de suas obras para o meu trabalho Teia, talvez seu livro mais interessante, foi mais tarde que me saltou aos olhos Caderno de Caligrafia. Contudo, ao folhear a obra novamente, não tive dúvidas das produções com as quais trabalharia. Com esses dois livros e inúmeras referências teóricas, estava pronto. Restava apenas começar a explorar o mar de significados que contra as margens explodia. Este trabalho dá-se basicamente pela visitação bibliográfica a autores da área e a análises de poemas – análises, estas, que não se pretenderam exaustivas. Minha intenção não é tratar aqui as interpretações feitas com o objetivismo histórico que pretende o trabalho de interpretação como uma espécie de descortinar do sentido atemporalmente verdadeiro dos textos. Pelo contrário, retomo a ideia de Eagleaton quando afirma que “toda interpretação é situacional, moldada e limitada pelos critérios historicamente relativos de uma determinada cultura”, sendo assim, “não há possibilidade de se conhecer o texto literário como ele é” (EAGLEATON 2003:99). E não é possível conhecê-lo em sua essência, pois as duas escrituras, a do texto e a de sua análise, obedecem a critérios relativos e diferentes, servindo, inclusive, a finalidades distintas. Neste estudo, analisarei os discursos subjacentes aos textos e o modo como são elaborados dentro da fala feminina que, via de regra, ainda funciona como veículo de propagação de uma ideologia que apregoa a superioridade masculina. Quanto à estruturação do trabalho, este se divide em três capítulos. No primeiro, discuto temas recorrentes nos textos críticos de literatura de autoria feminina: identidade, gênero, patriarcado e a elevação de mulher como categoria analítica. Quanto à identidade, optei, neste trabalho, por não utilizar o sujeito dividido que se tem rotineiramente utilizado na contemporaneidade, sem antes colocá-lo à prova, repensar as definições que o permeiam. Da mesma forma, o conceito de “crise de identidade” é repensado levando-se em conta que diversos atores desse cenário, embora herdem uniformemente essa crise, estão em contextos desiguais. 13 No segundo capítulo, passo à análise propriamente dita. Quatro poemas são estudados e neles observo de que forma o sujeito vê-se no mundo, insere-se no tema da identidade e se reconhece enquanto “outro” dentro do contexto da opressão feminina. Ainda nesse capítulo, estudo os mecanismos de que o sujeito lança mão para colocar-se diante do mundo e, sobretudo, como percebe a si mesmo para então reivindicar outro lugar no contexto das identidades. No último capítulo, detenho-me na identidade que o sujeito elabora e nas estratégias das quais se utiliza para desviar-se do universo que tende a atrelá-lo às forças externas que pretendem sua submissão. O sujeito vê-se mergulhado no espaço alheio. Tomando consciência de seu estado, parte, então, para dentro de si à procura de sua própria voz. Dessa forma, esquivando-se de um sistema e elaborando outros, estabelece-se numa zona mais ou menos confortável de reconhecimento. É o que veremos. Sobre a autora Luciene Carvalho, nascida em Corumbá antes da divisão do Estado em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, publicou Devaneios, seu primeiro livro, em 1994. Em 2001, publica Teia. Diferente da primeira, nesta obra o feminino instaura-se de forma latente, assumindo, inclusive, em certos poemas, a filosofia de Lillith, a primeira mulher, que, segundo a mitologia cristã, por não ter aceitado submeter-se ao homem, foi expulsa do paraíso e levada a morar com demônios. O livro traz à tona uma tendência mais intimista da escritora, voltando-se às questões existenciais. Dois anos depois, publica Caderno de Caligrafia, revelando um sujeito que lança mão de um feminino estereotipado para posicionar-se contrariamente ao discurso pré-estabelecido acerca desse gênero. Em 2005, nasceu Porto, uma homenagem ao bairro onde Luciene Carvalho cresceu, em Cuiabá. Os próximos livros são Aquelarre: ou o livro de Madalena, Conta- 14 Gotas, Sumo da lascívia e Cururu e Siriri do Rio Abaixo, os quatro publicados em 2007. Por último, em 2009, publicou Insânia, obra em que tematiza a loucura. Luciene Carvalho é bastante conhecida nos saraus literários de Mato Grosso pelas performances realizadas na declamação de poemas. 15 CAPÍTULO I REVISITANDO OS CONCEITOS: GÊNERO, MULHER, PATRIARCADO E IDENTIDADE Mulher e gênero A revisão de conceitos tem sido comum no cenário de discussões das identidades, sobretudo no campo da crítica feminista: Inicialmente, falava-se no estudo da categoria “mulher”; a seguir passouse a estudar a categoria de gênero; ultimamente, tem-se buscado substituir o uso de categorias cuja tendência é universalizar a oposição homem/mulher” (LAURETIS 1994:246). Lauretis (1994:246), propõe a designação da categoria de “sujeito do feminismo”, o que conforme a pesquisadora é “uma subjetividade múltipla e não unificada, capaz de abarcar o que as estruturas da representação de gênero deixam de fora” como por exemplo, os espaços sociais ou os discursos produzidos nas margens. Porém, foi Simone de Beauvoir, ancorada tanto nos estudos da psicanálise freudiana quanto nos conhecimentos do materialismo histórico, uma das primeiras pesquisadoras a atentar para a diferenciação entre o que é socialmente constituído entre os sexos e o conceito tradicional de que essa diferenciação é produto da natureza. Com sua frase emblemática “Ninguém nasce mulher: torna-se mulher”, Beauvoir (1980:13) fez com que se refletisse acerca do socialmente imposto para as mulheres pelos homens no decorrer da história. Da pensadora francesa para cá, os estudos do feminino tomaram caminhos algumas vezes promissores, outras conturbados. Contudo, o mais relevante é que tais estudos, pelo simples fato de que continuam na ordem do dia, aglomerando mais e mais estudiosos em torno de si, fazem, ainda, sentido. Vale ressaltar que essas reflexões fazem sentido apenas porque a relação de dominação e exploração das mulheres por parte dos homens não se configurou como um mito na pós-modernidade, ou seja, a relação desigual, infelizmente, persiste nos tempos atuais. Esses saberes mostram-se pertinentes também porque os discursos sobre mulheres não mais se 16 rendem ao silenciamento, mesmo que haja outras demandas de igual relevância no contexto mundial. Tendo como foco a tentativa de dissociação ou, pelo menos, afastamento entre mulher e natureza, operada por Beauvoir (1980), as feministas deram um passo mais à frente, na medida em que passaram a rejeitar o uso do termo “mulher”, por carregar toda a carga semântica do sexo como destino do feminino, tal qual salientou Freud (1980). Antes, porém, de decretarem a morte de “mulher”, houve a tentativa de dar vida a esse termo. Tal operação consistia basicamente na rejeição de sua análise pelas lentes embaçadas do discurso masculino, para que se possibilitasse sua análise a partir da produção propriamente de mulheres – o que ficou conhecido como “ginocrítica”. A intenção da “ginocrítica” formulada por Showalter (1994), era trazer para a zona de interesse os textos produzidos por mulheres já que, segundo a teórica, é justamente nesses textos que serão encontrados os aspectos que caracterizariam o feminino. O salto dado por essa proposta foi bastante significativo na medida em que os primeiros estudiosos do feminino deixaram de dedicar-se a um feminino “traduzido”, visto por intermédio do olhar masculino para, então, voltar-se para um “feminino” produzido por quem está diretamente implicado nesse universo: as mulheres. Assim, esses textos produzidos por mulheres, seriam os novos balizadores dos estudos sobre o feminino. A partir do mapeamento desse território, novos campos de estudo foram abertos. A literatura produzida por mulheres, enquanto novo campo de estudo, levou a indagações como “o que há de particular na escrita das mulheres?”, que culminaram em tentativas e direcionamentos como o proposto por Hélène Cixous (1995): a escrita do corpo pela mulher, ou simplesmente, écriture féminine. Uma proposta subversiva, na medida em que tem por intenção romper com o referencial masculino e elaborar um modelo em que o parâmetro seja o corpo feminino, uma escritura “múltipla, difusa, não centrada” (MOREIRA, 2003:44). Conforme o levantamento elaborado por Nadilza Moreira (2003), após esse momento tem origem a crítica da crítica, tomando-se como elemento de estudo a revisão dos conceitos da crítica literária. Essa nova fase faz nascer os estudos centrados no gênero, que estão focados nas formas de constituição do feminino e do masculino. Os estudos de gênero significam um salto relevante nas pesquisas 17 feministas à proporção que em “gênero” estão implicados os estudos de classe e raça, e que mesmo por isso, estenderá seu campo de atuação para a antropologia, psicologia e outros estudos sociais. Se, no princípio dos estudos feministas, sexo e gênero eram compreendidos como sinônimos (ou diferenciados como termos pertencentes, o primeiro à biologia e o segundo à cultura), com a evolução dos estudos feministas, o gênero passa a ser entendido como um atributo cultural que perpassa o sexo. As identidades sexuais são sempre revestidas culturalmente. Assim, estudar o gênero implica ater-se às relações, aos mecanismos sociais que não apenas o constituem como o mantêm atuante. Os estudos de gênero têm como principal qualidade a dissociação entre as características culturais e biológicas na formação do masculino e do feminino. O gênero aborda a diferença entre os sexos não como algo natural, dado, essencial, mas formado a partir de um conjunto de relações sociais contínuas, incessantes. A partir dessa premissa, o gênero questiona os papéis sociais relegados a cada um dos sexos, uma vez que esses papéis são historicamente construídos. Dessa forma, o surgimento da noção de “mulher” está ligado ao de “gênero”, já que este vai constituir-se a partir das relações com o masculino. Conforme Scott (1990), o uso do termo surge a partir da necessidade de os historiadores feministas darem conta das novas formulações teóricas para os conceitos utilizados pelos estudos do feminino. Primeiro, porque a proliferação dos estudos de caso e sua relação com o passado/presente assim exigia. Depois, porque as abordagens descritivas não questionavam os conceitos dominantes da disciplina, que foram descartados pelos estudiosos não feministas. Assim, a essa questão impôs-se um desafio teórico, exigindo mais que a análise das relações entre feminino e masculino, no passado tal qual no presente. E, para isso, foi preciso apreender o gênero como categoria de análise. Então, em que consiste o gênero apreendido dessa maneira? Consiste no estudo das relações entre homens e mulheres desde o passado mais remoto até sua configuração atual, conforme percebemos em Scott: Como é que o gênero funciona nas relações sociais humanas? Como é que o gênero dá um sentido à organização e à percepção do conhecimento histórico? (SCOTT, 1990:06). 18 Para a autora, essas são questões que só podem ser respondidas se tomarmos como parâmetro o gênero como categoria analítica. Scott salienta que, na década de 1980, o termo „gênero‟ foi usado indiscriminadamente, servindo para substituir o termo “mulher”, dando um enfoque supostamente mais neutro e menos político ao estudo das mulheres. Essa substituição também serviu para relacionar os sexos e partia da premissa de que o estudo isolado das mulheres apenas perpetuaria o mito de que a esfera de um sexo nada tem a ver com a de outro. Isto é, sua utilização pondera uma tentativa de legitimação ou, pelo menos, de inserção dos estudos sobre as mulheres nos estudos tradicionais. Ademais, o termo era utilizado para designar, como construção social, os papéis desempenhados na sociedade por homens e mulheres. Maria Luiza Heilborn (1992), acrescenta que não só o gênero constitui-se de papéis desempenhados pelos sexos, mas o gênero perpassa o sexo e estabelece-se como uma forma de significar o mundo: Gênero é um construto abstrato, um princípio de classificação, que emerge da observação do real: diferenciação sexual do reino animal e do vegetal. Entretanto, o que a operação lógica mantém da observação do real é o princípio da descontinuidade, do que não é idêntico, inscrita na biologia. Representa, portanto, a marca elementar da alteridade (Héritier, 1979, p. 227). Desse modo a ordem simbólica que se origina do gênero fala primeiro da descontinuidade do que de qualquer outra propriedade intrínseca do objeto. Assim, ainda que existam certas atividades invariantes em todas as culturas, masculino e feminino possuem significados distintos em cada cultura. Este par classificatório, tomado como idioma, impera sobre atividades e objetos que a eles são associados como se pertencentes aos domínios masculino e feminino, e detentores dessas qualidades. O universo circundante passa, portanto, por uma categorização de gênero. (HEILBORN In: COSTA & BRUSCHINI,1992:98) Esse ponto de vista distingue-se bastante daquele apresentado por estudiosos como Nadilza Moreira (2003), para qual “o gênero, antropologicamente focalizado, está vinculado a atributos culturais, alocados aos sexos, a partir da dimensão biológica do ser humano” (MOREIRA, 2003:44). De acordo com a passagem, uma focalização a partir do sexo não constitui o gênero, mas é o gênero que determina a identidade 19 biológica “sexo”, é pelo gênero que o sexo é percebido. Também para Saffioti (1992), não é dos sexos que se origina o gênero e sim das relações sociais de gênero que os indivíduos são direcionados a se constituírem como homens e mulheres. Como exemplo, Saffioti cita o fato de indivíduos de genitália masculina tornarem-se mulheres e vice-versa. Sendo assim, ambos são prisioneiros das relações sociais de gênero. “O sexo é socialmente modelado” (SAFFIOTI, in COSTA e BRUSCHINI, 1992:189). Afirma Saffioti nessa mesma passagem: A construção do gênero pode, pois, ser compreendida como um processo infinito de modelagem-conquista dos seres humanos, que tem lugar na trama de relações sociais entre mulheres, entre homens e entre mulheres e homens. É a partir das relações sociais que o gênero constitui-se e não a partir do sexo ou da simples anatomia. Deste modo, conforme a autora, modificar as relações sociais através do resgate de uma ontologia relacional é a chave para algo além de avançar nos estudos que visam a compreensão e liberação feminina, significa a inserção do ser humano em uma nova perspectiva de compreensão de si. O gênero em debate Não são poucos os estudiosos que, refletindo sobre o uso do termo “gênero”, ou fazendo um balanço sobre sua atuação na última década, a exemplo de Cláudia de Lima Costa (2004), questionam a pertinência da continuidade de seu uso. Esse questionamento é embasado, via de regra, por dois argumentos principais: um afirma que o uso despolitiza o que deve ser politizado, no caso, o estudo das/sobre as mulheres, ao passo que o outro, dá margens ao estudo do masculino, uma vez que é relacional. 20 Sobre o uso do termo, Cláudia de Lima Costa (1998) escreve Tráfico do gênero, artigo que divide em quatro o cenário do feminismo e culmina no surgimento dessa categoria de discussão. No primeiro cenário, constituído pela atuação do feminismo na virada do século e início deste, a autora enfatiza o surgimento de inúmeras variações do feminismo instaurado no início do movimento e visualiza, agora, um feminismo multifacetado, conforme as mais específicas necessidades de seu grupo. Daí, ao feminismo, agregarem-se as mais diversas bandeiras, de classe, de raça etc. A autora assinala que, embora haja essa partição em diferentes campos de atuação, o movimento não perdeu força, mas ganhou em vitalidade ao agregar-se aos diferentes discursos em questão na sociedade. Essas subdivisões, no entanto, não ficaram sem respostas por parte do feminismo norte-americano, uma vez que este afirma que o feminismo como um todo tenha dissipado-se diante de tantas fraturas. Outras correntes, segundo Costa, contestam ainda um feminismo “sem mulher” e reafirmam a necessidade de se combater o “atomismo das diferenças, estabelecendo uma identidade positiva e fixa para a mulher através da articulação das diferenças entre as mulheres com as estruturas de dominação que produziram, desde o início, tais diferenças” (COSTA, 1998:128). No segundo cenário, a autora salienta que um dos principais ganhos da introdução do conceito de gênero nos movimentos feministas foi a negação epistemológica de qualquer essência para a mulher. Foi a diluição da noção de natureza associada tanto ao masculino quanto ao feminino. Com os estudos das relações de gênero não se precisava mais necessariamente levantar uma bandeira feminista para debruçar-se sobre a relação desigual de poder entre homens e mulheres. Essa contribuição foi significativa para a criação de departamentos dedicados ao tema. No entanto, a introdução do conceito de gênero acarreta crescentes preocupações às feministas. Isso porque, sendo um termo relacional, de acordo com Costa (1998), sempre agregará nos estudos do feminino o estudo do masculino. As mulheres sempre serão abordadas a partir de suas relações com os homens. Outra 21 preocupação assinalada pela pesquisadora é o surgimento de estudos do masculino sem um olhar mais aprofundado da crítica feminista, o que acarreta a perda de foco e faz com que os estudos sobre mulheres voltem ao ponto inicial. Considerando os deslocamentos que o conceito de gênero vem sofrendo dentro dos estudos feministas, e preocupado com o esvaziamento político dos estudos voltados para o feminino, Costa propõe a retomada da categoria “mulher” pelos estudiosos do tema, ressaltando a maneira de retomada dessa categoria entendida não como essência ontológica, nem mesmo no sentido restrito de mulher como essencialismo estratégico, mas na acepção ampla da posição política (o que necessariamente implica algum tipo de essencialismo estratégico em primeiro momento). (COSTA, 1998:132) Como argumento para adoção de sua sugestão, Costa expõe que “mulher se trata de uma categoria heterogênea, construída historicamente por discursos e práticas variados, sobre os quais repousa o movimento feminista” (COSTA, 1998:133). Para a autora, essa identidade, sua história e seu significado existem em relação às histórias e significados de outras identidades. Com isso, estabelece o conceito de mulher como categoria relacional, operando a partir de outras referências identitárias. Como proposição do uso da categoria “mulher” em diferentes articulações de luta, a autora salienta a necessidade primária de desconstruir esse conceito, para então reconstruí-lo, dessa vez, sem qualquer articulação com um possível essencialismo. Outro resultado da desconstrução/reconstrução da categoria “mulher” seria livrá-la do emaranhado de significados que ao longo dos anos a ela se atrelaram, de modo que não apenas tiraram sua força, como também minaram-na por dentro. Dessa forma a mulher constituir-se-ia como: uma identidade politicamente assumida, a qual está invariavelmente ligada aos lugares social, cultural, geográfico, econômico, racial, sexual, libidinal, etc., que ocupamos e a partir do qual lemos e interpretamos o mundo. (COSTA, 1998:133) A proposição de Claudia de Lima Costa, mostra-se interessante na medida em que reposiciona um discurso com amplitudes questionáveis e que tem despolitizado os 22 estudos acerca das mulheres; discurso que passa a abranger, a partir dos estudos de gênero, as “minorias”, sob uma mesma bandeira, para o estudo da mulher, que não somente redireciona o foco para uma questão específica, como oferece recurso para reivindicações que se circunscrevem na relação desigual entre homens e mulheres. Carlos Ceia (2010), ao definir o estudo de gênero como continente de uma pretensa neutralidade quanto ao estudo dos homens e das mulheres, apresenta argumento contundente de que o estudo do feminino embutido na categoria de gênero perde sua força, isso porque no gênero tem havido o estímulo a uma simetria (estudo não só do feminino, mas do masculino), que ainda não foi construída, conforme podemos perceber na passagem abaixo: Os Gender Studies apresentam-se cada vez mais como uma das formas possíveis de analisar a forma do texto literário em relação com o ser e a condição humana que vive nesse “tecido” de palavras e ideologias, demonstrando que a temática do género deverá abranger quer o mundo feminino quer o mundo masculino, sendo que ambos se interpenetram, tornando as vozes presentes nos textos mais auto-conscientes, enquanto a sua abordagem se torna mais ecléctica e não apenas debruçada no estudo das visões e vivências femininas/feministas. (CEIA, 2011. http://www.edtl.com.pt/index.php) No prefácio a Poéticas e políticas feministas (2004), Cláudia Lima Costa e Simone Pereira Schimidt, justificam a associação entre feminismo e política: Diante de um quadro onde as desigualdades sociais crescem, a exclusão aumenta, o respeito à dignidade humana encolhe assustadoramente, as forças militares imperiais invadem territórios nacionais, declarando unilateralmente uma ocupação, os fluxos globais de capital e mercadorias aprofundam as trocas desiguais entre países desenvolvidos e países emergentes, e onde, cada vez mais, massas de pessoas se deslocam em correntes migratórias buscando melhores condições de vida, nos perguntamos: o que a teoria e a crítica, hoje, podem fazer para resistir a tais forças e oferecer rumos para a ação política? (COSTA & SCHIMIDT, 2004:09) Em um cenário de discussão de falência da crítica é sintomática e necessária a tentativa de sua inserção num contexto mais utilitário. Adriana Piscitelli (in: COSTA & SCHIMIDT, 2004), questiona a associação entre crítica feminista e sua prática, 23 argumentando que fazem parte de terrenos diferentes de atuação. Lembra-nos Costa (2004), porém, que, no caso do feminismo, a atuação é anterior aos estudos teóricos ou críticos. Destarte, o feminismo é fruto de duas vertentes, uma intelectual, outra política, de forma que sempre se amealharam. O patriarcado ainda existe? Em que momento homem e mulher colocaram-se em polos antagônicos de atuação? Que situação, que contexto específico levou a mulher a ser vista negativamente nas relações sociais? Parece-nos um mito bastante cristão pensar numa simetria de poder entre os gêneros no início da constituição dos seres humanos. Na esteira de Engels (2002), Simone de Beauvoir (1980), primeiramente, partiu da premissa de que em algum momento da história humana, entre homens e mulheres, não havia relação de dominação ou, minimamente, essa era uma relação de poder mais igualitária. Aparentemente, foi a divisão do trabalho (caça e coleta, para um e outro), o que provocou a subordinação das mulheres. No cenário nacional, Saffioti (2004) defende tese bastante semelhante no que diz respeito à existência de um poder equivalente entre homens e mulheres há cerca de 5 ou 6 mil anos. Ora, as relações de poder entre homens e mulheres sempre existiram, a assimetria está posta desde sempre, para retornar a uma narrativa para a gênese da dominação masculina é mais fácil crer numa reviravolta de poder protagonizada pelo macho do que necessariamente nessa simetria edêmica: Em um passado muito longínquo, existia um grupo social em que a mulher exercia poderes sobre os homens em função de sua capacidade sobrenatural de expelir criancinhas. Ela era o centro do mecanismo da vida, a mãe dos homens, talvez a genuína divindade humana. Na situação de ator secundário no mundo, de contemplador das capacidades femininas, o homem, para preencher o tempo que lhe restava, depois de executadas as suas atividades, começou a pensar em algo com o que pudesse ocupar-se, distrair-se. Deste modo, acabou por investigar tudo o mais que 24 havia no mundo até conseguir acumular bastante informação sobre as coisas, sobre os meios de produção, etc. Em certo tempo, esse domínio de conhecimentos acumulado ajudou os homens, que passaram a representar mais para o grupo que apenas a fecundação. O homem ressignificou antigos símbolos e criou outros com os quais poderia negociar com a mulher. A manutenção da vida passou em grande parte à responsabilidade do homem, mais do que acontecia até então. Ocorre que, por um fator qualquer, mão de obra excedente, inverno cruel ou coisas do tipo, o homem estabeleceu o patriarcado, que consistiu em reordenar a mulher à sua maneira. Essa conjectura, tal qual as de Beauvoir (1980), ou Saffioti (2004), de uma simetria edênica, é da mesma forma questionável na medida em que, ao invés de negar, justifica a dominação. O fato interessante é que, de uma forma ou de outra, o poder masculino estabeleceu-se como norma. Daí, ser necessário refletir a propósito da relação das mulheres com o poder. Segundo Ana Colling (2004:24), “Homens e mulheres constituem-se numa estratégia de poder”. A partir da constituição do próprio sujeito, o homem constituirá a mulher, com suas sobras, com o que lhe falta, com aquilo que ideologicamente não se pode agregar valor. É nesse sistema complexo de significados que o patriarcado estabelece-se, partindo da diferença. Maria Lúcia Rocha-Coutinho (1994) afirma que a mulher “tece por trás dos panos”, dentro das relações familiares. Em outros termos, nessas relações, encontrou frestas e se utilizou delas ao longo da modernidade para influenciar as decisões na sociedade. Resta-nos saber se esses vestígios de poder delegados às mulheres não foram e não são mecanismos que tangem seu foco em direção a um mais amplo centro de poder – que é o poder sobre o espaço público. Esses fragmentos fazem sentido dentro do contexto geral de distribuição/manutenção de poder na sociedade? Também é questionável o fato de que esse poder inocente possa ser o grilhão da mulher (no que concerne ao fato de não oferecer riscos a quem o delega), na medida em que faz com que ela tenha algo a perder. Para estabelecer-se o poder masculino e para mantê-lo, duas operações são realizadas: a repressão e a normatização. Segundo Ana Colling (2004), o poder repressivo seria aquele que agiria dentro do sistema de negação ou silenciamento do outro: proibição, aprisionamento, punições, assassínios. O poder normatizador 25 corresponderia a ações positivas a fim de estabelecer o detentor do discurso no poder, esse poder estimula a atuação de tal forma que gere uma rede de dominação. A sociedade não pode existir sem um dos sexos, embora possa existir sem escravos. A mulher, mesmo que apenas do ponto de vista da reprodução, é fundamental para manutenção da humanidade. Sendo necessária a mulher, seu jugo e sua opressão total colocaram-se como prioridade, pois sua conscientização em relação ao espaço a que foi confinada repercutiria com mais força – o que deixaria o homem em constante estado de alerta. Assim, nenhum senhor dormiria na senzala, pois saberia que morreria assim que adormecesse. Entretanto, não dormindo com escravos, precisa dormir com a mulher, conviver com ela, fazê-la procriar e impedi-la de dilacerar seus descendentes. Parece que a única saída foi associá-la a esse centro de poder através do discurso, do projeto de criar um filho, da maternidade, delegando-lhe algum poder, ainda que relativamente insignificante e gravitando não em ambiente público, mas privado. Apenas para ilustrar, constitui-se uma boa metáfora dessa conjetura a relação entre João Romão e Bertoleza, personagens de Aluísio Azevedo (1998), em O cortiço. No caso da escrava fugida, sua prole era o próprio cortiço que crescia a cada dia. A senhora dona de casebres que ela acreditou ser, no entanto, nunca existira. Descartada, uma outra representante mais útil toma-lhe o espaço, agora numa relação de servidão mais simbólica que física, para o mesmo poder estabelecido. Outra face do patriarcado está em seu poder de atravessar todos os indivíduos e repercutir seus discursos até mesmo entre os oprimidos. É possível crer, por esse motivo, que poucas vezes o homem tenha se sentido culpado pela opressão imposta às mulheres, já que as diferenças que o colocam nessa relação são naturalizadas. Tanto homens quanto mulheres acreditam que foi a natureza quem jogou os dados que puseram, a perder, a mulher; por uma questão de sorte, coube a ela ser a subalterna, não a mandatária. Para que se estabeleça o patriarcado faz-se necessária a existência de uma rede de poder/saber associada à negação do outro, conforme a descrita acima. Parece-me que não basta que esse entremeado altamente complexo se estabeleça para que perdure de tal forma como vê-se na história humana, é necessário que esse sistema 26 seja infinitamente alimentado para que continue a existir. Conforme Foucault (2004), a intenção de todo sistema de dominação é forçar e romper todas as fronteiras que se constituem como outro infinitamente; é superar a si mesmo para superar o outro, já que a estagnação pode significar a perda do poder, pode abrir margens para a insurreição do outro. Dessa forma, o patriarcado e todas as outras formas de dominação realizam descomunal esforço contra os discursos que os tentam demolir. Se ainda permanece, é porque os discursos, os movimentos de manutenção desse poder têm sido maior que as forças contrárias. Mas o que é o patriarcado? Para definição e argumentação a favor do termo, utilizar-me-ei principalmente da socióloga Helleieth Saffioti (2004), sobretudo em sua obra Gênero, patriarcado, violência. Patriarcado é definível para Saffioti como: “o regime de dominaçãoexploração das mulheres pelos homens” (SAFFIOTI, 2004:44). Esse regime não é eterno e nem está posto desde sempre. Para as teóricas do patriarcado, esse sistema estabeleceu-se por volta de seis ou sete milênios, a partir do surgimento de assimetrias de poder entre homens e mulheres. Uma vez posto, esse regime não se consolidou apenas no espaço privado como muitas vezes se fez supor. A teia de poder estabelecida entre homens e mulheres que sustenta a dominação-exploração em seu princípio de normatização estende-se pelo Estado de forma a legitimar essa relação de desigualdade. Saffioti (2004), retoma Rosseau para expor o fato de que o contrato social que se estabelece para a convivência pacífica entre os seres humanos não incluía as mulheres: estas participam apenas como objeto de exercício de poder de seus tutores. Como exemplo dessa extensão do patriarcado dentro do Estado, Saffioti (2004), cita leis como a “legítima defesa da honra” que, apenas recentemente, deixou de vigorar no Brasil. Em reforço ao raciocínio seguido pela autora, podemos citar dentro do sistema jurídico brasileiro o conceito de “crime passional”, que não suporta qualquer análise crítica e que, portanto, só existe por imposição de um regime que o legitima. O crime passional é uma nomenclatura que só pode favorecer aos homens, isso se levarmos em conta que a maioria dos homicídios dessa natureza, segundo dados 27 oficiais apontados por Saffioti (2004), são protagonizados pelos homens. Embora também ocorra no ambiente feminino, matar por amor é historicamente atitude de um gênero. Considerando o patriarcado como uma forma de expressão do poder político, a autora contesta o abandono do uso do termo, uma vez que leva em conta essa prática como um reforço ao regime de dominação-exploração das mulheres. Após evidenciar que toda a sociedade é atravessada por essa estrutura de poder, a escritora defende o uso de “patriarcado” a fim de fazer transparecer o esquema que cada vez mais ganha terreno, ainda que circule, às vezes, de modo quase imperceptível na sociedade: A recusa da utilização do conceito de patriarcado permite que este esquema de exploração-dominação grasse e encontre formas e meios mais insidiosos de se expressar. Enfim, ganha terreno e se torna invisível. Mais do que isto: é veementemente negado, levando a atenção de seus participantes para outras direções. (SAFFIOTI, 2004:122) Toda vez que é negado, que é deixado de lado, o regime associado ao termo ganha mais força: “Colocar o nome da dominação masculina – patriarcado – na sombra significa operar segundo a ideologia patriarcal, que torna natural essa dominaçãoexploração” (SAFFIOTI, 2004:56). Com base nesse ponto de vista, a autora lança seis justificativas para que não se abandone o termo: a primeira justificativa seria a de que não se trataria de uma relação privada, mas civil; a segunda porque “dá direitos sexuais aos homens sobre as mulheres, praticamente sem restrição” (SAFFIOTI, 2004:57). Para a autora, as leis geradas a partir do código napoleônico tendem a privilegiar os homens em detrimento das mulheres. A terceira justificativa de Saffioti é que o patriarcado consiste numa relação hierarquizada entre homens e mulheres que toma conta de todos os espaços da sociedade. Como abordado anteriormente, para que continue a existir, o patriarcado precisa ser fluido e mutável; para deslocar-se no tempo a ponto de manter-se, precisa, constantemente, revestir-se de diferentes faces: se até meados do século XX poderia simplesmente ser exercido através da simples violência física contra as mulheres, na contemporaneidade tende a exprimir-se a partir de uma violência mais velada, no terreno simbólico das relações sociais. 28 Entre as outras justificativas de Saffioti para a manutenção do termo estão os argumentos de que o patriarcado “tem uma base material, corporifica-se” e “representa uma estrutura de poder baseada tanto na ideologia quanto na violência” (SAFFIOTI, 2004:58). Portanto, o patriarcado estabelece-se tanto a partir de uma ideologia que o nutre (tal qual a associação da mulher à natureza, e a partir daí a certas características que pesam contra si) como por uma parte imaterial, que é exercida diretamente sobre a mulher todas as vezes que ela extravasa os limites que lhe são impostos por esse regime. Identidades O estudo sobre as identidades tem preenchido grande parte das prateleiras das bibliotecas e ocupado um amplo espaço nos simpósios acadêmicos. Essa ocorrência demonstra a preocupação com as identidades como resultado da alteração dos sistemas simbólicos pelos quais essas identidades são representadas, conforme Khathryn Woodward (WOODWARD in SILVA, 2000). As mudanças na economia global têm produzido uma dispersão das demandas em inúmeros territórios mundiais. “Há uma revolução transnacional que está remodelando as sociedades e a política ao redor do globo” (SILVA 2000:21). As identidades nacionais têm sido deslocadas e, juntamente com esses deslocamentos, inúmeras outras posições de identidade têm sido repensadas. Essas mudanças, no entanto, não estão ocorrendo apenas nas esferas global e nacional: A formação da identidade ocorre também nos níveis local e pessoal. As mudanças globais na economia como, por exemplo, as transformações nos padrões de produção e de consumo e o deslocamento do investimento das indústrias de manufatura para o setor de serviços têm um impacto local. (Silva, 2000:28) Khathryn Woodward salienta que vários autores têm abordado a existência de uma “identidade em crise” devido às modificações desses contextos, e muito discute-se a respeito das identidades: “Na arena global, existem preocupações com as identidades 29 nacionais e com as identidades étnicas; em um contexto mais “local”, existem preocupações com a identidade pessoal como, por exemplo, com as relações pessoais e com a política sexual” (SILVA, 2000:37). Para Woodward as crises de identidades estão associadas ao que tem sido designado de “deslocamento”. Conforme esse conceito, as sociedades modernas não têm qualquer núcleo ou centro determinado que produza identidades fixas, mas, em vez disso, uma pluralidade de centros. Houve toda uma revisão do conceito de classes sociais: classe social conceitualizada a partir das análises marxistas; classe como categoria mestra, reguladora de todas as outras funções sociais, etc. Ao invés de haver uma força que regule, que molde as relações sociais, existe toda uma multiplicidade de centros norteadores dessas relações. Afirma Woodward (SILVA, 2000), que apresentam vantagens esses deslocamentos, uma vez que ocorre uma relativa diminuição da importância das afiliações baseadas na classe, tais como os sindicatos operários e o surgimento de outras arenas de conflito social, tais como as baseadas no gênero, na raça, na etnia e na sexualidade”. (Id, 29). Mas quem tem crise de identidade? Em seu livro Identidade cultural na pós-modernidade, Stuart Hall (2003), aponta uma crise de identidades que tem tomado conta e ressignificado o sujeito contemporâneo. Para o autor, Esta perda de um “sentido de si” estável é chamada, algumas vezes, de deslocamento ou descentração do sujeito. Esse duplo deslocamento – descentração dos indivíduos tanto do seu lugar no mundo social e cultural quanto de si mesmos – constitui uma “crise de identidade” para o indivíduo. (HALL, 2003:9) 30 Assim, não se trata de uma questão momentânea, trata-se de uma crise que mexe com os referenciais de reconhecimento do sujeito, provocada pela desestruturação da imagem própria, pela desestruturação da narrativa de si mesmo.1 A questão que se coloca é: a crise de identidade existe para quem? Para os negros, para as mulheres e outras “minorias” ela realmente existe? O que parece estar em crise são as identidades formadas a partir de uma economia baseada num centro de interesses bastante restrito, do sujeito que é do sexo masculino, de cor branca, europeu ou norte-americano, com orientações judaico-cristãs, etc. São as identidades formuladas a partir desse centro que estão em jogo, e, por isso, estão em crise; são seus paradigmas que tem sido postos em questionamento com o advento da pós-modernidade. Pensando em “minorias”, como podem estar em crise se são elas as principais beneficiadas com as novas demandas das identidades nas quais estão inseridas? Talvez não seja a palavra “crise” que caiba aqui, já que carrega uma carga negativa, de desestruturação, de caos. Isto porque é justamente do caos que a mulher retira-se, é justamente o caos que deixa de designar o feminino. No limite, “crise” (conforme o Dicionário Aurélio, situação de “tensão, conflito; estado de dúvidas ou incertezas; momento perigoso, decisivo; falta; penúria), não é a melhor definição, ou, ainda, a crise por qual passam as identidades dos excluídos constitua-se de outros paradigmas, de outras nuances. Colocar todas as identidades dentro de um mesmo conceito e afirmar que estão todas em crise é repartir uma demanda entre sujeitos em relações desiguais de poder, e quando isso acontece os que já são fortes acabam sempre mais fortalecidos: é o mesmo caso em que o patrão divide com os empregados os insucessos de suas empreitadas. A mulher só pode estar em crise na medida em que incorpora os discursos hegemônicos que atravessam sua identidade e assume a identidade formulada para si pelo patriarcado. Fora isso, parece-me que sua identidade, multifocal, multifacetada, como sujeito humano, dotado de persona, não está em crise, mas em . O termo “identidade cultural” foi utilizado pela primeira vez por Erik Erikson, em 1940, e a partir daí tem servido para designar aqueles sujeitos submetidos a contextos que deslocam suas economias simbólicas, ou seja, para designar uma pessoa que tem perdido o senso de “semelhança” pessoal e continuidade histórica. 1 31 ascensão, organizando-se finalmente, do mesmo modo que a identidade de raça, classe etc. A “crise de identidade” não se configura, assim, em uma crise de todas as identidades, pois é uma crise propositadamente estabelecida pelos que estavam submersos. Trata-se, pois, de um questionamento consciente e direcionado de determinados valores históricos associados à identidade do sujeito. Pensada dessa maneira, a remodelagem da identidade sofrida nas últimas duas ou três décadas reveste-se de atos políticos concebidos a partir de um amálgama de discursos que se entrecruzam dentro dos grupos sociais e irradiam-se para fora dos guetos a que comumente ficavam circunscritos. O sujeito iluminista, centrado, fixo, gravitando sempre em torno de um eixo duro, é interessante apenas para a sociedade de controle, pois ao tornar uniforme o que é complexo, facilmente distingue e condena as personalidades desviantes. De semelhante forma, o sujeito sociológico, definido por Hall (2003), limita o indivíduo. Uma vez que sua identidade é formulada dentro do espaço social, cabe ao meio moldar o que o sujeito será. No caso da identidade feminina, um conjunto de normas implícitas e explícitas foi estabelecida com a finalidade de propiciar seu assujeitamento conforme padrões pretendidos. À mulher, ainda, tanto na primeira quanto na segunda concepção de identidade, coube a inclusão da natureza como propiciadora de certas características que deveriam ser banidas e/ou contidas. Pensando assim, o sujeito pós-moderno ganha um outro sentido. Uma das principais críticas que tem recebido esse sujeito é a de que esse cenário de subjetividades, marcada pela relativização dos discursos polifônicos que convivem no mesmo espaço, acaba por suprimir os discursos desviantes e privilegiar os discursos hegemônicos de manutenção da ordem estabelecida. Simplificando, dar voz a todos e a tudo equivaleria a dar voz a ninguém, uma espécie de Babel bíblica. Mas o que foi colocado em jogo na constituição das identidades foi a própria ideia de identidade formada a partir de um centro. Essa nova proposição, que questiona o centro, que caracteriza o sujeito em questão, no entanto, só pode ser derivada da periferia. Pois só a periferia é estrategicamente situada para enxergar o cosmos que gravita em torno da 32 identidade. Só à negra americana citada por Hall é dada a possibilidade tríplice de lutar pela bandeira da classe, pela bandeira do gênero ou mesmo pela sua raça. É das “minorias” que emana o sujeito da contemporaneidade, pois são primeiramente essas “minorias” que precisam multifacetar-se. Quem está no centro não precisa de outras identidades porque não reivindica nada, o centro é estático. É no bojo das lutas de emancipação, na inserção das “minorias” num espaço social menos injusto que essa múltipla identidade terá de ser constituída. Dessa forma, a identidade cultural pós-moderna reveste-se de um caráter político bastante forte, uma vez que acontece em oposição a qualquer das outras duas concepções citadas por Hall (2003), ela ocorre de baixo para cima, não de cima para baixo, como se dá no sujeito do Iluminismo. Aliás, outro termo bastante questionável para o sujeito visto dentro da concepção pós-moderna é sua definição como “fragmentado” (HALL, 2003), uma vez que o conceito de fragmento só agrega a noção de unidade autônoma no conjunto de suas partes, para constituir-se então num mosaico. Tanto o mosaico quanto seu fragmento, não permitem que cada face apresentada pelo sujeito constitua um texto, uma unidade dotada de sentido, a ponto de ser representada como uma identidade. O fragmento de um mosaico é, por si só, irreconhecível, desfigurado e faz , no máximo, alusão a algo maior, ao que era. Dessa forma, a noção de sujeito como fragmento não se desatrela do sujeito como unidade fixa, tal qual foi concebido pelo iluminista. A ideia de mosaico está vinculada ainda à lógica do in-divíduo, já que é uma tentativa de juntar, de formar o todo a partir de algo que outrora se esfacelou. E não é bem por isso que passa o sujeito contemporâneo. Ele não é fragmentado, é apenas multifacetado, tridimensionalmente, talvez infinitamente, mas cada uma de suas faces tem valor per si, significa a partir de si mesmo, possui independência. O sujeito pósmoderno é como um poliedro: uma face está vinculada à outra. Porém, cada face tem sentido em seu isolamento, diferente do fragmento, que sozinho, sugere, apenas – e apenas sugere o passado, indicando sempre algo que se foi. A identidade da qual falamos não procede dessa forma, mas, ao contrário, vincula-se ao futuro, ou a um “vir a ser”. A mãe, a esposa, a mulher, a filha, a empregada ou a patroa, a latina, a trabalhadora, a negra ou a branca, enfim, qualquer identidade que o sujeito (feminino) use para seu reconhecimento, não constitui 33 fragmento, pedaço, ou “colcha de retalhos”, mas uma face completa e reconhecível que convive em harmonia e/ou em conflito, com outras faces do mesmo sujeito. Os discursos só têm validade se suas interpelações nos acionam enquanto sujeitos. Assim, em meio a infinitas construções de significados, reconhecemo-nos em alguns discursos e esses discursos ajudarão a constituir as nossas identidades. Ocorre nos contextos sociais um fluxo: posicionamo-nos e somos posicionados diferentemente em cada um desses contextos ou campos sociais, logo, temos várias identidades. Essas identidades não são múltiplas apenas dentro do espaço social, são-no também no tempo. Se somos, por exemplo, professores, pais, telespectadores, consumidores etc., isso não significa que possuiremos número X de identidades. A variação identitária pode ocorrer diferentemente dentro de cada um desses campos sociais, de forma que dentro do contexto específico de professor ou telespectador (ou qualquer outro) eu possa assumir outras inúmeras posições de identidade. Essas experiências – em sua quantidade, inclusive – são vividas no contexto de “mudanças sociais e históricas, tais como mudanças no mercado de trabalho e nos padrões de emprego” (Hall, op. cit. p. 31). Entre esses discursos infinitos, postulados a partir do indivíduo e para ele, estão o de raça, de etnia, de classe, de gênero, etc. Trataremos o tema “mulher e literatura” a partir do conceito de identidade enquanto entidade abstrata, sem existência real, sem referente empírico, mas indispensável como ponto de referência. A identidade enquanto um elemento de estabilidade do indivíduo, enquanto algo essencial, conforme apontaram numerosas intelectuais feministas, como Hollanda (1994), Del Priori (2004) e Moreira (2003), está comprometida com a estrutura da lógica patriarcal em sua realidade pragmática que, de váriadas formas, reforça o imaginário da mulher como “outro”. Essas pensadoras e mesmo outros, entre os quais situa-se Guattari (1999), de posse desse problema, foram à busca de conceitos que dessem conta do novo sujeito que emergiu logo após o modernismo. Félix Guattari (1999) propõe para o problema a expressão “processos de singularização” quando este referir-se às minorias marginalizadas, mesmo havendo quem prefira identificação, conforme usado anteriormente à identidade. Entre os termos, opto pelo último por sua larga utilização na Literatura, e por não ter até o 34 momento uma expressão que satisfaça a ponto de justificar o trauma proveniente da troca. Com base no conceito anotado acima, crer numa escritura tipicamente feminina não condiz com o ponto de vista aqui sublinhado. É mais adequado explorar a identidade partindo do princípio de que esta se constitui a partir de signos, e que, entre esses signos, temos o corpo como fonte de representação. Como afirma Woodward, “o corpo trata-se de um dos locais envolvidos no estabelecimento dos limites que nos definem, servindo de fundamento para a identidade” (SILVA 2000:15). Essa identificação, no entanto, não se trata de algo meramente físico, mas, acima de tudo, simbólico e social. Uma mulher judia, por exemplo, pode acenar com a bandeira do judaísmo atestando a discriminação que seu povo sofreu na Segunda Guerra Mundial (uma discriminação elaborada a partir dos diferentes traços físicos que possui em relação ao resto da Europa), ou pode, simplesmente, mais uma vez fazendo uso de seu corpo com suas fronteiras, unir-se ao restante de mulheres europeias em busca de salários compatíveis aos dos homens. Essa mesma mulher pode ainda, num terceiro momento, aglutinar as duas coisas, gênero e raça, identificando-se pelo discurso de mulheres judias. Em todos esses exemplos o indivíduo utiliza-se de perspectivas essencialistas com base na biologia ou na história para compor essa identidade de primeiro grau, que se baseia em dados empíricos. Nenhuma dessas classes exclui a outra, por isso pode haver finalmente o aglutinamento judia/mulher. Esse caso não se daria se um homossexual quisesse fazer parte do movimento feminista. Ainda que sendo homossexual e, por isso, reprimido por sua orientação sexual, é improvável que esse indivíduo seja incluído como semelhante porque é homem e o discurso de militância feminista prega um tipo de discriminação mais ardiloso, tenaz, etc., em relação às mulheres, começando até mesmo antes de seu nascimento – ressaltemos, à parte, o conceito de gênero, que tem aglutinado as “minorias” e que justamente por esse motivo, conforme as feministas mais veementes, faz com que seu movimento perca poder. Além do mais, aquela identidade forjada a partir do discurso feminista perderia força se agregasse nela outros excluídos. Se incorresse no equívoco de absorver sujeitos não imediatamente semelhantes a si, o 35 movimento feminista, strictu sensu, perderia força na medida em que se dissolvesse em outros paradigmas. Para Judith Butler (2003), as identidades funcionam por meio da exclusão, por meio da construção discursiva de um exterior constitutivo e da produção de sujeitos abjetos e marginalizados, aparentemente fora do campo simbólico, do representável. Em suma, para a formação da identidade são necessárias pelo menos duas instâncias, a saber, “eu” ou “nós”, e os “outros”, que se caracteriza por tudo que está do lado de fora do reconhecível como constituinte do sujeito. Marina Colasanti escreve sobre a diferenciação da escrita das mulheres, no artigo Porque perguntam se existimos, inserido no livro: Entre resistir e identificar-se, organizado por Peggy Sharpe (1997). No artigo, seguindo o caminho da crítica feminista de linha francesa, defende a escritura feminina como tendo características que a particularizam. Depois de levantar dados tangentes à leitura e à fala diferenciada da mulher, apela para a diferenciação da escrita como uma conclusão lógica: “é pouco provável, do ponto de vista físico, que havendo um mecanismo biológico diferenciado para falar e ler, esse mecanismo não atue no ato de escrever” (COLASANTI, in SHARPE, 1997:36). A escritora conclui o parágrafo enfatizando seu ponto de vista: Muitas escritoras então, buscando evitar o risco de desvalorização ao declarar feminina sua própria escrita, preferem negar qualquer possibilidade de gênero no texto, e se refugiam no território neutro da androginia. Colasanti não atribui a questão tocante ao fato de existir ou não uma literatura feminina ao simples interesse pela resposta. Ela considera essa resposta algo já obtido pelos estudos da área. Para a escritora, há um interesse maquiavélico na questão. A intenção da pergunta é deslegitimar a literatura feminina. A pergunta é, de acordo com suas reflexões, “uma arma numa intensa luta pelo poder” (COLASANTI, in SHARPE, 1997:39). Partindo de um pressuposto paralelo a esse defendido pela escritora Marina Colasanti, Heleieth Saffioti prefere afastar-se da biologia e analisar o gênero baseandose na mediação da cultura: 36 As pessoas situam-se nos eixos de distribuição/conquista do poder – gênero, raça/etnia e classe social – graças às similitudes que apresentam com determinadas outras e às dessemelhanças de que são portadoras em relação a outras criaturas. Assim, a discussão sobre as diferenças não faz sentido isoladamente, uma vez que é apenas no contexto do insulamento que elas se tornam apropriáveis por movimentos de cunho discriminatório. (SAFFIOTI, 1994:72) As mulheres foram historicamente outrizadas nesse processo de diferenciação. Essa discriminação ancorou-se numa identidade feminina formulada a partir da negação, daquilo que ela não viria a ser: homem. À masculinidade foram agregados discursos edificantes, ao mesmo tempo que outros adjetivos foram acrescidos ao grupo dominante para excluir aqueles que pretendiam por à margem de si, a saber: os que não eram da pólis, mais tarde esse grupo dominante definiu-se enquanto europeu, branco, e assim por diante. O processo de legitimação desses conceitos perpassou, através da história, a religião com seus dogmas e a ciência medieval, chegando até nossos dias por intermédio da ciência moderna, da lógica cartesiana, por exemplo. Para Saffioti, enquanto a oposição concebida pelo materialismo histórico representa uma contradição dialética – entre classes, entre categorias de gênero ou étnicas –, resolvendo-se na gestação de uma realidade mais complexa e mais desenvolvida, a oposição cartesiana contém pólos mutuamente exclusivos (SAFFIOTI, 1994:147). Esses polos excluíram o gênero feminino juntamente com o corpo a ele associado, que tem sido visto como um campo minado para a objetividade, para a razão pura. Para Octávio Ianni, em Imagem e semelhança, a identidade só pode existir a partir da relação com o outro: A não ser abstratamente, na imaginação sem vida, não há o ser-em-si, ou eu-em-si. Tudo que é em-si constitui-se na dialética dos espelhos. O eu é sempre a imagem que o eu constrói a partir de sua vivência refletida e defletida do outro. Ninguém vem ao mundo provido de um espelho. A condição singular de cada um, em sua diferença, diversidade, 37 alteridade, originalidade, constitui-se nas tramas das relações sociais de dependência recíproca. (IANNI, 1987:10) Se a identidade constitui-se a partir de uma relação reflexiva com o outro, se é elaborada a partir do outro, essa relação certamente não é simétrica. A identidade se constrói a partir de relações de poder. Aliás, a partir do momento que é feita a distinção entre nós e eles, ou os outros, esse processo de diferenciação já tem implícito em si uma motivação extrínseca, a da mera diferença, havendo, contudo, implícito no ato da diferenciação, um processo de exclusão. Os outros é aquilo que não somos, ou que não nos pertence. Quando excluímos alguém ou algo daquilo que somos ou a que pertencemos, esse ato de exclusão em si trata-se, já, de um ato de poder. Dessa forma, identificar-se significa usar de força, de poder. “Quem tem o poder de representar tem o poder de definir e determinar a identidade” (SILVA, 2000:91). Logo, quem não tem esse poder, pelo menos em seu estado mínimo, não tem diferença que o caracterize, assim, não tem identidade. A constituição da identidade, por si só, caracteriza o exercício de poder, uma vez que é por intermédio da posse do discurso que o sujeito há de se elaborar como isto ou aquilo. Podemos exemplificar tomando o movimento feminista iniciado nos Estados Unidos logo após a II Guerra. O feminismo surge naquele país a partir da inquietação das mulheres e da não aceitação do papel imposto a elas ao longo do tempo pela sociedade patriarcal. As manifestações mais fortes dão-se no contexto proveniente da Segunda Guerra Mundial. Na falta de operários do sexo masculino, as mulheres são obrigadas a inserirem-se no mercado de trabalho. Este novo contexto em que passam a atuar deulhes suporte para manifestar um discurso que se contrapunha ao discurso patriarcal. Antes, trancadas em seus lares, embora já houvesse manifestações de cunho feminista, eram vozes sempre suprimidas pela voz dominante do homem, praticando apenas ações esparsas. Dessa forma, a mulher americana só ganha força para constituir um movimento e antepor-se à classificação de mero adjuvante na sociedade, proclamando um discurso que a promova “sujeito feminino”, quando passa a ter poder e lança mão dele. Fortalece-se então como unidade e sua voz, ao ecoar, junto às de 38 outras mulheres, produz o movimento reivindicatório de sua história própria, de uma política que as distinga, de uma literatura de e para mulheres, etc. Não precisaríamos ir tão longe para exemplificar essa diferença. Em si, o discurso feminista já traz suas contribuições bastante salutares. Quem primeiro teve poder para reivindicar sua identidade foi um tipo específico de mulher: a branca, de classe média, moradora dos países ricos. Logo, os discursos produzidos por essa mulher nem sempre foram ao encontro dos anseios de mulheres com outro perfil, a exemplo das latino-americanas. Na medida em que os movimentos das periferias ganharam força, também reivindicaram, em relação às demais mulheres, sua identidade, acusando, aquelas do mundo desenvolvido, de essencialistas, uma vez que colocaram todas as mulheres abaixo de seus slogans, como se entre elas houvesse elementos transistoricamente determinados. Assim, não há também um só feminismo, mas feminismos. Como exemplo desses contrastes temos o caso de Cuiabá, apontado por Célia Domingues da Rocha Reis (2006), na obra Sociedade, erotismo e mito: a poética temporal de Marilza Ribeiro. Conforme a pesquisadora, a peça “As dondocas da República das Flores”, de Marilza Ribeiro, embora tenha alcançado relativo êxito, não obteve apoio político e financeiro por conta de seu tom crítico em relação à sociedade e às mulheres de classes mais abastadas. Observe-se que, em paralelo a esse fato, naquela época, na cidade, um grupo de mulheres (das classes mais abastadas) com acesso à imprensa já praticava um feminismo incipiente. Outro aspecto interessante na questão da identidade está ligado à sua ordem. De acordo com Tomaz Tadeu da Silva, “As relações de identidade ordenam-se, todas, em torno de oposições binárias: masculino e feminino, heterossexual e homossexual, branco e negro” (SILVA, 2000:83). Levando em conta as relações de poder que perpassam o processo de identificação e a ordenação da identidade em torno de oposições binárias, podemos supor que uma identidade é erigida em duas situações paralelas: produz identidade quem tem força, poder, e a partir dessa situação de poder torna-se possível erigí-la, modificá-la ou destruí-la quando quiser; ou, produz identidade a quem esse indivíduo ou grupo reserve uma quantidade mínima de poder em relação ao dominador, embora este possa vir a ser o estrangeiro, o outro, o oprimido. 39 Sendo assim, o oprimido só consegue se estabelecer enquanto sujeito quando o poder do outro não é hegemônico ou, caso seja, haja uma fresta em que o poder preponderante não consiga adentrar. Como ilustração, temos a situação da raça negra, que foi tratada por alguns séculos como inumana no ocidente, até que acontecesse sua libertação. As mulheres atravessaram período semelhante em muitos aspectos, pois por muito tempo foram vistas como matrizes humanas e, apenas depois de deterem certo poder, ainda que incomparável ao da sociedade patriarcal, foi que conseguiram ter direito à voz. Considerando a relação da diferença usada para o estabelecimento da identidade, o binarismo, como argumenta Tomás Tadeu da Silva (2003:83), “vai sempre tornar assimétricos os termos”. Invariavelmente, um dos lados será inferiorizado em relação ao outro. Isso ocorre porque a construção da identidade quer, ou precisa, agregar coisas que a particularize, que a distinga do outro, que a faça ser eu ou nós (duas instâncias sempre em oposição ao ele/eles). Assim, pela tendência ou necessidade de particularização, a identidade precisa, por questão existencial, estabelecer um campo de poder onde possa instituir-se. Dessa disputa por campos de poder é que surgem as identidades. Nesse sentido, pode-se afirmar que a identidade é sempre uma resposta a algo, a algum conflito. Kathryn Woodward (2000), exemplifica com precisão a questão relacional da identidade ao relatar os conflitos entre sérvios e croatas e suas respectivas identidades marcadas cada uma por aquilo que é e ao mesmo tempo deixa de ser, por aquilo que tem de diferente da outra. No caso da disputa entre sérvios e croatas, embora vários elementos sejam compartilhados pelos dois grupos, e tenham, às vezes, entre eles até mesmo certo grau de parentesco, suas marcações de identidade resultaram num conflito étnico entre as partes. Logo, é interessante que pensemos a identidade como constituída de paradigmas, sem que seja estática por isso, mas, movediça, fluida. Na medida em que o contexto em que foi elaborada sofre mudanças, a identidade é abalada por novas configurações. A identidade como tema de estudo é, lato sensu, uma das pedras fundamentais do feminismo (se considerarmos que essa linha de estudo foi elaborada a partir da tentativa de legitimação de um grupo específico), ainda que cada uma de suas linhas 40 teóricas a compreenda dentro de especificidades, por vezes, conflitantes. A esse propósito, podemos citar duas das principais vertentes feministas acadêmicas: a corrente francesa e a anglo-americana. Luce Irigaray e Hèlene Cixous, entre outras do feminismo francês, propõem uma inscrição da diferença da mulher no mundo a partir ou pela linguagem. Acreditam que por intermédio da linguagem, de uma nova linguagem, oriunda de novos modelos, é que a mulher se colocará no mundo. A essa nova linguagem que abandona os padrões falocêntricos e se erige a partir do corpo da mulher, as teóricas chamaram de écriture féminine (CIXOUS, 1995). Tomo por falo – conceito elaborado por Sigmund Freud (1980), e desenvolvido por Lacan (PRATES, 2001) – não o pênis, conforme o termo era literalmente associado na Antiguidade Clássica, mas como o valor simbólico deste, ou a função simbólica desempenhada pelo pênis. Para Lacan (PRATES, 2001:80), o falo é o “significante do desejo”, sendo assim, parâmetro para a constituição sexual. Segundo Bernardes (2005), em referência a Lacan, a alternativa castrado/não castrado só é possível dentro da categoria fálica. Por sua vez, o falocentrismo constitui-se como um sistema no qual o falo tem valor preponderante. O corpo feminino, até então, ora ponto de exclusão ora de fantasias do falocentrismo, deveria antes prestar-se às experiências individuais da mulher. Essas experiências, assim, seriam compreendidas não simplesmente como fruto da matéria carnal, conforme advertiu Arleen Dallery (1997), mas deveria levar-se em consideração que o corpo humano é signo carregado de textualidade. Combatendo a referência à anatomia feminina como resultado de sua exclusão, as estudiosas do movimento francês argumentaram que não reside na ausência de pênis a inferioridade feminina. Pelo contrário, a sexualidade feminina não é resultado de uma falta, constitui-se antes, de uma sexualidade polivalente, localizada no corpo todo. O corpo feminino é um território de sentidos sexuais do qual deriva a sexualidade do homem. É notória a estratégia de desconstrução operada sobre os estudos de Freud e Lacan, denominado pelas feministas, segundo Dallery (1997), como uma teoria de Voyeurs. Essa tentativa desconstrucionista realiza-se com a intenção de se apoderar da 41 sexualidade feminina, pois acreditam, as críticas, que somente através dessa repropriação a mulher tomará posse de outras esferas de sua atuação. Conforme Saffioti (2004:49) “Um dos elementos nucleares do patriarcado reside exatamente no controle da sexualidade feminina”. Esse controle resulta no controle do corpo todo que, por sua vez, desemboca no controle da mulher, dessa maneira, deslocar as economias da sexualidade do homem para a mulher no feminino francês, consistirá em seu objetivo central. Será a partir do corpo que fluirá a linguagem feminina. Tal qual a vulva da mulher, seus lábios serão uma forma de exteriorização e interiorização de sua sexualidade. Além disso, a partir da inscrição de seu corpo no mundo, da elaboração de uma libido não fálica, em que o corpo da mulher possa ser o início e o fim de seu desejo, tal qual a mãe e o filho, pode-se criar padrões de referencialidade suficientes para se erigir uma nova história da mulher. Uma nova linguagem surgiria para dizer dessa experiência nova. De outra parte, uma corrente distinta de pensamento não vai tão longe quando pensa em minar as estruturas de dominação/exploração do patriarcado e promover a ascensão de outra identidade para o feminino. O feminismo anglo-americano acredita que a ascenção das mulheres operar-se-á pela sua inclusão onde antes não existia. Com base nesse pensamento, adotou uma prática revisionista em relação aos estudos da academia e novos temas que tratavam de inserir as mulheres nesses espaços foram colocados em discussão. O redimensionamento do lugar do feminino foi apresentado como uma maneira de atenuar as diferenças existentes entre os sexos. Esse redimensionamento, por sua vez, sofreu acusação, por parte de uma terceira vertente. Surgida em contraponto tanto à crítica anglo-americana quanto à francesa, a crítica latino-americana imputa ao feminismo anglo-americano a culpa de não levar em conta as diferenças entre as mulheres das diferentes classes sociais e culturais. Pautadas basicamente nas lutas dos movimentos feministas, as críticas latinoamericanas acreditavam que os estudiosos não podiam se desvincular da esfera de luta como ocorria nos países do norte. Para elas, um feminismo circunscrito apenas à academia, que não culminasse imediatamente em respostas às lutas que ocorriam nas 42 ruas, que não se atentasse ao sofrimento imposto às mulheres no cotidiano, não tinha como se opor à indiferença do patriarcado. As reflexões de Cristina Ferreira-Pinto concernentes a um relevante papel a ser desempenhado pelos críticos na atualidade indicam a posição desta crítica: Dessa maneira, é talvez nosso – o da crítica – o papel de contribuir para o desenvolvimento de uma consciência feminista, ao exercermos uma crítica atuante que, partindo da prática textual das escritoras brasileiras, aborde a questão da identidade do sujeito feminino (...). A partir daí poderíamos aspirar a transformações mais profundas na sociedade brasileira, contribuindo eventualmente para o desmantelamento da mentalidade patriarcal que ainda persiste entre nós. (FERREIRA-PINTO, in SHARPE, 1997:78) No que se refere à critica francesa, esta foi taxada como elitista e classista já que não atentava às violências que sofriam as mulheres do chamado terceiro mundo. Segundo as críticas dos países do sul, não teriam as teorias europeias com bases psicanalíticas qualquer respaldo no universo de opressão das mulheres terceiro mundistas. Assim, houve e há, por aqui, uma tendência maior à aceitação da vertente dos países vizinhos do norte. 43 CAPÍTULO II ENTRE ANJOS E DEMÔNIOS: PARADOXOS NO FEMININO No capítulo que segue, propusemos a leitura de quatro poemas de Luciene Carvalho: “Da condição de filha” (Caderno de caligrafia, 2003), “Modelo” (Teia, 2000), “Nós” (Devaneios, 1994) e “Saias" (Caderno de caligrafia, 2003). O corpo, que durante muito tempo foi ferramenta ardil para distanciar a mulher de si mesma, é um dos espaços dos quais ela se utiliza para reelaborar sua identidade. Nesse sentido, o objetivo é apontar de que forma o eu lírico assume a voz do feminino que se instaura como resistência. Analisaremos como o sujeito se relaciona com os elementos simbólicos que têm por intenção conservar o status quo vigente – os elementos externos contingentes na sociedade – e como lida com os valores internalizados que colocam esse sujeito sempre contra os próprios discursos que elabora. Sendo o corpo um desses espaços de conflito, deter-nos-emos nos mecanismos que o eu lírico utiliza para resistir a essa força que tem por intenção seu assujeitamento. Para tais análises, partiremos do corpo feminino como lugar de dominação/sustentação da identidade, ou seja, sugerimos que o corpo seja um dos principais palcos de conflito entre as esferas do feminino e o sistema que deseja sua opressão/exploração. Assim, observaremos de que forma esse conflito se instaura e se resolve – se é que se resolve – ou que caminhos toma quando a sexualidade entra em jogo. Será esse um domínio ainda não retomado pelo eu lírico? Partindo do princípio de que o corpo da mulher ainda é visto na contemporaneidade como espaço de privilégios masculinos, de que forma sua sexualidade serve a si mesma ou, dito de outro modo, como a poeta se serve de sua sexualidade? O corpo feminino como espaço das negações Os pressupostos que sustentam o ponto de vista de que o corpo feminino é sistematicamente inferior ao masculino, mais frágil, mais errante, mais sujeito à moradia 44 de demônios são propagados pela sociedade ocidental através de boa parte de sua existência; alguns especialistas estimam algo que gira em torno de seis mil anos. Em Aristóteles como em Platão, algumas das figuras seminais do pensamento ocidental, o corpo feminino é assinalado a partir daquilo que tinham de diferente, daquilo que consideravam inferior ao corpo masculino. O Brasil, desde as primeiras caravelas que aqui aportaram com os colonizadores, recebeu uma gama de pensamentos cristalizados a partir da religião que não condiziam com as transformações científicas do restante da Europa. Em Portugal, do século XVI ao século XVII, principalmente, várias reformas foram feitas em universidades porque estas disseminavam heresias por meio de seus estudos. Conforme Mary Del Priori (2004), várias escolas, inclusive a Universidade de Coimbra, sofreram sanções e foram colocadas sob a jurisdição do Tribunal Régio, a Mesa de Consciência e Ordens, para que imiscuíssem sobre os pensamentos heréticos provenientes da ciência europeia. Então, essa universidade foi um “baluarte do escolasticismo e do pensamento medieval até o século XVIII” (DEL PRIORI 2004:57). O país que nascia nos trópicos surgia com a herança de um pensamento que recrutava seus argumentos todos a partir de uma teologia produzida basicamente para controlar a força masculina e apascentar os demônios femininos. Na época da colônia, argumentos médicos ratificavam a ideia comum de que o corpo feminino era mais frágil se comparado ao corpo do homem. Para os médicos, se as mulheres: Tinham ossos “mais pequenos e mais redondos”, era porque a mulher era “mais fraca do que o homem”. Suas carnes, “mais moles [...] contendo mais líquidos, seu tecido celular mais esponjoso e cheio de gordura”, em contraste com o aspecto musculoso que se exigia do corpo masculino, expressava igualmente a sua natureza amolengada e frágil, os seus sentimentos “mais suaves e ternos”. (DEL PRIORI, 2004:79) Associada a essa constatação médica, estava a ideia de que outro diferencial dos sexos estaria nos aspectos morais. Considerando que o corpo da mulher fosse um palco nebuloso e obscuro, no qual Deus e Diabo digladiavam-se, considerando também a exposta fraqueza perante o inimigo, demonstrada no Éden, cabia à mulher a 45 submissão total às entidades masculinas, ao marido ou ao pai, na terra, e a Deus, no céu. Devemos nos atentar ao fato de que o conjunto de pensamentos que tendem a reduzir o corpo feminino quando comparado ao do homem não surgiu em nossa antiga metrópole. O que apontamos aqui é que, por volta do século XVI, enquanto nações como a França e a Inglaterra davam vazão a várias desmistificações que circundavam a ciência, em Portugal trabalhava-se em sentido contrário, ou seja, na produção de imaginários só contemplados na época medieval; tudo isso alicerçado de modo que pudesse atender aos desejos de uma Igreja soberana capaz de tirar a vida dos que atentassem através da heresia contra seus preceitos, ainda que estes também se pautassem na irracionalidade. Exemplo disso podemos constatar em História das mulheres no Brasil, no qual um médico faz recomendações contra possíveis chagas que acometessem o paciente: Tomem um cão preto, pendure-se com os pés para cima e bem seguro no ramo de uma árvore, ou cousa semelhante, e estando assim pendurado, o açoutem e façam enraivecer muito, e então lhe cortem a cabeça de repente. Esta cabeça se meta em um panela nova [...] até que a dita [...] fique bem torrada e se faça reduzir a pó fino e com estes se pulverizem as chagas as vezes que forem necessárias. (DEL PRIORI, 2004:80) Esse ambiente de atraso peculiar a toda a metrópole portuguesa estendia-se ao Brasil colônia e muito sublinhou o imaginário místico da população. Associados os preceitos religiosos e científicos para inferiorização de tudo que beirasse o feminino, criou-se um discurso por muito tempo intransponível que, por mais que fosse combatido através de futuras descobertas da ciência, continuou alicerçando o discurso patriarcal nos séculos vindouros. Certamente que o espaço português compõe apenas uma parcela minúscula da história de exploração/subordinação das mulheres no mundo ocidental, que teve, e ainda tem, por tendência, conceber, associar à ideia de civilização, unicamente, o europeu branco do sexo masculino. 46 O modo de propagação desses discursos, suas desmascaradas reorganizações em torno de eixos concebidos prévia e distorcidamente, têm conduzido sua manutenção até os dias atuais. Podemos facilmente notar várias dessas noções cristalizadas inseridas, inclusive, nos discursos da arte em geral. A exemplo disso, na poesia, conforme observação feita por Afonso Romano de Sant‟Anna (1993), em O Canibalismo amoroso, a sociedade diz, por intermédio do autor, aquilo que não poderia dizer, aquilo que pretendia esquecer. Um dos motivos disso ocorrer está ligado ao fato de que a arte é também, obviamente, um instrumento utilizado para veicular pensamentos protestantes ou mantenedores de uma dada ordem. Nesse sentido, a poesia atua como uma forma de resistência, termo que, conforme Bosi (2002:18) “é uma força que resiste a outra força exterior ao sujeito. Resistir é opor força própria a força alheia”. E, mais à frente, continua especificando essa atuação do texto poético: A poesia, forma auroral da cultura, está aquém da teoria e da ação ética, o que não significa, porém, que não possa conter em si a sua verdade, a sua moral; e, sobretudo, o seu modo, figural e expressivo, de revelar a mentira da ideologia, a trampa do preconceito, as tentações do estereótipo. (idem, 2002:31) É preciso resistir No título Caderno de Caligrafia, subjaz a ideia de inserção. Está inscrita também a ideia de acesso, logo, de poder. Para a criança, a descoberta da escrita e, em consequência, dos espaços que a circundam significa o descortinar de um mundo antes impossível, pois somente por intermédio da escrita é que esse mundo se realiza, que esse mundo passa a existir como tal. Só através desse domínio é que se torna possível comunicar-se, interagir com o outro, lidar e reconhecer o que está além de seu espaço imediato e a partir disso ver a si mesmo refletido. Se para Kristeva (2007), “falar é falar-se”, podemos estender a afirmação para „escrever é escrever-se‟ (para a mulher, mais ainda, escrever é inscrever-se no mundo), é 47 ver-se com outros contornos, com outras nuances, como se se estivesse diante de um espelho de mil faces e nesse espelho fosse possível ver-se por dentro, mas não do mesmo modo que Alexandre2, de Graciliano Ramos. Este escrever é uma forma de ver as ideias ou, pelo menos parte delas, de alguma forma materializada, é senti-las, apalpálas, é ter poder sobre elas. Ter acesso à escrita significa fazer parte de algo, do mundo dos outros ou ainda de um outro mundo particular, como no caderno de caligrafia que escrevemos na escola e guardamos, nem sempre, pela vida toda. No caderno de caligrafia que carrega oportunamente nossas primeiras letras, há uma tentativa de domínio e de inserção. Temos o desiderato não simplesmente de descobrir o desenho, o relevo das palavras, mas temos, sobretudo, a intenção de firmálos. Firmá-los pela repetição, pela constância, pela reprodução de uma estrutura que teimamos em abarcar, que aqui e ali se esvai. Porém, ainda assim, tornamos a repeti-la sempre no intuito de render a técnica e sermos senhores da escrita. Em Caderno de caligrafia está metaforizada essa voz ainda clandestina da mulher, tentando firmar-se ante às margens rígidas e contínuas de uma sociedade que pretende submetê-la. O texto é a escrita insipiente daquela que só há pouco teve o acesso a um espaço que, tal qual a própria linguagem que se desenvolve a partir do meio social e das características biológicas que a compõem, sempre foi seu. O caderno de caligrafia justifica a possibilidade de erro daquele que há pouco aprendeu a dominar o lápis, ao passo que torna obrigatória a reescritura. E é necessariamente por esse caminho que interessa passar a obra, por uma reescritura a fim de, em não sanando, amenizar as imperfeições, distorções da escrita anterior, metaforicamente, o destino da mulher. Entretanto, no caderno de caligrafia essas distorções são produzidas pelas próprias mãos do alfabetizante. E aí está o essencial do que almeja o eu lírico: revisitarse, auto avaliar-se, ressignificar-se quanto ao caminho que trilhou, impulsionado não apenas por mãos de outrem, mas pelas suas; pelos padrões que em certo momento precisou aceitar e que agora refuta. 2 Trata-se de um narrador mentiroso de suas próprias aventuras. Narra que certa vez, recolocando o olho na própria face, colocara-o ao contrário, o que acarretou ver as partes fisiológicas de dentro de si mesmo. 48 É certo que há algo de íntimo em todos os cadernos de caligrafia, uma intimidade necessária e sem a qual ficaria infrutífera a possibilidade de dominar o universo gráfico, modelo de escrita que redundará em modelo de pensamento. O título da obra carrega a noção de legibilidade, uma inserção legítima da linguagem de um novo sujeito. Como contra-argumento a isso, poder-se-á afirmar que todas essas opções de libertação estão equivocadas uma vez que, no caderno de caligrafia, a escrita que se produz é norteada por uma escrita-mãe logo na primeira linha, que serve como padrão a ser seguido. Realmente, em todos os cadernos desse tipo um perfil de escrita instaura-se como norma. Mas, ao mesmo tempo, esse padrão serve apenas como recurso inicial; dificilmente um aprendiz terá a mesma letra que seu mestre. Por mais que pretenda, há de sobressaírem-se suas particularidades: sua forma de segurar o lápis, sua percepção da textura do papel, suas emendas nas letras etc., um conjunto de sinais diferenciados fará que, no final das contas, tenha outro estilo de caligrafia, inclusive dessemelhante à dos colegas. Essas qualidades, no entanto, não eliminam o fato de que um modelo de escrita ainda persegue o sujeito. Talvez justamente por isso a razão do título. A corrente de estudos de autoria feminina da linha francesa afirma que somente por intermédio da aquisição de uma nova linguagem, que fuja totalmente do modelo de escrita elaborado pelo sistema patriarcal, é que as mulheres finalmente estarão livres dos parâmetros sociais que as tangenciam. Nesse sentido, apesar das enormes aquisições que tiveram as mulheres nos últimos cem anos, continuam sob determinadas amarras, sob determinados modelos elaborados em seu detrimento. Dessa forma, aventura-se Caderno de caligrafia, de Luciene Carvalho. O livro não pretende, ambiciosamente, a começar pelo título, desgarrar-se das amarras que circundam o universo feminino. Pelo contrário, é vislumbrando essas limitações que pretende ir além, dar um passo a mais. Contém os primeiros passos rumo à independência do sujeito, rumo à construção de sua própria escrita, de sua arte, de um universo que cada vez mais se descortina para si: o universo da literatura. Em Caderno de caligrafia, Luciene Carvalho expõe poeticamente a condição da mulher persistente em nossa estrutura social. Se, em alguns casos, houve certa 49 flexibilidade nos princípios norteadores da “mulher ideal” – incutidos desde a infância pelo ambiente familiar tanto quanto por toda a comunidade –, principalmente no que se refere ao casamento por imposição, ou à proibição de se adquirir conhecimento científico, por exemplo, mantém-se análoga a outros momentos da história humana a ideia de que a mulher precisa ser exemplar, ter correção ética e moral acima dos homens; mantém-se a ideia de sua fragilidade, da impossibilidade de exercer certas funções, da polidez que a mulher precisa ter etc. Tudo isso são marcas insinuativas do pensamento de que a mulher é, de alguma forma, “especial”, “diferente”, “mais delicada”, palavras que, se decifradas, são signos da inferioridade que se pretende eterna para classificar o gênero feminino. Assim, inúmeras mulheres, atentas a essas armadilhas sorrateiras, fogem de qualquer conceito que intencione delimitá-las a partir de suas exterioridades. Nos quatro poemas a seguir, “Da condição de filha”, “Modelo”, “Nós” e “Saias”, os eus líricos se esquivam dos limites que tentam lhe impor e posicionam-se abertamente contra os limiares do patriarcado. “Da condição de filha” aponta as primeiras frustrações de se descobrir nãohomem. Aponta o processo pessoal da própria aceitação enquanto fêmea; aponta o desagrado da família em ter de receber um não-varão e as cobranças oriundas dos deveres inerentes à feminilidade: Da condição de filha É tão antiga a dor Da tal cobrança materna, Tão eterna... P‟ra nós – as filhas – Talvez o erro seja genital, Mesmo que sigamos Nos consertando, O erro é genético, É cromossômico. Seguimos adolescência afora Perdendo nossa inocência, Tentando agradar “mamãe” Buscando cabelo certo, A cor certa do batom. Um noivo que ela espante, Emprego que a ela encante, A roupa certa no tom. 50 Nada no mundo corrige Aquela frustração primeira; Não ser varão, Não ser macho, Não ser “um homem na casa”, “segurança pro futuro”, Ser só uma menininha. Encantadora donzela, Ser só moça casadeira, Enfeitando uma janela. Mesmo que faça carreira, Já sofrerá todo mês. Mamãe não quer me ver nela, Isso será sempre assim. Toda causa faz efeito, Mamãe se verá em mim. (CARVALHO, 2003:38) O substrato linguístico do texto revela-nos essa condição marginalizada em que o indivíduo feminino constitui-se. Na segunda metade do poema, o eu lírico aponta para aquilo que não pode ser: não é varão, não é macho e não é o homem da casa. As negativas em início de frase explicitam a construção de um discurso das diferenças de sexo que, conforme já pronunciado, caracteriza a mulher não segundo sua particularidade, uma essência, uma substância, mas pelo seu contrário, classifica-a a partir de padrões que têm como referência o discurso da masculinidade. As palavras “varão”, “macho” e “homem”, são colocadas como antonomínia de “menininha”, “donzela” e “moça”, estas últimas representam o espaço vazio, enquanto aquelas são dotadas de essências, de poder gerador, a tal ponto que se constituem como “segurança pro futuro”, ou seja, certeza, razão. Já seu oposto é: Ser só moça casadeira, Enfeitando uma janela. Esses versos apontam o espaço de atuação mínimo das mulheres, seu lugar de espectadora e objeto no mundo. Afirmações não referentes a uma presença, mas acerca de uma ausência. Essas afirmações, ao referirem-se às mulheres, são dotadas de uma partícula resumidora daquilo que as constituem: “Ser só uma menininha” ou “Ser só moça casadeira (grifo nosso), é o mecanismo de redução do feminino 51 explicitado pelo sujeito lírico do poema em forma de denúncia. O termo “só” é uma palavra denotativa que indica exclusão, um advérbio. O “ser” acompanhado da partícula em questão torna-se o que não é, o que sobra. Ser expectador da vida numa janela, uma vida que não é sua e sim de outrem, constitui a “dor” que corrompe o eu lírico; junto a essa sensação de ser expectador do mundo, está aquela de estar numa vitrine, de ser assistida pelos que passam até finalmente ser escolhida por um transeunte qualquer. Ela é orientada, pela mãe e pela família, por ser mulher, a consertar-se continuamente. Entretanto, esse fato não ganha sentido, pois não se obtém com ele resultado satisfatório, e, porque nunca pode consertar-se plenamente, é que começa a perceber que de fato nunca esteve estragada. Nos versos iniciais, o eu poético confessa uma dor que lhe persegue de forma duradoura – desde seu nascimento e provavelmente até à morte – a dor de não nascer do sexo masculino. Esse desagrado em si não se justifica pela simples anatomia, todavia, localiza-se no fato de resultar na infelicidade da mãe, que desejava um menino. Enquanto um homem na casa representaria um braço a mais, uma força, seja por oferecer o sustento, seja para a proteção do lar, mais uma filha acarretaria despesas e o risco de multiplicarem-se, pela procriação indesejada, os dependentes da matriarca que provia a casa. Continuamos aqui na ideia de ação e recepção que envolve os gêneros de forma a estigmatizar o feminino. O eu lírico do poema, marcando seu pertencimento ao gênero feminino não o faz gratuitamente. Ao assinalar-se conforme esse paradigma, vai além, querendo mesmo assinalar sua outridade. Assinala o sujeito poético: É tão antiga a dor Da tal cobrança materna, Tão eterna... P‟ra nós – as filhas – Talvez o erro seja genital, Mesmo que sigamos Nos consertando, O erro é genético, É cromossômico. Nessa passagem, temos apontado um dos mitos que procuram justificar a partir do corpo a subordinação da mulher, aquele que a associa à função reprodutiva e o que, 52 por consequência, condena a mulher que circula fora desse destino a ser encarada como algo maléfico, imperfeito, obscuro, negativo, terreno. A condição de filha requer a passagem pelo modelo seguido anteriormente pela mãe, que é gerar outra filha e de novo orientá-la para que esse destino se repita. Um eterno retorno que induz o sujeito a se perguntar se residirá seu problema na própria constituição genética de fêmea. Se é de tal forma cobrada pela mãe, se se desvirtua tanto do que lhe é dado como verdadeiro, por mais que seja subserviente, ainda assim as regras parecem justas demais para serem seguidas, o que se explicará pelo axioma de que a mulher é algo inacabado, imperfeito. Na mulher, o bem e o mal coexistem, por isso o homem (ou a mãe) precisa rendê-la, para mantê-la reclusa dos poderes malignos que emana, poderes que causam destruição não só a ela, mas a toda humanidade. Só por intermédio dessa contenção é que a mulher será digna do convívio social, eis a máxima do patriarcado. Dessa forma, o modelo patriarcal coloca em evidência a suposta carga negativa da mulher e a classifica segundo padrões que a tem como parte imperfeita da Criação, aquela que, criada depois, veio a este mundo apenas para completar lacunas. No poema não aparece o gênero masculino – a figura do pai – senão através da mãe, que encarna os pressupostos masculinos. Para a produção da identidade, conforme assinala Bernd (2003:17), “a consciência de si toma conta de sua forma na tensão entre o olhar sobre si próprio – visão do espelho, incompleta – e o olhar do outro ou do outro de si mesmo – visão complementar”. Ocorre, nesse sentido, uma distorção na visão do sujeito feminino sobre si mesmo e na construção de sua identidade. O poema marca a reprodução de certos ambientes sociais. Nesses ambientes, a formação do sujeito dáse pelo reflexo estereotipado de si, no outro. Como assinalado, a matriarca reproduz o discurso patriarcal, exemplo disso são as exigências dela quanto aos aspectos comportamentais e estéticos das filhas. O “cabelo certo”, “a cor certa do batom” e as prendas de “menina casadoira” são conteúdos do discurso patriarcal que apresentam as mulheres impotentes ante as intempéries do mundo, logo, necessitadas de um homem que as guie e as oriente. Segundo esse discurso, a mulher é errante por natureza, como o próprio poema acrescenta, por questões “cromossômicas, genéticas”. Cabe ao eu lírico, nesse 53 contexto, sonhar na janela com a chegada daquele que desempenharia a função de provedor. Para o sujeito, a dor é antiga porque transcende a sua sensação primeira de perceber-se mulher. Sua mãe sentiu tal dor, sua avó e todas as outras mulheres sentiram essa mesma dor. De possuída dor “eterna”, a mãe faz o possível para que ela não seja aumentada com a possível supressão do homem no lar. A tendência da matriarca é minimizar a dor que já é constituinte da filha e que, em sua visão essencialista da mulher, sempre a constituirá: “Mesmo que faça carreira/ Já sofrerá todo mês”. “Mamãe não quer me ver nela,” a simples recusa da própria identidade é uma mola propulsora para a manutenção dessa mesma identidade, conforme adverte Silva (2003). A matriarca vê-se a partir do estereótipo preconizado pelo homem, como defeituosa, faltante, lotada de sensações e de sentimentos inferiores. Vê-se como inferior ao homem porque é parte decadente dele, o lado corrompido da criação divina. Esse olhar degradante de si mesma resulta na negação própria e colabora para o continuísmo do estereótipo. Colabora porque a filha, em seu processo de identificação, olha para si mesma (visão do espelho) e, para complementar essa visão incompleta de si, olha para a mãe. Ao olhar para a mãe, vê esse sujeito negar-se justamente no aspecto que tem em comum consigo, o gênero. Não uma negação temporária, irrelevante como ponto de expressão, mas o oposto: uma negação atemporal, anterior e posterior à poeta. Diante da recusa que o outro faz de si mesmo, o sujeito, que observa a imagem projetada, frustra-se. Esse trauma, em nada amenizado pelo tempo, é poetizado em: Nada no mundo corrige Aquela frustração primeira; Não ser varão Não ser macho. Esse processo, alimentado historicamente pelas macros e micros estruturas sociais, é que tem produzido os vários preconceitos de que temos conta, seja étnico, sexual ou de classe. 54 Na passagem: “Nada corrige/ Aquela frustração primeira”; e “Não ser um homem na casa,/ segurança pro futuro”, fica explícita a máxima que parte do princípio de que cabe ao homem o sustento do lar, a ideia de que, sem a figura masculina, a família padecerá, estará em miséria, enfim, o pensamento de que o homem é inerente à garantia de sobrevivência dos seus, máxima que agora faz parte apenas de certo imaginário social. Hipoteticamente, um grupo feminino que se ordenasse em torno do pai para garantir o sustento talvez pudesse, nas primeiras décadas do século passado, assenhorar-se desse pensamento. Contudo, as últimas gerações não agem deste modo. A denominada “nova mulher”, surgida entre a década de 50 e 60, nos Estados Unidos, e 70 e 80 no Brasil, por meio dos movimentos de emancipação, vai deixando paulatinamente a dependência da figura masculina, do pai ou do marido, para sobreviver do próprio trabalho. Assim, o discurso que se apoia na sustentabilidade da família como responsabilidade ou papel inerente ao homem é falso, é um trauma que ainda persegue o imaginário feminino. São os fantasmas que insistem em não abrir mão de sua atuação. Como dissemos anteriormente, de acordo com Silva (2003), a simples recusa da identidade é a mola propulsora para a manutenção dessa mesma identidade. Não basta afirmar: “eu não sou isto ou aquilo”, é preciso antes afirmar: “Eu sou”, assim a identidade é constituída, pela positividade, e não o contrário. Essa consequência é evidenciada nos versos finais do poema: Mamãe não quer me ver nela, Isso será sempre assim. Toda causa faz efeito, Mamãe se verá em mim. Uma das marcas negativizadas e que serve de identificação para a mulher é a do ciclo menstrual: Mesmo que faça carreira,/ Já sofrerá todo mês. Temos aqui o corpo marcando a identidade e sendo utilizado para fazer com que o gênero feminino retorne ao seu estado primitivo, à natureza, de forma subjugada. É dali que ela veio, é para ali que ela vai. O eterno retorno para o útero, para a mãe natureza, é argumento que, de acordo com a abordagem realizada a partir de Beauvoir, não se sustenta empiricamente. Na conquista de seu espaço a mulher é duas vezes enganada. 55 Primeiro, pelo fato de ter que negociá-lo, já que deveria ser seu de direito. Segundo, que esse espaço que ela recebe é privado e não público e, sendo privado, pertence a outrem não a ela, ao dono cabe o sustento, a manutenção, a proteção, a legitimidade. Maria Lúcia Rocha-Coutinho (1994), ao refletir a respeito da manutenção de uma estrutura patriarcal na sociedade brasileira desde sua fundação, em 1500, até a atualidade, argumenta que, apesar de a mulher se inserir nas chamadas „minorias‟, ou grupos dos „oprimidos‟, tais quais os negros, índios, operários, etc., – dominados/explorados – sua relação com o centro de poder não se dá do mesmo modo. Enquanto na opressão motivada, por exemplo, pela cor da pele ou pela raça os oprimidos colocam-se, de maneira geral, uns com os outros numa posição de horizontalidade na distribuição de poder, no que se refere à opressão sofrida pela mulher esse quadro é remodelado verticalmente. Dito de outro modo: embora de alguma forma em todos os níveis sociais o jugo feminino seja exercido material e imaterialmente, essa opressão tende a diferenciar-se bastante de uma classe para a outra. Ademais, as mulheres não se colocaram em nenhum momento, umas com as outras, numa relação de horizontalidade. Pelo contrário, a opressão das mulheres das classes mais baixas esteve e está boa parte das vezes associada à opressão exercida por aquelas das classes mais favorecidas, Deste modo, enquanto algumas mulheres sempre estiveram entre os trabalhadores mais explorados, outras se encontravam não apenas entre os opressores, como também se identificavam com eles. (ROCHACOUTINHO, 1994:18) Assim, esse poder exercido pela mulher no espaço privado, por mais que muitas vezes culminasse em influenciar o marido em determinadas decisões, na criação dos filhos, entre outros, por muito tempo essas mulheres continuaram criando (aqui também no sentido de elaborar), homens e mulheres tal qual o desígnio de construção discursiva do patriarcado. O poder do qual dispunham não foi suficiente – por força ou por interesse – para produzir indivíduos que modificassem sua situação na sociedade, seus filhos apenas confirmavam sua “natureza feminina”. Eis sobre o que reflete o eu 56 lírico do poema: o discurso elaborado por sua mãe para que acatasse os estereótipos que designavam um certo tipo de feminino. Quanto ao corpo da mulher, conforme salientado anteriormente, este foi e ainda tem sido o lugar onde se ancora a identidade feminina para sua subestimação. Foi a existência de um corpo diferente – que segue os ritos da natureza, que funciona em ciclos e que, segundo alguns críticos do gênero, é irracional por não permitir que o sujeito imponha-se – o que sustentou a manutenção do discurso inferiorizante por muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, esse corpo que distingue a mulher, uma vez que seja retomada sua posse, conduz para produção de um sujeito autônomo. O próximo poema acena com essa tentativa de reassenhoramento: Modelo Vende-se um corpo de fêmea na TV! Por mil reproduzido, Exposta e em posto de revenda Transformado. O recado sendo valorado pelo Mensageiro, Não a função... A forma. O corpo da mulher sendo decoração. Objeto de desejo. Sonho de consumo. Múltiplas figuras de uma mesma matriz Transfeita em ofertas e liquidações. Vende-se um corpo de fêmea na TV! Leve o produto mesmo que banal. (CARVALHO, 2000:31) No texto transcrito, fica explícita a crítica à imagem da mulher construída nos moldes estipulados pelo patriarcado. Se, na modernidade, a mulher atinge um grau de liberdade, de independência, a ponto de transigir e integrar-se ao espaço público, antigamente relegado exclusivamente ao macho, por um lado, por outro, ela mesma continua sendo um espaço estranho ao seu próprio eu, já que ainda é formulada em grande parte por e para satisfazer ao homem. A crítica do eu lírico ao estereótipo comumente veiculado na mídia é exemplo bastante didático desse modelo. O 57 patriarcado continua a exercer todo seu poder na construção de uma feminilidade que seja passiva, que ofereça tendo pouco a receber, que seja produto num conjunto de outros. Os recursos expressivos do texto fazem lembrar um poema conhecido de Carlos Drummond de Andrade (1984), Eu, etiqueta, no qual o autor adverte para o fato de as pessoas deixarem-se resumir àquilo que a sociedade de consumo deseja que ostentem, suas marcas, suas mercadorias. Eis um trecho do poema de Drummond: [...] Meu copo, minha xícara, Minha toalha de banho e sabonete, Meu isso, meu aquilo. Desde a cabeça ao bico dos sapatos, São mensagens, Letras falantes Gritos visuais, Ordens de uso, abuso, reincidências. Costume, hábito, premência, Indispensabilidade, E fazem de mim homem-anúncio itinerante, Escravo da matéria anunciada. Eu estou, estou na moda. É duro andar na moda, ainda que a moda Seja negar minha identidade, Trocá-la por mil, açambarcando Todas as marcas registradas, Todos os logotipos do mercado. [...] (ANDRADE, 1984:85) Enquanto Drummond centra a atenção no consumismo exacerbado que resulta na despersonalização do indivíduo, a autora mato-grossense preocupa-se especificamente com a identidade feminina. Tanto um quanto outro autor tem por intenção convencer o leitor da necessidade de refletir sobre a própria atuação dentro da sociedade de consumo, com a diferença de que, no segundo caso, a mulher atua especificamente como objeto a ser consumido, como isca do universo capitalista. A passagem do texto de Luciene Carvalho Múltiplas figuras de uma mesma matriz 58 suscita a possibilidade de pelo menos duas interpretações no que se refere a essa atuação feminina: A) aquela que associa qualquer produto fabril a um protótipo que lhe deu origem, assim, as mulheres da tevê, tanto quanto os objetos que se expõem para venda são apenas produtos, reprodução de um ideia (logo, não são genuínos) e B) está associada ao papel da mulher quando se limita à simples exposição visual, pois quando se apresenta dessa maneira é como se retomasse um conteúdo histórico no qual todas as mulheres eram submetidas a poucos estereótipos, como se se retroagisse a um tempo em que a identidade feminina estivesse ainda por começar a ser formulada a partir de demandas provenientes dos próprios interesses. A poesia de Luciene, nesse sentido, opera, para além de seu valor literário, como uma denúncia e um alerta. Uma denúncia contra o que a sociedade patriarcal elabora: a figura de uma mulher a partir apenas de sua exterioridade, de sua superficialidade; um produto num comercial qualquer, que se configura tão-somente como forma, sem conteúdo, “banal”. E traz, em sua imanência, um alerta para as mulheres, que convenientemente cedem a essas reduções. Ninguém, nem mesmo homossexuais masculinos e femininos, travestis e transgêneros, fica fora do esquema de gênero patriarcal. Do ângulo quantitativo, portanto, (...), o patriarcado é, nas sociedades ocidentais urbano-industriais-informacionais, o mais abrangente. Da perspectiva qualitativa, a invasão por parte desta organização social de gênero é total. (SAFFIOTI, 2004:122) Luciene Carvalho apresenta em seus versos um sujeito da pertença feminina recorrente. Em verdade, o eu lírico é recorrentemente uma mulher que procura demarcar espaços que rompem a fronteira do que é usualmente conhecido como feminino. No caso do poema em questão, é o corpo da mulher que é vilipendiado pelas vontades masculinas: É, evidentemente, porque a vagina continua sendo constituída como fetiche e tratada como sagrada, segredo e tabu, que o comércio do sexo continua a ser estigmatizado, tanto na consciência comum quanto no Direito, que literalmente exclui que as mulheres possam escolher dedicar-se à prostituição como a um trabalho. Ao fazer intervir o Dinheiro, certo erotismo masculino associa a busca do gozo ao exercício brutal do poder sobre os corpos reduzidos ao estado de objetos e ao 59 sacrilégio que consiste em transgredir a lei segundo a qual o corpo (como o sangue) não pode ser senão doado, em um ato de oferta inteiramente gratuito, que supõe a suspensão da violência. (BOURDIEU, 2003:26) Embora, no Brasil, as leis sejam mais flexíveis no que se refere à venda do próprio corpo pela mulher, esse tipo de relação também se estabelece por aqui. Conforme comenta Bourdieu (2003:26), “o dinheiro é parte integrante do modo representativo da perversão”, uma vez o ser liquida enquanto sujeito e o transforma em objeto, em coisa subjugada. É justamente essa posse que resulta no gozo masculino, na medida em que despersonaliza a mulher reduzindo-a ao estado de mero objeto sexual. É contra essa condição subjugada da mulher que se levanta o eu lírico. Afonso Romano de Sant‟Anna discorre de forma contundente sobre a relação de expropriação/apropriação do corpo da mulher pelo homem: O corpo feminino ocupa grande parte do discurso, enquanto o corpo masculino é silenciado. E, reveladoramente, embora o corpo masculino esteja ausente, a voz que fala pela mulher é a voz masculina. Essa é uma constatação aparentemente simples, mas de consequências graves. Por onde andou o corpo do homem durante todos esses séculos, salvo raríssimas exceções que, por serem tão excepcionais, só confirmam a regra? Evidentemente, essa ausência do corpo masculino e essa abundância do corpo feminino começam a ser explicadas pelo fato de que o homem sempre se considerou o sujeito do discurso, reservando à mulher a categoria de objeto. Como sujeito, portanto, ele se escamoteava, projetando sobre o corpo feminino os seus próprios fantasmas. Aí ele se porta como ventríloquo: o corpo é do outro, mas a voz é sua. Certamente, aí está também um preconceito histórico, segundo o qual o homem se caracteriza pela razão, pelas qualidades do espírito, enquanto a mulher é só instinto e forma física. A consequência disso é múltipla: transformada em objeto de análise e de alucinações amorosas, o corpo da mulher também é o campo de exercício do poder masculino. O homem, então, fala sobre a mulher, pensando em falar por ela. Descreve seus sentimentos, pensando descrever os dela. Imprime, enfim, o seu discurso masculino (muita vez machista) sobre o silêncio feminino. (SANT‟ANNA, 1993:12) Deste modo, podemos observar que o eu lírico opera contra dois movimentos que tentam deter o corpo feminino: o que o mantém na esfera do sagrado, descrito em “A condição de filha”, cuja anatomia de sua genitália o transforma em um ser aleijado, deficiente, que passa a impressão de que a sexualidade da mulher seja uma 60 enfermidade, um tumor a ser vigiado e domesticado; e o que, obedecendo às ordens do mesmo produtor de discurso, quer determinadas mulheres submetidas à outra demanda, fora do rol de sacralidades que eles mesmos criaram (querem-nas para o consumo de outra maneira, conforme necessidades de seus fetiches, como objeto). O título do poema, Modelo, faz referência à profissão exercida por algumas mulheres, como também faz alusão aos padrões impostos para as mulheres, inclusive aqueles relativos à beleza física. Dessa forma, o modelo a que alude o eu lírico pode estar associado aos padrões que devem ser seguidos por todos aqueles do sexo feminino, modelo, via de regra, inalcançável para a maioria das pessoas – dificuldade que aumenta se trouxermos à baila do raciocínio o fato de que vivemos em um país multirracial. A palavra modelo refere-se, dessa forma, tanto à profissão que determina certos parâmetros a serem perseguidos pelas mulheres, quanto sugere à despersonalização dessa própria matriz, que às mulheres serve de base, uma vez que, associadas a produtos, elas, que ora são matrizes, passam a identificarem-se com determinados objetos ao passo que também são associadas a eles. Passam a ser produtos na vitrine, como os demais. Céu e inferno no feminino O binarismo do feminino consiste na sua qualificação ou valoração a partir de estereótipos em oposição. A bipartição da mulher ganha mais força quando da instituição da burguesia, que circunscreveu o feminino ao espaço privado. Qualquer oposição a esse aprisionamento resultaria no efetivo deslocamento das qualidades desejáveis para a mulher: A cultura burguesa se fundava em binarismos e oposições tais como natureza/cultura, pai/mãe, homem/mulher, superior/inferior, que relacionam em última instância a mulher como o outro, a terra, a natureza, o inferior a ser dominado ou guiado pela razão superior ou masculina. (DEL PRIORI, 2004:403) 61 O que ficou estabelecido com a ascensão burguesa foi o discurso que se baseia na afirmação da existência de uma certa “natureza feminina” que, segundo Mary Del Priori (2004:410), “definiu a mulher, quando maternal e delicada, como força do bem, mas, quando „usurpadora‟ de atividades que não lhe eram culturalmente atribuídas, como potência do mal.” No texto seguinte, essa oposição é relativizada e o sujeito propõe a definição de si mesmo a partir de elementos que lhe são intrínsecos, ou seja: a partir de sua subjetividade, por um lado e, por outro, tomando posse da escrita, elabora-se para si mesmo e para o mundo a partir dos elementos que a distinguem não mais partindo do que não é, como outrora o faziam; agora, partindo do que delimita para si ser e tornarse. Vejamos o poema: Nós Vocês não sabem Nada da minha tristeza e busca É mais fácil acreditar: “Não passa de uma louca De uma bruxa” A ferro e fogo sigo a correnteza. Dormem em mim A escrava e a princesa No mesmo corpo, pele e substância Caminham de mãos dadas Desde a infância Brincaram sob as mesmas Saias, tão rodadas. Andam em mim a plebe e a realeza Como um acaso bipolar da natureza Sim e Não Vida e Nada O horror e a Beleza Uma quer! A outra espera Uma é santa! A outra vira fera Uma é chão! A outra é quimera Uma planta lágrimas no sonho A outra lê pro mundo os versos que componho. (CARVALHO, 1994:63) 62 Em “Nós”, temos um eu lírico que toma consciência desse assujeitamento a que foi submetido e procura desvincular-se dessa caracterização, perseguindo seus valores individuais, enquanto indivíduo de identidade feminina. Nesse olhar para dentro, percebe os polos nos quais se tem situado pela imposição da sociedade erigida sob valores do patriarcado. Assim, utilizando-se dos elementos em oposição “santa/fera, escrava/princesa, Sim/Não, Vida/Nada, Horror/Beleza e chão/quimera”, anuncia reconhecer que se trata de uma etiqueta externa de seu eu. E recusa, por isso, assimilar essa caracterização como sendo a si mesmo, tal qual desejam que faça, tal qual o resumem: “Não passa de uma louca/De uma bruxa”. Opostamente a essas definições, reconhece-se enquanto ser humano complexo, dotado de ambivalências, de complexidade, e, sobretudo, dotado de autonomia para falar de si através de versos confessionais e revelar ao mundo a poesia que dele emana. Dessa forma, apropria-se dos polos em oposição aos quais foi submetida desde a infância: A ferro e fogo sigo a correnteza. Dorme em mim A escrava e a princesa No mesmo corpo, pele e substância Caminham de mãos dadas Desde a infância Brincaram sob as mesmas Saias, tão rodadas. A expressão “a ferro e fogo”, que remete ao conceito de não-maleabilidade, de exigência, inflexibilidade e, mais remotamente ainda, que remete à ação de marcar o escravo com chapa de ferro em brasa, denota – somada à expressão “correnteza”, que se traduz como caminho pelo qual todos seguem, ou todos são levados – a sujeição do eu lírico. Ao mesmo tempo, quando assinala em versos que “A outra lê pro mundo versos que componho”, sinaliza que essa polarização a que tentaram submetê-lo foi subvertida em favor de sua complexidade como pessoa humana e como artista que é. Esses elementos não compõem apenas uma superficialidade desejada por aqueles que o querem raso, dado que esses elementos são possibilitadores de seus versos, que a um tempo são resultados de sua complexidade como indivíduo, como ser humano e 63 são a sua voz que ecoa, que ganha espaço fora do corpo em uma outra materialidade, a do universo literário. No caso do Ocidente, devemos considerar que antes de tornarem-se escritoras, as mulheres tiveram de assimilar a escrita e, nesse processo de construção da linguagem, submeter-se, incorporar-se de uma linguagem elaborada a partir e para o falo; uma linguagem antes restrita e elaborada segundo padrões de uma elite branca e de origem europeia, estabelecedora de uma norma culta onde o gênero masculino era (e é) o “nós”, o “eu”, “aquilo que todos somos”, enquanto o gênero feminino receberia uma marcação estrangeira e outrista. Uma linguagem, em suma, que parte do pressuposto de que o macho é o protagonista deste mundo: Tal qual um Deus Pai que criou o mundo e nomeou as coisas, o artista torna-se o progenitor e procriador de seu texto. À mulher é negada a autonomia, a subjetividade necessária à criação. O que lhe cabe é a encarnação mítica dos extremos da alteridade, é uma vida de sacrifícios e servidão, uma vida sem história própria. Demônio ou bruxa, anjo ou fada, ela é mediadora entre o artista e o desconhecido, instruindo-o em degradação ou exalando pureza. É musa ou criatura, nunca criadora.” (grifo nosso) (PRIORI 2004:403) Todavia, quando se reapropria do “nós”, dando uma significação particularizada a ele – no poema o pronome refere-se aos “eus” polarizados do poeta – ressignificando-o dentro do universo do feminino, ao qual nunca adentrara, ao qual sempre coube o estigma de “outro”. Reapropria-se da palavra e, por intermédio dela, pretende deslocar os territórios previamente construídos para si. Uma outra possibilidade que a palavra “nós” oferece ao leitor é significar embricamento, amarração, no caso, um conjunto de “eus”. “Eus” que se formam a partir de nós, de elos, de elementos que, embora aparentemente sejam conflitantes, confluem-se, entrelaçam-se, amalgamam-se numa mistura extremamente pulverizável e ainda assim, heterogênea, por isso mesmo perceptível, por isso mesmo “nós”: heterogeneidades em sintonia. Esse discurso evidencia-se nos pronomes pessoais utilizados pela autora para referir-se as suas instâncias: Dormem em mim [...] 64 Caminham de mãos dadas [...] Brincaram... [...] Andam em mim... [...] Os pronomes na terceira pessoa do plural (eles), a que se referem os verbos, associados ao eu do poema, que no caso acima estão marcados pelo pronome oblíquo (mim), indicam a associação que culminará no “nós“, a que se refere o título. O eu lírico mergulha com profundidade no elemento humano de si mesmo para perceber que é formado a partir de contradições e não apenas de um ou outro extremo. Essa percepção da própria subjetividade é feita de modo mais confiante dos objetivos que possui, pois é feita de modo mais confiante sobre quem realmente é. Ridiculariza, dessa forma, o fato de o classificarem seja de louco ou de bruxo, uma vez que sabe que se tratam, nada mais, de classificações usadas todas às vezes que o feminino lhes escapa, toda às vezes que o feminino revela-se poderoso demais para as fronteiras que lhe circunscreveram. A fim de delimitar esse novo espaço demarcado para a constituição de sua identidade, o eu lírico subverte as polaridades que marcariam sua suposta essência feminina: nos versos “Sim e Não/ Vida e Nada”, temos polaridades não excludentes que tendem não a dilacerar o sujeito, mas a reordenar suas fronteiras, tornando-as mais flexíveis. Tomando consciência de que tem sido ele mesmo uma construção elaborada por outrem, cabe-lhe então contradizer essa produção discursiva baseada na fragmentação. A reversão desse discurso dá-se pelo uso do conectivo de adição “e”, que é inserido no poema em contrapartida à partícula alternativa “ou”, no caso, uma partícula que tem como caráter o conceito de exclusão, uma vez que, ao invés de inserir uma outra possibilidade ao sujeito, divide-o, condiciona-o a ser apenas parte (ou isto ou aquilo), não inteiro. Nesse sentido, a substituição da partícula “ou” pela partícula “e”, é marca linguística dessa nova subjetividade arquitetada. É marca que revela no sujeito sua polivalência e não sua ambivalência, como outrora uma identidade constituída a partir do binarismo quis afirmar. No mesmo texto, a passagem “Andam em mim a plebe e realeza” apresenta, tal qual o verso anterior, a desconstrução da dicotomia. Os substantivos que até então 65 antagonizavam-se, nessa passagem são sinonímia de um sujeito que se reconhece como unidade discursiva formulada a partir de diversas faces. Entre batons, figurinos e teias: o esvaziamento do patriarcado Muitos anos após ter se tornado renomada mundialmente pelos seus estudos e pela sua bandeira em prol do feminismo, Simone de Beauvoir teve suas teses questionadas em função terem sido encontrados, entre seus materiais, alguns textos íntimos. Tratavam-se de cartas endereçadas a Jean Paul-Sartre, seu companheiro. Nelas, ainda que apenas pela ficção amorosa, Beauvoir supostamente punha a perder toda tentativa de libertação de mulher ao sujeitar-se e desejar ser dominada sexualmente pelo seu amante. Expunha nesse documento a vontade de ser subjugada, dominada, rendida pelo seu “macho”. As feministas de então, que não eram poucas, visto que se encontravam no momento mais agressivo de seu movimento, não tardaram em desmerecê-la. Esse ato falho da escritora foi resultado certamente dessa relação histórica que se estabeleceu conjugalmente – e em todas as esferas da convivência social – entre o homem e a mulher. A explicação dada foi a de que não passavam de fantasias sexuais, sem valor enquanto marcação pessoal da identidade da escritora. Em todo caso, o fato é que os discursos intrínsecos/extrínsecos que vem à tona quando o tema vincula-se à sexualidade, que tem consistido, durante a modernidade, na desejada “entrega” da mulher ao homem, apontam para complexidades pouco abordadas em outros contextos de debate. Assim, a sexualidade constitui-se como um elemento relevante de análise das identidades de gênero. É através dessa análise que poderemos observar o quanto o eu lírico tem caminhado rumo à produção de uma identidade autônoma. O texto bíblico de Deuteronômio (18:32), faz menção à relação homem/mulher tendo em vista um feminino desconhecido, e por isso, perigoso: “Há três caminhos os quais desconheço: o caminho de uma cobra entre as pedras; o caminho de uma águia no céu; e o caminho de um homem com uma mulher.” A mulher na citação, ocupando 66 lugar de objeto, é associada à “pedra” e ao “céu”, termos, no texto, associados à ideia de incerteza, descaminho, caminho turvo. Desses três caminhos desconhecidos, interessa-nos o caminho da mulher, porque ele representa, nesse novo contexto, um ato de resistência do sujeito. É ato de resistência para a identidade a partir do instante em que nega a submissão ao outro, a partir do momento em que rejeita para si um caminho pré-estabelecido, fugindo à enganação de um caminho por um lado acolhedor e, por outro, alienante. É, em verdade, esse local, ora uma fronteira, lugar do desconhecido, ora um não-lugar. Permeado de estradas, o sujeito feminino, no entanto, não parece definir-se por nenhuma delas. Ao mesmo tempo não é porto nem é casa. Que é então esse sujeito? Aparece aqui o problema da descontinuidade histórica. É o lugar-nenhum. É o lugar da perdição para o outro. O espaço do segredo e do mistério. É só através da desconstrução que o sujeito vai novamente elaborar sua imagem. Imagem, nesse momento, em suspenso pela negação a que o sujeito do enunciado submete-a. Essa negação recusa não a si, mas a histórica aquilatação entre mulher e natureza, comparação que tem julgado o feminino como o responsável pela imundície no mundo: As mulheres têm arcado com o fardo simbólico das imperfeições humanas, suas bases na natureza. O sangue menstrual é a mancha, a marca de nascença do pecado original, a imundície que a religião transcendental deve lavar do homem (PAGLIA, 1992:22) A imagem que ora tangencia a mulher para fora daquilo que realmente a compõe, é posta à prova em “Saias”. No poema, boa parte dos itens simbólicos que intentam caracterizar o feminino são expostos e seus valores questionados. Mas o eu lírico não se afasta deles simplesmente, não os arrasa como seria feito em momentos mais hostis do feminismo. O que faz é exalar suas forças na medida em que se apropria desses símbolos e os ressignifica dentro de um contexto não mais de dominação, mas de fantasia, de representação lúdica, da possibilidade de lidar com essas imagens sem que elas representem sua anulação. O poema carrega no título um dos símbolos da identidade feminina no Ocidente. Vejamo-lo: 67 Saias Adoro saias, Adoro a condição de fêmea Que para além De toda a modernidade Ainda pode seguir Navegada em afetos. Adoro saias, Adoro figurinos E a possibilidade do fútil, Saída para grandes Preocupações existenciais estéreis. Adoro maquiagens Que lembram o existir de personagens Dentro do um que somos. Adoro o cuidado com o espelho – consciência da imagem – Adoro o fêmeo movimento da mão, O brilho no olho frente um objeto de decoração. Adoro o sem-número De banalidades Que importa p‟ro universo feminino: No olho, a rodela de pepino. Na festa: “Deus me livre de errar a bolsa”. E é tanto detalhezinho fascinante Que o foco da mulher Carrega a conta, Mulher é o imponderável Desse mundo. (CARVALHO, 2003:47) “Saias”, “fêmea”, “afetos”, “figurinos”, “fútil”, “estéreis”, “maquiagens”, “personagens”, “espelho” e “imagem”, “olho”, “decoração”, “banalidades” e “rodelas de pepino” (no olho): eis os signos que edificam o discurso da feminilidade em “Saias". Os versos são compostos de verbos carregados de enfática afetividade, sobretudo na repetição do termo “adorar”, que denuncia uma marcante sensibilidade da poeta. O poema carrega, pelo menos aparentemente, um sujeito que não se deu conta ainda das amarras que o caracterizam apenas como produto de desejo. O sujeito caracterizado neste poema é, sem sombra de dúvidas, bastante apegado aos costumes que lhe foram ensinados. Em verdade, segundo versifica o poema que dá nome ao livro Caderno de Caligrafia, o temário do livro é autobiográfico, está contido 68 na obra parte da infância e, sobretudo, a fase de transição para a vida adulta do eu lírico. Talvez se explique, aí, o certo encantamento com o sexo, com o mistério que envolve o próprio corpo, as surpresas com as sensações físicas perante o outro e a idolatria da identidade feminina, da feminilidade contida em si. Num primeiro momento, há a frustração com a condição de mulher institucionalizada pela sociedade. Contudo, em outro momento, a partir do gênero, percebe a força que tem para cativar outrem, entre outras vantagens que lhe são oferecidas; enfim, parece estabelecer-se nesse ponto um problema: como lançar mão de certos elementos interessantes à identidade feminina, sem ratificar, através do olhar exótico para o próprio corpo, ou para si mesmo, o discurso que através dos tempos a tem outrificado? O sociólogo francês, Pierre Bourdieu, em A dominação masculina, a partir da sociedade cabila, analisa a estrutura de sustentação da dominação masculina nas sociedades ocidentais, assinalando que: A cintura é um dos símbolos de fechamento do corpo feminino, braços cruzados sobre o peito, pernas unidas, vestes amarradas, que, como inúmeras analistas apontaram, ainda hoje se impõe às mulheres nas sociedades euro-americanas atuais. Ela simboliza a barreira sagrada que protege a vagina, socialmente constituída em objeto sagrado, e, portanto, submetido, como demonstra a análise durkheimiana, a regras estritas de equivança ou de acesso, que determinam muito rigorosamente as condições do contato consagrado, isto é, os agentes, momentos e atos legítimos ou, pelo contrário, profanadores. (BOURDIEU, 2003:25) Faz parte do conjunto simbólico que sustenta a dominação masculina a conjetura de que a vagina trata-se de um elemento que funciona como uma espécie de chave de acesso tanto para o universo do sagrado – o sexo como procriação, dentro do ambiente doméstico – como chave de acesso ao universo do profano, o sexo fora do casamento ou a masturbação feminina, por exemplo. Como amuleto que aponta para direções tão distintas, cabe à vagina ser guardada, protegida. Eis a sina da mulher, sua missão magna neste mundo, conforme o patriarcado. Por outro lado, a rejeição total desses elementos representariam, da mesma forma, sua anulação, uma vez que a identidade apoia-se num referencial. A evasão da natureza, segundo Paglia (1992), é própria do homem, não da mulher, que está muito 69 ligada a ela. Quando o sujeito feminino acata esse distanciamento, evade de si mesmo e entra em conflito feroz com a natureza. Aqui está a questão de “Saias”: se aparentemente cede aos estigmas criados a partir dessa relação com o estereótipo, exaltando-os enquanto condição de fêmea, essa aceitação é apenas contingente. Num momento ela demonstra entregar-se a esses adereços que circunscrevem culturalmente o universo feminino, em outro, ela dá sinais de que tem consciência desse jogo da identidade ao qual está submetendo-se: Adoro saias, Adoro figurinos E a possibilidade do fútil, Os versos acima constituem de simulação na medida em que apontam o uso de figurinos, no texto, associados à feminilidade, e apresentam a superficialidade exposta em “fútil”, não como um caminho que marque o eu lírico, mas sim como uma possibilidade, ou seja, o sujeito tem alternativas para além dessa proposta. Em “Saias” há apenas ilusoriamente a frenética encarnação da “alma de fêmea”. O despojamento e a caracterização do ser a partir de classificações preconcebidas. O acatamento não necessariamente de um gênero, mas de um “tipo” dentro do que é o gênero feminino. No texto, a posse do estereótipo não é gratuita ou alienada. O eu lírico o toma para si, num jogo de negociação para elaboração de sua identidade. Nesse meio termo, expõe esses adereços como não sendo essenciais para si ou como não sendo ele mesmo, apenas representação, mesmo os adorando. Com essa ação, acaba por virar os elementos do avesso, por desdobrá-los, mostrando suas faces vazias. A autora utiliza-se de termos como “figurinos”; “personagens”, “banalidades” e “fútil”, os termos, no decorrer do poema, denotam a visão crítica que tem desses rótulos: são apenas truques jogos, teatro, encenação, ou qualquer outra coisa das quais gosta (ou adora), mas não são ela, ou seja, não correspondem àquilo que é, conforme apregoou o patriarcado por tanto tempo. Essa separação entre o sujeito e as possibilidades de posicionamentos discursivos que assume em determinados contextos fica mais evidente na passagem: 70 Adoro maquiagens Que lembram o existir de personagens Dentro do um que somos Diferentemente daquela formulação do feminino que o faz perder-se, não o reconhecendo enquanto sujeito, no poema, um outro feminino é instaurado. Aparece, nos versos de “Saias”, um feminino com autonomia para acessar os elementos que lhe estão ao alcance, sem, no entanto, deixar que se confunda aquilo que é com aquilo que seleciona para si ou toma posse, no contexto em que está inserido. Na passagem acima, o termo “um”, mais que indicar uma essencialidade, um lugar fixo e estável, está sendo utilizado em contraponto a “personagens”, ou seja, constitui-se como o lugar do qual parte para assumir uma ou outra faceta de sua identidade. Quanto à “condição de fêmea”, podemos ainda utilizar-nos desse verso para assinalar que a voz do poema reconhece ser um condicionamento por qual passa para tornar-se um tipo específico de fêmea que seria o oposto se optasse por “alma de fêmea”; quero dizer, um essencialismo identitário. A “condição” indica um estado, uma situação. Dessa forma, o sujeito não se sente irremediavelmente movido pela força exterior do assujeitamento que lhe é imposta e tem consciência dela. Esse saber é fundamental para a produção de uma identidade elaborada a partir de pressupostos de sua própria necessidade de subjetivação. O popular ocultismo do gênero não serve, para a identidade que quer aflorar, reconhecer-se, dar à luz a si mesma. O ocultismo do gênero serve, na contramão, duas vezes ao homem que, em um momento entende a mulher enquanto produto (daí o ocultismo aumenta o fetiche pelo objeto) e, em outro momento, a quer oculta de si mesma para melhor mantê-la em estado de submissão e aceitação do destino que, segundo o próprio homem, a natureza impôs a mulher. Entretanto, ela agora deixa de ser produto, objeto, e torna-se sujeito. Como sujeito, tem noção do contexto em que está inserido e, se aceita fantasiar essa submissão, esse enredo, é porque o que está em jogo por alguma razão provoca-lhe interesse. Dessa forma, esse sujeito não está em um jogo que não lhe permita agir politicamente, que não lhe possibilita estar em constante negociação com o outro. 71 Assim, retomando os conceitos anteriormente abordados, sobretudo aqueles de Showalter (1994), é possível apontar um sujeito que já não contesta simplesmente os signos falocráticos, mas, tendo atingido um estágio de relativo conforto no que se refere a constituição de sua própria identidade, permite-se a circulação por territórios antes neutralizantes para a persona feminina. 72 CAPÍTULO III FEMININO: UMA NOVA PERSPECTIVA DE IDENTIDADE PARA UM NOVO SUJEITO Vimos até agora, considerando o sujeito que se instaura no poema, três operações que realiza na busca de sua autonomia. Primeiro, o sujeito reconhece-se inserido numa gama de discursos que tencionam negar sua existência e a elaborá-lo segundo conceitos preconcebidos que tendem a reduzi-lo na medida em que o poder alheio é ampliado; reconhece esse poder disseminado em toda a sociedade como se esta se unisse para a insídia do feminino e, contra esse espaço pré-elaborado para si, rebela-se. Segundo, o sujeito reconhece o universo que acreditou ser seu, sua própria subjetividade, mergulhada em vozes dissidentes da sua. Assim, tomando consciência do espaço que realmente deveria ocupar, reivindica-o e, ao fazê-lo, reivindica-o não só para si, mas para todos que se encontram em situação semelhante à sua, alertando-os para as armadilhas que intentam sua superficialidade baseada em paradigmas essencialistas, tal qual o corpo da mulher veiculada na propaganda do poema “Modelo”. Finalmente, cabe dizer que tudo ocorre simultaneamente – toma posse, com a finalidade de ressignificar, sua identidade. Olha-se e “diz-se”, afirma-se outra coisa para além daquilo que denominaram para si. Pretende-se inserido em outros espaços que não os que lhe foram historicamente designados. Tomando noção da própria existência no mundo, deseja um espaço que seja fruto de sua elaboração, esta, realizada a partir de necessidades oriundas dele mesmo, que não resultem das recorrentes demandas de outrem. Esses são os três passos principais realizados pelos sujeitos dos poemas até aqui. O que falta dizer é: tendo reivindicado a identidade, que identidade é essa que reivindica? Que feminino, ou que sujeito é esse que elabora? Em que terreno, em que espaço se coloca? Como é essa identidade, una, como a iluminista? Multifacetada, como as da contemporaneidade? Ou nenhuma delas? O que desconstrói já vimos, mas o que constrói, se é que o faz? Nos capítulos anteriores, tentamos demonstrar o que o sujeito não quer ser. O que é, ou o que deseja vir a ser, tentaremos apontar a partir daqui. 73 Os estudos atuais do feminismo têm colocado em xeque vários conceitos que antes não eram vistos como problemáticos pelas academias científicas. Entre esses questionamentos, têm ganhado cada vez mais adeptos aqueles que apontam que a própria noção de identidade é um conceito mais apropriado à demanda de um grupo específico que de outros. Junto a esses questionamentos tem-se perguntado: quem precisa de identidade? De posse desse problema, alguns autores têm preferido utilizar o termo “identificações”, como já apontado no primeiro capítulo, propondo, assim, um ato contínuo de representações por parte do indivíduo dentro de contextos de atuação específicos. É nesta seara que o sujeito dos poemas seguintes parece ficar mais à vontade. Num primeiro momento descobre-se só. Precisa encarar-se, colocar-se à prova, e isso acontece ainda que não seja de pleno interesse. É preciso encarar-se refletido no espelho, reconhecer aquilo que criou a partir do discurso da diferença: Intimo convívio Ali, na nudez do quarto, Não havia como se esconder de si. Era tudo tão incerto Quando só. Talvez devesse se esconder de si Dentro do guarda-roupa... Quem sabe, se abrigar Deitado sob a cama... Quem sabe algum alívio químico Trouxesse libertação? Enquanto não... Preso a si! Exposto a estar consigo Na solidão do quarto. Máscaras desabotoadas, Toda a existência pairando sobre a Alma. Que se rompesse o ser e a consciência Sem que, no entanto, fosse necessário Estar consigo, em íntimo convívio. (CARVALHO, 2000:62) Alguns elementos que encaminham o sujeito a outras querelas estão desconstruídos aqui. Outras referências, partes dos outros, subjetividades alheias foram 74 postas em questão e não resistiram. Os “itens de fragilidades” dos poemas anteriores, tais quais o batom, a saia, a roupa certa no tom, “a espera na janela” não mais constituem o sujeito. Apenas ele se constitui. Não há luta e o único confronto que resta é aquele que precisa travar consigo. Há um eu profundo que até este momento estava soterrado por outros discursos, mas que agora precisa ser encarado para que se possa dar um passo à frente no caminho do autoconhecimento. E, o que parece incomodar o eu lírico é a profundidade que encontra na própria existência: Ali, na nudez do quarto, Não havia como se esconder de si. Esconder-se no quarto ou no guarda-roupa não é suficiente para fugir do mergulho na consciência de si mesmo, latente no sujeito. Os versos fazem lembrar “O morcego”, de Augusto dos Anjos3, com o vampirismo da consciência que invade pela madrugada o quarto para reclamar os feitos do sujeito durante o dia. No entanto, aqui a circunstância é outra, não é o peso na consciência que assombra o sujeito. É a percepção da própria imagem, oriunda do conjunto de faces que atrelou com a finalidade de circular nos ambientes que se oferecem. Na imagem que elabora, não é seu corpo ou sua alma que estão nus, apenas; há uma nudez hiperbólica do quarto que não o deixa esconder-se de si. O primeiro verso, em “Íntimo convívio”, inicia-se com o adjunto adverbial de lugar, “ali”. Este dêitico apresenta um espaço metafórico em que o sujeito deixa-se levar por conjecturas que farão com que pouse em um labirinto recentemente conhecido, contudo, negado. Aponta para “quarto”, que pode ser tratado de forma literal em se levando em conta que ele seja um lugar de repouso, um ambiente suficiente para a meditação a ser realizada pelo eu lírico. No quarto, produz reflexões sobre o dia, a vida, acontecimentos ocorridos. O quarto, como elemento espacial, antepõe-se ao público, à urbe, ao profano, espaços onde as “máscaras” precisam ser “abotoadas”. No quarto não há essa necessidade – ali há o isolamento, a evasão do sujeito de todas as trivialidades mundanas – neste espaço o eu lírico pode ser ele mesmo, sem o perigo de 3 No texto, a personagem é atormentada ao anoitecer em seu quarto por sua consciência, representada por um morcego. 75 ser mal interpretado, entretanto, isso tem um preço, o de confrontar-se. E o desejo de esconder-se desse “eu”, até então suprimido, denota o receio do eu lírico nessa ação. Ao mesmo tempo, a palavra “quarto” precisa ser metaforizada para que transcendamos a esse espaço físico e possamos caminhar até onde encontraremos o eu lírico, que, de início, rejeita o deslocamento para dentro de si próprio, nega o mergulho em suas entranhas psíquicas, em seu universo – até o momento de sua escrita – todo particular. O quarto figurativizado simboliza, dessa forma, uma das tantas dependências desse castelo que cada sujeito possui em seu interior. Seja pela literalidade, seja pela metáfora, há um confronto impossível de se fugir, um confronto que acabará por culminar no “convívio” consigo, uma vez que, longe das pessoas, da urbe, do convívio social, estão as “máscaras desabotoadas”; a performance no quarto escuro é desnecessária. O paralelismo sintático assinalado nas repetições “Quem sabe”, sugere, em princípio, que o sujeito busca um rol de possibilidades ante a opção de deparar-se consigo. No entanto, revelam-se estéreis as alternativas, na medida em que a escritura do texto, por si só, representa esse mergulho existencial que o sujeito realiza. Dessa forma, o texto revela-se muito mais uma constatação que um problema. Em Máscaras desabotoadas, Toda a existência pairando sobre a Alma. temos uma imagem que procura desvincular o ser do mundo material, terreno, para agregá-lo a uma essência metafísica, fora do mundo: dentro de si, não como propuseram os surrealistas, a partir do inconsciente. Aqui, o sujeito precisa estar (ou simplesmente está, por força da circunstância) desperto, sóbrio (“Quem sabe um alívio químico/ Trouxesse libertação?/ Enquanto não...”), para o confronto que trava com sua consciência. Esse confronto não é desejado, como fica bem claro nos dois versos finais, é mais uma demanda que precisa cumprir que uma vontade de ação o que o coloca na circunstância ilustrada. Mas o confronto acontece e, desse confronto, surge uma epifania, uma outra realidade bastante diversa é incorporada. O sujeito vê-se bailando 76 desdobrado diante de si. Visualiza a alma e, sentindo-a, desloca os sentidos que o mundo deu para si e os refaz, devolvendo-os para o mundo segundo uma interpretação particular. Na literatura, a epifania faz o leitor sentir o texto tal qual o fez seu autor. Em “toda existência pairando sobre a alma”, o sujeito, que outrora acomodava-se na zona confortável da textualidade passiva, tem o poder de ser autor de si e de significar a sua existência. Amedrontado e, por isso, apegado aos elementos da materialidade que antes definiam-no, utiliza-se de substâncias concretas para subtrair-se da esfera de elementos abstratos. Contra a consciência, utiliza-se do “guarda-roupa”, do “quarto”, da “cama”, e do “alívio químico”, embora esses substantivos não mais tenham força para significar perante o novo espaço no qual se vê preso e ao qual precisa subsistir: seu próprio eu. Seu íntimo convívio consigo reserva-lhe o apelo da “alma”, palavra por essa razão disposta de forma atomizada no poema, ou seja, isolada em um único verso. Dessa maneira, o eu lírico coloca-se diante da existência: apenas sensações, apenas o eu impossível de narrar-se. Talvez seja esse o conflito que se instaure nesses versos, o eu lírico encontra-se de posse de (ou, pelo menos, em contato com) aquela esfera do sujeito que alguns teóricos da literatura4 dizem intraduzível senão pela poesia. Desse modo, de fato existem, no poema, dois sujeitos: um das máscaras, da exterioridade, dos substantivos concretos; e outro, que transcende às aparências exteriores da realidade, por isso, segredado, escondido, escamoteado. Os dois poemas que seguem parecem ser uma continuação do processo de confronto e descoberta do sujeito que resultaria, em última instância, no íntimo convívio de que se fala. São eles: “Vozes Noturnas”, e “Autoconhecimento”: 4 Kate Hamburguer (1986), fazendo referências à obra de Schlegel, afirma que a poesia é o meio através do qual o espírito humano chega a consciência de si e organiza seus devaneios, o caos que o habita. 77 Vozes Noturnas A noite vai desfilando em frente aos meus Olhos... Cintilações. Sombras. Ruídos incógnitos. Na noite, as vozes interiores que me Habitam Celebram sua liberdade. Pelo veludo do céu, Os astros representam seu espetáculo: Fogos-fátuos, iluminações anônimas, Constelações. Minhas vozes relembram sonhos Adormecidos. Tomo um chá com minha memória. Ensaio projetos. Evoco personagens de tempos outros. Na noite que vai se entregando à Madrugada, Viajamos eu e a lua Cada qual com sua rota e ciclo; Na noite a lua circundada pelo balé Silencioso dos astros... Na noite envolta por minhas vozes. Meus olhos revolvem – sem pudor algum – Meus medos e misérias, Delatam minhas fantasias. Na proximidade da aurora, exausta, Eu busco um cobertor – a janela Entreaberta – para me proteger do frio e De minhas vozes. Quero apenas me embebedar de noite. De nada vale minha vontade, Na noite minhas vozes têm vida própria, Desejos próprios. Minhas vozes invadem o vale dos meus Desejos E desvendam segredos. Minhas vozes me põem em carne viva. Já quase na partida da noite, minhas Vozes se despedem Num último alarido. Descansa a lua, Descanso eu. Na ponta da manhã, a luz do sol Encobre o show dos astros. Breve intervalo, O crepúsculo reacenderá o céu 78 E prepararei o quarto e a bandeja de chá Já certa da pontualidade das visitas. (CARVALHO, 2000:64) No texto transcrito, o cenário de “Íntimo convívio” parece repetir-se: o ambiente noturno, o quarto no qual há pouco escondia-se, o cobertor, a solidão e novamente as vozes que “desfilam” perante os olhos do eu enunciador. A diferença é que as imagens produzidas ganham em intensidade, as sensações tornam-se mais apuradas, de forma a compor sinestesicamente (sinestesias observáveis, por exemplo, em: “cintilações”; “sombras”, “veludo”...) um ambiente propício a tornar-se habitat das vozes que povoam o sujeito. A sequência de imagens também dá a ideia de movimento. Tal qual uma tenda sendo armada, é formulado um espaço montado a partir de cada um dos versos. Como o eu lírico que se estrutura a partir de cada uma das vozes que nele transitam, ou, ainda, como o poema que se forma a partir de versos que são ações independentes, mas que colaboram para inaugurar o todo. Os elementos, aliás, têm bastante independência, um em relação aos outros, embora constituam, no todo, uma unidade de sentido. O eu lírico e a lua, por exemplo, estão unidos, mas não se aglutinam, cada ser tem sua particularidade, sua “rota”, seu “ciclo”, sua especificidade não controlada. Se a lua outrora representava a natureza a que o sujeito estava submetido, no instante poético, as duas matérias acontecem desvinculadas. O sujeito não elimina a natureza, querendo dominá-la, tal qual fizeram outros sistemas rígidos que desejavam egoisticamente a centralidade do mundo – entre os quais o próprio patriarcado, cuja principal premissa consistia em extinguir as diferenças. Concebendo a natureza, no caso a lua, como outro, não a aniquila ou sufoca no discurso. Como saída, prefere apenas demarcar sua independência do astro: Viajamos eu e a lua Cada qual com sua rota ou ciclo; Tudo está em trânsito, nem por isso redunda em caos, contrariamente ao que se formulou no cartesianismo. Cada elemento ganha vida e acontece conforme sua 79 vontade particular. Mesmo aqueles que não têm um verbo como núcleo sugerem ações, tais quais os “Ruídos incógnitos”, “fogos-fátuos” ou “iluminações anônimas”, ou ainda, simplesmente “Constelações”, tudo em movimento: ruídos rugindo, iluminações anônimas iluminando, constelações constelando. Mas, a essas redundâncias o eu lírico não precisa submeter-se, caso consideremos que as disposições das palavras por si já sugerem esses deslocamentos, como se o quarto fosse um cosmos onde todos os elementos gravitassem, estivessem em suspensão, fomentados pelas vozes noturnas do sujeito que, ali, encontram-se rebeladas, alheias a sua vontade. Entretanto, esses movimentos, quem os produz? O que todas eles querem dizer? Querem dizer do eu lírico, pois esse movimento é fruto metonímico do sujeito que se multifaceta e está sendo inundado com suas subjetividades, isso é perceptível em A noite vai desfilando em frente aos meus Olhos... Ou: Meus olhos revolvem – sem pudor algum – Meus medos e misérias, Ou, ainda, quando há referência às vozes que o circundam. São suas partes, seus olhos e/ou suas vozes que dão sentido a tudo que ali se passa. Tudo gravita em torno desses dois elementos que ganham vida para contemplar o eu metonimizado nos olhos, na boca e em tudo que o circunda. O sujeito, através das vozes que possui, dá vida às coisas. Há, implícita nessas vozes, uma repetição do instante criativo edênico, quando foi dito que houvesse dia e dia houve, que houvesse noite e essa foi separada do dia, numa relação sucessória. No poema, o mesmo acontecimento constitui-se em fato, o verbo, a voz, dá vida às coisas num processo de personificação da noite, dos astros, da memória, da lua, etc.: Na noite, as vozes interiores que me Habitam Celebram sua liberdade. (...) 80 Minhas vozes relembram sonhos Adormecidos. Tomo um chá com minha memória. Ensaio projetos. Evoco personagens de tempos outros. Na noite que vai se entregando à Madrugada, Viajamos eu e a lua Cada qual com sua rota e ciclo; Na noite a lua circundada pelo balé Silencioso dos astros... Na noite envolta por minhas vozes. Meus olhos revolvem – sem pudor algum – (...) Eu busco um cobertor – a janela Entreaberta – para me proteger do frio e De minhas vozes. (...) Na noite minhas vozes têm vida própria, Desejos próprios. Minhas vozes invadem o vale dos meus Desejos E desvendam segredos. Minhas vozes me põem em carne viva. Já quase na partida da noite, minhas Vozes se despedem Agora, contudo, o sistema de criação ocorre transformado em sua práxis mundana. No poema “Vozes noturnas”, o sujeito criador, aquele que elabora, que dá a vida, que personifica, não é constituída, diferente de outras narrativas míticas de criação, pelo fôlego masculino. Quem cria, agora, é a voz da fêmea. Tampouco trata-se da voz emitida por uma matrona, por uma voz mãe. Mesmo porque, num mundo estruturado dentro da estereotipia patriarcal, a voz mãe é sempre, em última instância, a voz do patriarcado. No texto, o sujeito desvia-se dos estratagemas a que tentaram submetê-lo. A vozes que falam, que reificam o ambiente circundante, são as vozes polifônicas e dissonantes do eu lírico, as coisas reificadas são, por sua vez, continuações dele. Não há, entretanto, um centro, já que essas vozes constituem-se também a partir de diacronias, surgem a partir de sua história de vida e de outras mulheres que vieram antes dela. Assim, atravessam o que é e projetam-se para o seu devir. É o próprio sujeito que se multiplica no espaço em que está circunscrito, que se 81 povoa material e imaterialmente, que se eleva do terreno ao plano das ideias, como sugeriu Platão (2000), para assim chegar ao estado de perfeição, de completude. As vozes que emanam do eu lírico têm como impulso para seu desfile o significativo uso de consoantes nasais (o /m/ e o /n/) no texto. Devemos observar que, de 218 palavras que o poema possui, essas consoantes ocorrem em 97 delas, ou seja, em quase cinquenta por cento das palavras, sendo que, em pelo menos um terço delas, a ocorrência é dupla. Essas consoantes dispostas ao longo dos versos, da forma como dispõem-se no poema, em sua aparente aleatoriedade, sugerem essa flutuação, esse movimento, esse cosmos que ali se instaura. Isso dá ao sujeito o estado de suspensão necessária para a festa que acontece em seu quarto. Mas, raiando o dia, “O crepúsculo reacenderá o céu”. As personagens precisam ceder espaço a outrem e as máscaras – de que fala no poema anterior – precisam ser novamente “abotoadas” para o dia que se inicia. O sujeito criador desse espaço, no entanto, tem clara visão das representações a que precisa submeter-se para interagir com o mundo. Tem noção de que precisa utilizar-se de um eu que o represente diante da sociedade e, na sociedade, tal qual preconizou o poeta inglês Willian Shakespeare (1985), também várias máscaras precisarão vir à tona conforme o contexto de interação. O que confere autonomia ao sujeito é justamente saber-se. Sabendo dessas demandas, da existência desses papéis sociais, desvincula-os de si o suficiente para que eles não o definam e o simplifiquem. Sabe, da mesma forma, que existem vozes que não pode deixar que se manifestem na sociedade, pois corre o risco de ser incompreendido e punido, como já fora. Entre o inenarrável e o mundo, o sujeito utilizase da poesia como mediadora dessa sua parte, por outras vias, inefável. A noite, antes do raiar do dia, propicia, ao sujeito, o convívio com as vozes que outrora recomendaram que extirpasse de si, pois eram o caos, eram demônios, eram oriundas da natureza perturbada do feminino sobre a qual não tinha controle algum. No poema, entretanto, o iterativo uso do pronome possessivo (“meus olhos”, “minhas vozes”, “minha memória”; “meus medos e misérias”, “minhas fantasias”, entre outros) é evidência de que se encontra efetivamente de posse das atividades psíquicas, sentimentais, emocionais, volitivas, que o integram. Esse mergulho em seu eu é instrumento necessário de autoconhecimento, na medida em que permite ao sujeito 82 revelar o que até então estivera escondido no subconsciente. A assonância somada à aliteração – que ocorre tanto com os elementos /v/ quanto com as fricativas (/d/, quando ocorre entre vogais) – nos versos Minhas vozes invadem o vale dos meus Desejos E desvendam segredos. dão a impressão desse povoamento que ocorre no interior do sujeito. As vozes, como uma chusma, invadem os espaços anteriormente pertencentes aos segredos inconfessáveis do sujeito a fim de ressignificá-los, colocando o eu lírico “em carne viva”, expondo-o para si. O paradoxo maior que há no texto é aquele em que se antagonizam sol e lua: Na noite a lua circundada pelo balé Silencioso dos astros... (...) Na ponta da manhã, a luz do sol Encobre o show dos astros. Enquanto a lua está envolta no espaço que o eu lírico elabora e ajuda em sua ambientação, o sol representa o fenecimento desse lugar. Representa a razão extirpadora das subjetividades, representa o espaço onde as máscaras, as partes expressáveis do sujeito precisam voltar à tona. Não é necessário ir longe para associar o sol à razão, a Zeus, às entidades masculinas, nem para associar a lua ao gênero tantas vezes metaforizado como misterioso, obscuro. Esse antagonismo, todavia, tem sua maior força nessa referência. Ademais, o que resta sofre uma simbiose irresistível e dilui-se quando se une ao eu lírico. Fica então estabelecida, no texto, uma relação de ação e recepção entre sujeito e objeto na qual as partes são isotópicas. O sujeito descritivo dá voz às imagens que surgem e deixa-se envolver por elas, deixa-se levar sem perturbação, pois são todas derivadas de um só lugar. O cosmos elaborado tem como premissa essa relação de contiguidade com o sujeito. Os termos escolhidos pelo eu lírico para a produção dessa imagem denuncia essa intencionalidade: “noite”, “cintilações”, “sombras”, “ruídos 83 incógnitos”, “vozes”, “astros”, “memória”, “lua”, “olhos”, “janela”, “quarto”, etc., são elementos dotados de sentido que culminam em fazer referências à subjetividade que o eu lírico pretende exteriorizar, por em suspensão, para conhecer-se por dentro. Levando-se em consideração o poema que segue, “Autodefinição”, é possível que fiquemos convencidos de que a estratégia de autoconhecimento utilizada pelo sujeito tenha dado resultados interessantes. Notemos: Autodefinição Sou voraz de vida Vivo em contratempo. Mais que no futuro, Penso no momento. Apuro os sentidos, Sinto ansiedade, Caio em depressão. Sumo na cidade Determinação e brilho no retorno Nada em mim é morno. Corro entre as que sou, Sou além da conta. Sou tantas enfim que até fico tonta. Sou lar e inversão. Sou rota e desvio Clarão e temor. Silêncio e assovio. (CARVALHO, 2000:95) Enquanto o mais comum no que se refira à identidade é a negação da diferença, de tudo aquilo que sobra, numa tentativa muita vez ineficaz de unicidade, no poema, o sujeito age em sentido contrário a essa corrente, pois afirma o duplo ou outros que nele aparece. Talvez essa negação das diversidades que muitas vezes vimos acontecendo não corresponda exatamente à formação de todas as identidades, e tenha preferido sua face multiplicada (e não dividida). Não são duas partes do todo. Mas todo uma, todo outra, todos que se entretecem. Berenice Sica Lamas (2004), analisando o sentido do duplo para seu estudo da obra de outra escritora, Lygia Fagundes Telles, afirma que o duplo é ingrediente de constituição da identidade humana. Retomando etimologicamente o termo, atenta-se para o fato de que a palavra, no latim escolástico, itentitate, remete à qualidade do que 84 é idêntico, ou ainda a idem, que quer dizer “o mesmo”. Dessa forma, não é de estranhar-se que o processo de formação da identidade refira-se sempre a eliminar ou menosprezar, deixar sobressair ou fugir, enfim, assimilar, ou não, diversidades conflitantes que habitam o eu. Para a pesquisadora: A identidade não se apresenta como dada, nem é unívoca, antes se constitui em um processo de construção, cuja compreensão remete à superação das dicotomias ( LAMAS, 2004:46). Quanto à superação dessas dicotomias, acreditamos que essa ação não signifique o simples descarte das faces desinteressantes do eu, mas, pode ocorrer como assimilação dela e sua compreensão como face integrante do sujeito, como temos no texto. Um mito que alude ao duplo está contido no livro de Gênesis e refere-se ao conhecimento do bem e do mal, adquirido no instante fatídico em que o homem, no Jardim do Éden, descumpriu a ordem divina. Ainda de posse dos mitos judaico-cristãos, é de se notar que toda sua lógica funda-se a partir do duplo disposto nas figuras do bem e do mal: Deus e o Diabo, o dia e a noite, céu e inferno, Jesus e Lúcifer, Eva e Lilith, etc. (Em boa parte das representações do duplo, as faces divergem-se e são simbolizadas como referindo-se uma, ao bem, à salvação, outra, ao mal, ou à perdição. A exemplo, ainda, do mito grego de Narciso, que se perde a olhar para seu reflexo). Em todas essas referências, o sujeito possui uma parte que precisa ver subjugada a qualquer custo para que ele próprio não seja consumido por ela. Esse não é, porém o limite de reconhecimento da identidade. Ela pode ser constituída sem a total eliminação do duplo. Essa nova identidade, em assumindo o duplo, permite o convívio com a diferença, coisa que não ocorre com modelo de identidade hegemônica que elimina qualquer sinal de difusão. Realizando-o no poema, o sujeito quer instaurar uma nova lógica que explique sua complexidade, uma coerência em que as diversidades não são excludentes, mas estão em sintonia. Há algo em comum que une as pontas sem necessariamente eliminar suas idiossincrasias. 85 Outro fato relevante é que as faces apontadas no texto parecem servir mais para apontar possibilidades de um sujeito com posicionalidades variáveis, que para uma característica binária. Na passagem: “Sou além da conta” o sentido de dispersão de que o sujeito pode dispor-se fica evidente. As fronteiras que o demarcam são insustentáveis, porque o sujeito é incontável, não se permite contabilizar. O paralelismo sintático no qual o poema estrutura-se, “Sou”, permite que o eu lírico alcance o objetivo a que se propôs no título do texto: autodefinir-se. Mas – considerando-se que se pauta em paradoxos e dessa forma mantém incógnita sua inscrição – o que é, afinal? Ora, não sendo unicamente isto ou aquilo, certamente é mulher: Corro entre as que sou, Sou além da conta. Sou tantas enfim que até fico tonta. Utilizando-se de desinência nominal de gênero define-se como pertencente ao gênero feminino. Feito isso, todo o resto pertence ao universo das possibilidades. Conforme já colocado ao longo deste trabalho, junto à definição de feminilidade têm-se associado binarismos que julgam as mulheres a partir de estereótipos que tencionam sua inferiorização. Dizer-se mulher muitas vezes correspondeu a dizer-se não sou isto ou aquilo. Conhecendo esses dispositivos que intentam negá-lo perante o mundo, o eu lírico procura subvertê-los pela linguagem: inscreve-se como feminino e assimila os paradoxos que outrora a dividiam. Ao fazê-lo, ao assumir um e outro lado da moeda, desconstrói o binarismo e aniquila qualquer tentativa de dispersão. Nesse processo, torna inteiro o que antes era parte, positivo o que antes o negativava. Observe-se que “desvio” é somente uma variação de “rota”, e o “silêncio” pode soar tão perturbador quanto um “assovio” atemporal. Eliminando o limite entre as partes, desconstruindo-as como antagonismos e reelaborando-as através do conectivo aditivo “e”, que as torna complementares, o sujeito reinventa-se para si e para o mundo, criando uma nova lógica em que a marcação de gênero expressa em “Sou tantas que até fico tonta” passa a dizer de um ser em sintonia com as intricadas faces que compõem sua identidade. 86 Considerando ainda o verso recortado acima, o que se pode definir sobre a origem das várias vozes que aparecem no poema é que são da pertença feminina. Pertencem ao universo feminino. Quanto às nuances desse feminino, não é profícuo conjecturar, pois o terreno nesse limite fica nebuloso e qualquer definição ousadamente mais profunda poderá incorrer em mera divagação. Precisando de mais aproximação, o que nos suscita é definir o eu lírico a partir de femininos, no plural, porque é vário, é múltiplo. O que há em comum é que todas as personagens que lhe povoam são desse universo que defendeu tão engenhosamente. Ademais, como pertencente ao universo feminino, é diversidade, é legião de sujeitos. A pesquisadora Célia Maria Domingues da Rocha Reis, em seu já citado estudo de Marilza Ribeiro, aponta a noção que a poetiza alcança de sujeito: Com esse grupo e todos os demais com os quais conviveu e convive, observa a própria essência da grupalidade no conceito de indivíduo: um indivíduo é um conjunto de sujeitos em trânsito; ninguém se destaca do coletivo, por mais que assim pareça; há uma identidade nas inquietudes, nos descaminhos, na solidão. (REIS, 2006:203) O texto de Célia Reis, próximo de poético, é atento ao processo de identificação pelo qual passa o sujeito quando da constituição de sua identidade. Esse processo de identificação é contínuo e diversificado, assim, o sujeito não se vê apenas em outro sujeito ou nega o outro, mas esse processo ocorre sempre na pluralidade, daí, conforme discorrido no início deste trabalho, alguns autores preferirem o termo “identificações”, há sempre uma coletividade que atravessa o sujeito. Essa percepção, conforme Célia Reis, alcançada na poética de Marilza Ribeiro, encontra espaço no poema de Luciene Carvalho. É sensível no poema o interesse do sujeito feminino em dar um passo à frente no sentido do próprio reconhecimento. Procura refletir, racionalizar suas idiossincrasias e dessacralizar atitudes ou sensações que antes seriam encobertas por mecanismos simbólicos que só em segundo caso estariam atrelados a qualidades de um sujeito completo e por isso mesmo sujeito à própria autonomia. Ao mesmo tempo em que age assim, reconstrói a sua própria maneira de assinalar-se no mundo, de forma a respeitar suas partes ao invés de anulá-las: 87 Sou lar e inversão. Sou rota e desvio Clarão e temor. Silêncio e assovio. O sujeito não é um feminino somente, uno. Portanto, não segue o rito iluminista. É multifacetado, mas não no sentido de ser quebrado, dividido, e sim de ser vários. O que une o sujeito é a pertença feminina E neste feminino há uma infinita gama de possibilidades e espaços nos quais ele quer situar-se, trafegar. A identidade para o sujeito então pode ser definida a partir da conceituação de Costa Lima, ou seja, como uma unidade discursiva da qual o sujeito parte: Uma resposta possível a essas ressalvas seria repensar a identidade como aquilo do qual se parte (para chegar a outro lugar), isto é, como uma estratégia política pessoal e/ou coletiva de sobrevivência, independentemente de quão múltipla, fluída e contraditória a estratégia possa ser. (LIMA, 2002:78) Essa perspectiva para o feminino é interessante na medida em que não se coloca como uma essência ante o sujeito, impondo-lhe limites que obliteraram o caminho da busca de sua individualidade, de suas capacidades plenas. Por outro lado, retira-o do lodaçal do qual tem partido as identidades formuladas a partir do chamado pós-modernismo, que em sua lógica a tudo dilui. No caso estudado, a estratégia consiste em partir de um lugar, ainda que móvel e contraditório, para outros, dependentes das demandas pessoais do indivíduo. No poema “Autoconhecimento”, isso acontece, por exemplo, quando o sujeito não renuncia a alguns mecanismos dos quais não sente necessidade de abdicar. Mecanismos como os “sentidos”, a “ansiedade” e, mesmo, a “depressão”, utilizados para defini-lo como mais fraco, como suscetível à emoção, à paixão, logo, incapaz de modular a sociedade para o bem, aparecem no poema como qualidades não redutoras, já que não impedem o sujeito de vislumbrar a si mesmo para além das fronteiras reais de suas subjetividades. Dessa forma, coordena uma dispersão para si mesmo, mas politicamente a partir de uma base, e essa base é a identidade feminina. 88 Considerações finais: Femininos Para falar de um poeta nada melhor que citar outro, já que todos têm a peculiaridade de apreender diferentemente a alma humana, e Baudelaire (apud FRIEDRICH, 1978:107) dizia que para compreender-se a obra de um poeta, precisamos ficar atentos àquelas palavras que constantemente surgem no seu fazer poético, que estão sempre ali, perseguindo o poeta e tomando espaço em seu texto. Pois bem, esse grão que pesa no alguidar, no alguidar poético de Luciene Carvalho é mulher, fêmea, feminino e seu conjunto semântico. Críticas e teóricas da linha de estudos de autoria feminina como Showalter (1994), Irigaray (apud JAGGAR & BORDO, 1997), Kristeva (2007), Cixous (1995), defendem a ideia de que a mulher escreve através do corpo, sendo assim, a escrita para ela é sempre fonte de inscrição no mundo, de inserção numa realidade antes inexistente para o sujeito. Afirmam também, essas autoras, que o texto feminino tem duas características marcantes, a saber: tende para a oralidade e é fruto da experiência. No texto, Luciene retoma a oralidade da tradição folclórica. O texto escrito é, historicamente, uma tradição masculina, o lugar da ciência, da eternidade, ao passo que o discurso feminino tem sido reservado ao momentâneo, ao privado, ao fugaz, ao devaneio que se dissipa com a névoa, resumindo-se à oralidade. Passado esse momento, fica o estilo. A mulher, quando escreve, conta de si, de seu corpo, de sua experiência. Ainda hoje, é comum que seus primeiros escritos sejam oriundos dos diários íntimos, da escrita reservada, segredada da sociedade. Herança para a vida toda, essa escrita de caráter intimista povoa tanto Teia quanto Caderno de caligrafia, dois livros que, como tantos outros, às vezes parecem dizer para dentro, com o intuito de fazer ressoar tanto para o mundo externo quanto para o universo particular da escritora. O que se tornou perceptível no decorrer deste estudo foi que existe uma reação, uma resistência muito menos velada que aquela que tinha em mente logo que optei pelo tema. É manifesto o posicionamento identitário da autora em questão. Tendo em vista a posição que ocupa a mulher na atualidade, não é apática à desconstrução de 89 paradigmas. Pelo contrário, tem noção de que fora das esferas de conflito sua identidade não existe. Assim, nos textos, é bem marcada a intenção de romper com ideologias excludentes do feminino, ainda que, por vezes, conforme a própria autora sentencia, seja impraticável a desejada distanciação. O artista que se propõe a esse engajamento mantém-se sempre na linha tênue que separa o literário do não literário. Ademais, o oposto do engajamento também é temeroso. Vincular-se a uma arte que se limita às fronteiras do belo (a “arte pela arte”), não é menos político, considerando que esse posicionamento tem o poder de manutenção de sistemas vigentes. Enfim, a arte e o artista não são neutros nunca, já que é difícil falar, em se tratando de signos, de neutralidade. De posse desse problema, o sujeito usufrui do paradigma da identidade, mas procura deslocar esse conceito do lugar comum que a compreende como sendo determinada por um centro único, por uma persona inerente ao indivíduo, por um lado, e, por outro, não arrisca meter-se na concepção de identidade que se preconiza pela total dispersão. A melhor saída foi um meio termo, conceber a identidade, dessa forma, como um lugar (não um espaço fixo), mas um lugar do qual parte para a construção de outras realidades, tornando, assim, a identidade múltipla e fluida, uma vez que é multifacetada. Os gêneros são construtos elaborados historicamente pela cultura e, feminino, é o lugar de onde se deslocam as vozes que povoam o sujeito dos poemas. Diria que o feminino é o retalho usado para elaboração dessas personagens que o eu lírico edifica linha após linha nos textos. Visto dessa forma, vale dizer que as vozes que emanam de “Autoconhecimento”, são o corolário de todas aquelas que emergiram e que tanto povoaram os outros poemas. É claro, nesse texto elas estão reconstruídas já sem o ruído de outras mensagens que as atravessavam. A sintonia adequada só foi captada quando o canal foi adaptado para a frequência do emissor autêntico dos discursos. Ademais, as vozes fantasmagóricas que povoavam as mensagens e faziam crer na distorção do próprio emissor, agora, estão silenciadas, foram postas para fora, embora, conforme a própria autora, no conjunto de sua poética revele, não estejam, de forma alguma, extintas. 90 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ANDRADE, Carlos Drummond de. O Corpo. Rio de Janeiro: Record, 1984. ANJOS, Augusto dos. Eu e outras poesias. Porto Alegre: L&PM, 2002. AZEVEDO, Aluísio. O Cortiço. São Paulo: Ática, 1998. BEAUVOIR, Simone. O segundo sexo. Volume I. Trad. Sérgio Milliet. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980. ________________. O segundo sexo. Volume II. Trad. Sérgio Milliet. São Paulo: Círculo do Livro,1987. BERNARDES, Wagner Siqueira. A concepção freudiana do caráter. Tese (Doutorado em Psicologia) – Instituto de Psicologia. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005. BERND, Zilá. A formação da nacionalidade. Petrópolis: 2003. BOSI, Alfredo. Literatura e resistência. São Paulo: Companhia da Letras, 2002. BOURDIEU, Pierre. A dominação masculina. 3º ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003. BUTLER, J. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. CANDIDO, Antonio. Literatura e sociedade: estudos de teoria e história literária. 8º edição. São Paulo: T. A Queiroz, 2000. CARVALHO, Luciene. Teia. Cuiabá: s.n., 2000. _________________. Caderno de caligrafia. Cuiabá: Cathedral Unicen Publicações, 2003. CEIA, L. E-dicionário de termos literários Carlos Ceia. Disponível http://www.edtl.com.pt/index.php?option. Acesso em 18/04/2011. As 17h09min. em: CIXOUS, Hélène. La risa de la medusa: ensayos sobre la escritura. Barcelona: Anthropos: Madrid : Comunidad de Madrid : San Juan : Universidad de Puerto Rico, 1995. CORNEJO POLAR, Antonio. O condor voa: literatura e cultura latino-americanas. Trad. Ilka Valle de Carvalho. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2000. 91 COSTA, Cláudia de Lima & SCHIMIDT, Simone Pereira (orgs.). Poéticas e políticas feministas. Florianópolis: Editora Mulheres, 2004. COSTA, Cláudia de Lima. O sujeito no feminismo: revisitando os debates. Cad. Pagu [online]. 2002, n.19, pp. 59-90. Disponível em: http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl3?url_ver=Z39.88-2004. Acessado em: 04/01/2011, às 23h54min. DALLERY, Arllen B. A política de escrita do corpo: écriture féminine. In: JAGGAR, Alison M. & BORDO, Susan R. Gênero, corpo, conhecimento. Trad. Britta Lemos de Freitas. Rio de Janeiro: Record: Rosa dos Tempos, 1997. DENIS, Benoît. Literatura e engajamento: de Pascal a Sartre. Trad. Luiz Dagobert de Aguirra Roncari. Bauru: EDUSC, 2002. EAGLETON, Terry. Teoria da literatura – uma introdução. Trad. Waltensir Dutra; 5o. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003. ENGELS, Friedrich. A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. 1ª edição. São Paulo: Centauro Editora, 2002. FERREIRA-PINTO, Cristina. Consciência feminista/identidade feminina: relações entre mulheres na obra de Lygia Fagundes Telles. In: SHARPE, Peggy (org.). Entre resistir e identificar-se: para uma teoria da prática da narrativa brasileira de autoria feminina. Goiás: Ed. Mulheres/UFG, 1997. FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. História da violência nas prisões. Trad. Raquel Ramelhete. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2004. FREUD, S. Obras psicológicas completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Editora Imago, 1980. FRIEDRICH, Hugo. Estrutura da lírica moderna. São Paulo: Duas Cidades, 1978. GUATTARI, Félix; ROLNIK, Sueli. Micropolítica - Cartografias do Desejo. 5 edição. Petrópolis: Editora Vozes, 1999. HALL. Stuart. Identidade cultural na pós-modernidade. Trad. Tomaz Tadeu da Silva, Guaracira Lopes Louro. – 7o. ed. – Rio de Janeiro: Dp&A, 2003. HAMBURGUER, Kate. A lógica da criação literária. Trad. Margot P. Malnic. 2ª ed. São Paulo: Perspectiva, 1986. HEILBORN, Maria Luíza. Fazendo Gênero? A antropologia da mulher no Brasil. In: COSTA, Albertina de O. & BRUSCHINI, Cristina. Uma questão de gênero. Rio de 92 Janeiro: Rosa dos Tempos, 1992. Disponível em: http://www.fcsh.unl.pt/invest/edtl/verbetes/D/duplo.htm. Acessado em: 07/07/2011 às 17h34min. IANNI, O. A era do globalismo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1987. JAGGAR, Alison M. & BORDO, Susan R. Gênero, corpo, conhecimento. Trad. Britta Lemos de Freitas. Rio de Janeiro: Record: Rosa dos Tempos, 1997. KRISTEVA. Júlia. História da linguagem. Lisboa: Edições 70, 2007. LAMAS, Berenice Sica. O duplo em Lygia Fagundes Telles: Um estudo em Literatura e Psicologia. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004. LAURETIS, T. A tecnologia do gênero. In: HOLLANDA, H.B. (Org.) Tendências e impasses: o feminismo como crítica da cultura. Rio de Janeiro: Rocco, 1994, pág. 206-242. MARTINS, Gilberto de Andrade. Manual para elaboração de monografias e dissertações. 2 ed,. São Paulo: Atlas, 2000. MOREIRA, Nadilza Martins de Barros. A condição feminina revisitada: Júlia Lopes de Almeida e Kate Chopin. João Pessoa: Editora Universitária/UFPB, 2003. PAGLIA, Camille. Personas sexuais: arte e decadência de Nefertite a Emily Dickinson. Trad. Marcos Santarrita. São Paulo: Companhia da Letras, 1992. PEREIRA, V. L. Gênero: dilemas de um conceito. In: STREY, Marlene N. CABEDA, Sonia T. & PREHN, Denise R. Gênero e cultura: questões contemporâneas. Porto alegre: EDIPUCRS, 2004. PISCITELLI, Adriana. Reflexões em torno do Gênero e feminismo. In: COSTA, Cláudia Lima & SCHIMIDT, Simone Pereira (orgs.). Poéticas e políticas feministas. Florianópolis: Editora Mulheres, 2004. PLATÃO. O Banquete. Lisboa: Edições 70, 1991. _______. A República. São Paulo: Nova Cultural, 2000. POUND, Ezra. ABC da literatura. Trad. A.Campos e J.P.Paes. 9.ed. São Paulo: Cultrix,1997. PRATES, A. L. Feminilidade e experiência psicanalítica. São Paulo: Hacker Editores: FAPESP: 2001. 93 PRIORI. Mary. História das mulheres no Brasil (Org.). Carla Bassanezi (coord. De textos). 7. ed. – São Paulo: Contexto, 2004. RAMOS, Graciliano. Alexandre e outros heróis. Rio de Janeiro: Record, 2003. REIS, Célia Domingues da Rocha. Sociedade, erotismo e mito: a poética temporal de Marilza Ribeiro. Cuiabá: Entrelinhas: EdUFMT, 2006. SAFFIOTI, Heleieth I.B. Mulher brasileira é assim. Rio de Janeiro/Brasília: Rosa dos tempos/UNICEF/CIPAS, 1994. __________________. Gênero, patriarcado, violência. São Paulo: Editora Perseu Abramo, 2004. SANT‟ANNA. Afonso R. O canibalismo amoroso: o desejo e a interdição em nossa cultura através da poesia. 4O. ed. Rio de Janeiro: Rocco, 1993. SARTRE, Jean-Paul. O que é literatura? Trad. Carlos Felipe Moisés. São Paulo: Ática, 1989. SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. In: Educação e Realidade, Porto Alegre, 16(2):5-22, jul/dez. 1990. ____________________. O tráfico do Gênero. Cadernos Pagu (11). 1998: 127-140. SHAKESPEARE, Willian. Uma peça como você gosta. Tradução e adaptação de Geraldo Carneiro. Rio de Janeiro: O Tablado, Cadernos de Teatro, 1985. SHARPE, Peggy (org.). Entre resistir e identificar-se: para uma teoria da prática da narrativa brasileira de autoria feminina. Goiás: Ed. Mulheres/UFG, 1997. SHOWALTER, Elaine. A crítica feminista no território selvagem. Trad. Deise Amaral. In: HOLLANDA. Heloísa B. (Org.) Tendências e impasses. Rio de Janeiro: Rocco, 1994, p. 23-57. SILVA, Tomaz Tadeu da. (Org.). Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis: Vozes, 2000. WOODWARD, Kathryn. Identidade e diferença: uma introdução teórica e conceitual. In: SILVA, Tomaz Tadeu da. (Org.). Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis: Vozes, 2000. 94
Download