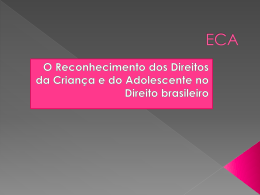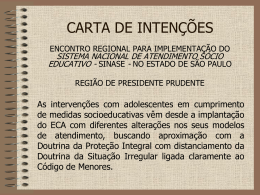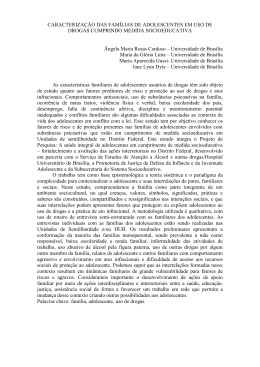Entre Redes caminhos para o enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes PRESIDENTE DA REPÚBLICA DO BRASIL Dilma Vana Rousseff MINISTRO DA EDUCAÇÃO Fernando Haddad SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, ALFABETIZAÇÃO E DIVERSIDADE (SECAD) Cláudia Dutra UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS REITOR Clélio Campolina Diniz VICE-REITORA Rocksane de Carvalho Norton PRÓ-REITOR DE EXTENSÃO João Antônio de Paula PRÓ-REITORA ADJUNTA DE EXTENSÃO Maria das Dores Pimentel Nogueira Fernanda de Lazari Cardoso Mundim José Luiz Quadros de Magalhães Marisa Alves Lacerda Organizadores Entre Redes caminhos para o enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes Belo Horizonte 2011 PÓLOS DE CIDADANIA COLEGIADO DE COORDENAÇÃO GERAL Prof. Dr. Márcio Túlio Viana (Faculdade de Direito/ UFMG) Profª Drª Maria Fernanda Salcedo Repolês (Faculdade de Direito/ UFMG) Prof. Dr. José Luiz Quadros de Magalhães (Faculdade de Direito/ UFMG) Prof. Fernando Antônio de Melo (Teatro Universitário/ UFMG) PROJETO “FORTALECENDO AS ESCOLAS” COORDENAÇÃO GERAL DO PROJETO Prof. Dr. José Luiz Quadros de Magalhães COORDENAÇÃO EXECUTIVA DO PROJETO Drª Marisa Alves Lacerda SUBCOORDENAÇÃO EXECUTIVA DO PROJETO Ms. Fernanda de Lazari Cardoso Mundim COORDENAÇÃO TÉCNICA NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO E ARTES Larissa Metzker O. Dedicamos este livro à Miracy Gustin, educadora, mestre e militante incondicional em favor dos Direitos Humanos e emancipação dos sujeitos. Nossa terna gratidão por seus preciosos ensinamentos, confiança e estímulo permanentes. Fernanda de Lazari Cardoso Mundim José Luiz Quadros de Magalhães Marisa Alves Lacerda REVISÃO ORTOGRÁFICA Mariana De-Lazzari Gomes PRODUÇÃO GRÁFICA Larissa Metzker O. PROJETO GRÁFICO, FORMATAÇÃO, ARTE, ILUSTRAÇÕES E MONTAGEM DE CAPA Melissa Rocha © 2011, Proex/UFMG. © 2011, os autores. A reprodução do todo ou parte deste livro é permitida somente para fins não lucrativos e com a autorização prévia e formal da Pró-Reitoria de Extensão da UFMG (Proex/UFMG). PÓLOS DE CIDADANIA Faculdade de Direito | UFMG Av. João Pinheiro, 100 | Prédio 1 | 6º andar | Centro CEP. 30.130-180 | Belo Horizonte | MG (31) 3409.8637 | [email protected] Este material está disponível gratuitamente em www.polos.ufmg.br twitter.com/polosUFMG Sumário Agradecimentos...............................................................8 Apresentação.................................................................9 Prefácio José Luiz Quadros de Magalhães.......................................................11 Fortalecendo as Escolas: avanços e desafios no enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes Fernanda de Lazari Cardoso Mundim e Marisa Alves Lacerda........................................19 Promoção dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes sob uma perspectiva intersetorial: a importância das redes sociais mistas para a efetividade das políticas públicas Miracy Barbosa de Sousa Gustin.........................................................43 Violência e Exclusão na modernidade:reflexões para a construção de um universalismo plural José Luiz Quadros de Magalhães e Tatiane Ribeiro de Souza.......................................57 Escola, redes sociais e construção de fatores protetivos: desafios contemporâneos para uma sociedade mais implicada com os processos educativos das crianças e dos adolescentes Geovania Lúcia dos Santos, Luiz Carlos Felizardo Junior e Walter Ernesto Ude Marques......................77 (Re)ligando os pontos: o papel do educador na proteção à criança e ao adolescente Maria Amélia G. C. Giovanetti..........................................................105 Violência na escola e da escola Eliane Castro Vilassanti...............................................................127 Diversidades sexuais, de gênero e étnico-raciais: violências invisíveis Juliana Batista Diniz Valério............................................................153 O processo mobilizador de proteção às crianças e aos adolescentes: desafios à comunicação Márcio Simeone Henriques...........................................................189 Da Alienação Parental à Alienação Judiciária José Raimundo da Silva Lippi..........................................................203 Agradecimentos Agradecemos ao Ministério da Educação, mais especialmente à Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD), pelos financiamentos contínuos e pronta resposta a todas as nossas demandas. À Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Minas Gerais (Proex), pela parceria constante na execução do projeto. Às prefeituras e secretarias de educação dos municípios de Betim, Contagem, Nova Lima, Igarapé, Sabará, Santa Luzia, Sete Lagoas, Itambacuri, Teófilo Otoni, Itaobim, Padre Paraíso e Ponto dos Volantes, parceiros fundamentais na execução e sucesso do projeto. Aos participantes do Programa Pólos de Cidadania por contribuírem, de forma permanente, com o debate, disseminação e internalização dos princípios que nortearam a concepção deste material. A todas as “meninas” que integraram – e integram – a equipe do Fortalecendo as Escolas desde o início de suas ações. Obrigada por sua dedicação e comprometimento conosco e, principalmente, com nossos parceiros e produtos. A Larissa Metzker O., pelo olhar diferenciado que trouxe preciosas contribuições para tornar mais ‘leve’ a configuração e linguagem deste e dos demais materiais. Às autoras e autores dos artigos que compõem esta publicação, por aceitarem o desafio de dar nova ‘roupagem’ à discussão de temas já recorrentes. Por fim, nossos agradecimentos especiais a todos os profissionais que participaram das formações nos doze municípios parceiros e que contribuíram, de forma decisiva, para os avanços em nossa atuação. Suas histórias de vida, seus sentimentos, angústias e esperanças são a essência e a razão de ser deste material. Que ele possa, de fato, contribuir para o debate necessário à promoção e efetivação dos direitos de nossas crianças e adolescentes. Fernanda de Lazari Cardoso Mundim José Luiz Quadros de Magalhães Marisa Alves Lacerda Apresentação A violência contra crianças e adolescentes constitui um fenômeno histórico, multifacetado e de grande complexidade que tem assumido visibilidade cada vez maior ao longo das últimas décadas. Independente da manifestação assumida – seja ela física, psicológica ou estrutural - todo tipo de violência deve ser visto como violação aos direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes, posto que fere sua integridade, sua identidade e sua autonomia, podendo causar danos que são, muitas vezes, irreparáveis. As transformações promulgadas na década de 90, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, Lei Federal nº 8069, constituíram um marco decisório no enfrentamento às violências sofridas cotidianamente por milhares de crianças e adolescentes. Representaram, por isto, um avanço incontestável para os Direitos Humanos no Brasil. Graças ao ECA, crianças e adolescentes deixaram de ser tratados como “menores” a serem tutelados pelo Estado e passaram a ser considerados como sujeitos de direitos, pessoas em “situação peculiar de desenvolvimento” que devem, por isso, ser protegidas com prioridade absoluta pela família, pelo Estado e pela comunidade. Como programa universitário de extensão e pesquisa que atua na promoção dos Direitos Humanos e Cidadania, o Programa Pólos de Cidadania da Faculdade de Direito da UFMG desenvolve, desde 2004, projetos voltados para o enfrentamento às diversas formas de violência contra crianças e adolescentes. Um destes projetos é o “Fortalecendo as escolas na rede de proteção à criança e ao adolescente”, que conta com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da UFMG e com o financiamento da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação - SECAD/MEC. Como parte deste projeto, desde 2008 são desenvolvidas diversas atividades voltadas ao fortalecimento da rede de proteção e ao (re) conhecimento mútuo das instituições e atores dela componentes. Os objetivos destas atividades têm sido a inserção das escolas nesta rede e a formação continuada de profissionais da educação e da rede de proteção integral à criança e ao adolescente. Com intervenções já executadas nos municípios mineiros de Betim, Contagem, Nova Lima, Itaobim, Teófilo Otoni, Igarapé, Sabará, Santa Luzia, Ponto dos Volantes, Sete Lagoas, Itambacuri e Padre Paraíso, tem-se investido na promoção do diálogo permanente e na troca de experiências entre os diversos atores, priorizando sempre a interdisciplinaridade e a troca entre distintos campos do conhecimento, com o intuito de valorizar não somente os saberes acadêmicos e formais, mas também as experiências e saberes locais. É nesse contexto que se insere o presente livro. Resultante das diversas discus9 Apresentação sões e ações do “Fortalecendo as Escolas”, aborda, sob vários enfoques e perspectivas, o importante papel que a rede de proteção tem no enfrentamento às diversas formas de violência contra crianças e adolescentes. Seu principal objetivo é proporcionar, aos profissionais, apoio teórico que possibilite o aprofundamento em temáticas relevantes para o enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes nos distintos ambientes. Por meio desta publicação, espera-se exercer o papel fundamental da universidade que, com seus projetos de extensão, vem trazendo importantes contribuições para a efetivação dos Direitos Humanos no país. Além de atuar como propagadora de conhecimentos e debates teóricos, esta tem se ocupado, cada vez mais, da problematização de situações recorrentes e do fortalecimento das comunidades e grupos, tornando-os sujeitos e protagonistas de sua história, não meros receptores de intervenções pontuais. Seguindo os mesmos princípios propalados em seus demais projetos, por meio dos artigos constantes deste livro, o Programa Pólos espera contribuir com a transposição do hiato ainda existente entre o saber acadêmico e as realidades coletivas, exercendo, assim, sua função social no esteio da construção de um país mais igualitário. Marisa Alves Lacerda Coordenadora executiva do Projeto “Fortalecendo as escolas na rede de proteção à criança e ao adolescente” Fernanda de Lazari Cardoso Mundim Subcoordenadora executiva do Projeto “Fortalecendo as escolas na rede de proteção à criança e ao adolescente” Prefácio Um grande problema que surge na abordagem da violência contra e entre crianças e adolescentes é o fato de a discussão, ao ocorrer dentro de determinados paradigmas modernos, não conseguir visualizar a violência objetiva, existente na concepção do próprio sistema no qual a escola se insere. A escola, como instituição moderna, na sua essência, gera a violência, pela sua própria concepção de estabelecimento uniformizador, formador de cidadãos de um Estado nacional, submetidos a um ordenamento jurídico também uniformizador. O filósofo esloveno Slavoj Zizek vê três formas de violência¹. Uma de violência subjetiva e duas formas objetivas. A subjetiva é aquela facilmente visível, praticada por um agente que podemos identificar no instante em que é cometida. Esta violência geralmente é vista como a quebra de um fundo zero de violência. Tudo está sem violência até que o ato violento é praticado. Esta forma subjetiva, entretanto, deve ser compreendida juntamente com as duas outras formas objetivas: a) a violência simbólica presente nos discursos, palavras e representações diárias, pois a utilização da linguagem, as atribuições de sentidos contêm violências, hegemonias, traços visíveis de opressão e exclusão; b) a violência sistêmica representada pelo jogo de relações sociais, econômicas, políticas, religiosas. Em outras palavras, se a violência subjetiva é uma quebra de uma aparente normalidade ausente de violência, a violência objetiva sistêmica é esta normalidade que atua permanentemente. A alteração desta normalidade (violenta) pode gerar quebras ou violências subjetivas em escala crescente. Vamos procurar entender esses conceitos a partir dos fatos ocorridos no Brasil nos últimos anos. Durante séculos, vivemos uma ordem social e econômica de exclusão, racismo e opressão. Essa era a normalidade objetivamente violenta. Negros e pardos pobres trabalham em posição subalterna, permitindo a afirmação do narcisismo de uma classe média e alta que se satisfaz diante da superioridade que julgam ter perante esses servos: empregadas e empregados domésticos, cozinheiras (os), jardineiros (as), lixeiros (as) etc. Muitos desses narcisos² exercem extrema bondade caridosa em relação aos outros inferiores, afirmando, ainda mais, sua superioridade. Acontece que, nos últimos anos, milhões de pessoas se movimentaram social e economicamente. Um número muito grande de pessoas, que eram completamente excluídas do mercado de consumo, começaram a consumir. _______________________________________________________________ 1.ZIZEK, Slavoj. Seis reflexiones sobre la violência. Seis reflexiones marginales. Editora Paidós, Buenos Aires; Barcelona; México, 2009. 287 p. 2.Trabalhamos o narcisismo como um dos mecanismos de construção da identidade nacional na era moderna. O sentimento de narciso pode ser resumido, neste sentido, como a sensação de superioridade, uma boa sensação que surge em se afirmar melhor em relação a outro grupo ou pessoa. O narciso, assim, se afirma e constrói sua identidade a partir do sentimento de superioridade em relação ao outro. 11 Prefácio Em poucos anos, pessoas que nunca viajaram de avião, não freqüentavam o shopping, não estudavam em universidades públicas ou privadas, não comiam em restaurantes, não dirigiam automóveis passaram a freqüentar esses lugares, a dividir espaços com aquela classe média e alta, quase sempre branca, que tinha tais lugares como que para seu uso exclusivo. Aquela que deveria ser a empregada doméstica agora estava sentada na poltrona ao lado no avião. O outro passou a invadir espaços que não eram dele. O “nós” foi obrigado a conviver com o “eles”. Isso é insuportável para alguns. A afirmação decorrente do narcisismo, a afirmação em relação ao outro inferior, rebaixado, é comprometida. Isso é sentido não só como um golpe à posição ocupada, mas também como um golpe contra o sentimento de identidade de classe superior. Essa realidade gerou ódios e atos de violência subjetiva que proliferam. Crescem as agressões contra os pobres, pardos e negros e outros grupos considerados “eles” pelo “nós”, aqueles que excluem o que julgam diferente (a violência contra a mulher aumentou depois da eleição de uma presidenta para o Brasil). É necessário entender esses mecanismos e compreender o funcionamento desse sistema violento, para desmontá-lo. Não haverá menos violência subjetiva, quebras de normalidades aparentemente não violentas, enquanto o sistema objetivo e seu aparato simbólico de opressão não forem desmontados. Em outras palavras, podem “invadir” quantas favelas quiserem que a paz só será obtida com o desmonte da violência objetiva, sistêmica e simbólica. A “guerra contra o tráfico”, transmitida pelas TV’s, rádios e noticiadas por revistas e jornais, é o reforço da violência simbólica. Pessoas raivosas destilam seu ódio, defendendo a morte dos “bandidos” (eles) para acabar com a violência. Discutir a violência entre e contra as crianças e adolescentes passa pela necessidade de compreensão da violência objetiva. É necessário entender de que modo a uniformização de comportamentos, como parte do projeto moderno de poder estatal, vai ser responsável por grande parte da justificativa das violên cias cometidas pelo próprio Estado e pelo sistema jurídico, bem como de que maneira está presente na origem dos conflitos que ocorrem nas relações sociais diárias. É necessário entender como a escola, ao uniformizar e disciplinar, cria um dispositivo violento pronto para explodir quando necessário ao poder estruturado dentro do Estado e economia modernos. A escola moderna (quando digo moderno me refiro a uma realidade que começa a ser construída há 500 anos) que uniformiza, que nega a diferença e que pune o diferente se insere dentro do sistema objetivamente violento. Prefácio Para romper com a uniformização geradora de violência é necessária, também, uma nova escola, que não mais implante o dispositivo de “narciso” (o dispositivo moderno do “nós versus eles”) dentro de cada criança. É necessária uma escola que não mais uniformize (e isso pode começar acabando com o terrível uniforme escolar), mas que, ao contrário, valorize a diferença. Que não fale apenas do respeito ao diferente, mantendo o diferente como um terceiro, excluído, mas respeitado. Uma escola que, principalmente, demonstre como é bom ser diferente e que, como todos somos diferentes, precisamos cultivar nossa singularidade. Como é boa e rica a diversidade e como crescemos com ela! A transformação do ambiente escolar pode ser um primeiro passo para a transformação de outros ambientes em que se reproduzem os males modernos da uniformização e da competição. A escola é uma instituição importante que, assim como serve para produzir uniformização, poderá ser instrumento de ruptura com a padronização violenta, presente em todo o aparato do Estado moderno: as forças armadas, o sistema legal, a burocracia estatal e privada, a cultura de massa e muitas outras instituições e práticas que permitem a expansão do consumo de massa, fundamental para a globalização capitalista, esfera final de uniformização de valores e, logo, de comportamentos. O reconhecimento da diversidade que convive em situação de igualdade e respeito deve superar a hierarquização de grupos e pessoas que se colocam em posição de superioridade cultural, social ou econômica. O reconhecimento de uma diversidade que se complementa deve superar qualquer outra forma de hierarquização que permita tratar o diferente como inferior, como excluído, mesmo que “respeitado”. A caridade social e cultural é tão violenta quanto a caridade econômica. Daí acabar com a lógica da competição na escola (e em outros espaços sociais) é também uma tarefa urgente. Se a uniformização gera violência ao impedir o reconhecimento do outro diferente como igual, a competição hierarquiza e exclui radicalmente o diferente e o derrotado. A uniformização, juntamente com a competição, é o mais completo desastre. E o desastre está em nossa volta. Os artigos deste livro procuram entender esse fenômeno. Partindo de uma localização histórica do problema moderno (a uniformização e a hegemonia cultural), passam pela discussão da violência contra e entre crianças e adolescentes. O primeiro artigo, “Fortalecendo as Escolas: avanços e desafios no enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes”, de Fernanda de Lazari Cardoso Mundim e Marisa Alves Lacerda, procura problematizar as ações desenvolvidas pelo projeto “Fortalecendo as escolas na rede de proteção à criança e ao adolescente”, mostrando os desafios, dificuldades e aspectos facilitadores no enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. O artigo analisa o desenvolvimento do projeto, as dificuldades iniciais no ano de 2008 e sua superação nos 13 anos de 2009 e 2010. O artigo seguinte, da professora Miracy Barbosa de Sousa Gustin, aponta a importância das redes sociais mistas para a efetividade das políticas públicas de enfrentamento da violência, desenvolvendo ainda mais a proposição do artigo anterior, no sentido de apontar as dificuldades e as formas de superação destas. O terceiro artigo, de minha autoria e da professora Tatiana Ribeiro de Souza, procura estabelecer as bases históricas e teóricas que sustentam as práticas de exclusão, apresentadas como obstáculos a serem superados. Como dito anteriormente, de nada adianta a construção de políticas públicas e práticas de enfrentamento da violência se não entendermos as engrenagens do sistema moderno que, muitas vezes, atuam permanentemente contra estas políticas. O desmonte das estruturas violentas permanentes e de suas estruturas simbólicas é fundamental para o sucesso das políticas públicas de superação da violência. Seguindo a linha de compreensão de práticas e políticas capazes de transformar as estruturas sociais que sustentam a violência, Geovania Lúcia dos Santos, Luiz Carlos Felizardo Junior e Walter Ernesto Ude Marques analisam as redes sociais e sua relação com as escolas na construção de mecanismos de proteção. Os autores entendem que a transformação da sociedade se dará a partir de um maior comprometimento com os processos educativos das crianças e dos adolescentes. Maria Amélia Giovanetti discute o importante papel do educador na proteção da criança e do adolescente, concebendo a educação sob uma ótica mais ampla, envolvendo a educação escolar e não escolar, trazendo uma importante reflexão na linha de compreensão do papel da escola inserida em uma sociedade complexa e suas ambigüidades e contradições. Seguindo a linha do livro, Eliane Castro Vilassanti nos mostra as diferentes manifestações das violências no ambiente escolar, retomando questões contextuais históricas que são fundamentais para a compreensão do problema. Eliane nos mostra mais da escola enquanto instituição moderna, apontando as interfaces entre as violências na escola e a violência da escola, anteriormente abordada. O artigo seguinte é de Juliana Batista Diniz Valério e enfrenta a questão da diversidade e as violências invisíveis, também já estudadas no livro, em um enfoque teórico e histórico. No artigo, a autora aborda a violência decorrente da negação da diversidade, especialmente no que diz respeito ao gênero, ao sexo e à etnia. O tema enfrentado por Marcio Simeone Henriques reflete os desafios no campo da comunicação. Para o professor, o desafio de garantir direitos fundamentais para todos requer um processo de mobilização social intenso, no qual a sociedade civil tem um papel determinante ao lado do Estado. Finalmente, José Raimundo da Silva Lippi nos oferece importantes reflexões acerca da alienação parental, grave fenômeno moderno. No artigo, o professor traz um histórico da questão, ressaltando a importância fundamental da interlocução entre Saúde e Justiça. Entender o fenômeno da violência na sociedade brasileira, em casa, na escola e em diversos outros ambientes requer uma visão sistêmica. Dessa forma, os artigos presentes neste livro devem ser compreendidos como reflexões com plementares que nos ajudarão a construir o enorme quebra-cabeça que permitirá entender e superar as mais diversas formas de violências modernas. José Luiz Quadros de Magalhães 15 Artigos Fernanda de Lazari Cardoso Mundim Marisa Alves Lacerda Fortalecendo as Escolas: avanços e desafios no enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes Fernanda de Lazari Cardoso Mundim Especialista em Gestão de Projetos Sociais em Áreas Urbanas pela UFMG. Mestre em Gestão Social, Educação e Desenvolvimento Local pela UNA. Subcoordenadora Executiva do Projeto “Fortalecendo as Escolas” do Programa Pólos de Cidadania (UFMG). Marisa Alves Lacerda Socióloga, doutora em Demografia pelo CEDEPLAR/UFMG. Coordenadora Executiva do Projeto “Fortalecendo as Escolas” do Programa Pólos de Cidadania (UFMG). Entre Redes Introdução Art. 227 (...) é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 1988). O presente artigo pretende problematizar as ações desenvolvidas pelo projeto “Fortalecendo as escolas na rede de proteção às crianças e aos adolescentes”, do Programa Pólos de Cidadania da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), ao longo de 2008, 2009 e 2010. Por meio dessa problematização, buscase destacar os principais dificultadores e facilitadores das ações de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes, vivenciados pelos municípios parceiros e relatados pelos participantes das ações do projeto em cada um deles. Abordam-se, ainda, os obstáculos enfrentados pela equipe na execução do referido projeto, sobretudo, em seu primeiro ano de desenvolvimento – 2008, bem como as soluções que foram intentadas para aperfeiçoar as ações ao longo dos anos de 2009 e 2010 e as dificuldades que persistiram, a despeito das estratégias adotadas. Para isso, são utilizadas três fontes de informação. A primeira delas consiste dos dados gerados pela pesquisa avaliativa, de cunho qualitativo, realizada em 2009, junto aos cursistas dos municípios de Betim, Contagem, Teófilo Otoni e Itaobim, cuja formação ocorreu em 2008. Estes dados foram coletados por meio de questionários semi-estruturados e auto-aplicados, os quais foram entregues aos respondentes diretamente pelas Secretarias Municipais de Educação. A segunda fonte de informações são os formulários de avaliação do curso, distribuídos aos cursistas em cada um dos municípios e que abordaram informações sobre sua avaliação acerca do tema, do palestrante e da didática empregada. Foram também levantadas, nestes formulários, as percepções acerca da relevância dos temas para a prática cotidiana e sua aplicabilidade, assim como sugestões para futuras intervenções no município. Estes dados abarcam, 20 “Fortalecendo as Escolas: avanços e desafios...” especificamente, os municípios de Betim, Nova Lima, Igarapé, Sabará, Santa Luzia, Itambacuri, Padre Paraíso e Ponto dos Volantes, municípios onde ocorreram formações em 2010. A terceira fonte refere-se ao substrato das discussões e conversas ocorridas antes, durante e após cada palestra que compôs as formações junto aos municípios parceiros. Nestas, foi possível perceber não somente os pontos deficitários e os pontos fortes, mas também as mudanças na perspectiva, interesse e envolvimento dos cursistas com a temática, com a rede de proteção no município e com o grupo participante. Por meio das informações e discussões trazidas neste artigo, esperase não apenas sintetizar as ações, dificuldades e saídas encontradas ao longo da execução do “Fortalecendo as escolas”, como também, estimular novas iniciativas voltadas ao enfrentamento para com a violência contra crianças e adolescentes e à promoção de seus direitos. A partir das narrativas trazidas, esperase que o leitor identifique similitudes e diferenças, em relação ao seu contexto, que o ajudem a antever dificuldades para a atuação e saídas a estas. Para atingir os objetivos propostos, no subitem seguinte faz-se uma breve contextualização dos direitos das crianças e dos adolescentes, destacando os entraves e os avanços intentados para sua efetivação, com ênfase na adoção da perspectiva das redes sociais enquanto alternativa à superação dos obstáculos. A isso se segue a descrição e discussão dos avanços ocorridos para 2009 e 2010, frutos da tentativa permanente da equipe de superar as lacunas identificadas no primeiro ano do projeto. A partir do entrecruzamento destas informações se propõem, ao final, novas ações para os anos seguintes, em conformidade com a proposta metodológica do Programa Pólos de Cidadania. 2. As faces da violência e o papel do ECA Além de constituir fenômeno complexo e multifacetado, a violência contra crianças e adolescentes se manifesta em diferentes arenas da vida – doméstica, comunitária, pública, institucional – assumindo diferentes formas – física, psíquica, simbólica, dentre outras. Tal fato torna latente a necessidade de que seu enfrentamento se dê, também, por meio de esforços, ações e políticas que abarquem os diferentes âmbitos e instâncias da vida social. 21 Entre Redes Durante boa parte da história do país, o abandono, a invisibilidade ou, por outro lado, a concepção distorcida acerca da infância e da adolescência por parte do Estado, da comunidade e das instituições em geral foi uma constante (MARCÍLIO, 2006). A clara distinção entre ‘eles’ – os ‘menores’, provenientes das classes populares que necessitavam da tutela e controle por parte do Estado – e ‘nós’ – as crianças e adolescentes de classes sociais mais abastadas, portadoras, portanto, de direitos fundamentais – marcou as iniciativas de diferentes instituições sociais, como a igreja, a polícia e o Estado. Revertendo essa trajetória, a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), na década de 90, representou uma revolução nos paradigmas jurídicos relativos à infância e à adolescência. Embora já existissem outras declarações e tratados internacionais voltados à promoção dos direitos humanos desse grupo, foi a partir do ECA que o estabelecido pelo artigo 227 da Constituição Federal do Brasil e por muitas dessas declarações e tratados pôde ser efetivado, passando as crianças e adolescentes a serem considerados pessoas em situação peculiar de desenvolvimento, sujeitos portadores de direitos sob responsabilidade de todos e de cada um, em particular (BRASIL, 1988; BRASIL, 2010). A despeito de sua relevância e das mudanças de paradigma por ele possibilitadas, desde o início o ECA vem sendo objeto de ampla polêmica. Conforme destaca Adorno (2008), para muitos, ele representa um instrumento eficaz de proteção e de controle social, extrapolando, assim, a antiga separação entre sujeitos de direitos e ‘menores’. Por outro lado, este autor destaca que uma parte relevante da população segue atribuindo ao ECA a responsabilidade pelos índices crescentes de criminalidade e de violência envolvendo crianças e adolescentes como autores. Ao atribuir tal crescimento, sobretudo, ao fato de que o Estatuto não veio garantir direitos, mas sim impedir que haja punição para os “menores” delinqüentes ou, quando muito, tornar por demais leves as medidas socioeducativas aplicadas, o segundo grupo destacado ignora os reais componentes geradores dessa violência e criminalidade, que estão indissociavelmente relacionados à grande desigualdade socioeconômica de nosso país e às crescentes e rápidas mudanças sociais ocorridas nas últimas décadas, às quais tem requerido, das instituições, mudanças muitas vezes mais rápidas do que suportam suas estruturas. Para 22 “Fortalecendo as Escolas: avanços e desafios...” esse grupo, o ECA constitui, tão somente, um instrumento legal ineficaz e, acima de tudo, inaplicável à sociedade brasileira. Nesse contexto de violações e dificuldades de adaptação por parte das instituições, muitas vezes a violência tem se iniciado e propagado dentro da própria casa, apontando, assim, para a dificuldade de muitas famílias em dirimir seus conflitos e educar, de forma pacífica, suas crianças e adolescentes. Corroborando tal fato, conforme afirma Barsted (1998), embora com muitas funções positivas, a família tem sido, também, o espaço de hierarquia e subordinação. Como conseqüência, a violência intrafamiliar tem gerado sofrimento para aqueles que a ela estão submetidos, em especial para as mulheres e crianças. Extrapolando o contexto doméstico e/ou intrafamiliar, há que se destacar a importância cada vez maior que a integração entre família, instituições e comunidade tem assumido, tal qual exposto na Constituição Federal de 1988 e promulgado pelo ECA. Isso vem reforçar a necessidade de ações intersetoriais, interdisciplinares e integradas, envolvendo os diferentes grupos e organizações, ações essas que devem ser vistas como formas de contribuir com o fortalecimento da rede de proteção às crianças e adolescentes. É neste ínterim, perpassado pelo embate entre diferentes perspectivas, que novos atores e instituições são chamadas a contribuir com o processo de efetivação dos direitos humanos de crianças e adolescentes, despontando como focais no enfrentamento às diversas formas violência sofridas por esse grupo. Instituições que antes eram vistas a parte desse processo são exortadas, de forma crescente, a integrar a rede de proteção, concebida como estratégia primordial à sua proteção integral. 3. Fortalecendo as escolas na rede de proteção: principais resultados Dentre os diversos atores postos em foco, merecem destaque as escolas que são, cada vez mais, encaradas como agentes potenciais de mudança nos diversos âmbitos da vida individual e coletiva das pessoas e de suas famílias. O fortalecimento das escolas, que constitui etapa imprescindível desse processo de mudança, passa, dentre outras coisas, pela formação permanente dos diferentes profissionais que nela atuam, com vistas a po23 Entre Redes tencializar sua ação transformadora sobre suas próprias vidas e, por conseqüência, sobre as vidas de seus educandos, por meio da reflexão acerca de sua função no processo educativo e do papel de sua atuação para a mudança mais ampla da situação das crianças e adolescentes. O que faz da escola uma instituição focal na rede de proteção é o fato de que ela constitui, ainda, um espaço privilegiado de socialização, de promoção do encontro, do diálogo e do aprendizado da cidadania, passível de garantir, por conseguinte, a inclusão social, a constituição de indivíduos autônomos, críticos, participativos e portadores de direitos e deveres. Ela constitui, por isso, espaço essencial à produção, reprodução e transformação de visões do mundo e ao aprendizado de papéis e conceitos sociais (GUARESCCHI, 1993). Por refletir as contradições e características da sociedade na qual está inserida, a escola pode constituir tanto um local de proteção, mudança e (re) significação de práticas e de condutas, quanto um espaço de (re) produção dos diversos tipos de violência que perpassam o cotidiano da comunidade que a rodeia. Partindo desse princípio é que o Projeto “Fortalecendo as escolas na rede de proteção à criança e ao adolescente” tem buscado, desde o início, fortalecer os profissionais da rede de proteção à criança e ao adolescente e, mais do que isso, estimular os profissionais e instituições da educação a comporem esta rede. Financiado pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação (SECAD/MEC), apoiado pela Pró-Reitoria de Extensão e pelas Prefeituras dos municípios parceiros, este projeto vem sendo executado, desde 2008, pelo Programa Pólos de Cidadania, programa de extensão e pesquisa da Faculdade de Direito da UFMG que atua desde 1995 na promoção dos direitos humanos e cidadania de grupos em situação de exclusão e vulnerabilidade social. O “Fortalecendo as escolas” integra esse conjunto de ações, porém, com o foco voltado para a infância e a adolescência e para o enfrentamento às diversas formas de violência vivenciadas por esse contingente . Com atuação em doze municípios mineiros, quais sejam Betim, Contagem, Nova Lima, Igarapé, Sabará, Santa Luzia, Sete Lagoas, Itambacuri, Teófilo Otoni, Itaobim, Padre Paraíso e Ponto dos Volantes, o “Fortalecendo as escolas” parte de uma visão ampla acerca das instituições e dos profissionais que compõem 24 “Fortalecendo as Escolas: avanços e desafios...” a rede de proteção. Destaca, dentre estes profissionais, os da educação, da saúde, da assistência social, dos conselhos tutelares e de promoção de direitos, da segurança pública, do esporte, lazer e cultura, das organizações governamentais e não governamentais e das associações, aos quais se soma, ademais, a sociedade civil organizada, a família e a comunidade em geral. A necessidade de fortalecimento das escolas e dos profissionais nelas atuantes, como estratégia para viabilizar que estes assumam seu papel preponderante no enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes, justifica a execução do projeto “Fortalecendo as escolas”, cujas ações são planejadas e executadas com vistas a promover o maior envolvimento das escolas, especialmente as municipais de educação básica, com a proteção integral aos direitos da criança e do adolescente, fortalecendo seus laços com a rede de enfrentamento e prevenção. Para Ude (2002, p. 127), “trabalhar dentro de uma perspectiva de redes sociais implica na tentativa de reconstruir a maneira de enxergar e compreender o mundo em que vivemos”. Pressupõe, igualmente, uma ruptura com o pensamento fragmentado e com sua prática setorizada, requerendo de cada ator e instituição o esforço para que sejam religados os pontos anteriormente fragmentados e, assim, se tenha um novo olhar sobre o mundo. Os princípios fundamentais da perspectiva do trabalho em redes se fazem presentes em todas as ações do “Fortalecendo as Escolas”, posto que se mantém o foco sobre a necessidade de integrar as escolas e profissionais da educação à rede e, para além disso, sobre a premência de se manter um olhar multifacetado, capaz de perceber as nuances e sutilezas que a violência assume em cada contexto. No projeto, parte-se do princípio de que, sendo a violência contra crianças e adolescentes um fenômeno multicausal, multifacetado e historicamente determinado, seu enfrentamento exige, necessariamente, estratégias dinâmicas, intersetoriais e interdisciplinares, que considerem, além disso, a diversidade geográfica, humana, social e econômica concernentes a cada localidade. No “Fortalecendo as escolas”, tal qual ocorre nos demais projetos do Pólos, o empoderamento dos indivíduos envolvidos no processo – aí incluídos tanto os membros da equipe executora quanto os profissionais da rede de proteção e indivíduos da própria comunidade – é assumido como passo essencial à su25 Entre Redes peração das desigualdades sociais. Assume-se, ainda, que tal empoderamento constitui pré-requisito para que os municípios passem de receptores passivos de auxílio e intervenções públicas, inclusive por parte da universidade, para agentes ativos de mudanças, corresponsáveis pelas transformações sociais. A imprescindibilidade de tal passo está pautada em dois motivos primordiais que, segundo Gustin (2004), fizeram com que a efetividade dos Direitos Humanos se tornasse indispensável a partir da segunda metade do século XX: o primeiro deles é a exigência de se corresponder a uma heterogeneidade das sociedades e a urgência de se responder às necessidades humanas, que se tornaram multifacetadas; o segundo motivo é a indispensabilidade da limitação e controle do poder político-estatal e do empoderamento dos grupamentos sociais mais fragilizados. Isso significa dizer que, cada vez mais, as necessidades individuais e grupais solicitam a garantia de direitos que possam responder positivamente – e no nível micro - à superação das desigualdades sociais. No médio e longo prazo, a sustentabilidade de tal superação requer, necessariamente, que cada localidade desenvolva suas habilidades e consiga assumir a frente nas ações executadas. Na prática, tudo isso não se dá de forma isenta de dificuldades e percalços, os quais se manifestam de várias maneiras em cada contexto, podendo haver, em alguns casos, questões que transcendem o nível local e apontam, aparentemente, para dificuldades concernentes a determinados campos de atuação ou instituições. Corroborando essa situação em seu primeiro ano de execução – no caso, 2008 – o “Fortalecendo as escolas” identificou alguns pontos nevrálgicos, queixas e demandas que perpassavam os grupos de formandos dos cinco municípios participantes daquela etapa – Betim, Contagem, Nova Lima, Itaobim e Teófilo Otoni. Um deles se referia à dificuldade de acesso e obtenção de material paradidático voltado não somente para a formação continuada dos profissionais, mas também para a abordagem da temática da violência e dos direitos junto às crianças e adolescentes e aos seus familiares. Outro dificultador apontado nos cinco municípios, que funcionava, quase sempre, como desmotivador para os indivíduos e instituições – segundo os cursistas – se referia à fugacidade da presença das universidades, limitada, via de regra, ao tempo de execução de seus projetos, face à dificul26 “Fortalecendo as Escolas: avanços e desafios...” dade de muitos municípios em manter mobilizados os grupos e dar continuidade às ações iniciadas pela universidade, após o término de suas intervenções. Conforme argumentaram muitos dos cursistas, além de materiais – inclusive de cópias do ECA nas instituições diversas - quase sempre faltavam diretrizes para nortear os passos seguintes e apoio por parte do poder público municipal. Tudo isso acabava, recorrentemente, por desmobilizar os grupos envolvidos. Ponto que merece ser ressaltado é que essas mesmas questões emergiram ao longo das formações realizadas em 2009 e 2010, nos municípios de Sabará, Santa Luzia, Igarapé, Betim, Nova Lima, Itambacuri, Ponto dos Volantes e Padre Paraíso, sugerindo serem aquelas questões estruturais que perpassam diferentes contextos e realidades. Buscando fazer frente aos dificultadores, que foram identificados antes mesmo da conclusão das formações, ao longo de 2009 e 2010 um dos objetivos específicos perseguidos pelo “Fortalecendo as escolas” foi, justamente, garantir a todos os municípios parceiros a efetividade das ações de enfrentamento iniciadas com apoio do projeto e da universidade. Foram buscadas formas para garantir sua continuidade, de modo direcionado, autônomo e independente, mesmo após a finalização da parceria firmada. Além de estar alicerçado no que promulgam o ECA e a Constituição Federal de 1988, o conteúdo desses quatro materiais foi elaborado com base nos pontos fortes e deficitários identificados ao longo das formações, buscando, assim, contemplar os diversos questionamentos, histórias, vivências, dificuldades e expectativas trazidas pelos formandos dos municípios envolvidos, desde 2008. De maneira complementar, ao final das formações realizadas em 2009 e em 2010, foram elaborados dois tipos de planos de ação: um deles voltado para o enfrentamento às diversas formas de violência contra crianças e adolescentes dentro das instituições às quais pertenciam os cursistas e outro, mais amplo e geral, voltado para a implementação de ações no âmbito municipal, em que se previa a realização de atividades diversas, mediante o envolvimento, implicação e participação dos distintos componentes da rede de proteção. Esses dois instrumentos de planejamento compõem o conjunto de reformulações intentadas 27 Entre Redes a partir da identificação e avaliação dos pontos deficitários da formação ocorrida em 2008. Sua construção gerou um momento propício para a aplicação, na prática, do conteúdo trabalhado ao longo das formações. Possibilitou, ainda, que os cursistas refletissem acerca da situação de suas instituições e do município no qual atuavam, à luz dos conteúdos abordados durante os encontros. Outros pontos nevrálgicos identificados durante as formações ocorridas em 2008 foram a ausência de espaços para discussão, diálogo e planejamento coletivo de ações voltadas para o enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes, a desarticulação entre as distintas instituições componentes da rede de proteção e, mais especificamente, a ausência das escolas na rede de proteção. A esse respeito, muitos cursistas destacaram que a formação promovida pelo “Fortalecendo as escolas” constituiu a primeira experiência, no município, de discussão coletiva e interinstitucional sobre questões relativas ao enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. No caso específico dos profissionais da educação, muitos relataram nunca ter havido iniciativa alguma voltada para a inserção dessa temática junto às escolas ou para a aproximação entre estas e os demais componentes da rede de proteção à criança e ao adolescente. Por esse motivo, podem ser considerados pontos positivos da execução do “Fortalecendo as escolas” tanto os espaços de diálogo, reflexão e troca promovidos ao longo da sua execução quanto a aproximação entre escolas e rede de proteção, proporcionada por estes espaços. A ruptura com a postura isolacionista, observada no caso de muitas das escolas envolvidas, pareceu, de fato, ter sido viabilizada pela formação. Um terceiro conjunto de fatores negativos, percebido no início das formações, refere-se aos constantes discursos defensivos – “violência contra crianças e adolescentes não acontece aqui” –, banalizadores – “violência tem em todo lugar” -, conformistas - “não podemos fazer nada sobre isso” -, vitimizantes – “e das violências contra professores, das que as crianças e adolescentes cometem, ninguém fala?” – e acusadores – “a culpa é da família, que não cuida”, “o problema é a escola que não educa” ou “o problema é o governo que não faz nada” e, ainda, “os conselhos tutelares são os responsáveis, pois não fazem seu papel direito” – assumidos por muitos cursistas. Narrativas semelhantes fizeramse presentes especialmente no começo das formações, quando dos primeiros contatos dos grupos com a te28 “Fortalecendo as Escolas: avanços e desafios...” mática e com a proposta do “Fortalecendo as escolas”. Também o incômodo, sobretudo por parte dos professores, com o fato de o foco da formação recair sobre as escolas, mostrou-se latente, sugerindo que tal foco foi associado, por muitos, ao desejo de culpabilizar e trazer mais responsabilidades para as escolas, e não o contrário, ou seja, ao desejo de trazer as escolas para dentro da rede de proteção, possibilitando, assim, o reconhecimento e delegação de tarefas para as demais instituições, conforme sua pertinência. Diante dessa situação inicial, tanto em 2008 quanto ao longo de 2009 e 2010, desde os primeiros encontros até o momento de encerramento das formações, os temas escolhidos e a concatenação e ordenamento entre eles, bem como o direcionamento dado às discussões, foram sempre planejados com o objetivo de desconstruir os discursos e percepções iniciais. Buscou-se, durante todo o tempo, romper com os efeitos perniciosos e estagnantes exercidos por estes discursos e percepções sobre a mobilização, o enfrentamento às violências infanto-juvenis e a co-responsabilização dos atores e instituições. Como um dos importantes resultados das formações, tanto na pesquisa avaliativa feita junto aos cursistas de 2008, quanto nas avaliações de curso realizadas pelos cursistas em 2009 e em 2010, os respondentes destacaram ter vivenciado uma mudança de perspectiva quanto ao ECA, quanto aos temas e quanto ao papel de cada ator e instituição dentro desse processo. Muitos deles destacaram que, a partir dos debates ocorridos ao longo das formações e do confronto com diversas ‘verdades’, que ignoravam anteriormente, passaram a ver a violência como algo bem mais amplo – e próximo - do que se imaginava a princípio. Os rumos tomados pelos debates possibilitaram à equipe perceber, de fato, o abandono de certos ‘pré-conceitos’ e pontos de vista iniciais, em prol da tomada de posturas mais co-responsáveis e menos culpabilizantes. Atrelado ao dificultador apontado anteriormente, outro ponto que merece ser destacado é o desconhecimento ou confusão que muitos cursistas inicialmente faziam em relação aos limites da atuação de cada ator dentro da rede de proteção. Em muitas situações, essa falta de clareza acerca dos papéis distintos de cada ator acabava por gerar sobrecarga de ações para alguns atores e instituições e, também, cobranças indevidas em relação ao tipo de atuação que deles se esperava. 29 Entre Redes Para eliminar tal situação, um dos focos da formação foi, justamente, apresentar as distintas instituições componentes da rede de proteção à criança e ao adolescente, destacando suas atribuições e os limites da sua atuação. Dessa forma, o espaço das capacitações acabou por se constituir em um espaço para a identificação e o (re) conhecimento dos parceiros existentes, de seus papéis e dos limites da atuação de cada um deles, limites estes impostos, inclusive, pelos entraves econômicos, sociais e políticos do próprio município – como a falta de recursos, de pessoal e de capacitação para a execução do trabalho, por exemplo. Serviu, assim, para aproximar e fortalecer os elos entre as instituições participantes e as escolas, reduzindo, por conseguinte, a sensação de isolamento e excesso de responsabilidades, tão propalada pelos profissionais presentes. A delimitação do papel de cada instituição e ator no escopo da rede de proteção serviu também a outro propósito: ela ajudou a minimizar – quando não, a eliminar - a tendência à procura por ‘culpados’ pela violência e pelo restrito funcionamento da rede de proteção, em que as famílias, as escolas e os conselhos tutelares assumiam, quase sempre, o papel de grandes responsáveis pelas situações desfavoráveis observadas. Por meio não somente da apresentação dos papeis de cada ator, mas também da desconstrução e reconstrução do conceito de violências, a maioria dos cursistas pôde perceber a complexidade de se trabalhar com o enfrentamento a esse triste fenômeno, que engloba um enfoque multifacetado e relacional. Esse olhar multifacetado e relacional, por seu curso, contribuiu para o alargamento da percepção dos cursistas acerca da estreita relação existente entre as manifestações da violência infanto-juvenil e o contexto histórico, social, econômico, político, cultural, etc. no qual elas ocorrem. Constituiu momento de grande relevância para a equipe e, ademais, para o restante do grupo, ouvir relatos de cursistas que, tendo assistindo às discussões acerca do ECA, dos conceitos e tipos de violências e do papel de cada instituição e ator, conseguiram perceber, como que por meio de um insight, manifestações de violência sutis e, por vezes, invisíveis, que foram vivenciadas, protagonizadas ou impingidas por eles nos diferentes espaços de convivência e momentos da vida. Especialmente no caso dos profissionais da educação, ao longo das formações, muitos cursistas manifestaram grande angústia 30 “Fortalecendo as Escolas: avanços e desafios...” e preocupação relativas ao papel da escola e dos docentes na proteção integral à criança e ao adolescente. Perpassando as falas da maioria dos cursistas advindos da educação, em todos os municípios, foi perceptível, também, a sensação de que a escola encontra-se isolada, solitária na busca de soluções e encaminhamentos às demandas que surgem, principalmente das próprias famílias das crianças e adolescentes. De forma contraditória com o posicionamento assumido pelos cursistas advindos da educação, as falas dos cursistas que provinham da rede de proteção apontaram para a falta e para a dificuldade de aproximação e contato mais direito com as escolas, destacando-se a ausência de projetos em parceria, principalmente daqueles voltados ao trabalho preventivo. Segundo os membros da rede que participaram das formações, na maioria das vezes, o contato entre escolas e outras instituições, quando ocorre, tem como objetivo solucionar demandas pontuais. Em resposta a essa sensação de isolamento e sobrecarga, que pareceu ser compartilhada pela maioria dos profissionais da educação, um esforço que permeou todo o processo de formação foi o de desconstruir a visão da escola como instituição autocentrada e isolada do restante da rede. Destacou-se, durante todo o tempo, a importância do papel dos professores na identificação de casos de violência infantojuvenil, justamente por serem eles, em muitos casos, os indivíduos que mais de perto acompanham o desenvolvimento das crianças e adolescentes. Ao longo das formações buscou-se, também, reforçar nos participantes a noção de que dentro da rede de proteção deve prevalecer a co-responsabilidade, o (re) conhecimento mútuo, o respeito à diversidade, o compartilhamento de informações e ações e a distribuição de tarefas. Outro ponto destacado pela maioria dos cursistas, ao início do processo de formação, referiuse à sua dificuldade em identificar, encaminhar e acompanhar casos de violência e, mais do que isso, em lidar com as crianças e adolescentes vítimas. A maioria dos entrevistados destacou nunca ter recebido preparação alguma para tal e, ademais, relatou um sentimento de isolamento e impotência diante das situações identificadas, geradas, muitas vezes, por falta de conhecimento sobre como agir e a quem acionar nessas circunstâncias. Segundo eles, esse nível de despreparo se fazia presente também, nas instituições em que atuavam, o que ocorria devido a diversos fatores, como dificuldades 31 Entre Redes de compreensão e falta de conhecimento sobre o tema, falta de equipe e falta de recursos físicos e financeiros. Tudo isso tornaria o contexto ainda mais desfavorável para o enfrentamento à violência, fato que, no limite, acabava por imobilizá-los perante situações reais de violência infanto-juvenil. Os resultados da pesquisa qualitativa realizada junto aos cursistas de 2008, bem como as falas e avaliações de curso, possibilitaram perceber que as intervenções promovidas pelo “Fortalecendo as escolas” contribuíram para a superação de boa parte das dificuldades relatadas no parágrafo anterior, pelo menos no nível individual, para os participantes das formações. Confirma essa informação o fato de que, em Betim, Contagem, Teófilo Otoni e Itaobim a maior parte dos cursistas afirmou que, graças à participação nas formações, se sentia apta a identificar, encaminhar e acompanhar casos de violência contra crianças e adolescentes, não se sentindo preparada somente para lidar com as vítimas de violência. Por outro lado, a maioria dos entrevistados disse que esta não corresponde à situação das instituições em que atuam, o que aponta para um próximo passo que precisa ser desenvolvido nestes quatro municípios, qual seja: multiplicar o número de pessoas com formação continuada para o enfrentamento às violências infanto-juvenis e aumentar, também, o número de instituições chamadas a compor a rede, fortalecendo os laços com e entre estas. Num sentido mais amplo, ao longo da execução do “Fortalecendo as escolas”, as narrativas de distintos participantes e parceiros possibilitaram a identificação de alguns pontos deficitários da própria rede de proteção à criança e ao adolescente que, mais do que referidos às realidades locais, parecem apontar para problemas nacionais, gerados, aparentemente, pela formatação das próprias instituições e políticas públicas de proteção à criança e ao adolescente. São elas: a morosidade no atendimento aos casos de violência identificados e encaminhados; o excesso de atribuições e a conseqüente falta de tempo para se dedicar ao planejamento e à atuação responsáveis e articuladas em redes, com foco na proteção infanto-juvenil; a ausência recorrente da família tanto nas instituições quanto nos processos de discussão e planejamento, de um lado, e a dificuldade em cooptála para tal, de outro. Extrapolando os limites das intervenções do “Fortalecendo as escolas”, esses pontos deficitários da rede não puderam ser mi32 “Fortalecendo as Escolas: avanços e desafios...” nimizados, ou, antes, não houve, ainda, tempo hábil para que se percebesse o efeito do projeto sobre eles. Não obstante, sua minimização nos municípios parceiros constitui um dos efeitos indiretos esperados para o projeto, no longo prazo. Isso na medida em que se parte do princípio de que a problematização e o (re)conhecimento mútuo do papel dos distintos atores da rede e dos limites de sua intervenção – impostos, inclusive, pelo contexto social, econômico, político, etc. –, bem como os esforços voltados para o planejamento coletivo de ações de enfrentamento, tal qual ocorridos ao longo do projeto, constituem condições sine qua non para a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. Por fim, alguns fatores de ordem prática atuaram como dificultadores para a execução do “Fortalecendo as escolas”. O primeiro deles referiu-se à durabilidade da formação. Na avaliação feita por muitos cursistas, a carga horária de 80 horas/aula foi muito extensa, devido não à falta de conteúdo a ser ministrado, mas sim em virtude das dificuldades inerentes à retirada de profissionais das suas instituições, principalmente no caso dos professores. Tendo sido a carga horária de 60 horas/aula presenciais determinada de antemão pela SECAD/MEC, este foi um ponto que não pôde ser adequado às demandas locais, embora se tenha tentado, ao máximo, adequar o tamanho das turmas e os dias e horários das formações à realidade de cada município, com vistas a possibilitar a participação do maior número de pessoas. Apesar disso, na maioria dos casos, a adesão às formações não foi suficiente para cobrir 100% das vagas oferecidas e, no caso dos inscritos, nem todos concluíram a carga horária mínima necessária para certificação. Por outro lado, embora se tenha percebido que uma carga horária reduzida poderia ter proporcionado o envolvimento de um número maior de profissionais, esta certamente não garantiria a cobertura da violência contra crianças e adolescentes sob tantos enfoques quanto ocorreu. Em vista disso, uma sugestão plausível para as próximas intervenções nos municípios parceiros seria que fossem realizadas ações pontuais e de menor duração, cobrindo, cada uma delas, parte do conteúdo abordado na formação. Outro fator de ordem prática que dificultou a execução do projeto e, principalmente, limitou o alcance do acompanhamento feito pela equipe do “Fortalecendo as escolas”, foi a distância 33 Entre Redes entre Belo Horizonte e os municípios dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri. A este se somou a dificuldade de se identificar, no próprio município ou em seu entorno, profissionais aptos para abordar determinadas temáticas componentes do cronograma das formações. Dentre estas temáticas, merece destaque a discussão do ECA e de seus princípios, a apresentação do sistema de garantia de direitos por ele preconizado, das instituições e seus papéis e a função dos conselhos tutelares, sobre o que muitos conselheiros mostraram resistência em falar, quase sempre com receio dos ataques que poderiam sofrer por parte dos cursistas. Embora seja uma região que, de fato, carece de intervenções e investimentos voltados para o enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes, há que se considerar que a distância dificulta um acompanhamento mais efetivo das formações e a identificação de profissionais para discorrerem sobre determinados temas, o que torna todo o processo mais oneroso. Para contornar parte dessas dificuldades, cada município indicou um grupo de profissionais da educação e de outras áreas de atuação – especialmente da Secretaria de Assistência Social e Conselho Tutelar – para participar de uma formação prévia em Belo Horizonte, que teve como objetivo prepará-los para assumir a frente das formações em seus municípios, sob a orientação, acompanhamento e atuação compartilhada da equipe do “Fortalecendo as escolas”. Esses profissionais, intitulados ‘articuladores’, foram os principais responsáveis por dar ao projeto ‘a cara’ dos municípios parceiros, adequando os planejamentos e diretrizes gerais às realidades, possibilidades e demandas locais. Para além de ter viabilizado a efetividade do projeto, o trabalho e formação junto aos articuladores garantiu a capacitação e o treinamento prático de um grupo de profissionais que se tornou apto a replicar as formações realizadas, posto que desenvolveram todas as habilidades necessárias para tal, desde o aumento da familiaridade com o tema até a organização de toda a logística envolvida no processo. Outra estratégia adotada para impedir que a distância entre Belo Horizonte e os municípios parceiros nos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri se tornasse empecilho à efetividade das ações, foi a organização da equipe do “Fortalecendo as escolas”, de modo a garantir sua presença em pelo menos metade dos encontros, tendo sido elencados, também, alguns temas nos quais a presen34 “Fortalecendo as Escolas: avanços e desafios...” ça seria imprescindível. Em 2011, pretende-se dar continuidade às atividades do “Fortalecendo as escolas”, ampliando-as para mais municípios do Vale do Jequitinhonha, por ser esta uma região que possui uma parcela significativa da população vivendo em condições socioeconômicas precárias, com baixos níveis de desenvolvimento humano e escassas condições de acesso à geração de emprego e renda. A situação de vulnerabilidade dos jovens, resultante da condição de pobreza em que muitas famílias se encontram nessa região, somada ao favorecimento trazido pela sua localização – às margens de importantes rodovias que ligam Minas Gerais ao estado da Bahia - favorece a proliferação de atividades relacionadas à violência sexual contra crianças e adolescentes e ao tráfico e consumo de drogas. A isso tudo somase sua distância em relação à capital mineira, o que acaba por limitar todas as intervenções lá realizadas, tornando premente a necessidade de se realizarem ações contínuas de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. 4. Aplicação do conteúdo à prática A principal estratégia adotada pelo “Fortalecendo as escolas” é a formação continuada de profissionais da educação, juntamente aos profissionais da rede de proteção à criança e ao adolescente, por meio de capacitações com duração de 80 horas/aula, das quais 60 são presenciais e 20 não presenciais. Na composição das turmas em cada município, propõe-se um percentual de 80% de profissionais da educação e 20% de representantes da rede de proteção, sendo disponibilizadas, em média, 125 vagas para cada município parceiro, o que perfaz um total de mais de 1750 vagas oferecidas para a formação, até o momento. Por meio desta formação continuada, o “Fortalecendo as escolas” busca, dentre outras coisas, preparar os profissionais envolvidos e, por conseqüência, as instituições nas quais eles atuam, para identificarem, encaminharem e lidarem com a violência em suas diversas manifestações, e também com as vítimas – no caso, crianças e adolescentes - assumindo, em suas ações, uma perspectiva intersetorial e integrada em redes, capaz de extrapolar o isolamento sob o qual as escolas – e ademais, as outras instituições - permaneceram durante muito tempo. A observância aos princípios fundamentais da perspectiva do 35 Entre Redes trabalho em redes é buscada durante todo processo de articulação com os municípios, formação dos profissionais e produção do material paradidático. Seguindo-as, a concepção e execução das ações do projeto ocorrem sempre de forma dialógica, por meio da troca permanente entre a equipe executora e os representantes dos municípios parceiros. Tudo isso sempre primando pelo respeito às especificidades locais, no que tange à disponibilidade de tempo e espaço, ao contexto da violência e à sua dinâmica e distribuição espacial. Na prática, Isso significa dizer que o projeto sempre busca considerar o saber, a experiência e a reflexão prévias que cada um dos participantes dos processos de formação e capacitação possui a respeito dos temas abordados. Buscando garantir a sustentabilidade de suas ações e, por meio desta, alcançar maior efetividade, a metodologia empregada pelo “Fortalecendo as escolas”, de forma totalmente alinhada àquela proposta pelo Pólos em suas intervenções, estrutura-se na mobilização, articulação e co-participação dos envolvidos em todo o processo e não somente na capacitação/ formação. O processo educativo é assumido num sentido mais amplo, que extrapola os limites formais da capacitação ou da escola. Relacionando, de forma permanente, investigações e atuação social ao longo de toda a execução do projeto, procura-se pautar as ações no diálogo e no envolvimento ativo dos municípios e atores parceiros na busca de soluções aos problemas e dificuldades que se lhe colocam. No “Fortalecendo as escolas” busca-se, durante todo o processo, instrumentalizar membros dos próprios municípios em temáticas atinentes à garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz principal o estabelecido pelo ECA. É o que dá sustentabilidade às ações. Em vista de tudo isso, primou-se pela elaboração de material paradidático voltado às distintas parcelas da população, com linguagem a elas adequada e pautada nos contextos descritos pelos cursistas ao longo das formações. O material paradidático desenvolvido pelo “Fortalecendo as escolas” incluiu, além do presente livro, uma cartilha direcionada para toda a comunidade, um livro contendo esquetes teatrais sobre a violência e seu enfrentamento e um DVD educativo contendo cinco animações e propostas de discussões, voltado para crianças e adolescentes. O material elaborado traz, portanto, um pouco dos contextos 36 “Fortalecendo as Escolas: avanços e desafios...” neles narrados, bem como das experiências coletivas que foram compartilhadas pela equipe do “Fortalecendo as escolas”, pelos palestrantes e formandos. Perpassando todo o processo, no qual se inclui a produção do material paradidático e dos planos e planejamentos de ação, desde 2008 até o momento tem sido permanente o acompanhamento, o monitoramento, a troca e a orientação dadas pela equipe do “Fortalecendo as escolas” aos atores institucionais parceiros em cada município. Também a avaliação da efetividade das ações junto a eles tem sido constante, e as informações coletadas por meio dela vêm servindo como substrato para o aperfeiçoamento e ampliação das ações e para a inclusão de novos temas, abordagens e parceiros, sejam eles atores, instituições ou municípios. Assim, após todas as ações realizadas de forma coletiva, com o material paradidático elaborado no escopo do “Fortalecendo as escolas”, e podendo contar com a experiência acumulada pelos articuladores em cada município, com a colaboração de profissionais formados pelo “Fortalecendo as escolas” e que tenham se mostrado dispostos a contribuir e, ainda, podendo contar com o apoio institucional das secretarias municipais, a experiência do projeto pode ser replicada na íntegra, ou de forma parcial, focando pontualmente em alguns dos temas abordados, de forma a cobrir cargas horárias mais reduzidas. Além dessa possibilidade, outras formas de aplicação, à prática, do conteúdo trazido pelo “Fortalecendo as Escolas”, são: - Realização de encontros pontuais para discussão de casos e construção coletiva de propostas de atuação; Realização de palestras e oficinas, com carga horária reduzida, voltadas para o aprofundamento em temas específicos junto aos cursistas que participaram das formações do “Fortalecendo as escolas”; - Inclusão de novos atores na rede de proteção, por meio de convites e também de palestras e oficinas a eles direcionados; Dentro dessa frente, realizar encontros, palestras e oficinas específicas, voltadas para grupos até então deixados à margem dos debates. Dentre eles, se incluem: crianças e adolescentes, famílias e comunidade em geral; - Utilização de linguagens artísticas, como a música e o teatro, para mobilizar e sensibilizar a comunidade em geral. Dentre as possibilidades se destacam: realização de festivais de música e apresentação de peças teatrais, como estratégias para agregar o 37 Entre Redes público e inserir, junto a ele, a discussão de questões atinentes ao enfrentamento à violência e promoção de direitos; - Utilização do esporte e lazer como estratégias de mobilização coletiva para discussão das referidas temáticas. Como exemplo, sugerimos a realização de campeonatos esportivos, ruas de lazer, gincanas e campeonatos dentro das escolas e outras instituições, para os quais seja convidada toda a comunidade e que seja permeado por momentos de debate e sensibilização em torno das temáticas de nosso interesse; - Aproveitamento dos espaços já existentes de encontro e debate - como reuniões de pais e reuniões junto ao público do Programa Bolsa Família, para a inserção de debates em torno das temáticas de nosso interesse, bem como para a disseminação de informações e distribuição de materiais informativos e de divulgação. Considerações finais Ao longo de seus quase quatro anos de execução, muitos foram os avanços proporcionados pelo projeto “Fortalecendo as escolas”, os quais emergem, em sua maioria, como frutos da tentativa permanente de superação das lacunas identificadas no primeiro ano de intervenção sob coordenação do Pólos e também daquelas identificadas ao longo do processo. Neste ínterim, o projeto proporcionou espaços de escuta, debates, trocas de experiências entre os envolvidos, preparando-os para a busca por novos caminhos e posicionamentos ante o enfrentamento às diversas formas de violência infanto-juvenil em seu contexto de trabalho, em sua comunidade e em sua família. Por meio das formações realizadas nos municípios parceiros, tem priorizado a formação ampla dos envolvidos no processo – tanto formandos quanto formadores – com vistas a (re) significar suas visões, posturas e atitudes em relação à violência e, a partir daí, torná-los multiplicadores da experiência vivenciada, de forma autônoma e independente da universidade. Graças à produção de material paradidático e à elaboração coletiva de projetos de intervenção institucional e de planos municipais de ação, o projeto tem buscado ajudar os participantes do processo na delimitação dos próximos passos a serem seguidos. O material paradidático produzido, bem como os planos e projetos de intervenção, são maneiras de apoiar os profissionais envolvidos do enfrentamento à violência contra crianças e adoles38 “Fortalecendo as Escolas: avanços e desafios...” centes, para que estes continuem a avançar de forma autônoma e independente da intervenção mais direta do Pólos/UFMG. Sabe-se que existe, ainda, um longo caminho a ser trilhado no enfrentamento e prevenção à violência contra crianças e adolescentes, pois, sendo a violência um fenômeno complexo, resultante de um conjunto de fatores de ordem social, econômica, cultural e política, este caminho deve ser percorrido com cuidado. O projeto “Fortalecendo as Escolas” tem se mostrado um meio eficaz no enfrentamento à violência, graças à mobilização, sensibilização e conscientização dos profissionais da educação e da rede. O destaque dado às escolas tem-se mostrado focal no avanço desse processo, posto que traz à baila importantes questões até então negligenciadas por muitos dos cursistas que participaram das formações nos municípios parceiros. Assumir a premência das escolas significa, também, reconhecer a importância dos educadores enquanto agentes essenciais de mudança da situação de crianças e adolescentes. Esse reconhecimento passa, dentre outras coisas, pela concordância acerca da necessidade de processos permanentes de formação dos diferentes profissionais que nela atuam, com vistas a potencializar sua ação transformadora junto aos alunos, por meio da ampliação de sua visão de mundo e compreensão de seu papel em todo o processo. Há que se considerar, no entanto, que a inserção da escola na rede não deve significar sua sobrecarga, nem o enfraquecimento das demais instituições, posto que uma instituição não substitui a outra: todos precisam se reconhecer como atores importantes, além de identificar suas atribuições, criando, assim, um espaço para trocas de experiência e busca coletiva de soluções. Além disso, a inserção de outros atores na rede, como a família e as próprias crianças e adolescentes, é essencial. O incentivo ao protagonismo dos diversos atores, sua inserção no processo de discussão e busca de soluções contra a violência são objetivos a serem buscados permanentemente pela rede. Diante disso, e à luz das falas e avaliações feitas pelos próprios cursistas, emerge como indispensável a criação de espaços para sensibilização, discussão e divulgação desse tema. Tais espaços precisam proporcionar ações intersetoriais, interdisciplinares e integradas, que envolvam os diferentes grupos, organizações, 39 Entre Redes instituições e contingentes populacionais. Somente assim, contemplando-se os distintos campos do saber, de maneira a evitar que visões estigmatizadas e preconceituosas sejam reforçadas, será verdadeiramente possível avançar no enfrentamento e minimização das violências contra crianças e adolescentes. A violência não pode ser vista como um problema que incide apenas na classe pobre e em países subdesenvolvidos: ela é um problema presente em todos os locais e grupos sociais, ainda que assumindo diferentes configurações, causas e efeitos. Nesse contexto, as universidades, principalmente por meio de seus projetos de extensão, possuem um papel preponderante. Mais do que propagadoras de conhecimentos e debates teóricos, estas têm que se ocupar, cada vez mais, da problematização de situações recorrentes e do fortalecimento das comunidades e grupos, tornando-os sujeitos e protagonistas de sua história e não meros receptores de intervenções pontuais. Espera-se que o “Fortalecendo as escolas” tenha conseguido cumprir sua função social nesse processo. Mais do que isso, a expectativa é de que suas intervenções tenham contribuído com o início do longo percurso que levará à efetivação dos direitos das crianças e adolescentes nos municípios parceiros. 40 “Fortalecendo as Escolas: avanços e desafios...” Referências bibliográficas ADORNO, S. Crianças e adolescentes e a violência urbana. Disponível em <http://www.fflch.usp.br/sociologia/docartigos/ Sadorno_criancas.pdf.> Acesso em 14/01/2011. BARSTED, L. de A. L. Uma vida sem violência é um direito nosso: propostas de ação contra a violência intrafamiliar no Brasil. Brasília: Comitê Interagencial de Gênero/ONU/Secretaria Nacional dos Direitos Humanos/Ministério da Justiça, Brasília, 1998. BRASIL. Constituição 1988. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, 2001. 405 p. BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei n 8.069, de 13 de Julho de 1990. 6. ed. Brasília: Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, 2010. 239p. BRASIL. Pacto de Direitos Civis e Políticos pelas Nações Unidas, 1966. Disponível em: <http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/ legis_intern/pacto_dir_politicos.htm.> Acesso em 03/12/2010. CUNHA, E. P.; SILVA, E. M.; GIOVANETTI, M. A. G. C. Enfrentamento à violência sexual infanto-juvenil: expansão do PAIR em Minas Gerais. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008. 402 p. GUARESCHI, N. M. de F. A criança e a representação social de poder e autoridade: negação da infância e a afirmação da vida adulta. In: SPINK, M. J. (org.). O conhecimento no cotidiano: as representações sociais na perspectiva da psicologia social. São Paulo: Brasiliense, 1993, pp. 212-233. 311 p. GUSTIN, M. (Re) Pensando a inserção da Universidade na Sociedade Brasileira Atual. In: SOUZA JR., J. G. Educando para os Direitos Humanos - Pautas Pedagógicas para a Cidadania na Universidade. Porto Alegre: Síntese, 2004. MARCÍLIO, M. L. História social da criança abandonada. 2. ed. São Paulo: Hucitec, 2006. 331 p. UDE, W. Redes Sociais: possibilidade metodológica para uma prática inclusiva. In: CARVALHO, A..et al.. (org.). Políticas Públicas. Belo Horizonte: Editora UFMG/PROEX, 2002. 41 Miracy Barbosa de Sousa Gustin Promoção dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes sob uma perspectiva intersetorial: a importância das redes sociais mistas para a efetividade das políticas públicas Miracy Barbosa de Sousa Gustin Doutora em Filosofia do Direito pela UFMG. Pós-doutora em Metodologia do Ensino e da Pesquisa pela Universidade de Barcelona. Mestre em Ciência Política. Professora associada aposentada da UFMG. Professora do Corpo Permanente do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFMG. Prêmio Nacional em Educação em Direitos Humanos pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos da Presidência da República. Fundadora do Programa Pólos de Cidadania (UFMG). Entre Redes 1. Reflexões preliminares A Constituição brasileira, em seu artigo 227, estabelece uma normatividade clara que tutela, de forma protetiva, um dos grupos sociais cujo prejuízo pelas chamadas situações de risco é evidente, aquele composto por crianças e adolescentes. Nosso texto constitucional afirma ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurarem a esse grupo social, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação e ao lazer. Referese, ainda, ao direito à profissionalização, ao acesso aos bens culturais, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Tudo isso pode ser considerado como a atribuição de dignidade a este grupo social específico. O texto ainda se ocupa de protegê-los contra determinados riscos, ou seja, preservá-los de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Assim, deve-se entender que é dever de todos, integrantes das administrações públicas e dos vários grupamentos da sociedade civil, a prevenção de ameaças ou violações efetivas aos direitos da criança e do adolescente. As estatísticas, no entanto, denunciam as diversas formas de omissão em relação às crianças e adolescentes brasileiros e colocam em questão a efetividade do conteúdo constitucional e das normas infraconstitucionais que tutelam a nossa infância e juventude. Segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio - PNAD (2009) - sobre o trabalho infanto-juvenil no Brasil, em 2008 o Brasil registrava 4.452.301 crianças e adolescentes de cinco a 17 anos nessa situação, o que representava 10,2% da população nessa faixa etária existente à época. Em 2009, foram apontados 4.250.401, o equivalente a 9,79%. Esse dado mostra apenas que foram tirados da situação de trabalho precoce somente 202.015 jovens trabalhadores. Minas Gerais, pelos dados da PNAD, usa a mão de obra de 477 mil jovens com idade entre cinco e 17 anos. São 13 mil crianças de cinco a nove anos; 146 mil na faixa etária dos dez aos 14; e 318 mil dos 15 aos 17 anos trabalhando. Ou seja, são 159 mil crianças na faixa de cinco a 14 anos que trabalham. Este dado pode ser considerado um verdadeiro ultraje à noção de completude do ser ou de plenipotencialização do ser humano, apregoada pelos especialistas em Educação para os Direitos Humanos, muito especialmente quando esse fenômeno se re44 “Promoção dos direitos fundamentais...” fere a crianças em faixa etária escolar que deveriam estar em escolas de boa qualidade, em horário integral, vivenciando uma educação emancipadora e de fortalecimento de sua autonomia como cidadãos plenos. Anteriormente, mas há bem pouco tempo, com o objetivo de reforçar o que já foi afirmado, a PNAD de 2007 mostrava que o Brasil tinha cerca de 2,5 milhões de crianças e adolescentes de cinco a 15 anos que trabalhavam. Estes representavam uma porcentagem de 6,6% do total de pessoas nessa faixa etária. Em relação aos dados educação/trabalho, segundo a PNAD do mesmo ano, o que mais poderia nos preocupar é vermos uma proporção de 0,8%, qual seja, mais de 20 mil crianças brasileiras que não estudavam à época, só trabalhavam. Já em relação à porcentagem daqueles que estudavam e trabalhavam, ou seja, 7%, é importante lembrar que, embora esse dado relativo correspondente a 175 mil crianças e adolescentes que estejam na escola e tenham uma ocupação, o trabalho somente é permitido para aqueles a partir dos 14 anos, desde que na condição de aprendizes. Os dados nacionais mostram, no entanto, o contrário e são veementes para a discussão das políticas públicas de Educação de nosso país. Em relação à violência contra as crianças e adolescentes, os dados são, muitas vezes, bem mais assustadores. Segundo a Organização Mundial do Trabalho – OTI - mais de 100 mil crianças e adolescentes são exploradas sexualmente no Brasil. A Secretaria Especial de Direitos Humanos identificou a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes em 937 municípios, a maioria deles localizada nas regiões Nordeste (31,8%) e Sudeste (25,7%). As regiões Sul, CentroOeste e Norte respondem, respectivamente, por 17,3%, 13,6% e 11,6% dos casos. As redes que se beneficiam da atividade, ligadas à pornografia infantil, à exploração sexual no turismo e à prostituição infantil, segundo a Secretaria de Direitos Humanos – SEDH -, organizam-se normalmente no interior do país. Estas redes são observadas, com maior freqüência, em cidades com população entre 20 e 100 mil habitantes (450 cidades) e entre cinco e 20 mil habitantes (241). É um fenômeno típico dos pequenos e médios municípios e que ocorre, com grande ênfase, nas rodovias, e apontando para os caminhoneiros como um dos principais usuários dos serviços destas redes. O Programa Pólos de Cidadania, em pesquisa realizada com o apoio da 45 Entre Redes referida Secretaria Especial, demonstrou a fidedignidade desses dados em relação às cidades de médio e pequeno porte do Médio Vale do Jequitinhonha, especialmente aquelas margeadas por grandes rodovias da região. A pobreza familiar e a falta de opções educacionais de boa qualidade formativa concretas para crianças e adolescentes, dentre outros fatores, nas treze cidades do Médio Vale, impelem esse grupo fragilizado para a “pista”, nome que atribuem à exploração sexual em locais próximos ou não às rodovias. Crianças menores, de 10-11 anos, foram encontradas pelo Programa sendo exploradas sexualmente em troca de míseros cinco reais. São também deploráveis os dados divulgados pela SEDH de estudos realizados sobre os padrões de mortalidade juvenil no Brasil. Os dados demonstram que (...) a população adolescente é vitimizada por mortes violentas oriundas de fatores externos, correspondendo a 72,1% do total dos óbitos ocorridos da faixa etária entre 15 e 24 anos, sendo responsável por 39,7% do total de mortes em 2004. Jovens e adolescentes do sexo masculino, residentes nas periferias das grandes metrópoles, afro-descendentes e sem escolarização são o alvo prioritário, embora não exclusivo, da violência letal (SEDH, 2009, p. 5). Por tudo isso, tornam-se importantes as lutas pelas políticas públicas de inclusão que respeitem o diálogo da diversidade entre grupos etários, pois hoje cada grupo social é uma constelação de símbolos e de valores que devem ser analisados pelas esferas governativas, sem projetar sobre esse universo simbólico os parâmetros culturais dos setores técnicos das administrações federais, estaduais e locais. Essas lutas só poderão ter efetividade se levadas a termo por redes sociais constituídas com interesses e objetivos específicos. Neste texto trataremos de redes cujo objetivo primordial é a tutela dos direitos e desejos das crianças e adolescentes de nosso país e de nosso estado, Minas Gerais. 2. As redes sociais mistas, as políticas públicas e a intersetorialidade O suposto é de que estas redes deverão ser capazes de ações 46 “Promoção dos direitos fundamentais...” incisivas que constranjam o Estado à execução de políticas sociais com uma necessária previsão de prioridades, mas que estas prioridades não configurem privilégios desnecessários e preconceitos tradicionais da sociedade brasileira em relação às suas crianças e adolescentes, especialmente aqueles oriundos de espaços de exclusão. A condição ideal seria alcançada quando o Estado fosse capaz de responder às reivindicações coletivas para uma inclusão sócioeconômica eficaz desses grupos marginalizados, dentre eles, o grupo social infanto-juvenil que aqui se tematiza. Entretanto, qual tipo de rede poderia tratar, com efetividade, de temática social tão abrangente e importante? Antes de tudo, faz-se indispensável que esta rede possa compreender que sua atuação se dá em uma esfera pública e que deverá ter, como suporte, um conceito do que seja o conteúdo da publicidade para atuar com um de seus grupos de grande fragilidade. O que seria, então, uma esfera pública na qual esta rede deveria atuar? Diríamos, em parte com Marramao (2007), que é o encontroconfronto de “narrativas” ou “comunicações” em torno da organização da sociedade global ou local proveniente dos diversos contextos de experiência e mundos de vida. Nesse sentido, deveremos superar a noção de tolerância pela de respeito recíproco e subtrair da categoria de reconhecimento tentações tais como as políticas paternalistas que não permitam uma inserção emancipada das crianças e adolescentes segundo seus desejos de vida e suas necessidades. As instituições “pseudodemocráticas” são hoje incapazes de resolver os conflitos que exigem respeito e universalismo na diferença. E a questão infanto-juvenil requer exatamente a realização de uma inclusão igual na diferença, no caso, nas demandas, necessidades e especificidades das diferenças etárias. As identidades são múltiplas. Grupos sociais, mesmo que em faixas etárias consideradas de “menoridade”, são dotados de competência comunicativo-argumentativa e capazes de considerar suas próprias escolhas éticas, segundo suas necessidades e desejos de uma inclusão social efetiva conforme seus direitos fundamentais. Quando falamos em necessidades, estamos nos referindo à realização não apenas dos direitos fundamentais, mas à concretização e à sintonização com os direitos humanos. As necessidades sempre se constituíram por natureza social e cultural. Por isso, 47 Entre Redes são historicamente determinadas. Isso não impede, contudo, que existam necessidades humanas básicas generalizáveis não só aos membros de determinado grupo social, mas a todo ser humano dotado de uma potencialidade de atividade criativa e interativa. Quando pensamos em atividade criativa vem-nos logo à mente os jovens, com toda sua potencialidade de produção do novo. Por meio da atividade criativa a pessoa humana e os grupos sociais tornar-se-iam capazes de superar os variados constrangimentos histórico-culturais que se lhes antepõem. Apoiando-nos em Thomson e Añón Roig (1994), torna-se possível afirmar que (...) necessidade é uma situação ou estado de caráter não intencional e inevitável que se constitui como privação daquilo que é básico e imprescindível e coloca a pessoa - individual ou coletiva - em relação direta com a noção de dano, privação ou sofrimento grave, um estado de degeneração da qualidade de vida humana e de bem-estar a qual se mantém até ser obtida uma satisfação que atue em direção reversa (THOMSON; ROIG, 1994, p. 266). Como dano, privação ou sofrimento grave entende-se tudo aquilo que interfere, de forma direta ou indireta, no plano de vida das pessoas ou dos grupos em relação às suas atividades essenciais, inviabilizandoas ou tornandoas insuficientes frente ao seu grupo social. Essa insuficiência relacionase, direta ou indiretamente, ao ordenamento constitucional, vale dizer, aos direitos fundamentais, com a construção de uma democracia constitucional que supõe relações democráticas em sua radicalidade. E, quando falamos sobre esse tema, lembramo-nos de que essa radicalidade refere-se primordialmente a uma sociedade organizada em torno de temas relacionados ao bem-estar generalizado e não a danos e privações, como nos mostraram as estatísticas apresentadas na primeira parte deste texto. Além disso, a organização a qual aqui nos referimos tem sua culminância na constituição de redes sociais mistas e intersetoriais. Vejamos o que vêm a ser estas redes. Em primeiro lugar, elas devem estar conectadas à noção de governança social, pois se formam a partir de uma conexão entre sociedade organizada 48 “Promoção dos direitos fundamentais...” e administração autônoma de seus próprios atos em favor dos grupos mais necessitados de sua ação. Assim, as redes que se predispõem à governança social formam-se tanto por relações interpessoais como pelas relações de grupamentos ou conjuntos, sejam eles familiares, comunitários ou institucionais, estes últimos no sentido correlacionado às estruturas administrativoestatais, porém com uma acepção imediata de realização de seus atos em uma esfera com sentido público. Portanto, na temática tratada por este texto, a noção de rede tem um papel relevante. Ela não é vista, todavia, como um novo tipo de associativismo. Estas redes devem comportar, também, os componentes da autonomia e da emancipação e devem ser do tipo misto, ou seja, devem ser constituídas de organizações comunitárias, da administração estatal, além de lideranças inescusavelmente legítimas dessas comunidades. Inúmeras vezes elas são constituídas por processos informais: conversas em filas de ônibus, contatos de vizinhanças, relações intra ou interfamiliares, dentre outros que permitirão ações que favoreçam o desenvolvimento comunitário. Por outro lado, se estas redes são iniciadas de modo informal, em contrapartida devem ser institucionalizadas de alguma forma, para garantirem sua efetividade. Na implantação de políticas públicas que tenham como foco as crianças e adolescentes, estas redes são de valor inestimável pela importância da efetividade de tais políticas, inúmeras vezes intersetoriais e, portanto, tendentes a uma desagregação. Isto porque a formação destas redes pressupõe não só a existência de um conjunto de organizações sociais motivadas por objetivos públicos e coletivos, mas também uma intencionalidade política que supõe a formação de novas formas de atuação coletiva e de novos atores solidariamente agrupados. Muito constantemente pode ocorrer a existência de um campo ético-político bastante fortalecido no qual sujeitos coletivos, com identidades diversas e relações sociais solidárias anteriores, transportam-se dos grupos locais para as esferas regionais e até mesmo estaduais ou federais. Essa expansão dependerá dos objetivos que perseguem e do nível de atuação autônoma e solidária de seus integrantes. Algumas pesquisas demonstraram algo que pode parecer insatisfatório para o que se pressupõe tradicionalmente como 49 Entre Redes fundamento de redes sociais, ou seja, alta coesão, lideranças legitimadas, nível educacional alto, posição de relevo na sociedade, dentre outros. Esses fundamentos seriam tidos como laços fortes. O produto destas pesquisas definiu, ,porém, que são os laços fracos que atribuirão maior eficácia à ação em rede. Isto pode parecer contraditório com o que se afirmou até o momento. Mas, como conceber a importância de redes sociais em ambientes de extrema exclusão e pobreza, quando se sabe que é justamente ali que os laços integrantes das redes são extremamente fracos? Por esse e outros motivos é que se propõe, aqui, a constituição de redes sociais mistas, ou melhor, a conjugação de laços sociais fortes e fracos para a sustentabilidade das intervenções da rede no sentido de constituição de capital social e humano e de governança social. A necessidade da formação de redes deriva, pois, da fragilidade dos laços existentes nas comunidades periféricas, em especial com o grupo de crianças e adolescentes já frágeis por sua própria condição etária. Tratando-se de políticas intersetoriais voltadas para a tutela do bem-estar das crianças e adolescentes marginalizados, as alternativas de obtenção de acesso aos direitos fundamentais em localidades de extrema exclusão e de comunidades periféricas exigem que seja atribuído às populações desses espaços sócioculturais o status de sujeitos de sua própria história, no interior de um processo pedagógico edificante e emancipador. O mesmo procede para a estrutura infanto-juvenil. Há que se instaurar um processo no qual as pessoas se tornem atores conscientes de sua exclusão, de seus riscos e danos e das suas possibilidades de solução. Só assim a adversidade poderá ser superada ou minimizada. Os níveis extremos de pobreza no Brasil, constituídos de cerca de 9,5 milhões de pessoas, conforme relatórios do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA -, negam a existência de direitos fundamentais para todos e, muito mais, demonstram que a aplicação destes direitos é desigual e injusta. O discurso, genericamente aceito, de que os direitos humanos são para todos e que já foram inclusive constitucionalizados como direitos fundamentais, parece conspirar contra evidências não apenas estatísticas, mas visíveis e incontestes na conjuntura atual de nosso país. A pobreza e a degradação humanas estão aí e as políticas públicas parecem desconhecê-las, especialmente – e bem pior - no caso de crianças que naturalmente deveriam ser preservadas de todas as espécies de danos e de privações. 50 “Promoção dos direitos fundamentais...” Diz-se que elas são o “futuro do País”, mas como, se não têm direito a um presente digno? Pobreza, indigência, desemprego e subemprego dos membros das famílias, inexistência de moradia para todos, inúmeros danos e violências e visível degradação humana põem em risco as relações democráticas e o Estado de Direito. Há, entretanto, a possibilidade de resgate desses direitos e, por conseqüência, o restabelecimento, pelo menos parcial, do Estado Democrático de Direito se essas populações excluídas e entregues às condições de pobreza e à indigência puderem, por meio da governança social, se tornar conscientes de que é possível o fortalecimento de suas organizações e de suas redes sociais no sentido de viabilizar um desenvolvimento sócio-econômico sustentável para a minimização das violências e dos riscos contra o ser humano, em especial contra as crianças e adolescentes. A governança social deve ser considerada como um meio de atribuição de competência às políticas públicas e às organizações que trabalham diretamente com populações ou segmentos sociais que necessitam se capacitar segundo respostas a condições determinadas. Por esse motivo, as equipes que trabalham com um sentido de ampliação das possibilidades de governabilidade social devem procurar a articulação entre grupos ou organizações da sociedade civil com esferas administrativas estatais de todos os níveis, para uma atuação intersetorial que otimize ações e tomadas de decisões públicas. A governança social, aliada às redes sociais mistas, deve ser uma pedagogia de vivências e de experiências em busca de um aprendizado, por parte das organizações de base, sobre as formas de atuação social que tenham como produto uma ação efetiva. Do contrário, tudo se transforma em mais uma ilusão administrativa e aquilo que a Presidente recentemente eleita, Dilma Roussef, afirmou de forma taxativa “(...) não podemos descansar enquanto houver brasileiros com fome, enquanto houver famílias morando nas ruas, enquanto crianças pobres estiverem abandonadas à própria sorte (...)” (Discurso após o resultado das eleições, divulgado pela imprensa) ficará apenas como mais uma utopia política, sem qualquer respaldo em formas concretas de políticas sociais realizadoras de ações intersetoriais efetivamente conectadas e sustentadas por uma governança social eficaz e redes sociais mistas que permitam a superação, pelo menos parcial, das necessidades bási51 Entre Redes cas de educação de qualidade, em horário integral para os mais pobres, acesso à saúde integral, aos benefícios de um ambiente sustentável e a uma moradia digna. Crianças e adolescentes têm, por imposição constitucional, direito à realização de seus sonhos e da plenipotencialização de seus desejos de cidadania. 3. Considerações finais No momento final deste artigo, cabe esclarecer que uma situação de governança social deverá ter como objeto imediato de sua ação as comunidades - representadas ou não pelo terceiro setor - e não a sociedade que, tradicionalmente, era concebida como um conjunto de indivíduos em seu sentido biológico e antropológico. Estas comunidades, as organizações do terceiro setor e as entidades da administração pública estarão envolvidas em redes de composição mista, em um processo de comunicações e de intercompreensões que poderá reduzir a complexidade das demandas e das necessidades a partir de opções e seleções, quer públicas ou privadas. As políticas sociais relacionadas às crianças e adolescentes não devem ser entregues apenas, e tão somente, às estruturas administrativas estatais. Elas não terão condições, por si mesmas e isoladamente, de darem conta da complexidade e da evidente heterogeneidade das ações que permitirão um ambiente de realização de bem-estar e de enfrentamento das violências contra as crianças e adolescentes brasileiros. Exatamente quando se discute a fase final do Plano Decenal da Política de Proteção de Crianças e Adolescentes é que todas essas reflexões se fazem importantes para a troca de experiências e de dados amparados por políticas que têm sido frutíferas no enfrentamento das situações inóspitas e perversas, vitimizadoras de nossas crianças e jovens. Não é sem razão que o Programa Nacional de Direitos Humanos 3 – PNDH3 -, em sua oitava diretriz, propõe a promoção dos direitos de crianças e adolescentes para o seu desenvolvimento integral, de forma não discriminatória, assegurando seu direito de opinião e participação. O desenvolvimento integral desse grupo etário só pode ser conseguido por meio da interação das comunidades de interesse, do terceiro setor e das esferas 52 “Promoção dos direitos fundamentais...” governativas em razão de sua complexidade e por sua aplicação heterogênea, pois bastante diversificados são os problemas e necessidades que afetam esse grupo social. As redes sociais mistas serão, pois, agentes privilegiados na complementação das ações realizadas pelas famílias, escolas e organizações de proteção deste grupo e, por meio delas, será possível dar voz e capacidade de participação às crianças e adolescentes em seu ambiente de moradia ou em instituições que tutelam seus direitos. Não foi sem razão que Paula Gabriela Mendes Lima (2010), na sua dissertação de mestrado sobre O acoplamento estrutural entre o sistema político e o sistema jurídico para a efetividade da proteção integral do adolescente autor de ato infracional, em seu estudo de caso do Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional - CIA/BH , afirma que é extremamente importante que se repense o papel dos sistemas parciais (...). Trazer os movimentos sociais, as sociedades civis organizadas, as universidades, os conselhos tutelares e os conselhos de direito para participarem do atendimento inicial integrado e desse repensar (...) e compreender que a doutrina da proteção integral tem uma função simbólica, mas não é uma mera utopia. É, ao contrário, o suporte central para a efetividade dos direitos humanos infantojuvenis, que depende apenas de vontade política, lutas constantes pelos direitos, muito trabalho e ação coletiva (LIMA, 2010, pp. 158159). Esse repensamento coletivo sobre mazelas que impedem a integralidade do ser humano infanto-juvenil poderá trazer mudanças substanciais na tutela dos direitos desse grupo, não só no sentido de apenas atribuir-lhe “o que diz a lei”, mas, inclusive, de mudar o conteúdo da própria legislação quando esta estiver defasada em relação aos novos direitos e deveres que surgem gradualmente no tempo e no espaço. As redes sociais que cuidam dos interesses dessas crianças e adolescentes é que deverão abrir esse grande debate em torno da legislação e das instituições que supostamente resguardam as demandas e necessidades desse grupo social, quer esteja ele nas ruas, nas favelas, em moradias precárias ou em escolas de categoria inferior. As redes 53 Entre Redes sociais deverão expressar, com eles, essa insatisfação. Só assim se dará efetividade a uma governança social que se realize para todos. Referências bibliográficas BRASIL. Constituição (1988). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. ______. IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios , 2007 e 2009. ______. Presidência da República. Secretaria de Direitos Humanos. Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente. Brasília: SEDH/Relatórios 2008, 2009. ______. Presidência da República. Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE / Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Brasília-DF: CONANDA, 2006. ______. Estatuto da Criança e do Adolescente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. ______. Presidência da República. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA. Brasília: Indicadores IPEA, 2010. _____. Presidência da República. Secretaria Especial de Direitos Humanos – SEDH. Programa Nacional de Direitos Humanos – PNDH3. Brasília: SEDH, 2010. CHAVES, Antônio. Comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente. 2. ed. São Paulo: LTr, 1997. COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. RELATORIO SOBRE OS DIREITOS DA INFÂNCIA. Relatório sobre o castigo corporal e os direitos humanos de crianças e adolescentes. Brasília: SEDH, 2009. LIMA, Paula Gabriela Mendes. O acoplamento estrutural entre o sistema político e o sistema jurídico para a efetividade da proteção integral do adolescente autor do ato infracional. (dissertação de mestrado).Belo Horizonte: UFMG/Faculdade de Direito, 2010. 54 “Promoção dos direitos fundamentais...” MARRAMAO, Giacomo. O mundo e o ocidente: o problema de uma esfera pública global. Texto apresentado e distribuído no seminário “Direito, política e tempo na era global”, promovido pelo Programa de Pós-graduação em Direito da PUC Minas, nos dias 6 e 7 de junho de 2007. Belo Horizonte: PUC Minas, 2007. Na Mão Certa. Disponível em: <http://www.namaocerta.org. br>. Acesso em 6 de novembro de 2010. Programa de Proteção de Crianças e Adolescente Ameaçados de Morte. Disponível em: <www.presidencia.gov.br/estrutura_presidencia/sedh/spdca/ppcaam>. Acesso em 07 de novembro de 2010. THOMSON, G. Needs. In: ROIG, María José Añón. Necesidades y Derechos. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1994. p. 266-267. 55 José Luiz Quadros de Magalhães Tatiana Ribeiro de Souza Violência e exclusão na modernidade: reflexões para a construção de um universalismo plural José Luiz Quadros de Magalhães Mestre e doutor em Direito Constitucional pela UFMG. Coordenador do Projeto “Fortalecendo as Escolas” e do Programa Pólos de Cidadania (UFMG). Professor da Faculdade de Direito da UFMG, do Programa de Pós-graduação em Direito da PUC Minas e da Faculdade de Direito do Sul de Minas. Tatiana Ribeiro de Souza Mestre e doutoranda em Direito pela PUC Minas. Professora do Centro Universitário Newton Paiva (MG). . Entre Redes 1.CREVELD, Martin van Creveld. Ascensão e declínio do Estado. São Paulo: Martins Fontes, 2004 e CUEVA, Mario de la. La idea del Estado. Fondo de Cultura Econômica, Universidad Autônoma de México, 5. ed. México, D.F., 1996. 1. Introdução: a construção da identidade nacional A formação do Estado Moderno a partir do século XV ocorre após lutas internas em que o poder do rei se afirma perante os poderes dos senhores feudais, unificando o poder interno, unificando os exércitos e a economia, para então afirmar este mesmo poder perante os poderes externos, os impérios e a Igreja. Tratase de um poder unificador numa esfera intermediária, pois cria um poder organizado e hierarquizado internamente sobre os conflitos regionais. As identidades existentes anteriormente à formação do Reino e do Estado Nacional surgem neste momento e, de outro lado, se afirmam perante ao poder da Igreja e dos Impérios. Este é o processo que ocorre em Portugal, Espanha, França e Inglaterra.1 Destes fatos históricos decorre o surgimento do conceito de uma soberania em duplo sentido: a soberania interna a partir da unificação do Reino sobre os grupos de poder representados pelos nobres (senhores feudais), com a adoção de um único exército subordinado a uma única vontade e a soberania externa a partir da não submissão automática à vontade do papa e ao poder imperial (multi-étnico e descentralizado). Um problema importante surge neste momento, fundamental para o reconhecimento do poder do Estado, pelos súditos inicialmente, mas que permanece para os cidadãos no futuro Estado Constitucional: para que o poder do rei (ou do Estado) seja reconhecido, este rei não pode se identificar particularmente com nenhum grupo étnico interno. Os diversos grupos de identificação préexistentes ao Estado Nacional não podem criar conflitos ou barreiras intransponíveis de comunicação, pois ameaçarão a continuidade do reconhecimento do poder e do território deste novo Estado soberano. Assim, a construção de uma identidade nacional se torna fundamental para o exercício do poder soberano. Desta forma, se o rei pertence a uma região do Estado, que tem uma cultura própria, identificações comuns nas quais ele claramente se reconhece, dificilmente outro grupo, com outras identificações, reconhecerá o seu poder. Assim, a tarefa principal deste novo Estado é criar uma nacionalidade (conjunto de valores de identidade) por sobre as identidades (ou podemos falar mesmo em nacionalidades) pré-existentes.2 A unidade da 58 “Violência e exclusão...” Espanha, ainda hoje, está, entre outras razões, na capacidade do poder do Estado em manter uma nacionalidade espanhola por sobre as nacionalidades pré-existentes (galegos, bascos, catalães, andaluzes, castelhanos, entre outros). No dia em que essas identidades regionais prevalecerem sobre a identidade espanhola, os Estado espanhol estará condenado à dissolução. Como exemplo recente, podemos citar a fragmentação da Iugoslávia em vários pequenos estados independentes (estados étnicos) como a Macedônia, Sérvia, Croácia, Montenegro, Bósnia, Eslovênia e, em 2008, o impasse com Kosovo. Portanto, a tarefa de construção do Estado Nacional (do Estado Moderno) dependia da construção de uma identidade nacional ou, em outras palavras, da imposição de valores comuns que deveriam ser compartilhados pelos diversos grupos étnicos, pelos diversos grupos sociais para que, desta forma, todos reconhecessem o poder do Estado, do soberano. Assim, na Espanha, o rei castelhano agora era espanhol e todos os grupos internos também deveriam se sentir espanhóis, reconhecendo a autoridade do soberano. Esse processo de criação de uma nacionalidade dependia da imposição e aceitação, pela população, de valores comuns. Quais foram inicialmente estes valores? Um inimigo comum (na Espanha do século XV os mouros, o império estrangeiro), uma luta comum, um projeto comum e, naquele momento, o fator fundamental unificador: uma religião comum. Assim, a Espanha nasce com a expulsão dos muçulmanos e, posteriormente, dos judeus. É criada, na época, uma polícia da nacionalidade: a santa inquisição. Ser espanhol era ser católico e quem não se comportasse como um bom católico era excluído. 2.Utilizaremos neste texto as palavras identidade e identificações quase com sinônimos, ou seja, uma identidade se constrói a partir da identificação de um grupo com determinados valores. Importante lembrar que o sentido destas palavras é múltiplo em autores diferentes. Podemos adotar o sentido de identidade como um conjunto de características que uma pessoa tem e que permitem múltiplas identificações, sendo dinâmicas e mutáveis. Já a idéia de identificação se refere ao conjunto de valores, características e práticas culturais com as quais um grupo social se identifica. Nesse sentido, não poderíamos falar em uma identidade nacional ou uma identidade constitucional, mas sim em identificações que permitem a coesão de um grupo. Identificação com um sistema de valores ou com um sistema de direitos e valores que o sustentam, por exemplo. A formação do Estado Moderno está, portanto, intimamente relacionada à intolerância religiosa, cultural, à negação da diversidade fora de determinados padrões e limites. O Estado Moderno nasce da intolerância ao diferente e dependia de políticas de intolerância para sua afirmação. Até hoje assistimos ao fundamental papel da religião nos conflitos internacionais, a intolerância com o diferente. Mesmo estados que constitucionalmente aceitam a condição de estados laicos têm na religião uma base forte de seu poder: o caso mais assustador é o dos Estados Unidos, divididos entre evangélicos fundamentalistas, de um lado e protestantes liberais, de outro lado. Isso repercute diretamente na política do Estado, nas relações internacionais 59 Entre Redes e nas eleições internas. Podemos perceber a mesma vinculação religiosa com a política dos estados em uma União Européia cristã que resiste à aceitação da Turquia e convive com o crescimento da população muçulmana européia. O Estado Moderno foi a grande criação da modernidade, somada, mais tarde, no século XVIII, à afirmação do Estado Constitucional. Ao contrário do que alguns apressadamente anunciam, o Estado Nacional não acabou e ainda será necessário por algum tempo, assim como a modernidade está aí, com todas as suas criações e em crise, sim, mas ainda não permitindo visualizar o que será a pós-modernidade anunciada e já proclamada por alguns. Estamos ainda mergulhados nos problemas da modernidade. A discussão da soberania e a sua reconceituação diante do federalismo, em um primeiro momento e agora diante da União Européia, a globalização e o mega poder econômico das corporações privadas é um dos grandes temas contemporâneos. Outro tema que permanece atual, com maior complexidade, é a questão da identidade e das identificações dos grupos sociais em grandes metrópoles e a evolução das comunicações que criam espaços e sociedades multi-identitárias. As grandes metrópoles se transformaram em espaços cosmopolitas em que diversos grupos sociais, com diferentes valores de identificação coletiva, convivem em uma cultura, por vezes, de tão grande tolerância que se transforma em indiferença. Uma mesma pessoa pode se identificar com grupos sociais diversos e, muitas vezes, contraditórios como, por exemplo, a identificação criada a partir do gênero, da cor, de classe, de trabalho e corporação, da origem étnica, de opções religiosas ou filosóficas e assim por diante. A identificação com os valores nacionais é apenas mais um dado. Outro fator importante é que, nas sociedades democráticas e tolerantes, as identificações originais do Estado Nacional que foram fundadas sobre a intolerância com o diferente, a intolerância religiosa, de cor, étnica devem perder espaço para uma identidade construída sobre a aceitação de valores comuns em meio à diferença, como especialmente deve ser a identificação com uma série de direitos fundamentais ou mesmo de direitos humanos que se tornam cada vez mais aceitos pelas pessoas em 60 “Violência e exclusão...” um maior numero de culturas e de sociedades. Isso significa que a identidade, em sociedades democráticas e tolerantes, cosmopolitas, deve se dar em torno do reconhecimento de direitos que são construídos sobre valores fundantes das sociedades modernas como a vida, a liberdade, a igualdade e a justiça. Já discutimos muito, em outros textos, e não podemos ignorar isto agora, que estas palavras, constituintes de princípios jurídicos, têm significados diferentes em momentos históricos e culturas diferentes. Entretanto, ocorre, cada vez com maior intensidade, a partir do crescimento urbano, da ampliação dos espaços metropolitanos e o avanço das comunicações, a construção de significados que se aproximam, como uma sintonia fina que vai evoluindo com o tempo, à medida que a comunicação entre as culturas e os grupos sociais aumenta. A identificação sobre a qual construímos o nosso país não é e não pode ser a religião, nem o idioma ou a cor ou a etnia, mesmo porque somos um país plural em todos os sentidos. A identificação sobre a qual podemos construir uma sociedade tolerante, livre e justa é a identificação com o sistema de direitos fundamentais expressos em nossa Constituição. Neste momento, surge um novo problema: isso ocorre? Se isso não ocorre, como conquistar? É comum ouvirmos, muitas vezes, que temos direitos demais e poucos deveres. Outras bobagens desse tipo surgem com freqüência. Vivemos em uma sociedade na qual ocorre o aumento da criminalidade e a solução que surge de forma irresponsável na boca de muitos, seja porque acreditam, seja porque querem votos, é a de que devemos aumentar as penas, reduzir a idade penal, criar novos tipos penais e outros absurdos. Em vista disso, devemos nos perguntar em que as reflexões aqui desenvolvidas podem nos ajudar a compreender e a solucionar esse problema. Ora, se não podemos, ou melhor, não devemos mais construir uma identificação comum que sustente o reconhecimento do poder do Estado e suas normas jurídicas de caráter geral, fundada em identidades étnicas, cor, religião, pois estaríamos criando uma sociedade excludente e intolerante -, se devemos, em sociedades democráticas, plurais e tolerantes, construir uma identificação coletiva que permita o reconhecimento da autoridade do Estado e, logo, o cumprimento de suas leis, fundada em um pacto de respeito aos direitos fundamentais historicamente reconhecidos -, para que nesta sociedade democrática haja coesão social e respeito, é necessário que todos participem da sua cons61 Entre Redes trução, assim como é necessário que todos tenham seus direitos constitucionais respeitados. Diante disso, podemos perguntar: todos os brasileiros têm seus direitos constitucionais respeitados? Será que um brasileiro que nunca teve seus direitos respeitados, não teve acesso à escola e/ou à saúde, não teve respeito a sua dignidade, uma moradia, saneamento básico, uma família estável, um salário justo; será que um brasileiro que é constantemente desrespeitado na sua liberdade de locomoção, é preso arbitrariamente por ser pobre, é despejado por não ter salário, é humilhado, jogado no chão, pisado na cara, revistado, chamado de vagabundo, este brasileiro que nunca teve nenhum direito constitucional vai se sentir parte dessa sociedade e vai se reconhecer neste sistema de direitos? Não nos referimos, aqui, à ruptura do pacto social com a criminalidade. A questão da criminalidade não é só esta e a grande criminalidade não é praticada pelos pobres; as comunidades mais simples são, na sua esmagadora maioria, formadas por pessoas que respeitam seus acordos e pactos. Estamos falando de reconhecimento ou não do sistema de direitos. Estamos falando de uma sociedade que parece cada vez mais cindida entre pobres e ricos. Esse fenômeno é mais claro em países como a Venezuela, Bolívia e Equador. Na primeira década do século XXI, governos identificados com as reivindicações dos pobres foram eleitos nestes países. Obviamente, para a compreensão histórica da pobreza nestes países, é necessário levar em considerações questões étnicas e culturais, além do capitalismo corrupto e cartorial. A histórica exclusão dos povos indígenas e dos negros, em medidas diferentes, nestes países, levou ao fato de que esta população pobre seja majoritariamente de indígenas, na Bolívia e Equador e indígenas e negros, na Venezuela. A grave divisão da população entre pobres e ricos faz com que qualquer governo que queira reduzir a pobreza e gerar maior igualdade e justiça social tenha que tocar nos interesses da outra parte, os ricos, uma vez que, mesmo que se gere mais riqueza para ser distribuída, a diferença econômica é muito grande para que se promova igualdade e coesão sem tocar na propriedade e riqueza do pequeno grupo que a acumula há muito tempo. Enquanto essa brutal diferença social permanecer, os governos destes países serão sempre reconhecidos por uma ou outra parte, visto que se torna difícil criar uma identificação comum entre esses dois grupos. Os conflitos continuarão, contidos ou não, até a superação da diferença econômica radical que impede 62 “Violência e exclusão...” qualquer coesão. A seguir, vamos compreender como a sacralização da democracia e da economia liberal impedem muitas pessoas de pensarem e participarem da construção de uma sociedade mais justa e não violenta. Para isso, vamos recorrer ao pensador italiano Giorgio Agambem e o seu conceito de sacralização. Devemos repensar a democracia e a economia com liberdade e coragem e, para que isso ocorra, é necessário dessacralizar, devolver para a sociedade, para cada pessoa, a possibilidade de pensar livre. Não há liberdade em sociedades construídas sobre mitos, dogmas, palavras e nomes proibidos. 3.AGAMBEM, Giorgio. Profanation. Paris: Payot et Rivages, 2005. As reflexões e interpretações livres desenvolvidas neste tópico são todas a partir do texto do filósofo Giorgio Agambem. 2.A sacralização da democracia e do estado de direito como impedimento da construção de uma prática livre e includente de democracia social radical O pensador Giorgio Agambem (2005)3 faz uma importante reflexão a respeito da construção das representações e da apropriação dos significados, o que o autor chama de sacralização como mecanismo de subtração do livre uso das pessoas das palavras e de seus significados, das coisas e de seus usos, das pessoas e de sua significação histórica. O autor começa por explicar o mecanismo de sacralização na antigüidade. As coisas consagradas aos deuses são subtraídas do uso comum, do uso livre das pessoas. Há uma subtração do livre uso e do comércio das pessoas. A subtração do livre uso é uma forma de poder e de dominação. Assim, consagrar significa retirar do domínio do direito humano, sendo sacrilégio violar a indisponibilidade da coisa consagrada. Ao contrário, profanar significa restituir ao livre uso das pessoas. A coisa restituída é pura, profana, liberada dos nomes sagrados e, logo, livre para ser usada por todos. O seu uso e significado não estão condicionados a um uso especifico separado das pessoas. A coisa restituída ao livre uso é pura no sentido de que não carrega significados aprisionados, sacralizados. Concebendo a sacralização como subtração do uso livre e comum, a função da religiosa é de separação. A religião, para o autor, não vem de religare, religar, mas de relegere que significa uma atitude de escrúpulo e atenção que deve presidir nossas relações com os deuses; a hesitação inquietante (ato de relire) 63 Entre Redes que deve ser observada para respeitar a separação entre o sagrado e o profano. Religio não é o que une os homens aos deuses, mas sim aquilo que quer mantê-los separados. A religião não é religião sem separação, o que marca a passagem do profano ao sagrado é o sacrifício. O processo de sacralização ocorre com a junção do rito com o mito. É pelo rito que simboliza um mito que o profano se transforma em sagrado. Os sacrifícios são rituais minuciosos nos quais ocorre a passagem para outra esfera, a esfera separada. Um ritual sacraliza e um ritual pode devolver ou restituir a coisa (idéia, palavra, objeto, pessoa) à esfera anterior. Uma forma simples de restituir a coisa separada ao livre uso é o toque humano no sagrado. Esse contágio pode restituir o sagrado ao profano. A função de separação, de consagração, ocorre nas sociedades contemporâneas em diversas esferas nas quais o recurso ao mito, juntamente com rito, cumpre uma função de separação, de retirada de coisas, idéias, palavras e pessoas do livre uso, da livre reflexão, da livre interlocução, criando reconhecimentos sem possibilidade de diálogo. A religião como separação, como sacralização há muito invadiu a política, a economia e as relações de poder na sociedade moderna. O capitalismo de mercado é uma grande religião que se afirma com a sacralização do mercado e da propriedade privada. As discussões que ocorrem na esfera econômica são encerradas com o recurso ao mito para impor uma idéia sacralizada a toda a população. No espaço religioso do capitalismo não há espaço para a racionalidade discursiva, pois qualquer tentativa de questionar o sagrado é sacrilégio. Não há razão e sim emoção no espaço sacralizado das discussões de política econômica. Por isso, os proprietários reagem com raiva à tentativa de diálogo, porque, para eles, este diálogo é um sacrilégio, questiona coisas e conceitos sacralizados há muito tempo. Esse recurso está presente no poder do Estado e em rituais diários do poder: a posse de um juiz, de um presidente, a formatura, a ordenação de padres e outros rituais mágicos transformam as pessoas em poucos minutos, separando a pessoa de antes do ritual para uma nova pessoa após o ritual. Isso ganha tanta força no mundo contemporâneo que várias pessoas que freqüentam um curso superior, hoje, não pretendem adquirir conhecimentos; o processo de passagem por um curso não é para adquirir 64 “Violência e exclusão...” conhecimentos, mas para cumprir créditos (até a linguagem é econômica) com o objetivo de que, ao final, passem pelo rito que os transformará, de maneira mágica, em novas pessoas. O objetivo é o rito, a certificação da passagem por meio do diploma e não a aquisição do conhecimento. O espaço universitário está sendo transformado pela religião capitalista em algo mágico, no qual o conhecimento a ser adquirido no decorrer de um processo, que deveria ser transformador, perde importância em relação ao rito (a formatura) e ao mito (o diploma). 4.Coisa aqui significa idéias, objetos, pessoas, palavras, animais, ritos, danças, etc. Como resistir à perda da liberdade? Como resistir à sacralização das relações sociais, econômicas e, logo, à perda da possibilidade de fazer diferente, de fazer livremente o uso das coisas, das palavras, das idéias? Como se opor à subtração das coisas ao livre uso? Como se opor à sacralização de parte importante de nosso mundo, de nossa vida? A palavra que Agambem (2005) usa para significar essa possibilidade de libertação é “negligência”, que pode permitir a profanação da coisa sacralizada. Não é uma atitude de incredulidade e indiferença que ameaça o sagrado, esta pode até fortalecê-lo. Tampouco o confronto direto. O que ameaça o sagrado é uma atitude de negligência. Negligência entendida como uma atitude, uma conduta simultaneamente livre e distraída face às coisas e seus usos. Não é ignorar a coisa4 sacralizada, mas prestar atenção à coisa sem considerar o mito que sustenta sua sacralização. Negligência, neste caso, significa desligarse das normas para o uso. Adotar um novo uso descompromissado de sua finalidade sagrada, ou seja, de sua função de separar. Assim, profanar significa liberar a possibilidade de uma forma particular de negligencia que ignora a separação, ou antes, que faz uso particular da coisa. A passagem do sagrado para o profano pode corresponder a uma reutilização. Muitos jogos infantis (jogo de roda, balão, brincadeiras de roda) derivam de ritos, de cerimônias para a sacralização como uma cerimônia de casamento. Os jogos de sorte, de dados, derivam das práticas dos oráculos. Esses ritos, separados de seus mitos, ganharam um livre uso para as crianças. O poder do ato sagrado é a consagração do mito (a estória) e o rito que o reproduz. O jogo (negligência) desfaz essa ligação. O rito sem o mito vira jogo, é devolvido ao livre uso das pessoas. O mito sem o rito perde o caráter sagrado, vira uma estória. Importante lembrar que negligência não significa falta de atenção. Uma criança, quando joga, tem toda a atenção no jogo. Ela apenas 65 Entre Redes negligencia o uso sagrado ou o mito que fundamenta o rito. A criança negligencia a proibição. Devemos dessacralizar a economia, o direito, a política, devolvendo estas esferas ao livre uso do povo. Construir novos usos livres. Numa época na qual a dessacralização é fundamental diante da dimensão que a sacralização tomou, as pessoas, em meio ao desespero, buscam um retorno ao sagrado em tudo. O jogo como profanação, como uso livre está, hoje, decadente. As pessoas parecem incapazes de jogar e isso se demonstra com a proliferação de jogos prontos, sacralizados, com regras herméticas, nos quais os novos usos são quase impossíveis ou invisíveis. Os jogos televisados, como grandes espetáculos de massa, acompanham a profissionalização e a mitificação dos jogadores (os ídolos). A secularização dos processos de sacralização que dominam as sociedades contemporâneas permite que as forças de separação permaneçam intactas, sendo apenas mudadas de lugar. A profanação, de maneira diferente, neutraliza a força que subtrai o livre uso, neutraliza a força do que é profanado. Trata-se de duas operações políticas: a primeira mantém e garante o poder por meio da junção do mito e rito agora em outro espaço; a segunda desativa os dispositivos do poder, separa o rito do mito, permitindo o livre uso. O capitalismo é mostrado por vários autores como um espaço de secularização dos processos de sacralização. Max Weber mostra o capitalismo como secularização da fé protestante; Benjamin demonstra que o capitalismo se constitui em um fenômeno religioso que se desenvolve de forma parasitária a partir do cristianismo. Para Agambem (2005), o capitalismo tem três fortes características religiosas específicas: a) É uma religião do culto mais do que qualquer outra. No capitalismo tudo tem sentido relacionado ao culto e não em relação a um dogma ou idéia. O culto ao consumo, o culto à beleza, à velocidade, ao corpo, ao sexo, etc; b) É um culto permanente, sem trégua e sem perdão. Os dias 66 “Violência e exclusão...” de festas e de férias não interrompem o culto, ao contrário, o reforçam; c) O culto do capitalismo não é consagrado à redenção ou à expiação da falta, uma vez que é o culto da falta. O capitalismo precisa da falta pra sobreviver. O capitalismo cria a falta para, então, supri-la com um novo objeto de consumo. Assim que este objeto é consumido, outra falta aparece para ser suprida. O capitalismo talvez seja o único caso de um culto que, ao expiar a falta, mais a torna universal. O capitalismo, por ser o culto, não da redenção e sim da falta, não da esperança, mas do desespero, faz com que este capitalismo religioso não tenha como finalidade a transformação do mundo, mas sim sua destruição. Existe no capitalismo um processo incessante de separação única e multiforme. Cada coisa é separada dela mesma, não importando a dimensão sagrado/profano ou divino/humano. Ocorre uma profanação absoluta, sem nenhum resíduo, que coincide com uma consagração vazia e integral, ou seja, o capitalismo profana as idéias, objetos, nomes não para permitir o livre uso, mas para ressacralizar imediatamente. Um automóvel não é mais um objeto usado para o transporte e sim um objeto de desejo que oferece, para quem compra, status, poder, velocidade, emoção, reconhecimento. O consumidor, geralmente, não compra o bem que pode transportá-lo. O que o consumidor compra não pode ser apropriado, pois o que é consumível é inapropriável. O consumidor compra o status, o reconhecimento, a ilusão de poder, a velocidade e isso não pode ser apropriado, desaparece na medida em que é consumido. Trata-se de um fetiche incessante. Ao conferir um novo uso a ser consumido, qualquer uso durável se torna impossível: esta é a esfera do consumismo. Na lógica da sociedade de consumo, a profanação torna-se quase impossível, visto que o que se usa não é o uso inicial do objeto, mas o novo uso dado pelo capitalista. Logo, o que se consome se extingue e desaparece e, portanto, não pode ser dado novo uso. Não há possibilidade de liberdade dentro desse sistema. O novo uso da liberdade exige enxergarmos esse processo de aprisionamento da lógica capitalista de consumo. O consumo pode ser visto como uso puro que leva à destruição da coisa consumida. Ele é, portanto, a negação do uso, uma 67 Entre Redes 5.Outro mecanismo de dominação e manipulação do real é a estratégia amplamente utilizada pela imprensa de explicar o geral pelo fato particular. Slavoj Zizek, no livro Plaidoyer em faveur de l’intolerance, menciona dois exemplos norteamericanos. Cita o caso, por exemplo, da jovem mulher de negócios bem sucedida que transa com o namorado, engravida e resolve abortar para não atrapalhar sua carreira. Este é um caso que ocorre entre milhares, talvez milhões de outras situações. Entretanto, o poder toma este caso como exemplo permanente para demonstrar o egoísmo que representa o aborto diante da opinião pública. Ao explicar o geral pelo particular, ou construir predicados para grupos sociais, a tarefa de manipulação para a dominação se torna mais fácil. vez que há esta negação, pressupondo que a substância da coisa fique intacta. No consumo, a coisa desaparece no momento do uso. A propriedade é uma esfera de separação, é um dispositivo que desloca o livre uso das coisas para uma esfera separada que se converte no Estado moderno em direito. Entretanto, o que é consumido não pode ser apropriado. Os consumidores são infelizes nas sociedades de massa não apenas porque eles consomem objetos que incorporam uma não aptidão para o uso, mas também porque eles acreditam exercer sobre essas coisas consumidas o seu direito de propriedade. Isso é insuportável e torna o consumo interminável. Como não me aproprio do que consumi, tenho que consumir de novo e de novo para alimentar a ilusão de apropriação. Essa escravidão ocorre pela incapacidade de profanar o bem consumido e pela incapacidade de enxergar o processo no qual o consumidor está mergulhado até a cabeça. 3. A questão da nomeação: como as identificações podem desagregar, descriminar e justificar a violência Neste capitulo veremos como as nomeações de grupos, os nomes coletivos que serviram para a unificação do poder do Estado serviram, historicamente, para desagregar, excluir e justificar genocídios e outras formas de violência. A construção dos significados que escondem complexidades e diversidades é o tema do livro de Alain Badiou (2005), La portée du mot juif. Cita o autor um episódio ocorrido na França há algum tempo: o primeiro-ministro, Raymond Barre, comentando um atentado a uma sinagoga, falou para a imprensa francesa sobre o fato de que morreram judeus que estavam dentro da sinagoga e franceses inocentes que passavam à rua quando a bomba explodiu. Qual significado da palavra judeu agiu de maneira indisfarçável na fala do primeiro-ministro? A palavra “judeu” escondeu toda a diversidade histórica, pessoal e do grupo de pessoas que são chamadas por esse nome. A nomeação é um mecanismo de simplificação e de geração de preconceitos que facilita a manipulação e a dominação. A estratégia de nomear facilita a dominação.5 Badiou (2005) menciona que o antisemitismo de Barre não mais é tolerado pela média da opinião pública francesa. Entretanto, outro tipo de anti-semitismo surgiu vinculado aos mo- 68 “Violência e exclusão...” vimentos em defesa da criação do estado palestino. No livro, Badiou (2005) não pretende discutir o novo ou o velho anti semitismo, mas debater a existência de um significado excepcional da palavra “judeu”, um significado sagrado, retirado do livre uso das pessoas.6 Assim como ocorre com várias outras palavras, porém de forma menos radical (liberdade e igualdade, por exemplo), a palavra “judeu” foi retirada do livre uso, da livre significação. Ela ganhou um status sacralizado especial, intocável. O seu sentido é pré-determinado e intocável, vinculado a um destino coletivo, sagrado e sacralizado, no sentido de que retira a possibilidade de as pessoas enxergarem a complexidade, historicidade e diversidade de quem recebe este nome. Este autor ressalta que o debate envolvendo o anti-semitismo e a necessidade de sua erradicação não recebe o mesmo tratamento de outras formas de discriminação, perseguição, exclusão ou racismo. Existe uma compreensão no que diz à palavra “judeu” e à comunidade que reclama este nome, que é capaz de criar uma posição paradigmática no campo dos valores, superior a todos os demais. Não propriamente superior, mas em um lugar diferente. Assim, pode-se discutir qualquer forma de discriminação, no entanto, quando se trata do “judeu”, a questão é tratada como universal, indiscutível, seja no sentido de proteção, seja no sentido de ataque. Da mesma forma, toda produção cultural e filosófica, assim como as políticas de Estado, tomam essa conotação excepcional. Talvez nenhum outro nome tenha tido tal conotação ou, para Badiou (2005), a força e a excepcionalidade do nome “judeu” só tenha tido semelhança com a sacralização do nome Jesus Cristo. Não há, contudo, um medidor para essa finalidade. O fato é que o nome “judeu” foi retirado das discussões ordinárias dos predicados de identidade e foi especialmente sacralizado. 6.É fundamental ler Giorgio Agambem, especialmente o livro Homo Sacer, publicado pela editora UFMG, Belo Horizonte. Ler também o texto Profanation, do mesmo autor, publicado em Paris, 2005, pela editora Payot e Rivages. Neste ultimo texto, o autor explica o processo de sacralização como mecanismo que retira do livre uso das pessoas determinadas coisas, objetos, palavras, jogos, etc. Através da profanação, do rompimento do rito com o mito, é possível devolver estas coisas, palavras ao livre uso. O nome “judeu” é um nome em excesso com relação aos nomes ordinários e o fato de ter sido uma vitima incomparável se transmite não apenas aos descendentes, como também a todos que cabem no predicado concernente, sejam chefes de Estado, chefes militares, mesmo que oprimam os palestinos ou quaisquer outros. Logo, a palavra “judeu” autoriza uma tolerância especial com a intolerância daqueles que a portam ou, ao contrário, uma intolerância especial com os estes. Depende do lado em que se está. 69 Entre Redes Uma lição importante que se pode tirar da questão judaica, da questão palestina, do nazismo e outros nomes que lembram massacres ilimitados de pessoas é a de que toda introdução enfática de predicados comunitários no campo ideológico, político ou estatal, seja de criminalização (como nazista ou fascista), seja de sacrifício (como cristãos e judeus e mulçumanos), nos expõe ao pior. Esta mesma lógica se aplica à nomeação de um estado judeu. Primeiro, porque um estado democrático não pode ser vinculado a uma religião. Segundo, porque esta nomeação pode gerar privilégios. Uma democracia exige um estado indistinto do ponto de vista identitário. Vários equívocos podem ser percebidos quando da aceitação ou utilização do predicado radical para significar comunidades, países, religiões, etc. Por exemplo, podemos encontrar pessoas comprometidas com projetos democráticos, fechando os olhos ou mesmo apoiando um anti-semitismo palestino, tudo pela opressão do estado judeu aos palestinos ou, ao contrário, a tolerância de outras pessoas, também comprometidas com um discurso democrático, a práticas de tortura e assassinatos seletivos por parte do estado de Israel, por ser este um estado “judeu”. Combater as nomeações, a sacralização de determinados nomes significa defender a democracia, o pluralismo; significa o reconhecimento de um sujeito que não ignora os particularismos, mas que os ultrapassa, que não tenha privilégios e que não interiorize nenhuma tentativa de sacralizar os nomes comunitários, religiosos ou nacionais. Badiou (2005) dedica seu livro a uma pluralidade irredutível de nomes próprios, o único real que se pode opor à ditadura dos predicados. O filme Trem da vida é um maravilhoso poema à pluralidade de nomes próprios que foram reduzidos a um predicado “judeu” na segunda guerra mundial. O filme ressalta a pessoa, os grupos dentro dos grupos e como a identificação com determinados grupos dentro de outro grupo gera segregação; ressalta a introdução do tema identidade e identificação com grupos, religiões, estados, partidos, idéias, como fator de segregação, sempre ir70 “Violência e exclusão...” racional. Destaca a anulação do sujeito livre com a anulação do nome próprio em função do nome de um grupo. 4. Múltiplas identidades: a cidade cosmopolita perdida em conflitos de micro-identidades 7.BADIOU, Alain. Circonstances, 3 – portées du mot “juif”. Paris: Editions Lignes e manifeste, 2005, p.15. Há uma forte diferença entre bandidos e mocinhos no imaginário social e uma ausência dessa diferenciação nas práticas sociais diárias. A repressão policial diária desrespeita a privacidade, a dignidade; a repressão humilha pelo simples fato da condição social ou da cor do sujeito. Um discurso repetido tem sido o de que a ordem constitucional não permite à polícia trabalhar, logo esta tem que agir fora do Direito, contra o Direito. O filme Crash mostra até onde as nomeações, das quais tratamos anteriormente, podem chegar a uma sociedade dita cosmopolita. Se o problema da nomeação de um “estado judeu” que procura unificar todos os grupos sociais, classes sociais, idades e outras diferenças sociais, e todos os nomes próprios, em uma única denominação, pode justificar privilégios e discriminações excepcionais, a fragmentação da sociedade em pequenos grupos de identidades em pequenas nomeações pode gerar outros tipos de problemas. A sociedade cosmopolita de Los Angeles, Nova York, São Paulo, Londres e Paris não está além das nomeações ou dos predicados radicais. Ela está multifragmentada em diversos predicados radicais. Negros, asiáticos, coreanos, chineses, árabes, turcos, persas, nordestinos, brancos, góticos, cabeças raspadas, nacionalistas, racistas, mexicanos, hispânicos, caucasianos e mais um monte de nomeações convivem no espaço “democrático” da cidade. São obrigados pela lei a se suportarem, embora os que aplicam a lei pertençam a um grupo e vejam o mundo limitados pela compreensão do seu grupo. Até mesmo nos nomes próprios carregam a identidade do grupo a que pertencem, mesmo sem quererem pertencer: Shaniqua é um nome negro; Saddam é um nome iraquiano; Hassan é um nome muçulmano; Ezequiel é um nome evangélico; Pedro é um nome cristão; David é um nome judeu. O nome próprio é abafado pelo nome do grupo. O nome próprio é condicionado pelo predicado radical. O filme mostra que é possível se libertar do nome grupal e resgatar algo universal, algo humano, além das nomeações de grupos, etnias, cores, países, religiões. Algo humano universal que resgate o nome próprio. 71 Entre Redes A aposta de Badiou (2005)7 em um estado contemporâneo indistinto em sua configuração identitária pode não ser a superação das nomeações e da sacralização de determinados nomes. Este estado contemporâneo democrático plural que tenha um sujeito que não ignora os particularismos, mas que o ultrapasse, que não tenha privilégios e que não interiorize nenhuma tentativa de sacralizar os nomes comunitários, religiosos ou nacionais talvez ainda não exista. O que o filme mostra é uma realidade fragmentada por nomes grupais sacralizados, porém não elimina a esperança de um espaço livre de sacralizações. Esses nomes grupais sacralizados podem gerar novas guerras tribais, pois a construção de uma identidade nacional é ultrapassada por diversas identidades grupais ou mesmo é construída justamente sobre o reforço destas identidades grupais. Isso se ressalta no caso estadunidense em que a identidade nacional é construída em parte, pelo menos nos espaços cosmopolitas das grandes cidades, sobre a idéia de uma democracia étnicoracial multi-identitária que se opõe às identidades nacionais intolerantes e uniformes. Nesse nome comprido faltou a prática democrática. Pior quando se acredita poder fazer cumprir a pretensa democracia étnico-racial, multi-identitária por meio da lei e, logo, do controle policial. A polícia também é um grupo corporativo e preconceituoso que anula os sujeitos quando estes estão fardados, quando estão no meio do grupo. Este grupo que acredita simbolizar a própria lei se sente no direito muitas vezes de ignorar o Direito para se autopreservar e preservar a imagem construída no grupo para o próprio grupo. No filme citado, prevalece a idéia da sobrevivência dos nomes próprios encobertos pelos nomes grupais. O dado humano universal sobrevive ao preconceito, às simplificações. Considerações finais Percorremos um longo caminho da formação do Estado Nacional, da imposição de uma religião, de um idioma, da construção artificial e violenta de uma identidade nacional até as sociedades cosmopolitas, multi-identitárias, plurais tão tolerantes que, muitas vezes, chegam ao desprezo e tão individualistas que chegam ao egoísmo. 72 “Violência e exclusão...” Se, de um lado, fomos capazes de trilhar um caminho de conquistas de direitos, de afirmação do Estado Constitucional e, mais importante, do discurso constitucional, da efetividade de alguns direitos individuais e políticos e do reconhecimento do poder pela legitimidade democrática e pela extensão das liberdades individuais, muito ainda há por fazer pela superação das brutais diferenças econômicas, pela indiferença à miséria, pela afirmação dos direitos sociais e econômicos desconstruídos nas últimas duas décadas pelo cruel projeto neoliberal. A construção de uma sociedade democrática includente e não violenta depende da superação dessas diferenças sócioeconômicas. Para além da universalização dos direitos sócioeconômicos, uma nova cultura humana precisa ser discutida e o reconhecimento de direitos humanos universais depende da nossa capacidade de percebermos o ser humano único, essa singularidade coletiva que somos, essa condição comum e, ao mesmo tempo, singular de sermos um nome próprio, construído por uma história única da qual participam muitas pessoas. Devemos ser capazes de enxergar e lembrar de buscar, sempre, essa singularidade escondida atrás dos nomes coletivos. Uma pessoa é múltipla, dinâmica, cada pessoa é um ser em constante transformação. Logo, ninguém “é” apenas. As pessoas estão sempre se transformando, estão sempre virando alguma outra coisa, conforme o contexto que se coloca diante delas. Não se pode reduzir uma pessoa a um nome coletivo: “fulano” não é juiz, mas uma pessoa que exerce aquela função; “cicrano” não é bandido, mas praticou determinados atos ilícitos; esta ou aquela pessoa é muito mais do que sua condição social, que seu gênero, que sua opção sexual, que sua cor, que sua religião, que seu grupo étnico ou sua nacionalidade. Quando formos capazes de ver essa imensa diversidade e complexidade humana por detrás dos nomes coletivos, então não existirão mais genocídios, não existirá mais a miséria ou exclusão, pois ninguém suportará ver um igual na diferença em condição tão desigual. Quando nos referimos às pessoas como “eles”, estamos a um passo do genocídio: eles, os judeus; eles, os muçulmanos; eles, os hutus, etc. Quando resumimos uma vida a um predicado como “bandido”, estamos condenando uma pessoa à exclusão; quando chamamos outras pessoas de judeus, cristãos, muçulmanos estamos construindo muros de difícil transposição. Somos todos pessoas. Pessoas únicas e complexas que podem ser, 73 Entre Redes simultaneamente, um monte de coisas, mas seremos, no final e sempre, pessoas como quaisquer outras pessoas. Referências bibliográficas AGAMBEM, Giorgio. Profanation. Paris: Payot et Rivages, 2005. __________________. Homo Sacer. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2005. BADIOU, Alain. Circonstances, 3 – portées du mot “juif”. Paris: Editions Lignes e manifeste, 2005. CREVELD, Martin van Creveld. Ascensão e declínio do Estado. São Paulo: Martins Fontes, 2004. CUEVA, Mario de la. La idea del Estado. Fondo de Cultura Econômica, Universidad Autônoma de México, 5. ed. México, D.F., 1996. ZIZEK, Slavoj. Plaidoyer en faveur de l’intolerance. Ed. Climats, Castelnau- Le-Lez, 2004. 74 “Violência e exclusão...” 75 Geovania Lúcia dos Santos Luiz Carlos Felizardo Junior Walter Ude Escola, redes sociais e construção de fatores protetivos: desafios contemporâneos para uma sociedade mais implicada com os processos educativos das crianças e dos adolescentes Geovania Lúcia dos Santos Mestre em Educação pela UFMG. Professora Assistente do Departamento de Ciências Humanas da UNIFAL (MG). Luiz Carlos Felizardo Junior Mestre em Educação pela UFMG. Pesquisador do Grupo de Pesquisa Juventude e Educação na Cidade (FAE/UFMG). Walter Ernesto Ude Marques Doutor em Psicologia pela UnB. Pós-doutor em Psicossociologia e Sociologia Clínica pela UFF. Professor Associado da FAE/UFMG. Entre Redes 1. Introdução: a dimensão protetiva na ação escolar em uma perspectiva histórica A dimensão protetiva da escola em relação às crianças e aos adolescentes é um dos elementos definidores dessa instituição desde que fora criada, no alvorecer da modernidade ocidental. Tal afirmativa encontra sustentação, por um lado, no estudo dos modos como contemporaneamente entendemos a proteção a esses sujeitos de direitos, em condições especiais de desenvolvimento e os mecanismos de sua efetivação e, por outro lado, na compreensão do processo histórico no qual a instituição fora criada e vem sendo materializada. Contudo, se é fato que à escola atribui-se socialmente a responsabilidade de contribuir para a proteção das novas gerações desde sempre, não se pode pensar que a compreensão do significado dessa dimensão e, por conseguinte, das formas de sua efetivação, permaneçam os mesmos ao longo do período que se estende entre os séculos XVI e XXI. A consideração de que, muito embora a escola tenha sido desde sempre um lugar encarregado, entre outras coisas, de proteger as novas gerações, mas que essa proteção nem sempre foi entendida e efetivada do mesmo modo nos leva a, nas páginas seguintes, estimular os leitores a refletirem sobre as diferenças que identificamos quando nos detemos no estudo das formas sociais de se compreender e implementar essa dimensão em períodos específicos da história da instituição. Pretendemos, por meio da construção de um paralelo entre o contexto de criação da escola moderna e o contexto atual, pontuar algumas mudanças que percebemos nas formas de compreender e efetivar a proteção às novas gerações na e pela escola, ratificando a importância de disseminarmos a compreensão contemporânea que aponta para o compromisso da escola em promover a proteção integral das crianças e dos adolescentes. 2. A proteção à criança no contexto da constituição da escola moderna Em seu estudo acerca de como se constituiu a concepção moderna de infância e de família, Philippe Ariès (1981) revela a 78 “Escola, redes sociais e construção de fatores protetivos...” relação intrínseca entre esse processo e o surgimento do modelo de escola ainda vigente. Segundo ele, uma vez construída socialmente a percepção da criança enquanto ser singular, passível e demandante de cuidados específicos como resultado de um processo histórico iniciado no século XVI -, a escola fora eleita como a instituição por meio da qual a sociedade poderia prover esses seres da proteção e dos cuidados para eles aspirados. Assim, na base do discurso moralista e moralizante do contexto reformista, a escola emergiu como tempo-espaço destinado à proteção da criança, proteção esta que pressupunha sua separação, preferencialmente na forma de isolamento, do mundo adulto, uma vez que, neste, sua maleabilidade, fragilidade, rudeza, fraqueza de juízo e inocência a tornava bastante vulnerável e passível de degenerescência (VARELA e ALVAREZ, op. cit, pp. 71-72). Tratava-se, pois, de extraí-la ao mundo adulto no qual era preparada para a vida para, isolada desse universo, ser dotada da força de caráter e demais qualidades que a preparasse para nele ingressar, estando menos vulnerável e suscetível aos riscos e tentações ali abundantes, conforme atesta o próprio Áries (1981): A partir de um certo período (...) a escola substitui a aprendizagem como um meio de educação. Isto quer dizer que a criança deixou de ser misturada aos adultos e de aprender a vida diretamente, através do contato com eles. (...) A criança foi separada dos adultos e mantida à distância numa espécie de quarentena, antes de ser solta no mundo. Essa quarentena foi a escola, o colégio (ARIÈS, 1981, Prefácio). Entender que a escola foi pensada e adotada como um tempoespaço de proteção à infância não significa desconsiderar sua dimensão educativa propriamente dita. Contrariamente, pode-se afirmar que foi exatamente pelo afã educativopedagógico, ou seja, pelo desejo de formar, por meio do trabalho junto às crianças, um determinado tipo de sociedade, que a dimensão protetiva da instituição emergiu: “Começou então um longo processo de enclausuramento das crianças (como dos loucos, dos pobres e das prostitutas) que se estenderia até nossos dias, e ao qual se dá o nome de escolarização” (idem; grifo do autor). 79 Entre Redes A continuidade da argumentação de Ariès (1981) apresentada acima corrobora tal percepção, não deixando dúvidas acerca da associação entre as tarefas de educar e proteger, bem como em relação ao entendimento de que a realização de uma estava intrinsecamente ligada à outra. O fato de o autor apontar para a continuidade desta associação até nossos dias chama a atenção, levando-nos a nos perguntar: em que medida se compreende, contemporaneamente, a relação entre educação e proteção? Seriam nossas escolas espaços nos quais impera a compreensão de que a tarefa de educar pressupõe proteger? Trata-se de questões que tentaremos retomar mais adiante. Por hora, continuaremos a refletir acerca do ponto inicial desta análise, qual seja, a dimensão protetiva no contexto da constituição da educação escolar moderna. Muito embora o estudo de Philippe Ariès (1981) revele, com riqueza de detalhes, o processo que resultou na definição do estatuto da infância e aponte para o paralelismo que há entre tal processo e a constituição da escola moderna, o entendimento do caráter protetivo dessa instituição se mostra ali apenas de forma indiciária. Isso porque, segundo Varela e Alvarez-Uria (1992), o foco daquele trabalho é a “infância de qualidade” que se formará nos colégios para governar. A infância pobre, segmento sobre o qual recairá a dimensão protetiva da escola de modo mais direto e intencional, pouca atenção recebe de Áries (1981), uma vez que seu estudo fora construído a partir da análise de fontes que quase nada revelam nesse sentido. Ariès (...) relaciona a constituição da infância com as classe sociais, com a emergência da família moderna, e com uma série de práticas educativas aplicadas especialmente nos colégios. Mas relega a um segundo plano um tanto longínquo as táticas empregadas no recolhimento e moralização dos meninos pobres (sem dúvida o acesso a um material que permita tal estudo é muito mais complicado) (VARELA e ALVAREZ URIA, 1992, p. 75). A análise mais detida do trabalho de Áries (1981), em paralelo ao estudo do trabalho de Varela e Alvarez-Uria (1992), deixa clara a existência de interesses diferenciados no que se refere à proteção das crianças pela escola no contexto de sua criação, bem como a variação de interesses conforme a pertença social 80 “Escola, redes sociais e construção de fatores protetivos...” dos educandos. Nesse sentido, pode-se acrescentar à lista o trabalho de Mariano Enguita (1989), para quem a escola representou, igualmente, um período de quarentena no qual, estando afastada ou com uma inserção diferenciada no mundo adulto, a infância seria preparada para nele reingressar, ocupando espaços bastante específicos e cumprindo funções previamente definidas. Nos três trabalhos e, de modo mais específico nos dois últimos, a pertença social da criança aparece como um indicativo do sentido dado à dimensão protetiva. No caso das crianças pobres tratava-se, em última instância, de recolhê-las sob os cuidados do Estado com vistas não exatamente à proteção de sua integridade, mas sim de proteger a sociedade dos riscos aos quais estaria sujeita, caso não se empreendesse um programa de formação estruturado e executado com o objetivo de regenerar essa infância, eliminando-lhe os vícios e demais inclinações socialmente indesejáveis advindas de sua origem. Quer fosse para governar, quer fosse para ser governada, quer fosse para receber formação de caráter religioso disciplinador, quer fosse para receber formação moral e intelectual, tanto a “infância rude das classes populares” quanto a “infância angélica e nobilíssima do Príncipe” e, por fim, a “infância de qualidade dos filhos das classes distinguidas” (VARELA e ALVAREZ URIA, 1992) tiveram, nos primórdios da modernidade, a escola como um espaço de separação do mundo adulto no qual seriam dele protegidas para, posteriormente, nele ocupar o lugar que lhes era devido. À formação escolar associou-se, desse modo, a dimensão da proteção da infância daqueles e/ou daquilo que a ameaçava, ou seja, da sociedade. Em um texto bastante instigante acerca da educação da infância no Brasil, Kuhlmann Jr.(2000) revela, com base no estudo da história das instituições destinadas à educação das nossas crianças - história esta que, segundo ele, possui apenas pouco mais de um século –, o modo como a idéia de proteção, via assistência social, esteve intimamente relacionada à de educação, notadamente no que se refere à infância pobre. Inspirados, sobretudo, em ideais estrangeiros “(...) políticos, educadores, industriais, médicos, juristas, religiosos (...) se articulam na criação de associações e na organização de instituições educacionais para a criança pequena” (KUHLMAN JR, 2000, p. 477). 81 Entre Redes 1.Chama a atenção, no texto, as referências a entidades filantrópicas destinadas à proteção da infância que buscavam prover a criança de uma série de cuidados, dentre os quais se destaca a proteção cujo locus privilegiado eram as instituições educativas. Para saber mais sobre a proteção à infância no contexto brasileiro, recomendamos a leitura de Pilotti e Rizzini (1995). Trabalhando articuladamente, tais lideranças assumiram a defesa da criação de creches, jardins de infância e escolas maternais nas quais - não exclusivamente, mas de forma predominante as mães pobres poderiam deixar seus pequenos sob a proteção e os cuidados de agentes especializados no ofício, liberando-se para trabalhar.¹ A associação da idéia de proteção à criança à atividade de educação das novas gerações a ser realizada pela escola consiste, assim, em uma realidade tanto na Europa quanto no Brasil, ainda que os processos de sua constituição e institucionalização tenham se dado de formas diferenciadas. A existência dessa idéia e sua realização, também em ambos os lugares, se fazia a partir do reconhecimento, por parte dos poderes instituídos, da incapacidade do mundo adulto e, mais especificamente, da família, para cuidar, educar e garantir à criança o desenvolvimento de todas as propriedades necessárias a um bom preparo para ingressar e servir à sociedade. Na percepção dos ideólogos da escola, tratou-se, pois, em ambos os casos, da criação, institucionalização e posterior atribuição de centralidade social a um mecanismo capaz de realizar a tarefa que o mundo adulto, leia-se as famílias, se mostrava incapaz de dar conta, que era a de cuidar e formar as novas gerações. Em vista disso, temos que, nos primórdios da escola moderna, a proteção à infância era não só uma das tarefas socialmente atribuídas à instituição, mas, e principalmente, que se fazia sob o entendimento de que seu êxito seria tanto maior quanto mais afastada da família e, por extensão do mundo adulto, as crianças fossem mantidas. A escola, nesse modelo de análise, se erige contra as famílias (VARELA e ALVAREZ, 1992; CUNHA, 2000), sob o argumento de que atuará em seu favor, na medida em que realizará, para ela, as funções que lhes são devidas, mas para cuja satisfação seus membros não dispõem das qualidades e tampouco dos conhecimentos necessários. 3. A dimensão protetiva da escola no contexto atual Se considerarmos que a escola foi erigida como instituição formadora central nas sociedades ocidentais e que, para tal, promoveu a desqualificação da família e demais instâncias socia- 82 “Escola, redes sociais e construção de fatores protetivos...” lizadoras, tomando para si o exclusivismo no que se refere à formação das novas gerações, também devemos considerar o fato de que vivemos, na atualidade, um contexto no qual essa realidade tem sido não só questionada, como também revista por meio de uma série de dispositivos sociolegais. Muitas são as razões para essa mudança e, embora a reflexão sobre elas seja um exercício bastante interessante, não nos deteremos nesse aspecto, dados os limites do texto e a necessidade de não perdermos nosso foco de análise. Resultado de um longo processo, a mudança na forma de conceber a função da escola e os modos de sua realização situa-se no bojo de mudanças sociais mais significativas que dizem respeito às novas formas de conceber a infância, a adolescência, bem como os modos de a sociedade estar e lidar com esse seu segmento naturalmente vulnerável. A promulgação da Constituição Federal Brasileira, em 1988, foi o passo inicial para ratificação, no plano jurídico legal, da nossa atual concepção de infância e adolescência: Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 2004, p. 43). Como se pode observar, nossa Carta Magna sinalizou, com o reconhecimento da responsabilidade de toda a sociedade, para com o cuidado, proteção e promoção das crianças e adolescentes. Tal reconhecimento foi posteriormente ratificado em 1990, com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (Lei 8069/90) e com a assinatura, pelo Brasil, da Convenção Sobre os Direitos da Criança, no mesmo ano. Juntos, esses três dispositivos legais deram a base sobre a qual se tem consolidado, em nossa sociedade, o entendimento de crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, em condições especiais de 83 Entre Redes desenvolvimento. Conforme ressaltado por Nóvoa (1999), no que tange ao atendimento de crianças e adolescentes, a escola foi, ao longo de sua história, se esforçando para compensar a fragilidade das famílias e da sociedade, assumindo um número cada vez maior de missões. Nesse contexto tudo foi passando para dentro das escolas, como se fosse possível resolver todos os problemas das crianças e dos jovens no espaço escolar. Tal situação já deu claros sinais de ter atingido o limite, colocando-nos diante do reconhecimento de que a escola e os professores não podem colmatar a ausência de outras instâncias sociais e familiares no processo de educar as gerações mais novas. Ninguém pode carregar nos ombros missões tão vastas como aquelas que são cometidas aos professores, e que eles próprios, por vezes, se atribuem (NÓVOA, 1999, p. 16). Em vista disso, ganha relevo a idéia de que à escola não cabe resolver isoladamente todas as questões relativas à infância e adolescência, mas, por outro lado, faz-se necessário reconhecer sua responsabilidade no sentido de contribuir para que isso aconteça. A compreensão da impossibilidade de quaisquer agências ou instituições darem conta, isoladamente, do cuidado, proteção e promoção das novas gerações e, sobretudo, o reconhecimento de ser essa uma tarefa pela qual toda a sociedade deve se responsabilizar também se faz presente na normatização da educação, conforme expresso no texto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB: Art. 12º. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: (...) VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola (BRASIL, 1996, p. 3) A obrigatoriedade de os estabelecimentos de ensino se articula84 “Escola, redes sociais e construção de fatores protetivos...” rem às famílias e à comunidade, como estratégia para executar a tarefa que lhes é socialmente atribuída representa um grande passo no sentido da revisão do entendimento de outrora, quando, conforme já tivemos a oportunidade de destacar, entendiase que a não participação da família na escola seria a condição para o êxito da educação das novas gerações. Tal articulação também é prevista no que se refere à atuação dos profissionais da educação, em relação aos quais a Lei é bastante explícita: Art. 13º. Os docentes incumbir-se-ão de: (...) VI - colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade (idem, p. 4) Indo além da recomendação de uma articulação entre escolas, família e comunidade, nossa legislação do ensino recomenda a participação efetiva da sociedade na organização, planejamento e funcionamento dos estabelecimentos públicos de ensino, por meio da institucionalização da gestão democrática, conforme se pode ler abaixo: Art. 14º. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios: (...) II - participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes (ibdem, p. 4) Trata-se, pois, de uma série de dispositivos por meio dos quais se busca consolidar o entendimento de que crianças e adolescentes são sujeitos aos quais se devem dar prioridade e que, por estarem em condições especiais de desenvolvimento, demandam o empenho de toda a sociedade, com vistas à garantia de sua proteção integral, condição sine qua non para prover-lhes o desenvolvimento integral conforme preconizado pelo ECA. Diferentemente de atribuir à escola a responsabilidade pela resolução de problemas sociais de grande abrangência, trata-se de reconhecer que a proteção integral desses sujeitos de direitos 85 Entre Redes representa uma dimensão de sua função educativa, uma vez que se sabe que, somente estando protegidos, as crianças e adolescentes terão possibilidades de prosseguir em seu processo de desenvolvimento integral, recebendo, dessa instância socializadora, a formação que lhe cabe promover. De um modo geral, os educadores e demais profissionais da educação têm atuado no sentido de buscar respostas para a infinidade de problemas que comprometem seu fazer social, humano, cidadão, profissional e ético de formação das novas gerações. O desejo de superação de condições adversas, contudo, muitas vezes esbarra nos limites próprios de quem acredita poder superálas com uma boa dose de dedicação e empenho pessoais. Socialmente, já demos um salto bastante significativo, impregnando a legislação relativa à infância e adolescência e educacional com a idéia co-responsabilidade e participação democrática. Entendemos que, no tocante à escola, faz-se necessário passarmos da idéia do isolamento social, disseminando o entendimento de que, quanto mais aberta e articulada às demais agências sociais ligadas à criança, aos adolescentes e às famílias seus profissionais se posicionarem, maiores as possibilidades de êxito. Certamente, existem muitos caminhos e estratégias por meio dos quais se tornará possível à escola somar seus esforços a tantos outros esforços dispersos voltados à proteção e promoção das crianças e adolescentes, potencializando, assim, as ações executadas nesse sentido. Nas páginas que seguem, faremos uma breve discussão acerca da metodologia das redes sociais e das configurações pessoais, entendidas por nós como importantes procedimentos de fortalecimento da escola e, por extensão, da sociedade, para a garantia do desenvolvimento mais integral de nossas crianças e adolescentes. 4. Redes sociais e educação: a articulação da escola para promoção da proteção integral à criança e ao adolescente A pretensão de enfrentar problemas complexos com propostas simplificadoras que se respaldam numa única explicação ou numa causalidade linear vem se mostrando impraticável frente aos diversos problemas que têm afetado a vida humana, nos últimos tempos. Diante disso, somos desafiados a desenvolver 86 “Escola, redes sociais e construção de fatores protetivos...” um olhar mais integrador que procura perceber as fronteiras existentes entre as diversas dimensões que compõem a configuração da realidade observada. Nesse sentido, o termo complexus representa, na sua etimologia, “aquilo que é tecido junto” (MORIN, 1996, p. 188). Tal constatação nos provoca a romper com medidas preditivas estabelecidas a priori para determinar um resultado previsto a ser comprovado a posteriori. Diante disso, a escola e demais instituições não podem ficar reclusas perante aos problemas que enfrentam no seu cotidiano. Essa postura gera sintomas mais difíceis de serem superados devido ao caráter repetitivo das tensões provocadas pela falta de diálogo e da contextualização dos seus conflitos. Furto de aparelhos celulares na escola, por exemplo, não pode ser compreendido sem a consideração do contexto produtivista, consumista e extremamente competitivo de uma sociedade capitalista que explora esse tipo de relação nos meios midiáticos e demais relações compartilhadas pelos sujeitos escolares. Sendo assim, esse tipo de discussão não se circunscreve apenas ao âmbito da sala de aula ou do gabinete da coordenação escolar, mas vai além e ultrapassa os muros da escola. “Assim como é importante situarmos o adolescente como um ser que se relaciona, a escola também precisa ser vista como uma instituição em rede ao mesmo tempo que pertence a outras redes” (RAMOS & SUDBRACK, 2006, p.186). Dessa forma, a escola não desenvolverá fatores protetivos sem uma articulação em redes. Quando nos remetemos ao termo redes sociais, metaforicamente, queremos indicar que não é possível pensar a educação escolar fora dos demais contextos constitutivos da vida pessoal e social dos sujeitos, como as relações estabelecidas na vida familiar, comunitária, religiosa, cultural e no mundo do trabalho, dentre outras dimensões. Além disso, a consciência da interdependência entre essas instâncias nos remete para a necessidade da articulação desses segmentos sociais e institucionais, com o objetivo de potencializar e fortalecer suas ações, por meio da análise dos recursos, lacunas e saberes presentes na comunidade na qual se pretende desenvolver esse tipo de proposta que visa a integrar os setores da sociedade comprometidos com a promoção da cidadania dos seus moradores. Uma instituição isolada e fragilizada não conseguirá potencializar seus educadores e educandos sem a inclusão e a integra87 Entre Redes ção das demais instâncias sociais que participam da vida dessas pessoas. Essa constatação nos levar a indagar o seguinte: como uma professora poderá enfrentar, por exemplo, a violência sexual praticada contra crianças, observadas no seu cotidiano escolar, sem o respaldo da sua própria instituição, bem como do Conselho Tutelar, do Juizado da Infância e da Juventude, da Promotoria de Justiça, dos órgãos da Segurança Pública, dos Serviços de Atendimento Psicossocial, da alternativa da Denúncia Anônima, dentre outras ações em rede? Estudos mostram que uma professora isolada se sente tão violentada quanto uma criança nessas condições, já que a convivência prolongada com essa situação aviltante lhe provoca adoecimento, como nos aponta Souza, Miranda & Satiro (2009), numa pesquisa realizada sobre esse tema, num contexto escolar. As discussões que envolvem trabalhos educativos desenvolvidos por meio da construção de redes sociais articuladas e solidárias apresentam um objetivo comum e fundamental, qual seja, avaliar os vínculos pessoais e sociais dos sujeitos, bem como as relações institucionais internas e externas da escola e demais instituições, no intuito de verificar fatores de risco, de proteção e de vulnerabilidade enfrentados por essas configurações dispostas em contextos histórico-culturais complexos e específicos. Essa perspectiva se torna premente diante do aumento das ocorrências de situações violentas e conflitos que afetam os diversos membros que participam da comunidade escolar e da vida comunitária mais ampla. Partindo do princípio de que “isolados, somos frágeis” (UDE, 2002, p. 130), seja como pessoa ou como instituição, dentre outras organizações sociais, propõe-se a articulação de práticas que propiciem aos sujeitos e grupos envolvidos num sentido de pertencimento a uma rede social que propicie suportes e recursos diferenciados que podem variar desde apoio nos campos familiar, jurídico, afetivo, moral, econômico, como também o acesso à saúde, à cultura, à educação, à religiosidade, entre outras possibilidades. Todavia, essa proposta só se efetiva com o desenvolvimento de espaços de conversação abertos à participação comunitária. Aqui, se evidencia a necessária disposição de negociar com a diversidade de interesses, idéias e valores, como é próprio da subjetividade humana, no intuito de construir alguns acordos 88 “Escola, redes sociais e construção de fatores protetivos...” e consensos que possam trazer benefícios para a comunidade participante, sempre de uma maneira provisória e parcial, devido à dinamicidade da vida, composta por um universo de seres inacabados. Essa premissa tem sido apresentada com veemência por distintos autores (SLUZKI, 1997; NAJMANOVICH, 1995; SUDBRACK, 2006; CAPRA, 2002; UDE & FELIZARDO JUNIOR, 2009), de diferenciadas áreas do conhecimento, como um paradigma necessário para tentar dar conta da complexidade das dimensões que atuam na produção dos fenômenos humanos, sociais e naturais - sem dicotomizar as relações existentes entre elas - diante da fragmentação das ciências e das políticas públicas contemporâneas, fundamentadas no pensamento tecnicista e especialista desenvolvido na sociedade ocidental moderna. Nesse aspecto, a obsessão de isolar a parte do todo num ambiente hermético, imune de qualquer influência externa expressa na subjetividade do pesquisador, no intuito de dominar tudo daquela partícula por meio de uma ciência exata e prescritiva, produziu olhares deterministas e isolacionistas perante a um mundo supostamente estático e, por isso, visto de uma maneira homogeneizante. No que tange às relações entre fatores de proteção, de risco e de vulnerabilidade num trabalho promovido em redes sociais, compartilhamos com a idéia apresentada por Canelas (2009), ao defender que risco e proteção não são situações dicotômicas e excludentes. Pelo contrário, necessitamos reconhecer nossa exposição aos possíveis riscos a serem enfrentados, como também àqueles eminentes na nossa vida cotidiana, para que possamos buscar maneiras de nos proteger no tecido da nossa rede social. Por outro lado, a vulnerabilidade ocorre quando o sujeito não consegue encontrar alternativas e suportes para se proteger. Nessa condição, fica exposto a processos de violência, podendo perder a própria a vida, tal como ocorre com os jovens emaranhados pelo mercado do narcotráfico. Todavia, em algumas circunstâncias, a fronteira entre o risco e a vulnerabilidade se torna muito tênue e, diante disso, nem sempre se consegue desenvolver fatores de proteção. Dentro dessa concepção, a escola e demais instituições também 89 Entre Redes precisam pensar nos seus fatores de risco e de vulnerabilidade para tentar promover ações articuladas, organizadas e reflexivas acerca da realidade que enfrenta, no intuito de gerar processos que engendrem compromissos com a vida comunitária e social nas quais atuam. Nessa perspectiva, fica evidente que uma instituição que se ocupa dos serviços de saúde não conseguirá realizar seus objetivos sem a participação da educação e que, por sua vez, educação e saúde não se constituem sem a presença da assistência social, da segurança, do acesso ao trabalho, à cultura, ao esporte, etc. Como se nota, a criação de trabalhos inter-setoriais, desenvolvidos a partir de comissões, fóruns, conselhos, grupos de estudos, grupos de trabalho, dentre outros espaços de negociação e conversação, se apresenta como recurso essencial para a sustentabilidade de um trabalho em redes. Além disso, a proposta de organização de assembléias constitui um instrumento precioso para negociar conflitos, divergências e posições distintas numa comunidade educativa. Esse espaço tem sido utilizado por alguns trabalhos no campo da Educação Social (ORSETTI et al, 1987). Trata-se de um momento no qual os diferentes atores comunitários pertencentes a uma escola ou a um contexto sócio-educativo se sentam em círculo, formando uma roda, com o objetivo de buscar um diálogo pautado por temas eleitos como prioritários pela coletividade, para tentar construir relações que garantam melhores condições de convivência. As assembléias podem ser divididas em “ordinárias”, com um dia da semana programado previamente - como, por exemplo, nas segundas-feiras pela manhã - e “extraordinárias”, quando surge algum problema inusitado e urgente para ser resolvido, como, por exemplo, o desaparecimento de um celular de um membro da comunidade. Essa interlocução gera um contexto cooperativo que promove a responsabilização de todos os sujeitos envolvidos na construção das propostas, remetendo ao que Sluzki (1997) indica como a capacidade auto-organizativa e auto-reguladora que as redes sociais propiciam no desenvolvimento de acordos e normas comuns. No caso da escola, pode-se deparar com populações escolares que ultrapassem o número de quinhentos estudantes. Frente a isso, sugerimos que em cada sala de aula sejam retirados, coletivamente, representantes de turma, respeitando a eqüidade de gêneros, os quais levarão, para a assembléia mais ampla, temá90 “Escola, redes sociais e construção de fatores protetivos...” ticas de interesse da comunidade e, posteriormente, retornarão com as propostas construídas nas assembléias compartilhadas com os demais representantes. Acreditamos que esse tipo de atividade contribui para a emancipação dos sujeitos escolares no sentido de desenvolverem seu compromisso pessoal e social com a coletividade com a qual interage, bem como para a expansão de alternativas que possam protegê-los de situações constrangedoras, ameaçadoras ou opressivas. Nesse aspecto, Albertani, Scivoletto & Zemel (2006) apontam como fatores de proteção para o adolescente, o desenvolvimento das seguintes características: “habilidades sociais, cooperação, habilidades para resolver problemas, vínculos positivos com pessoas, instituições e valores, autonomia, auto-estima desenvolvida” (ALBERTANI, SCIVOLETTO & ZEMEL, 2006, p. 119). Por parte da escola, Ramos & Sudbrack (2006) assinalam que: Quando propomos a metodologia das redes sociais, estamos em consonância com essa idéia de contribuir para que as escolas públicas se sintam protegidas. Não se trata de protegê-las com muros que as isolem da comunidade, mas de construir com elas espaços de interação comunitária, para que se sintam menos sós ao enfrentarem questões difíceis, como é a relativa às drogas. A escola não pode ficar só como se o problema fosse apenas dela, ela precisa se abrir para reagir e enfrentar as situações. Vemos as escolas preocupadas com a prevenção do uso de drogas, mas temerosas de se exporem, na medida em que revelam problemas nesse sentido (RAMOS & SUDBRACK, 2006, p. 187). Diante dessas observações, fica evidente a premência de se organizar trabalhos em redes cooperativas e solidárias por meio de espaços de negociação que dialoguem com diferentes perspectivas, com vistas a consolidar espaços mais humanos. A escola representa um elo fundamental nessa tessitura para uma sociedade que possa reduzir os fatores de risco aos quais nossas crianças e jovens estão expostos, bem como vulneráveis a tragédias dilacerantes. 91 Entre Redes 5. Das redes institucionais às configurações pessoais: ampliando as possibilidades de atuação protetiva da escola No tópico anterior chamamos a atenção dos nossos leitores para a importância de a escola promover e/ou fortalecer articulações com as demais instituições que atuam junto às crianças e adolescentes, com vistas a ampliar as possibilidades de efetivação da dimensão protetiva em seu fazer educativo-pedagógico. Nesse contexto, o diálogo, a troca de experiências e a realização de atividades integradas com outras instituições se apresentam como estratégias importantes, cuja validade vem ganhando força, dado que possibilita à escola contribuir para a resolução de problemas que, se não foram engendrados em seu interior, impossibilitam, com sua permanência, a realização, com êxito, de sua missão precípua, qual seja, contribuir para a formação das novas gerações. Por meio do mapeamento das redes institucionais proposto por Ude (2008), torna-se possível à escola (re)conhecer a natureza dos vínculos que a articulam às demais instituições que atuam junto às crianças, adolescentes e família, evidenciando pontos da rede de proteção rompidos e/ou inexistentes. A partir daí, abre-se um fértil caminho para a execução de ações voltadas ao estabelecimento e/ou fortalecimento dos vínculos, de modo a dotar a rede de proteção da densidade, composição, dispersão, heterogeneidade e do tamanho necessários à constituição de uma rede ampla, forte, comprometida e capaz de atuar, protetivamente, de modo eficaz. Para além do plano institucional, há, ainda, um ponto importante sobre o qual a escola pode e deve atuar, no sentido de contribuir para a efetivação da proteção integral das crianças e adolescentes que atende. Trata-se da compreensão do modo como seu público, em geral, e cada estudante, em particular, vivencia os processos socializadores/educativos, para além da atividade escolar, reconhecendo, no interior destes, as instâncias e agentes por meio dos quais são constituídas suas configurações pessoais, pois a escola é um espaço plural de múltiplas referências identitárias. Tomado de empréstimo do sociólogo Norbert Elias (1994), o conceito de configuração aponta para o reconhecimento “de uma estrutura de pessoas mutuamente orientadas e dependen92 “Escola, redes sociais e construção de fatores protetivos...” tes” (ELIAS, 1994, p. 249). Elas se tornam dependentes, inicialmente, “por força da natureza” (idem, p. 214) e, mais tarde, por meio da aprendizagem social, da educação, da socialização e das necessidades recíprocas socialmente geradas. Vinculadas dessa forma, essas pessoas só poderiam existir, segundo Elias (1994), como pluralidade, ou seja, como configuração. A configuração inscreve um processo de socialização/educação que pode ser considerado “como um campo estruturado pelas relações dinâmicas entre instituições e os agentes distintamente posicionados em função de sua visibilidade e recursos disponíveis” (SETTON, 2000, p. 112). A adoção dessa perspectiva de análise implica no reconhecimento de que os seres humanos não podem ser compreendidos como seres individuais. Ao contrário, trata-se da adoção de um mecanismo que permite compreendê-los enquanto “(...) sujeitos que compõem estruturas de pessoas mutuamente orientadas e dependentes” (GONÇALVES e FELIZARDO JUNIOR, 2009, p. 72). Pensando especificamente na ação da escola junto a seu público, trata-se de adotar a prerrogativa de que, independente da idade/ciclo de vida, todos e cada um vivenciam processos socializadores/educativos, por meio dos quais se humanizam. Assim, a ação educativa está implicada no reconhecimento de que cada uma dessas instâncias tem propósitos e práticas distintos, na medida em que elas “(...) possuem natureza específicas, são responsáveis pela produção e difusão de patrimônios culturais diferenciados entre si” (idem, p. 72). Nesse sentido, devemos estar atentos à identificação das instâncias socializadoras significativas para os estudantes e, na medica do possível, aferirmos se estes encontram, em tais instâncias, os suportes de que necessitam para prover seu desenvolvimento integral. Entender como estudantes de diferentes grupos e segmentos têm construído laços e, também, como têm se construído enquanto sujeitos individuais e coletivos no mundo contemporâneo é tarefa complexa, porém profícua na medida em que abre à escola e aos educadores canais de diálogo com vivências e experiências extraescolares que, se não conflitam com o fazer educativo-pedagógico, podem, muitas vezes, reduzir suas possibilidades de êxito, caso não compartilhem do conjunto de referências que fundamentam este fazer. 93 Entre Redes Pensando nesses termos, algumas questões se colocam: quais são os espaços, instâncias e/ou agentes que, se fazendo presentes na vida de nossos estudantes, contribuem para sua formação? Que significado os estudantes lhes atribuem? Com que ausências eles têm de lidar no processo de se fazerem humanos? De que forma podemos nós, educadores, colocarmo-nos em diálogo com nossos estudantes, para compreendermos suas configurações pessoais e, no interior destas, as articulações que mais e menos efetivamente concorrem para sua humanização? Como articular nossa ação educativo-pedagógica às vivências e experiências que todos e cada um trazem para dentro da escola, de modo a ampliarmos nosso potencial de atuação junto a esses sujeitos? O entendimento de que crianças e adolescentes são sujeitos em condições especiais de desenvolvimento remete-nos ao reconhecimento de que tal desenvolvimento está referido não só às dimensões biofísico-psíquicas, mas, igualmente, às dimensões sócio-culturais. Dito de outro modo, estes sujeitos de direitos são compreendidos, em nossa sociedade, como um segmento que experimenta um fazer-se intenso a que podemos chamar de formação humana. Assim entendido, o desenvolvimento para o qual nossas escolas são chamadas a contribuir está para além do cognitivointelectual passível de ser efetivado (acredita-se) por meio da realização de atividades pedagógicas planejadas com tal intencionalidade. Como educadores, somos chamados a contribuir para a formação humana, formação esta resultante de processos múltiplos que não podemos ignorar, caso pretendamos efetivamente realizar a tarefa que nos é socialmente atribuída. Como seres naturalmente vulneráveis que são, nossas crianças e adolescentes dependem de toda uma configuração de relações interpessoais na qual buscam apoio para serem e viverem tal como são: sujeitos em condições especiais de desenvolvimento. Contudo, esta mesma configuração pode, por vezes, representar a negação do direito de serem e viverem as especificidades do ciclo de vida em que se situam, na medida em que os levem a vivenciar experiências de violação de direitos e/ou de manutenção e reforço de negações outras, originadas no bojo de uma sociedade que tende a tratar desigualmente seus segmentos mais vulneráveis. 94 “Escola, redes sociais e construção de fatores protetivos...” Reside aí a importância de aproximarmo-nos das crianças e adolescentes junto aos quais desempenhamos nosso “ofício de mestres” (ARROYO, 2002) para compreendermos o modo como cada um tece sua configuração de modo a captarmos “(...) como eles tentam superar as condições que os proíbem de ser, perceber e se contrapor às situações e às condições em que realizam sua existência em que [muitas vezes] se deformam e se desumanizam” (ARROYO, 2002, p. 242). A consideração de que à escola cabe contribuir para a efetivação da proteção integral de crianças e adolescentes sob o risco de, agindo em contrário, comprometer seu fazer educativo-pedagógico, apresenta, para a instituição, o desafio de abandonar a idéia de que seu público é constituído por alunos. Tal visão, pautada no entendimento de que se trata de seres sem luz, aos quais os educadores conduzirão no sentido do conhecimento de que não dispõem, reduz a complexidade característica dos seres humanos constituídos que são por dimensões múltiplas cujo arranjo individual confere a especificidade de cada sujeito. Portanto, pensar uma educação escolar cujo fazer se pauta, entre outros, pela efetivação da dimensão protetiva, demanda pensar em termos daquilo a que Arroyo (2002) chama “a humana docência”, qual seja, a docência que reconhece o direito à educação enquanto direito “(...) ao saber, à cultura e seus significados, à memória coletiva, à identidade, à diversidade, ao desenvolvimento pleno como humanos” (ARROYO, 2002, p. 53). Desenvolvimento este que, como já tivemos a oportunidade de ressaltar, só se realiza na medida em que as condições para tal estejam dadas. Dito de outro modo, só podemos falar em desenvolvimento pleno em se tratando de sujeitos aos quais estejam garantidas todas as condições favorecedoras. Cabe-nos, portanto, estender nosso olhar, aguçar nossos ouvidos e sensibilidade para perceber, na multiplicidade de questões que se interpõem no nosso fazer cotidiano, brechas a partir das quais possamos espreitar nossos estudantes enquanto seres em processo de humanização que são; é mister buscarmos, nas fissuras da configuração de cada e sobre a qual se sustenta, elos por meio dos quais possamos contribuir ora para resgatar-lhes a “humanidade roubada”, ora para apreendermos e compartilharmos, com as demais instâncias que participam de sua formação, formas de garantir-lhes as condições especiais de que tanto necessitam para serem e se desenvolverem tal qual lhes é 95 Entre Redes de direito. 6. Aplicação do conteúdo à prática: escola e práticas protetivas Concebemos a escola como um lugar protetivo, já que se destina à promoção da sociabilidade e à inserção dos sujeitos escolares no campo do conhecimento sistematizado. Todavia, assim como as demais instituições sociais, nem sempre a escola representa um local de proteção para as pessoas que freqüentam esse espaço de convivência. Diante disso, necessitamos questionar e refletir acerca das possibilidades de inclusão social na prática escolar. Em nossa experiência (UDE, 2008; 2009), pudemos constatar que a instituição escolar se torna mais protetiva quando funciona de maneira integrada aos demais grupos, instituições e coletividades existentes no entorno da escola. Para verificar isso, utilizamos um mapa que procura avaliar a qualidade dos vínculos estabelecidos entre as diferentes instâncias presentes na comunidade, ou seja, constróise uma espécie de cartografia que indica como a escola se situa em relação às distintas áreas do contexto pesquisado, como cultura, saúde, lazer, esporte, assistência, religião, trabalho, educação, área jurídica, segurança, dentre outras. Nesse aspecto, buscamos identificar a qualidade dos vínculos configurados, procurando qualificálos por meio de uma classificação que sugere a prática cotidiana, ao indagarmos se acontecem de um modo próximo, mediano ou distante. A proximidade ou distanciamento das atividades pesquisadas se avalia a partir do nível de parceria executada no cotidiano do trabalho interinstitucional. Após esse passo, se visualiza um desenho que esboça o nível das relações construídas no âmbito da rede social externa da escola estudada. Para isso, convidamos todos os representantes escolares a opinarem e discutirem o assunto, através de um fórum de debate. Na maioria dos casos, esse momento se dá de um modo muito envolvente, tenso e intenso, já que revela controvérsias, disparidades e consensos. Diante do quadro construído, são propostas articulações que possam fortalecer a rede social existente, bem como a construção de objetivos comuns para a efetivação de ações de enfren96 “Escola, redes sociais e construção de fatores protetivos...” tamento à violência contra crianças e adolescentes. Todavia, em boa parte dos casos analisados e interpretados, verificase que as instituições e demais grupos organizados trabalham de forma isolada. Essa evidência demonstrou que, por exemplo, quando a escola se isola, ela tenta assumir a função das demais instituições. Nesse sentido, a professora ou o professor se arvoram em serem pais, mães, tias, tios, médicos, assistentes sociais, psicólogos, enfermeiros, dentre outras especialidades e atribuições. Frente a esse acúmulo de tarefas, se deparam com sobrecargas físicas e mentais, com conseqüente adoecimento. Toda essa trama se torna objeto de uma longa discussão relativa aos territórios e fronteiras institucionais, no intuito de contribuir para definição das responsabilidades que competem a cada instância social envolvida no mapeamento. Nesse aspecto, fica muito claro que não cabe à escola substituir as famílias. Contudo, pode e deve fortalecê-las ao incluí-las numa rede social mais ampla. A consciência da incompletude institucional de cada setor analisado possibilita um olhar mais crítico e menos onipotente diante dos problemas a serem enfrentados coletivamente. Em suma, durante a nossa prática, aprendemos sobre a necessidade emergente de identificar onde os vínculos estão mais fragilizados para promover laços mais fortalecidos, com o objetivo de gerar mais proteção aos sujeitos e à sua comunidade, tendo em vista que uma rede mais densa propicia suportes de uma maneira mais efetiva, por meio de relações horizontais, menos formais, cooperativas e solidárias. Considerações finais A instituição escolar compõe a vida social dos estudantes de uma maneira preciosa, tendo em vista que ali [eles] estabelecem contatos com o conhecimento sistematizado e com uma rede de vínculos pessoais e grupais que pode reconfigurar suas maneiras de compreender o mundo. Essa é a escola [com] que, ao meu ver, devemos sonhar e lutar para que se consolide. Trata-se de um lugar onde se efetua a socialização secundária da criança, além do âmbito familiar, 97 Entre Redes possibilitando expressar dimensões da subjetividade nas atividades realizadas (UDE, 2008, p. 38). No início de nossa reflexão, chamamos a atenção para a historicidade que há no atribuir uma dimensão protetiva ao fazer educativo-pedagógico que se realiza na escola, desde os primórdios da instituição ao alvorecer da modernidade ocidental. Em meio à argumentação que tecemos, apresentamos algumas questões referentes à possibilidade de permanência, nos dias atuais, dessa compreensão: em que medida compreende-se, contemporaneamente, a relação entre educação e proteção? Seriam nossas escolas espaços nos quais impera a compreensão de que a tarefa de educar pressupõe proteger? Optamos, naquele ponto do texto, por tentar responder a tais perguntas em um momento posterior. Agora, tendo apresentado todo o conjunto de questões que tínhamos em mente, relativas à temática aqui discutida, entendemos ser chegada a hora de saldar aquela dívida. No que se concerne à possibilidade de existir, contemporaneamente, a compreensão da existência de relação entre educação e proteção, acreditamos que há, sim, e muita. Conforme tivemos a oportunidade de mostrar ao longo deste texto, partimos do princípio de que a tarefa de educar só se efetiva, com êxito, na medida em que os educandos disponham das condições necessárias para vivenciar a experiência educativa em sua plenitude. Para tanto, nós, que temos por ofício a tarefa de educar-lhes, precisamos, sim, considerar que a garantia de proteção à sua condição especial de desenvolvimento consiste em uma ação para a qual temos o dever social, humano, cidadão e profissional de contribuir. No que tange à possibilidade de serem nossas escolas espaços nos quais impera a compreensão de que a tarefa de educar pressupõe proteger, tendemos, inicialmente, a responder afirmativamente. Tal resposta, contudo, aponta muito mais para a escola com a qual sonhamos, mas que, infelizmente, ainda representa um projeto cuja materialização permanece, na maior parte dos casos, no vir a ser. Em nossas muitas andanças e nos diversos diálogos construídos com educadores escolares de várias localidades, temos a oportunidade de identificar, em alguns, o compreender da educação 98 “Escola, redes sociais e construção de fatores protetivos...” enquanto processo de humanização que demanda, enquanto tal, que os sujeitos implicados o vivenciem em sua integralidade. Imbuídos dessa percepção, tais profissionais assumem o compromisso da defesa das infâncias e juventudes, tantas vezes roubadas de nossas crianças e adolescentes (ARROYO, 2002). Muito embora a existência destes profissionais seja um importante indicativo de que temos grandes possibilidades de impregnar nossas escolas com esse entendimento, reconhecemos que se trata, ainda, de vozes isoladas cujo trabalho de realização de uma educação comprometida com a promoção de seus educandos se dá, no mais das vezes, de forma isolada e, não raro, sob os boicotes daqueles que optam pelo conforto de uma visão reducionista de seu fazer profissional: ensinar determinados conteúdos previamente definidos em um cardápio único, destinado a servir a todos, independente da trajetória do fazer-se humano de cada um. Esses educadores nos ensinam, entre outras coisas, que a humana docência se faz pelo compromisso com as trajetórias de vida e formação do outro, a quem devemos ajudar a se formar; ensinam-nos, também, que a humana docência só se efetiva na medida em que não perdemos a esperança na possibilidade de construção de uma escola e, por extensão, de um mundo no qual todos e cada um tenham abertas, diante de si, as possibilidades de se fazerem humanos de forma plena. Os profissionais comprometidos com a humana docência bem sabem que a tarefa de promover o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes é por demais pesada e complexa para ser realizada no âmbito da escola. No entanto, diferentemente de outros que se colocam em posição de defesa frente ao que acreditam ser “mais uma tarefa que nos jogam sobre as costas”, os educadores que compreendem sua responsabilidade frente a seus educandos buscam superar o entendimento de se tratar de uma tarefa que lhes cabe realizar sozinhos, eles buscam articular seu fazer profissional ao fazer de outros tantos agentes e atores sociais aos quais tal responsabilidade também é atribuída. É exatamente no movimento de compartilhar com outras instâncias a responsabilidade de promover e proteger as crianças e adolescentes, reconhecendo e atribuindo a cada um o papel que lhes cabe desempenhar, que estes educadores avançam no sentido de tirarem a escola do isolamento dos que se acreditam 99 Entre Redes autosuficientes ou responsáveis apenas por tarefas pontuais e caminham rumo à articulação de redes protetivas por meio das quais a promoção e proteção integral das crianças e adolescentes pode ser realizada de forma exitosa. A leitura atenta de nossa legislação educacional e relativa à infância e à adolescência revela uma expectativa de que a sociedade se comprometa com nossas novas gerações e que a escola se abra para um fazer coletivo, cujo objetivo comum seja o desenvolvimento pleno dos que por ela passam. Sabemos que a existência de leis, por si só, não garante a realização dos ideais nelas contidos. Contudo, acreditamos, por um lado, no caráter pedagógico das normas sociais (CURY, 2000), na medida em que elas orientam os rumos que a sociedade deve tomar e, por outro lado, no potencial disseminador da ousadia, esperança e compromisso daqueles que compreendem que “nenhum de nós é melhor e mais inteligente que todos nós” (BRANDÃO, 2002, p.29) e sabem, portanto, que a articulação da escola junto às redes sociais representa uma rica possibilidade de ampliação dos fatores protetivos e das possibilidades formativas para nossas novas gerações. 100 “Escola, redes sociais e construção de fatores protetivos...” Referências bibliográficas ALBERTANI, Helena M. B.; SCIVOLETTO, Sandra & ZEMEL, Maria de Lurdes Souza. Prevenção do uso de drogas: fatores de risco e fatores de proteção. In.: Curso de Prevenção de Drogas para Educadores de Escolas Públicas. Brasília – DF: UnB, 2006. ARIÈS, Philippe. História social da criança e da família. 2 ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora, 1981. ARROYO, Miguel G. Ofício de Mestre: Imagens e auto-imagens. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 2000. BRANDÃO. Carlos Rodrigues. A educação popular na escola cidadã. Petrópolis: Vozes, 2002. BRASIL. Senado Federal. Secretaria Especial de Editoração e Publicações. Subsecretaria de Edições Técnicas. Constituição da República Federativa do Brasil. Texto consolidado até a Emenda Constitucional nº 45, de 08 de dezembro de 2004. Brasília, 2004. _______. Ministério da Educação. Lei de diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº 9.394/96. Brasília, 1996. _______. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Ministério da Justiça. Secretaria da Cidadania e Departamento da Criança e do Adolescente. Brasília, 1990. CANELAS, Renata Schettino. Resiliência e Promoção de Saúde: Contribuições da Escola Integrada. (Tese de Doutorado) Belo Horizonte: Faculdade de Medicina da UFMG, 2009 . CAPRA, Fritjof. A Teia da Vida. São Paulo: Cultrix,1997. CUNHA, Marcus Vinícius. A escola contra a família. In: LOPES, Eliane Teixeira et. al. (orgs). 500 anos de Educação no Brasil. 2ª Ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2000, p. 447-468 CURY, Carlos Roberto Jamil. A educação como desafio na ordem jurídica.In.: LOPES, Eliane Teixeira et al (orgs.). 500 anos de Educação no Brasil. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 101 Entre Redes ano?, pp. 567584. ELIAS, Norbert. O processo civilizador. Rio de Janeiro: Zahar, 1994. ENGUITA, Mariano. F. A face oculta da escola. Porto Alegre: Artes Médicas, 1989. GONÇALVES, Luiz Alberto de Oliveira; FELIZARDO JUNIOR, Luiz Carlos. Juventude negra e sociabilidade: A cidade enquanto espaço educativo. In.: SOARES, Leôncio; SILVA, Isabel de Oliveira e (orgs.). Sujeitos da Educação e Processo de sociabilidade: Os sentidos da Experiência. , v. 1, Belo Horizonte: Autêntica, 2009, pp. 51123. KUHLMANN JR, Moysés. Educando a Infância Brasileira. In.:LOPES, Eliane Teixeira et al (orgs.). 500 anos de Educação no Brasil. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2000, pp. 469496. MORIN, Edgar. Ciência com Consciência. Rio de Janeiro: Bertrand, 1996. NAJMANOVICH, Denise. El lenguage de los vínculos. In.: DABAS, Elina & NAJMANOVICH, Denise. Redes: el lenguaje de los vínculos. Buenos Aires: Piados, 1995. NÓVOA, António. Os professores na virada do milênio: do excesso dos discursos à pobreza das práticas. Educação e Pesquisa, v. 25, n. 1.São Paulo, jan./jun. 1999, , pp. 1120. ORSETTI et al. Um tiro de amor para todos vocês. Meninos de Rua: Educação em Meio Aberto. Belo Horizonte: Barvale, 1987. PILOTTI, Francisco e RIZZINI, Irene. A arte de governar crianças: A história das políticas sociais, da legislação e da assistência à infância no Brasil. Rio de Janeiro: Instituto Interamericano Del Niño, Editora Universitária Santa Úrsula, Amais Livraria e Editora, 1995. RAMOS, Maria Eveline Cascardo & SUDBRACK, Maria Fátima Olivier. A escola em rede. In.: Curso de Prevenção de Drogas para Educadores de Escolas Públicas. Brasília – DF: UnB, 2006. 102 “Escola, redes sociais e construção de fatores protetivos...” SETTON, Maria da Graça Jacintho. Família, escola e mídia: um campo com novas configurações. Educação e Pesquisa, v. 28, n. 1. São Paulo, jan./jun. 2002, PP. 107-116. SLUZKI, Carlos E. A Rede Social na Prática Sistêmica. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2007. SOUZA, Janaina de; MIRANDA, José Carlos & SATIRO, Michelle Costa. Mal-estar docente, violência e redes sociais: algumas reflexões do adoecimento dos educadores e educadoras da Região. In.: SANTOS, Geovania Lúcia et al. Escola, Violência e Redes Sociais. Belo Horizonte: Editora Faculdade de Educação/UFMG, 2009. SUDBRACK, Maria Fátima Olivier. Redes Sociais e os adolescentes. In.: Curso de Prevenção de Drogas para Educadores de Escolas Públicas. Brasília – DF: UnB, 2006. UDE, Walter. Redes Sociais: possibilidade metodológica para uma prática inclusiva. In.: Carvalho, A. et al (orgs.). Políticas Públicas. Belo Horizonte: Proex/UFMG, 2002. ___________. Enfrentamento à violência sexual infanto-juvenil e construção de redes sociais. In.: Enfrentamento à violência sexual infanto-juvenil: Expansão do PAIR em Minas Gerais. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008, pp. 30-60. UDE, Walter & FELIZARDO JUNIOR, Luiz Carlos. Enfrentamento à Violência, configurações e redes sociais: possibilidades teórico-metodológicas para a realização de intervenções. In.: SANTOS, Geovania Lúcia et al. Escola, Violência e Redes Sociais. Belo Horizonte: Editora Faculdade de Educação/ UFMG, 2009. VARELLA, Julia e ALVAREZURIA, Fernando. A maquinaria escolar. Tempo e Educação, n. 6, 1992, pp. 69 – 97. 103 Maria Amélia G. C. Giovanetti (Re)ligando os pontos: o papel do educador na proteção à criança e ao adolescente Maria Amélia G. C. Giovanetti Doutora em Sociologia pela Universidade Católica de Louvain (Bélgica). Professora aposentada da FAE/UFMG. Atua na formação de educadores da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e de educadores sociais. Entre Redes 1. Introdução No projeto “Fortalecendo as escolas na rede de proteção à criança e ao adolescente”, o papel do educador consistiu em um dos temas debatidos, razão pela qual nos debruçaremos sobre o mesmo tema nos limites deste texto. Ao abordarmos o papel do educador, vamos nos referir à educação concebida a partir de uma ótica mais ampla, envolvendo a educação escolar e não escolar. Focaremos também a educação voltada para as camadas populares. Dentro desse contexto, refletiremos a respeito do papel da escola marcada, como toda instituição social, por ambigüidades e contradições. Apontaremos três caminhos visando ao enfrentamento à violência sexual infanto-juvenil, quais sejam: o poder da escuta, a importância da construção de um novo olhar a respeito dos educandos e seus familiares pertencentes às camadas populares e a contribuição da observação. 2. O papel do educador: alguns pressupostos Ao refletirmos a respeito do papel do “educador”, estaremos nos referindo às equipes de profissionais que atuam no espaço escolar (diretores, coordenadores e professores) e também aos profissionais que atuam fora deste espaço. Profissionais que, por meio de intervenções na área da saúde, da assistência, da defesa e responsabilização e demais áreas atuam com a intencionalidade de propiciar mudanças pessoais e sociais. Portanto, educadores concebidos como sujeitos capazes de estimularem a curiosidade, a busca do conhecimento, a reflexão crítica, bem como a convivência marcada pela abertura, disponibilidade ao novo e pelo respeito à diferença. Inicialmente, centraremos nossa atenção no papel do educador escolar e, para isso, refletiremos a respeito do lugar ocupado pela escola, sobretudo aquela escola freqüentada por crianças e adolescentes das camadas populares. Concebemos a escola como um espaço por meio do qual educadores e educandos, ao estabelecerem relações sociais, vêem o mundo, os seres com os quais convivem e vêem a si mesmos. 106 “(Re)ligando os pontos: o papel do educador...” A escola, a partir dessa ótica, é concebida como uma instituição que ocupa um lugar significativo na construção das identidades, processo contínuo que acontece ao longo da vida. Mediante a constatação acima, refletiremos a respeito do papel do educador escolar enquanto um facilitador do processo de construção de identidades marcadas ora pela negatividade, ora pela positividade. Explicitaremos nossa concepção de educação e teceremos algumas considerações a respeito da construção de identidade de educandos pertencentes às camadas populares. A concepção de educação que norteia nossas reflexões é aquela ancorada no referencial teórico construído pelos autores do campo da Educação Popular1, tendo em Paulo Freire sua re- ferência central. A expressão “educação dialógica”2 revela o significado de uma educação fundada no respeito, no reconhecimento mútuo e na proximidade entre os sujeitos. Educadores e educandos trocam saberes, descobertas e afetos. Vivenciam conflitos e dúvidas. Enfim, educação pressupõe, aqui, a vivência de um processo de “mão dupla”, rompendo com a relação linear marcada pelo educando que apenas aprende e pelo educador que apenas ensina. No tocante ao processo de construção de identidades de educandos pertencentes às camadas populares, Cynthia Sarti (1996) nos alerta ao afirmar que “a introjeção da inferioridade naturalizada está entre os danos mais graves da desigualdade social. Acreditar-se menos” (SARTI, 1999, p.107). À luz desta afirmação, refletimos: É grave quando educadores constroem uma imagem, marcada pela negatividade, a respeito dos educandos: “fracassados”, “atrasados”, ”incapazes”, “ignorantes”, “analfabetos”, etc. Porém, mais grave ainda é quando os educandos introjetam a imagem negativa expressa por aqueles que os rodeiam e passam a se identificarem com ela, acreditandose “menos”, parafraseando Sarti (1999). Em sua pesquisa empírica, realizada à época de seu doutorado em educação, a professora Liliane dos Santos Jorge (2007) comenta a respeito dos alunos adolescentes pertencentes às cama- 1.Segundo Paludo (2010), “para Freire, a expressão educação popular designa a educação feita com o povo, com os oprimidos ou com as classes populares, a partir de uma determinada concepção de educação: a educação libertadora (...) problematizadora, que se contrapõe à Educação Bancária, domesticadora. Ela se concretiza como Ação cultural para a liberdade. É ação realizada com os oprimidos e não para eles, seja na escola, seja no processo de mobilização ou de organização popular para a luta, defesa dos direitos e reivindicação da justiça” (PALUDO, Conceição. Educação Popular. Verbete, In.: STRECK, Danilo R.; REDIN, Euclides e ZITKOSKI, Jaime José (orgs.). Dicionário Paulo Freire. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2010, pp. 140-141). 2.Zitkoski (2010), em seu verbete Diálogo/Dialogicidade no dicionário Paulo Freire explica: “a proposta de uma educação humanistalibertadora em Freire tem no diálogo/dialogicidade uma das categorias centrais de um projeto pedagógico crítico, mas propositivo e esperançoso em relação a nosso futuro. (...) através do diálogo podemos olhar o mundo e a nossa existência em sociedade como processo, algo em construção, como realidade inacabada e em constante transfor- 107 Entre Redes mação”. (ZITKOSKI, Jaime José. Diálogo/ Dialogicidade. Verbete, In.: STRECK, Danilo R.; REDIN, Euclides e ZITKOSKI, Jaime José (orgs.). Dicionário Paulo Freire. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2010, p. 117). das populares: Além dos inúmeros rótulos que a sociedade, a família e a escola já lhes atribuíra, os adolescentes ainda conviviam entre si, com atitudes de auto-desprezo, por meio de apelidos pejorativos, referentes às características físicas ou relativas às dificuldades de aprendizagem (JORGE, 2007, p. 266). A mesma autora cita a reação da professora destes adolescentes: Clarisse não destaca suas características negativas e não permite apelidos pejorativos na classe: Ele tem nome. E um nome muito bonito. O nome dele é Cristóvão Renato. Eu não quero esta história de apelidos aqui na sala. Eu trato cada um de vocês pelo nome e quero que vocês tratem assim os seus colegas (JORGE, 2007, p.266). Além desse cuidado referente ao uso de apelidos pejorativos, esta autora comenta, em sua tese, a respeito da importância que os adolescentes imprimiam às situações as quais reforçavam a crença na possibilidade de aprenderem a ler e em sua capacidade para tal: “isto notava-se na alegria com que comemoravam cada palavra acertada no ditado, na importância que davam aos seus escritos afixados no mural da classe” (JORGE, 2007, p. 266). E completa: “Clarisse [a professora] buscava sempre fazê-los acreditarem-se capazes” (JORGE, 2007, p. 266). Partindo do pressuposto de que as relações sociais são construídas, acreditamos que, se existem educadores que estabelecem uma relação marcada pela negatividade, existem também educadores que agem no sentido oposto, ou seja, a partir de uma postura marcada pela positividade, contribuindo para superação da inferioridade, processo muito complexo e, portanto, desafiador. 3. E a escola? Qual o seu papel? 108 “(Re)ligando os pontos: o papel do educador...” No conjunto das instituições sociais que atuam na rede de proteção à criança e ao adolescente, destacaremos a escola concebida enquanto espaço privilegiado para propiciar encontro libertador e emancipatório3 entre educadores e educandos, podendo, assim, contribuir para o fortalecimento da rede mencionada. Por que consideramos a escola como um espaço privilegiado? Que argumentos nos levam a construir tal afirmação? O privilégio da escola localiza-se em sua rotina marcada por encontros cotidianos e contínuos. Ou seja, professores(as) e alunos da Educação Básica têm a oportunidade de se encontrarem diariamente e, no mínimo, ao longo de um ano. Tânia Dauster (1996) reafirma essa perspectiva: “a escola é uma instituição privilegiada, na medida em que possibilita o contato entre atores com diferentes visões de mundo,podendo promover o seu encontro e a troca de significados e vivências” (DAUSTER,1996, p. 70). 3.“A Emancipação humana aparece, na obra de Paulo Freire, como uma grande conquista política a ser efetivada pela práxis humana, na luta ininterrupta a favor da libertação das pessoas de suas vidas desumanizadas pela opressão e dominação social” (MOREIRA, Carlos Eduardo. Emancipação. Verbete, In.: STRECK, Danilo R.; REDIN, Euclides e ZITKOSKI, Jaime José (orgs.). Dicionário Paulo Freire. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2010, p. 145). Nos dias atuais, marcados pela pressa, que permite apenas encontros efêmeros, de curta duração, a escola desfruta de algo excepcional na medida em que sua rotina é favorável a encontros semanais e até mesmo diários, o que propicia aos educadores a construção de uma relação de confiança, elo fundamental para o desencadear de um processo de mudança pessoal. Ao refletir a respeito da relação professoraluno, Inês Teixeira (1996) afirma: Trata-se de uma relação face-a-face, em cotidianos de convivência na instituição escolar, um ambiente destinado aos processos didático-pedagógicos. Espaço programado para esse fim, no qual professores e alunos se encontram por longos períodos, existindo entre eles proximidade pessoal e físicogeográfica, diferentemente de outros ambientes e interações humanas. Não raro eles se encontram diariamente, durante meses e anos, embora isso ocorra em função das contingências e não das suas escolhas. Esses caracteres por si só demarcam o forte empenhamento humano de que tais relações se revestem, evidenciado nas trocas, nos conflitos e intimidade entre docentes e 109 Entre Redes discentes (TEIXEIRA, 1996, p.187). Liliane dos Santos Jorge (2007) ao abordar, também, a relação professoraluno, afirma: Reconhecemos e reafirmamos que uma alteração do olhar, não só dos educadores, mas da sociedade, sobre os adolescentes pobres não se processa de forma mecânica. Este é um processo lento, que demanda por parte dos profissionais da educação, uma formação que toque nos processos relacionais (JORGE, 2007, p. 207). Ao considerarmos que uma das condições básicas para o ser humano mudar de atitude, de comportamento é sentir-se reconhecido, acolhido, respeitado e aceito, diríamos que os encontros diários poderão criar um clima de cumplicidade e de entendimento, os quais geram nos sujeitos envolvidos uma disponibilidade para se abrirem e realizarem suas trocas, sua aprendizagem de “mão dupla”. Destacaria aqui o papel fundamental da escola na rede de proteção. À medida que um dos graves desafios do fenômeno da violência sexual infanto-juvenil se refere ao silenciamento/ ocultamento da existência do fenômeno, por parte das crianças, adolescentes e seus responsáveis, a quebra desse sigilo exige a criação de um clima de confiança. E bem sabemos que confiança é algo que não se conquista de maneira imediata e automática. Pelo contrário, trata-se de um vínculo que se constrói por meio de um longo processo que exige tempo. “A confiança é construída por atitudes de respeito como acolhimento, nos limites das relações humanas possíveis, entremeadas de afeto e de disponibilidade para o diálogo” (FERNANDES, 2010, p. 82). Além do tempo necessário para construção do elo de confiança, que é uma condição básica para a quebra do silenciamento, destacamos aqui a importância do tempo para desencadear um processo de mudança. Cabe lembrar que, no contexto do enfrentamento à violência sexual infanto-juvenil, trata-se de mudança de comportamentos que, por sua vez, pressupõe desconstrução de preconceitos e estigmas enraizados, processo demorado, pois, quanto mais arraigados são os nossos preconceitos, mais tempo exigem para serem desconstruídos. Nos dizeres de Ju110 “(Re)ligando os pontos: o papel do educador...” randir Freire Costa (2004), “a paciência e a persistência são as melhores armas para as mudanças repensáveis e humanamente frutíferas (...) tempo e paciência” (COSTA, 2004, p.87). Mudança exige tempo e paciência. E a paciência, por sua vez, para ser conquistada por parte do educador, exige a aprendizagem da escuta. Paulo Freire, em sua Pedagogia da Autonomia (1996) já nos alertava que ensinar exige saber escutar. Saber escutar não apenas as palavras expressas, mas também os sinais não verbais, ou seja, os gestos, os olhares, os silêncios. 4. O poder da escuta Uma das marcas significativas de uma relação educativa libertadora, ou seja, uma relação que propicia espaço para educadores e educandos expressarem o ser que são, desconstruindo seus preconceitos e possíveis medos, é uma relação que proporciona uma escuta efetiva. Rubem Alves (2003) nos lembra: É preciso tempo para entender o que o outro falou (...) O longo silêncio quer dizer: Estou ponderando cuidadosamente tudo aquilo que você falou. (...) Não basta o silêncio de fora. É preciso silêncio dentro. Ausência de pensamentos. E aí, quando se faz o silêncio dentro, a gente começa a ouvir coisas que não ouvia (ALVES, 2003, p.65). Ferruci (2004), por sua vez, fala sobre a escuta e o silêncio: Talvez façamos tanto barulho por que não estejamos muito dispostos a escutar. O verdadeiro ato de escutar só acontece no silêncio. Só posso ouvi-lo quando nenhum som vem atrapalhar, e, especialmente, quando silenciei as vozes interiores que me distraem do que você quer me dizer (...) Se não interrompemos o interlocutor, certamente o fazemos com nossos pensamentos (FERRUCI, 2004, p. 136). O autor Fierruci (2004) ainda aprofunda sua reflexão, ao afir111 Entre Redes mar: E para ouvir é preciso mais do que o silêncio. É preciso a capacidade de ouvir não só o que está sendo dito, mas como está sendo dito. Muitas vezes, as palavras em si mesmas não são tão importantes; é o tom que mais importa (...) O verdadeiro ato de escutar pressupõe que ouvimos também o que não está sendo dito abertamente. Ouvimos o que a alma diz, ou grita (FIERRUCI, 2004, p. 137). À medida que uma criança, um adolescente ou seu familiar, marcados pela “introjeção da inferioridade naturalizada” e, portanto, acreditando-se menos, nos dizeres de Cynthia Sarti (1999), à medida que essas pessoas encontram um educador que cria um espaço de escuta, esse “acreditar-se menos” começa a encontrar condições para ser desconstruído. Alguém que nos escuta é alguém que nos reconhece e nos considera. Portanto, a inferioridade introjetada começa a conviver com novas experiências relacionais, as quais vão trazendo novos elementos associados a sentimentos marcados pela positividade. Ao ser escutado, pouco a pouco, algo novo se descortina diante de uma criança, um adolescente ou mesmo de seu familiar. Ao se sentir reconhecido por meio da escuta, inicia-se um processo de reflexão e autovalorização. O que estava arraigado, já concebido como natural, poderá ser questionado. Ao serem escutados, educandos e seus familiares encontram condições para começarem a sair do isolamento, da invisibilidade. Segundo Fischer e V. Lousada (2010), uma das tarefas da escola como espaço de aprendizado da democracia seria a partir do pensamento de Paulo Freire: Ouvir os outros não por puro favor, mas por dever, o de respeitá-los, o da tolerância, o do acatamento às decisões tomadas pela maioria a que não falte, contudo o direito de quem diverge de exprimir sua contrariedade (FREIRE, 1997, p. 89, apud FISCHER e LOUSADA, 2010, p. 296). 112 “(Re)ligando os pontos: o papel do educador...” Em sua obra “Pedagogia da Autonomia”, Freire (1996) afirma: Se, na verdade, o sonho que nos anima é democrático e solidário, não é falando aos outros, de cima para baixo, sobretudo, como se fossemos os portadores da verdade a ser transmitida aos demais, que aprendemos a escutar, mas é escutando que aprendemos a falar com eles. Somente quem escuta paciente e criticamente o outro, fala com ele mesmo que, em certas condições, precise falar a ele (...) O educador que escuta aprende a difícil lição de transformar o seu discurso,às vezes necessário,ao aluno,em uma fala com ele (FREIRE,1996, pp.127128). A convivência cotidiana entre professores e alunos propicia a criação de um clima de intimidade. A autora Inês Teixeira (1996) se indaga: E por que são também relações de intimidade? Aqui se observa o gesto e a palavra não programados, enredando professor e aluno numa convivência impregnada de calor humano, de sentimentos e não apenas estabelecida em funções e papéis sociais (TEIXEIRA, 1996, p. 188). A mesma autora complementa: “Na verdade, a proximidade e convivência cotidiana faz surgir uma certa liberdade e acolhimento mútuo entre professores e alunos” (TEIXEIRA, 1996, p. 188). O que queremos destacar é a potencialidade existente na escola para, por meio das relações existentes entre educadores e educandos, propiciarem a quebra do sigilo, do segredo que oprime tantas crianças e adolescentes, bem como a seus familiares, marcados pela violência sexual. Reforçamos aqui o fundamental papel do educador: alguém que poderá ser uma presença efetiva na rede de proteção à criança e ao adolescente, solidário ao enfrentamento à violência infanto-juvenil. A relação professor-aluno é, portanto, uma relação, segundo 113 Entre Redes Teixeira (1996), na qual uma forte marca de envolvimento humano e de afetividade se destaca. Miguel Arroyo (2004) chama a nossa atenção para o dever da gestão e da docência em criar um clima de convívio nas escolas em um contexto no qual “as formas de sociabilidade fora da escola deixam tanto a desejar” (ARROYO, 2004, p. 27). A convivência no espaço escolar é geradora de sentimentos contraditórios, dependendo da postura de vida que assumimos enquanto educadores. São alunos que vão nos tornando ao longo dos anos descrentes ou comprometidos, duros ou humanos defensivos ou surpresos. O convívio tão próximo com os educandos(as) vai nos tornando insensíveis sentenciadores de suas aprendizagens e de suas condutas ou persistentes auscultadores dos mistérios de suas vidas (ARROYO, 2004, p. 64). O mesmo autor completa e nos alerta: Por mais que tentemos reduzir uma criança ou um adolescente a um número da chamada não dá, se revelam humanos (...) Por trás de cada nome que chamamos na lista de chamada se fará presente um nome próprio, uma identidade social, racial, sexual, de idade (ARROYO, 2004, p. 27). Fica evidente a dimensão relacional de nossa prática educativa. Professores e alunos, educadores e educandos: ... pessoas postas em situações que envolvem calor e sentimento humano, seja de bem-estar e bem-querer ou de mal-estar e mal-querer. De aceitação e alegria, ou de recusa e repulsa. De positividade ou negatividade ou tudo isso junto, misturado, variando conforme os contextos. O que se constata, contudo, é que dificilmente haverá frieza ou indiferença de um para como outro (TEIXEIRA, 1996, p. 188). 114 “(Re)ligando os pontos: o papel do educador...” Um dos desafios com o qual a escola se depara é a reinvenção da convivência entre educadores e educandos mergulhados em formas de sociabilidade profundamente desumanas. 5. “O outro lado da moeda”: escola, espaço marcado também pela violência Importante ressaltar que a mesma escola, que poderá propiciar espaços de encontros e convivência geradores de vínculos de confiança, tem sido também espaço de apreensões e medos. Ao invés de deixar sua marca positiva na vida dos sujeitos envolvidos, existe o “outro lado da moeda”, ou seja, a escola gera conflitos que agravam situações de violência. Cabe a nós, profissionais envolvidos com a educação, indagar nos a respeito do significado dessas tensões. O que os conflitos querem nos comunicar? Que gritos são expressos nos atos de violência? Arriscamos a afirmar que, enquanto nós, educadores, não nos abrirmos para captarmos as tensões mais profundas, não sairemos do lugar da descrença, da desistência, da desesperança. Uma das chaves de leitura para um olhar mais cuidadoso a respeito da violência presente na relação professor-aluno, apresentada por Arroyo (2004), é a desconstrução de nossos preconceitos para ceder lugar à construção de um novo olhar sobre os educandos. Remetemo-nos, aqui, aos educadores de maneira geral, incluindo os educadores escolares (diretores, coordenadores e professores) e também aqueles que atuam para além dos muros da escola, os conhecidos educadores populares e/ou educadores sociais. O clima de cumplicidade, solidariedade, companheirismo próprio de uma instituição marcada por encontros diários, conforme já mencionamos ser o caso das escolas, bem como de centros sociais, poderá ser prejudicado, dificultando a construção do elo de confiança. Nós nos perguntamos: como esperar que uma criança ou um adolescente se abra, expresse seu sofrimento, seus medos e angústias a alguém que convive com ele a partir de preconceitos e rótulos – “atrasado”, “ignorante” – e, agora, com o acréscimo 115 Entre Redes de “perigoso” e “violento”? 6. A importância de um novo olhar Ao nos indagarmos a respeito do papel do educador na rede de proteção à criança e ao adolescente, destacamos a importância da construção de um novo olhar. Segundo Arroyo (2004), “a pedagogia é chamada a ser parteira [do] renascer de outra juventude, outra adolescência e outra infância” (ARROYO, 2004, p. 28). Ou seja, nós, educadores, somos convocados a assumir o nosso compromisso com o processo de mudança social. Compromisso que ganha visibilidade ao desconstruirmos nossos olhares estigmatizados e preconceituosos. Desconstrução que ganha concretude a partir de alguns passos, dentre eles destacando-se o cultivo de uma atitude de abertura a querer conhecer melhor os educandos e seus familiares. Urge que nos indaguemos: conhecemos os nossos educandos? Como os vemos? Observamo-los? Paramos para escutá-los efetivamente? Fazemos pausas? Estas são questões que nos auxiliam a ultrapassar a convivência superficial e unificadora a respeito das crianças e adolescentes. Outro passo, visando à construção de um novo olhar, é a convivência com a comunidade, um dos desafios que a escola vivencia em seu cotidiano. Ao contribuir para o fortalecimento dos vínculos entre os diversos atores da rede de proteção, a escola contribui, também, para superar a fragmentação e o isolamento. Dulce Critelli (2004) nos interpela: A nossa violência. De onde ela vem? Ela não é apenas um problema da economia nem só um caso de polícia. Talvez seja o testemunho da falência da nossa ética, dos nossos valores e a vitória do individualismo.(...)Temos acreditado que “cada um é por si”, que “cada qual cuida de sua própria vida”. Que cada um vence sozinho e se desgraça sozinho e não se deve interferir na vida dos outros – ou que “ninguém tem nada a ver com isso (CRITELLI, 2004, p. 2). 116 “(Re)ligando os pontos: o papel do educador...” A mesma autora complementa: A vida moderna é a vida dos homens isolados uns dos outros, que vivem cada vez mais sós e agem solitariamente.Nossa tendência é a de recusar o convívio numa comunidade (...) Esquecemos assim que uma comunidade também nos dá respaldo e proteção. Recusando o convívio numa comunidade, ficamos sem ter a quem recorrer nas necessidades, com quem compartilhar e defender sonhos e princípios (CRITELLI, 2004, p. 2). Ao destacarmos o papel da escola ao se inserir efetivamente na rede de proteção, reafirmamos nossa crença na possibilidade da mudança, a partir de um novo olhar, endossando a afirmação de Critelli (2004): “Não acredito que sejamos agora apenas impotentes e nada mais. Não acredito que tenhamos perdido nossa capacidade de conversar e de fazer acordos” (CRITELLI, 2004, p. 2). Em sua “Carta do direito e do dever de mudar o mundo”, Paulo Freire (2001), ciente da natureza contraditória e processual de toda realidade, afirma que mudar é difícil, mas é possível. Na referida carta, apresenta uma de suas mais lúcidas chaves de leitura, ao esclarecer a diferença entre elementos determinantes e elementos condicionantes. O autor esclarece que “emprestar a um fator condicionante, um poder determinante nos leva a uma posição fatalista diante da qual nada se pode fazer” (FREIRE, 2001, p. 319). Esclarece, também, que “saber-se condicionado e não fatalisticamente submetido a este ou àquele destino abre o caminho [para a] intervenção do homem no mundo” (FREIRE, 2001, p. 320). E complementa: “contrário da intervenção é a adequação, a acomodação ou a pura adaptação à realidade que não é assim contestada” (FREIRE, 2001, p. 320). Um desdobramento também muito fértil do esclarecimento a respeito dos condicionamentos é a concepção da história como possibilidade e não como determinação: Só na história como possibilidade e não como determinação se percebe e se vive a 117 Entre Redes subjetividade em sua dialética relação coma objetividade. É percebendo e vivendo a história como possibilidade que experimento plenamente a capacidade de comparar, de ajuizar, de escolher, de decidir, de romper (FREIRE, 2001, p. 323). A partir da superação de um olhar mecanicista e, portanto, determinista a respeito da natureza humana e da vida em sociedade, adquirimos um novo olhar que reconhece, na espécie humana, sua capacidade única de poder intervir no mundo. “Gosto de ser gente porque, inacabado, sei que sou um ser condicionado, mas consciente do inacabamento, ser que posso ir mais além dele. Esta é a diferença profunda entre o ser condicionado e o ser determinado” (FREIRE, 1996, p. 59). 7. A observação Além de nossa capacidade humana para escutar, há que se fazer bom uso de outro recurso pouco considerado, qual seja, nossa capacidade para observar. Observar pressupõe abertura ao novo, a fim de captarmos gestos, olhares, silêncios, risos que revelam realidades encobertas, negadas, reprimidas. Ferruci (2004) nos desafia: Para ver – ver de verdade –, só precisamos de um instante. Lembro-me da professora de meu filho que, toda manhã, recebe as crianças na porta chamando cada uma pelo nome. (...) Ela não se esquece de nenhum (...) É como dizer: aqui, neste lugar, você conta. Aqui você é alguém (FERRUCI, 2004, pp. 130-131). Conforme mencionamos anteriormente, o silêncio, muitas vezes moldado pelo medo, acompanha a vida de crianças e adolescentes vítimas da violência sexual. Nós, educadores, muitas vezes nos sentimos impotentes, sem vislumbrarmos caminhos para romper com este silêncio causador de sofrimento e angústia. A observação proporciona uma aproximação com a realidade, 118 “(Re)ligando os pontos: o papel do educador...” oferecendo elementos para conhecimento, reflexão, compreensão e intervenção. Porém, ela exige que aprendamos a desenvolver uma sensibilidade, a fim de garantir o respeito ao espaço objetivo e subjetivo que pertence ao “outro” que é observado. A observação possibilita, também, captar de forma mais direta as contradições, as tensões e conflitos, uma vez que a presença do observador se dá no cotidiano, nos momentos em que as interações fluem com mais naturalidade. Cabe lembrar que, no ritmo natural da vida, nós, seres humanos, nos exprimimos com mais transparência, sem a preocupação em mantermos uma “imagem” ideal. Além de ser um rico instrumento para coleta de informações, fonte para um conhecimento da realidade, a observação consiste também em um instrumento que proporciona uma aproximação, um contato entre educadores e educandos. Aliada à escuta, a observação proporciona ao educador o cultivo de sua capacidade de silenciar-se e possibilita que os educandos também se aproximem para conhecê-lo. Muitas vezes, com a melhor das intenções, nós, educadores, nos precipitamos com nossas análises, conclusões, nossos diagnósticos e impedimos que a realidade mais profunda se evidencie. O respeito implica dar às pessoas o espaço que elas merecem. Muitas vezes deixamos de fazer isso. Antes de mais nada, nós julgamos. Como juizes precipitados e cheios de preconceito, chegamos rapidamente a nossas conclusões. Mesmo sem dizer uma palavra, formamos opinião sobre quem quer que esteja diante de nós. (...) E estejamos corretos ou não em nosso julgamento, isso irá interferir em nosso relacionamento com essa pessoa (FIERRUCI, 2004, p. 139). É importante escutar o que as pessoas dizem concomitantemente com a observação de seus sorrisos, seus olhares, seus gestos, sua respiração, um tipo de olhar evasivo, um tempo de respiração mais longo ou mais curto, um silêncio que convida a ir mais longe. Escutar e observar para tentar ultrapassar a superfície da fala, para captar o essencial. Cabe considerar que apenas nos aproximamos da realidade, ou seja, não a esgotamos jamais. Apesar dos esforços e cuidados 119 Entre Redes no sentido de apurarmos nossas “lentes” e demais sentidos, conseguimos captar apenas alguns aspectos da realidade. Os dados observados e escutados são apenas resultado do que nos foi possível captar nas condições objetivas e subjetivas que aquele momento preciso proporcionou. Portanto, nosso conhecimento da realidade é sempre aproximativo. Ainda mais quando se trata do conhecimento a respeito da condição humana. Há sempre algo inacessível e misterioso. Reafirmamos nossa preocupação com a emissão de nossos julgamentos e nossas conclusões. Nas relações humanas há sempre que considerar a dimensão do inacessível e do imprevisível, desafio que nos acompanha e que merece nossa atenção. Ferruci (2004), refletindo sobre a atitude do respeito nas relações humanas, associa à capacidade de olhar e nos alerta: Olhar é um ato subjetivo e criativo. É subjetivo porque muda de acordo com nosso modo de sentir e pensar naquele momento e, segundo nossas experiências e esperanças. E é criativo porque, em vez de deixar as pessoas como elas são,esse mesmo ato as toca e as transforma (FERRUCI, 2004, p. 132). A partir destas reflexões, fica evidente que a capacidade de escutar e observar, rumo à construção de um novo olhar, é um processo que exige por parte de nós, educadores, um contínuo processo de reeducação. 8. Aplicação do conteúdo à prática Reforçamos a importância de você, educador(a), ocupar um lugar efetivo na rede de proteção à criança e ao adolescente, realizando atividades como as que sugerimos a seguir: 1) Educador escolar, ou seja, diretores, coordenadores e professores: - A partir da convivência diária, procure criar momentos de encontros, conversas, brincadeiras, com o objetivo de cultivar o elo de confiança entre você e os educandos (crianças, adolescentes, jovens e adultos), bem como os seus familiares; 120 “(Re)ligando os pontos: o papel do educador...” - Priorize o escutar, expressando aos educandos a sua consideração e o seu respeito; - Que os educandos e seus familiares possam sentir um apoio e uma segurança na escola. Que ela seja sua aliada, seu alicerce, seu porto seguro; - A partir de seu contato diário, procure ser o porta voz junto à rede de proteção, mobilizando os demais atores, parceiros da rede; - Abra as portas de sua escola para reuniões, encontros e festas, criando um clima de convivência solidária. 2) Educadores que atuam em espaços não escolares (conselheiros tutelares, profissionais da área da saúde, assistentes sociais, etc): Sugerimos que vocês se identifiquem enquanto educadores, uma vez que sua presença profissional também proporciona aprendizagens e mudanças tanto subjetivas como objetivas; - Procurem as escolas próximas de sua regional, de seu eixo de atuação, a fim de criarem parcerias, visando ao enfrentamento da violência sexual infanto-juvenil. As escolas poderão ocupar um lugar importante na rede, na medida em que poderão oferecer seu espaço físico propício aos encontros, à convivência, às trocas. Desafiem as escolas a “abrirem suas portas e janelas” para captarem a dinâmica social, política e cultural na qual vocês já se encontram inseridos. A inter-relação entre a escola e comunidade consiste em um dos motores que mobiliza a rede rumo ao enfrentamento da violência sexual infanto-juvenil. Dulce Critelli nos (2004) alerta: Somos convocados pelo futuro para realizar coisas que ainda não são ou que queremos realizar outra vez. (...) Estamos irremediavelmente comprometidos com a constante criação do mundo. E é isso o que nos distingue dos animais, dos anjos, de quaisquer outras criaturas. Queiramos ou não, o mundo está sob nossa guarda. Para isso fomos criados (CRITELLI, 2004, p. 2). 121 Entre Redes Arroyo (2004) nos desafia, estimulando a abertura da escola às práticas educativas não escolares: Como coordenadores e pedagogos de ofício, o que podemos aprender com [a] pluralidade de ações pedagógicas que acontecem perto de nós, das escolas? O que podemos aprender com as famílias populares na humanização de seus filhos? O que podemos aprender com os educadores e educadoras envolvidos(as) na recuperação da infância roubada? (...) Por que não articular as práticas educativas escolares com essas práticas? (ARROYO, 2004, p. 250). Arroyo (2004) conclui, indagando: “por que não deixar que nos contaminem e aprender juntos uma arte e um saber-fazer que nos são comuns?” (ARROYO, 2004, p. 251). Como mensagem final: uma das contribuições de um trabalho em rede está situada na possibilidade de trocas, nas quais educadores poderão aprender uns com os outros, além de se apoiarem mutuamente. Considerações finais A partir das reflexões apresentadas neste texto, focando o papel do educador na rede de proteção à criança e ao adolescente, fica evidente a complexidade do fenômeno a ser enfrentado e a responsabilidade de cada ator envolvido na rede. Jurandir F. Costa (2004) nos alerta: “O que cada um de nós faz ou diz importa, e importa muito! O mundo se faz de pequenos gestos cotidianos e das grandes crenças que os sustentam” (COSTA, 2004, p. 88). A constatação de que nosso conhecimento e nossa compreensão da realidade são sempre aproximativos nos leva a cultivar uma atitude mais cautelosa ainda, antes de julgarmos os comportamentos humanos. Outra aprendizagem nos remete a fazer bom uso de nossas potencialidades humanas, como é o caso de nossa capacidade de escuta e de observação. Algo a ser cultivado no dia-a-dia. Capacidades essencialmente humanas que poderão significar ins122 “(Re)ligando os pontos: o papel do educador...” trumentos poderosos na construção de um novo olhar a respeito dos educandos e seus familiares pertencentes às camadas populares. A partir desse alicerce, poderemos vislumbrar a construção de ações efetivas de enfrentamento à violência sexual infantojuvenil, questão que tanto nos aflige e angustia! Por fim, um alento e um alerta: conforme abordamos neste texto, a escola carrega consigo um potencial muito rico no sentido de propiciar uma convivência diária e prolongada, condição essencial para criação do vínculo de confiança. Porém, importa lembrarmo-nos sempre do cuidado a ser dedicado às revelações, às quebras dos sigilos e silêncios por parte das crianças, adolescentes e seus familiares, pois estes constituem conteúdos de caráter muito pessoal. Cautela, calma, paciência e persistência são elementos-chave que precisarão nos acompanhar. Outro elemento importante a ser lembrado é a dimensão do trabalho realizado em rede. Na medida em que tanto a escola como as demais instituições agirem contando com o apoio, a presença umas das outras, o sentimento da solidariedade contribuirá no fortalecimento dos vínculos. Sempre lembrando que tudo isso constitui um processo lento, com avanços e retrocessos e que, portanto, exigirá tempo e paciência. Remontando a Jurandir F. Costa (2004): “toda mudança para ser estável, duradoura e produtiva, tem ser contínua e lenta. (...) Portanto, a paciência e a persistência são as melhores armas para as mudanças responsáveis e humanamente frutíferas” (COSTA, 2004, p. 87). Finalizo este texto convidando você, educador(a), a prosseguir sua jornada, fortalecido(a) pela autovalorização relativa à profissão escolhida: a de educador(a). Pode ter certeza de que seus gestos, suas atitudes e seus olhares de acolhida, bem como o seu respeito poderão ser pontes a criar vínculos, a marcar uma presença significativa no interior de uma rede que merecerá o nome que a acompanha: rede de proteção à criança e ao adolescente. Proteção não como sinônimo de fragilização, pelo contrário, sinônimo de fortalecimento com vistas ao enfrentamento de tantas violências, dentre elas a violência sexual infanto-juvenil! 123 Entre Redes Referências bibliográficas ALVES, Rubem. O amor que acendeu a lua. Campinas: Papirus, 2003. ARROYO, Miguel G. Imagens Quebradas. Trajetórias e tempos de alunos e mestres. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 2004. CRITELLI, Dulce. O nosso poder de cada dia. In.: Equilíbrio, Folha de São Paulo, 29 de janeiro de 2004. _________. Ainda quero a vida cor-de-rosa. In.: Equilíbrio, Folha de São Paulo, 27 de novembro de 2003. FERNANDES, Cleoni. Confiança. Verbete, In.: STRECK, Da Danilo R.; REDIN, Euclides e ZITKOSKI, Jaime José (orgs.). Dicionário Paulo Freire. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2010. FREIRE, Paulo. Carta do direito e do dever de mudar o mundo. In.: Paulo Freire. Vida e Obra (org.). São Paulo: Expressão Popular, 2001. _____________. Pedagogia da autonomia. São Paulo: Paz e Terra, 1996. JORGE, Liliane dos Santos. Educador e Educando: a dimensão relacional da educação em experiências positivas na escolarização de adolescentes. (Tese de Doutorado) Belo Horizonte, FAE/UFMG, 2007. MOREIRA, Carlos Eduardo. Emancipação. Verbete, In.: STRECK, Danilo R.; REDIN, Euclides e ZITKOSKI, Jaime José (orgs.). Dicionário Paulo Freire. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2010. PALUDO, Conceição. Educação Popular. Verbete, In.: STRECK, Danilo R.; REDIN, Euclides e ZITKOSKI, Jaime José (orgs.). Dicionário Paulo Freire. , 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2010. SARTI, Cynthia A. Família e jovens. No horizonte das ações. Revista Brasileira de Educação, n. 11, 1999, p. 99-109. TEIXEIRA, Inês Castro. Os professores como sujeitos sócio124 “(Re)ligando os pontos: o papel do educador...” culturais. In.: DAYRELL, Juarez (org.). Múltiplos olhares sobre a educação e cultura. Belo Horizonte: UFMG, 1996. ZITKOSKI, Jaime José. Diálogo/Dialogicidade – Verbete, In: STRECK, Danilo R.; REDIN, Euclides e ZITKOSKI, Jaime José (orgs.). Dicionário Paulo Freire. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2010. Bibliografia complementar BRANDÃO, Carlos Rodrigues. A educação popular 40 anos depois. In.: BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Educação popular na escola cidadã. Petrópolis: Vozes, 2002. CHAUÍ, Marilena. Conformismo e resistência: aspectos da cultura popular no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1993. COSTA, Jurandir Freire. Entrevista concedida a José Geraldo Couto. In.: Quatro autores em busca do Brasil. Rio de Janeiro: Rocco, 2000. DAYRELL, Juarez. A escola como espaço sociocultural. In.: DAYRELL, Juarez. Múltiplos olhares sobre educação e cultura. Belo Horizonte: UFMG, 1996. DAYRELL, Juarez. O jovem como sujeito social. Revista Brasileira de Educação. n. 24. São Paulo: Autores Associados, set./dez., 2003. FREIRE, Paulo. Pedagogia da Indignação. São Paulo: Unesp, 2000. GIOVANETTI, Maria Amélia G. C. A formação de educadores de EJA: o legado de educação popular In.: SOARES, Leôncio et al (orgs.). Diálogos na Educação de Jovens e Adultos. Belo Horizonte: Autêntica, 2005. MARTINS, José de Souza. O falso problema da exclusão e o problema social da inclusão marginal. In.: MARTINS, José de Souza. Exclusão social e a nova desigualdade. São Paulo: Paulus, 1997. 125 Eliane Castro Vilassanti Violência na escola e da escola Eliane Castro Vilassanti Mestre em Filosofia e doutoranda em Educação pela UFMG. Professora de História, Antropologia e Filosofia do Centro Universitário UNA e professora da Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte (MG). Entre Redes 1.Este é um conceito sociológico, cujo sentido geral pode ser tomado como “desenvolvimento da consciência social e do espírito de solidariedade e cooperação nos indivíduos de uma sociedade” (Dicionário da Língua portuguesa Larousse Cultural, 1992), mas exige aprofundamento teórico adequado e será retomado linhas abaixo. 1. Introdução Neste capítulo vamos abordar as diferentes manifestações, nos dias de hoje, da(s) violência(s) no ambiente escolar, retomando questões contextuais e históricas que contribuíram, e ainda contribuem, para a constituição do quadro atual. Além disso, buscaremos demarcar os limites, as diferenças e as interfaces entre a violência ocorrida no ambiente escolar – violência na escola - e aquela que é gerada por este ambiente – violência da escola, destacando as complexas relações que tornam alunos, educadores, infraestrutura e demais profissionais ora vítimas, ora agressores. Contudo, antes de tratarmos do tema em foco, é necessário delinear algumas definições sobre esta instituição social que é a escola. A escola pública é uma instituição social recente, estreitamente vinculada à modernidade. Presente no ideário iluminista, dos séculos XVII e XVIII, ela se torna instituição importante na socialização1 dos indivíduos, bem como no acesso à cidadania das sociedades modernas. A escola passa a ser o meio de acesso a uma construção cultural moderna em torno da ciência e da técnica, que possibilitou novos patamares de apreensão e compreensão das relações sociais, dos bens culturais e econômicos e dos saberes produzidos por uma sociedade culturalmente caracterizada pelo uso crescente de recursos letrados. Desde a sua criação, a escola é vista como meio de oportunizar acesso a esses bens culturais produzidos pela sociedade, mesmo que também exerça papel ideológico frente aos interesses de classe sociais, de gênero e de raça/etnia, a partir do qual sempre buscou homogeneizar as expressões das subjetividades e as interações entre os sujeitos, especialmente por meio da definição de papéis sociais, modos de ser e de condutas esperadas, ritmos de aprendizagem, etc. As representações sobre infância juventude, na modernidade, sempre mantiveram uma estreita relação com a instituição escolar, pois esta instituição participa dos ideais da consolidação do Estado, no contexto da constituição de cidadãos integrados ao projeto de sociedade moderna (DUBET,1994; 2000). Assim, a socialização, na modernidade ocidental, sempre foi caracterizada por forte presença de duas instâncias sociais: a família e a escola, sendo instâncias potencialmente parceiras na proteção e promoção da infância e da juventude em sua vivência como etapas importantes na constituição dos sujeitos 128 “Violência na escola e da escola” sociais. O ideário de papéis sociais das instituições (família, escola, sociedade, etc.) e sujeitos (aluno, professor, pais, etc.) está, na contemporaneidade, recebendo novas configurações e definições. No entanto, à escola cabe, ainda, este papel de educação no sentido amplo: socialização e acesso aos bens culturais e científicos, essencialmente letrado. Ao longo da história do século XX fomos adquirindo maior acesso da população sobre a escola, tanto no Brasil quanto no mundo. No entanto, a escolarização, enquanto um direito social, significa mais do que a universalização do acesso. É fato que, nos últimos anos, devido ao amplo crescimento da oferta do número de vagas, sobretudo na educação básica, a sociedade brasileira encontra-se muito mais avançada na garantia do acesso à escolarização de crianças e jovens. Mas o direito à educação também implica a garantia de condições dignas de permanência, com qualidade, na instituição escolar e a participação ativa da comunidade escolar nos debates educacionais. Contudo, transformações sociais recentes vêm revelando, além disso, novas expectativas quanto ao papel da escola e uma nova relação dessa instituição com a construção das identidades/subjetividades da infância e da juventude. Esse novo papel social da escola enfrenta, dentre tantos desafios, o difícil deslocamento de um olhar sobre os alunos não mais como objetos do fazer pedagógico, mas agora como sujeitos de direitos. Além disso, a escola vem sendo substituída como lugar privilegiado de acesso aos bens culturais, tanto pela mídia quanto pelas diversas instâncias sociais de aprendizagens extra-escolares. Nesse sentido, vale questionar como crianças e os jovens vivenciam, hoje, a escolarização e qual é o papel que a escola vem desempenhando na socialização dessas subjetividades em formação. Estamos cumprindo efetivamente esse papel de formação que possibilite o pleno desenvolvimento do ser humano? O acesso e a qualidade da educação escolar são garantidos como um direito a todos? Apesar dos avanços quanto ao acesso à escolarização, temos vivenciado, crescentemente, o tema violência na e da escola como um tema recorrente, seja por manchetes veiculadas pela mídia, seja pelos profissionais da educação, seja ainda pelos agentes da rede de proteção às crianças e jovens, ou mesmo por meio de registros dos próprios adolescentes e jovens, ou pelos registros dos agentes de segurança pública. O tema “violência na e da 129 Entre Redes escola” está relacionado ao modo como os sujeitos da comunidade escolar se relacionam. As relações sociais estabelecidas no ambiente escolar são um campo complexo, com várias dimensões possíveis de análise, sendo que a relação professor-aluno é predominante. Essas relações sociais na escola foram tratadas, ao longo da produção acadêmica e pedagógica, por uma série de conceitos, tais como disciplina, indisciplina, relação pedagógica e, mais recentemente, pelos conceitos de violência escolar, bulling na escola, “zoação”, dentre outros. O uso dessa gama de termos parece revelar não só formas representacionais e históricas de tratamento do tema, mas as várias dimensões desse campo de pesquisa e intervenção. Porém, o que é a violência na escola? O que é violência da escola? Como distinguir esses campos de conflito com o lugar da socialização, próprio de processos educativos? Como agir sobre esses limites entre a socialização/formação e os contextos que levam a relações de violência? Qual o papel da escola na construção de uma cultura de paz e no enfrentamento à violência infanto-juvenil? 2. Tratamento conceitual da violência escolar A escola, como instituição inserida na sociedade, não está isenta de sofrer reflexos da violência, bem como de produzir um tipo específico de violência: a violência escolar. Vários autores vêm tratando da complexidade desse fenômeno (DEBARBIEUX, 1997; CHARLOT, 1997; CANDAU, 1999; ABRAMOVAY, 2002; SPOSITO, 1998; GUIMARÃES, 1998) que deve ser analisado sob vários aspectos: violência da escola, violência na escola, violência sobre a escola. Neste texto abordaremos somente as duas primeiras dimensões desse conceito. O tratamento conceitual da violência escolar é uma das primeiras dificuldades apontadas na literatura acadêmica, pois diz respeito ao caráter subjetivo e, por conseqüência, polissêmico do conceito de violência. Para Debarbieux (1997), por exemplo, a análise do fenômeno da violência passa por divergências consideráveis entre os pesquisadores, sendo que ele apresenta a seguinte sistematização dos atuais modelos teóricos franceses: Primeiro modelo: a violência era bem mais importante nas sociedades antigas, o sentimento de insegurança que acredita-se nas 130 “Violência na escola e da escola” sociedades contemporâneas melhor protegidas é injustificável, fantasiosa, dito de outro modo, não há relação direta entre sentimento de insegurança e vitimização, temos medo de uma violência que tende a desaparecer. O segundo modelo: houve um crescimento da violência nas últimas décadas e é necessário estabelecer uma relação direta entre risco, vitimização e insegurança. O que pode nos ensinar a história não é tanto ‘crescimento’ ou ‘desaparecimento’ da violência senão a variabilidade de seu definição através das épocas. Em outros termos: não está errado termos medo, mas não se trata da mesma violência (DEBARBIEUX, 1997, p. 28). Desse modo, a definição sobre o que é violência envolve não só os fatos violentos, quantificáveis pelos pesquisadores, mas também envolve a percepção da violência, apoiada nos relatos dos sujeitos envolvidos, reveladores tanto do sentimento de (in) segurança, quanto pelo fenômeno da vitimização. Além disso, o autor evidencia que, embora o fenômeno da violência não seja atual, ele possui caráter específico na contemporaneidade, sendo que seus contornos conceituais dependem de traços culturais e históricos que envolvem as relações objetivas e simbólicas entre os sujeitos. O caráter polissêmico do conceito, segundo Debarbieux (1997), resulta, especialmente, da multiplicidade dos modos de percepção dos diversos sujeitos envolvidos, pois em um mesmo lugar os sujeitos que confrontam os mesmos fatos podem não interpretar da mesma maneira e que não verão o mesmo nível de violência. Por outro lado, Sposito (1998), por exemplo, ao tematizar a violência escolar, recorre ao seguinte conceito geral: “violência é todo ato que implica a ruptura de um nexo social pelo uso da força. Nega-se, assim, a possibilidade da relação social que se instala pela comunicação, pelo uso da palavra, pelo diálogo e pelo conflito” (SPOSITO, 1998, p.3). Com este conceito, a questão é focada o âmbito das interações sociais, em sua qualidade e forma, sendo que a violência escolar é a anulação da possibilidade de diálogo como mediação por excelência. Assim, as análises sobre o fenômeno da violência escolar devem tratar dessa complexidade que é a interação humana, sendo que 131 Entre Redes uma separação radical do que é “violência objetiva” frente aos “sentimentos de vitimização e insegurança” parece ser um caminho teórico problemático (Debarbieux, 1997). Do mesmo modo, Charlot (1997) se refere à dificuldade em definir violência escolar, não somente porque esta remete aos fenômenos heterogêneos, difíceis de delimitar e de ordenar, mas também porque desestrutura “as representações sociais que têm valor fundador: aquela da infância (inocência), a da escola (refúgio da paz) e da própria sociedade (pacificada no regime democrático)” (CHARLOT, 1997, p. 1). Portanto, o que parece ser desconcertante é a constatação de que a escola não seria mais representada como lugar seguro de interação social, de socialização e um espaço protegido. Ao contrário, tornou-se ambiente de ocorrências violentas, que colocam em xeque a função social da escola como lugar de conhecimento, de formação humana e instituição, por excelência, do exercício e aprendizagem da ética e da cidadania. Debarbieux (1997), ao buscar a história da violência escolar na França, demonstra que esta inicialmente apresentou-se enquanto violência dos adultos sobre a infância e juventude através não só dos castigos corporais como método de ensino, mas quanto à concepção de infância como uma fase irracional que exigia procedimento de controle social forte, visando à conformação de um ser humano ideal. Para ele, “a lição essencial da história poderia bem ser a do sentido da violência em educação, sendo a variabilidade correlacionada às representações da infância e de educação” (DEBARBIEUX, 1997, p. 32), de modo que o olhar histórico sobre os fatos em torno do que é violência em meio escolar aponta para a diversidade de apreensão destes fatos a partir das representações neles envolvidos. Para ele, “histórica e culturalmente, a violência é uma noção relativa, dependente dos códigos sociais, jurídicos e políticos de época e lugares onde ela toma sentido” (ibid., p. 35). Além disso, para este autor: O que definimos por ‘bem’, ‘infância’, ‘educação’ e ‘violência’ são representações sociais ancoradas em uma história e um pertencimento social. /.../ Uma representação social (Jodelet, 1991) depende, entre outras dimensões, da situação dos sujeitos que a produz. Denise Jodelet propõe diversas dimensões para essa situação, dentre essas as dimensões sociais, coletivas e psicológicas (ibid., p. 37). 132 “Violência na escola e da escola” Assim, a violência escolar não se restringe a um campo conceitual ou jurídico, mas adquire uma “realidade” a partir da “experiência social” (DUBET, 1994) dos sujeitos frente às ocorrências e fatos, pois “a verdade de um fenômeno social resulta do sentido que dão os sujeitos a esses eventos e aos atos” (DEBARBIEUX, 1997, p. 39). Portanto, conforme esse referencial teórico e metodológico, devemos privilegiar os discursos dos atores sociais sobre o sentido dos fatos e da qualidade das interações no ambiente escolar, deixando de lado conceitos a priori e universais, bem como soluções generalistas. 2.Incivilidade: quebra do pacto social de relações humanas e de regras de convivência (ABRAMOVAY, 2002), dimensão que será tratada linhas abaixo. Porém, quais os fatos, sujeitos e processos podem caracterizar como de violência escolar? Como podemos mapear esse fenômeno para atuar sobre ele? Como distinguir violência na e da escola? Como atuar sobre essas distinções? 3. Concretizando o fenômeno da violência escolar Como vimos anteriormente, o conceito violência está diretamente ligado ao sistema de sentidos e significados de uma pessoa, dos grupos sociais e culturais, ou ainda de uma sociedade, pois são esses sistemas simbólicos que configuram o modo como os fatos são percebidos. No entanto, é possível dar concretude ao que é ou não é violência, bem como definir certa tipologia, a partir do qual podemos identificar as diversas manifestações da violência: a física, a emocional, sexual, social, etc. De acordo com Debarbieux (1997), quanto à violência e a insegurança em meio escolar, podemos considerar: 1) os crimes e delitos que dão lugar aos furtos, roubos, assaltos, extorsões, tráfico e consumo de drogas, etc., conforme qualificados pelo código penal; 2) as incivilidades2, sobretudo conforme definidas pelos atores sociais; e 3) sentimento de insegurança, ou sobretudo aqui o que denominamos ‘sentimento de violência’ resultante dos dois componentes precedentes, mas também oriundo de um sentimento mais geral nos diversos meios sociais de referência (ibid., p. 42). Este autor propõe o uso do conceito de “clima social escolar” 133 Entre Redes 3.BLAYA, C. Clima escolar e Violência nos Sistemas de Ensino Secundário da França e da Inglaterra. In: DERBARBIEUX, E.; BLAYA, C. (orgs.) Violências nas Escolas e Políticas Públicas. Brasília: Unesco, 2002, p. 226. como conceito mais apropriado para a adequada aproximação desse complexo de elementos que configuram o problema da violência em meio escolar. Segundo Blaya apud Derbarbieux (2002), este conceito significa a qualidade geral das relações e interações entre os diferentes atores da escola.3 Desta forma, esclarecemos a opção em ancorar nossa reflexão acadêmica4sobre violência escolar nesse instrumental teórico e metodológico se justifica no pressuposto de que, em nossa pesquisa, bem como no adequado enfrentamento do tema em foco, 4.Minha pesquisa de doutorado cujo tema é “Representações da escola pública e a configuração do Clima Social Escolar”, Faculdade de Educação/ UFMG (2007-2011). trata-se de saber, na situação de mais variáveis possíveis, se os estudantes e adultos percebem a violência, qual o grau de intensidade dessa violência percebida, quais são os tipos de violência observados. Ao comparar essas representações e percepções dentre um número suficiente de estabelecimentos, nós poderemos assim do ponto de vista da pesquisa: recolher as definições a violência relativas aos diferentes terrenos /.../ ou aos diferentes status dos atores (DEBARBIEUX, 1997, p. 62). 5.Informações disponíveis no site do CRISP: <http://www. crisp.ufmg.br> De modo que devemos procurar, conforme esse referencial teórico e metodológico, compreender o clima social escolar, por meio destas três dimensões: 1. violência, através dos registros e ocorrências de crimes e delitos praticados no interior e no entorno das escolas, conforme a legislação em vigor; 2. as incivilidades ou indisciplinas, conforme as normas e regras de convivência de uma escola e de um sistema de ensino; 3. o sentimento de (in)segurança, que pode ser apreendido por meio de metodologias diversas: survey, grupos focais, etc. Os diagnósticos quantitativos sobre as relações entre violência e escola nas Redes Públicas estão vinculados especialmente aos dados da Polícia Militar e das Guardas Municipais, por meio dos boletins de ocorrências (BO e BI) realizados por programas específicos de atendimento às escolas, por exemplo: patrulha escolar, anjos da escola, guarda municipal na escola, etc. Além disso, as pesquisas realizadas por Instituições acadêmicas e órgãos governamentais e não-governamentais – como, por exemplo, o CRISP5 - Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública, órgão ligado à UFMG-, têm ampliado os indicadores para o enfoque da percepção de violência em meio escolar, isto é, a partir de surveys que privilegiem as definições dos atores 134 “Violência na escola e da escola” sociais tanto sobre a incivilidade quanto ao sentimento de (in) segurança. Por meio desses dados e pesquisas poderemos caracterizar as principais modalidades que vêm sendo registradas no ambiente escolar: 1. ações contra o patrimônio: pichações, depredações, furtos; 2. ações contra a pessoa: diversas formas de agressão, sobretudo entre os próprios alunos, seja por brigas (via de fatos), por insultos e ameaças, além do estouro de artefatos, uso de drogas, porte de arma de fogo, dentre outros. 6.Dicionário da Língua portuguesa Larousse Cultural, 1992 Sobre a dimensão de incivilidade, temos que esclarecer que esse é um conceito acadêmico que trata, conforme definição de dicionário6 da falta de civilidade, indelicadeza, descortesia ou, ainda, por civilidade compreende-se das boas maneiras em sociedade, como cortesia, urbanidade, polidez. Abramovay (2002), por exemplo, define incivilidade como a quebra do pacto social de relações humanas e de regras de convivência. Então, o que está em foco, nessa dimensão tematizada por Debarbieux (1997), é sociabilidade, bem como a socialização, além dos instrumentos e instituições que garantam um nível adequado de convivência social. As questões em torno da sociabilidade e da socialização são conceitos sociológicos e foram tratados por modos diversos de representações pelas diferentes linhas do pensamento sociológico. Tanto a sociabilidade como a socialização são eventos próprios da interação humana, com contornos culturais, históricos e institucionais mutáveis. Além disso, as interações humanas são movidas ora pela cooperação, ora pela competição, bem como por relações de poder. As regras, normas e leis são modos de garantir o equilíbrio entre os interesses particulares e os interesses coletivos, bem como garantir o convívio social adequado, dentro de um contexto de relações de poder, de instituições sociais e da mediação do Estado. As interações sociais entre sujeitos, entre grupos e entre sociedades são estruturadas a partir de elementos constituídos e reconstruídos por processos humanos, possuindo uma historicidade. A educação escolar é uma instituição socializadora, pois parte de suas funções sociais é de integrar os indivíduos a complexos processos sociais, culturais, de valores morais, cognitivos, etc. Como vimos na introdução, na modernidade a escola passa a ter um papel importante nesse processo de socialização, de constituição dos sujeitos sociais. As regras e normas escolares são construções históricas e culturais e passam por mutações como ocorre, também, em relação às regras e normas sociais. No entanto, no interior da escola estas regras e normas foram organi135 Entre Redes zadas, desde o inicio da escola, por meio da disciplina escolar, com forte papel de integração do sujeito ao sistema, conforme a sociologia clássica (DUBET, 1994), de modo que o tratamento da socialização e das relações sociais na escola, historicamente, estiveram vinculadas ao conceito de disciplina escolar, em que os papéis de professor e aluno foram construídos no interior da cultura escolar. Esses papéis sociais, e o contorno dos potenciais conflitos existentes no ambiente escolar, foram sempre tratados no Regimento Escolar, que normatizava os diversos aspectos do funcionamento da escola (SOUZA, 2008). A história da construção e normatização das condutas na escola possuiu, até recentemente, mais elementos de continuidade do que de ruptura. Nesse contexto, a normatização das condutas esteve inserida no discurso de construção da cidadania, entendida como processo civilizatório, dirigido pelo Estado, que tornasse os indivíduos aptos à convivência social, sob os contornos da modernidade (CARVALHO, 1989; LOPES & FARIA FILHO, 2000; NOGUEIRA, 2006). Na história da educação brasileira, verificase que, até recentemente, havia um pacto social e cultural para os pequenos e grandes significados das interações sociais entre os sujeitos da escola, regulamentado pelo Estado, através do Regimento Escolar (SOUZA, 2008). Parte do que se constitui a violência da escola está diretamente ligado a esse processo de normatização de condutas, como veremos adiante. Hoje, a partir da Constituição de 1988 e do Estatuto da Criança e do Adolescente, a escola sofre mudanças significativas na regulação de suas relações sociais, muitas vezes ainda não concretizadas na forma de um Novo Regimento Escolar. As inovações, quanto a concepções do social, especialmente os avanços ligados à noção das crianças e jovens como sujeitos de direito e da educação como direito subjetivo, presentes nesses dois marcos regulatórios da sociedade brasileira, não foram incorporados, em sua totalidade, na vida cotidiana da comunidade escolar, muito menos em um instrumento regulatório das relações entre os sujeitos da escola que se assemelhasse ao antigo Regimento Escolar. Para o que nos interessa aqui, quando tratamos de entender o clima social escolar é necessário, também, verificar como esses processos regulatórios, formais ou informais, estão sendo efetivados no sentido de aplicação da lei, especialmente na compreensão da natureza do processo de socialização que a escola está desenvolvendo, pois esta socialização pode ser ou um fator 136 “Violência na escola e da escola” de prevenção ou de agravamento das relações entre os sujeitos da escola. Isso significa verificar como está sendo desenvolvida a disciplina escolar e como, através da vivência das regras e normas escolares, as crianças e jovens estão desenvolvendo suas experiências de sociabilidade e de socialização e, em última instância, se estamos desenvolvendo ou a cultura da violência ou a cultura de paz. Além disso, podemos questionar: como a disciplina escolar favorecer ou dificulta o sentimento de (in) segurança? Que ambiente acadêmico está sendo desenvolvido em favor dos processos educativos e de aprendizagem cognitiva e social? É necessário, antes de tudo, desenvolver um modo mais compartilhado de definição dessas regras e normas de convivência não só com os familiares, mas também com os próprios alunos. Essa dimensão deve ser pensada tanto pelo sistema de ensino como também pela comunidade escolar. Isso porque vários autores (ARROYO, 2005; CHARLOT, 2001; DEBARBIEUX, 1997) defendem que a escola passe a ser um espaço de reconhecimento recíproco, em que ocorra não só o acolhimento, como também o diálogo entre adultos e crianças, adolescentes e jovens, enquanto sujeitos de direitos, em busca de uma educação pública de qualidade e democrática. Talvez seja esse o primeiro elemento do caminho de intervenção e superação de fatos que podem contribuir para a violência na e da escola. É possível acompanhar e sistematizar os registros e ocorrências realizadas pela escola, bem como verificar as soluções coletivas construídas em favor de uma socialização contra a violência, em especial contra a violência sofrida por crianças e jovens. Também é possível desenvolver pesquisas para determinar como essas regras e normas estão funcionando e como elas estão ou não interferindo no sentimento de (in)segurança de crianças, jovens e adultos no ambiente escolar. O modo de monitorar a dimensão das relações sociais na escola ainda se efetiva através dos livros de ocorrências das coordenações pedagógicas, no entanto é preciso um modelo de monitoramento estratégico, a ser efetivado pelos sistemas de ensino, que busque, com esses dados, construir políticas públicas adequadas para essa dimensão das relações entre os sujeitos da escola. O sentimento de (in)segurança está diretamente ligado às duas primeiras dimensões, pois está na dependência de haver ou não um bom clima social escolar. Tal dimensão pode ser medida e 137 Entre Redes 7.Adaptação de “Caracterización de la Violencia” In: GEM(Grupo de Educación Popular com Mujeres). Contra la violencia, eduquemos para a paz. México: GEM, 2003, p. 14. monitorada através de pesquisas de opinião sobre o clima social escolar, bem como através de grupos focais e entrevistas individuais. É na compreensão do clima social escolar que podemos construir intervenções coletivas e pedagógicas para o enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes em ambiente escolar e fora dele. Essa compreensão exige metodologia adequada, superando rótulos e simplificações. Nesse sentido, apresentamos uma tipologia própria do ambiente escolar7, a partir do quadro abaixo: Violência em ambiente escolar Sujeitos envolvidos: Tipo de violência: Formas de expressão Violência entre alunos Física Bater, empurrar, beliscar, cortar, etc. Violência partindo de aluno Emocional para professor Insultar, ameaçar, chantagear, gritar, depreciar, etc. Violência partindo de profes- Pela omissão sor para aluno Negligenciar, Restringir, ignorar, excluir, negar, etc. Violência partindo da escola Sexual para a família Menosprezar, vio lar, obrigar, rechaçar, etc. Violência partindo da família Social para a escola Discriminar, negar oportunidades, excluir, etc. Ainda podemos caracterizar o fenômeno da violência escolar através das seguintes dimensões: a- O modo como é promovida: de maneira individual (um agressor conta uma ou mais vítima); de maneira grupal (vários agressores contra uma ou mais vítimas) ou ainda por meio de multivitimização (sentimento de violência ou violência de fato que atinge múltiplos sujeitos); b- O local da ocorrência: dentro da escola: pátio/ corredores/ banheiros/ sala de aula; fora da escola: horário da entrada, da 138 “Violência na escola e da escola” saída, no trajeto até a residência. Do ponto de vista de delinear possíveis nexos causais que expliquem a violência escolar, pesquisas revelam que os alunos reconheciam que fatores como a desordem e a ausência de controle disciplinar exercidos pela escola sobre o seu público favorecia eventos violentos. Por outro lado, há pesquisadores que compartilham da idéia de que a violência e a criminalidade estão associadas ao fenômeno da urbanização acelerada e da desigualdade social, o que acabaria por transformar ambientes pobres em violentos, sendo a escola um dos lugares de manifestação desta violência socialmente determinada. Outras pesquisas, ainda, procuram verificar, por meio de survey, o nível de medo presente no cotidiano escolar e até que ponto este medo provocaria queda de rendimento escolar, trazendo conseqüências para a qualidade do aprendizado. Tais estudos revelam que a violência interfere na sensação de segurança do aluno e, portanto, no seu aprendizado, de acordo com o que podemos afirmar o caráter multicausal da violência escolar, a partir do qual podemos buscar não só construir uma tipologia dessas causalidades, mas também, ao diferenciar o que é eminentemente do ambiente escolar e o que está ligado ao entorno social e cultural da escola, determinar os elementos que compõem o clima social escolar e como estes participam dos chamados fatores associados ao desempenho escolar. Para caracterizar essa multicausalidade podemos apontar os seguintes grupos de causas da violência escolar: presença de elementos proibidos por lei (armas, drogas, furto, etc.); conflitos sem mediação do diálogo entre membros da instituição (alunos, professores, funcionários, pais); ameaças pessoais (extorsão, insultos); regras difusas e punições injustas; falta de respeito entre os sujeitos; falta de disciplina por parte dos alunos; resultados acadêmicos fracos; falta de apoio da rede social sobre o dever implícito dos profissionais da educação em lidar com problemas sociais e familiares dos alunos; falta de projeto político-pedagógico voltado às demandas das crianças, jovens e da comunidade escolar; falta de trabalho coletivo na escola; falta de valorização dos profissionais da escola; falta de formação continuada e em serviço, dentre outros. A partir disso, é possível compreender os elementos específicos que estão configurando ambientes escolares seguros e acolhedores, ou ainda aqueles elementos que podem configurar am139 Entre Redes bientes escolares propícios para a eclosão de eventos de violência na e da escola. Entretanto, nesse processo de compreensão visando à intervenção sobre o problema, como distinguir o que é violência da escola e o que é violência na escola? Como essa distinção contribui para aprofundarmos a compreensão do fenômeno da violência escolar? 4. Distinguindo violência da escola e na escola Diversos trabalhos tomam a interação entre os sujeitos da escola como um fator explicativo para o fenômeno da violência escolar (GUIMARÃES, 1996; AQUINO, 1996); LANTERMAN, 2000); ABRAMOVAY, 2002), verificandose que a questão de violência nas escolas passa muito mais pela figura do professor por meio de sua ação educativa. É possível reconhecer certa tipologia de vínculos construídos na relação professor-aluno sem cair na classificação dualista entre bons e maus educadores? Que representações de escola, especialmente de sua função socializadora, orientam a construção desses vínculos diferenciados? Abramovay (2002), após pesquisa realizada em diversas escolas brasileiras, relaciona um conjunto de habilidades, na relação educativa, que seriam tomadas como fator de proteção para ambientes propícios à violência escolar. Segundo ela, foram localizadas como razões pelas quais os alunos estudam em determinadas escolas as seguintes: Habilidades dos profissionais da educação: respeita as diferenças sociais, instiga o interesse do aluno em aula, incentiva a continuidade do estudo, preocupa-se com o desempenho do aluno, dá bons conselhos, sabe dosar os momentos de brincadeiras e os de seriedade, oportuniza o diálogo com os alunos, sabe lidar com adolescentes, dá liberdade para os alunos se expressarem, não se restringe a falar apenas do conteúdo didático, dentre outras. (ABRAMOVAY, 2002, p. 175177). Por outro lado, Lanterman (2000) apresenta, como resultado de sua pesquisa realizada em escolas de Florianópolis, a identificação de vínculos pouco saudáveis relacionados à atitude do 140 “Violência na escola e da escola” profissional da educação: São aqueles que ‘não sabem conversar’, ‘não explicam, vêm logo xingando’, ‘dão muita importância aos bagunceiros’, ‘as aulas são sempre iguais’, ‘enchem o quadro’ ou ‘abrem o livro e ficam lendo’, ‘a gente faz bagunça e eles não fazem nada, ficam só olhando’. Alguns alunos consideram ainda que certos professores ‘pegam no pé’, ‘dão broncas injustas’, interpretando que há certa injustiça na diferença de tratamento que certos professores fazem entre os alunos (LANTERMAN, 2000, p. 124). Para além desse modo de analisar o fenômeno da violência escolar, a partir da interação entre professor e aluno, podemos argumentar que não é novo afirmar o quanto as práticas escolares estiveram e, em muitas escolas, estão distanciadas da realidade social das crianças e jovens. Isso porque, no processo histórico de invenção da escola, criou-se um modo de funcionamento peculiar, ligado as suas funções sociais na modernidade, o qual denominamos “cultura escolar”. Esta cultura escolar tem como traço fundamental a busca da homogeneização das capacidades, ritmos e processos de aprendizagem, negando as individualidades em seus modos diversos de serem crianças, jovens e adultos. Nesta homogeneização, a escola buscou regulamentar seu cotidiano: tempos, espaços, currículo e rituais escolares, por meio de uma disciplina normativa, sendo esta de tipo linear, vertical e autocrática. Na origem dessa normatização das condutas na escola, a autoridade não era questionada, nem se discutiam as decisões tomadas pelos adultos, o que garantia uma reprodução do exercício de poder na forma hierárquica e autoritária, com uso de prêmios e castigos. A relação era a de um superior-adulto que ensina a um inferior-aluno que aprende mediante a instrução e em clima de forte disciplina, ordem, silêncio, atenção e obediência em relação aos valores vigentes. Nesse contexto de relação verticalizada da autoridade ocorria certa violência de ordem simbólica e, em certo período da história da Educação, houve, inclusive, o recurso de castigos corporais como estratégia para a garantia da disciplinarização das condutas. Esse modelo, inspirado nas organizações militares e fabris, desenvolveu-se ao longo dos séculos XIX e XX, sendo que os castigos corporais foram gradativamente eliminados como modo de atuar sobre a disciplinarização dos alunos. Assim, os papéis de professor e aluno foram construídos no interior da cultura escolar através 141 Entre Redes do Regimento Escolar, que normatizava os diversos aspectos do funcionamento da escola (SOUZA, 2008). Com essa forma de atuação da cultura escolar foram construídas as categorias que hoje chamamos aluno e professor no âmbito da escola. Conforme Sacristán (2005), a questão está em desnaturalizar a categoria aluno e compreender “como o ser que está na sala de aula, tal como agora o conhecemos e representamos, é uma invenção tardia que surge com o desenvolvimento dos sistemas escolares” (SACRISTÁN, 2005, p. 125). Ainda conforme Sacristán (2005), ser aluno é ser estudante (aquele que estuda) ou aprendiz (aquele que aprende; são categorias descritivas de uma condição que supões trazer unidos determinados comportamentos, regras, valores e propósitos que devem ser adquiridos por quem pertence a essa categoria/.../ Ser aluno é uma maneira de se relacionar com o mundo dos adultos, dentro de uma ordem regida por certos padrões, por intermédio dos quais eles exercem sua autoridade, agora com a legitimidade delegada pelas instituições escolares. É uma das formas modernas fundamentais do exercício do poder sobre os menores (SACRISTÁN, 2005, p. 125). Para consolidar a categoria aluno, a cultura escolar buscou anular as expressões da infância e da juventude nos indivíduos que a freqüentavam, negando a estes a expressão das suas subjetividades e diversidade de modos de serem sujeitos sociais. Portanto, a homogeneização, além de negar o que é, em si, heterogêneo - as individualidades -, negou à infância e à juventude, também, a possibilidade de expressar suas subjetividades e sua condição de sujeitos sociais, tornando-os objetos desse molde da cultura escolar: a categoria aluno. Por outro lado, segundo Sacristán (2005), a categoria de professor se efetivou como figuras de adultoseducadores, que vão se especializando em assistência, cuidados, vigilância, ensino e guia de menores, de- 142 “Violência na escola e da escola” sempenham ‘ofícios’ que começaram a ser exercidos no interior de famílias nobres e, mais tarde, na burguesia, sob vigilância direta dos pais, se diferenciando destes progressivamente (SACRISTÁN, 2005, p. 129). Portanto, os elementos centrais que configuram a violência da escola, a homogeneização das subjetividades em categorias escolares de aluno e professor e a normatização das condutas estão determinados por um modo de funcionamento dessa instituição na modernidade, não sendo o caso de procurarmos culpados ou inocentes. No entanto, o desafio atual é não só compreender os processos que institucionalizaram a cultura escolar tradicional, em seu modo homogeneizador e normatizador de condutas, mas principalmente compreender o processo de mutação vivida pela escola denominada por “desinstitucionalização” e suas conseqüências para a chamada violência da escola. Isso porque a desinstitucionalização altera as relações entre os sujeitos da escola, em especial nos fenômenos de indisciplina e violência escolar, pois, segundo Dubet (2000), a desinstitucionalização assinala um movimento mais profundo, uma maneira totalmente distinta de considerar as relações entre normas, valores e indivíduos, isto é, um modo distinto de conceber a socialização. Os valores e normas já não podem ser percebidos como entidades ‘transcendentais’, já existentes e acima dos indivíduos. Aparecem como co-produções sociais /.../ (DUBET, 2000, p. 201). Para Dubet (2000), na contemporaneidade, valores e normas não desaparecem, nem mesmo o caráter integrador das relações sociais em ambiente escolar, mas estão inseridos no processo de subjetivação e construção da identidade dos sujeitos, através de suas experiências sociais. Como processo recente, as mutações vividas pela escola possuem traços já delineados por pesquisadores, sendo um dos principais a garantia de afirmação das individualidades em suas subjetividades singulares. Conforme Sacristán (2005): Se a condição de criança ou de infância não existe como figura homogênea, mas existem formas diferentes de vivê-las, a con- 143 Entre Redes dição de aluno também não é homogênea, pois cada um vive essa situação de maneira desigual. As formas distintas e desiguais de viver a infância – em virtude de classe ou do gênero, por exemplo – se correspondem a modos não-equivalentes de experimentar a sociedade. /.../ Essa precaução diante da heterogeneidade da experiência escolar deve nos levar a um entendimento diversificado sobre o que significa ser aluno como indivíduo singular e como subconjunto (SACRISTÁN, 2005, p. 129). Na contemporaneidade, a compreensão do enfrentamento às questões em torno da violência da escola passa pela “crença” nos direitos de todos expressarem suas singularidades: crianças, jovens e adultos de uma forma socialmente sustentada em relações dialógicas e democráticas. Além disso, pressupõe entender o comportamento supostamente violento dos alunos como uma forma de manifestação da cultura e da sociabilidade de crianças e jovens, por meio de um novo olhar e outra forma de escuta dos sentidos e significados dos seus supostos comportamentos violentos no contexto escolar, para além da classificação de casos através dos rótulos de indisciplina, de bulling ou de violência na escola. Isso porque, conforme pesquisas recentes, estes comportamentos são ora marcados pela violência de seu contexto social, produzindo uma subjetividade especifica (ARAÚJO, 2001), ora pelo fenômeno da “zoação” (ESPIRITO SANTO, 2002; NOGUEIRA, 2006), em que agressões e pequenos delitos, mais do que caracterizados como incivilidade, passam a ser entendidos nas significações construídas pela cultura e sociabilidade juvenis. Por exemplo, a tese de doutorado de Paulo Nogueira (2006) investiga as interações em sala de aula entre alunos e alunas, através do reconhecimento de posições recíprocas estabelecidas facea-face, criando sentidos à inserção desses sujeitos no espaço escolar. Busca compreender as redes que se criam e que expressam pertencimentos juvenis dos alunos em situação de interação. Essas pertenças, inseridas em regime de cooperação ou competição entre indivíduos, conformam a sua identidade discente em um imbricamento de variáveis favoráveis ou não à manutenção do Frame (enquadre) necessário à 144 “Violência na escola e da escola” continuidade das aulas. O dilema, portanto, da forma escolar é manter-se como coativa das subjetividades através das atribuições de papéis ao discente ou abrir-se a outras dinâmicas em que ser jovem é zoar em uma perspectiva de quebra no clima proposto pela docência (NOGUEIRA, 2006, p. 15). Na sociabilidade juvenil, estudada pelo pesquisador, ao se efetivar no fenômeno da zoação não só desestrutura a categoria tradicional do aluno, como também inviabiliza a manutenção do clima acadêmico proposto pela lógica da educação escolar, criando condições para a indisciplina e a violência, conforme o olhar do docente. Além disso, outras pesquisas revelam que a violência na escola, atualmente, é produzida nas relações intra-escolares, marcadas por preconceitos dos professores em relação ao meio social dos alunos (RIBEIRO, 2002; COUTO, 2003; COSTA, 2005). Estas pesquisas “mostram, também, que a expectativas negativas dos professores em relação a seus alunos tendem aumentar conflitos nas relações, chegando até as atitudes de violência física” (COSTA, 2005, pp. 2728). Assim, podemos afirmar que, atualmente, a violência em meio escolar pode tanto ser examinada como decorrência de um conjunto significativo de práticas escolares inadequadas ao crescente processo de democratização do acesso à escola de um público antes excluído, quanto pode ser investigada como um dos aspectos que caracterizam um tipo específico de sociabilidade de crianças e jovens. Portanto, a violência na escola, recentemente, passa a ser observada nas interações dos grupos de alunos sob ângulo micro-sociológico, caracterizando um tipo de sociabilidade entre os pares ou de jovens com o mundo adulto, ampliando e tornando mais complexa a própria análise do fenômeno. 5. Aplicação do conteúdo à prática 5.1. Identificação e categorização dos eventos de violência É necessário qualificar a discussão de violência escolar com a identificação das formas de manifestação da violência: é física e/ou simbólica, é verbal e/ou não verbal, é produzida por fatores internos e/ou por fatores externos. Sendo interno é um problema de gestão e/ou de prática pedagógica. São internos, mas como reflexo direto de demandas externas: violência domésti145 Entre Redes ca, demandas sociais próprias de contextos em vulnerabilidade social. São externos com claras demandas quanto à segurança pública: tráfico de drogas, criminalidade, porte de arma de fogo ou outras, etc. Quais tipos de eventos de violência ocorrem na escola e qual o grau de incidência destes: depredação do prédio, brigas entre alunos, entre professor e alunos, furtos, etc. Vale enfatizar que o diagnóstico deve ter o envolvimento coletivo, mobilizando os vários segmentos da comunidade escolar. Além disso, fica claro que as escolas grandes estão mais expostas a situações de violência, sendo necessário reforçar o trabalho coletivo, especialmente através do trabalho dos profissionais da escola e de formação continuada em serviços que possibilitem intervenções adequadas. 5.2. Envolvimento da comunidade escolar e outras parcerias O caminho é fortalecer a gestão democrática das escolas, especialmente no tocante: a- ao funcionamento regular dos colegiados; b- ao fortalecimento dos grêmios estudantis ou acolhimento dos grupos culturais juvenis existentes; c- a criação de associação de pais e/ou “escolas de pais”. Mobilizando a comunidade escolar, é possível traçar o objetivo de construir novos processos regulatórios, formais ou informais, em consonância a esses novos marcos legais, que definam os modos de convivência e resolução de conflitos, bem como normas e regras escolares. Além disso, é possível compartilhar os desafios do enfrentamento à violência escolar e à violência contra a infância e juventude com a comunidade escolar, por meio de parcerias e da efetivação do conceito de inter-setorialidade, a partir das demandas da educação. O objetivo é tomar os casos concretos e urgentes como ponto de referência para construir procedimentos rápidos e efetivos no sentido da inter-setorialidade e parcerias com entidades não-governamentais e comunitárias, bem como com as universidades e centros universitários, integração aos programas de segurança pública em curso (os anjos da escola, a guarda municipal) enfatizando: a- o lugar da educação enquanto intervenção preventiva e pedagógica para o enfrentamento da questão; b- a construção sistemática de atuação do agente policial mais adequada ao ambiente escolar e ao Estatuto da Criança e do Adolescente. 146 “Violência na escola e da escola” 5.3. Reflexão coletiva sobre os contextos de violência escolar Criar encontros regionais com trocas de experiências e reflexão sobre a prática pedagógica, tendo como eixo o problema da violência escolar; acompanhamento e avaliação das escolas que vivenciam o problema com mais gravidade; publicações sobre a temática, a partir das experiências inovadoras concretas; divulgação das pesquisas já desenvolvidas por pesquisadores das universidades e centros universitários sobre o fenômeno da “violência escolar”; formação continuada, visando a desenvolver maior repertório de mediação e resolução de conflitos, tanto para educadores quanto para país, líderes juvenis e comunitários. Considerações finais Compreender a violência escolar é, como todo fenômeno social, um grande empreendimento intelectual, pois tratar desta instituição chamada escola pública implica o enfrentamento de questões sociológicas e históricas amplas, especialmente no que se refere não só à compreensão do indivíduo social em sua sociabilidade e socialização, suas potencialidades para a cooperação, mas também para a competição e relações de poder. Além disso, este fenômeno implica um número grande de variáveis empíricas e teorias que sustentam as representações sociais sobre a infância a educação. Ademais, as representações sobre infância juventude, ainda hoje, mantêm estreita relação com a instituição escolar, não mais com a predominância do que ocorreu ao longo dos séculos XIX e XX, mas ainda cumprindo papel social na socialização e no acesso à construção cultural contemporânea, com suas exigências quanto ao domínio do mundo letrado, científico e tecnológico. Como vimos, a história da escola pública foi marcada pela constituição da cultura escolar, cujo traço fundamental é a homogeneização das capacidades, ritmos e processos de aprendizagem, negando as individualidades em seus modos diversos de serem crianças, jovens e adultos. A socialização efetivada era centrada na integração social, com processo de violência simbólica e exclusão daqueles que não se adaptavam aos tempos, espaços, currículos e rituais escolares, por meio de uma disciplina nor147 Entre Redes mativa linear, vertical e autocrática. Na origem dessa normatização das condutas, especialmente através da disciplinarização das crianças e jovens para que se tornassem alunos, foram criados os elementos de violência da escola: dos castigos corporais aos modos diversos de exclusão: suspensão, expulsão, reprovação ainda presentes em nossas memórias e referencias de ação individual e coletiva. A escola pública brasileira, após a Constituição de 1988 e do Estatuto da Criança e do Adolescente, vive novos marcos legais sobre a educação – pois esta passa a ser tomada como um direito subjetivo a ser garantido a todos - e sobre a infância e juventude – por serem reconhecidos como sujeito de direitos. O clima social escolar exige novos processos regulatórios, formais ou informais, em consonância a estes novos marcos legais que transformam nossas representações de educação e de infância, de lei em práticas escolares. A compreensão da natureza dos novos processos de socialização que a escola deve desenvolver pode nos levar a construir uma socialização escolar como um fator de prevenção ou de agravamento das relações entre os sujeitos da escola. Isso significa verificar como está sendo desenvolvida a disciplina escolar e como, através da vivência das regras e normas escolares, as crianças e jovens estão desenvolvendo suas experiências de sociabilidade e de socialização e, em última instância, se estamos desenvolvendo ou a cultura da violência ou a cultura de paz. Desenvolver um modo mais compartilhado de definição das regras e normas de convivência, não só com os familiares, como também com os próprios alunos passa a ser o caminho de transformação da escola em um espaço de reconhecimento recíproco, em que ocorra não só o acolhimento, mas também o diálogo entre adultos e crianças, adolescentes e jovens, enquanto sujeitos de direitos, em busca de uma educação pública de qualidade e democrática. 148 “Violência na escola e da escola” Referências bibliográficas ABRAMOVAY, M. et alli. Violência nas Escolas. Brasília: Unesco e outros, 2002. ARAÚJO, C. A Violência Desce para a Escola: suas manifestações no ambiente escolar e a construção da identidade dos jovens. Belo Horizonte: Autêntica, 2002. ARROYO, M. O Oficio de Mestre. Belo Horizonte: Autêntica, 2000. 2004. . Imagens quebradas. Petrópolis: Vozes, AQUINO, J. G. Confrontos na Sala de Aula. São Paulo: Summus, 1996. CHARLOT, B. Violences à l’école: état des savoirs. Paris: Armand Collin, 1997. _____________. Os Jovens e o Saber. Perspectivas Mundiais, Porto Alegre: Artmed editora, 2001. DEBARBIEUX, E. La violence em milieu scolaire 1 - État des lieux. Paris: PUF, 1997. DEBARBIEUX, E.; BLAYA, C. (orgs.). Violências nas Escolas e Políticas Públicas. Brasília: Unesco, 2002. DUBET, F. Sociologia da experiência. (trad. de Fernando Tomaz) Lisboa: Instituto Piaget, 1994. _________; MARTUCELLI, D. En la escuela: sociologia de la experiencia escolar. Buenos Aires: Losada, 1997. GUIMARÃES, A. A dinâmica da violência escolar: conflito e ambigüidade. Coleção Autores Associados. São Paulo: Editora Campinas, 1996. GUIMARÃES, E. Escola, Galeras e Narcotráfico. Rio de Janeiro: UFRJ, 1998. LANTERMAN, I. Violência e Incivilidade na Escola: nem 149 Entre Redes vítimas, nem culpados. Florianópolis: Obra Jurídica Ltda., 2000. MARTUCCELLI, D. Reflexões sobre violência na Condição Moderna. Tempo Social: Rev. Sociol. , São Paulo: USP, 1997. NOGUEIRA, P. H. de Q. Identidade Juvenil e identidade discente: processo de escolarização no terceiro ciclo da escola Plural. (tese de Doutorado pela Faculdade de Educação da UFMG), 2006. SACRISTAN, J. G. O aluno como Invenção. Porto Alegre: Artemed, 2005. SAVATER, F. O Valor de Educar. São Paulo: Martins Fontes, 2000. SOUZA, R. de C. História das Punições e da Disciplina Escolar. Belo Horizonte: Argumentum, 2008. SPOSITO, M. A Instituição Escolar e a Violência. Cadernos de Pesquisa, São Paulo: Fundação Carlos Chagas, n. 104, 1998. . Um breve balanço da pesquisa sobre violência escolar no Brasil. Educação e Pesquisa, vol.27, n.1, São Paulo Jan./Junho 2001. 150 “Violência na escola e da escola” 151 Juliana Batista Diniz Valério Diversidades sexuais, de gênero e étnico-raciais: violências invisíveis Juliana Batista Diniz Valério Especialista em Práticas Educativas Inclusivas com ênfase em Gênero e Sexualidade. Professora da educação básica e Assessora das Políticas de Gênero, Sexualidade e Educação para as Relações Étnico-raciais da Secretaria Municipal de Educação de Contagem (MG). Entre Redes 1. Introdução A(s) violência (s) contra crianças e adolescentes, especialmente o abuso e a exploração sexual, tem se tornado pauta mais presente nos debates públicos de nossa sociedade. Praticamente todos os dias, ouvimos, lemos ou comentamos sobre alguma situação de violação de direitos de crianças e adolescentes. Apesar de ser recente a atenção sobre o tema, o fenômeno não o é; pelo contrário, talvez possamos afirmar que seja tão antigo quanto o processo de imposição do modelo “civilizatório” ocidental vigente em nossos dias. Hoje, o que ocorre é a maior visibilidade desses casos de violência, tendo em vista nosso contexto social, cultural e político que tenta consolidar a posição de crianças e adolescentes como sujeitos de direitos. É sobre este modelo “civilizatório” ocidental que este artigo colocará foco, buscando perceber como alguns de seus aspectos são atravessados por traços de uma violência não percebida, naturalizada. Debruçar-nos-emos sobre o debate acerca da(s) diversidade(s), com o objetivo de apontar fundamentos do padrão cultural ocidental que potencializam e/ou justificam situações de violência contra todos (as) nós, desde a infância. Para iniciar as reflexões, cabe, aqui, um balizamento do que compreendemos como diversidade. Tal conceito, tão em voga, corre o risco de um esvaziamento, de uma significação superficial, se não delimitarmos bem as fronteiras do que queremos abordar com seu uso. Em um primeiro momento, o termo diversidade nos remete a uma característica básica da natureza. Contemplamos a variedade de formas, cores, tamanhos, texturas, cheiros, gostos, hábitos, jeitos que compõem o cenário múltiplo das comunidades humanas e da fauna e flora planetária. Tratando, então, desse ponto de vista, por assim dizer, biológico, percebemos que há uma série de seres vivos e ambientes, muito diversos entre si, o se denomina como biodiversidade. Entretanto, o conceito de diversidade com o qual trabalharemos será permeado por uma concepção sociológica e política. Distinguir a biodiversidade da diversidade é compreender que entre as plantas e os animais não há uma construção cultural da diferença, como ocorre entre os seres humanos. A biodiversi154 “Diversidades sexuais, de gênero e étnico-raciais...” dade se refere à variedade de elementos constitutivos dos seres vivos que independem de significações sociais, já a diversidade é a diferença socialmente construída e nomeada por mulheres e homens por meio da linguagem. Construímos a(s) diferença(s) na vida social, tomando como referência um padrão de homem e de organização sociocultural que se apresenta naturalizado, uma vez compulsoriamente estabelecido. Nesse processo, uma identidade mestra é eleita como a norma, o modelo e, assim, as diferenças não são apenas desvalorizadas, mas anuladas, sendo colocadas no campo da anormalidade. Sabemos que o conceito de normalidade é social e historicamente constituído. O que é considerado normal em nossa sociedade não o é, ou nem sempre foi, para outras; o que foi considerado anormal em outros momentos passados não o é atualmente, e vice-versa. O que é tido como normal numa dada região do Brasil, por exemplo, não o é em outras. Parece difícil definir teoricamente o que significam os termos normal e patológico. No entanto, ao mesmo tempo em que nos parece tão difícil definir o que é ‘normal’ conceitualmente, nos parece fácil atribuir a palavra ‘normal’ a um conjunto de padrões ideologicamente retratados em uma dada cultura, como se este mesmo padrão fosse imutável e inquestionável, ou tivesse para nós um sentido prático irretocável (MAIA, 2009, p. 266). É possível notar que em nossa cultura, a identidade mestra, à qual atribuímos o status de normalidade, é constituída basicamente dos seguintes elementos: masculinidade, heterossexualidade, padrões sócio-culturais europeus e alto poder de consumo. Nesse modelo, por nós naturalizado, são produzidas e reproduzidas variadas situações de desigualdade entre os sujeitos, por sua identidade de gênero, seu pertencimento étnico-racial, sua orientação sexual ou seu posicionamento na estrutura social. De acordo com o supracitado, no campo da(s) diversidade(s), abarcamos as diferenças construídas socialmente em um processo que hierarquiza biótipos, crenças, manifestações culturais 155 Entre Redes e comportamentos. O conceito de diversidade designa, então, aquelas variabilidades que, inseridas nas relações sociais de poder, resultam em situações de preconceito, discriminação ou violação de direitos. Os seres humanos, enquanto seres vivos, apresentam diversidade biológica, ou seja, mostram diferenças entre si. No entanto, ao longo do processo histórico e cultural e no contexto das relações de poder estabelecidas entre os diferentes grupos humanos, algumas dessas variabilidades do gênero humano receberam leituras estereotipadas e preconceituosas, passaram a ser exploradas e tratadas de forma desigual e discriminatória (GOMES, 2009, p. 20). Ao longo do processo de estruturação das sociedades, transformamos algumas diferenças em desigualdades. Garantimos, ou não, oportunidades, acesso e direitos fundamentados na interpretação subjetiva, inconsciente e cultural que fazemos das diferenças. Naturalizamos algumas desigualdades porque não conseguimos ter um estranhamento diante de algo que está enraizado na nossa forma de ver e pensar o mundo. A problematização acerca da(s) diversidade(s) traz à luz questões inerentes à(s) violência(s) cometidas contra crianças e adolescentes que, geralmente, não são percebidas como tal. Concentraremos nosso debate em torno das questões ligadas às relações de gênero, a diversidade sexual e ao pertencimento étnico-racial na expectativa de contribuir para a visibilidade de fenômenos de violência já naturalizados, alicerçados no preconceito e na discriminação. Todos os dias crianças, adolescentes, jovens e adultos são vítimas e/ou atores de ações de violência que têm como pano de fundo o machismo, o sexismo, a homofobia e o racismo. O preconceito contra mulheres, homossexuais e negros(as), no Brasil, consolida situações de discriminação, marginalização e violação de direitos, apesar de esta situação não ser tão clara aos nossos olhos turvados por um padrão cultural hegemônico. O propósito deste artigo é percorrer o caminho da construção social dessas nomeadas diferenças e ofertar subsídios que apurem nosso olhar à percepção das situações de desigualdade de gênero, de discriminação por orientação sexual e de racismo que se perpetuam na vida social sem serem reconhecidas como 156 “Diversidades sexuais, de gênero e étnico-raciais...” violências. Fica aqui uma pergunta a ser refletida ao longo do debate que se segue: em que medida os recortes de gênero, orientação sexual e raça/etnia são significativos na construção de estratégias de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes? 2. A construção social do gênero O programa Fantástico, da TV Globo, exibido no dia vinte e três de maio deste ano, veiculou uma reportagem sobre violência contra crianças e adolescentes. No decorrer da matéria, a jornalista trouxe ao público a seguinte estatística: 63% das vítimas de violência na infância ou adolescência são meninas e, quando se trata da violência sexual, esse índice sobe para 83% dos casos. 1.O sexismo é a discriminação ou tratamento indigno a um determinado gênero, ou ainda à determinada identidade sexual e orientação sexual. Para a Psicologia, o sexismo é um ideário construído social, cultural e politicamente, no qual um gênero, orientação sexual tenta se sobrepor ao outro. (Disponível em: <http://www.dicionarioinformal.com.br/definicao.php?palavra= sexismo&id=4123> Acesso em 22/12/09). Diante desta triste estatística, nos deparamos com um debate que é urgente em nossa sociedade: as relações desiguais de gênero. Não um debate simplista que aponta homens como culpados e mulheres como vítimas no contexto das relações sociais de poder, mas sim um debate que apreenda e compreenda as dimensões históricas, culturais e subjetivas que perpassam a construção dos gêneros e das identidades de gênero. A origem do conceito gênero remonta aos movimentos feministas e traduz o esforço de se cunhar um termo que expressasse as lutas, as demandas, os projetos de um grupo da sociedade contestador de toda a ordem vigente alicerçada no patriarcado, no machismo, no sexismo1. Os primeiros estudos feministas, com a finalidade de explicitar o cenário de opressão imposto às mulheres, levantaram informações antes inexistentes, produziram estatísticas específicas sobre as condições de vida de diferentes grupos de mulheres, apontaram falhas ou silêncios nos registros oficiais, denunciaram o sexismo e a opressão vigentes nas relações de trabalho e nas práticas educativas, estudaram como esse sexismo se produzia nos materiais e livros didáticos e, ainda, levaram para a academia temas então concebidos como temas menores, quais sejam, o cotidiano, a famí- 157 Entre Redes lia, a sexualidade, o trabalho doméstico, etc (MEYER, 2003, p. 13). O conceito de gênero construído na efervescência desse movimento político-intelectual diz das representações forjadas culturalmente em torno do “ser mulher” e do “ser homem”, ou seja, o que se distingue, define e espera que seja vivido como masculinidade e feminilidade, em determinada sociedade, em determinado momento histórico. Fica claro, portanto, que, apesar de sua origem no movimento feminista, o termo gênero não diz respeito apenas às mulheres. Ele busca abarcar a construção social e cultural do homem e da mulher e todos os estereótipos, preconceitos, conflitos e relações de poder que advém desse processo. O conceito de gênero foi cunhado para nos auxiliar na distinção entre o sexo biológico (vagina/fêmea ou pênis/macho) e o que vem a ser a vivência social do feminino e do masculino. Como seres da natureza, temos um corpo formado por células, órgãos, sistemas, hormônios, no entanto, como humanos da cultura, significamos este corpo por meio da linguagem e elaboramos uma série de normas, padrões, estéticas, comportamentos para que ele seja compreendido na experiência social, “isto é, mais do que um dado natural cuja materialidade nos presentifica no mundo, o corpo é uma construção sobre a qual são conferidas diferentes marcas em diferentes tempos, espaços, conjunturas econômicas, grupos sociais, étnicos, etc” (GOELLNER, 2003, p. 28). Senão, vejamos como se passa por esse processo e como ele é reproduzido de uma maneira tão inconsciente, tão arraigada que chega a nos parecer um caminho natural pré-determinado no corpo biológico. Basta um exame de ultrasonografia detectar, ainda na vida intra-uterina, a presença de um pênis no corpo que logo iniciamos um complexo, mas naturalizado, processo de significações. Geralmente, escolhemos um nome que, em nossa cultura, é masculino, compramos brinquedos - como bolas e carrinhos -, adotamos a cor azul para o enxoval e não nos esquecemos do uniforme do time de futebol. Se, em outra circunstância, o exame nos mostra uma vagina, vamos encontrar um nome feminino, presentear com bonecas e panelinhas e providenciar muitos laços, fitas e vestidos corderosa. 158 “Diversidades sexuais, de gênero e étnico-raciais...” Com esse simples exemplo, é possível notar o que denominamos, aqui, como construção do gênero. Por meio da linguagem, dos discursos, os corpos vão tomando forma, cheiro, cor, adjetivos. É somente assim que somos apresentados e nos apresentamos para o grupo social. A máquina biológica é lida na cultura, a ela são atribuídos significados sociais e culturais e, ao mesmo tempo em que é falado, esse corpo também fala das contradições, preconceitos, estereótipos e padrões engendrados nessa cultura. A situação trazida pelo exemplo anterior e vivida por todos(as) nós em algum momento de nossas vidas explicita como a cultura ocidental construiu seu modelo de masculinidade e feminilidade. A partir dos nomes que escolhemos, dos brinquedos com os quais presenteamos e das expectativas que alimentamos, começamos a ensinar como se tornar um menino (masculino) ou uma menina (feminino) dentro dos padrões de masculinidade e feminilidade dados pela cultura. O arcabouço cultural do Ocidente engendrou um campo da feminilidade constituído pela sensibilidade, o cuidado, a maternagem, a emoção, a passividade, a vida privada. Como oposição, localizamos na masculinidade a racionalidade, a força, o trabalho, a iniciativa, a vida pública. Reiteramos que existe uma bipolarização, que masculino e feminino não se misturam e, também, que há uma unicidade em cada um desses pólos, ou seja, que todas as mulheres/feminino reúnem as mesmas características e que estas se opõem a todos os homens/masculino que são iguais entre si e ocupam o outro fiel da balança. A partir da década de 1970, as estudiosas feministas passaram a argumentar que são os modos pelos quais características femininas e masculinas são representadas como mais ou menos valorizadas, as formas pelas quais se re-conhece e se distingue feminino de masculino, aquilo que se torna possível pensar e dizer sobre mulheres e homens que vai constituir, efetivamente, o que passa a ser definido e vivido como masculinidade e feminilidade, em uma dada cultura, em um determinado momento histórico (MEYER, 2003, p.14). 159 Entre Redes Na cultura, criamos uma idéia de essência, de “alma” feminina ou masculina e fortalecemos esse discurso cotidianamente por meio da nossa linguagem e das nossas práticas. Quem de nós nunca ouviu e/ou falou frases do tipo: “Mulher chora demais!”, “Menino é bagunceiro assim mesmo!”, “Ela não é totalmente feliz porque ainda não é mãe”, “Homens têm dificuldade em expressar seus sentimentos?” Quando ouvimos e/ou reproduzimos as frases acima, homogeneizamos todas as mulheres como emotivas, sensíveis, frágeis e maternas, bem como vislumbramos todos os homens como desorganizados, racionais, insensíveis. Construímos a idéia de que há uma unidade tanto da masculinidade quanto da feminilidade e, assim, perdemos de vista as inúmeras formas que existem de sermos mulheres e homens. Outro ponto importante a ser destacado nesse espaço no qual buscamos relacionar gênero com violência é a perspectiva das relações de gênero como relações de poder. Os seres humanos aprendem a ser homens e mulheres na medida em que compartilham das representações e símbolos de masculinidade e de feminilidade de sua cultura e de seu tempo histórico. Em uma cultura como a nossa, que reforça o lugar de inferioridade e de submissão do feminino diante do masculino, as relações de gênero tornam-se sexistas. Ensina-se ao menino que, “para ser homem”, é necessário demonstrar coragem, força e racionalidade. Às meninas passa-se a lição de que, para tornar-se uma “mulher de verdade”, é fundamental desenvolver a sensibilidade, a paciência, a capacidade de cuidar do outro. Surge, assim, uma oposição e separação entre masculinidade e feminilidade, acompanhada de uma desvalorização das características ditas como femininas. A lição é apreendida: meninos crescem aprendendo a dominar, subjugar, determinar. Meninas crescem aprendendo que o seu lugar é o da subordinação, da tolerância do “abrir mão”, do aceitar. Diante desse quadro, consolidamos as condições para a perpetuação de relações intersubjetivas e objetivas alicerçadas na desigualdade, no desrespeito, na violência. Meninos e meninas são vítimas de um padrão de masculinidade e feminilidade que os aprisiona do lado do violentador ou de quem sofre a violên160 “Diversidades sexuais, de gênero e étnico-raciais...” cia. Constitui-se um masculino baseado em padrões que, por vezes, justificam atos violentos e, do outro lado, um feminino modelado como paciente e tolerante diante, até mesmo, da violência do outro. Também em nossas instituições, leis, códigos, doutrinas, normas, políticas percebemos o atravessamento dessas relações de poder e de gênero. A proibição do voto feminino, em determinado período de nossa história, a criminalização do aborto, a regra ortográfica que determina a utilização do masculino quando nos referimos a um coletivo de pessoas, a vigilância sobre as taxas de natalidade, a pequena oferta de preservativos femininos em oposição à facilidade de acesso ao preservativo masculino são alguns exemplos de como as questões de gênero determinam estruturas, legislações, políticas públicas, práticas e como elas revelam jogos de poder ao longo da história. Vale ressaltar, ainda, que outras marcas do sujeito podem trazer uma nova configuração a essas relações de poder. Categorias como raça, orientação sexual, nacionalidade e classe social muito interferem nos jogos de poder entre homens e mulheres e masculinidades e feminilidades. É possível hipotetizarmos, por exemplo, que em uma relação de uma mulher branca e rica com um homem negro e pobre, o pólo de poder estará nela e não nele. É interessante pensarmos, também, que as vivências impostas a uma mulher homossexual são bem distintas daquelas colocadas para uma mulher heterossexual, casada e mãe. Diante de nossos objetivos nos cabe também uma breve análise das questões de gênero na escola. Quando analisamos as práticas escolares, na maioria das situações, observamos que elas não somente reiteram os modelos de masculinidade e feminilidade consolidados culturalmente, mas que são estruturadas para reproduzi-lo, para disciplinar os corpos das crianças dentro desse padrão. As atividades destinadas a meninos e meninas, as ilustrações dos livros didáticos, as questões suscitadas nos problemas de matemática, as expectativas em torno da aprendizagem de determinados conteúdos por meninos e meninas, as exigências em relação ao modo de se comportar, o que se tolera e o que não se tolera em relação aos jovens e às jovens, tudo isso explicita o esforço da escola em garantir a formação/formatação de homens e mulheres dentro de uma referência de gênero heteronor161 Entre Redes 2.Sistema em que a heterossexualidade é institucionalizada como norma social, política, econômica e jurídica, não importa se de modo explícito ou implícito (RIOS, 299, p.62). mativa, machista e sexista. De acordo com o que é esperado de cada sexo, às meninas caberia o papel de ‘boazinhas’: mais quietas, organizadas e esforçadas. Deveriam ter cadernos impecáveis e jamais voltar sujas ou suadas do recreio. Já os meninos poderiam se mostrar mais agitados e indisciplinados. Espera-se que eles gostem de futebol, e é tolerado que tenham o caderno menos organizado e o material incompleto (PEROZIM, 2006, p. 4950). A escola mobiliza saberes, organiza seus espaços, divide os seus tempos em um movimento contínuo e (in)consciente de fortalecimento das relações, estereótipos e padrões de gênero socialmente construídos, abrindo mão, muitas vezes, do seu papel de fomentar a crítica, de ampliar a visão de mundo, de eliminar preconceitos e de garantir direitos. Na continuidade deste debate, aprofundaremos na temática da identidade de gênero e da diversidade sexual, outros dois elementos fundamentais para ampliarmos e apurarmos nossa visão acerca das violências invisibilizadas que afetam todos(as) nós, cotidianamente, e, sobretudo, reforçam a imposição de padrões e modelos à nossas crianças e adolescentes em processo de formação. 3. Identidade de gênero e diversidade sexual Os padrões de masculinidade e feminilidade impostos culturalmente no mundo ocidental estão alicerçados na bipolarização entre os gêneros, na idéia de unicidade da feminilidade e da masculinidade e na heteronormatividade/heterossexismo2. Nessa perspectiva, acredita-se em uma linearidade entre sexo biológico, identidade de gênero e atração afetivo-sexual que concebe, apenas, as seguintes combinações: 162 “Diversidades sexuais, de gênero e étnico-raciais...” Sexo Biológico Identidade de gênero Atração afetivosexual Orientação sexual Vagina/fêmea Feminino Pelo homem/macho Heterossexual Pênis/macho Masculino Pela mulher/fêmea Heterossexual Essa forma de compreender a experiência da sexualidade humana tem história e remonta ao período de consolidação da sociedade burguesa e do capitalismo, especialmente a partir do século XVII. O discurso moralista, há muito proclamado, principalmente pela Igreja, engendrou uma sexualidade baseada no sexo reprodutivo que deveria ser garantido pelo matrimônio e pela constituição de uma família nuclear composta pelo homem, o patriarca, com sua mulher e filhos(as). A ascensão do capitalismo também contribuiu para essa repressão sobre o sexo, já que tornou necessário disciplinar os corpos para o trabalho, para a produção em série. Um rápido crepúsculo se teria seguido à luz meridiana, até as noites monótonas da burguesia vitoriana. A sexualidade é, então, cuidadosamente encerrada. Muda-se para dentro de casa. A família conjugal a confisca. E absorve-a, inteiramente, na seriedade da função de reproduzir. Em torno do sexo, se cala. O casal, legítimo e procriador, dita a lei. Impõe-se como modelo, faz reinar a norma, detém a verdade, guarda o direito de falar, reservando-se o princípio do segredo” (FOUCAULT, 1988, p. 9). É possível notar que começaram a se delinear, nesse momento histórico, as bases de uma cultura heteronormativa/heterossexista. O sexo para a reprodução circunscreve a sexualidade nos limites da relação entre homem/macho e mulher/fêmea, bem como configura as outras experiências de prazer dos corpos no campo dos pecados e das anormalidades. Sendo assim, são intoleráveis, por exemplo, os métodos para se evitar a concepção, as experiências de autoprazer através da masturbação e as relações afetivo-sexuais entre pessoas do mesmo sexo. Controla-se a relação dos casais, vigia-se o despertar da sexualidade das crianças e penitencia-se a homossexualidade. 163 Entre Redes As vivências da sexualidade que não se enquadram no modelo do sexo para a reprodução e para a produção são marcadas como (a)normalidade, ou seja, a ausência da norma, da regra, do modelo e, assim, paulatinamente, vão se “guetificando”, vão se constituindo como a margem, primeiramente nos rendez-vous que apareceram como a estratégia capitalista de lucrar com as sexualidades proibidas. O século XIX chega racionalizando essa visão sobre a sexualidade, criando categorias científicas para enquadrar as diversas experiências sexuais no campo da normalidade ou da patologia. Dessa forma, a ciência do sexo, a sexologia, consolidou a naturalização da heterossexualidade, constituindo a categoria da homossexualidade que tipificava como patologia a vivência do desejo afetivo-sexual por pessoas do mesmo sexo/gênero. Até o século XIX tínhamos o pecado da sodomia que, como pecado, poderia ser cometido por qualquer pessoa, a partir daí temos a invenção do(a) homossexual como “um tipo do gênero humano” que é doente por desejar sexualmente alguém do mesmo sexo/gênero. Tal tecnologia do sexo, no intuito de controlar, passou a criar categorizações. No campo dessa ciência foram seguidos os métodos de classificar, quantificar, nomear, fazendo surgir, assim, conceitos, categorias e nomenclaturas em torno das vivências da sexualidade. O que houve, portanto, foi a invenção científica tanto heterossexualidade quanto da homossexualidade. Ao que tudo indica, estes dois termos foram cunhados por um escritor austro-húngaro, chamado Karl Kertbeny, por volta de 1869. É claro que isso não indica que antes do século XIX mulheres e homens não vivenciavam o afeto, o desejo e o sexo com pessoas do mesmo sexo/gênero, mas sim que essas vivências não eram nomeadas, tipificadas ou identificadas como prática de um grupo específico de pessoas. Essa racionalização da sexualidade vivida pela cultura ocidental, principalmente a partir do século XIX, fomentou e ainda fomenta um processo de socialização, formação e formatação dos corpos de meninos e meninas permeado por uma forte violência simbólica e física. O corpo deve se despir de suas emoções e desejos para se constituir como feminino ou masculino de forma inteligível aos padrões de uma cultura heterossexista. 164 “Diversidades sexuais, de gênero e étnico-raciais...” Ao longo do tempo, na interação sóciocultural, a heteronormatividade/heterossexismo se naturalizou e se institucionalizou. Somos socializados(as) aprendendo que a regra, o normal, é a atração entre os opostos. Assimilamos tão bem essa mensagem da cultura, como muitas outras, que a internalizamos, engendrando, assim, um estado de natureza para a heterossexualidade. Por outro lado, apreendemos que o desejo entre os iguais é o desvio da regra, a (a)normalidade e, até mesmo, a doença (o homossexualismo)3 que ameaça a saúde presente no nosso estado “natural”. A heteronormatividade reforça o status de diferença da homossexualidade, ao mesmo tempo, a homossexualidade reitera uma heterossexualidade compulsória. 3.Para nos referirmos à orientação sexual usamos o termo homossexualidade. O sufixo grego -ismo transmite a idéia de doença que até as últimas décadas do século XX era associada às pessoas homossexuais. Dito de um modo simples: embora a homossexualidade tenha existido em todos os tipos de sociedade, em todos os tempos, e tenha sido, sob diversas formas, aceita ou rejeitada, como parte dos costumes e dos hábitos sociais dessas sociedades, somente a partir do século XIX e nas sociedades industrializadas ocidentais, é que se desenvolveu uma categoria homossexual distintiva e uma identidade a ela associada (WEEKS, 2007, p. 65). Ainda hoje, carregamos no nosso imaginário social as imagens construídas, principalmente ao longo dos séculos XIX e XX, em torno das vivências homossexuais. Persiste, em nossos discursos, atitudes, legislações e regras de convivência, a associação da homossexualidade com o diferente, o invertido, o anormal. Moldados(as) há séculos por um cultura heteronormativa/heterossexista, naturalizamos o padrão de sexualidade heterossexual e não conseguimos enxergar a diversidade de possibilidades que existe no que se refere a sexualidade (diversidade sexual), como em todas as outras dimensões da vida social de homens e mulheres. Na eterna tentativa de categorizar as variadas experiências humanas, também cunhamos termos que buscam nomear e explicitar essa diversidade. Em relação à diversidade sexual é importante compreendermos o significado, bem como o modo como é utilizado, do termo orientação sexual e afetiva. Até bem pouco tempo, ouvíamos falar de opção sexual para 165 Entre Redes designar os comportamentos hetero, homo ou bi sexuais. Uma reformulação acadêmica substituiu esse conceito pelo de orientação sexual para eliminar, principalmente, a idéia de que uma pessoa é capaz de escolher racionalmente para quem se direcionará o seu desejo, sua atração e o seu afeto. Considerando a observação supracitada, usamos o conceito de orientação sexual e afetiva. A palavra orientação, aqui, não significa aconselhamento, do tipo “Vou orientálo a fazer isso...”, mas, sim, direção “Meu desejo sexual aponta para...”. Nessa linha de pensamento, pontuamos o caráter subjetivo do direcionamento dos nossos desejos pelo outro e encontramos, basicamente, três tipos de orientação sexual, quais sejam: - Heterossexualidade: quando se sente atração sexual e afetiva por pessoas do sexo/gênero oposto; - Homossexualidade: quando se sente atração sexual e afetiva por pessoas do mesmo sexo/gênero; - Bissexualidade: quando se sente atração sexual e afetiva por pessoas de ambos os sexos/gêneros. Essas categorias, assim como todas as classificações, não dão conta da enorme diversidade humana. Se pensarmos no campo do desejo sexual e afetivo, provavelmente um heterossexual é tão diferente de um homossexual quanto de outro hetero. Para viajar um pouco mais, podemos então pensar que existem heterossexualidades, homossexualidades, etc. Ou que talvez o desejo humano possa ser como um gradiente, que vai da homossexualidade absoluta à heterossexualidade absoluta (com a bissexualidade absoluta exatamente no meio). A maioria de nós estaria em algum lugar deste degradê (BORTOLINI, 2008, p. 10). O que é fundamental ressaltarmos nesse debate sobre diversidade sexual é o quão violento se apresenta o processo de negação das outras possibilidades de vivência da sexualidade que não seja a heterossexualidade. Desde muito pequenos(as) somos vigiados(as), policiados(as) e instruídos(as) a assumir comportamentos, gestuais, discursos e iniciativas que indiquem para os membros da sociedade nossa total e inquestionável atração por alguém do sexo/gênero oposto. 166 “Diversidades sexuais, de gênero e étnico-raciais...” Qualquer atitude de um menino ou de uma menina que não se enquadre nos modelos de masculinidade e feminilidade impostos culturalmente já acende a “lâmpada de alerta” do mundo adulto no sentido de que este esteja atento e consiga “consertar”, a tempo, qualquer “problema” na orientação sexual dessa criança. É possível observar uma dificuldade na compreensão acerca das vivências de atração afetivo-sexual que não seja a heterossexual. Nesse contexto, muitas crianças e adolescentes acabam se tornando vítimas da discriminação sexista e homofóbica, até mesmo antes de terem qualquer posicionamento ou consciência sobre sua orientação sexual. Outra questão relevante está relacionada à distinção entre identidade de gênero, orientação sexual e identidade sexual. Já tecemos uma análise básica em torno do complexo processo de construção do gênero, dando destaque aos estereótipos de masculinidade e feminilidade engendrados por nossa cultura. Esse arcabouço cultural naturaliza uma bipolarização entre os gêneros (masculino e feminino são opostos) e forja uma homogeneidade de cada um desses pólos (todas as mulheres são caracterizadas de determinada forma e todos os homens caracterizados como iguais entre si). Além disso, a inserção na heteronormatividade nos faz estabelecer uma correspondência direta entre padrão normal de gênero e heterossexualidade. Assim, pensamos que homens e mulheres normais são aqueles e aquelas heterossexuais e que a garantia dessa heterossexualidade está intimamente ligada às experiências de gênero vivenciadas por essa pessoa. Nesse ponto, cometemos mais um equívoco. Estabelecemos uma relação direta entre identidade de gênero e orientação sexual que não é verdadeira. Identificarse com a masculinidade ou a feminilidade desenhada por sua cultura (identidade de gênero) nada tem a ver com a direção do desejo sexual (orientação sexual). Sendo assim, encontramos mulheres, tanto heterossexuais como homossexuais, que assumem a performance de feminilidade que vigora em sua cultura, o mesmo ocorrendo com homens. Esse nosso equívoco se explicita quando observamos, por 167 Entre Redes exemplo, o quanto policiamos as brincadeiras, os comportamentos, os gestos, as roupas, a linguagem de nossas crianças. Se um menino deseja brincar de boneca e de cozinhar ou uma menina quer soltar pipa e jogar futebol logo nos preocupamos, mas não porque percebemos aí uma contestação aos padrões de gênero estabelecidos culturalmente e sim porque acreditamos que essas vivências “invertidas” podem também “inverter” o desejo sexual e afetivo destas crianças. Essa visão linear nos traz, também, muita dificuldade na com preensão da travestilidade e da transexualidade. Como apostamos na definição da identidade a partir de um estado de natureza revelado no sexo biológico, só conseguimos ver como “desvio” as situações nas quais a identidade de gênero se opõe à genitália. É incompreensível do ponto de vista da cultura ocidental a feminilidade se expressar e ser vivida por uma pessoa dotada de pênis ou a masculinidade ser assumida por alguém que nasceu com vagina. É somente rompendo com a linearidade subjacente à heteronormatividade que conseguimos enxergar outras variadas possibilidades de vivência da sexualidade e de construção das identidades. O esquema a seguir tenta quebrar esta linearidade e mostrar intercruzamentos possíveis entre sexo biológico, orientação sexual, identidade de gênero e identidade sexual. Cabe ainda esclarecer que a identidade sexual diz muito mais do que a orientação sexual ou identidade de gênero: ela revela um posicionamento político diante das demandas, das lutas e das resistências nesse campo da diversidade sexual. Dessa maneira, as identidades sexuais são, sobretudo, políticas porque 168 “Diversidades sexuais, de gênero e étnico-raciais...” ...não tem a ver só com a atração sexual e afetiva, mas, mais do que isso, têm a ver com um jeito de ser, de se sentir, de vivenciar o seu afeto, com o compartilhamento de uma determinada cultura, música, lugares de encontro e, até mesmo com uma atitude política (BORTOLINI, 2008, p. 11 ). Nessa perspectiva, gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, travestis, mulheres heterossexuais e homens heterossexuais assumem suas identidades sexuais de forma ativa diante dos desafios, possibilidades, problemas, reivindicações, conflitos e jogos de poder que caracterizam a interação social. E a escola, como tem se posicionado diante desse debate? Nas palavras de Rogério Diniz Junqueira: Ao mesmo tempo em que nós, profissionais da educação, estamos conscientes de que nosso trabalho se relaciona com o quadro dos direitos humanos e pode contribuir para ampliar seus horizontes, precisamos também reter que estamos envolvidos na tessitura de uma trama em que sexismo, homofobia e racismo produzem efeitos e que, apesar de nossas intenções, terminamos muitas vezes por promover sua perpetuação (JUNQUEIRA, 2009, p.13). Pesquisas recentes têm demonstrado que a escola reproduz e produz homofobia. A pesquisa da UNESCO, intitulada “Perfil dos professores brasileiros”, realizada em 2002, traz o seguinte dado: de cinco mil professores entrevistados, em todos os estados da federação, da rede pública e privada de ensino, 50,7% acha inadmissível que uma pessoa tenha relações homossexuais e 21,2% afirmam que não gostariam de ter vizinhos homossexuais (UNESCO, 2004, pp 144-146) Em outra pesquisa da UNESCO sobre o mesmo tema, os dados são assustadores: 47,9% dos professores de Vitória e 30,5% dos professores de Belém afirmaram não saber abordar o tema da homossexualidade com seus estudantes; Mais de 20% dos professores de Manaus e Fortaleza define a 169 Entre Redes homossexualidade como doença; Um pouco mais de 42% dos estudantes do Rio de Janeiro não gostariam de ter colegas de classe homossexuais; Entre 35% e 39% dos pais de estudantes de sexo masculino de São Paulo não gostariam que homossexuais fossem colegas de seus filhos; - Em uma lista de ações violentas, a opção “bater em homossexuais” foi o exemplo apontado como menos grave por estudantes do sexo masculino (ABRAMOVAY et al., 2004. pp 277-304). Os dados acima são reveladores de uma triste realidade: a escola tem sido espaço da violência homofóbica e não apenas por reprodução de um fenômeno da sociedade, mas também como fomentadora desta violência. Quando um número tão alto de educadores(as) se diz incapaz de tratar das questões da homossexualidade, fica claro o silenciamento da escola diante da homofobia. Quando é elevado o índice de estudantes que não percebem a violência física contra homossexuais como algo grave, verificase que existe muita dificuldade para desenvolver uma nova educação para as relações de gênero, o respeito à diversidade sexual e o combate à homofobia. Outra postura muito comum entre educadores(as) é a de afirmar que o trabalho com a temática da homossexualidade na escola não é necessário porque nela não há estudantes gays ou lésbicas. Tal afirmação explicita a invisibilidade e a opressão sofrida por essas identidades no espaço escolar e pode nos ajudar a compreender porque é tão alto índice de evasão escolar entre jovens homossexuais, travestis e transexuais. Impera, nesse caso, o princípio da heterossexualidade presumida, que faz crer que não haja homossexuais em um determinado ambiente (ou se houver, deverá ser ‘coisa passageira’, que ‘se resolverá quando ele/ ela encontrar a pessoa certa’). A presunção da heterossexualidade enseja o silenciamento e a invisibilidade das pessoas homossexuais e, ao mesmo tempo, dificulta enormemente a expressão e o reconhecimento das homossexualidades como maneiras legítimas de se viver e se expressar afetiva e 170 “Diversidades sexuais, de gênero e étnico-raciais...” sexualmente (JUNQUEIRA, 2009, p. 31). A escola, (re)produzindo a cultura, enfatiza, defende, reforça e se esforça por formar/formatar meninos e meninas, homens e mulheres enquadrados(as) no padrão de normalidade forjado por nossa representação de gênero: meninas, femininas, heterossexuais e meninos, masculinos, heterossexuais. A violência simbólica e, muitas vezes, física resultante desse processo não é percebida como tal, já que acaba se justificando diante do caráter de desvio e anormalidade com o qual identificamos a homossexualidade em nossa cultura. As vítimas tornam-se culpadas da violência que sofrem! É urgente um novo olhar sobre essas questões para interrompermos um círculo de violação de direitos há muito consolidado. Nosso último passo neste artigo é problematizar em torno das relações étnico-raciais na sociedade brasileira e conseguir explicitar como o machismo, o sexismo, a homofobia e o racismo se fortalecem nesse cenário cultural de preconceitos, opressões e discriminações. 4. Relações étnico-raciais no Brasil Tratar das relações étnico-raciais no Brasil exige do(a) pesquisador(a) um olhar atento e apurado capaz de desconstruir estereótipos, naturalizações, “verdades” e mitos, há séculos, consolidados no imaginário social brasileiro. Abordar esse tema é, também, “tocar em uma ferida” da sociedade brasileira que por muito tempo se furtou desse debate e encobriu a discriminação racial presente no nosso quadro de injustiças sociais. Para o objetivo desse projeto, o enfrentamento a violência contra crianças e adolescentes, torna-se indiscutível a relevância das reflexões acerca das relações étnicoraciais, tendo em vista o cenário de abandono, marginalização e violação de direitos ao qual estão submetidos(as) meninos e meninas negros(as). Nesse nosso percurso, vamos desnaturalizar discursos e buscar perceber como as desigualdades produzidas e reproduzidas na sociedade brasileira trazem também a marca do pertencimento étnico-racial. Basta um olhar mais atento e crítico para notarmos que, ao longo do processo histórico do nosso país, fez-se uma 171 Entre Redes opção pelo padrão estético, artístico, político, cultural, econômico, religioso e social da matriz européia, deixando à margem os outros grupos étnicos que compõem a sociedade brasileira. Cabe ressaltar, nesse momento, que nosso debate, aqui, se concentrará nas temáticas relacionadas à população negra brasileira. Tal recorte se justifica pela ampla pauta pública, na atualidade, sobre as políticas voltadas para esse grupo social, pela força de mobilização do movimento negro e, também, pelo próprio objeto de pesquisa da autora deste artigo. Para iniciarmos a discussão sobre essa temática, é importante reconstruirmos o processo histórico-cultural de constituição do racismo brasileiro. Muitos afirmam que nosso racismo é um legado do período colonial escravocrata, afirmação que, sem sombra de dúvidas, tem fundamento diante da cruel realidade imposta a milhões de africanos(as) capturados(as) em suas terras e submetidos(as) ao trabalho compulsório nas lavouras, minas, latifúndios e cidades do Brasil colonial. Entretanto, fazemos um convite para outras reflexões: o que foi feito ao longo desses 122 anos depois de abolida a escravidão que nos faz acreditar no racismo como uma herança puramente do período escravocrata? Como a República brasileira se comportou diante da questão racial com o fim da escravidão dos povos africanos? Quais discursos, ideologias e doutrinas nortearam o debate sobre as relações raciais no país durante esse período? Estas, e outras perguntas, são chave importante para compreendermos o racismo em nosso país. Não nos basta constatar a origem do preconceito e da discriminação racial no período colonial, quando africanos(as) e seus descendentes eram qualificados(as) como mercadoria, mas, principalmente, explicitar os mecanismos de reprodução e produção desse racismo durante toda a história republicana brasileira, até os dias atuais. Ao longo do século XIX, a elite branca, mesmo sem criar um racismo institucionalizado, foi eficiente e perspicaz no seu fortalecimento. Reproduzindo estereótipos e preconceitos e enaltecendo os padrões da cultura européia, a classe dominante foi consolidando a marginalização da população negra brasileira. 172 “Diversidades sexuais, de gênero e étnico-raciais...” No século XIX, ainda que a elite colonial brasileira não tenha organizado um sistema de discriminação legal ou uma ideologia que justificasse as diferentes posições dos grupos raciais, esta compartilhava um conjunto de estereótipos negativos em relação ao negro que amparava sua visão hierárquica de sociedade. Neste contexto, o elemento branco era dotado de uma positividade que se acentuava quanto mais próximo estivesse da cultura européia (SILVA & LUIZ & JACCOUD & SILVA, 2009, p. 19). O final do século XIX e a entrada nas primeiras décadas do século XX encenaram o fortalecimento desse ideário racista, agora amparado por um discurso cientificista típico do período. A tese que defendia a existência de uma hierarquia entre as raças, fundamentada no modelo positivista de fazer ciência, naturalizou os estereótipos em torno da população africana e afrodescendente. As ciências sociais do século XIX transpuseram a teoria evolucionista de Charles Darwin para suas análises em torno das populações. O chamado “Darwinismo Social” estabeleceu uma classificação evolutiva entre os diferentes grupos étnicos, como no campo da biologia se fazia com as plantas e os animais. Dessa forma, a ciência naturalizou as desigualdades entre brancos e negros, contribuindo para o enraizamento do racismo no imaginário social. O Darwinismo Social não considerou, em seu arcabouço teórico, a principal dimensão que diferencia os seres humanos dos outros animais da natureza: a linguagem e, conseqüentemente, a produção de cultura. Sendo assim, não explicitou a existência de diferentes e variadas culturas, mas sim de uma única cultura modelo, a européia, e de culturas “menores” que teriam que evoluir para chegar ao padrão de civilização. Dessa forma, a ciência do século XIX disseminou o que denominamos etnocentrismo, ou seja, a crença na superioridade, na centralidade de um grupo étnico em detrimento dos outros. Nesse contexto, foi notório o fortalecimento do eurocentrismo que consolidou a estética, a estrutura social, a organização política, a religião, os costumes, as crenças, o fenótipo, as artes, 173 Entre Redes o modelo econômico dos povos brancos da Europa Ocidental como o modelo civilizatório hegemônico para a humanidade. No Brasil, foram nítidos os reflexos e a apropriação desses princípios teóricos do “racismo científico”. O governo republicano, instalado pouco mais de um ano depois da abolição da escravidão, implantou medidas de apoio à imigração européia, principalmente de italianos e alemães, com o claro objetivo de instaurar um branqueamento da sociedade brasileira, por meio da miscigenação. Os relacionamentos interétnicos eram vistos como o caminho para afastar o país de sua origem e herança negra e aproximá-lo do padrão civilizatório branco e europeu. Nessa perspectiva, houve uma valorização da figura do(a) mulato(a), já que ele(a) representava essa transição pela qual passava a população brasileira. O(a) mulato(a) era o(a) “meio branco(a)” ou o(a) “menos negro(a)”, aquele(a) que, pelo tom de sua pele, provava a possibilidade de se alcançar um Brasil branco através da miscigenação. A aceitação da perspectiva de existência de uma hierarquia racial e o reconhecimento dos problemas imanentes a uma sociedade multirracial deram sustentação não apenas às políticas de promoção da imigração, como também à valorização da miscigenação. A tese do branqueamento como projeto nacional surgiu, no Brasil, como forma de conciliar a crença na superioridade branca com a busca do progressivo desaparecimento do negro, cuja presença era interpretada como um mal para o país. À diferença do ‘racismo científico’, o ideal do branqueamento sustentava-se em um otimismo em relação à mestiçagem e aos ‘povos mestiços’, reconhecendo a expressiva presença do grupo identificado como mulato, aceitando a sua relativa mobilidade social e sua possibilidade de continuar em uma trajetória em direção ao ideal branco (SILVA & LUIZ & JACCOUD & SILVA, 2009, p. 21). O ideal do branqueamento e da miscigenação que cumpriu a importante tarefa de camuflar o racismo brasileiro no final do século XIX e início do século XX foi, a partir da década de 174 “Diversidades sexuais, de gênero e étnico-raciais...” 1930, sendo substituído pelo “mito da democracia racial”. As teorias evolucionistas em torno das populações começaram a ser questionadas, dificultando a sustentação do racismo sob tais bases científicas. Nesse contexto, as relações raciais no Brasil não mais seriam analisadas na perspectiva de um branqueamento da população, mas sim sob as bases de um ideário que defendia a existência de uma situação de igualdade entre os diversos grupos étnicos do país, resultante da miscigenação. O mito da democracia racial reforçou a invisibilidade da desigualdade racial em nosso país. A partir do momento que, no imaginário social, transitou a idéia de igualdade entre os grupos étnicos, o racismo se escondeu e se fortaleceu. A situação de marginalização da população negra passou a ser percebida como um problema exclusivo dos(a) negros(as) que não alcançavam sucesso social por sua incompetência inata. Além disso, reforçou-se a tese de que as desigualdades no Brasil são de base puramente econômica, já que em termos de pertencimento étnico-racial vivemos sob uma democracia. A democracia racial forneceu nova chave interpretativa para a realidade brasileira da época: a recusa do determinismo biológico e a valorização do aspecto cultural, reversível em suas diferenças. O enfraquecimento do discurso das hierarquias raciais e sua gradual substituição pelo mito da democracia racial permitiram a afirmação e a valorização do ‘povo brasileiro’. Todavia, cabe lembrar que tal análise, ancorada na cultura, não implica a integral negação da inferioridade dos negros. De fato, se por um lado o ideário da democracia racial busca deslegitimar a hierarquia social fundamentada na identificação racial, por outro reforça o ideal do branqueamento e promove a mestiçagem e seu produto, o mulato. Ao mesmo tempo, ao negar a influência do aspecto racial na conformação da desigualdade social brasileira, ela representou um obstáculo no desenvolvimento de instrumentos de combate aos estereótipos e preconceitos raciais que continuavam atuantes na sociedade, intervindo no processo de competição social e de acesso às oportunidades (SILVA & LUIZ & JACCOUD & SILVA, 2009, p. 22). 175 Entre Redes O mito da democracia racial possibilitou o surgimento de um tipo de racismo muito característico da sociedade brasileira. Um racismo velado, que “tem vergonha de ser”, ambíguo, mascarado e, por tudo isso, bastante perverso. Um racismo que não está nas leis, mas que se faz presente, incessantemente, no mercado de trabalho, nas piadas, na má distribuição de renda, nos apelidos e em tantas outras dimensões da vida social dos(as) brasileiros(as). Desde pequenos(as), nós, brasileiros(as), somos educados(as) não para combater o racismo, mas sim para aprender a escondêlo. Algumas pesquisas apontam que brasileiros(as) quase nunca afirmam ter preconceito racial, mas citam exemplos de pessoas ou situações racistas que conhecem ou presenciaram. O racismo brasileiro é muito específico. O antropólogo João Baptista Borges Pereira nos traz outras características fundamentais do racismo no Brasil através de seu texto “Racismo à brasileira”. Nesse estudo, aponta a ambigüidade como a marca que fundamenta nossas práticas racistas e destaca quatro pares dialéticos que formatam esta ambigüidade. O primeiro deles é a diferenciação entre um verdadeiro e um falso racismo. Nós, brasileiros(as), construímos culturalmente a convicção de que só há racismo quando este é institucionalizado em regimes políticos como o Apartheid ou o Nazismo. Dessa forma, invisibilizamos as práticas racistas que circulam nas instituições, tendo como defesa a inexistência, no país, de uma legislação que faça distinção entre os diferentes grupos étnico-raciais. O segundo par dialético traz a oposição entre nosso discurso e nossa prática social. Brasileiros(as) afirmam que há preconceito racial no país, mas sempre localizam essa atitude de preconceito no outro. Além disso, “no jogo das aparências sociais” (PEREIRA, p.76) nos comportamos de forma cordial com aquele(a) racialmente diferente, apesar de produzimos e reproduzimos uma estrutura social extremamente injusta e perversa com a população afrodescendente. As recentes pesquisas do IBGE ainda revelam grandes disparidades ente negros e brancos no Brasil no que diz respeito à escolarização, acesso ao mercado de trabalho e condições de moradia, por exemplo. O terceiro binarismo apontado por João Baptista é o formado 176 “Diversidades sexuais, de gênero e étnico-raciais...” pelo grupo social e sua cultura. Concomitante ao cerceamento dos direitos e da ascensão social da população negra, há uma valorização da cultura de matriz africana como símbolo da identidade nacional pluri-étnica. Então, no Brasil, somos capazes de fazer do samba e da capoeira representantes internacionais de nossa cultura, não obstante isso não signifique uma real valorização e emancipação dos grupos negros que compõem nossa sociedade. O último par dialético tratado pelo sociólogo é o que traz os elementos da raça e da classe social. No Brasil tendemos a acreditar que não há influência racial na perpetuação da desigualdade social. Apreendemos que, se resolvermos a questão de classes, conseqüentemente eliminamos problemas que assolam a população negra. Com todo esse histórico de construção e fortalecimento do racismo, um dos grandes desafios que se apresenta, sobretudo para a escola, é a positivação de uma identidade negra entre meninos e meninas. Como temos um racismo baseado no fenótipo, a constituição de uma identidade negra desde a infância é um processo marcado por contradições, recusas, dor, baixa autoestima. Afinal, qual criança quer se identificar com traços físicos associados ao feio e com manifestações culturais vistas como primitivas e, até mesmo, atrasadas. Quantos(as) de nós já não ouviu e/ou reproduziu frases do tipo: “aquele menino de cabelo ruim”, “a preta de nariz chato”, “o menino preto igual carvão”, “aquela mulher macumbeira”? Produzir conhecimento para desconstruir tais estereótipos e, assim, possibilitar a construção de uma identidade negra positiva é a grande tarefa que temos hoje por meio de uma nova educação para as relações étnico-raciais. Para além da obrigação legal de implementação da lei 10.639/2003 nas redes de ensino, temos o compromisso ético e moral de consolidar uma nova base para as relações raciais no Brasil, fundamentada da democracia, na valorização da diversidade e no reconhecimento das matrizes étnicas que compõem o povo brasileiro. É com esse espírito que surgem no Brasil, a partir de 2001, as primeiras ações afirmativas na perspectiva de promoção da igualdade racial. A percepção de que políticas públicas universais não eliminariam a distância social entre brancos e negros impulsionou a elaboração de ações emergenciais e temporárias 177 Entre Redes que tem como objetivo estabelecer uma real equiparação e condição de igualdade entre os sujeitos. Reconhecemos a necessidade de se adotarem medidas especiais ou medidas positivas em favor das vítimas de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata com o intuito de promover sua plena integração na sociedade. As medidas para uma ação efetiva, inclusive as medidas sociais, devem visar corrigir as condições que impedem o gozo dos direitos e a introdução de medidas especiais para incentivar a participação igualitária de todos os grupos raciais, culturais, lingüísticos e religiosos em todos os setores da sociedade, colocando todos em igualdade de condições (DECLARAÇÃO DE DURBAN, art. 108). O Movimento Negro, através de sua luta e resistência, vem apontando debates para a política pública nacional e, gradativamente, alcançando conquistas irreversíveis. O Brasil, país com população majoritariamente negra e a segunda nação em população negra no mundo (a primeira é a Nigéria), gradativamente se liberta do mito da democracia racial e assume a tarefa de incluir efetivamente, como cidadãos e cidadãs, os negros e as negras que aqui vivem, trabalham, recolhem impostos, constituem suas famílias, vivem sua nacionalidade brasileira. Nesse contexto, a educação para as relações étnico-raciais aparece como um grande desafio a ser vencido, não só pelas escolas, mas por toda a sociedade brasileira. Precisamos nos reeducar para não mais ver os(as) negros(as) com os óculos dos estereótipos e dos preconceitos que, muitas vezes, justificaram as efetivas ações de discriminação racial. 5. Aplicação do conteúdo à prática Os conhecimentos e conceitos construídos ao longo deste debate sobre as diversidades sexuais, de gênero e étnico-raciais terão maior significado para nossas ações no enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes quando nos atentarmos para sua aplicabilidade nas práticas cotidianas. 178 “Diversidades sexuais, de gênero e étnico-raciais...” A compreensão do processo de construção social das diferenças certamente nos oferece subsídios para elaborarmos políticas públicas que rompam com o paradigma de uma cultura excludente, autoritária e paternalista para, assim, efetivamente, consolidarmos estratégias que atendam às demandas e necessidades específicas dos grupos historicamente marginalizados, dando voz e vez a esses sujeitos. 1.LGBT é a sigla mais comumente utilizada pelo movimento social para referenciar a população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Uma primeira aplicação prática a ser defendida, aqui, é a inclusão dos recortes de gênero, orientação sexual e pertencimento étnico-racial em questionários e pesquisas que visam a diagnosticar problemas ou monitorar ações implementadas em determinada localidade. A tabulação de dados discriminando tais elementos pode ser reveladora da eficácia ou ineficácia de políticas públicas universais em relação às mulheres, à população negra ou LGBT1, bem como da necessidade de estratégias diferenciadas para cada um desses grupos e da persistência de dificuldades setorizadas. Outra aplicabilidade do conteúdo aqui discutido diz respeito aos momentos de formação dos(as) agentes que compõem a rede social de proteção à criança e ao adolescente. Esses encontros precisam trazer à tona os estereótipos, mitos e naturalizações que cada um de nós carrega e, conseqüentemente, transfere para suas ações. As reflexões podem ser potencializadas por uma gama de estratégias, mas queremos deixar, aqui, um cardápio de filmes que possibilitam o trabalho com a temática da(s) diversidade(s): “Vista minha pele”: direção de Joel Zito Araújo; - “Minha vida em cor-de-rosa”: direção de Alain Berliner; - “Transamérica”: direção de Duncan Tucker; “A Negação do Brasil”: direção de Joel Zito Araújo; - “Delicada relação”: direção de Eytan Fox; - “O Atlântico negro – na rota dos orixás”: direção de Renato Barbieri; - “Besouro”: direção de João Daniel Tikhomiroff; “Filhas do vento”: direção de Joel Zito Araújo; - “Preciosa – uma história de esperança”: direção de Lee Daniels; - “Uma onda no ar”: direção de Helvécio Ratton. O trabalho para uma nova educação das relações étnico-raciais, de gênero e de reconhecimento da diversidade sexual também 179 Entre Redes pode ser desenvolvido com crianças e adolescentes por meio de oficinas, debates, filmes e dinâmicas que estimulem a exposição de idéias e concepções que meninos e meninas estão construindo ao longo da sua formação. Uma oficina muito simples, para um público de adolescentes, é relatada a seguir passo a passo: 1º passo: divida os(as) adolescentes em quatro grupos heterogêneos e distribua para cada grupo uma folha de papel kraft e pincéis atômicos. 2º passo: peça que cada grupo escolha um tema abaixo e que represente no contorno de um corpo humano, desenhado no papel kraft, o que foi discutido. a) Características de uma mulher ideal na visão das mulheres; b) Características de uma mulher ideal na visão dos homens; c) Características de um homem ideal na visão das mulheres; d) Características de um homem ideal na visão dos homens. 3º passo: a partir das apresentações de cada grupo, dialoguem sobre as representações e estereótipos de gênero abordados neste artigo, buscando desconstruir imagens naturalizadas e essencialistas acerca da masculinidade e da feminilidade. A partir dos breves exemplos supracitados, fica claro como existem muitas possibilidades de inserção da temática da(s) diversidade(s) na nossa prática cotidiana. Na escola, nos centros de saúde, nos atendimentos da Assistência Social, nas ONG’s, ou seja, em todos os lugares e equipamentos da rede social de proteção à crianças e adolescentes é possível ampliarmos o debate sobre as relações de gênero, a diversidade sexual e étnicoracial. O que não podemos é nos calar e fazer calar diante de questões tão pertinentes para a consolidação de estratégias e de políticas públicas de enfrentamento à violência. O diálogo é o caminho 180 “Diversidades sexuais, de gênero e étnico-raciais...” mais seguro para a mudança de paradigmas e para a efetiva construção de uma cultura de paz. Se, ao longo de nossa vida, aprendemos a discriminar, odiar e excluir, também somos capazes de aprender a respeitar, amar, valorizar e incluir! Considerações finais O enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes não pode prescindir de reflexões acerca do que nomeamos como diversidade(s), tendo em vista que as redes sociais potencializadas para garantir a proteção à infância e à adolescência também podem, de maneira (in)consciente, (re)produzir padrões de preconceito e discriminação há muito arraigados no nosso modo de pensar, agir e ver o mundo. As instituições, as leis, as práxis, as organizações possuem sua historicidade e, sendo assim, não estão blindadas às representações, significações e leituras culturais de seu período. Muitas vezes, constituímos ações de amparo e proteção a grupos marginalizados que acabam por reproduzir visões essencialistas, naturalizadas, estereotipadas em relação a essas populações e que em nada contribuem para o empoderamento e construção da autonomia dos sujeitos. Compreender o processo de construção social da diferença é fundamental para valorizarmos a diversidade em todas as dimensões que ela se apresenta na experiência social e daí não corrermos o risco de criar estratégias para “salvar o outro”, enquadrando-o em um modelo pré-estabelecido como a normalidade. O debate acerca das relações de gênero, da diversidade sexual e das relações étnico-raciais dá visibilidade a elementos que perpassam situações cotidianas de violências, mas que geralmente não são percebidos como tal. As questões relacionadas ao gênero, à orientação sexual e ao pertencimento étnico-racial, muitas vezes, estão na base de conflitos intrafamiliares, de atos violentos cometidos nos espaços públicos, da evasão escolar, das disputas ente “gangues”, mas o nosso olhar, viciado por padrões culturais, não consegue enxergar o quanto esses elementos potencializam atos de violência. São filhos e filhas expulsos de suas famílias por assumirem a 181 Entre Redes homossexualidade, são meninos e meninas negros(as) que não têm a afetividade de seus/suas professores(as), são travestis e transexuais vítimas de assassinatos homofóbicos diários em nossas ruas, são mulheres e meninas com seus corpos marcados pelo machismo e pela violência sexual. As redes sociais de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes precisam ser militantes ativas no combate ao sexismo, ao machismo, a homofobia e ao racismo. Todas essas formas de preconceito e discriminação estão vinculadas a um modelo de humanidade excludente e, por isso, têm que ser combatidas em bloco. Quem alimenta o machismo, por exemplo, também alimenta a homofobia e o racismo, já que a discriminação de gênero se apóia no modelo de homem, branco, heterossexual e com alto poder de consumo que resume o padrão civilizatório e de normalidade engendrado pela cultura ocidental. A valorização da diversidade certamente contribuirá para a garantia da eqüidade no que diz respeito ao acesso às políticas públicas. Não devemos reforçar a idéia de que “todos somos iguais”, ao contrário, é urgente reforçarmos que “somos diferentes”, mas, ao mesmo tempo, iguais em nossa humanidade. Assim, trazemos para o campo das políticas públicas a dimensão do sujeito com todas as contradições e conflitos que atravessam as relações de poder estabelecidas na vivência social. Jogando com as palavras e algumas das reflexões de Boaventura de Sousa Santos, precisamos ser apenas mulher quando a masculinidade nos anula, ser somente negro(a) quando a branquitude nos oprime, ser sobretudo gay e lésbica quando a heteronormatividade nos violenta, ser principalmente transexual quando o sexismo nos invibiliza, mas ser,também, humano, igual a todos os outros, na luta pela igualdade de oportunidades, pela justiça social e pela garantia de direitos. Dar visibilidade aos sujeitos, esta é a questão central quando tratamos de políticas, ações e estratégias que consideram a diversidade. É preciso ter escuta para as demandas específicas de grupos historicamente marginalizados em nossa sociedade, no entanto, é necessário dar voz a quem, durante séculos, foi imposto o silenciamento. O reconhecimento de que as discriminações por gênero, pela orientação sexual ou pelo pertencimento étnico-racial perpas182 “Diversidades sexuais, de gênero e étnico-raciais...” sam muitos fenômenos de violência presentes na sociedade brasileira pode nos dar subsídios para construir estratégias mais eficazes no enfrentamento a essas violências. Nessa perspectiva, o diálogo com os movimentos sociais é ferramenta indispensável para a consolidação de ações de enfrentamento à violência, especialmente contra crianças e adolescentes, já que nos coloca em contato com quem vive a opressão e a resistência, com as mulheres e homens que efetivamente denunciam a violação de direitos e pautam a política pública. Não alcançaremos a paz com passeatas e pombas brancas! O que se faz urgente é a construção de uma cultura de paz. Para isso, necessitamos de uma nova educação para nossas relações de gênero, para nosso trato com a diversidade sexual e para nossa convivência em uma sociedade pluri-étnica. Uma cultura de paz pressupõe o rompimento com os paradigmas da cultura ocidental que ainda nos aprisiona nas amarras do sexismo, da homofobia, do machismo e do racismo. Uma cultura de paz é aquela que reconhece como iguais todos os sujeitos, na mais plena e ampla vivência da(s) diversidade(s). 183 Entre Redes Referências bibliográficas BORTOLINI, Alexandre. Diversidade sexual na escola. 2. ed. Rio de janeiro: Pró-Reitoria de Extensão/UFRJ, 2008. BRASIL. Ministério da Educação / Secretaria de educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. Orientações e ações para a educação das relações étnico-raciais. Brasília: Secad, 2006. BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Rio de janeiro: Civilização Brasileira, 2003. CONFERÊNCIA MUNDIAL CONTRA O RACISMO, DISCRIMINAÇÃO RACIAL XENOFOBIA E INTOLERÂNCIA CORRELATA. Declaração de Durban e plano de ação. Brasília: FCP / Ministério da Cultura, 2001. FOUCAULT, Michel. História da sexualidade I: a vontade de saber. 17. ed. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1988. JACCOUD, Luciana (org.). A construção de uma política de promoção da igualdade racial: uma análise dos últimos 20 anos. Brasília: Ipea, 2009. GOMES, Nilma Lino. Indagações sobre currículo: diversidade e currículo. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de educação Básica, 2008. __________________. Alguns termos e conceitos presentes no debate sobre relações raciais no Brasil: uma breve discussão. In.: Educação anti-racista: caminhos abertos pela Lei Federal nº 10.639/2003 / Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2005. GONÇALVES, Luiz Alberto Oliveira; GONÇALVES e SILVA, Petronilha Beatriz. O jogo das diferenças: o multiculturalismo e seus contextos. Belo Horizonte: Autêntica, 1998. HALL, Stuart. A identidade cultural na pós modernidade. (trad. de Tomaz Tadeu da Silva e Guacira Lopes Louro) 7. ed.. 184 “Diversidades sexuais, de gênero e étnico-raciais...” Rio de Janeiro: DP&A, 2002. JUNQUEIRA, Rogério Diniz (org.). Diversidade sexual na educação: problematizações sobre a homofobia nas escolas. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, UNESCO, 2009. LOURO, Guacira Lopes (org.). O corpo educado: pedagogias da sexualidade. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2007. ________________ et al (orgs.).Corpo, gênero e sexualidade: um debate contemporâneoi na educação. 2 ed. Petrópolis: Vozes, 2003. MUNANGA, Kabengele. Superando o racismo na escola. Brasília: Ministério da Educação, 1999. PARKER, Richard. Cultura, economia política e construção social da sexualidade. In: O corpo educado: pedagogias da sexualidade. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2007. PEREIRA, João Baptista Borges. Racismo à brasileira. In: MUNANGA, Kabengele (org.). Estratégias e políticas de combate à discriminação racial. São Paulo: Edusp, xxxx PEROZIM, Lívia. Masculino e feminino: plural. Revista Educação, maio/ 2003. SILVA & LUIZ; JACCOUD & SILVA. Entre o racismo e a desigualdade: da Constituição à promoção de uma política de igualdade racial (1988-2008). In.: JACCOUD, Luciana. A construção de uma política de promoção da igualdade racial: uma análise dos últimos 20 anos. Brasília: Ipea, 2009. THEODORO, Mario et al (orgs.). As políticas públicas e a desigualdade racial no Brasil: 120 anos após a abolição. Brasília: Ipea, 2008. WEEKS, Jeffrey. O corpo e a sexualidade. In: O corpo educado: pedagogias da sexualidade. 2. ed.. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2007. 185 Entre Redes Bibliografia complementar BENTO, Maria Aparecida Silva. Branqueamento e branquitude no Brasil. In.: IRAY, Carone; BENTO, Maria Aparecida Silva (orgs.). Psicologia social do racismo: estudos sobre branquitude e branqueamento no Brasil, Petrópolis: Vozes, 2002. BRASIL. Lei nº 9.394.LDB – Lei de Diretrizes e Bases da educação Nacional, de 20 de dezembro de 1996. D.O.U de 23 de dezembro de 1996. _______. Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003. D.O.U de 10 de janeiro de 2003. _______. Ministério da Saúde. Programa Brasil som Homofobia. Brasília, 2004. _______. Presidência da República – Secretaria Especial de direitos Humanos. Plano Nacional de Cidadania e Direitos Humanos LGBT. Brasília, 2009. CONFERÊNCIA MUNDIAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. Declaração de Salamanca. Espanha, 1994. DAYRELL, Juarez (org.). Múltiplos olhares sobre educação e cultura. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1996. DINIZ, Margareth. De que sofrem as mulheres professoras? In.: LOPES, Eliane Marta Teixeira. A psicanálise escuta a educação. , Belo Horizonte: Autêntica, 1998. DINIZ, Margareth; VASCONCELOS, Renata Nunes (orgs.). Pluralidade cultural e inclusão na formação de professoras e professores: gênero, sexualidade, raça, educação especial, educação indígena, educação de jovens e adultos. Belo Horizonte: Formato Editorial, Série educador em formação, 2004. JESUS, Beto de et al (orgs.). Diversidade sexual na escola: uma metodologia de trabalho com adolescentes e jovens. São Paulo: Fundação para o desenvolvimento da educação, 2008. FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. 24. ed, , Petrópolis: Vozes, 2001. MUNANGA, Kabengele. Construção da identidade negra no 186 “Diversidades sexuais, de gênero e étnico-raciais...” contexto da globalização. In.: OLIVEIRA, Iolanda de (org.). Relações raciais e educação: temas contemporâneos. Niterói: EdUFF, 2002. DINIZ, Margareth; VASCONCELOS, Renata Nunes (orgs.). Pluralidade cultural e inclusão na formação de professoras e professores: gênero, sexualidade, raça, educação especial, educação indígena, educação de jovens e adultos. Belo Horizonte: Formato Editorial, 2004. PRADO & MACHADO. Preconceito contra homossexualidades: a hierarquia da invisibilidade. 1. ed. São Paulo: Cortez, 2008. Revista Estudos Feministas. vol. 9, nº2. Florianópolis, 2001. 187 Márcio Simeone Henriques O processo mobilizador de proteção às crianças e aos adolescentes: desafios à comunicação Márcio Simeone Henriques Mestre em Educação pela UFRJ e doutor em Comunicação pela UFMG. Professor do Departamento de Comunicação Social e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da UFMG. Coordenador do Laboratório de Relações Públicas Plínio Carneiro. Entre Redes 1. Item VII, art. 88 da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, com modificações dadas pela Lei 12.010, de 2009 1. Introdução As questões de respeito aos direitos humanos são fundamentais para a consolidação do estado de direito e das práticas políticas democráticas. O desafio de garantir a efetividade desses direitos exige um processo de mobilização social intenso no qual a responsabilidade pela formulação, execução e acompanhamento das políticas públicas seja compartilhada entre estado e sociedade civil. Em especial, a causa do combate à violência tem exigido, cada vez mais, a geração de uma co-responsabilidade entre diversos atores institucionais e destes com os cidadãos, organizados ou não. Em primeiro lugar, porque as diversas formas de violência possuem múltiplas causas e precisam ser encaradas em sua complexidade. Em segundo lugar, porque a aposta fundamental no estado de direito é de gerar formas de prevenção e de combate à violência que se atenham aos limites do respeito aos direitos humanos, funcionem dentro de princípios de controle público e ainda envolvam o conjunto dos cidadãos na promoção de formas pacíficas de convivência, respeitando sua diversidade. A geração de condições de proteção a crianças e adolescentes tem representado, no Brasil, um gigantesco desafio. Em que pesem os avanços no marco legal e nas experiências com a efetivação de políticas públicas, o país se depara ainda com graves situações que demandam atenção do poder público e da sociedade civil. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) possui diretrizes claras para a política de atendimento em relação direta com a mobilização social: uma integração operacional de órgãos do poder público, a criação de instâncias participativas (na forma de conselhos) e ainda “mobilização da opinião pública para a indispensável participação dos diversos segmentos da sociedade.” 1 Considerada essa demanda, a mobilização social precisa ser encarada como um processo permanente, e não como uma ação eventual e pontual. Mais do que uma tática, é um princípio basilar de ação política e institucional para a garantia de efetivação do Estatuto. Mas como se constitui tal processo mobilizador? Quais são as suas perspectivas e seus principais dilemas? Neste capítulo queremos abordar esse processo como sendo essencialmente um processo comunicativo. Sustentamos que o processo de comunicação para mobilização social se dá em três níveis distintos e complementares, que se espelham nas demandas ex- 190 “O processo mobilizador...” pressas no ECA, apontadas acima. 2. A mobilização social como processo comunicativo Em vários estudos temos procurado lançar luz sobre os processos de mobilização social, entendidos como processos de relações públicas, portanto, de relações comunicativas que se estabelecem publicamente entre os cidadãos. Partimos da idéia de que esse processo não se dá sem a composição e execução de estratégias comunicativas para promover o envolvimento dos públicos com as diversas causas sociais que demandam a atenção dos cidadãos. Entendemos a mobilização social como “uma reunião de sujeitos que definem objetivos e compartilham sentimentos, conhecimentos e responsabilidades para a transformação de uma dada realidade, movidos por um acordo em relação à determinada causa de interesse público” (BRAGA; HENRIQUES; MAFRA, 2004, p. 36). Isso significa que os diversos atores sociais buscam sempre posicionar causas como sendo de interesse público mais amplo, buscando, ao fim, uma responsabilidade compartilhada (ou co responsabilidade) de um grupo maior de pessoas e de instituições em relação a essa causa. Esse posicionamento depende, essencialmente, da visibilidade pública que se dá aos problemas que se quer resolver e às formas de luta que estes atores propõem para alcançar seus objetivos de transformação. É evidente que a visibilidade é um recurso importante para que os públicos sejam alcançados, motivo pelo qual as causas mobilizadoras precisam ser amplamente divulgadas. No entanto, a difusão não garante que tais audiências realmente considerem tais causas merecedoras de atenção e de reconhecimento (como causas legítimas e realmente relevantes), menos ainda assegura que tais sujeitos realmente se envolvam a ponto de estabelecer um vínculo com a causa (a adesão), partindo para a ação coletiva. A construção de vínculos com os públicos é, portanto, um desafio que todo grupo mobilizado precisa vencer. O que se observa em qualquer atitude de mobilização social é que existe sempre uma expectativa em relação à estabilidade e à duração desses vínculos, ou seja, uma relação mais solidamente estabelecida com estes públicos que se deseja mobilizar. Por isso mesmo, cada grupo mobilizado esforça-se por atingir um vínculo ideal, em que os sujeitos e instituições tenham um maior compromis191 Entre Redes so com a defesa da causa e tendam a manter este compromisso, mesmo diante dos altos e baixos por que passa o processo. A este vínculo ideal damos o nome de co-responsabilidade (HENRIQUES et al, 2004). A geração deste tipo de vínculo exige, por si só, esforços de comunicação, para gerar e manter a relação desejada. Toro e Werneck (2004) apontam a importância do compartilhamento de discursos, visões e informações, bem como da geração das condições efetivas de participação dos sujeitos no processo, o que exige ações de comunicação em seu sentido mais amplo. Esse processo comunicativo não se esgota, contudo, numa intercomunicação que precisa ocorrer entre pessoas e grupos que se integram a ele, mas também no âmbito de uma comunicação pública e aberta à sociedade. A condição de publicidade (com ampla visibilidade) é essencial para a manutenção do caráter social da mobilização. Isso significa inserir e posicionar as causas, todo o tempo, nas esferas públicas de discussão e debate, em que competem pela atenção dos cidadãos e passam todo o tempo pelo julgamento dos públicos. Assim, todo projeto mobilizador, todo grupo mobilizado, em alguma medida, precisa estar atento às suas próprias condições para dar publicidade às suas causas, às suas propostas de ação e aos resultados que alcança, ao mesmo tempo em que precisa acompanhar a evolução dos debates. Nas modernas sociedades complexas, esse processo é mediatizado, ou seja, ocorre com a intermediação de diversos dispositivos de comunicação (um conjunto de meios e instrumentos que chamamos genericamente de mídia) que põem em circulação as mais diversas informações, tornando-as públicas. 3. A mobilização social em três níveis Examinado em seus aspectos políticos, enquadrado no cenário de uma sociedade democrática participativa, o processo de mobilização social de proteção a crianças e adolescentes busca se efetivar em três níveis distintos, porém complementares: (a) intragovernamental, (b) interinstitucional e (c) intersubjetiva. É lugar-comum a idéia de que esse tipo de ação social deve se dar em rede, ou seja, configurando conexões entre diversos atores que são necessários para sustentar ações de proteção. Implica uma noção de cooperação e coordenação de ações, definida a partir de propósitos e valores comuns, por um lado, mas também por uma diferenciação de papeis institucionais e subjeti192 “O processo mobilizador...” vos, por outro. Programas governamentais mobilizadores têm, em princípio, uma característica intrínseca de articulação interinstitucional, da qual depende o sucesso de suas ações e a própria mobilização da sociedade civil. Assim, no nível intragovernamental, a demanda por mobilização é essencialmente de promover ações coordenadas entre os próprios órgãos e agências do poder público que possuem relação direta com os propósitos do programa. Aqui pode ser captada uma primeira contradição fundamental: a abordagem requerida como solução para os problemas relacionados à violência, em geral, é necessariamente multidisciplinar, o que contrasta com a fragmentação institucional e setorial do próprio poder público. Por esse motivo, a integração operacional à qual o ECA se refere é, em si, desafiadora e precisa ser encarada em três dimensões diferentes. Uma primeira dimensão diz respeito às responsabilidades que devem ser compartilhadas entre as três grandes esferas governamentais - federal, estadual e municipal. A segunda abrange integração das esferas de poder - Executivo, Legislativo e Judiciário. A terceira se refere aos diversos setores do Poder Executivo encarregados da consecução das políticas públicas (saúde, educação, segurança etc.). Assim, são muito evidentes os problemas de comunicação que precisam ser enfrentados. De maneira mais geral, os diversos agentes públicos reclamam dos entraves burocráticos que prejudicam a intercomunicação, ágil, entre os órgãos, agências e setores de modo e de que as barreiras à tomada de decisões no âmbito de cada setor dificultam as tomadas de decisão coletivas. Mas os problemas não se restringem às questões operacionais e a uma comunicação instrumental que precisa acontecer através da manutenção de canais de interlocução que conectem de maneira mais eficiente os setores diversos. É característica desse nível uma permanente negociação que ocorre no âmbito político, em todos os níveis e esferas. Sob uma perspectiva democrática, a realização dos programas mobilizadores depende de entendimentos políticos que devem ocorrer sob o princípio da publicidade das decisões e das ações, ou seja, baseados nos princípios de accountability (de uma prestação pública de contas) do poder público. Para que isso aconteça, os órgãos governamentais têm percebido cada vez mais a demanda de um planejamento de comunicação que não apenas garanta o estabelecimento dos vínculos internos ao poder público, como também possa garantir o suprimento da demanda por accountability, provendo os públicos (os cidadãos) de informações sobre 193 Entre Redes suas decisões e ações. Quando nos referimos ao nível interinstitucional, reconhecemos que programas de ação governamental complexos requerem uma participação da sociedade civil organizada na sua realização, articulando as ações do primeiro com o segundo e terceiro setores. Essa parceria intersetorial se baseia não só no princípio da insuficiência de qualquer um dos três setores para resolver certos problemas, mas também na idéia de que somente com a participação e cooperação dos cidadãos é possível alcançar resultados consistentes e garantir que a execução das ações em conformidade com as políticas públicas. Sob essa perspectiva, a mobilização pressupõe a geração de vínculos que garantam os compromissos de cada instituição no processo. A ampliação dos compromissos e das responsabilidades para além do poder público implica em dificuldades de outra natureza. Uma delas está na forma de envolver as lideranças do terceiro setor, reconhecendo a enorme diversidade de formas organizacionais e de atuação das associações civis. Outra é a forma de envolvimento das organizações empresariais. Aqui também podemos distinguir comunicação instrumental - que se orienta pelo cumprimento de objetivos e metas comuns eficazmente informadas e compartilhadas entre todos os que se articulam - de uma comunicação de caráter essencialmente político - orientada para o entendimento comum da causa a que se refere o programa de ação e quanto às formas de resolução dos problemas. Uma questão muito comum que emerge dos programas mobilizadores de iniciativa governamental é o da abertura à participação ampla. No nível interinstitucional, os programas buscam garantir a participação de instituições que sejam legítimas interlocutoras e legítimos agentes. No caso das instituições associativas da sociedade civil, isso significa que seu ingresso no processo mobilizador deve se dar a partir do reconhecimento de seus interesses e de sua forma de ação como legítimos e também como representativas de segmentos de públicos ligados, direta ou indiretamente, às causas propostas. Tanto no nível intragovernamental quanto no nível interinstitucional percebemos a necessidade de articulações formais, que se expressam sob a forma de protocolos, convênios, contratos, como modo de assegurar a vinculação dos vários agentes. Tais formalidades são importantes para garantir certa estabilidade aos compromissos e continuidade dos programas. Entretan194 “O processo mobilizador...” to, ao considerarmos a mobilização social como um processo bem mais amplo, que necessariamente implica a participação dos sujeitos - como cidadãos reunidos em função de causas de interesse público –, temos que observar que este processo não pode se esgotar no âmbito da participação institucional. Depende, portanto, de um envolvimento dos cidadãos como públicos destes programas. Daí porque reconhecemos a existência de um terceiro nível, ao qual denominamos intersubjetivo. No nível intersubjetivo pensamos no cidadão comum, que exerce a prerrogativa de participar dos negócios públicos – seja contribuindo com a formulação das políticas públicas, seja exercendo controle sobre a execução destas políticas ou ainda, numa dimensão operacional, cooperando para a realização de objetivos de programas públicos. No entanto, sob a perspectiva conceitual que adotamos para compreender a mobilização social, consideramos que a participação do público pode se dar de várias formas, sob vários tipos de vínculos. Quando nos referimos aos cidadãos comuns, precisamos prever que o processo mobilizador os alcance de alguma forma, direta ou indireta. E não podemos desconsiderar que, no nível institucional, cada um de nós, como cidadãos, não agimos apenas individualmente, mas também através das nossas intrincadas redes de vinculações coletivas (nossas redes de solidariedade), mais ou menos institucionalizadas. Quando falamos de enfrentamento às situações de violência, temos várias expectativas relativas à participação e à mobilização dos cidadãos, e não apenas das instituições, que vão além de participação nas discussões nos fóruns permanentes ou eventuais abertos para o debate da questão. Podemos citar pelo menos duas que são muito importantes no contexto dos programas mobilizadores: - Controle social: existe uma expectativa de que os sujeitos, uma vez mobilizados, possam exercer influências uns sobre os outros em suas localidades ou nas suas esferas de ação, de tal forma que exerçam certo controle social difuso sobre os comportamentos dos demais sujeitos. Isso pressupõe um nível de solidariedade de relações próximas entre estes sujeitos. Para o enfrentamento às situações de violência, é fundamental que essas interações sejam fortes o suficiente para inibilas. - Mudança de comportamentos: os sujeitos devem ser encora195 Entre Redes jados a mudar suas atitudes de convívio social, especialmente buscando a resolução de seus conflitos de forma mais pacífica. Nos casos específicos de violência doméstica e abusos contra crianças e adolescentes, os cidadãos precisam ser informados e estimulados a mudar formas de comportamento já culturalmente arraigadas no costume comum de certos grupos ou mesmo generalizados na sociedade. Nesse ponto, espera-se que cada ação individual de cada sujeito, no sentido da transformação de atitudes esperada, deve se conectar a um comportamento coletivo mais amplo. Por isso, alcançar o cotidiano do cidadão comum é uma tarefa essencial desses programas mobilizadores. É por meio do enraizamento nas redes de sociabilidade e de solidariedade cotidiana que se busca obter, em última análise, o vínculo ideal da co-responsabilidade, construindo um sentido coletivo e público para a transformação almejada. Mas ainda há um fator importante que deve ser buscado nesse nível intersubjetivo, o da “mobilização da opinião pública”, como prevê a diretriz do ECA. A menção ao termo “opinião pública” é bastante genérica, mas denota uma preocupação em obter dos públicos aprovação e legitimação para a causa e para o programa, de tal forma que crie as bases de sustentação das ações. Isso se dá porque, para que qualquer causa social se sustente, é indispensável criar as condições para que sejam compreendidas como uma questão que se encontra no domínio coletivo de resposta dos cidadãos e, ainda mais importante, que se posicione como questões de interesse público. Na mobilização social, damos o nome a este processo de coletivização (HENRIQUES, 2010). 4. O processo de coletivização como base para a mobilização O que chamamos de coletivização é o processo de posicionar um problema de tal maneira que transcenda o âmbito das biografias individuais dos sujeitos, para alcançarem uma abordagem coletiva. Partimos do princípio de que não pode haver um vínculo de co-responsabilidade sem que os sujeitos se achem direta ou indiretamente implicados no problema apontado e também comprometidos de alguma maneira com a sua solução. A primeira questão que emerge é: como implicar os sujeitos em alguma questão no plano coletivo? Problemas que afetam diretamente muitas pessoas têm, em princípio, uma chance de 196 “O processo mobilizador...” gerarem um compartilhamento de sentimentos em relação à forma como são afetadas. Questões às quais as pessoas estão efetivamente concernidas podem gerar, entre elas, uma insatisfação e um propósito de transformar, juntas, sua realidade, caso percebam que não darão conta de resolver individualmente os problemas. 2.Em BRAGA, HENRIQUES e MAFRA (2004) examinamos em maiores detalhes o processo de geração de vínculos e a busca pelo vínculo da coresponsabilidade. Se isso pode ser o germe para fazer brotar um processo mobilizador, não é, no entanto, condição suficiente. A geração de um sentimento – e de um vínculo – de co-responsabilidade é um processo mais complexo, que depende de inúmeras condições para ser efetivamente alcançado2. Vamos nos deter, aqui, a algumas condições de coletivização que configuram a base para a existência de uma causa social, para examinarmos quais são os desafios que precisam ser encarados em programas de combate à violência contra crianças e adolescentes. A primeira destas condições é a concretude. Nenhuma causa social se sustenta sem que se possa afirmar a existência concreta de um problema que se constata e que, de alguma forma, afeta as pessoas. É evidentemente mais fácil convencer as pessoas diretamente afetadas que o problema realmente existe e demanda soluções. No entanto, é sempre um grande desafio convencer os sujeitos que não são diretamente afetados, porque, para que se sintam implicados, devemos apelar para informações comprobatórias, para uma visão mais ampla e abstrata do problema e, principalmente, para a solidariedade. Isso só pode acontecer por meio de informações sobre a questão e de argumentos que forneçam um sentido a ela. Pessoas que não sofrem diretamente um ato de violência podem não perceber isso como um problema. Porém, somente a concretude não é suficiente para que um problema seja coletivizado, tornando-se uma causa social. É preciso que, dentre os sentidos construídos, se possa reconhecer o sentido público da questão. Em primeiro lugar, os públicos precisam compreender que o problema que afeta diretamente algumas pessoas não se restringe às suas individualidades, ou seja, não se restringem aos âmbitos privados dos sujeitos. Para isso, é necessária uma compreensão de que o problema potencialmente prejudica toda a sociedade. Atos violentos podem ser atos praticados no âmbito privado (um bom exemplo são os atos de violência doméstica). No entanto, a garantia de integridade e dignidade de cada cidadão, alçada ao plano coletivo, toma uma 197 Entre Redes dimensão que precisa ser publicamente tratada. Aqui interessa, sobretudo, posicionar a questão como algo que, embora não afete a uma pessoa em particular, no seu âmbito privado, contribui para uma vida coletiva violenta, o que não é desejável. Podemos afirmar que essa condição, de fornecer um sentido público, é a mais importante para a constituição dos públicos no processo de mobilização. Isso porque a formação e o posicionamento de uma causa como sendo de interesse público (que, como já vimos no conceito de mobilização adotado, é um requisito central) depende, antes de qualquer coisa, do próprio julgamento dos públicos. Eles (que formam, de modo abstrato, a chamada “opinião pública”) definem, no fim das contas, o que é uma causa legítima e, portanto, passível de vinculação por meio de uma responsabilidade compartilhada. Toro e Werneck (2004) assim definem a geração do interesse público: “entendemos [...] a construção do público como a construção do que convém a todos, como resultado de uma racionalidade genuinamente coletiva” (TORO; WERNECK, 2004, p. 32). A construção deste sentido só é possível por uma intensa oferta pública de argumentos e de apelos aos próprios interesses mais gerais e coletivos. Uma vez cumpridas as duas condições, podemos, de fato, considerar a existência de uma causa mobilizadora. Contudo, na proposição pública de uma causa social, duas outras condições são complementares. É necessário, ainda, fornecer elementos para que os públicos acreditem na possibilidade das transformações desejadas e construir apelos a valores mais amplos. No primeiro caso, vencer a inércia e convencer os sujeitos e instituições a agirem efetivamente em prol da causa e participarem de um programa de mobilização depende de sustentar, todo o tempo, a crença nos resultados, apesar de toda dificuldade que a causa possa apresentar. Por vezes, é preciso vencer um sentimento de impotência, que pode ser uma enorme barreira para a participação e para a cooperação. As situações de violência podem ser, de algum modo, inibidoras da ação - seja por medo ou pela própria percepção da complexidade no seu enfrentamento. O importante é que os programas mobilizadores consigam oferecer apelos consistentes e realmente motivadores. Não bastam argumentos vagos e genéricos sobre a importância da mobilização. É de suma importância que se ofereçam dados objetivos sobre as possibilidades de enfrentamento, fazendo circular informações sobre o sucesso de ações semelhantes e os próprios 198 “O processo mobilizador...” resultados já obtidos pelo programa. No segundo caso, o apelo a valores mais amplos é fundamental para situar o programa de mobilização dentro de um quadro de referências que possa ser mais facilmente compartilhado entre os sujeitos. Assim, por exemplo, apelos aos valores da paz e da justiça não só podem constituir uma motivação para o reconhecimento da causa, como também para as ações coletivas. Como observam Toro e Werneck (2004), estes apelos definem um horizonte ético para a mobilização, além de auxiliarem na construção simbólica de um “imaginário convocante”. O processo de coletivização nada mais é do que a inserção da causa mobilizadora no espaço de debate público, o que se dá, portanto, através das estratégias discursivas dos vários atores, ou seja, é um processo essencialmente comunicativo. É no próprio embate que se dá na arena pública que vão se definir os contornos de cada causa social, a cada momento histórico, de acordo com as flutuações dos julgamentos dos públicos (da opinião pública). Sendo este processo - base para a mobilização - inerentemente instável, consideramos que todo processo de mobilização social é, portanto, instável e indeterminado. Por isso, é importante compreender a mobilização social, antes de tudo, como uma movimentação dos públicos na sociedade. 5. Aplicação do conteúdo à prática É possível compreender os principais problemas que se colocam para a mobilização de uma localidade em torno do enfrentamento às situações de violência contra crianças e adolescentes a partir de um simples diagnóstico sobre o processo de coletivização dessa causa e as estratégias utilizadas pelo programa mobilizador. Para isso, sugerimos que sejam respondidas as seguintes questões: 1. Sobre a proposição da causa: 1.1. Quem a propõe? 1.2. Quais são as condições de aceitação e legitimidade do(s) propositor(es)? 1.3. Quais as condições de sustentação da causa: ela é percebida como concreta pelos seus públicos? É reconhecida como uma causa de interesse público? Avalie os principais obstáculos encontrados para essa coletivização. 199 Entre Redes 2. Sobre as estratégias de comunicação utilizadas pelo programa: 2.1. Quais são os apelos dirigidos aos públicos quanto à sua viabilidade? 2.2. Quais são os apelos dirigidos aos públicos quanto aos valores que sustentam a causa (horizonte ético)? 2.3. Quais são as ações de visibilidade da causa e do programa mobilizador através da mídia (são utilizados os veículos de imprensa escrita, radiodifusão, etc.)? 2.4. Que ações de comunicação são dirigidas a públicos específicos? São suficientes para estimular a participação? 2.5. São utilizados recursos das redes sociais digitais (na internet)? 2.6. Que informações qualificadas são colocadas disponíveis para os públicos? Elas são suficientes para permitir o engajamento e a participação efetiva? Considerações finais: os desafios para a comunicação Compreendendo a mobilização social como um processo comunicativo, surgem algumas questões importantes que precisam ser consideradas: - Os programas de mobilização social precisam recorrer à visibilidade. Entretanto, a visibilidade na sociedade contemporânea é cada vez mais mediada por dispositivos de comunicação (chamada, por isso mesmo, de visibilidade midiática). Lidar com a mídia, no entanto, implica conhecer a sua lógica especializada de operação, saber o modus operandi de seus veículos e agentes. Em razão disso, cada vez mais as ações de relacionamento com a mídia (incluindo a imprensa) demandam maior atenção e também algum conhecimento especializado. - Um aspecto importante das estratégias comunicativas necessárias à mobilização é a prestação de informações qualificadas aos públicos. Entendemos as informações qualificadas como sendo aquelas que permitem a atuação destes públicos no programa mobilizador: como fazer para integrar o programa? Quem já integra os esforços de mobilização? Que tipo de contribuições são esperadas de cada pessoa ou instituição? Quais são as formas de atuação desejáveis e/ou mais eficazes? Existem informações técnicas suficientes sobre as ações a serem empreendidas? Existe uma partilha do conhecimento especializado sobre a causa e suas formas de enfrentamento? 200 “O processo mobilizador...” - Quando falamos de publicidade, não podemos restringir a visibilidade a uma difusão de informações em massa. Se é importante, em alguns momentos, lidar com uma divulgação de maior alcance, a promoção de ações de comunicação dirigida a públicos específicos é cada vez mais importante para garantir a geração e manutenção de vínculos com os diversos públicos. Essas ações de comunicação devem estar voltadas para gerar, de um lado, elementos capazes de dar coesão ao grupo que se mobiliza (garantindo suas conexões na forma de uma rede de atores) e, de outro, fatores de identificação dos atores com a causa e com o programa mobilizador. É num enquadramento simbólico forte, no qual os sujeitos possam se reconhecer como pertencentes a uma causa comum, que se viabilizam as interações necessárias à efetiva geração da co-responsabilidade. A sociedade contemporânea dispõe de extraordinários recursos de intercomunicação através da internet. As chamadas redes sociais digitais são, hoje, um poderoso suporte para a manutenção desses vínculos. Dessa forma, entendemos que a constituição de redes de proteção, redes mobilizadoras capazes de assegurar o enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes, demanda um olhar sobre a “opinião pública” que vai além do propósito de estimular a participação dos vários segmentos sociais, como prevê o ECA. Requer uma atenção a todas as ações comunicativas que geram e sustentam a própria rede, composta de nós e de conexões de públicos em constante movimento. Referências bibliográficas BRAGA, Clara S.;HENRIQUES, Márcio S.; MAFRA,Rennan L. M. O planejamento da comunciação para a mobilização social: em busca da corresponsabilidade. In.: HENRIQUES, Márcio S. (org.). Comunicação e estratégias de mobilização social. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2004. HENRIQUES, Márcio S. Comunicação e mobilização social na prática de polícia comunitária. Belo Horizonte: Autêntica, 2010. TORO, Jose Bernardo; WERNECK, Nísia Maria Duarte. Mobilização Social: Um modo de construir a democracia e a participação. Belo Horizonte: Autêntica, 2004. 201 José Raimundo da Silva Lippi Da Alienação Parental à Alienação Judiciária José Raimundo da Silva Lippi Especialista em Psiquiatria da Infância e Adolescência pela UFMG e doutor em Saúde da Criança e da Mulher pela FIOCRUZ. Professor convidado das Faculdades de Medicina da UFMG e USP. Presidente da Associação Brasileira de Prevenção e Tratamento das Ofensas Sexuais – ABTOS (USP). Entre Redes 1.International Society for Prevention on Child Abuse and Neglect (ISPCAN). 1. Introdução O título deste artigo aponta para um fato marcante e que preocupa aqueles profissionais experientes e que conhecem a história da especialidade. Como sou um dos introdutores da Psiquiatria Infantil no nosso país, tenho o privilégio de saber algumas coisas a mais do que os mais jovens. Fui presidente da Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil (ABENEPI) por duas gestões: décadas de 70 e 80. Como um dos especialistas que mais se interessou pelo estudo dos abusos contra a criança, tomei conhecimento do que ocorria nessa área nos EUA. No exercício desses cargos, muito se pôde fazer e se conhecer o movimento mundial sobre a defesa dos direitos da criança. Em setembro de 1988, tive o privilégio de presidir o “VII International Congress on Child Abuse and Neglect” (VII Congresso Internacional sobre Abuso e Negligência na Infância). Esse evento, considerado um divisor de águas para o estudo da matéria no Brasil, aconteceu na cidade do Rio de Janeiro. Nessa época, eu era presidente da ALACMI (Associação Latino-Americana contra o Maltrato Infantil) e Vice-Presidente da ISPCAN1 (Sociedade Internacional de Prevenção do Abuso e Negligência na Infância). Um país e seus cidadãos, sem história, não existem. É dentro dessa perspectiva que irei demonstrar que sempre estive a par desse movimento e acompanhei um pouco da história de Richard Alan Gardner, que se tornou o mais conhecido personagem do tema que ora discuto. O termo Alienação Parental (AP) é conhecido da psiquiatria desde a década de 1940 e foi utilizado por este psiquiatra na década 1980, que o adaptou para as relações familiares litigiosas. Com isso, ele conseguiu a adesão de alguns operadores da área da justiça e saúde, em algumas cortes americanas do norte. Existe, na realidade, o fenômeno que ele descreveu. Gardner usou a terminologia já conhecida, mas distorceu-a de tal maneira que conseguiu alienar parte da Justiça americana, como tentarei provar. Sendo um psiquiatra inteligente, foi aprendendo com as perícias - tendo feito, segundo ele, cerca de quatrocentas -, e criou um pensamento que foi plantando na cabeça dos incautos, como algumas mães faziam com seus filhos. A partir daí, tentou implantar uma “síndrome”, a da Alienação Parental - SAP -, implantação jamais conseguida por ele, nem pelos seus seguidores. No entanto, foi aprovada no Brasil, em agosto de 2010, uma lei para punir pais alienantes. 204 “Da alienação parental à alienação judiciária” Corre-se o mesmo risco de essa distorção se repetir aqui. Por aqui, muitos incautos não conhecedores da verdade sobre a vida de Gardner, que é venerado por Associações de Pais, estão plantando as idéias deste psiquiatra na cabeça dos operadores da área da Justiça, defendendo a existência desta síndrome. Já podemos perceber quantos maus tratos são cometidos no mau uso de um bom termo. LIPPI, J.R.S.. Abuso e Negligência na Infância: Prevenção e Direitos. Rio de Janeiro: Editora Científica Nacional, 1990, 219 p. 3.Grifo e negrito feitos por mim. Neste artigo, pretendo traçar pequeno histórico desse movimento que vem tomando enormes dimensões. Sabemos como absolutamente imprescindível a interlocução entre a Saúde e a Justiça. Temos, no Brasil, alguns psiquiatras da infância bem preparados para esse trabalho compartilhado. Existe uma aproximação saudável, em nosso meio, resultante desse esforço. Belo Horizonte se tornou, naquela década, o centro de grandes atividades da área, com realização de vários cursos e eventos: no ano de 1988, inauguramos o primeiro SOS criança no Brasil, chamado Disque-Criança e, em 1990, antes do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), publicamos outro livro sobre a matéria (Lippi, 1990)2, que visava a essa interlocução. Naquela época, já estávamos a par da AP. Essa forma de violência que dá o titulo ao artigo continua muito polêmica e atual. A alienação parental exige, para o seu claro entendimento, reflexões profundas sobre a origem dos termos e dos fenômenos. O que preocupa no projeto de lei da Câmara (PLC 20/10) que define e pune a síndrome da alienação Parental3 e a lei aprovada Lei nº 12.318 de 27 de agosto de 2010 - é a possibilidade de ocorrer, aqui, o que ocorreu naquele país desenvolvido. Lá, a Justiça americana absorveu idéias que hoje, nesses mais de 20 anos, vem revelando aspectos negativos por causa do seu mau uso. Existiam, e existem, pais que plantam memórias na cabeça de seus filhos. Por outro lado, existe, também, um grande número de pais que são ofensores sexuais. Sabemos da existência daqueles, em grande número as mães, que usavam e usam de acusações falsas de abuso sexual visando a ganhos financeiros na justiça. Sabemos, também, ser muito complicado o esclarecimento destes. Um processo sobre denúncia de abuso sexual tem levado, no Brasil, em média cinco anos para a decisão judiciária final e, muitas vezes, de forma desastrada. Como resolver essas situações? Dependendo de alguns advogados, muitas denúncias reais foram consideradas falsas, com enorme prejuízo para a criança e todo o núcleo familiar. Não existia, naquela época, nos EUA, e não existe hoje, no Brasil, número adequado de 205 Entre Redes profissionais capacitados a avaliar os abusos sexuais praticados contra as crianças por pais incestuosos e por pedófilos. A utilização dos ensinamentos de Gardner era o meio que facilitava o trabalho da justiça. Com isso, houve o avanço de suas idéias, que foram plantadas em terreno fértil. 2.Histórico O psiquiatra Richard Gardner teve a intuição da gravidade do problema, buscou o termo “Alienação Parental” e o introduziu para apontar conflitos nas relações familiares. Ele era reconhecido como um hábil perito na área de divórcio, quando envolvia litígio. Com sua capacidade e inteligência, conseguiu seduzir operadores da área da Justiça, pois os convencia de que suas teorias eram corretas. Suas perícias eram muito valorizadas. Para tanto, ele necessitava de argumentos convincentes para o julgamento das causas que defendia. E ele sabia o significado dos abusos contra as crianças. Um dos grandes estudiosos do assunto afirma: A Violência contra a Criança deixa MARCAS para o resto da vida.O efeito do abuso infantil pode manifestar-se de várias formas, em qualquer idade. Internamente, pode aparecer como depressão, ansiedade, pensamentos suicidas ou estresse póstraumático; pode também se expressar externamente como agressão, impulsividade, delinqüência, hiperatividade ou abuso de substâncias. Uma condição psiquiátrica fortemente associada a maus tratos na infância é o Chamado Transtorno de personalidade limítrofe (borderline personality disorder) (TEICHER, 2000, p. 84)4. Vivendo num país altamente capitalista, Gardner idealizou demonstrar a existência de interesses financeiros de uma das partes envolvidas no litígio. Ao sugerir o uso do termo, SAP, ele introduziu uma variável importante para a compreensão desse fenômeno. Com esse raciocínio inicial, conseguiu provar a existência de pessoas que plantam idéias na mente de seus filhos, por interesses financeiros. Algumas destas pessoas, principalmente as mães, acusavam os pais de abuso sexual. Gardner encontrou, aí, uma mina de ouro. Com seus instrumentos, passou a generalizar, conseguindo provar que denúncias reais eram falsas. Mães sérias se tornaram “alienadoras”. Aquele que aliena pode 206 “Da alienação parental à alienação judiciária” ser enquadrado em duas hipóteses: a) Alienador que é, segundo Aulete (1964), propriedade “daquele que aliena” (AULETE, 1964, p. 178). De acordo com esta concepção, o interesse financeiro e material é o que permeia o litígio, tanto por parte da mãe desonesta que acusa falsamente o pai da criança, quanto do examinador que, para ganhar uma causa, promove uma avaliação falsa. b) Alienante que, para o mesmo autor, é “pessoa que aliena, o que transfere o domínio” (AULETE, 1964, p. 178). 4.TEICHER, M.H.. Feridas que não cicatrizam: a neurobiologia do abuso infantil. Scientific American. Brasil, 2002 (1), pp. 83-89. 5.www.dsm5.org Aqui já se prenuncia a realidade do aspecto psicológico. Uma mãe alienante tem realmente um transtorno e merece receber punição pelas conseqüências causadas por seu ato, assim como a Justiça deveria se precaver contra profissionais não idôneos que falseiam provas para condenar gente inocente. Estes, também, merecem ser condenados. Certos profissionais podem aproveitar instrumentos duvidosos e alienar autoridades, plantando falsas provas na mente de operadores da Justiça. Não devemos confundir, contudo, o alienador e o alienante, embora possam ser considerados sinônimos. Repito que não foi em vão que Gardner aproveitou este termo e tentou transformá-lo em síndrome, o que nunca conseguiu e, segundo as noticias mais recentes, jamais será alcançado. O DSM55 será lançado em 2013 e não consta a existência da SAP. Este psiquiatra revelou ter uma intuição excepcional, aproveitando um termo de forma inteligente e perspicaz e o usou de forma generalizada, alcançando vantagens extraordinárias. Ele iniciou suas atividades na Justiça mesmo não sendo Psiquiatra Forense, o que ocorre com a maior freqüência no Brasil. Com isso, foi aprendendo na prática – o que não é defeito – e a usava visando, particularmente, a seus interesses pessoais. Na medida em que eram generalizados os casos periciados por ele e pelos seus seguidores, bem como na medida em que se aproveitava do desconhecimento de muitos operadores da Justiça e da Saúde, Gardner se tornou, dentro da lei, uma dos maiores defensores de pais incestuosos e pedófilos. Alguns de seus livros apontam para isso, como demonstrarei. A partir daí, muitos pais abusadores passaram à condição de vítimas e os pais (principalmente as mães) passaram a ser mães alienantes e perderam a guarda de seus filhos. Atualmente, a Justiça americana está confrontando muitos processos nos quais os pedidos de indenização se avolumam por causa dessa interpretação errônea. Pais ofensores considerados inocentes estão sendo acionados pela repetição dos abusos quando conseguiram 207 Entre Redes 6.ENCICLOPEDIA MIRADOR INTERNACIONAL. Rio de Janeiro: Encyclopedia Britannica do Brasil Publicações Ltda. Vol.II. 11, 1976. 565p. a guarda na justiça. A imprensa brasileira tem dado destaque a casos dessa natureza. E muitos advogados sabem que a SAP é o sonho de um advogado de defesa, disse Richard Ducote, de New Orleans, Louisiana, advogado que passou uma década lutando contra Gardner e os seus apoiadores no tribunal. O prof. Richard Ducote conseguiu um raro registro de sucessos da defesa das crianças, nos seus mais de 30 (trinta) anos de advocacia. Ele é advogado, além de atuar como professor assistente de Psiquiatria na Louisiana State University Medical Center. Sempre consciente da importância da relação entre o Serviço Social e a profissão de advogado, apenas seis meses após sua admissão na Ordem dos Advogados de Louisiana, concebeu, em coautoria, uma proposta de financiamento apresentada ao Centro Nacional de Abuso e Negligência na Infância, na qual propunha um projeto para melhorar o tratamento judicial dado à criança na cidade de Jefferson, Louisiana. Lá ele havia sido Oficial de Justiça no Juizado de Menores. A partir dessa contribuição, foi criada a Tulane University School of Juvenile Law Clinic. Ducote, a convite de autoridades nacionais, treinou, enfocando na guarde de filhos em complexas situações – que envolvia, em vários estados, vários tipos de abusos -, juízes, advogados e administradores do tribunal. Seu prestígio era enorme nas cortes sérias. Um exemplo: em março de 1999, ele defendeu, com sucesso, na Pensilvânia, uma mulher acusada de alienante, porque seqüestrou sua criança que era abusada sexualmente pelo pai. Nessa ocasião, o juiz tomou uma decisão incomum de dizer ao júri que tinha testemunhado o melhor exemplo de julgamento de advocacia e, como nunca tinha visto exemplo tão significativo, sugeriu que as Escolas de Direito dessem, de forma sensata, uma semana de folga para os alunos aprenderem lendo o processo. Ducote já havia desmascarado muitos casos de falsas acusações de alienação parental, em outros estados. Ele é dos membros do Conselho de Liderança (CL) sobre o abuso e violência interpessoal, a respeito do qual demonstrarei mais à frente a importância e seriedade. 3. Alienação É muito importante tentar entender este termo, pois a sociedade foi incorporando significados da população leiga, jurídica, até chegar à área médica. Assim, o encontramos na Mirador (1976)6 bem explanado historicamente. Extraio alguns detalhes: 208 “Da alienação parental à alienação judiciária” Assim, em geral, “alienação” é a transmissão, por uma pessoa, de um direito ou de uma propriedade a título gratuito (doação, legado) ou oneroso (venda, cessão). No sec. XVI fala-se em “alienação de espírito”, e no sec. XIX em “alienação mental”. O termo por fim conota “loucura”, “demência” ou, como dizem os dicionários “perturbação mental”, passageira ou permanente, que torna o sujeito estranho a si próprio e à sociedade, sendo incapaz de conduzir-se “normalmente” no seio desta. O que se nota, na alteração semântica, é que, na acepção geral, a alienação parece estar vinculada apenas a um gesto de transferência exterior, enquanto no segundo caso algo interior (a razão) se transfere não se sabe para onde. No primeiro caso há um receptor, mas no segundo há uma perda pura e simples. Donde o seu caráter de anormalidade, que, entretanto, não aparece na acepção geral do termo (ENCICLOPÉDIA MIRADOR INTERNACIONAL, 1976, pp. 398-400). 7.LALANDE,A. Vocabulário Técnico y Critico de La Filosofia. Buenos Aires: El Ateneo, 1954. 1.502p. Devo enfatizar que, embora Gardner não tenha criado o termo – a falsa história afirma –, ele o aproveitou naquilo que chamava a atenção para o interesse financeiro. Haveria, portanto, de um lado, um receptor da maldade, que seria passivo e vítima e, de outro lado, um alienador. Ao buscar este termo, ele desejava encontrar algo que justificasse seus pensamentos: alguém pode tomar posse de bens de outro e uma boa forma de enfrentá-lo é provar que o que ele fez foi provocar uma doença mental no outro! Este termo, já existente, foi um achado para ele. O termo alienação pode assim ser compreendido do ponto de vista filosófico, segundo Pierre Janet, grande psiquiatra do passado, em Le medications Psychologiques, I, 112, citado em Lalande (1954)7. Alienação ou Alienação Mental é o termo mais geral para designar os transtornos profundos do espírito. Os limites do que se designa assim estão muito mal fixados e alguns alienistas contemporâneos evitam usá-lo. “Alienado não é um termo da língua médica, nem sequer da língua científica, é um termo da linguagem popular, ou melhor, da língua da polícia: um alienado é um indivíduo perigoso para os demais ou para si 209 Entre Redes 8.GARDNER, R.A. True and False Accusations of Child Sex Abuse. Cresskill, NJ: Creative Therapeutics, 1992. mesmo sem ser legalmente responsável do perigo que cria...O perigo criado por um enfermo depende muito das circunstâncias sociais em que vive que da natureza de seus transtornos psicológicos (LALANDE, 1954, p. 47). Os escritos de Gardner, como veremos, contemplam essas impressões. Ele atribui maior responsabilidade à criança e à sociedade que ao alienado, pai incestuoso ou o pedófilo. Daí ele ter se tornado um dos maiores defensores desses indivíduos da sua época: Vejamos alguns exemplos tirados de seu livro (Gardner, 1992)8, citando páginas: 1.“O abuso sexual não é necessariamente traumático. O que determina que o abuso sexual seja traumático para a criança, é a atitude social em relação a esses encontros” (GARDNER, 1992, pp. 670-671). 2. “É porque a nossa sociedade REACIONA a ela [pedofilia] que as crianças sofrem” (GARDNER, 1992, pp. 594595). 3. “A pedofilia tem sido considerada normal pela maioria dos indivíduos na história do mundo” (GARDNER, 1992, pp. 592 593). Por isso, compreendê-lo é importante. A enciclopédia citada continua: A perda da “normalidade” parece determinar alguns usos subseqüentes de alienação. No sec. XVI, aversão, hostilidade coletiva com relação a alguém, opinião hostil. E mais tarde: desvirtuamento, enlevo, arrebatamento, êxtase. A história do mundo ocidental, ante a loucura, pode esclarecer as novas conotações: ora o louco é hostilizado pela coletividade, porque torna presente a possibilidade do desvirtuamento ou da “perda” da razão; ora é marginalizado pela coletividade, como figura iluminada (e anormal) que não pode conviver com os demais homens (normais) (ENCICLOPÉDIA MIRADOR INTERNACIONAL, 1976, p. 54). Ou seja, ele buscou demonstrar que, numa família em que existia hostilidade, alguém transferia responsabilidades e acusava “falsamente”, fazendo reinar a “loucura”. Ele, como psiquiatra, 210 “Da alienação parental à alienação judiciária” tinha argumentos para tentar provar essa hipótese. E explicava à família disfuncional de uma forma a encontrar possíveis alienadores e alienantes. A Psicanálise conceitua desta maneira a alienação (Rycroft, 1975)9: O estado de ser, ou o processo de tornarse, alheio, seja (a) si mesmo ou a partes de si mesmo, ou (b) aos outros. A psicanálise freudiana tende a interessar-se por (a); o EXISTENCIALISMO e o marxismo, por (b). Contudo, de uma vez que a auto-alienação limita a capacidade de relacionar-se com os outros e a alienação aos outros limita a capacidade de descobrir-se a si mesmo, (a) e (b) são interdependentes (RYCROFT, 1975, p. 35). 9.RYCROFT, C. Dicionário Crítico de Psicanálise. Rio de Janeiro: Imago, 1975. 262 p. 10.periciamedicadf.com. br (2010). Doenças enquadradas no parágrafo 1º do artigo 186 da lei nº 8.112 / 90: Alienação Mental. 11.HOUAISS, A. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2000. 2.992p. Portanto, o estudo de uma situação familiar exige profissionais muito bem preparados para analisar o relacionamento e saúde mental de todo o grupo, que se reúne nestas circunstâncias. 4. Alienação Mental A transcrição abaixo, retirada do Manual de Perícias Médicas do Distrito Federal, ensina:10 Considera-se alienação mental o estado mental conseqüente a uma doença psíquica em que ocorre uma deterioração dos processos cognitivos, de caráter transitório ou permanente, de tal forma que o indivíduo acometido torna-se incapaz de gerir sua vida social. Assim, um indivíduo alienado mental é incapaz de responder legalmente por seus atos na vida social, mostrando-se inteiramente dependente de terceiros no que tange às diversas responsabilidades exigidas pelo convívio em sociedade. O alienado mental pode representar riscos para si e para terceiros, sendo impedido por isso de qualquer atividade funcional, devendo ser obrigatoriamente interditado judicialmente. Em alguns casos, torna-se necessária a sua internação em hospitais especializados visando, com o tratamento, a sua proteção e a da sociedade. Em Houaiss, (2000)11 encontramos: 211 Entre Redes 1 PSIC perturbação do sentimento de identidade sob o peso de coerções culturais sobre o indivíduo 2 PSICOP loucura, perda da razão em virtude de perturbações psíquicas que tornam uma pessoa inapta para vida social 3 PSIQ sintoma clínico no decorrer do qual situações ou pessoas conhecidas perdem seu caráter familiar e tornam-se estranhas (HOUAISS, 2000, p. 157). 12.WARSHAK, RA (2001). “Current controversies regarding parental alienation syndrome”. American Journal of Forensic Psychology 19, 2001. Pp. 29–59. 13.GARDNER, RA (2001). “Parental Alienation Syndrome (PAS): Sixteen Years Later”. Academy Forum 45 (1), 2001, pp. 10–12. Foi através dessa última concepção de alienação mental que foi cunhada a expressão alienação parental. Como na maioria dos vocábulos populares, existe a tendência de ganhar seu lugar na linguagem oficial. O termo Alienação Parental foi introduzido por especialistas através dessa passagem. 5. Alienação Parental Quando a alienação se dá entre os pais, portanto, usa-se o termo alienação parental (AP). Este tema é dos mais polêmicos que ocorrem na esfera da Justiça e da Saúde. Isso porque, desde a década de 80, se trava verdadeira batalha nos EUA entre familiares, juristas e profissionais habilitados sobre a aceitação do termo Síndrome da Alienação Parental (SAP). Para os cientistas ligados às universidades e às faculdades da área da Saúde Mental e que detêm cargos de entidades científicas sérias, esta síndrome jamais existiu. O conceito de um dos pais tentar separar a criança do outro progenitor como um castigo por um divórcio tem sido descrito pelo menos desde a década de 1940 (WARSHAK, 2001)12, mas Gardner foi o primeiro a tentar definir uma síndrome específica. Não vamos estudálo, mas pretende-se mostrar os seus efeitos deletérios para a saúde, justiça e a ciência. Em um artigo de 1985, ele definiu a SAP como um distúrbio que surge principalmente no contexto de disputas de custódia da criança. Sua manifestação primária é a campanha do filho para denedrir progenitor, uma campanha sem justificativa. Mais à frente, demonstra a existência de uma desordem que resulta da combinação da doutrinação pelo progenitor alienante e da própria contribuição da criança para o aviltamento do progenitor alienado (GARDNER, 2001)13. Nesse trabalho, assume os erros cometidos em anos anteriores e que induziram à alienação, ou seja, plantar mentiras na mente dos seus seguidores e naqueles que trabalhavam na justiça. Os cientistas 212 “Da alienação parental à alienação judiciária” sérios apontavam a distorção de só acusar a mãe de alienante e os operadores da Justiça começaram a perceber essa falha. Por isso, seis anos mais tarde, ele admitiu a participação dos filhos, de forma consciente, nesse fenômeno psicológico. Sabemos que, para se afirmar a existência de AP, é necessário levar em conta, sempre, a idade da criança e a do adolescente. É óbvio que não se aceita impunemente a “impantação de falsas idéias” na mente desses seres considerados em desenvolvimento físico, emocional e mental. A etapa do desenvolvimento cognitivo é crucial para saber como esta “implantação” pode se dar. Acusar somente a mãe, como ele fazia, revelava um grande preconceito contra a mulher. Muitos dos filhos agiam conscientemente, pois partilhavam das idéias daquele considerado “alienante”, pois convivam com os dois! E isso é fundamental numa avaliação! Como considerar alienante a mãe de um adolescente, sem levar em conta a posição do filho? Isso foi verificado em muitos processos dos quais Gardner participou. Do mesmo modo, alguns profissionais da área da Justiça e da Saúde, por não serem inertes, começaram a se despertar do estado alienado em que foram colocados. Ele levou muito tempo para afirmar que também a doutrinação pode ser deliberada ou inconsciente por parte do progenitor alienante (BAKER, 2007)14. Essa revelação permitia pensar que ele já admitia que muitos pais não tinham consciência do mal que estavam fazendo para os filhos e que, na maioria das vezes, a conduta de um cônjuge tem a ver com a relação estabelecida entre o casal. Assim, também, era a convivência com alguns operadores da Justiça. Aceitar o que ele ensinava, consciente ou incoscientemente, tinha consequências. Para provar o seu preconceito contra as mulheres, ele defendia, abertamente, a figura paterna. E isso fica claro quando se percebia que muitos dos envolvidos eram filhos de pais pos possivelmente incestuosos. Sua conduta foi sendo observada nas suas manifestações de defesa para os considerados alienados pedófilos. A doutrinação, por parte de Gardner, dos operadores da Justiça e da Saúde – conscientes ou inconscientes – oferecia a chance de se descobrir o mal que faziam para aquelas famílias. Não existe doutrinador sem doutrinado e dependerá da maturidade a assimilação do plantado. Ou seja, nenhum filho/ filha é tão inerte que aceite puramente a “implantaçao de memórias falsas”. Isso dependerá do desenvolvimento cognitivo dos filhos – assim como, dos operadores da área da justiça por serem tão imaturos – ou por seus interesses secundários – para aceitarem a implantação de matérias pagas. 14.BAKER, A.J.L. “Knowledge and Attitudes About the Parental Alienation Syndrome: A Survey of Custody Evaluators”. American Journal of Family Therapy 35, 2007, pp. 1–19. 213 Entre Redes 15.GARDNER, R.A. Sex Abuse Hysteria: Salem Witch Trials Revisited. Cresskill, NJ: Creative Therapeutics, 1991. 16.LÉVI-STRAUSS, C.; GOUGH, K., SPIRO, M. (1980). A Família: Origem e Evolução. Porto Alegre: Editorial Vila Marta. 107 p. Como a teoria SAP de Gardner está baseada em suas observações clínicas – e em dados não científicos deve ser entendida no contexto de suas opiniões extremas sobre as mulheres, pedofilia e abuso sexual. Em três dos seus livros mais vendidos, ofertados ao público leigo por sua própria editora, e que causava repercussão negativa no âmbito da universidade, ele revelava claramente suas idéias sobre o porquê de defender pedófilos. De um livro publicado em 199115, foram selecionadas algumas frases que revelam o modo de pensar deste autor, citando, para clareza, as páginas do texto, continuando a numeração de citações dele: 4. “A grande maioria (provavelmente mais de 95%) de todas as acusações de abuso sexual é válida” (GARDNER,1991, p. 7 e 140). 5. “Do mesmo modo, a pedofilia intra-familiar (isto é, o incesto) é generalizada e ... é provavelmente uma antiga tradição”. (GARDNER, 1991, p. 119). 6. “Há um pouco de pedofilia em cada um de nós” (GARDNER, 1991, p. 118). Como vemos, ele admitia que a maoria das suspeitas de abuso eram reais mas, mesmo assim, defendia os abusadores. Gardner confundia os pais incestuosos, que são aqueles que “abusam sexualmente” de filhos de qualquer idade, com aqueles que são pedófilos e que apresentam um Transtorno de Preferência Sexual e, por isso, só se satisfazem sexualmente através de crianças. No seu texto, afirma que existe um pouco de pedofilia em cada um de nós. Talvez ele não soubesse, ou negasse esse saber por causa de seus interesses, da existência de um “desejo incestuoso universal”. A proibição do incesto, representada através dos mitos, religiões e códigos é uma regra universal. Lévi-Strauss16(1980, pp. 7-28) esclarece que a proibição do casamento entre parentes próximos pode ter um campo de aplicação variável, de acordo com a definição de parentesco, mas a proibição ou a limitação das relações sexuais está presente em qualquer grupo. Desta forma, a proibição do incesto situa-se no limiar entre a natureza e a cultura. Entendemos que, por detrás da necessidade de tamanha proibição, só pode existir um desejo universal equivalente. Fica clara a sua omissão de esclarecer ao público esse fenômeno. Se não sabia, foi ignorância e, se sabia, um ato irresponsável que atin- 214 “Da alienação parental à alienação judiciária” giu muita gente. Além disso, com sua inteligência, desconhecer Freud como psiquiatra é imperdoável. 17.FREUD, S. O ego e o id. VI Rio de Janeiro: Delta, 1958. Freud17, em 1920 escreve da p.169 à 209 sobre o Ego e o Id colocando a proibição do incesto como um estruturador mental, pois é através da repressão dos desejos incestuosos que se estrutura o aparelho mental em suas três instâncias: id, ego e superego. O superego é a instância formada pela internalização da lei, sendo o ego responsável pela intermediação entre as leis internas e as leis externas. 18.KRYNSKI, S.; CÉLIA, S.; LIPPI, J.R.S. A Criança Maltratada. São Paulo: Almed, 1985. 137p. 19.Cresskill, (cidade); New Jersy, (estado). Creative Therapeutics (Editora). Um pedófilo se apresenta como um pai sedutor, pela figura de autoridade que representa e as muitas ameaças que faz. Não compreender isso, ou negá-lo, é imperdoável para quem se dizia “psiquiatra infantil”. Pode-se depreender que este “perito” causou um grande mal para muitas famílias, para a Justiça e para a Ciência. À proporção que defendia essas idéias, um grupo de interessados ia se aproximando e ele começou a formar uma “Escola”. Estive nos EUA, após co-publicar o primeiro livro brasileiro da área (Krynski, Célia, Lippi)18, fruto de um congresso em Belo Horizonte, e conversei com colegas sobre o assunto. As opiniões controversas de Gardner causavam enorme confusão nas áreas da Saúde Mental e da Justiça. Ele era um grande comunicador e tinha uma estrutura própria, montada para fazer chegar à imprensa suas idéias. A sua editora privada ainda existe e nela foram publicados muitos de seus livros, cassetes e fitas de vídeo19. Seus escritos causavam impacto nas associações de pais que o apoiavam. Tais associações acreditavam, e acreditam até hoje, nas suas teorias e não tinham como avaliar esses pensamentos. Continuemos na tentativa de compreender os pensamentos com que Gardner (1992)20 referenda seus modos de implantar idéias. Importa ressaltar que muita gente da Justiça aceitou e está aceitando essa implantação: 20.GARDNER, R.A. (1992). True and False Accusations of Child Sex Abuse. Cresskill, NJ: Creative Therapeutics. 7. “A Pedofilia pode aumentar a sobrevivência da espécie humana, servindo a “fins de procriação” (GARDNER, 1992, pp. 2425). 8. Os tipos diferentes de comportamento sexual humano, incluindo pedofilia, sadismo sexual, necrofilia (o sexo com cadáveres), zoofilia (sexo com animais), coprofilía (sexo envolvendo defecação), pode ser visto como tendo valor para a sobrevivência 215 Entre Redes 21.RYCROFT, C. Dicionário Crítico de Psicanálise. Rio de Janeiro:Imago, 1975. 262 das espécies e, portanto, não merecem ser excluídas da lista das chamadas formas naturais de comportamento sexual humano (GARDNER, 1992, pp. 18-32). 22.JAFFE, P. G. Child Custody & Domestic Violence. SAGE Publications, 2002. p. 52–54. 9. “Algumas crianças experimentam Sensação Sexual elevada na primeira infância. Há boas razões para acreditar que a maioria, senão todas as crianças têm a capacidade de atingir o orgasmo no momento em que nascemos” (GARDNER, 1992, p. 15). 23.GARDNER, R. A. “Denial of the Parental Alienation Syndrome Also Harms Women”. American Journal of Family Therapy 30 (3), 2002. pp. 191–202. 24.DALLAM, S. J. Expose: The failure of family courts to protect children from abuse in custody disputes. Our Children Charitable Foundation, 1999. Freud, em seus pioneiros estudos sobre sexualidade, escreveu sobre uma “perversidade polimórfica”. Vejamos em Rycroft (1975)21, contemporâneo de Gardner, que recorre à teoria freudiana: Segundo a teoria clássica, o bebê é polimorficamente perverso, isto é, seus desejos sexuais INFANTIS não são canalizados em nenhuma direção determinada e ele considera as diversas ZONAS ERÓGENAS como intercambiáveis. Segundo certas versões, desse conceito, existe uma fase polimorficamente perversa específica de DESENVOLVIMENTO LIBIDINAL, embora não esteja claro onde essa fase deve ser localizada na cronologia do desenvolvimento infantil (RYCROFT, 1975, p. 179). Traduzir isso como orgasmo torna-se agressão à inteligência daqueles que estudam, bem como contribui para a disseminação de idéias préconcebidas, com finalidade de confundir os leigos. A SAP foi originalmente desenvolvida como uma explicação para o aumento do número de relatos de abuso infantil nos anos 1980 (JAFFE, 2002)22. Embora Gardner, o “plantador de idéias” tenha, de início, descrito que a mãe era o alienante em 90% dos casos, mais tarde, declarou que ambos os pais tinham a mesma probabilidade de alienar (GARDNER, 2002)23. Ele também afirmou que, segundo sua experiência, na grande maioria dos casos de SAP não estavam presentes acusações de abuso24. Como se pode observar, com o passar do tempo, este autor foi mudando de posição quanto às suas assertivas. A reação de parte dos operadores da área da Justiça e da grande maioria dos profissionais da área da Saúde Mental o forçaram a voltar atrás 216 “Da alienação parental à alienação judiciária” em muitas afirmações. Nessa época, ele já perdia suas causas em muitos tribunais e estes estavam recebendo enorme pressão dos especialistas sérios. Alguns membros do Judiciário começavam a perceber os perigos daquelas teorias da “escola” deste psiquiatra: Nos USA a “síndrome de alienação” parental já foi citada como parte do processo de determinação de custódia. Baseadas da avaliação com os instrumentos da SAP, côrtes norte-americanas determinaram a guarda total a alguns pais e tem sido um desafio avaliar se a aceitação da condição pela comunidade científica permite que a SAP seja tratada como evidência científica. Apesar de Gardner afirmar que a SAP era em geral aceita por estudiosos da área e já havia se tornado admissível como prova científica em dois estados, uma análise feita em 2006 dos casos envolvendo SAP citados por Gardner concluiu que essas decisões não abriam precedente legal, que a SAP é vista com maus olhos pela maioria dos estudiosos do direito e que os trabalhos de Gardner não fundamentam a existência da SAP. Gardner listou 50 casos em seu website que, segundo ele, abriram precedente para tornar a SAP admissível, mas nenhum deles de fato o fez: 46 dos casos não abriram precedente e não discutiram a admissibilidade da condição e os outros 4 casos eram problemáticos. (HOULT, 2006, p. 26)25. 25.HOULT, J. A. “The Evidentiary Admissibility of Parental Alienation Syndrome: Science, Law, and Policy”. Children’s Legal Rights Journal 26 (1), 2006. 26.STURGE,C.;GLASER, D. “Contact and domestic violence – the experts’ court report”. Family Law, 615, 2000. 27.FORTIN, J.. Children’s Rights and the Developing Law. Cambridge University Press, 2003. p. 263. 28.BALA, N. et al. “Alienated Children and Parental Separation: Legal Responses in Canada’s Family Courts”. Queen’s Law Journal 38, 2007. pp. 79–138. “No Reino Unido, a admissibilidade da avaliação de SAP foi rejeitada tanto em uma revisão por peritos (Sturge, 2000:615)26, quanto em uma Côrte de Apelação” (FORTIN, 2003, p. 263)27 No Canadá, inicialmente, de alguns casos foram aceitas opiniões de peritos sobre a SAP, usando o termo “síndrome” e concordando com a teoria de Gardner de que somente um dos pais era inteiramente responsável pela SAP. Gardner testemunhou em um caso (Fortin v. Major, 1996), mas a côrte não aceitou sua opinião, concluindo que a criança não estava alienada com base na avaliação de um perito indicado pela côrte que, diferentemente de Gardner, havia se encontrado com os membros da família. (BALA et al, , 2007, pp. 79-138)28 217 Entre Redes 30.GARDNER, R. .A. Child Custody Litigation: A Guide for Parents and Mental Health Professionals. Cresskill, NJ: Creative Therapeutics, 1986. Ou seja, Gardner e os seus seguidores iniciaram com o poder, pela falsa teoria, de diagnosticar e sugerir sentenças sem avaliar a família como um todo. Era seguir seus pressuspostos (oito itens de uma lista) e uma criança estava diagnosticada como SAP e a mãe era condenada. 31.GARDNER, R. A... True and False Accusations of Child Sex Abuse. Cresskill, NJ: Creative Therapeutics, 1992. A não aceitação das proposições de Gardner foram sendo fundamentadas pela sua conduta e pelo que havia deixado escrito na sua trajetória. Em um de seus livros polêmicos, publicado em 198630, quando iniciava a tentativa de oficializar a SAP, o que ele escreveu revela seus pensamentos em defesa dos abusadores. Vejam a responsabilidade que ele coloca nas crianças. Havia - e há - aceitação de um grupo de associações para essas idéias! 10. “A Pedofilia é uma prática generalizada e aceita literalmente por bilhões de pessoas” (GARDNER, 1986, p. 93). 11. “As crianças são naturalmente sexuais e pode dar início a encontros sexuais por ‘seduzir’ o adulto” (GARDNER, 1986, p. 93) 12. Se a relação sexual é descoberta, “a criança provavelmente vai fabricar uma forma de dizer que o adulto foi culpado desde o início” (GARDNER, 1986, p. 93). Ampliemos suas idéias do livro de 1992, que enfatiza suas teorias31: 13. “Especial cuidado deve ser tomado para não alienar a criança do pai molestador. A remoção de um pai pedófilo da casa “só deve ser seriamente considerada após todas as tentativas de tratamento da pedofilia e da aproximação com a família forem inúteis” (GARDNER, 1992, p. 537). 14. “À criança deve ser dito que não há tal coisa como um pai perfeito. A exploração sexual tem que ser colocada na lista negativa, mas deve ser apreciada no seu lado positivo” (GARDNER, 1992, p. 572). 15. “As crianças mais velhas podem ser ajudadas a perceber que os encontros sexuais entre um adulto e uma criança não são universalmente consideradas como atos condenáveis. À criança pode ser dito que em outras sociedades tal comportamento era e é considerado normal” (GARDNER, 1992, p. 572). 16. “A criança pode ser ajudada a apreciar a sabedoria do Hamlet de Shakespeare, que disse: “Nada é bom ou ruim, mas 218 “Da alienação parental à alienação judiciária” faz pensar assim” (GARDNER, 1992, p. 549). 17. “Em discussões de como a criança tem que ser ajudada a compreender as questões sobre os encontros sexuais entre a criança e o adulto é que temos em nossa sociedade uma atitude exageradamente punitiva e moralista” (GARDNER, 1992, p. 572). Esses exemplos merecem debates que não cabem neste artigo, mas revelam uma forma de pensar voltada para defender os abusadores, utilizando-se de uma estratégia médico-jurídica falsa. Mesmo assim, com tão evidentes provas, muitos operadores da Justiça ainda acatam a tal síndrome. Em casos mais recentes, ainda que seja aceito o conceito de alienação, a ausência de reconhecimento pelo DSM-IV32 , da Associação Psiquiátrica Americana, foi notada e a terminologia “síndrome” foi evitada, enfatizando que mudanças de custódia são estressantes para a criança e só devem ocorrer nos casos mais graves. Uma pesquisa de 2006, do Departamento de Justiça do Canadá, descreveu a SAP como “empiricamente não fundamentada” e favoreceu um modelo diferente, com mais embasamento científico, para lidar com as questões de alienação (JAFFE, 2006)33. O prestígio de Gardner era colocado sucessivamente em xeque. Talvez esteja aí um dos motivos do seu auto-extermínio. O suicídio de Gardner, ocorrido de forma dramática em 2003, deixou vir à tona a fragilidade de seus argumentos. Com sua inteligência e poder de comunicação, ele conseguiu seduzir as associações que o apoiavam, alguns especialistas e juristas, afirmando que estaria sofrendo perseguição dos colegas. Entretanto, o que acontecia era que a SAP não tinha fundamentos para ser incluida no DSM (APA)34 e na CID (OMS)35. Assim, alguns de seus adeptos passaram a reconhecer a inconsistência de suas teorias, bem como reconheceram que colegas sérios condenavam o seu comportamento ético e científico. Podese pensar que, pressionado e não suportando a realidade, tomou uma dose excessiva de psicotrópicos à noite. Como era um homem fisicamente forte, acordou tenso e dopado no outro dia. Entretanto, finalizou, desesperado, o seu último gesto, lesionando-se com uma faca de açougueiro36. As associações de pais que o apoiavam publicaram que ele dormiu tranquilamente e se despediu em paz pela obra que tinha feito. Seu filho, no New Times, desmentiu essas notícias, mostrando a realidade de seu final. Uma pergunta frequente é: quais as razões, além da financeira, o levaram a defender com veemência os pedófilos? Seu suicídio encobre alguma verdade que me lembra o famoso conto O alienista, de Machado de As- 32.Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM). 33.JAFFE, PG. (2006). Making Appropriate Parenting Arrangements in Family Violence Cases: Applying the Literature to Identify Promising Practices. Department of Justice. 34.Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 35.Classificação Internacional de Doenças. 36.Detalhes da autópsia podem ser vistos em County of Bergen, Department of Public Safety, Medical Examiner. New Jersey. 219 Entre Redes 37.Núcleo de Estudos e Pesquisas em Psiquiatria Forense e Psicologia Jurídica - NUFOR - IPq, 38.BERNET, W. “Parental Alienation Disorder and DSM-V”. The American Journal of Family Therapy 36 (5), 2008. p. 34 39.ROHRBAUGH, J. B. A comprehensive guide to child custody evaluations: mental health and legal perspectives. Berlin: Springer, 2008. pp. 399–438. sis, no qual, com ironia corrosiva, o escritor relata o caso de um psiquiatra (Simão Bacamarte), responsável por um manicômio, que, incapaz de distinguir claramente entre loucura e normalidade, acaba por libertar todos os pacientes e se internar no lugar deles. Gardner “libertou” muitos abusadores sexuais de seus crimes, transformouos em vítimas e deulhes os filhos de volta, para que continuassem com os abusos. Em contrapartida, se “aprisionou” no próprio “manicômio”. Este deveria ser o lugar dos abusadores que já não podem mais ser ajudados. Decisões sobre possível alienação parental (AP), no Canadá, são consideradas decisões legais, a serem determinadas por um juiz, com base nos fatos do caso, ao invés do diagnóstico realizado por um profissional de Saúde Mental. Há reconhecimento de que a rejeição de um progenitor é uma questão complexa, e que uma distinção deve ser feita entre alienação patológica e o estranhamento razoável. A nossa experência revela que só uma equipe interdisciplinar preparada, com cursos específicos – e estes já existem no Brasil – poderão, com idoneidade, colaborar com operadores da Justiça, emitindo paraceres claros e justificados para as autoridades judiciárias tomarem suas decisões. Um exemplo é o NUFOR37, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e que funciona há mais de dez anos. As instituições e os autores sérios, repito, afirmam que a SAP não é reconhecida como uma desordem pelas comunidades médica e jurídica e a teoria de Gardner, assim como pesquisas relacionadas à ela, têm sido amplamente criticadas por estudiosos de Saúde Mental e de Direito, que alegam falta de validade científica e fiabilidade. O trabalho de Bernet (2008)38 permite esclarecer este assunto. Para maiores consultas pesquisar em http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_ de_aliena%C3%A7%C3%A3o_parental.. Devo chamar a atenção que o conceito distinto, porém relacionado, de alienação parental (AP), isto é, o estranhamento de uma criança por um dos pais, é reconhecido como uma dinâmica em algumas famílias durante o divórcio (Bernet, 2008; Rohrbaugh, 2008)39. Portanto, esse fenômeno (AP) existe, realmente, e é observado pelos peritos experientes. Entretanto, não pode ser generalizado como Gardner fez. Qualquer cidadão em disputa poderá utilizar os meios alienantes já citados para ferir alguém e alcançar a simpatia do outro. Nas famílias, é verdade, ocorre o fenômeno que pode ficar evidente quando há um divór- 220 “Da alienação parental à alienação judiciária” cio litigioso, mas não alcança a condição de síndrome, como o Dr. Gardner e seus seguidores desejavam. Seu fim melancólico deve significar um alerta para os seus defensores no Brasil. 6. Conselho de Liderança O Conselho de Liderança (CL) sobre o abuso e violência interpessoal (anteriormente o Conselho de Liderança em Saúde Mental, Justiça e Comunicação Social) foi fundado em 1998, por profissionais envolvidos com o tratamento das vítimas de trauma, tanto nos círculos profissionais e como pelo sistema legal. Esta instituição é presidida por um dos mais renomados psiquiatras americanos, Paul Fink40. A web do CL pode ser acessada em http://www.leadershipcouncil.org. Esta é uma organização científica, independente, sem fins lucrativos, composta por cientistas respeitados, médicos, educadores, juristas e analistas de política pública. A missão dela é promover a aplicação da ética da ciência psicológica para o bem-estar humano. A organização está empenhada em oferecer ao público informações precisas, baseadas na investigação sobre uma variedade de problemas de saúde mental e para a preservação do compromisso, com a sociedade, de proteger os seus membros mais vulneráveis. É desta organização que vou continuar tirando informações idôneas e claras para a compreensão do problema. A teoria de Gardner sobre a SAP teve um efeito profundo na forma como os sistemas judiciais dos EUA passaram a lidar com acusações de abuso sexual, especialmente durante o divórcio. Gardner é autor de mais de 250 livros e artigos com conselhos dirigidos aos profissionais de Saúde Mental, à comunidade jurídica, aos adultos se divorciando e a seus filhos. Mas, mesmo assim, a SAP foi uma teoria contestada. Um dos contestadores foi Sherman (1993)41, que buscou informações disponíveis no site de Gardner para mostrar que o próprio tenha sido certificado a depor como perito penal e civil, em mais de 25 estados. O trabalho de Gardner continua a servir como base para decisões que estão afetando o bem-estar das crianças em salas de audiência em todo o país. Ele é considerado a maior autoridade em tribunais de família e tem, ainda, sido descrito como o “guru” das avaliações da custódia da criança (GARDNER, CV)42. Podemos verificar, portanto, que o Dr. Gardner vislumbrou e fez 40. Paul J. Fink , MD – Professor de Psiquiatria na Faculdade de Medicina da Universidade Temple; Presidente da Comissão de Trabalho sobre aspectos psiquiátricos da violência da Associação Psiquiátrica Americana; ex-Presidente da Associação Psiquiátrica Americana e do Colégio Americano de Psiquiatras. 41.SHERMAN, R. Gardner Lei: “Um psiquiatra polêmico e influente testemunha conduz a reação contra a Histeria do Abuso Sexual Infantil. O Jornal Nacional de Direito, 1993. 42.Veja Gardner CV em seu site (disponível em http://www.rgardner. com/pages/cvqual.html). Veja, também, Pessoas v. Fortin, 706 N.Y.S.2d 611, 612 ( Crim. Ct. 2000). Fortin Foi um caso de abuso sexual criminoso em que o Dr. Gardner se ofereceu para testemunhar em nome do acusado molestador e sobre a credibilidade do seu testemunho. O tribunal recusou-se a permitir o seu testemunho, por causa de um fracasso em estabelecer a aceitação geral da SAP no seio da comunidade profissional. 221 Entre Redes 43.Tel:(410) 938-4974 um excelente negócio sem a formação devida. O seu pensamento a respeito dos ofensores sexuais - deformado, como vimos -, oferecia a ele excepcional oportunidade de trabalho. Eram milhares de divórcios que ocorriam nos EUA, o que se repete aqui, país cópia. É lógico pensar nos milhares de divórcios que ocorrerão no Brasil. O que acontecerá com essa lei, que poderá ser usada por advogados inidôneos e desonestos? E o enorme número de falsos peritos que trabalham em nosso país, muitos indicados por juízes despreparados para suas funções? É enorme a preocupação. Estes divórcios têm causas e muitas delas se embasam na violência contra as crianças. Quantos seriam? E os pais abusivos, sendo contemplados indevidamente com a guarda? O relato de Silberg (2010)43, PhD, que é Vice-Presidente Executiva do Conselho de Liderança (CL), pretende responder a esta inquietante pergunta. 6.1. Quantas crianças estão judicialmente em contato não supervisionado com um pai abusivo após o divórcio? De acordo com uma estimativa conservadora feita por especialistas do Conselho de Liderança (CL) sobre o abuso e violência interpessoal, a cada ano mais de 58.000 crianças abusadas física e/ou sexualmente são levadas a manter contato não supervisionado, ordenado pela Justiça, com seus abusadores. Elas são vítimas dos pais do divórcio nos Estados Unidos e da Justiça Americana. Isso é mais do dobro da taxa anual de casos novos de câncer infantil. Especialistas da CL consideram que a crise nos tribunais de família tem produzido uma crise de saúde pública. Uma vez colocadas com um pai abusivo, ou forçadas para visitá-los, as crianças continuarão a ser expostas à violência e abuso parental até atingirem 18 anos. Assim, estimase que 500 mil crianças serão afetadas nos EUA a cada ano. Muitas destas crianças sofrem danos físicos e psicológicos que podem levar uma vida inteira para curar. 6.2. Como o CL obteve esta estimativa Ninguém sabe o número exato de crianças que são deixadas desprotegidas na custódia de um pai abusivo, após o divórcio. O Conselho de Liderança tem estudado o problema e, através 222 “Da alienação parental à alienação judiciária” da melhor pesquisa disponível, tentou esclarecer o fenômeno com uma estimativa conservadora do problema. A pesquisa que foi utilizada para a obtenção desses dados é explicada com mais profundidade no quadro abaixo. Número de crianças afetadas pelo divórcio a cada ano 1000000 Número de famílias com alegações de abuso infantil e / ou violênx.13 cia doméstica severa (13%) = 130.000 casos Quando investigados, o percentual de casos considerados válidos ou com suspeita de serem válidos (A pesquisa sugere que o número está entre 43 e 73%, com a maioria dos dados que X 0,60 mostram que a taxa já chega a 70 %. Para ser conservador, o CL utilizou 60%). = 78000 Percentual de crianças desprotegidas (A pesquisa sugere que o número está entre 56-90 %, com mais dados que comprovem, X 0,75 a taxa é próxima a 90%. Uma estimativa conservadora é de 75 %). Estimativa de crianças que são deixadas desprotegidas aos cuida= 58500 dos de um abusador após o divórcio de seus pais nos EUA. Aproximadamente um em cada dois casamentos nos Estados Unidos termina em divórcio, afetando cerca de um milhão de crianças por ano. Cerca de 10% desses divórcios envolvem litígios de custódia. Algumas crianças são ou tornam-se emocionalmente distantes de um ou ambos os pais durante esse processo. A causa desse afastamento não pode ser determinada sem uma compreensão aprofundada da história e da dinâmica familiar. A pesquisa mostrou que as questões subjacentes ao apego dos pais ou à alienação são complexas e não se prestam a respostas fáceis. No entanto, para alguns avaliadores, a custódia da criança deve confiar na ciência da sucata simplista: teorias para explicar o comportamento da criança e recomendar “one size fits all” um tipo de solução que usa a força para que a criança divida seu amor entre os pais 50%50%. Muitos operadores da Justiça americana, no afã de encontrar uma solução para os graves conflitos causados por um divórcio litigioso, encontrou na SAP uma resposta simplista e rápida. A maioria deles, provavelmente, não conhecia sua obra e, particularmente, um de seus livros onde revelou sua inclinação de defensor dos pedófilos. Ele considerava que os pedófilos estavam sendo perseguidos pela sociedade e comparou-os às bruxas. Bruxas de Salém refere-se ao episódio gerado pela superstição e pela credulidade 223 Entre Redes 44.GARDNER, R.A. A histeria de abuso sexual: O Julgamento das Bruxas de Salem Revisitado. Cresskill, NJ: Creative Therapeutics, 1991. que levaram, na América do Norte, aos últimos julgamentos por bruxaria na pequena povoação de Salém, Massachusetts, numa noite de outubro de 1692. O medo da bruxaria começou quando uma escrava negra chamada Tituba contou algumas histórias vudus (religião tradicional da África Ocidental) a amigas, que, por esse fato, tiveram pesadelos. Um médico que foi chamado para examiná-las declarou que deveriam estar embruxadas. Os julgamentos de Tituba e de outros foram efetuados ante o juiz Samuel Sewall. Cotton Mather, um pregador colonial que acreditava em bruxaria, encarregou-se da acusação. O medo da bruxaria durou cerca de um ano, durante o qual vinte pessoas, na sua maior parte mulheres, foram declaradas culpadas e executadas. Um dos homens, Giles Corey, morreu de acordo com o bárbaro costume medieval de ser comprimido por rochas em uma tábua sobre seu corpo, levando, no total, três dias. Foram presas cerca de cento e cinquenta pessoas. Mais tarde, o juiz Sewall confessou que pensava que as suas sentenças haviam sido um erro. No livro, Gardner (1991)44 envolve as religiões e o judiciário. Atacou os princípios judaico-cristãos. É de interesse que, de todos os povos antigos, pode muito bem ser que os judeus foram os únicos punitivos para os pedófilos. “Nossa reação ao apresentar a pedofilia representa um exagero dos princípios judaico-cristãos e é um eficiente fator significativo na atipicidade da sociedade ocidental em relação a essas atividades” (GARDNER, 1991, pp. 46-47). Colocou a culpa nas que chamou de “Mães Sexualmente inibidas”: “a mãe foca psicologicamente gratificada [suas próprias necessidades sexualmente inibidas] com o imaginário visual que a acusação de abuso sexual fornece” (GARDNER, 1991, pp. 36-37). Em defesa dos “pedófilos”, Gardner generaliza para o judiciário suas elaborações sobre a sexualidade dos seus membros. No sistema jurídico - incluindo juízes: Não há dúvida de que os casos de abuso são “turn ons “para a grande variedade de pessoas envolvidas nos mesmos, o acusador (s), os procuradores, os advogados, os juízes, Os avaliadores, os psicólogos, os repórteres, os leitores dos jornais, e todos os 224 “Da alienação parental à alienação judiciária” E acrescenta: outros envolvidos - exceto para o falsamente acusado e vítima inocente. Todo mundo está começando a sua “projeção” (GARDNER, 1991, p. 31). Os Juízes também podem ter impulsos reprimidos pedofílicos em que há repressão, a repressão e a culpa. Inquérito sobre os detalhes do caso fornece gratificações voyeurista e indiretos. Encarcerar o presumível autor poderá servir para destruir psicologicamente os próprios projetados impulsos pedofílicos do juiz (GARDNER, 1991, p. 107). 45.HANNAH, M. T.; GOLDSTEIN, B. Domestic Violence, Child Abuse and Custody. Kingston: Civic Research Institute (CRI), 2010. 710p. 46.Associação Brasileira de Prevenção e Tratamento das Ofensas Sexuais. Não deixa de causar admiração que estas idéias tenham sido aceitas por parte de uma comunidade que lida com o direito. A não confrontação revela a alienação Judiciária. Acaba de ser publicado um livro muito atual, intitulado Violência Doméstica, Abuso e guarda dos filhos: Estratégias jurídicas e Questões políticas, editado por Mo Therese Hannah, Ph.D. e Barry Goldstein, J.D. (2010)45, que reúne informações importantíssimas sobre esse polêmico tema e ajuda a esclarecer a confusão deixada por Gardner. Em síntese, este livro mostra que, em função de uma tendência que começou na década de 1980, desde então, cada vez mais, os juízes dos tribunais de família dos EUA têm ordenado milhares e milhares de crianças para visitação inadequada de pais biológicos abusivos. Em muitos casos, às mães tem sido negada qualquer forma de guarda, sendo que algumas perdem todo o contato com seus filhos. Nos últimos anos, os advogados e defensores de serviço social se reuniram para abordar essa questão nas Conferências Anuais sobre Mães Maltratadas pela Lei de Custódia. Assim, o livro reúne a experiência e a perspectiva de mais de trinta colaboradores para BMCC - Battered Mothers Custody Conference em um recurso abrangente para que os defensores usem formas mais adequadas de pensar e mais eficazes estratégias jurídicas na batalha para proteger as mães e as famílias de um sistema que, muitas vezes, não consegue lidar com o abuso e, por vezes, em verdade, agrava o problema. Os abusos cometidos pela Justiça americana contra as famílias, quando favoreciam pais incestuosos e violentos, proporcionaram a necessidade da criação de uma entidade para estudar e alertar as autoridades. Por ser um dos criadores e o Diretor Presidente da ABTOS46, que 225 Entre Redes tem sede na Faculdade de Medicina da USP, arrazoei esses fundamentos, visando a manifestar a posição de um grupo de pensadores dessa área. 7. Considerações finais 7.1 O fenômeno Alienação Parental é descrito desde 1940 e vale como prova documental. 7.2 A Síndrome de Alienação Parental (SAP) não é aceita na maioria dos países. 7.3 Nenhuma associação profissional reconheceu a SAP como uma síndrome médica ou como um transtorno mental, e ela não está listada no DSM da Associação Americana de Psiquiatria, ou na CID da Organização Mundial de Saúde. 7.4 O DSM5 deverá sair em 2013. As últimas notícias de seus responsáveis negam a incorporação do tema como síndrome. 7.5 A lei aprovada no Brasil exige urgente formação para os operadores da Justiça. 7.6 É imprescindível a interlocução entre a Saúde e a Justiça. 7.7 Lutar para que a Justiça Brasileira entenda o que é Alienação Parental e não se deixar alienar pelas idéias de um defensor de pedófilos e da pedofilia. Referências bibliográficas AULETE, C. Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Delta, 1964. BAKER, A. J. L. Knowledge and Attitudes About the Parental Alienation Syndrome: A Survey of Custody Evaluators. American Journal of Family Therapy 35, 2007, pp. 1–19. BALA, N. et al Alienated Children and Parental Separation: Legal Responses in Canada’s Family Courts. Queen’s Law Journal 38, 2007, pp. 79–138. BERNET, W. (2008). Parental Alienation Disorder and DSM-V. The American Journal of Family Therapy 36 (5), 2008, p. 34. DALLAM, S. J. Expose: The failure of family courts to protect children from abuse in custody disputes. Our Children Charitable Foundation, 1999. 226 “Da alienação parental à alienação judiciária” ENCICLOPEDIA MIRADOR INTERNACIONAL. Rio de Janeiro: Encyclopedia Britannica do Brasil Publicações Ltda. vol. II, 1976. 11.565p. FREUD, S. O ego e o id. In: FREUD, S. Obras Completas. vol. 6. Rio de Janeiro: Imago, 1958 FORTIN, J. Children’s Rights and the Developing Law. Cambridge University Press, 2003. p. 263. GARDNER, R. A. Child Custody Litigation: A Guide for Parents and Mental Health Professionals. Cresskill, NJ: Creative Therapeutics, 1986. _________________Sex Abuse Hysteria: Salem Witch Trials Revisited. Cresskill, NJ: Creative Therapeutics, 1991. _________________True and False Accusations of Child Sex Abuse. Cresskill, NJ: Creative Therapeutics, 1992. _________________Parental Alienation Syndrome (PAS): Sixteen Years Later. Academy Forum 45 (1), 2001. pp. 10–12. _________________Denial of the Parental Alienation Syndrome Also Harms Women. American Journal of Family Therapy 30 (3), 2002, pp. 191–202. HANNAH, M. T.;GOLDSTEIN, B. Domestic Violence, Child Abuse and Custody. Kingston: Civic Research Institute (CRI), 2010. 710p. HOULT, J. A. The Evidentiary Admissibility of Parental Alienation Syndrome: Science, Law, and Policy. Children’s Legal Rights Journal 26 (1), 2006. HOUAISS, A. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2000. 2.992p. JAFFE, P. G. Child Custody & Domestic Violence. SAGE Publications, 2002. pp. 52–54. ____________ Making Appropriate Parenting Arrangements in Family Violence Cases: Applying the Literature to Identify Promising Practices. Department of Justice, 2006. 227 Entre Redes KRYNSKI, S.; CÉLIA, S.; LIPPI, J. R. S. A Criança Maltratada. São Paulo: Almed, 1985. 137p. LALANDE, A. Vocabulario Técnico y Critico de la Filosofía. Buenos Aires: El Ateneo, 1954. 1.502p LÉVI-STRAUSS, C. Le strutture elementari della parentela. Milano: Feltrinelli, 1969. LIPPI, J. R. S. Abuso e Negligência na Infância: Prevenção e Direitos. Rio de Janeiro: Editora Científica Nacional, 1990. 219p. ROHRBAUGH, J. B. A comprehensive guide to child custody evaluations: mental health and legal perspectives. Berlin: Springer, 2008. pp. 399–438. RYCROFT, C. Dicionário Crítico de Psicanálise. Rio de Janeiro: Imago, 1975. 262p. TEICHER, M. H. Feridas que não cicatrizam: a neurobiologia do abuso infantil. Scientific American Brasil (1), 2002. pp. 8389. SHERMAN, R. Gardner Lei: Um psiquiatra polêmico e influente testemunha conduz a reação contra a Histeria do Abuso Sexual Infantil. O Jornal Nacional de Direito, 1993. STURGE, C; GLASER, D. Contact and domestic violence – the experts court report. Family Law, 615, 2000. WARSHAK, R. A. Current controversies regarding parental alienation syndrome. American Journal of Forensic Psychology 19, 2001. pp. 29–59. 228 Este material é resultado do Convênio/Termo de Cooperação 17/2009 firmado entre esta Instituição de Ensino Superior e o Ministério da Educação. As opiniões expressas neste livro são de responsabilidade de seus autores e não representam necessariamente a posição oficial do Ministério da Educação ou do Governo Federal. A presente edição foi impressa pela Gráfica O Lutador em sistema offset, papel reciclato linha d`água 90g (miolo) e cartão supremo 250g (capa), em agosto de 2011.
Download